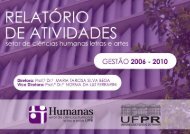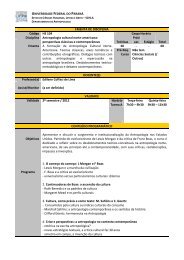As carnes secas do Ceará e o mercado atlântico - Setor de Ciências ...
As carnes secas do Ceará e o mercado atlântico - Setor de Ciências ...
As carnes secas do Ceará e o mercado atlântico - Setor de Ciências ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>As</strong> <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> e o merca<strong>do</strong><br />
<strong>atlântico</strong> no século XVIII<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong><br />
O principal objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é evi<strong>de</strong>nciar a inserção <strong>do</strong> charque produzi<strong>do</strong> no<br />
<strong>Ceará</strong> durante o século XVIII nos circuitos mercantis <strong>do</strong> Império Português. <strong>As</strong> indicações<br />
<strong>de</strong> que o charque foi um produto estratégico no comércio colonial se encontram dispersas e<br />
sem sistematização, impossibilitan<strong>do</strong> o pesquisa<strong>do</strong>r <strong>de</strong> visualizar historicamente a complexa<br />
operação produtiva e mercantil das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> no <strong>Ceará</strong>. Sobretu<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> se trata <strong>do</strong><br />
perío<strong>do</strong> anterior à década <strong>de</strong> 1790, quan<strong>do</strong> se iniciou a produção <strong>do</strong> charque no Rio Gran<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong> Sul, as indicações da produção e consumo <strong>do</strong> charque se limitam a uma historiografia<br />
local, e, quan<strong>do</strong> muito, aparecem ligadas aos interesses mercantis da praça <strong>do</strong> Recife, com<br />
especial ênfase no monopólio <strong>do</strong> comércio exerci<strong>do</strong> pela Companhia Geral <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong><br />
Pernambuco e Paraíba. <strong>As</strong>sim, procuramos analisar essas referências, situan<strong>do</strong> a produção<br />
e a comercialização <strong>do</strong> charque a partir <strong>do</strong> movimento <strong>do</strong> porto da vila <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>do</strong><br />
Aracati, capitania <strong>do</strong> Siará gran<strong>de</strong>.<br />
Salta aos olhos <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r a carência <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s sobre as particularida<strong>de</strong>s da economia<br />
da pecuária, sobre a produção e comercialização <strong>do</strong> charque no século XVIII. <strong>As</strong> explicações<br />
clássicas analisam a pecuária <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sínteses gerais, geralmente referencian<strong>do</strong>-se<br />
em Capistrano <strong>de</strong> Abreu e Caio Pra<strong>do</strong> Júnior. <strong>As</strong> generalizações partem da caracterização<br />
da pecuária como resultante da adaptação <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> ao meio físico propício, da proibição da<br />
Coroa <strong>de</strong> instalação <strong>de</strong> currais no litoral, <strong>do</strong> caráter subsidiário da pecuária frente à lavoura<br />
canavieira e a economia minera<strong>do</strong>ra, e, para a área da pecuária conhecida como sertões<br />
pernambucanos, <strong>de</strong>staca-se a facilida<strong>de</strong> na montagem da estrutura produtiva da fazenda e a<br />
caracterização das rotas <strong>de</strong> boiadas.<br />
Foi Capistrano <strong>de</strong> Abreu que lançou em 1899 as bases <strong>de</strong>ssa interpretação geral. Num<br />
artigo publica<strong>do</strong> na Revista <strong>do</strong> Instituto Histórico <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, comentan<strong>do</strong> um livro <strong>de</strong> Guilherme<br />
Studart, Capistrano resumiu a conquista <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, a redução <strong>do</strong>s índios e a introdução <strong>do</strong><br />
ga<strong>do</strong>, a partir <strong>do</strong> encontro <strong>do</strong>s caminhos <strong>de</strong> boiadas <strong>de</strong> Pernambuco e da Bahia. Capistrano<br />
comentou que <strong>de</strong>veria haver uma interpretação própria para as colônias exploradas através<br />
da pecuária. Segun<strong>do</strong> ele, “o fato <strong>de</strong> uma colônia ser ou não pastoril trraz uma série <strong>de</strong> conseqüências<br />
a que até hoje não se tem atendi<strong>do</strong> <strong>de</strong>vidamente”. Ao buscar uma interpretação<br />
particular para as áreas da pecuária nos sertões, Capistrano afirmou que a principal fonte<br />
<strong>de</strong> pesquisa para o assunto era o Roteiro Do Maranhão a Goiás pela capitania <strong>do</strong> Piauí, <strong>de</strong><br />
505
506<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
autor <strong>de</strong>sconheci<strong>do</strong>, que indicaria uma “filosofia <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> e <strong>do</strong>s vaqueiros”. Nesse senti<strong>do</strong>, e<br />
valen<strong>do</strong>-se principalmente <strong>de</strong>sse registro, Capistrano elencou os temas que seriam pre<strong>do</strong>minantes<br />
nas interpretações sobre a pecuária <strong>do</strong>s sertões pernambucanos: o mo<strong>do</strong> como ela<br />
contribuiu para o povoamento, a ocupação das áreas mais propícias para o ga<strong>do</strong>, a ocupação<br />
das ribeiras, a forma <strong>de</strong> pagamento <strong>do</strong>s vaqueiros (com um quarto da produção <strong>do</strong> curral, o<br />
que facilitava a expansão da pecuária), o absenteísmo, a natureza <strong>do</strong> comércio <strong>do</strong>s sertões<br />
com o litoral, e a <strong>de</strong>pendência daquele em relação a este.1 Em Capítulos <strong>de</strong> História Colonial,<br />
Capistrano retomou essas interpretações e falou <strong>de</strong> uma segunda fase da ocupação <strong>do</strong>s sertões,<br />
já com a presença <strong>do</strong>s fazen<strong>de</strong>iros, quan<strong>do</strong> foram criadas as vilas nos sertões, or<strong>de</strong>nan<strong>do</strong>,<br />
inclusive, o recolhimento <strong>do</strong>s dízimos cobra<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s cria<strong>do</strong>res. Nessa obra, Capistrano<br />
fala das rotas que o ga<strong>do</strong> percorria até as feiras, e, para isso, utiliza-se daquela que será uma<br />
outra forte referência empírica em trabalhos que consi<strong>de</strong>raram a <strong>de</strong>preciação <strong>do</strong>s valores <strong>do</strong><br />
ga<strong>do</strong> em suas jornadas até os centros consumi<strong>do</strong>res, a saber, Cultura e Opulência <strong>do</strong> Brasil,<br />
<strong>de</strong> Antonil. Esses elementos interpretativos da pecuária, e principalmente a análise <strong>de</strong>ssas<br />
fontes, encontraram forte ressonância em outros estu<strong>do</strong>s. 2<br />
Caio Pra<strong>do</strong> Júnior chamou a atenção para o papel <strong>de</strong>sempenha<strong>do</strong> pela pecuária como<br />
fonte <strong>de</strong> abastecimento <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> colonial. Segun<strong>do</strong> ele, a pecuária po<strong>de</strong>ria ser apontada<br />
como “a única [ativida<strong>de</strong> econômica], afora as <strong>de</strong>stinadas aos produtores <strong>de</strong> exportação,<br />
que tem alguma importância”. E mais, Caio Pra<strong>do</strong> diz, e com justiça, que ela é relegada ao<br />
segun<strong>do</strong> plano, uma vez que se escondia às vistas da produção canavieira e da mineração.<br />
Entretanto, afirmava ele em 1942, “já sem contar o papel que representa na subsistência da<br />
colônia, bastaria a pecuária o que realizou na conquista <strong>do</strong> território para o Brasil, a fim <strong>de</strong><br />
colocá-la entre os mais importantes capítulos da nossa historia”. 3<br />
A caracterização da pecuária feita por Caio Pra<strong>do</strong> não difere, em linhas gerais, <strong>do</strong> que<br />
foi aponta<strong>do</strong> por Capistrano <strong>de</strong> Abreu. Ao falar da área mais antiga <strong>de</strong>dicada ao criatório, os<br />
sertões <strong>do</strong> Norte, Caio Pra<strong>do</strong> relaciona a ocupação <strong>do</strong>s sertões pelo ga<strong>do</strong> através da adaptação<br />
<strong>de</strong>sta ativida<strong>de</strong> às condições <strong>do</strong> meio natural. A facilida<strong>de</strong> na montagem das fazendas<br />
e <strong>do</strong>s currais, a forma <strong>de</strong> pagamento <strong>do</strong>s vaqueiros, o absenteísmo, o aproveitamento <strong>do</strong>s<br />
recursos naturais, o sistema <strong>de</strong> trabalho <strong>do</strong>s vaqueiros, a manutenção <strong>do</strong>s rebanhos, enfim,<br />
até mesmo as jazidas naturais <strong>de</strong> sal utilizadas na alimentação <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> são citadas por ele.<br />
Caio Pra<strong>do</strong> utilizou fartamente as fontes indicadas por Capistrano, o Roteiro anônimo<br />
e Cultura e Opulência <strong>do</strong> Brasil. <strong>As</strong> linhas gerais da interpretação não são contraditórias,<br />
embora Caio Pra<strong>do</strong> tenha se <strong>de</strong>dica<strong>do</strong> também a falar da extensão das proprieda<strong>de</strong>s, da produtivida<strong>de</strong><br />
das fazendas, <strong>do</strong> baixo nível técnico da criação <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> e da sua comercialização<br />
através das boiadas. Mas Caio Pra<strong>do</strong>, para completar sua análise econômica da pecuária,<br />
a<strong>de</strong>nsou sua análise incluin<strong>do</strong> outras fontes <strong>de</strong> pesquisa, principalmente os relatos <strong>de</strong> cronistas<br />
e viajantes <strong>do</strong> início <strong>do</strong> século XIX, como Saint Hilaire, Henry Koster e Von Martius.<br />
Segun<strong>do</strong> ele, seu objetivo não era o <strong>de</strong> “acompanhar a evolução da pecuária”, mas <strong>de</strong>linear<br />
a distribuição <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> nas principais áreas <strong>de</strong> ocupação nos primórdios <strong>do</strong> século XIX. A<br />
forma cuida<strong>do</strong>sa com que Caio Pra<strong>do</strong> <strong>de</strong>limitou o tema e abor<strong>do</strong>u as fontes po<strong>de</strong> ser observada<br />
quan<strong>do</strong> ele indicou a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s mais aprofunda<strong>do</strong>s sobre a distribuição<br />
<strong>de</strong> sesmarias e os conflitos resultantes <strong>de</strong>sse sistema: “o assunto, <strong>do</strong> maior interesse para a
Temas Setecentistas<br />
história social e econômica <strong>do</strong> país, ainda espera seu pesquisa<strong>do</strong>r.” Sem objetivar exaurir as<br />
fontes <strong>de</strong> pesquisa, Caio Pra<strong>do</strong> objetivava encontrar o lugar da pecuária como subsidiária da<br />
agricultura comercial.<br />
Destacan<strong>do</strong> o papel <strong>do</strong> abastecimento das áreas <strong>do</strong> litoral, Caio Pra<strong>do</strong> introduziu um elemento<br />
interpretativo que passou a ser recorrente para o entendimento <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
das charqueadas: a <strong>de</strong>preciação <strong>do</strong> valor <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> com o longo caminho percorri<strong>do</strong> até as<br />
feiras, que segun<strong>do</strong> ele po<strong>de</strong>ria chegar a 50%. Segun<strong>do</strong> ele, além da baixa produtivida<strong>de</strong> das<br />
fazendas, o ga<strong>do</strong> era entregue ao consumo “estropia<strong>do</strong> pela longa e difícil caminhada, abati<strong>do</strong><br />
incontenti, logo ao chegar, sem qualquer repouso preliminar ou alimentação especial”.<br />
A tese <strong>de</strong> Caio Pra<strong>do</strong> é que a tecnologia das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> “permitiu obviar ao problema <strong>do</strong><br />
transporte nas distâncias enormes”, tornan<strong>do</strong> o preparo da carne seca “uma indústria local<br />
importante”. Caio Pra<strong>do</strong> também fala das condições naturais, como a falta <strong>de</strong> umida<strong>de</strong>, como<br />
outro fator favorável para o <strong>de</strong>senvolvimento da ativida<strong>de</strong> da salga das <strong>carnes</strong>. 4 Aliás, esse<br />
avanço tecnológico também foi consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> por Geral<strong>do</strong> da Silva Nobre na sua tese <strong>de</strong> livre<br />
<strong>do</strong>cência em história econômica na Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, e que se constitui um <strong>do</strong>s<br />
principais estu<strong>do</strong>s sobre as charqueadas. 5<br />
Os estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> caráter mais empírico sobre a pecuária voltaram-se para analisar a estrutura<br />
fundiária e a organização <strong>do</strong> trabalho no interior das fazendas <strong>de</strong> ga<strong>do</strong>. Preocupa<strong>do</strong>s<br />
principalmente com a reprodução da agricultura comercial <strong>de</strong> caráter <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>do</strong> tráfico<br />
<strong>de</strong> escravos e da produção <strong>de</strong> alimentos, os estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong>s anos <strong>de</strong><br />
1980, principalmente os trabalhos <strong>de</strong>dica<strong>do</strong>s à compreensão da pecuária como parte <strong>de</strong> um<br />
sistema <strong>de</strong> subsistência, Luis Mott e Francisco Carlos Teixeira da Silva evi<strong>de</strong>nciaram alguns<br />
questionamentos sobre a distribuição <strong>de</strong> sesmarias, as formas da proprieda<strong>de</strong> da terra e o<br />
uso <strong>do</strong> trabalho escravo nas fazendas <strong>de</strong> ga<strong>do</strong> <strong>do</strong> Piauí. Foram relativiza<strong>do</strong>s o sistema <strong>de</strong> trabalho<br />
<strong>do</strong> vaqueiro e os padrões <strong>de</strong> ocupação das terras. <strong>As</strong> principais contribuições <strong>de</strong>sses<br />
trabalhos se resumem na forma <strong>de</strong> entendimento da ocupação <strong>do</strong>s sertões a partir <strong>de</strong> um<br />
regime <strong>de</strong> terras distinto daquele basea<strong>do</strong> na apropriação individual e privada da terra, e <strong>de</strong><br />
que a pecuária não teria se utiliza<strong>do</strong> da escravidão como força <strong>de</strong> trabalho nos currais. Ao<br />
analisarem as fazendas <strong>de</strong> criação esses autores <strong>de</strong>stacaram as variadas formas <strong>de</strong> ocupação<br />
da terra, principalmente os aforamentos, e a varieda<strong>de</strong> nas formas <strong>de</strong> utilização da força <strong>de</strong><br />
trabalho, inclusive com forte presença <strong>do</strong> trabalho escravo no Piauí, e os diferentes níveis <strong>de</strong><br />
especialização <strong>do</strong> que se entendia como vaqueiro.<br />
Especial atenção foi dispensada ao beneficiamento da produção da pecuária através <strong>do</strong><br />
charque. Segun<strong>do</strong> Teixeira da Silva, o principal fator da introdução das charqueadas foi a concorrência<br />
que as boiadas <strong>do</strong> Piauí e <strong>Ceará</strong> tinham com áreas mais próximas <strong>do</strong> Recife, como<br />
as <strong>do</strong>s sertões <strong>do</strong> São Francisco. Segun<strong>do</strong> ele, “por volta <strong>de</strong> 1740, to<strong>do</strong> o sistema <strong>de</strong> comercialização<br />
sofreria uma mudança radical [...]. <strong>As</strong> salga<strong>de</strong>iras, também chamadas <strong>de</strong> fábricas<br />
ou charqueadas, expandiram-se rapidamente na vila <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>do</strong> Aracati. Aí, reuniam-se<br />
as condições i<strong>de</strong>ais para a indústria: o sal abundante, a ligação direta com o Interior através<br />
<strong>do</strong> rio Jaguaribe, a situação portuária da vila”. 6 Mesmo sem indicar suas fontes, Silva é um <strong>do</strong>s<br />
autores que colocou o charque como produto que rapidamente encontrou merca<strong>do</strong>, inclusive<br />
na Bahia, para abastecimento das tropas, das naus, enfim, <strong>do</strong> comércio <strong>atlântico</strong>.<br />
507
508<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
To<strong>do</strong>s os autores até aqui cita<strong>do</strong>s são unânimes em consi<strong>de</strong>rar a seca como fator <strong>de</strong>sarticula<strong>do</strong>r<br />
da economia das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> a partir <strong>do</strong> final <strong>do</strong> século XVIII, principalmente<br />
da Seca Gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1790 a 1794, que dizimou o ga<strong>do</strong>, impedin<strong>do</strong> a reorganização<br />
das oficinas, e também pela concorrência, a partir daí, com o charque no Rio Gran<strong>de</strong> <strong>do</strong> Sul.<br />
Notamos até aqui que os trabalhos sobre a pecuária valeram-se <strong>de</strong> relatos gerais sobre, notadamente<br />
crônicas e relatos <strong>de</strong> viajantes. Incluem-se igualmente os trabalhos da década <strong>de</strong><br />
1980, que tiveram uma base empírica mais alargada, analisan<strong>do</strong> os registros <strong>de</strong>mográficos<br />
e sesmarias das capitanias <strong>do</strong> Piauí e da Bahia, uma vez que tinham por questão teórica a<br />
problematizarão <strong>do</strong> sistema da pecuária como economia <strong>de</strong> abastecimento da qual <strong>de</strong>pendia<br />
a agricultura comercial. Ainda se faz necessário o alargamento da análise empírica para uma<br />
melhor compreensão das formas <strong>de</strong> inserção <strong>do</strong> charque no abastecimento da colônia e no<br />
merca<strong>do</strong> <strong>atlântico</strong>.<br />
A dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> encontrar registros mais gerais sobre a ativida<strong>de</strong> da produção <strong>do</strong><br />
charque e o seu comércio po<strong>de</strong> ser entendida a partir da relação entre a tributação realizada<br />
pela Coroa na pecuária. A agricultura comercial foi privilegiada pelos administra<strong>do</strong>res<br />
régios na sua tributação, sen<strong>do</strong> objeto <strong>de</strong> regulamentações específicas, alvarás, direitos,<br />
privilégios, preços <strong>de</strong> fretes, etc. O mesmo não aconteceu com a pecuária, daí a dificulda<strong>de</strong><br />
em mensurar a tributação, mesmo quan<strong>do</strong> se trata <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> forneci<strong>do</strong> para as feiras, e<br />
menos ainda para o ga<strong>do</strong> que transitou <strong>de</strong>ntro da capitania <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> para o abastecimento<br />
das oficinas <strong>de</strong> charque. Não encontramos também nenhuma indicação sobre privilégios<br />
e regulamentos que orientassem a comercialização <strong>do</strong> charque. <strong>As</strong> dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>do</strong>cumentar<br />
a produção <strong>do</strong> charque não se encerram aí. Também não foram contabilizadas pela<br />
Companhia Geral <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong> Pernambuco e Paraíba, as movimentações <strong>do</strong> charque,<br />
uma vez que não foram exporta<strong>do</strong>s com freqüência para Portugal. Se o charque foi envia<strong>do</strong><br />
para a África, on<strong>de</strong> encontramos algumas evidências <strong>do</strong> consumo <strong>de</strong>sse produto, não foi<br />
contabiliza<strong>do</strong> pela mesma Companhia.<br />
A pecuária e os registros <strong>do</strong>cumentais da sua tributação ainda são bem pouco estuda<strong>do</strong>s<br />
para a área <strong>do</strong>s sertões pernambucanos. Para o caso <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, apenas o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s contratos<br />
<strong>de</strong> arrematação <strong>de</strong> dízimos ao longo <strong>do</strong> século XVIII po<strong>de</strong>ria nos fornecer algum indício<br />
<strong>de</strong> sua produção e comércio. Essa carência <strong>de</strong> análises <strong>do</strong>s fluxos econômicos da pecuária<br />
<strong>de</strong>corre em gran<strong>de</strong> parte <strong>do</strong> fato das sínteses historiográficas se preocuparem mais com a<br />
distribuição <strong>de</strong> terras e ocupação <strong>do</strong>s sertões, como a distribuição <strong>de</strong> sesmarias e estruturação<br />
<strong>do</strong>s currais, <strong>do</strong> que com as re<strong>de</strong>s mercantis que sustentaram essa ativida<strong>de</strong> econômica.<br />
Tu<strong>do</strong> isso dificulta para o pesquisa<strong>do</strong>r reunir as informações e observar a complexida<strong>de</strong> das<br />
operações produtivas e comerciais <strong>do</strong> charque no merca<strong>do</strong> <strong>atlântico</strong>.<br />
A primeira indicação da produção das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> no <strong>Ceará</strong> vem <strong>de</strong> Rocha Pita. Em<br />
1730, quan<strong>do</strong> foi publicada a História da América Portuguesa, Rocha Pita referiu-se ao porto<br />
<strong>do</strong>s barcos na barra <strong>do</strong> Jaguaribe, capitania <strong>do</strong> Siará Gran<strong>de</strong>, aon<strong>de</strong> os barcos iam “carregar<br />
<strong>carnes</strong> <strong>de</strong> que abundam naquele país”. 7 Entretanto não possuímos da<strong>do</strong>s sobre o nível <strong>de</strong><br />
comercialização <strong>do</strong> charque nessa primeira meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII.<br />
Ao que tu<strong>do</strong> indica, a ativida<strong>de</strong> da manufatura e comércio das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> esteve ligada<br />
à expansão <strong>do</strong>s interesses comerciais <strong>de</strong> Pernambuco na região. Des<strong>de</strong> o final <strong>do</strong> <strong>do</strong>mí-
Temas Setecentistas<br />
nio holandês, com a centralização administrativa e eclesiástica em Pernambuco, a região<br />
subordinou-se a uma hierarquia regional. Eval<strong>do</strong> Cabral <strong>de</strong> Melo, ao estudar a ascendência<br />
da praça comercial <strong>do</strong> Recife no perío<strong>do</strong> post bellum, chamou atenção para as estratégias<br />
<strong>de</strong> diversificação comercial <strong>do</strong>s mascates como fator que possibilitou a formação <strong>de</strong> uma<br />
área <strong>de</strong> trocas que se estendia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o <strong>Ceará</strong> até a foz <strong>do</strong> rio São Francisco. Esta área teria<br />
se submeti<strong>do</strong> comercialmente ao Recife, principalmente pela a<strong>do</strong>ção <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> frotas<br />
em 1649, que centralizou no porto <strong>do</strong> Recife as trocas comerciais entre a colônia e o Reino.<br />
Segun<strong>do</strong> ele, “acossa<strong>do</strong> ao norte pela concorrência com São Luis, mas, sobretu<strong>do</strong> ao sul e<br />
oeste pela <strong>de</strong> Salva<strong>do</strong>r, o Recife compensou-se esten<strong>de</strong>n<strong>do</strong>-se pelos “portos <strong>do</strong> sertão”, isto<br />
é, pelas ribeiras a Oeste da baia <strong>de</strong> Touros no Rio Gran<strong>de</strong> <strong>do</strong> Norte.” Melo ainda nos fornece<br />
uma interpretação sobre a ascendência da praça <strong>do</strong> Recife no perío<strong>do</strong> post bellum indican<strong>do</strong><br />
que a abertura <strong>do</strong> Caminho <strong>do</strong> Maranhão teria beneficia<strong>do</strong> tremendamente o comércio recifense.<br />
Experientes no abastecimento das proprieda<strong>de</strong>s <strong>do</strong> interior, <strong>do</strong>minan<strong>do</strong> o comércio<br />
<strong>de</strong> grosso trato com o Reino, exploran<strong>do</strong> trapiches e armazéns, investin<strong>do</strong> em proprieda<strong>de</strong>s<br />
urbanas e antecipan<strong>do</strong> créditos aos proprietários rurais, esta passagem <strong>do</strong> “merca<strong>do</strong>r <strong>de</strong><br />
loja” ao “merca<strong>do</strong>r <strong>de</strong> sobra<strong>do</strong>”, também esteve ligada à montagem <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> trocas<br />
comerciais com os portos <strong>do</strong> sertão. 8 Em 1743, o capitão-mor <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, Francisco Ximenes<br />
<strong>de</strong> Aragão, pediu ao rei <strong>de</strong> Portugal que, pela freqüente presença <strong>de</strong> barcos que comercializavam<br />
charque e couro no Aracati, seria conveniente que a Câmara <strong>de</strong> Aquirás <strong>de</strong>spachasse<br />
para lá um juiz ordinário e um escrivão. <strong>As</strong> iniciativas posteriores foram <strong>de</strong> indicar a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> criação <strong>de</strong> uma vila no porto <strong>do</strong>s barcos. Em 1744, o ouvi<strong>do</strong>r <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> Manuel<br />
José <strong>de</strong> Faria propôs ao rei a criação da vila, proposta que, levada ao Conselho Ultramarino,<br />
recebeu parecer favorável em 12 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1745, vin<strong>do</strong> a vila ser criada em 1742 e<br />
instalada em 1748. A principal justificativa para a criação da vila era a sua importância comercial,<br />
uma vez que, além <strong>de</strong> centralizar a indústria das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong>, possuía um comércio<br />
atuante com o sertão da capitania. 9<br />
Para a segunda meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII aumentam significativamente os registros sobre<br />
como o charque se inseriu no merca<strong>do</strong> colonial em resposta aos interesses comerciais da<br />
praça <strong>do</strong> Recife. A partir <strong>de</strong> 1757, encontramos da<strong>do</strong>s referentes à inserção <strong>do</strong> charque como<br />
produto estratégico para a manutenção <strong>do</strong> tráfico <strong>atlântico</strong> <strong>de</strong> escravos, para a manutenção<br />
<strong>de</strong> tropas, para abastecimento das minas e das cida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> Recife, Bahia e Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
A força periférica <strong>do</strong> charque e as suas relações mercantis na economia <strong>do</strong> Império,<br />
constituídas ao longo da primeira meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII com a expansão das ativida<strong>de</strong>s<br />
ligadas à pecuária na ocupação <strong>do</strong>s sertões e ribeiras da capitania anexa <strong>do</strong> Siará gran<strong>de</strong>,<br />
estão claramente evi<strong>de</strong>nciadas em 1757, quan<strong>do</strong> os homens <strong>de</strong> negócio <strong>do</strong> Recife pediram<br />
autorização à Coroa para constituírem uma Companhia Geral <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong> Carnes Secas<br />
e Couros <strong>do</strong> Sertão. Talvez estimula<strong>do</strong>s pelas políticas pombalinas <strong>de</strong> incentivo à produção<br />
colonial e pela criação da Companhia <strong>do</strong> Maranhão e Grão Pará, os homens <strong>de</strong> negócio <strong>de</strong><br />
Pernambuco visavam “incrementar a produção <strong>de</strong> <strong>carnes</strong> e couros e distribuí-la em Pernambuco,<br />
Bahia e Rio <strong>de</strong> Janeiro”. 10 Essa po<strong>de</strong> ser a referência mais sistemática e informativa <strong>do</strong><br />
significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> charque no comércio colonial em mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XVIII. O principal motor<br />
<strong>de</strong>sse incremento da produção da pecuária sertaneja era o abastecimento com o charque<br />
509
510<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
<strong>do</strong>s principais portos <strong>do</strong> comércio <strong>atlântico</strong>. Os mesmos comerciantes também propunham<br />
a criação <strong>de</strong> uma Companhia da Costa da África que, junto com comerciantes reinóis e baianos,<br />
monopolizariam o tráfico <strong>de</strong> escravos.<br />
A justificativa <strong>do</strong> governa<strong>do</strong>r <strong>de</strong> Pernambuco, Luis Diogo Lobo da Silva, en<strong>do</strong>ssada pelos<br />
principais comerciantes <strong>do</strong> Recife, para a criação das referidas Companhias era o fato <strong>de</strong><br />
que elas agiriam como financia<strong>do</strong>ras <strong>do</strong> comércio <strong>de</strong> escravos para os senhores <strong>de</strong> engenho,<br />
além <strong>de</strong> impedir a concorrência em África com comerciantes ingleses e franceses, e evitariam<br />
o contraban<strong>do</strong> e a evasão <strong>de</strong> ouro para financiar o comércio <strong>de</strong> escravos. A criação da<br />
Companhia das Carnes Secas tinha como objetivo a expansão <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> e o aumento <strong>do</strong>s<br />
lucros para os comerciantes e para os cria<strong>do</strong>res. Na proposta, foi sugeri<strong>do</strong> que a companhia<br />
tivesse 24 navios (sumacas), que po<strong>de</strong>riam facilmente transportar a produção <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong><br />
28 a 30 mil cabeças <strong>de</strong> ga<strong>do</strong>. O capital <strong>de</strong> 450 mil cruza<strong>do</strong>s seria reparti<strong>do</strong> em ações <strong>de</strong> 4<br />
contos <strong>de</strong> réis, e viabilizaria a compra <strong>do</strong>s navios, <strong>do</strong> ga<strong>do</strong> e das <strong>de</strong>spesas relativas ao processamento<br />
das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> e couros. Alegavam ainda que esse comércio <strong>do</strong> Recife com os<br />
portos <strong>do</strong> sertão já havia ocupa<strong>do</strong> cerca <strong>de</strong> 35 barcos, mas que nos últimos anos se encontrava<br />
arruina<strong>do</strong>.<br />
Po<strong>de</strong>mos indagar sobre a relação <strong>do</strong>s cria<strong>do</strong>res e charquea<strong>do</strong>res <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> com o capital<br />
mercantil <strong>do</strong> Recife e sobre o papel significativo <strong>de</strong>ste produto no abastecimento interno.<br />
Segun<strong>do</strong> Ribeiro Júnior, o movimento <strong>do</strong> comércio <strong>do</strong> Recife com os portos <strong>do</strong> sertão em<br />
1757 envolvia cerca <strong>de</strong> 35 barcos. Entretanto, <strong>do</strong>cumentar a inserção <strong>do</strong> charque no merca<strong>do</strong><br />
interno e o seu significa<strong>do</strong> para o tráfico <strong>atlântico</strong> <strong>de</strong> escravos tem si<strong>do</strong> um gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>safio<br />
para a pesquisa. Eulália Lobo registrou 46 armazéns no Rio <strong>de</strong> Janeiro que comercializavam<br />
o charque em 1779. 11 Necessitaríamos maiores informações sobre o comércio pratica<strong>do</strong> entre<br />
a capitania <strong>de</strong> Pernambuco e as capitanias da Bahia e <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro para <strong>do</strong>cumentar<br />
o comércio interno <strong>do</strong> charque, entretanto a pesquisa ainda não avançou nessa questão,<br />
muito embora seja referência nas fontes e historiografia já citadas a recorrente <strong>de</strong>stinação<br />
<strong>do</strong> charque no merca<strong>do</strong> interno.<br />
Por um outro la<strong>do</strong>, sabemos que o charque representou um produto estratégico no<br />
comércio <strong>de</strong> escravos. Diversas evidências indicam o consumo <strong>do</strong> charque na África, especialmente<br />
liga<strong>do</strong> ao tráfico <strong>de</strong> escravos e ao abastecimento <strong>do</strong>s navios. De acor<strong>do</strong> com<br />
Roquinal<strong>do</strong> Ferreira, na segunda meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII, as praças brasileiras “usufruíam<br />
larga vantagem no comércio direto com Angola”, superan<strong>do</strong> em muito a praça <strong>de</strong> Lisboa. Segun<strong>do</strong><br />
ele, esse pre<strong>do</strong>mínio brasileiro no comércio <strong>de</strong> escravos se dava pelo financiamento<br />
<strong>do</strong> tráfico com os produtos da terra, como o fumo, as cachaças e a carne seca: “Porque não<br />
tinham acesso a estas merca<strong>do</strong>rias, os negociantes metropolitanos, apesar <strong>do</strong> farto acesso<br />
às fazendas <strong>de</strong> negro após 1772, não conseguiam competir com os brasileiros”. 12 Antunes,<br />
analisan<strong>do</strong> o incremento das transações comerciais luso-brasileiras em Moçambique, também<br />
<strong>do</strong>cumentou a presença das <strong>carnes</strong> salgadas como produto da terra que influenciou no<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong> tráfico <strong>de</strong> escravos. 13<br />
Na África, o charque teria ganho notabilida<strong>de</strong> a partir <strong>de</strong> sua introdução na alimentação<br />
<strong>do</strong>s escravos que estavam sen<strong>do</strong> prepara<strong>do</strong>s para a travessia <strong>do</strong> Atlântico. Luis Antônio <strong>de</strong><br />
Oliveira Men<strong>de</strong>s <strong>do</strong>cumentou em 1793 como teria se da<strong>do</strong> o consumo das <strong>carnes</strong> <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>
Temas Setecentistas<br />
na alimentação <strong>do</strong>s escravos. Segun<strong>do</strong> ele, foi o pernambucano Raimun<strong>do</strong> Jalamá, administra<strong>do</strong>r<br />
da Companhia <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong> Pernambuco e Paraíba em Angola entre 1759 e 1763,<br />
que, observan<strong>do</strong> as péssimas condições físicas <strong>do</strong>s escravos embarca<strong>do</strong>s, o que resultava<br />
em alta mortalida<strong>de</strong> e prejuízos para a Companhia, substituiu a savelha (peixe salga<strong>do</strong> e<br />
conserva<strong>do</strong> em azeite) pela carne seca na alimentação. Jalamá teria orienta<strong>do</strong> as escravas<br />
a temperar as rações servidas com a carne seca: “quan<strong>do</strong> pela primeira vez a escravatura<br />
provou <strong>de</strong>ste gênero <strong>de</strong> comida assim temperada, e amoldada ao seu paladar, confessa fi<strong>de</strong>dignamente,<br />
que lhe bateram palmas. [...] Na prevenção da economia man<strong>do</strong>u vir por conta<br />
da mesma Companhia <strong>de</strong> Pernambuco a carne salgada, e seca, a que lhe chamam <strong>do</strong> sertão,<br />
que é escaldada, e sem ossos, que ali custa <strong>de</strong> 6 [centos] a oitocentos réis a arroba...”. 14<br />
Jaime Rodrigues e Luis Felipe <strong>de</strong> Alencastro incluíram o charque, juntamente com o feijão,<br />
o milho e a farinha <strong>de</strong> mandioca, como um <strong>do</strong>s principais alimentos <strong>do</strong>s africanos aprisiona<strong>do</strong>s<br />
nos portos africanos e também na alimentação consumida durante a travessia: “A<br />
carne salgada era secada a sombra; a vantagem <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> carne estava em se conservar<br />
por mais tempo, durante a navegação no mar”. 15<br />
O charque também foi utiliza<strong>do</strong> na segunda meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII na alimentação <strong>do</strong>s<br />
solda<strong>do</strong>s. Juntamente com a farinha <strong>de</strong> mandioca, chegou a ser usa<strong>do</strong> como pagamento <strong>de</strong><br />
sol<strong>do</strong>s. Durante a Guerra <strong>do</strong>s Sete Anos entre Inglaterra e França, o charque foi envia<strong>do</strong> para<br />
Portugal para servir <strong>de</strong> alimentação das tropas. Uma primeira remessa <strong>de</strong> 70 toneladas foi<br />
enviada em 1761 e outra, com a mesma tonelagem, foi enviada no ano seguinte a pedi<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Oeiras “por conta <strong>de</strong> Sua Majesta<strong>de</strong>”. Em 1762, o charque embarca<strong>do</strong> para o reino<br />
ficou isento <strong>de</strong> direitos nos navios da Companhia <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong> Pernambuco. 16<br />
Mesmo consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> o significa<strong>do</strong> da ativida<strong>de</strong> pastoril para a colonização das capitanias<br />
da costa Leste-Oeste, mesmo ressaltan<strong>do</strong> a sua <strong>de</strong>pendência da área produtora <strong>de</strong> cana<strong>de</strong>-açúcar,<br />
mesmo sen<strong>do</strong> ativida<strong>de</strong> subsidiária, os mo<strong>de</strong>los interpretativos sobre a produção<br />
<strong>de</strong> alimentos e abastecimento das áreas coloniais não avançaram no estu<strong>do</strong> sistemático <strong>de</strong>sses<br />
fluxos, ou <strong>de</strong> seu significa<strong>do</strong>s para a formação <strong>de</strong> uma elite senhorial ligada ao abastecimento<br />
da Colônia. Tampouco foi consi<strong>de</strong>rada a expansão <strong>do</strong>s interesses metropolitanos na<br />
organização <strong>do</strong> capital mercantil, e ainda, a sua relação com a formação <strong>de</strong> uma elite senhorial<br />
urbana e mercantil no <strong>Ceará</strong>.<br />
Cabe, portanto, analisar as ativida<strong>de</strong>s ligadas à pecuária e o seu beneficiamento associa<strong>do</strong><br />
às novas tendências <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s sobre os fluxos coloniais. O estu<strong>do</strong> da produção <strong>do</strong> charque<br />
e <strong>do</strong>s couros, das relações mercantis <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> com outras áreas coloniais e o perfil (e<br />
estratégias) <strong>de</strong> acumulação nos levam a inquirir sobre a dinâmica <strong>de</strong>stas ativida<strong>de</strong>s e os seus<br />
<strong>de</strong>s<strong>do</strong>bramentos na formação das elites cearenses. Visan<strong>do</strong> contribuir para o entendimento<br />
das ativida<strong>de</strong>s das charqueadas <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> para o perío<strong>do</strong> anterior a 1777, e para a discussão<br />
<strong>do</strong>s fluxos que sustentavam o merca<strong>do</strong> interno colonial na segunda meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVIII,<br />
apresentamos aqui alguns da<strong>do</strong>s compulsa<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Livro <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Entrada <strong>do</strong>s Barcos<br />
no Porto da Vila <strong>do</strong> Aracati entre 1767 e 1776.<br />
Os registros não oferecem uma homogeneida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s, o que nos impe<strong>de</strong> a montagem<br />
<strong>de</strong> uma série completa <strong>do</strong> <strong>de</strong>cênio. Entretanto, oferecem informações preciosas sobre<br />
os charquea<strong>do</strong>res e as suas ativida<strong>de</strong>s econômicas. A <strong>do</strong>cumentação nos permite saber, o<br />
511
512<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
que até agora se <strong>de</strong>sconhecia, quantos eram os barcos que entraram no porto da vila em cada<br />
ano <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1767. Contabilizamos 77 entradas entre 1767 e 1776, realizadas por 57 barcos. 17<br />
Os registros das entradas <strong>do</strong>s barcos eram realiza<strong>do</strong>s pelo juiz ordinário <strong>do</strong> Sena<strong>do</strong> da<br />
Câmara, <strong>de</strong>vidamente <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong>s pelo seu escrivão. Geralmente eram realiza<strong>do</strong>s na casa<br />
<strong>de</strong> morada <strong>do</strong> juiz. Os da<strong>do</strong>s indicam o dia da entrada, a carga trazida e a que seria <strong>de</strong>spachada.<br />
O mestre da embarcação era o responsável pelo registro, assim sabemos sempre os seus<br />
nomes. Para alguns registros também foram aponta<strong>do</strong>s os proprietários das embarcações<br />
e/ou <strong>de</strong> seus freta<strong>do</strong>res. Os barcos faziam o registro uma vez que pagavam a quantia <strong>de</strong><br />
10$000 para a Câmara.<br />
Ao que tu<strong>do</strong> indica, os barcos referi<strong>do</strong>s eram as sumacas (aliás, nome que também <strong>de</strong>signava<br />
o charque, ou carne <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>). Apenas uma entrada foi registrada como bergantim – barco<br />
a vela e a remo, <strong>de</strong> um ou <strong>do</strong>is mastros <strong>de</strong> galé e com oito ou <strong>de</strong>z bancos para rema<strong>do</strong>res.<br />
<strong>As</strong> sumacas eram barcos a vela menores que os patachos, que se tornariam ao longo<br />
<strong>do</strong> século XIX a principal embarcação nas rotas da costa Leste-Oeste. Sua mastreação era<br />
constituída <strong>de</strong> gurupés (mastro que se lança <strong>do</strong> bico da proa e que por vezes era <strong>de</strong>cora<strong>do</strong><br />
com esculturas) e <strong>do</strong>is mastros inteiriços (o <strong>de</strong> vante que cruza as duas vergas e o <strong>de</strong> ré, que<br />
enverga vela latina). Segun<strong>do</strong> Eval<strong>do</strong> Cabral <strong>de</strong> Melo, as sumacas <strong>do</strong>minaram o transporte<br />
na costa Leste-Oeste até o aparecimento das barcaças. A partir <strong>do</strong> Cabo <strong>de</strong> São Roque, “a<br />
sumaca passou a gozar <strong>de</strong> um monopólio que não conseguiu adquirir ao longo <strong>do</strong> litoral pernambucano<br />
e paraibano, on<strong>de</strong> <strong>de</strong>via contar com a concorrência <strong>de</strong> barcos menores, como as<br />
canoas <strong>do</strong> alto e outras”.<br />
Alguns autores discorreram sobre as dimensões da sumaca e sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> carga.<br />
Cabral <strong>de</strong> Melo calculou que as sumacas po<strong>de</strong>riam carregar até 237 passageiros (conforme<br />
previa o regulamento <strong>do</strong> trafico <strong>de</strong> escravos), mas carregava até mais <strong>de</strong> 360. “A armação<br />
compunha-se <strong>de</strong> mastro <strong>de</strong> vante ou traquete, <strong>do</strong>ta<strong>do</strong> <strong>de</strong> vela latina, vela <strong>de</strong> estai (polaca),<br />
mastro <strong>de</strong> mezena com vela re<strong>do</strong>nda ou quadrada, e gurupés; dispunha também <strong>de</strong> castelo<br />
<strong>de</strong> popa. Ela também arrastava escaler”. Ainda segun<strong>do</strong> ele, a média <strong>de</strong> tonelagem das sumacas<br />
era <strong>de</strong> 80 toneladas. “Para aten<strong>de</strong>r o aumento <strong>do</strong> tráfego <strong>de</strong>corrente não só <strong>do</strong> incremento<br />
físico da produção exportável [<strong>de</strong> Pernambuco], mas, sobretu<strong>do</strong> da concentração no<br />
Recife <strong>de</strong> to<strong>do</strong> o comércio exterior <strong>de</strong> Pernambuco e das chamadas capitanias anexas, era<br />
necessário um barco maior”. 18<br />
<strong>As</strong> sumacas passaram a <strong>do</strong>minar o sempre complica<strong>do</strong> trecho <strong>de</strong> navegação a partir <strong>do</strong><br />
cabo <strong>de</strong> São Roque por serem mais ágeis e podiam assim vencer as temíveis correntezas. Sua<br />
introdução, fundamental para as transações <strong>do</strong>s portos <strong>do</strong> sertão com o porto <strong>do</strong> Recife <strong>de</strong><br />
Pernambuco no Brasil, teria si<strong>do</strong> uma adaptação <strong>de</strong> embarcações holan<strong>de</strong>sas.<br />
A maior parte das sumacas que chegaram ao Aracati era originária <strong>do</strong> Recife, confirman<strong>do</strong><br />
as afirmações <strong>de</strong> Melo. Algumas vezes era registrada a procedência e o <strong>de</strong>stino da<br />
embarcação, e assim po<strong>de</strong>mos saber que a maior parte <strong>do</strong>s barcos com origem/<strong>de</strong>stino<br />
<strong>de</strong>clara<strong>do</strong>s era <strong>de</strong> Pernambuco (16 barcos <strong>do</strong>s 19 registros <strong>de</strong> origem/<strong>de</strong>stino). Também<br />
foi registra<strong>do</strong> um barco em 1767 que tinha a sua origem/<strong>de</strong>stino o porto <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
contrarian<strong>do</strong> a Carta Régia <strong>de</strong> 7 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1701, que proibia o comércio direto entre<br />
as capitanias <strong>do</strong> norte com as capitanias <strong>do</strong> sul. Os outros registros indicavam escalas
Temas Setecentistas<br />
realizadas no porto <strong>do</strong> <strong>As</strong>su no Rio Gran<strong>de</strong> <strong>do</strong> Norte, e no porto <strong>de</strong> Camossim, no litoral<br />
norte <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>.<br />
Como vimos, uma das justificativas utilizadas pela historiografia para o aparecimento da<br />
ativida<strong>de</strong> das oficinas <strong>de</strong> <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> no <strong>Ceará</strong> foi o aproveitamento das condições naturais<br />
da região: sol, vento e abundância <strong>de</strong> sal. Essas condições naturais também explicariam o<br />
aparecimento das charqueadas na ribeira <strong>do</strong> <strong>As</strong>su, na Capitania <strong>do</strong> Rio Gran<strong>de</strong>. 19<br />
A ativida<strong>de</strong> econômica das salinas no perío<strong>do</strong> colonial foi <strong>do</strong>cumentada pela historiografia.<br />
Roberto Simonsen, no seu curso <strong>de</strong> Historia Econômica em 1931, nos diz que foi no<br />
perío<strong>do</strong> da ocupação holan<strong>de</strong>sa que foram <strong>de</strong>scobertas as salinas da costa Leste-Oeste, em<br />
Mossoró e no <strong>Ceará</strong>, informação também compartilhada por Eval<strong>do</strong> Cabral <strong>de</strong> Melo. Entretanto,<br />
Simonsen estava mais preocupa<strong>do</strong> com a comercialização <strong>do</strong> sal nas capitanias <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Brasil, notadamente nas capitanias <strong>de</strong> São Vicente e <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. Simonsen<br />
traçou um quadro <strong>de</strong> carestia <strong>do</strong> gênero e <strong>do</strong>s altos preços que foram objeto <strong>do</strong>s contratos<br />
<strong>de</strong> sal nessas capitanias, bem como das constantes ações da Coroa proibin<strong>do</strong> a fatura <strong>do</strong><br />
produto na Colônia. Os altos preços <strong>do</strong> produto teriam gera<strong>do</strong> não só a escassez em alguns<br />
momentos, principalmente com a crescente exploração da Minas Gerais, mas também teria<br />
contribuí<strong>do</strong> para o sucesso <strong>de</strong> alguns motins.<br />
Miriam Ellys, em estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1955, também analisou o monopólio <strong>do</strong> comércio <strong>do</strong> sal no<br />
Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Brasil entre 1631 e 1801, quan<strong>do</strong> este foi aboli<strong>do</strong>. Na mesma linha <strong>de</strong> Simonsen,<br />
a autora pouco se <strong>de</strong>teve na exploração <strong>de</strong> sal nas capitanias da costa Leste-Oeste. Mais <strong>de</strong>talhes<br />
encontramos sobre essa ativida<strong>de</strong> em Fre<strong>de</strong>ric Mauro. Segun<strong>do</strong> ele, após a exploração<br />
<strong>do</strong> sal ser iniciada no perío<strong>do</strong> da ocupação holan<strong>de</strong>sa, ela teria se <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> nos anos seguintes.<br />
Mauro chegou mesmo a computar a sua produção anual em 2 mil toneladas por ano<br />
(aproximadamente 140 mil arrobas), <strong>de</strong>screven<strong>do</strong> que a força <strong>de</strong> trabalho utilizada nesta<br />
tarefa envolvia 12 negros, 10 brancos e 30 índios. 20<br />
Mais recentemente, o trabalho <strong>de</strong> Katinsky sobre mineração no perío<strong>do</strong> colonial aponta<br />
também as mesmas características já sublinhadas em Simonsen, pouco se referin<strong>do</strong> à <strong>do</strong>cumentação<br />
referente às capitanias da costa Leste-Oeste. Entretanto, <strong>de</strong>talhou a sistemática<br />
<strong>de</strong> trabalho a<strong>do</strong>tada no interior das salinas, basean<strong>do</strong>-se, possivelmente, para isso em Ellys.<br />
Seriam utiliza<strong>do</strong>s processos rudimentares e ainda a construção <strong>de</strong> barragens para cercar a<br />
água <strong>do</strong> mar, por gravida<strong>de</strong>, evaporação e cristalização. Como sua questão central é o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da técnica no Brasil, o autor consi<strong>de</strong>ra que as práticas a<strong>do</strong>tadas seriam as mesmas<br />
da Metrópole. Katinsky fala ainda das constantes idas e vindas da Coroa para regular o<br />
monopólio e relaxá-lo nos momentos <strong>de</strong> carestia e escassez, permitin<strong>do</strong> alguma produção<br />
local, notadamente no Rio <strong>de</strong> Janeiro, em Cabo Frio.<br />
To<strong>do</strong>s os autores relatam as constantes or<strong>de</strong>ns da Coroa proibin<strong>do</strong> a instalação <strong>de</strong> salinas<br />
nos seus <strong>do</strong>mínios coloniais. Dentre outras medidas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Decreto que introduziu<br />
o monopólio em 1631, a Carta Régia <strong>de</strong> 1690, que proibira até mesmo a coleta <strong>do</strong> sal produzi<strong>do</strong><br />
naturalmente, as iniciativas da Coroa foram todas no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> manter o privilégio<br />
das áreas produtoras <strong>de</strong> Setúbal, Alverca e Figueira, em Portugal. Mesmo que esses autores<br />
se refiram ao fim <strong>do</strong> monopólio em Pernambuco nos últimos anos <strong>do</strong> século XVIII, quan<strong>do</strong><br />
as capitanias <strong>do</strong> Rio Gran<strong>de</strong>, Cabo Frio e Pernambuco passaram a po<strong>de</strong>r, legitimamente,<br />
513
514<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
utilizar, mas não exportar, o sal encontra<strong>do</strong> em seus <strong>do</strong>mínios, não ficam esclarecidas as<br />
relações entre a produção <strong>do</strong> sal e a manufatura das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong>. Katinsky ainda apontou<br />
que, geralmente, o sal era utiliza<strong>do</strong> na salga das <strong>carnes</strong>, <strong>secas</strong> ao sol, mas não se refere especificamente<br />
ao processo <strong>de</strong> produção da carne <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> como <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da produção<br />
e <strong>do</strong> comércio <strong>do</strong> sal. Sobre a política da metrópole, o autor aponta que, por vezes, a Coroa<br />
permitia a instalação <strong>de</strong> salinas em perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> escassez. Esta política irregular <strong>de</strong> permitir<br />
ou não a exploração das salinas na colônia perdurou por to<strong>do</strong> o século XVIII. “<strong>As</strong>sim é que,<br />
no final <strong>do</strong> século XVIII, as capitanias nor<strong>de</strong>stinas obtiveram a permissão para explorar suas<br />
salinas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que seu consumo fosse exclusivamente local”. 21<br />
Os da<strong>do</strong>s compila<strong>do</strong>s até agora sobre o movimento <strong>do</strong> porto <strong>do</strong> Aracati na segunda meta<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong> século XVIII nos mostram que havia uma intensa ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção e comércio<br />
<strong>de</strong> sal entre as capitanias <strong>do</strong> Rio Gran<strong>de</strong> e <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, contrarian<strong>do</strong> a Carta Regia <strong>de</strong> 1690. No<br />
que se refere às cargas <strong>de</strong>claradas que entraram no porto <strong>do</strong> Aracati entre 1767 e 1778, das<br />
78 entradas <strong>de</strong> barcos, 33 <strong>de</strong>clararam trazer sal “para a factura das <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong>”. Esse da<strong>do</strong><br />
esclarece que a ativida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s charquea<strong>do</strong>res era interligada com outros sistemas <strong>de</strong> exploração<br />
econômica na costa Leste-Oeste, compon<strong>do</strong> uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> negócios entre as capitanias<br />
<strong>do</strong> Seará Gran<strong>de</strong>, Pernambuco e Rio Gran<strong>de</strong>. A partir <strong>de</strong>sses da<strong>do</strong>s po<strong>de</strong>mos saber que se<br />
os charquea<strong>do</strong>res utilizavam a exploração <strong>do</strong> sal marinho <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>, utilizavam também <strong>de</strong><br />
outra área, o que indica um grau <strong>de</strong> complexida<strong>de</strong> <strong>do</strong> beneficiamento das <strong>carnes</strong>, que envolvia,<br />
inclusive, um comércio inter-capitanias. Certamente os interesses na exploração <strong>do</strong> sal<br />
na região da ribeira <strong>do</strong> <strong>As</strong>su, origem <strong>de</strong>clarada das cargas <strong>de</strong> sal das embarcações, estavam<br />
associa<strong>do</strong>s aos interesses <strong>do</strong>s charquea<strong>do</strong>res e comerciantes.<br />
Até agora <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> pela literatura, o comércio <strong>do</strong> sal entre as capitanias da costa<br />
Leste-Oeste e Pernambuco foi bastante intenso na década <strong>de</strong> 1770. Se computarmos os barcos<br />
que <strong>de</strong>clararam carregar apenas sal, contamos 23 carregamentos exclusivos. Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong><br />
que a sumaca tinha capacida<strong>de</strong> para carregar cerca <strong>de</strong> 80 toneladas, o comércio entre<br />
essas capitanias teria atingi<strong>do</strong> a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 184 toneladas, isso sem contar os outros 10<br />
barcos que entraram com carga mista. Po<strong>de</strong>mos razoavelmente consi<strong>de</strong>rar que nesses 10<br />
anos o comércio movimentou cerca <strong>de</strong> 200 toneladas <strong>do</strong> produto. Em termos comparativos<br />
po<strong>de</strong>mos observar que em 1766, a capitania das Minas Gerais teria consumi<strong>do</strong>, segun<strong>do</strong> Simonsen,<br />
35 mil alqueires. Ou seja, a ativida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s charquea<strong>do</strong>res <strong>do</strong> Aracati consumiu quase<br />
que o equivalente a 2/3 <strong>do</strong> sal consumi<strong>do</strong> nas Minas Gerais em uma década, isso sem levar<br />
em conta a produção local <strong>do</strong> sal que, infelizmente, não temos <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong>.<br />
Também foram <strong>de</strong>claradas, além <strong>de</strong> passageiros, cargas <strong>de</strong> aguar<strong>de</strong>nte, mel, fazendas,<br />
miu<strong>de</strong>zas, fretes, lastro (o que indicava vir o navio apenas para tomar cargas) e <strong>de</strong> secos<br />
e molha<strong>do</strong>s. A farinha <strong>de</strong> mandioca era um produto encontra<strong>do</strong> também com uma gran<strong>de</strong><br />
recorrência: 23 embarcações levaram ao Aracati o referi<strong>do</strong> produto, sen<strong>do</strong> que no ano <strong>de</strong><br />
1770 foram importadas mais <strong>de</strong> 150 toneladas em quatro entradas <strong>de</strong>claradas. Prosperaram<br />
no perío<strong>do</strong> as ativida<strong>de</strong>s mercantis ligadas às ativida<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s charquea<strong>do</strong>res. Não apenas<br />
o comércio <strong>do</strong> charque movimentava o porto como também era significativa a entrada <strong>de</strong><br />
produtos que vinham <strong>do</strong> porto <strong>do</strong> Recife. Apenas cinco navios <strong>de</strong>clararam entrar sem merca<strong>do</strong>rias.<br />
O registro da saída <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>rias para o perío<strong>do</strong> analisa<strong>do</strong> com <strong>carnes</strong> <strong>secas</strong> foi <strong>de</strong>
Temas Setecentistas<br />
36 barcos. Nove navios <strong>de</strong>clararam entrar no Aracati para carregar couro, sola e courama e<br />
outros 17 barcos <strong>de</strong>clararam buscar fretes. O ano <strong>de</strong> 1776 foi um ano <strong>de</strong> seca parcial, quan<strong>do</strong><br />
apenas um barco foi registra<strong>do</strong> no porto. Entre 1777 e 1780 o <strong>Ceará</strong> enfrentou uma gran<strong>de</strong><br />
seca e em 1776 cessaram os registros <strong>de</strong> barcos, que só reapareceram em 1787.<br />
Até agora a pesquisa nos indica que a ativida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s charquea<strong>do</strong>res <strong>do</strong> Aracati <strong>de</strong>ve ser<br />
entendida a partir <strong>de</strong> uma dinâmica re<strong>de</strong> <strong>de</strong> trocas comerciais entre as capitanias <strong>do</strong> Norte<br />
<strong>do</strong> Brasil, subordinan<strong>do</strong>, inclusive, o comércio <strong>de</strong> ga<strong>do</strong> e gêneros para o sertão. A operação<br />
produtiva vinculava-se à ativida<strong>de</strong> mercantil e estabelecia-se através <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> complexas<br />
relações. Em alguns casos, como a fatura <strong>do</strong> sal e o comércio entre capitanias, essas<br />
relações contrariavam explicitamente as Or<strong>de</strong>ns Régias. A ativida<strong>de</strong> <strong>do</strong> merca<strong>do</strong>r-charquea<strong>do</strong>r,<br />
por mais que subsidiária e voltada para o merca<strong>do</strong> interno, expandiu seu merca<strong>do</strong> como<br />
produto estratégico para o tráfico <strong>atlântico</strong> <strong>de</strong> escravos. <strong>As</strong> estratégias <strong>de</strong> investimentos<br />
<strong>de</strong>sses grupos mercantis, manipula<strong>do</strong>res <strong>do</strong> beneficiamento das <strong>carnes</strong> e <strong>do</strong> comércio com<br />
o sertão, seguiam os padrões <strong>do</strong>s mascates pernambucanos, investin<strong>do</strong> em diferentes ativida<strong>de</strong>s<br />
e regiões. Atualmente estamos analisan<strong>do</strong> da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> movimento <strong>do</strong> porto <strong>do</strong> Aracati<br />
para o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1783 a 1802, momento em que, segun<strong>do</strong> a historiografia, a economia <strong>do</strong><br />
charque foi <strong>de</strong>sarticulada e substituída pelo comércio <strong>do</strong> algodão. Tentamos avaliar, a partir<br />
da análise <strong>de</strong> outras fontes, como Requerimentos, Cartas Patente, e nos Documentos <strong>de</strong><br />
Pernambuco <strong>do</strong> Arquivo Histórico Ultramarino, o perfil <strong>de</strong>sses merca<strong>do</strong>res-charquea<strong>do</strong>res e<br />
suas relações com Pernambuco. Estamos ainda organizan<strong>do</strong> o levantamento <strong>do</strong>s inventários<br />
post mortem <strong>de</strong> Aracati, e das vilas <strong>do</strong> sertão para melhor enten<strong>de</strong>r as intrincadas re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
hierarquização regional que a pecuária e o beneficiamento <strong>de</strong> sua produção propiciaram.<br />
Notas<br />
ABREU, Capistrano <strong>de</strong>. “Sobre uma História <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>”. In: Revista <strong>do</strong> Instituto <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>. Fortaleza: Tipografia<br />
Studart, 1899, p. 29. Nesse texto, Capistrano <strong>de</strong> Abreu comenta o lançamento <strong>do</strong> livro Dactas e Factos para<br />
a História <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> – Colônia, <strong>de</strong> Guilherme Studart. O estu<strong>do</strong> também foi publica<strong>do</strong> em Caminhos Antigos e<br />
Povoamento <strong>do</strong> Brasil. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Livraria Briquiet/Socieda<strong>de</strong> Capistrano <strong>de</strong> Abreu, 1931, pp. 219-231.<br />
2 ABREU, Capistrano <strong>de</strong>. Capítulos <strong>de</strong> História Colonial (1500-1800). 6ª ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira,<br />
1976, principalmente o capítulo: O Sertão.<br />
3 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação <strong>do</strong> Brasil Contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 187.<br />
4 PRADO Jr., op. cit., p. 195 e 196.<br />
5 NOBRE, Geral<strong>do</strong> da Silva. <strong>As</strong> Oficinas <strong>de</strong> Carnes <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>: uma solução local para uma pecuária em crise.<br />
Fortaleza: Gráfica Editorial Cearense, 1977. Em linhas gerais a historiografia cearense reproduz as interpretações<br />
<strong>de</strong> Capistrano <strong>de</strong> Abreu e Caio Pra<strong>do</strong> Júnior. Destacam-se os autores Renato Braga, com um artigo sobre<br />
as charqueadas na Revista <strong>do</strong> Instituto Histórico <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong> em 1947, Raimun<strong>do</strong> Girão, na sua síntese <strong>de</strong> história<br />
econômica, também <strong>de</strong> 1947, e, Val<strong>de</strong>lice Carneiro Girão, que em dissertação <strong>de</strong> mestra<strong>do</strong> na Universida<strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco analisou especificamente as charqueadas.<br />
6 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. “Pecuária, agricultura <strong>de</strong> alimentos e recursos naturais no Brasil Colônia”.<br />
In: SZMRECSÁNYI, Tamás (org.) História Econômica <strong>do</strong> Perío<strong>do</strong> Colonial. São Paulo: Edusp/Hucitec, 2002,<br />
p. 151, on<strong>de</strong> são cita<strong>do</strong>s outros trabalhos que analisaram a pecuária <strong>do</strong> Piauí e Bahia.<br />
7 PITA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa. São Paulo: Itatiaia, 1976, p. 55.<br />
515
516<br />
Almir Leal <strong>de</strong> Oliveira<br />
8 MELO, Eval<strong>do</strong> Cabral <strong>de</strong>. A ferida <strong>de</strong> Narciso: ensaio <strong>de</strong> historiografia regional. SãoPaulo: Editora SENAC,<br />
2001, p. 53. Ver ainda <strong>do</strong> mesmo autor: A fronda <strong>do</strong>s mazombos: nobres contra mascates. Pernambuco, 1666-<br />
1715, São Paulo: Editora 34, 2003.<br />
9 STUDART, Guilherme. Dactas e Factos para a História <strong>do</strong> <strong>Ceará</strong>. Fortaleza: Tipografia Studart, 1896, pp.<br />
220, 222, 227, 231 e seguintes.<br />
10 RIBEIRO Jr., José. Colonização e monopólio no Nor<strong>de</strong>ste <strong>do</strong> Brasil: a Companhia Geral <strong>de</strong> Comércio <strong>de</strong> Pernambuco<br />
e Paraíba (1759-1780). São Paulo: Hucitec, 2004, p. 80.<br />
11 LOBO, Eulália Maria Lameyer. História <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro: Do Capital Comercial ao Capital Industrial e<br />
Financeiro. Rio <strong>de</strong> Janeiro: IBMEC, 1978, p. 69.<br />
12 FERREIRA, Roquinal<strong>do</strong> “Dinâmica <strong>do</strong> comércio intracolonial: Geribitas, panos asiáticos e guerra no tráfico<br />
angolano <strong>de</strong> escravos (século XVIII)”. In: FRAGOSO, João et alli. O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica<br />
imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp. 345 e 365.<br />
13 ANTUNES, Luis Fre<strong>de</strong>rico Dias. “Nichos e re<strong>de</strong>s: interesses e relações comerciais luso-brasileiras na África<br />
Oriental (1750-1800)”. In: BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia <strong>do</strong> Amaral. Mo<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Governo:<br />
idéias e práticas políticas no Império Português, séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 1005, p. 217.<br />
14 MENDES, Luis Antônio <strong>de</strong> Oliveira. “Discurso Acadêmico – Memórias econômicas da Aca<strong>de</strong>mia Real das<br />
Sciências <strong>de</strong> Lisboa (1793)”. In: CARREIRA, Antônio. <strong>As</strong> Companhias Pombalinas. Lisboa: Editorial Presença,<br />
1982, p. 401.<br />
15 HUTTER, Lucy Maiffei. Navegação nos séculos XVII e XVIII Rumo: Brasil. São Paulo, Edusp, 2005, p. 332;<br />
RODRIGUES, Jaime. De Costa a Costa: Escravos, marinheiros e intermediários <strong>do</strong> tráfico negreiro <strong>de</strong> Angola ao<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro (1780-1860). São Paulo: Cia. Das Letras, 2005, pp. 243 e 262 e ALENCASTRO, Luis Felipe <strong>de</strong>. O<br />
Trato <strong>do</strong>s Viventes: Formação <strong>do</strong> Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Cia. Das Letras, 2000, pp. 251-256.<br />
16 RIBEIRO Jr., op.cit., pp. 104-106 e HUTTER, op. cit., p. 367.<br />
17 Entrada <strong>de</strong> barcos por ano: 1767 – 10 entradas, 1768 – 17 entradas, 1769 – 8 entradas, 1770 – 8 entradas,<br />
1771 – uma entrada, 1772 – Não há registro <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> embarcações, 1773 – 18 entradas, 1774 – uma<br />
entrada, 1775 – 14 entradas e 1776 – uma entrada. Faltam as 20 primeiras paginas <strong>do</strong> Livro. Os registros <strong>do</strong><br />
ano <strong>de</strong> 1767 iniciam em julho. 1772 e 1776 foram anos <strong>de</strong> seca. FONTE: Livro <strong>de</strong> Notas <strong>do</strong> Sena<strong>do</strong> da Câmara<br />
da Vila <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>do</strong>s Barcos <strong>do</strong> Aracati (1767-1801), número 23.<br />
18 MELO, Eval<strong>do</strong> Cabral <strong>de</strong>. Um Imenso Portugal: História e Historiografia. São Paulo: Editora 34, 2002, p.<br />
194.<br />
19 MONTEIRO, Denise Matos. Introdução a História <strong>do</strong> Rio Gran<strong>de</strong> <strong>do</strong> Norte. Natal: Ed.UFRN, 2000, p. 85.<br />
20 SIMONSEN, Roberto. História Econômica <strong>do</strong> Brasil (1500-1820). São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1931.<br />
ELLYS, Miriam. O monopólio <strong>do</strong> sal no esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Brasil (1631-1801). São Paulo: FFCL/USP, 1955. MAURO, Fre<strong>de</strong>ric.<br />
“Po<strong>de</strong>-se falar em uma indústria brasileira na época colonial?”. In: Estu<strong>do</strong>s Econômicos, Vol. 13, número<br />
especial, 1983.<br />
21 KATINSKY, Julio Roberto. “Notas sobre a mineração no Brasil Colonial”. In: VARGAS, Milton (org.). História<br />
da Ciência e da Tecnologia no Brasil. São Paulo: UNESP/CEETEPS, 1994, p. 100.