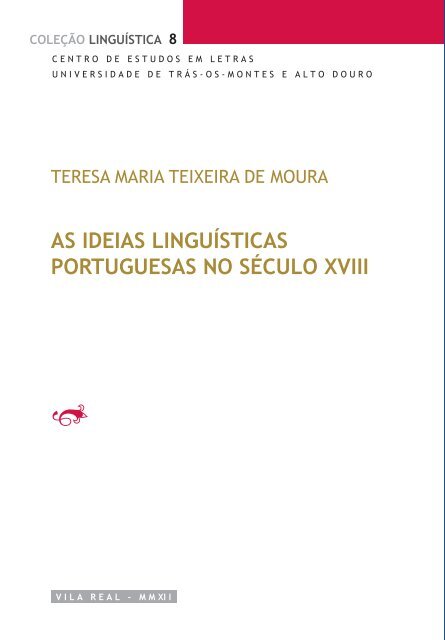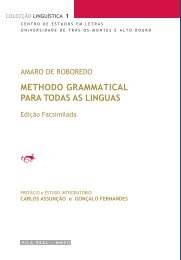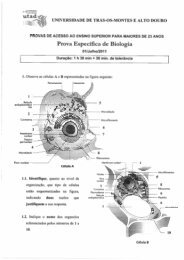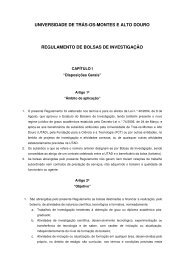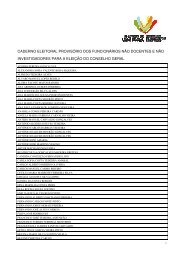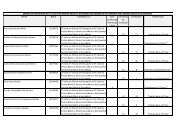as ideias linguísticas portuguesas no século xviii 8 - Utad
as ideias linguísticas portuguesas no século xviii 8 - Utad
as ideias linguísticas portuguesas no século xviii 8 - Utad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COLEÇÃO LINGUÍSTICA 8<br />
CENTRO DE ESTUDOS EM LETRAS<br />
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO<br />
TERESA MARIA TEIXEIRA DE MOURA<br />
AS IDEIAS LINGUÍSTICAS<br />
PORTUGUESAS NO SÉCULO XVIII<br />
R<br />
VILA REAL - MMXII
As IdeIAs LInguístIcAs PortuguesAs<br />
<strong>no</strong> sécuLo XVIII<br />
3
Autor: teresa Maria teixeira de Moura<br />
título: “As Idei<strong>as</strong> Linguístic<strong>as</strong> Portugues<strong>as</strong> <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII”<br />
editor: centro de estudos em Letr<strong>as</strong> / universidade de trás-os-Montes e Alto douro<br />
coleção: Linguística, n.º 8<br />
IsBn: 978-989-704-056-6<br />
depósito Legal: 338585/12<br />
tiragem: 200 exemplares<br />
execução gráfica: Minerva transmontana, tipografia, Ld.ª<br />
rua d. António Valente da Fonseca, 8<br />
Telef.: 259 340 940 • Fax: 259 340 949<br />
e-mail: info@minervavilareal.com<br />
5000-539 VILA reAL<br />
6
7<br />
À memória do meu pai
ÍNDICE<br />
Abstract ......................................................................................... 11<br />
Resumo .......................................................................................... 15<br />
INTRODUÇÃO ............................................................................ 19<br />
CAPÍTULO I<br />
Breve resenha da tradição gramatical portuguesa<br />
– dos primórdios ao Século XVIII ............................................. 27<br />
1. Constituição da gramática <strong>no</strong> Ocidente ........................ 29<br />
2. As gramátic<strong>as</strong> de Língua Portuguesa<br />
<strong>no</strong>s Séculos XVI e XVII .................................................... 89<br />
CAPÍTULO II<br />
Século XVIII português .............................................................. 113<br />
1. Contexto sociocultural e político-económico .............. 115<br />
2. Produção gramatical setecentista ................................... 154<br />
2.1. d. Jerónimo contador de Argote ............................... 154<br />
2.2. António José dos reis Lobato .................................... 163<br />
2.3. João Joaquim c<strong>as</strong>imiro .............................................. 173<br />
2.4. Pedro José da Fonseca................................................. 176<br />
2.5. Pedro José de Figueiredo ............................................ 184<br />
2.6. Anónimo (1804) .......................................................... 189<br />
CAPÍTULO III<br />
O tratamento d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> n<strong>as</strong> obr<strong>as</strong><br />
gramaticais selecionad<strong>as</strong> ........................................................... 193<br />
1. Nome ..................................................................................... 195<br />
1.1. d. Jerónimo contador de Argote................................ 197<br />
1.2. António José dos reis Lobato ..................................... 211<br />
1.3. João Joaquim c<strong>as</strong>imiro ................................................ 227<br />
9
1.4. Pedro José da Fonseca .................................................. 233<br />
1.5. Pedro José de Figueiredo ............................................. 256<br />
1.6. Anónimo (1804) ............................................................ 278<br />
2. Verbo .................................................................................... 292<br />
2.1 d. Jerónimo contador de Argote ................................ 296<br />
2.2. António José dos reis Lobato ..................................... 325<br />
2.3. João Joaquim c<strong>as</strong>imiro ............................................... 355<br />
2.4. Pedro José da Fonseca.................................................. 366<br />
2.5. Pedro José de Figueiredo ............................................. 406<br />
2.6. Anónimo (1804) ........................................................... 432<br />
3. Particípio ............................................................................. 451<br />
3.1. d. Jerónimo contador de Argote ............................... 453<br />
3.2. António José dos reis Lobato ..................................... 455<br />
3.3. João Joaquim c<strong>as</strong>imiro................................................ 357<br />
3.4. Pedro José da Fonseca .................................................. 357<br />
3.5. Pedro José de Figueiredo ............................................. 464<br />
3.6. Anónimo (1804) ............................................................ 468<br />
CONCLUSÃO ............................................................................... 471<br />
BIBLIOGRAFIA ........................................................................... 491<br />
I. Bibliografia Ativa ............................................................... 493<br />
II. Bibliografia P<strong>as</strong>siva .......................................................... 493<br />
ANEXOS ........................................................................................ 525<br />
10
ABstrAct<br />
The Portuguese linguistic historiography h<strong>as</strong> undergone great<br />
evolution over the p<strong>as</strong>t years. This increment is due to the general<br />
k<strong>no</strong>wledge that historiographical studies play an important role in<br />
linguistics <strong>as</strong> it provides the coordinates of linguistics research that<br />
founds its theory on tradition.<br />
The two main objectives presented in this thesis, on the study<br />
of the linguistic ide<strong>as</strong> in the field of linguistic historiography in the<br />
1700s were: the establishment of the homogeneity and heterogeneity<br />
level of the cl<strong>as</strong>sificatory systems presented in the grammars selected<br />
and the establishment of the main influences that Portuguese,<br />
european and Latin grammarians had on those same grammars<br />
according to the historical and ideological context underlying the<br />
grammar production in the 1700s.<br />
Thus, this work w<strong>as</strong> divided into three chapters. The first chapter<br />
holds a brief description of the development of grammar in the<br />
Western world up to the appearance of the vulgar language grammars,<br />
highlighting the approach towards subject, Verb and Participle<br />
throughout grammatical history. In the second part, the linguistic<br />
production studied w<strong>as</strong> framed in the historical, social, political<br />
and cultural context of the 1700s making this period important<br />
due to the Portuguese language being official and obligatory in<br />
every school from that moment on. In the 3 rd chapter, the linguistic<br />
11
and grammatical theories presented by the corpus grammarians<br />
regarding subject, Verb and Participle were analyzed underlining on<br />
one hand the influence they had on other Portuguese or european<br />
and Latin grammarians and on the other, some meanings from the<br />
1700s that can be the origin of current theoretical concepts.<br />
The results obtained from this study allowed us to verify the<br />
influence that grammarians and pedagogues from the 16 th and 17 th<br />
centuries had on grammars from the 18 th century due to the importance<br />
given to the implementation, in official learning, of a Portuguese<br />
Language subject where the learning and teaching methods were<br />
b<strong>as</strong>ed on simple rules and result efficiency. some grammarians still<br />
defend that learning the Portuguese Language makes the process<br />
of learning other languages e<strong>as</strong>ier, especially Latin, which comes to<br />
show us that there are common factors to all languages. However, of<br />
the grammarians studied, <strong>no</strong>ne explicitly have a segmented grammar<br />
in “general” or “universal” and “separate”. When defining the word<br />
grammar, authors from the 1700s said that it w<strong>as</strong> the art that teaches<br />
how to speak and write correctly, following the traditional Latin<br />
definition, and that there w<strong>as</strong> heterogeneity regarding the division<br />
of the grammar from each of the authors also present in the word<br />
cl<strong>as</strong>ses.<br />
In what concerns the word cl<strong>as</strong>ses studied, it is obvious to us that<br />
much importance w<strong>as</strong> given to the study of the subject and the Verb<br />
so traditionally linked to traditional grammar. When considering<br />
the subject cl<strong>as</strong>s, authors would consider it a macro-cl<strong>as</strong>s which<br />
would then be divided into several other sub-cl<strong>as</strong>ses. However, apart<br />
from the division of the subject into Adjective and <strong>no</strong>un, there w<strong>as</strong><br />
general heterogeneity among the remaining subcl<strong>as</strong>ses.<br />
The same dissemblance w<strong>as</strong> also seen in the definitions presented<br />
<strong>as</strong> authors would b<strong>as</strong>e their studies on distinct linguistic criteria.<br />
However, the semantical criterion w<strong>as</strong> given more importance due<br />
to the traditional Latin <strong>as</strong>sociation used by Figueiredo in most of the<br />
definitions submitted. There w<strong>as</strong> also an agreement among authors<br />
when considering that the subject w<strong>as</strong> a cl<strong>as</strong>s of words that could<br />
12
vary in gender, number and c<strong>as</strong>e. The rupture w<strong>as</strong> due to Fonseca<br />
who an<strong>no</strong>unced that there were <strong>no</strong> c<strong>as</strong>es in the Portuguese Language.<br />
When characterizing the Verb, all grammars b<strong>as</strong>ed their<br />
definitions on a semantic structure. In the field of the verb sub-cl<strong>as</strong>ses,<br />
the systematization present in each author is heterogenic <strong>as</strong> well <strong>as</strong><br />
the description of the sub-cl<strong>as</strong>ses even though some of the author’s<br />
descriptions evidence some syntactical influence. The deviation<br />
in relation to the greek-Latin tradition drew some of the corpus’<br />
grammarians closer to european philosophical grammarians. In<br />
what concerns the Verb, all authors concurred on the gender, number,<br />
person and tense and agreed accordingly on manner <strong>as</strong> four different<br />
manners were presented for the Portuguese language.<br />
When referring to the Participle, the corpus’ grammarians<br />
used different <strong>no</strong>menclatures for the same fields making it difficult<br />
to establish a correct paradigm of the linguistic ide<strong>as</strong> of this<br />
matter. nevertheless, most authors stated that the Participle w<strong>as</strong> an<br />
auto<strong>no</strong>mous cl<strong>as</strong>s of words, following the greek-Latin tradition and<br />
only a few considered it to be a subcl<strong>as</strong>s of the Adjective, but great<br />
importance w<strong>as</strong> given to the formal characteristics of the Participle<br />
affirming that it had Adjective and Verb components.<br />
13
esuMo<br />
A historiografia linguística portuguesa tem sofrido, ao longo<br />
dos últimos a<strong>no</strong>s, um desenvolvimento acentuado. este incremento<br />
resulta da consciencialização generalizada de que os estudos<br />
historiográficos têm um papel preponderante <strong>no</strong> seio da própria<br />
linguística, na medida em que lhe fornecem <strong>as</strong> coordenad<strong>as</strong> d<strong>as</strong><br />
investigações linguístic<strong>as</strong> que fundamentam a sua b<strong>as</strong>e teórica <strong>no</strong><br />
p<strong>as</strong>sado.<br />
Assim, situando-se <strong>no</strong> campo estrito da historiografia linguística,<br />
o estudo d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> na centúria de setecentos, que se<br />
apresenta nesta tese, teve como finalidade o cumprimento de dois<br />
objetivos essenciais: o estabelecimento do grau de homogeneidade<br />
e/ou heterogeneidade dos sistem<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>sificatórios apresentados<br />
n<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> selecionad<strong>as</strong> e o estabelecimento d<strong>as</strong> principais<br />
influênci<strong>as</strong> nel<strong>as</strong> exercido por gramáticos portugueses ou europeus<br />
e lati<strong>no</strong>s, tendo em conta o contexto histórico-ideológico que esteve<br />
subjacente à produção gramatical setecentista.<br />
neste sentido, o trabalho foi dividido em três capítulos. <strong>no</strong><br />
primeiro, estabeleceu-se uma breve resenha da constituição e<br />
desenvolvimento da gramática <strong>no</strong> ocidente até ao surgimento d<strong>as</strong><br />
primeir<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> d<strong>as</strong> língu<strong>as</strong> vulgares, procurando evidenciar-se<br />
a abordagem do <strong>no</strong>me, do verbo e do particípio ao longo da história<br />
gramatical. <strong>no</strong> segundo, enquadrou-se a produção linguística em<br />
15
estudo <strong>no</strong> contexto histórico-social-político-cultural setecentista,<br />
<strong>as</strong>sumindo uma importância relevante o facto de o estudo da língua<br />
portuguesa ser oficialmente obrigatório, a nível da escolarização, a<br />
partir dessa época. <strong>no</strong> terceiro, analisaram-se <strong>as</strong> teori<strong>as</strong> linguístico-<br />
-gramaticais apresentad<strong>as</strong> pelos gramáticos do corpus que dizem<br />
respeito ao <strong>no</strong>me, ao verbo e ao particípio, destacando-se, por um<br />
lado, <strong>as</strong> influênci<strong>as</strong> nel<strong>as</strong> sofrid<strong>as</strong> por outros gramáticos portugueses<br />
ou europeus e lati<strong>no</strong>s, e, por outro, algum<strong>as</strong> <strong>no</strong>ções setecentist<strong>as</strong> que<br />
poderão estar na origem de conceitos teóricos atuais.<br />
o resultado deste estudo permitiu verificar que os gramáticos<br />
do <strong>século</strong> XVIII estavam perfeitamente imbuídos do espírito dos<br />
gramáticos e pedagogos dos <strong>século</strong>s XVI e XVII, já que atribuíram<br />
uma importância fundamental à implementação, <strong>no</strong> ensi<strong>no</strong> oficial,<br />
de uma disciplina de língua portuguesa cujo método de ensi<strong>no</strong>/<br />
/aprendizagem <strong>as</strong>sent<strong>as</strong>se na simplicidade d<strong>as</strong> regr<strong>as</strong> e na eficácia dos<br />
resultados. Alguns deles defenderam ainda que o estudo da língua<br />
portuguesa facilita a aprendizagem de outr<strong>as</strong> língu<strong>as</strong>, sobretudo a<br />
latina, preconizando, neste contexto, a existência de certos princípios<br />
comuns a tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> língu<strong>as</strong>. todavia, nenhum dos gramáticos<br />
estudados procedeu à compartimentação explícita da gramática em<br />
‘geral ou universal’ e ‘particular’. Quanto à definição de gramática,<br />
constatou-se que os autores setecentist<strong>as</strong> a entendem como a «Arte»<br />
que ensina a falar e a escrever corretamente, seguindo desta forma<br />
a definição tradicional latina. Por outro lado, verificou-se uma<br />
heterogeneidade <strong>no</strong> que diz respeito à divisão da gramática proposta<br />
por cada um dos autores, sendo que esta heterogeneidade também se<br />
faz sentir <strong>no</strong> número de cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> apresentad<strong>as</strong>.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito às cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> estudad<strong>as</strong>, patenteou-se<br />
que os autores, seguindo de perto a tradição gramatical, conferiram<br />
uma importância relevante ao estudo do <strong>no</strong>me e do verbo.<br />
em relação ao <strong>no</strong>me, sobressaiu o facto de os autores considerarem<br />
esta cl<strong>as</strong>se como uma macro cl<strong>as</strong>se que, por sua vez, compreendia<br />
vári<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses. Porém, à exceção da divisão do <strong>no</strong>me em adjetivo<br />
e substantivo, confirmou-se a existência de uma heterogeneidade<br />
16
generalizada face às restantes subcl<strong>as</strong>ses. A mesma dissemelhança<br />
fez sentir-se também n<strong>as</strong> definições apresentad<strong>as</strong>, já que os autores<br />
apoiaram <strong>as</strong> su<strong>as</strong> caracterizações em critérios linguísticos distintos.<br />
contudo, houve a predominância do critério semântico, consignado<br />
pela longa tradição latina, sendo utilizado por Figueiredo, na maioria<br />
d<strong>as</strong> definições apresentad<strong>as</strong>. existiu, também, algum consenso entre<br />
os autores ao considerarem que o <strong>no</strong>me era uma cl<strong>as</strong>se de palavr<strong>as</strong><br />
variável em género, número e c<strong>as</strong>o. A rutura deveu-se a Fonseca, que<br />
preconizou que na língua portuguesa não existiam c<strong>as</strong>os.<br />
na caracterização do verbo, confirmou-se que todos os<br />
gramáticos <strong>as</strong>sentaram <strong>as</strong> su<strong>as</strong> definições em b<strong>as</strong>es semântic<strong>as</strong>. <strong>no</strong><br />
domínio d<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses dos verbos, constatou-se que a sistematização<br />
apresentada pelos autores é acentuadamente heterogénea, sendo que<br />
esta heterogeneidade também se fez sentir n<strong>as</strong> descrições de cada<br />
uma d<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses propost<strong>as</strong>. todavia, <strong>as</strong> caracterizações de alguns<br />
autores patenteiam já algum<strong>as</strong> implicações sintátic<strong>as</strong>. este <strong>as</strong>peto foi<br />
o que mais contribuiu para um relativo distanciamento em relação<br />
aos critérios seguidos pela tradição greco-latina, aproximando<br />
alguns dos gramáticos do corpus aos gramáticos filosóficos europeus.<br />
<strong>no</strong> que concerne aos acidentes do verbo, todos os autores admitiram<br />
o género, o número, a pessoa, o tempo e o modo. neste último, a<br />
conformidade dos autores foi total, pois todos apresentaram quatro<br />
modos verbais para o português.<br />
Quanto ao particípio, constatou-se que os gramáticos do corpus<br />
usaram <strong>no</strong>menclatur<strong>as</strong> distint<strong>as</strong> para se referirem a uma mesma<br />
matéria, pelo que se tor<strong>no</strong>u difícil estabelecer um paradigma<br />
fidedig<strong>no</strong> em relação às idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> sobre este <strong>as</strong>sunto. <strong>no</strong><br />
entanto, seguindo a tradição greco-latina, a maior parte dos autores<br />
defenderam que o particípio é uma cl<strong>as</strong>se de palavr<strong>as</strong> autó<strong>no</strong>ma. Pelo<br />
contrário, apen<strong>as</strong> uma mi<strong>no</strong>ria considerou que o particípio constitui<br />
uma subcl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me adjetivo. não obstante este facto, quer uns<br />
quer outros continuaram a atribuir uma importância relevante às<br />
característic<strong>as</strong> formais do particípio, considerando ainda que o<br />
particípio tinha propriedades do <strong>no</strong>me (adjetivo) e do verbo.<br />
17
IntroduÇÃo<br />
A historiografia linguística é uma d<strong>as</strong> parcel<strong>as</strong> dos estudos<br />
linguísticos que sofreu um desenvolvimento considerável n<strong>as</strong> últim<strong>as</strong><br />
décad<strong>as</strong> (cf. torres, 1997: 69). este facto pode ser facilmente<br />
comprovado com o aumento de publicações de teses e artigos<br />
científicos e com o estabelecimento de <strong>no</strong>v<strong>as</strong> sociedades científic<strong>as</strong><br />
que encetam projetos de investigação tanto a nível nacional como, e<br />
sobretudo, a nível internacional 1 , que resultam da consciencialização<br />
de que o progresso científico deve ter em conta os saberes adquiridos<br />
ao longo dos tempos, pois só se pode traçar fidedignamente o estado<br />
de cois<strong>as</strong> atual se conhecermos e compreendermos a tradição. neste<br />
sentido, o conhecimento d<strong>as</strong> investigações do p<strong>as</strong>sado permitirão<br />
adquirir «una equilibrada perspectiva de los problem<strong>as</strong> y establecer<br />
debidamente l<strong>as</strong> coordenad<strong>as</strong> de l<strong>as</strong> actuales investigaciones, que en<br />
_________________________<br />
1 A título de exemplo, podemos apontar três publicações que se dedicam integralmente a<br />
questões de historiografia linguística: Historiographia Linguistica, Amesterdão (desde<br />
1974), Histoire-Épistémologie-Langage, Paris (desde 1979) e Beiträge zur Geschichte der<br />
Sprachwissenschaft, Münster (desde 1991). Podemos destacar ainda <strong>as</strong> principais <strong>as</strong>sociações<br />
que reúnem investigadores nesta área do saber como a ‘société d’Histoire et d’épistemologie<br />
des sciences du Langage’ (desde 1978), a ‘Henry sweet society for History of Linguistic Ide<strong>as</strong>’<br />
(desde 1984), a ‘<strong>no</strong>rth American Association for the History of Language sciences’ e a ‘sociedad<br />
española de Historiografía Lingüística’. e, por fim, entre os estudiosos que se dedicam qu<strong>as</strong>e<br />
exclusivamente à historiografia linguística, podemos referenciar os <strong>no</strong>mes de Pierre swiggers,<br />
Konrad Koerner e sylvain Auroux, entre outros.<br />
19
mayor o me<strong>no</strong>r medida construyen sus edificios teóricos sobre los<br />
cimientos de la tradición» (torres, 1997: 77).<br />
neste contexto, a própria linguística tenta encontrar uma<br />
orientação na crítica historiográfica, procurando alicerçar <strong>as</strong> idei<strong>as</strong><br />
do futuro, tendo por b<strong>as</strong>e a tradição, pelo que se torna fundamental<br />
o estudo do processo histórico de configuração d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> e teori<strong>as</strong><br />
linguístic<strong>as</strong>, enquadrad<strong>as</strong> n<strong>as</strong> sucessiv<strong>as</strong> descrições gramaticais dos<br />
sistem<strong>as</strong> linguísticos que se foram estabelecendo ao longo dos tempos<br />
até à atualidade. Assim sendo, a historiografia linguística <strong>as</strong>sume um<br />
papel de grande relevo <strong>no</strong> seio da própria linguística que, enquanto<br />
disciplina científica, procura <strong>no</strong>v<strong>as</strong> soluções para o tratamento do<br />
seu objeto de estudo.<br />
ora, o interesse pelos estudos históricos, numa perspetiva da<br />
historiografia linguística, não é recente, visto que eles começaram a<br />
multiplicar-se já desde o início do <strong>século</strong> XIX, procedendo de outr<strong>as</strong><br />
tentativ<strong>as</strong> anteriores de historiar os conhecimentos mais antigos. esse<br />
incremento, de resto, deveu-se em particular ao desenvolvimento<br />
institucional d<strong>as</strong> investigações levad<strong>as</strong> a cabo <strong>no</strong> âmbito desta área<br />
do saber (cf. AurouX, 1989: I, 13), <strong>no</strong>meadamente a nível dos seus<br />
conceitos teóricos e metodológicos, adiantados em particular pela<br />
linguística histórica e comparada.<br />
<strong>no</strong> entanto, a historiografia linguística só se instituiu como<br />
disciplina científica por volta dos finais dos a<strong>no</strong>s 60, sendo que swiggers<br />
advoga que apen<strong>as</strong> na década de 70, do <strong>século</strong> XX, é que esta disciplina<br />
se tor<strong>no</strong>u científica, uma vez que foi apen<strong>as</strong> nesta época que ela se<br />
organizou profissionalmente e que os investigadores consagraram<br />
uma atenção considerável aos seus <strong>as</strong>petos metodológicos (cf. swiggers<br />
apud sAntos, 2005: 34 n 55 ), para a qual confluíram uma série de<br />
fatores, dos quais destacamos quer <strong>as</strong> investigações levad<strong>as</strong> a cabo por<br />
Thom<strong>as</strong> Kuhn, <strong>no</strong> âmbito d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> naturais, que se traduziram<br />
na publicação de The Structure of Scientific Revolutions, em 1962;<br />
quer algum<strong>as</strong> propost<strong>as</strong> de delineamento para a própria investigação<br />
historiográfica em linguística; quer ainda o estabelecimento da<br />
primeira revista especializada, a supramencionada, Historiographia<br />
20
Linguistica; e, por fim, o n<strong>as</strong>cimento da série mo<strong>no</strong>gráfica ‘Amsterdam<br />
studies in the Theory and History of Linguistic science’ (cf. sAntos:<br />
2005: 34).<br />
A partir deste período verifica-se um aumento considerável de<br />
trabalhos publicados a respeito dos conhecimentos linguísticos do<br />
p<strong>as</strong>sado, sobretudo <strong>no</strong> último terço do <strong>século</strong> XX, sendo de <strong>no</strong>tar<br />
que, em muit<strong>as</strong> dess<strong>as</strong> investigações, o tratamento d<strong>as</strong> implicações<br />
teóric<strong>as</strong> que devem estar subjacentes a este tipo de trabalho e su<strong>as</strong><br />
pressuposições <strong>no</strong> âmbito interdisciplinar têm aí, muit<strong>as</strong> vezes, um<br />
papel de destaque (cf. sAntos,2005: 41). <strong>no</strong> entanto, <strong>as</strong> preocupações<br />
com <strong>as</strong> questões relacionad<strong>as</strong> com os pressupostos metodológicos da<br />
historiografia linguística ultrap<strong>as</strong>sam o âmbito desses trabalhos e<br />
suscitam debates científicos que visam dar resposta a uma série de<br />
problem<strong>as</strong>, sobretudo às questões que se prendem com a descrição da<br />
historiografia linguística a partir do ponto de vista epistemológico,<br />
d<strong>as</strong> su<strong>as</strong> finalidades e da implementação de uma metodologia<br />
própria, que se traduzem numa diversidade de perspetiv<strong>as</strong> vigentes,<br />
pelo que Koerner defende que os «historians of linguistic science<br />
will have to develop their own framework, both methodological and<br />
philosophical» (Koerner apud sAntos, 2005: 41).<br />
Porém, não é <strong>no</strong>ssa pretensão estabelecer uma resenha dos<br />
distintos pontos de vista apresentados pelos autores ao longo d<strong>as</strong><br />
últim<strong>as</strong> décad<strong>as</strong> em relação ao entendimento que fazem da própria<br />
historiografia linguística e aos seus conceitos básicos como é o c<strong>as</strong>o da<br />
sua epistemologia e metodologia, isto é, aos requisitos sobre os quais<br />
deve <strong>as</strong>sentar a investigação historiográfica. <strong>no</strong> entanto, importa<br />
referir que, de acordo com swiggers, a historiografia linguística<br />
diz respeito à descrição e explicação de como se produziram,<br />
formularam e difundiram os conhecimentos linguísticos, tendo em<br />
atenção os contextos social e cultural (cf. swiggers apud sAntos,<br />
2005: 35) em que se desenvolveram esses conhecimentos, pelo que se<br />
torna fundamental ao linguista-historiador não só o conhecimento<br />
dos textos escritos que se têm sob escopo, como também de todo o<br />
seu contexto-histórico social, tendo em especial atenção a história<br />
21
intelectual, que de alguma forma influenciou <strong>as</strong> reflexões que se<br />
fizeram sentir na época em questão, que visam a descrição e a<br />
explicitação de possíveis continuidades e ou descontinuidades de<br />
teori<strong>as</strong> ao longo da história (cf. torres, 1997: 69). este procedimento<br />
implica que o investigador tenha «en consideración los cambios que<br />
se han dado en la concepción de la ciencia a lo largo de la historia y<br />
preguntarse cuál es la imagen de ciencia a la que se han intentado<br />
aproximar otros saberes científicos para reivindicarse como tales en<br />
el momento concreto que se quiere examinar» (torres, 1997: 71).<br />
neste sentido, segundo Koerner, o estudo dos conhecimentos<br />
linguísticos de uma dada época pressupõe o estabelecimento de<br />
um conjunto de parâmetros de análise, sobre os quais o linguistahistoriador<br />
descreve e apresenta <strong>as</strong> teori<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> do p<strong>as</strong>sado aos<br />
investigadores do presente, que são b<strong>as</strong>icamente três:<br />
1) o princípio da contextualização histórica – que diz respeito<br />
ao estabelecimento do ‘clima de opinião’ da época que se tem<br />
sob escopo, já que o texto em análise não pode ser destituído<br />
de todo o ambiente histórico-cultural-político-social em que<br />
foi produzido;<br />
2) o princípio da imanência – que pressupõe que o tratamento<br />
analítico dos textos que se tem sob escopo se faça de acordo<br />
com a termi<strong>no</strong>logia linguística neles utilizada;<br />
3) o princípio da adequação teórica – que se prende com a<br />
possibilidade de o linguista-historiador poder introduzir<br />
aproximações modern<strong>as</strong> <strong>no</strong> vocabulário técnico e<br />
conceptual do texto em análise, que visam, acima de tudo,<br />
um esclarecimento mais eficaz do destinatário. <strong>no</strong> entanto,<br />
sempre que se proceder a alterações neste âmbito, o linguistahistoriador<br />
deve alertar o seu destinatário para tal facto (cf.<br />
Koerner apud sAntos, 2005: 42).<br />
ora, estes princípios metodológicos adiantados por Koerner<br />
pressupõem que a análise se processe numa perspetiva interna<br />
e externa, que são, de resto, <strong>as</strong> du<strong>as</strong> orientações metodológic<strong>as</strong><br />
defendid<strong>as</strong> por swiggers (cf. sAntos, 2005: 42 n 75 ). com efeito,<br />
22
para este autor o tratamento historiográfico só é eficaz se se traduzir<br />
na conjugação de uma descrição da linguagem orientada não só<br />
para o conteúdo, m<strong>as</strong> também para o seu contexto social e cultural,<br />
contemplando «the ‘internal’ history of linguistic thinking study of<br />
the evolution of linguistic views and descriptions» e «the ‘external’<br />
history of linguistic thought, resulting in a study of the socio-cultural<br />
context in which linguistic ide<strong>as</strong> have developed» (cf. swiggers apud<br />
sAntos, 2005: 42 n 75 ).<br />
deste modo, a historiografia linguística, ao trabalhar de uma<br />
forma rigorosamente metodológica, tendo por b<strong>as</strong>e o ‘paradigma<br />
historiográfico’ do qual se subentende que a interpretação d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong><br />
linguístic<strong>as</strong> pressupõe o conhecimento da história intelectual da<br />
época em que os textos germinaram, pode reclamar o seu estatuto<br />
científico e estipular os requisitos mediante os quais ela deve operar.<br />
em Portugal, <strong>as</strong> investigações historiográfic<strong>as</strong> <strong>no</strong> âmbito da<br />
linguística são ainda muito esc<strong>as</strong>s<strong>as</strong> 2 , pelo que se torna imperioso<br />
investir mais nesta área do saber, já que estes estudos <strong>no</strong>s permitiriam<br />
constituir, entre outros <strong>as</strong>petos, a história da linguística portuguesa<br />
e detetar possíveis contribuições portugues<strong>as</strong> na própria história<br />
da linguística europeia. Assim sendo, esperamos que este trabalho<br />
possa dar uma pequena contribuição para que alguém, num futuro<br />
muito próximo, aceite o desafio de elaborar a história da linguística<br />
portuguesa que, <strong>no</strong> fundo, se confunde com a própria história da<br />
gramática.<br />
A escolha do tema desta investigação deveu-se sobretudo ao facto<br />
de considerarmos o estudo d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> 3 linguístic<strong>as</strong> e gramaticais, <strong>no</strong><br />
que diz respeito às cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> ou partes da oração, ao longo<br />
_________________________<br />
2 de entre os autores portugueses que podemos «apelidar de gramatólogos ou, eventualmente,<br />
historiógrafos da linguística» (FernAndes, 2002: 17) destacamos os <strong>no</strong>mes de: Amadeu<br />
torres, Malaca c<strong>as</strong>teleiro, Leo<strong>no</strong>r Buescu, telmo Verdelho, carlos Assunção, Filomena<br />
gonçalves, gonçalo Fernandes e Maria Helena santos.<br />
3 o conceito de ‘ideia linguística’ «corresponde ao corpo de idei<strong>as</strong> acerca de uma ou de<br />
vári<strong>as</strong> língu<strong>as</strong>, num período, em determinado autor, movimento ou corrente, em conexão<br />
com os movimentos sociais, políticos, económicos e culturais d<strong>as</strong> comunidades em que se<br />
desenvolveram» (gonÇALVes, 2003: 16).<br />
23
da centúria de setecentos, ser um filão pouco explorado, pelo que<br />
persistimos na investigação do <strong>século</strong> XVIII, àquele nível. dizemos<br />
persistir porque este trabalho tem a sua génese num outro estudo,<br />
de carácter mo<strong>no</strong>gráfico, <strong>no</strong> qual encetámos uma reflexão em tor<strong>no</strong><br />
d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> preconizad<strong>as</strong> por contador de Argote, cuja<br />
gramática faz parte do corpus desta dissertação.<br />
Assim, situando-se <strong>no</strong> campo estrito da historiografia linguística,<br />
o estudo d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong>, <strong>no</strong> que concerne às cl<strong>as</strong>ses de<br />
palavr<strong>as</strong>, prende-se, essencialmente, com o cumprimento de dois<br />
objetivos primordiais. Por um lado, pretendemos estabelecer o grau<br />
de semelhança e/ou dissemelhança dos sistem<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>sificatórios<br />
apresentados por cada um dos gramáticos do corpus, tendo em conta<br />
<strong>as</strong> característic<strong>as</strong> fundamentais que dizem respeito a cada uma d<strong>as</strong><br />
cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> apresentad<strong>as</strong>. Por outro, pretendemos verificar<br />
<strong>as</strong> influênci<strong>as</strong> de outros gramáticos portugueses ou estrangeiros e<br />
lati<strong>no</strong>s n<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> dos gramáticos do corpus, tendo em<br />
atenção o cenário histórico-ideológico em que <strong>as</strong> su<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong><br />
foram produzid<strong>as</strong>, num <strong>século</strong> que foi marcado pela complexa<br />
tecedura da ‘revolução cultural’ europeia, cuj<strong>as</strong> raízes se devem ao<br />
progresso tec<strong>no</strong>lógico e científico.<br />
<strong>no</strong> entanto, cumpre salientar que, por razões que se relacionam<br />
com o cumprimento da legislação inerente ao processo de elaboração<br />
da dissertação de doutoramento, sobretudo com os <strong>as</strong>petos que se<br />
prendem com os prazos estabelecidos, limitamos a <strong>no</strong>ssa análise<br />
ao tratamento d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> – <strong>no</strong>me e verbo, pelo facto de<br />
serem est<strong>as</strong> <strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses mais importantes na história da gramática,<br />
pelo que tivemos em atenção também o estudo do particípio devido<br />
à sua estrita ligação com <strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses em causa.<br />
em termos metodológicos, seguimos de perto a metodologia<br />
adotada pela investigadora Maria Helena Pessoa santos na sua<br />
dissertação de doutoramento apresentada à universidade de trásos-Montes<br />
e Alto douro 4 .<br />
_________________________<br />
4 trata-se da dissertação de doutoramento em Linguística Portuguesa, intitulada As<br />
idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> portugues<strong>as</strong> na centúria de oitocentos, em dois volumes, apresentada à<br />
universidade de trás-os-Montes e Alto douro, em 2005.<br />
24
deste modo, dividimos o <strong>no</strong>sso trabalho em três capítulos.<br />
<strong>no</strong> primeiro capítulo, estabeleceremos uma breve resenha da<br />
constituição e desenvolvimento da gramática do ocidente até ao<br />
surgimento d<strong>as</strong> primeir<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> d<strong>as</strong> língu<strong>as</strong> vulgares, tendo<br />
em consideração, sobretudo, o tratamento que foi feito ao longo<br />
da história às cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> em estudo, com especial enfoque<br />
n<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> portugues<strong>as</strong>, produzid<strong>as</strong> em Portugal por autores<br />
portugueses sobre a língua portuguesa, representativ<strong>as</strong> do <strong>século</strong><br />
XVI e XVII.<br />
<strong>no</strong> segundo capítulo, estudaremos o contexto histórico-socialpolítico-cultural<br />
em que se produziram <strong>as</strong> obr<strong>as</strong> em análise, dando um<br />
relevo especial ao facto de a língua portuguesa ter sido implementada<br />
<strong>no</strong> ensi<strong>no</strong> oficial na centúria de setecentos, pelo que se <strong>as</strong>sistiu a um<br />
aumento significativo do número de gramátic<strong>as</strong> produzid<strong>as</strong> sobre a<br />
língua portuguesa. Paralelamente, tentaremos apontar <strong>as</strong> influênci<strong>as</strong><br />
pedagógic<strong>as</strong> de pedagogos portugueses e/ou europeus <strong>no</strong>s gramáticos<br />
setecentist<strong>as</strong>.<br />
destinaremos o terceiro capítulo à exposição d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses<br />
de palavr<strong>as</strong> em estudo. neste capítulo, faremos uma análise às<br />
característic<strong>as</strong> e aos critérios linguísticos que estão subjacentes aos<br />
diversos sistem<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>sificatórios, tentando estabelecer <strong>as</strong> fontes<br />
portugues<strong>as</strong> ou europei<strong>as</strong> e latin<strong>as</strong> que influenciaram os autores do<br />
corpus, num período que ficou marcado pelo pensamento de autores<br />
apologist<strong>as</strong> da gramática geral ou filosófica. Por outro lado, tentaremos<br />
também evidenciar alguns <strong>as</strong>petos que poderão estar na génese de<br />
alguns conceitos termi<strong>no</strong>lógicos dos gramáticos da atualidade, pelo<br />
que estabeleceremos um paralelo entre ess<strong>as</strong> conceções.<br />
cumpre salientar entretanto que para <strong>as</strong>sinalar os critérios<br />
linguísticos usados pelos gramáticos do corpus na definição d<strong>as</strong><br />
cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong>, recorremos à tipologia apresentada por calero<br />
Vaquera (cf. VAQuerA, 1986: 52).<br />
<strong>no</strong> que diz respeito às <strong>no</strong>rm<strong>as</strong> de transcrição, optámos por<br />
respeitar tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> característic<strong>as</strong> grafemátic<strong>as</strong> dos textos que estão<br />
sob análise, salvo a uniformização do [ƒ], chamado [s] longo ou alto<br />
25
que substituímos pelo grafema [s], pelo simples facto de tornar mais<br />
fácil a leitura do texto. <strong>no</strong> entanto, procedemos também a ligeir<strong>as</strong><br />
adaptações dos textos em análise, quer com o acrescentamento<br />
de letr<strong>as</strong> ou palavr<strong>as</strong> ou de algum sinal de pontuação que estão<br />
devidamente <strong>as</strong>sinalad<strong>as</strong> através de parênteses retos, quer à subtração<br />
de algum<strong>as</strong> letr<strong>as</strong> ou palavr<strong>as</strong> que estão <strong>as</strong>sinalad<strong>as</strong> por parênteses<br />
curvos, <strong>no</strong> sentido de conciliar o metatexto e o texto analítico, sem<br />
desvirtuar, porém, o sentido dos textos que temos sob escopo (cf.<br />
sAntos, 2005: 14).<br />
Pel<strong>as</strong> mesm<strong>as</strong> razões, também seguimos a mesma metodologia<br />
<strong>no</strong> que diz respeito às fontes bibliográfic<strong>as</strong> de cariz p<strong>as</strong>sivo.<br />
cumpre, ainda, advertir que os textos que constituem o objeto<br />
de estudo deste trabalho correspondem ao período que decorre<br />
entre 1725 e 1804, pelo que se tor<strong>no</strong>u necessário compulsar <strong>as</strong> obr<strong>as</strong><br />
gramaticais publicad<strong>as</strong> em Portugal neste período. Para o efeito,<br />
partimos do recenseamento d<strong>as</strong> fontes gramaticais que foram<br />
compilad<strong>as</strong> e organizad<strong>as</strong> por cardoso 5 e encetámos uma pesquisa<br />
bibliográfica que <strong>no</strong>s levou a vári<strong>as</strong> bibliotec<strong>as</strong> portugues<strong>as</strong> onde<br />
compulsamos a maior parte d<strong>as</strong> obr<strong>as</strong> do corpus.<br />
_________________________<br />
5 trata-se da obra Historiografia gramatical (1500-1920), Faculdade de Letr<strong>as</strong> do Porto, 1994.<br />
26
concLusÃo<br />
o estudo gramatical que encetamos às gramátic<strong>as</strong> publicad<strong>as</strong> entre<br />
1725 e 1804 permite-<strong>no</strong>s tecer algum<strong>as</strong> conclusões genéric<strong>as</strong> essenciais.<br />
Verificamos que ao longo da centúria de setecentos em Portugal<br />
houve um aumento significativo do número de produções gramaticais<br />
sobre a língua portuguesa, que reflete de algum modo <strong>as</strong> preocupações<br />
dos gramáticos nacionais com <strong>as</strong> questões relacionad<strong>as</strong> com a<br />
sistematização da língua materna.<br />
Adicionalmente, também constituía preocupação essencial a<br />
implementação <strong>no</strong> ensi<strong>no</strong> da aprendizagem da gramática portuguesa,<br />
utilizando para este desígnio um método simples e eficaz que permitisse<br />
que os alu<strong>no</strong>s <strong>as</strong>simil<strong>as</strong>sem <strong>as</strong> regr<strong>as</strong> facilmente, num curto espaço de<br />
tempo. ora, tal estudo <strong>as</strong>sumia uma importância fundamental <strong>no</strong><br />
contexto d<strong>as</strong> opiniões pedagógic<strong>as</strong> dos autores pois, para além de ser<br />
«a porta» que conduziria a aprendizagem de todos os outros estudos,<br />
facilitaria a aprendizagem de qualquer língua, sobretudo da latina,<br />
também ela reduzida ao mesmo método simplificado.<br />
Assim, o ensi<strong>no</strong> da gramática portuguesa <strong>as</strong>sumiu <strong>no</strong> seio da<br />
mentalidade dos gramáticos portugueses de setecentos um papel de<br />
relevo, na medida em que o seu estudo ajudaria a formar cidadãos<br />
livres, conscientes e capazes de contribuírem para o desenvolvimento<br />
e enriquecimento da nação. Por est<strong>as</strong> razões, podemos afirmar que se,<br />
por um lado, estes gramáticos concretizaram <strong>as</strong> <strong>as</strong>pirações pedagógic<strong>as</strong><br />
471
dos gramáticos ren<strong>as</strong>centist<strong>as</strong> e seiscentist<strong>as</strong>, <strong>no</strong>meadamente João de<br />
Barros, nebrija, Francisco sánchez, roboredo e os gramáticos de Portroyal,<br />
por outro lado, imbuídos <strong>no</strong> contexto ideológico-cultural da<br />
sua época, não foram alheios às teori<strong>as</strong> dos pedagogos do seu tempo.<br />
Ao reclamarem um método simplificado para o estudo da língua<br />
portuguesa e latina os gramáticos do <strong>século</strong> XVIII valorizaram também<br />
um ensi<strong>no</strong> prático <strong>as</strong>sente na razão, na observação dos factos e <strong>no</strong><br />
conhecimento gradual d<strong>as</strong> matéri<strong>as</strong>, procurando por um lado ajustar<br />
os conhecimentos à idade dos alu<strong>no</strong>s «Primeyramente naõ ensinarà ao<br />
meni<strong>no</strong> esta grammatica se naõ depois que souber ler sofrivelemnte,<br />
e entaõ ensinarlhe primeyro os capítulos, que pertencem aos <strong>no</strong>mes,<br />
e lhos fará dar primeyra, segunda, e terceyra vez, ou atè que sayba; e<br />
perceba perfeytamente o que contèm; e isto mesmo observarà com os<br />
capítulos dos Verbos, &c (…). sabido pelo meni<strong>no</strong> os rudimentos, lhe<br />
ensinar a syntaxe simples […]» (Argote, 1725: introdução), e por<br />
outro lado, fomentar um ensi<strong>no</strong> que desenvolva <strong>as</strong> su<strong>as</strong> capacidades<br />
pois «he util deixar a hum meni<strong>no</strong> difficuldades, que vença»<br />
(FonsecA, 1799: V). neste <strong>no</strong>vo contexto, <strong>as</strong> teori<strong>as</strong> pedagógic<strong>as</strong><br />
escolástico-jesuític<strong>as</strong> foram fortemente contestad<strong>as</strong>, reivindicandose<br />
a sua proibição <strong>no</strong> sistema de ensi<strong>no</strong>, cuja concretização viria a ser<br />
realizada pelo alvará régio de 1759.<br />
cumpre dizer ainda que Argote, Lobato e Fonseca, na esteira<br />
de sánchez e roboredo, evidenciaram a existência de universais<br />
linguísticos, comuns a tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> língu<strong>as</strong>, pelo que o estudo em primeiro<br />
lugar da língua portuguesa auxiliaria o estudo de outr<strong>as</strong> língu<strong>as</strong>,<br />
sobretudo o latim. <strong>no</strong> entanto, se para Argote <strong>as</strong> regr<strong>as</strong> gramaticais<br />
do português eram em qu<strong>as</strong>e tudo iguais às do latim, Fonseca, <strong>no</strong><br />
seguimento d<strong>as</strong> considerações tecid<strong>as</strong> pelo francês du Marsais,<br />
defendeu que <strong>as</strong> «regr<strong>as</strong> de huma lingoa só desta mesma lingoa<br />
devem ser tomad<strong>as</strong>» (FonsecA, 1799: VII). não obstante est<strong>as</strong><br />
considerações, nenhum dos gramáticos fez alusão à distinção explícita<br />
entre ‘gramática geral’ – ‘gramática particular’.<br />
472
<strong>no</strong> que diz respeito à definição de gramática propugnada pelos<br />
autores do corpus, verificamos que, à exceção de Lobato, todos os<br />
autores a entenderam como a «Arte» que ensina a falar e a escrever<br />
corretamente, seguindo desta forma a definição tradicional latina, já<br />
que não teceram mais nenhum comentário significativo a este respeito.<br />
<strong>no</strong> entanto, ao terem concebido a ‘palavra’ como ‘sinal’ representativo<br />
do pensamento huma<strong>no</strong>, c<strong>as</strong>imiro, Fonseca e Figueiredo aproximaram<br />
este conceito à <strong>no</strong>ção de ‘palavra’ apresentada pelos gramáticos de<br />
Port-royal e pelos gramáticos enciclopedist<strong>as</strong> franceses.<br />
Quanto à definição de gramática apresentada por Lobato –<br />
«grAMMAtIcA Portugueza he a Arte, que ensina a fazer sem erros<br />
a oração Portugueza» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143), verificamos<br />
que ela se aproxima da definição do Brocense.<br />
entretanto, também não entrevimos qualquer explicitação por<br />
parte dos autores a respeito da <strong>no</strong>ção de gramática como ciência, apesar<br />
d<strong>as</strong> influênci<strong>as</strong> exercid<strong>as</strong> por Francisco sánchez em Argote e Lobato,<br />
e por du Marsais e condillac em Fonseca.<br />
Por isso, est<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> são essencialmente <strong>no</strong>rmativ<strong>as</strong> e<br />
descritiv<strong>as</strong>, pretendendo fixar <strong>as</strong> regr<strong>as</strong> da língua portuguesa a partir do<br />
uso. <strong>no</strong> entanto, <strong>no</strong> que diz respeito às fontes ilustrativ<strong>as</strong> d<strong>as</strong> matéri<strong>as</strong>,<br />
apuramos também algum<strong>as</strong> dissemelhanç<strong>as</strong> entre os autores. se Argote,<br />
Lobato, c<strong>as</strong>imiro e o gramático anónimo optaram pelo recurso a<br />
exemplos de criação própria para registar o uso, tal como já o haviam<br />
feito Fernão de oliveira e João de Barros. Figueiredo e Fonseca, por<br />
seu tur<strong>no</strong>, forragearam os seus exemplos <strong>no</strong>s clássicos portugueses,<br />
seguindo o mesmo procedimento de autores como du Marsais.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito à divisão d<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> propost<strong>as</strong>, devemos<br />
evidenciar que Lobato, c<strong>as</strong>imiro, Figueiredo e o gramático anónimo<br />
de 1804 seguiram a divisão latina mais comum entre os gramáticos,<br />
estabelecendo quatro partes – a etimologia, a sintaxe, a ortografia e a<br />
prosódia. de acordo também com a tradição, conferiram um estatuto<br />
de relevo às partes da oração. contador de Argote apresentou uma<br />
divisão quadripartida da gramática, incluindo <strong>no</strong> final um breve<br />
473
tratado de ortografia. <strong>no</strong> entanto, consagrou uma importância<br />
relevante às partes da oração, m<strong>as</strong> não negligenciou o estudo da<br />
sintaxe, pelo que foi o primeiro autor português, na esteira de Portroyal,<br />
a dar um tratamento autó<strong>no</strong>mo à esta parte da gramática, já<br />
que tradicionalmente era referenciada <strong>no</strong> âmbito d<strong>as</strong> partes da oração.<br />
como tivemos oportunidade de constatar, a divisão da gramática<br />
proposta por Fonseca constituiu uma <strong>no</strong>vidade <strong>no</strong> corpus gramatical<br />
estudado, na medida em que este autor, influenciado por condillac,<br />
apresentou apen<strong>as</strong> du<strong>as</strong> partes a «primeira trata de cada huma d<strong>as</strong><br />
palavr<strong>as</strong> solt<strong>as</strong>, e desunid<strong>as</strong> hum<strong>as</strong> d<strong>as</strong> outr<strong>as</strong>» e a segunda «d<strong>as</strong><br />
palavr<strong>as</strong> junt<strong>as</strong>, e ordenad<strong>as</strong> de modo, que exprimão algum conceito»<br />
(FonsecA, 1799: 2).<br />
<strong>no</strong> que concerne ao sistema de cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong>, evidenciamos<br />
que Lobato, c<strong>as</strong>imiro e Fonseca apresentaram um sistema de <strong>no</strong>ve<br />
cl<strong>as</strong>ses: artigo, <strong>no</strong>me, pro<strong>no</strong>me, verbo, particípio, preposição, advérbio,<br />
conjunção e interjeição. contador de Argote, por seu tur<strong>no</strong>, expôs<br />
<strong>as</strong> mesm<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses, não conferindo ao artigo o estatuto de cl<strong>as</strong>se<br />
independente, limitou-se, por isso, a estabelecer um sistema de oito<br />
cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong>, pelo que seguiu o esquema proposto por Priscia<strong>no</strong>.<br />
Pedro de Figueiredo e o gramático anónimo af<strong>as</strong>tam-se dos<br />
restantes autores do corpus, já que o primeiro anunciou um sistema de<br />
quatro cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong>: artigo, <strong>no</strong>me, verbo e partícula e o segundo<br />
expôs um sistema de três cl<strong>as</strong>ses: <strong>no</strong>me, verbo e partícula, pelo que<br />
se aproximaram da cl<strong>as</strong>sificação apresentada por Francisco sánchez.<br />
em relação ao <strong>no</strong>me, constatamos que, em sintonia com a<br />
tradição greco-latina, todos os autores do corpus dedicaram uma parte<br />
considerável d<strong>as</strong> su<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> ao estudo desta parte da oração. não<br />
obstante, a sua caracterização foi estabelecida com b<strong>as</strong>e em critérios<br />
distintos.<br />
À semelhança de Priscia<strong>no</strong>, reis Lobato, Fonseca, Figueiredo e o<br />
autor anónimo de 1804 definiram <strong>no</strong>me através do recurso ao critério<br />
semântico ou lógico objetivo. contador de Argote conciliou esse<br />
critério com o morfológico, aproximando a sua definição à de dionísio<br />
474
da trácia. Por seu tur<strong>no</strong>, c<strong>as</strong>imiro usou o critério morfológico como<br />
critério único na respetiva definição.<br />
Por seu tur<strong>no</strong>, os gramáticos do corpus, à exceção de Argote e<br />
de Fonseca, na esteira dos autores escolásticos da época Medieval,<br />
consideraram o <strong>no</strong>me como uma macro cl<strong>as</strong>se que por sua vez<br />
englobava du<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses: o <strong>no</strong>me substantivo e o <strong>no</strong>me adjectivo.<br />
Fonseca adaptou esta subdivisão, m<strong>as</strong> ampliou-a com os primitivos,<br />
os derivados, os collectivos, os verbais, os compostos e numeraes, sendo<br />
que os primeiros, os terceiros e os quartos foram caracterizados com<br />
o recurso a um critério semântico, e os segundos e os quintos foram<br />
definidos em termos exclusivamente morfológicos. nesta cl<strong>as</strong>sificação,<br />
o gramático em causa ainda compartimentou os derivados em gentílicos<br />
ou nacionais, patronímicos, aumentativos e diminutivos, os quais foram<br />
definidos com o recurso ao critério semântico ou lógico-objetivo<br />
que foi coadjuvado, porém, pelo morfológico e o pragmático na<br />
caracterização de aumentativos e diminutivos.<br />
contador de Argote consig<strong>no</strong>u, além do adjectivo e do substantivo,<br />
uma série de outr<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses primári<strong>as</strong>, que dependem diretamente<br />
da cl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me, a saber: proprios, appellativos, collectivos, relativos,<br />
infinitos, patrios, nacionais, partitivos, numeraes, positivos, comparativos,<br />
superlativos. na caracterização dest<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses primári<strong>as</strong>, verificouse<br />
que contador de Argote não utilizou o mesmo tipo de critério<br />
linguístico. o semântico ou lógico objetivo foi selecionado para <strong>as</strong><br />
definições de <strong>no</strong>mes proprios, appellativos, collectivos, patrios, nacionais,<br />
partitivos, numeraes, positivos, comparativos, superlativos, encontrandose<br />
combinado com o critério sintático funcional na caracterização<br />
de <strong>no</strong>mes relativos. Pelo contrário, adoptou um critério formal na<br />
definição de <strong>no</strong>mes infinitos.<br />
Quanto às definições de <strong>no</strong>me substantivo e de <strong>no</strong>me adjectivo<br />
propost<strong>as</strong> por todos os autores verificou-se que predomi<strong>no</strong>u o critério<br />
semântico, a ele recorrendo todos os gramáticos do corpus, sendo<br />
o único critério usado por c<strong>as</strong>imiro. Além deste critério, usaram<br />
o sintático-funcional Argote, reis Lobato, Fonseca Figueiredo e o<br />
gramático anónimo de 1804, embora Fonseca se referisse apen<strong>as</strong> ao<br />
475
c<strong>as</strong>o do <strong>no</strong>me substantivo e o gramático anónimo salient<strong>as</strong>se apen<strong>as</strong><br />
o c<strong>as</strong>o do <strong>no</strong>me adjectivo.<br />
n<strong>as</strong> definições de <strong>no</strong>me adjectivo e de <strong>no</strong>me substantivo reis<br />
Lobato utilizou ainda o critério morfológico. Fonseca serviu-se,<br />
ainda, do critério sintático colocacional na caracterização de <strong>no</strong>me<br />
adjectivo, pois este junta-se ao substantivo. Além disso, foi pioneiro,<br />
entre os seus contemporâneos, a ter em conta, na própria definição<br />
de <strong>no</strong>me substantivo, a <strong>no</strong>ção de <strong>no</strong>me abstracto, embora não se<br />
report<strong>as</strong>se explicitamente a tal designação. <strong>no</strong> entanto, por influência<br />
da gramatica c<strong>as</strong>telhana da real Academia espanhola fala dos <strong>no</strong>mes<br />
que significam uma «substancia espiritual» e que só são conhecidos<br />
pelo <strong>no</strong>sso entendimento, retomando desta forma a tradição gramatical<br />
cuj<strong>as</strong> raízes remontam a «donato, diomedes y Priscia<strong>no</strong>» que incluíram<br />
os «abstractos» na «su cl<strong>as</strong>ificación del <strong>no</strong>mbre» (AsencIo, 1985: 64).<br />
estabelecid<strong>as</strong> <strong>as</strong> distinções entre <strong>no</strong>me substantivo e <strong>no</strong>me<br />
adjectivo, todos os gramáticos do corpus procederam a uma <strong>no</strong>va<br />
compartimentação de cada uma dest<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses, cuja exceção<br />
diz respeito apen<strong>as</strong> a contador de Argote pel<strong>as</strong> razões já expost<strong>as</strong><br />
anteriormente.<br />
Quanto às subcl<strong>as</strong>ses do <strong>no</strong>me substantivo, cumpre salientar que<br />
Lobato, Fonseca, Figueiredo e o gramático anónimo apresentaram<br />
uma divisão bipartida do substantivo, consignando os proprios e os<br />
appellativos, caracterizando-os de um ponto de vista semântico. Por<br />
sua vez, Lobato e Figueiredo procederam ainda a uma subdivisão dos<br />
appellativos em collectivos, augmentativos e diminutivos, sendo que<br />
Figueiredo os descreveu apen<strong>as</strong> em b<strong>as</strong>es semântic<strong>as</strong> e Lobato, além<br />
do critério semântico, apensou à definição de collectivos, augmentativos<br />
e diminutivos um critério formal. Figueiredo ainda fez depender dos<br />
appellativos, os collectivos e os os augmentativos e os diminutivos,<br />
selecionando o critério semântico como critério único n<strong>as</strong> respetiv<strong>as</strong><br />
definições.<br />
c<strong>as</strong>imiro subdividiu o <strong>no</strong>me substantivo também em três<br />
subcategori<strong>as</strong>: proprios, appellativos e collectivos, caracterizando-os<br />
em b<strong>as</strong>es semântic<strong>as</strong> e, apesar de ter compartimentado os collectivos<br />
476
em augmentativos e diminutos, não adiantou nenhum porme<strong>no</strong>r em<br />
relação à sua definição.<br />
Quanto ao <strong>no</strong>me adjetivo, cumpre salientar que reis Lobato o<br />
subdividiu em <strong>no</strong>ve subcategori<strong>as</strong> – partitivo, numeral (cardeal e<br />
ordinal), patrio, gentilico, positivo, comparativo, superllativo, pro<strong>no</strong>me e<br />
participio. As primeir<strong>as</strong> quatro foram definid<strong>as</strong> em termos semânticos.<br />
o mesmo critério foi utilizado na caracterização de positivo,<br />
comparativo e superlativo. <strong>no</strong> entanto, aos dois últimos acrescentou<br />
ainda o critério sintático colocacional ou combinatório. Por fim,<br />
caracterizou o pro<strong>no</strong>me de um ponto de vista sintático funcional e o<br />
participio de um ponto de vista semântico-morfológico.<br />
c<strong>as</strong>imiro compartimentou o <strong>no</strong>me adjetivo em cinco subcl<strong>as</strong>ses:<br />
gentilicos, patrios, positivos, comparativos e superlativos, tratando-os<br />
sob um prisma semântico ou lógico objetivo.<br />
na subdivisão do adjetivo consignada por Fonseca, verificamos<br />
que contemplou o positivo, o comparativo, o superlativo e o participio,<br />
sendo que os três primeiros foram caracterizados numa perspetiva<br />
semântica. <strong>no</strong>s comparativos procedeu ainda a uma subdivisão tripla<br />
em comparativos de superioridade, de inferioridade e de igualdade,<br />
embora não tenha feito a respetiva caracterização, e <strong>no</strong>s superlativos<br />
ainda os subdividiu em absolutos e relativos, definindo-os em termos<br />
semânticos e sintáticos.<br />
na subcl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me adjetivo, Figueiredo apresentou uma<br />
subdivisão tripartida: adjectivo propriamente dito, pro<strong>no</strong>me e participio,<br />
sendo a caracterização dos primeiros referenciada com a conciliação<br />
de um critério sintático colocacional com um critério semântico, a<br />
segunda através da combinação do critério sintático com o semântico,<br />
e o terceiro com o recurso a um único critério linguístico: o semântico<br />
ou lógico objetivo. Ademais, Figueiredo na subcl<strong>as</strong>se do adjectivo<br />
propriamente dito procedeu, ainda, a uma <strong>no</strong>va divisão, englobando os<br />
partitivos, os possessivos, os numerais (cardinal e ordinal), os patrios, os<br />
gentilicos, os positivos, os comparativos e os superlativos, caracterizandoos<br />
sob um ponto de vista semântico.<br />
477
o gramático anónimo fragmentou o <strong>no</strong>me adjetivo em oito<br />
subcl<strong>as</strong>ses – méro ou positivo, pro<strong>no</strong>me, participio, numeral, patrio,<br />
patronimico, comparativo e superlativo. dest<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses apen<strong>as</strong><br />
caracteriza, semanticamente, os adjetivos méro ou positivo, pro<strong>no</strong>me,<br />
participio, comparativo e superlativo.<br />
seguindo contador de Argote, Fonseca ampliou o número de<br />
subcl<strong>as</strong>ses que dependem diretamente da macro cl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me. Além<br />
d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses – <strong>no</strong>me substantivo e do <strong>no</strong>me adjectivo reivindicad<strong>as</strong> por<br />
todos os autores do corpus, reconheceu, ainda, mais seis subcl<strong>as</strong>ses:<br />
primitivos, derivados, collectivos, verbaes, compostos e numerais. os<br />
primitivos foram apresentados sob um prisma semântico. os derivados,<br />
tendo sido caracterizados sob uma perspetiva definitória de cariz<br />
morfológica, foram, ainda, ramificados em gentilicos ou nacionais,<br />
patronimicos, aumentativos e diminutivos, de<strong>no</strong>tando-se o recurso a uma<br />
combinação do critério morfológico com o semântico, n<strong>as</strong> respetiv<strong>as</strong><br />
definições. os collectivos, referenciados através do critério semântico<br />
ou lógico objetivo, foram compartimentados em du<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses:<br />
geraes e partitivos. os verbaes foram descritos por via de um prisma<br />
semântico. os compostos através de uma perspetiva definitória de cariz<br />
formal e os numerais através de um critério semântico. nestes últimos,<br />
o autor anunciou a última subdivisão: adjectivos, que subdividiu, por<br />
meio de um critério semântico, em absolutos ou cardeaes, e ordinaes;<br />
substantivos que compartimentou, por via de um critério semântico,<br />
em: collectivos e partitivos ou diminutivos; substantivos ou adjectivos,<br />
referenciando, numa ótica semântica, os partitivos ou aumentativos;<br />
e os numeraes de repetição.<br />
da leitura às definições dos elementos <strong>no</strong>minais propost<strong>as</strong> por<br />
estes autores, podemos concluir que, à semelhança da tradição latina,<br />
o critério semântico foi selecionado para caracterizar a maior parte<br />
d<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses apresentad<strong>as</strong>. <strong>no</strong> entanto, outr<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses foram<br />
enformad<strong>as</strong> de vários critérios e, por isso, são mais inconsistentes, pelo<br />
que a cl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me constitui «una categoria híbrida, estabelecida<br />
sobre b<strong>as</strong>es heterogéne<strong>as</strong>» que «<strong>no</strong>s hacen dudar de la calidad y validez<br />
478
de los sistem<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ificatorios de los gramáticos» (VAQuerA, 1986:<br />
268) que os apresentam.<br />
não obstante este facto, Figueiredo revelou-se o autor mais estável,<br />
na medida em que <strong>as</strong>sentou a caracterização da maioria d<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses<br />
numa b<strong>as</strong>e semântica, sendo, por esta razão, o autor do corpus que<br />
mais homogeneidade apresentou relativamente à cl<strong>as</strong>se do <strong>no</strong>me.<br />
Assim, a cl<strong>as</strong>sificação proposta por Figueiredo parece ir ao encontro<br />
dos pressupostos intrínsecos a «una cl<strong>as</strong>ificación propriamente dicha»<br />
(AsencIo, 1985: 14), pois gómez Asencio defende que «debe usarse<br />
un solo criterio cl<strong>as</strong>ificatorio; (…) los térmi<strong>no</strong>s incluidos en ella,<br />
definidos por un mismo criterio, deben ser mutuamente excluyentes;<br />
(…) dichos térmi<strong>no</strong>s deben entrar, en algún sentido, en oposición<br />
entre sí» (AsencIo, 1985: 14), o que não aconteceu com autores<br />
como Argote e de certa forma com Fonseca, que apresentaram <strong>as</strong><br />
vári<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses sem nenhuma interdependência ou relação entre si.<br />
Ainda a propósito d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>sificações propost<strong>as</strong> por cada um<br />
dos autores, averiguámos que se trata de esquem<strong>as</strong> alargados,<br />
<strong>as</strong>similados dos esquem<strong>as</strong> da gramática latina. Fonseca foi o autor<br />
que mais modificações estabeleceu aos elementos <strong>no</strong>minais dos seus<br />
predecessores, o que «podría ser síntoma de la preocupación por<br />
corrigir l<strong>as</strong> insatisfactori<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ificaciones anteriores y por elaborar una<br />
cl<strong>as</strong>ificación (en sentido actual) nueva, más adecuada» (AsencIo,<br />
1985: 14) à especificidade do português, embora os elementos<br />
definitórios do <strong>no</strong>me tenham permanecido imutáveis.<br />
Por outro lado, todos os gramáticos defenderam que o <strong>no</strong>me<br />
era uma cl<strong>as</strong>se de palavr<strong>as</strong> com variação em número, em género, e<br />
em c<strong>as</strong>o, cuja exceção se deve a Fonseca por não contemplar o c<strong>as</strong>o,<br />
considerando-se, neste <strong>as</strong>peto, o gramático que mais se apartou da<br />
influência da gramática latina.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito ao substantivo, aferimos que todos os autores<br />
identificaram o singular e o plural, na categoria gramatical número.<br />
<strong>no</strong> género, todos reconheceram o m<strong>as</strong>culi<strong>no</strong> e o femini<strong>no</strong>. Lobato,<br />
c<strong>as</strong>imiro reconheceram ainda o «commum de dous» e o «epice<strong>no</strong> ou<br />
479
promiscuo». contador de Argote e Fonseca evidenciaram o «comum<br />
de dois» e Figueiredo incluiu os «promiscuos» <strong>no</strong>s <strong>no</strong>mes «communs<br />
de dous».<br />
Quanto aos <strong>no</strong>mes adjetivos, todos os gramáticos do corpus<br />
admitiram que o adjetivo em si mesmo não tinha género, m<strong>as</strong> apen<strong>as</strong><br />
variação na sua terminação, pelo que identificaram os adjetivos de<br />
du<strong>as</strong> terminações e os adjetivos com uma só terminação.<br />
na categoria gramatical c<strong>as</strong>o, excetuando Fonseca, todos os outros<br />
aceitaram os seis c<strong>as</strong>os lati<strong>no</strong>s. este facto é importante, na medida<br />
em que traduziu o apego, ainda b<strong>as</strong>tante enraizado, dos autores em<br />
estudo à gramática latina, verificando-se mesmo um certo retrocesso<br />
em relação à primeira gramática portuguesa de Fernão de oliveira,<br />
que identificou apen<strong>as</strong> quatro c<strong>as</strong>os para a língua portuguesa. Porém,<br />
Fonseca apartou-se por completo de todos os outros gramáticos do<br />
corpus, já que não expôs esta categoria gramatical.<br />
Quanto ao verbo, verificámos que ele <strong>as</strong>sumiu também uma<br />
posição de relevo <strong>no</strong> contexto d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses de palavr<strong>as</strong> para todos os<br />
gramáticos do corpus, sendo que Fonseca lhe concedeu a designação<br />
de parte «essencial da oração».<br />
na caracterização do verbo, cumpre salientar que todos os autores<br />
se socorreram do mesmo critério linguístico: o semântico. Foi usado<br />
como critério único por Lobato, c<strong>as</strong>imiro e o gramático anónimo.<br />
Fonseca e Figueiredo anexaram-lhe uma propriedade definitória de<br />
cariz sintática, e Argote rematou-a com um ponto de vista formal.<br />
não obstante serem <strong>as</strong> característic<strong>as</strong> semântic<strong>as</strong> aquel<strong>as</strong> que<br />
predominaram n<strong>as</strong> definições do verbo, a forma como alguns autores<br />
<strong>as</strong> apresentaram, permitiram-<strong>no</strong>s deduzir algum<strong>as</strong> implicações<br />
sintátic<strong>as</strong>, na caracterização desta cl<strong>as</strong>se de palavr<strong>as</strong>. Foi o c<strong>as</strong>o de<br />
Lobato e Figueiredo, cuj<strong>as</strong> definições remeteram para uma análise<br />
intradiscursiva, tendo em conta o contexto em que o verbo se<br />
encontrava. daqui se conclui que apesar de a definição de verbo ser<br />
<strong>as</strong>sente num critério semântico, este perdeu relevância em favor do<br />
critério sintático, pelo que se verificou um certo grau de distanciamento<br />
480
em relação aos critérios seguidos pela tradição greco-latina, que<br />
atribuía ou ao critério morfológico ou ao critério semântico, ou ainda<br />
aos dois, uma posição de relevo na respetiv<strong>as</strong> caracterização do verbo.<br />
cumpre salientar, ainda, que Lobato, Figueiredo e o gramático<br />
anónimo defenderam que a função principal do verbo era «afirmar<br />
alguma coisa», pelo que se aproximaram da <strong>no</strong>ção de verbo exposta<br />
pelos gramáticos de Port-royal, que apontaram a afirmação como a<br />
principal característica <strong>no</strong> verbo.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito às subcl<strong>as</strong>ses dos verbos, constatámos<br />
que a sistematização apresentada pelos autores é acentuadamente<br />
heterogénea. A primeira subdivisão do verbo, apresentada por Lobato<br />
e c<strong>as</strong>imiro, foi a de ativo e o p<strong>as</strong>sivo. Argote e Fonseca acrescentaram<br />
a esta divisão o neutro. Figueiredo também fragmentou o verbo em<br />
ativo e p<strong>as</strong>sivo, m<strong>as</strong> englobou o transitivo, o neutro, o reflexivo e o<br />
recíproco, <strong>no</strong> verbo ativo. o gramático anónimo também subdividiu<br />
o verbo em ativo e p<strong>as</strong>sivo, m<strong>as</strong> compartimentou o ativo em mero ou<br />
transitivo e neutro ou intransitivo.<br />
relativamente ao verbo ativo, todos os autores encetaram uma<br />
definição b<strong>as</strong>eada num critério semântico, constituindo um fator<br />
que os aproximou d<strong>as</strong> caracterizações semântic<strong>as</strong> estabelecid<strong>as</strong> pela<br />
tradição gramatical, <strong>no</strong>meadamente a de Priscia<strong>no</strong> que si<strong>no</strong>nimizava<br />
os verbos ativos com os verbos que designavam ação.<br />
Para Fonseca, Figueiredo e para o gramático anónimo a designação<br />
semântica de verbo ativo foi complementada com uma outra conceção<br />
sintática mais importante, uma vez que a ação ou significação do<br />
verbo p<strong>as</strong>sa a outra coisa, a um objeto, daí <strong>as</strong> designações de ativo ou<br />
transitivo. se estes gramáticos <strong>as</strong>sumiram como termos sinónimos<br />
<strong>as</strong> <strong>no</strong>ções de «ativo» e «transitivo» vão de encontro às mesm<strong>as</strong><br />
designações tradicionais em que se fazia a distinção por um lado,<br />
pelo significado em que o verbo era ativo porque significava ação<br />
e por outro lado, pela sintaxe em que o verbo era transitivo porque<br />
admitia ou exigia complemento (cf. AsencIo, 1985: 100). <strong>no</strong> entanto,<br />
est<strong>as</strong> <strong>no</strong>ções não eram forçosamente equivalentes. Assim, se a <strong>no</strong>ção<br />
481
de transitividade consignada na tradição gramatical, mormente em<br />
Priscia<strong>no</strong>, era encarada apen<strong>as</strong> como uma construção possível de<br />
um dado verbo, ou seja, de uso sintagmático, p<strong>as</strong>sou a ser, para estes<br />
gramáticos portugueses, uma subcl<strong>as</strong>se paradigmática dos verbos,<br />
conciliando numa única corrente essencialmente sintática dois pontos<br />
de vista tradicionais distintos: o semântico e o sintático, sendo que a<br />
designação sintática de que a significação do verbo p<strong>as</strong>sa a outra coisa<br />
parece ter sido o conceito mais importante para os autores portugueses.<br />
os autores que identificaram o verbo neutro caracterizaram-<strong>no</strong><br />
sob um ponto de vista semântico. Porém, a definição de Fonseca foi a<br />
que de<strong>no</strong>tou uma influência mais acentuada da tradição gramatical, já<br />
que o verbo em causa não «significa acção alguma» (FonsecA, 1799:<br />
85) como feita ou recebida pelo sujeito, m<strong>as</strong> exprime simplesmente<br />
o estado do sujeito, por isso, não é ativo nem p<strong>as</strong>sivo, pelo que<br />
semanticamente se opunha quer ao verbo ativo quer ao verbo p<strong>as</strong>sivo.<br />
Por outro lado, constatamos que o ponto de vista semântico<br />
presente n<strong>as</strong> definições apresentad<strong>as</strong> por contador de Argote,<br />
Figueiredo e pelo gramático anónimo não está em consonância com<br />
<strong>as</strong> explicações consignad<strong>as</strong> n<strong>as</strong> definições tradicionais, já que nest<strong>as</strong><br />
o verbo neutro não significava nem ação nem paixão e para aquel<strong>as</strong> o<br />
verbo neutro significava ação. ora, daqui se depreende que o critério<br />
semântico selecionado pelos autores portugueses tor<strong>no</strong>u-se redundante<br />
na distinção entre os verbos ativos e neutros, já que estes últimos<br />
faziam parte dos ativos e por essa razão significavam ação, e mesmo<br />
que se faça depender os neutros da macro cl<strong>as</strong>se do verbo, como foi<br />
o c<strong>as</strong>o de Argote, a oposição semântica entre ativo e neutro também<br />
não se podia estabelecer, pois os dois significavam fazer alguma coisa.<br />
Ademais, na definição semântica apresentada por estes autores<br />
parecem sobressair ainda algum<strong>as</strong> implicações sintátic<strong>as</strong>, sendo que<br />
el<strong>as</strong> foram mais visíveis em Figueiredo e <strong>no</strong> gramático anónimo. estes<br />
dois autores referiram explicitamente que o verbo neutro também<br />
se chamava intransitivo, visto que a ação exercida pelo sujeito não<br />
recaía em nenhum outro sujeito diverso, pelo que estão também<br />
482
em desacordo com a designação de verbo neutro tradicional (não<br />
significa nem ação, nem paixão). estão, porém, de acordo com o que<br />
a tradição gramatical designava sintaticamente por verbo intransitivo,<br />
cuja significação não p<strong>as</strong>sava a um objeto, sendo de destacar que foi<br />
precisamente este critério sintático que permitiu distinguir, para os<br />
autores portugueses, os verbos neutros dos verbos ativos.<br />
daqui se conclui que a oposição semântica entre verbos ativos e<br />
neutros consagrada na tradição gramatical foi substituída por uma<br />
oposição sintática, já que esta oposição só podia ser estabelecida por<br />
<strong>as</strong>petos sintáticos. talvez tenha sido esta a razão que levou Figueiredo<br />
e o gramático anónimo a estabelecerem como subcl<strong>as</strong>se paradigmática<br />
do verbo ativo a <strong>no</strong>ção de intransitivo, e, embora tenham utilizado<br />
também a designação semântica de neutro, este perdeu por completo<br />
o seu valor primitivo e só <strong>as</strong>petos sintáticos permitem opô-lo ao<br />
ativo. este facto torna-se importante, na medida em que contribui<br />
significativamente para que o ponto de vista sintático seja cada vez<br />
mais valorizado, sendo de <strong>no</strong>tar que esta evolução permitirá que ao<br />
longo do <strong>século</strong> XIX o verbo seja estudado tendo em conta a <strong>no</strong>ção<br />
de regime.<br />
Por outro lado, Figueiredo fez depender diretamente do verbo<br />
ativo o «reflexivo». este verbo foi também referenciado por Argote<br />
e Fonseca. todavia, Argote apontou apen<strong>as</strong> o «recíproco» fazendo-o<br />
depender diretamente da macro cl<strong>as</strong>se do verbo, enquanto Fonseca o<br />
considerou como uma subcl<strong>as</strong>se dos verbos pro<strong>no</strong>minais.<br />
na definição de verbo «reflexivo», os três autores socorreram-se do<br />
critério semântico para referir que os verbos «reflexivos» exprimiam<br />
uma ação, sendo de <strong>no</strong>tar que <strong>no</strong>s verbos «recíprocos» apontados por<br />
Fonseca e Figueiredo essa ação era recíproca. Ao critério semântico<br />
aliaram um outro de cariz sintático, na medida em que para Fonseca<br />
e para Figueiredo o verbo «reflexivo» era aquele cuja ação exercida<br />
pelo sujeito recaía <strong>no</strong> próprio sujeito, sendo esta a caracterização<br />
apresentada por Argote, embora este autor de<strong>no</strong>min<strong>as</strong>se este verbo<br />
de «recíproco».<br />
483
<strong>no</strong> que diz respeito ao verbo «recíproco», a definição de Figueiredo<br />
é mais esclarecedora, já que defendeu que n<strong>as</strong> «vozes do Plural se<br />
encontra mutuamente a ação dos Verbos entre si de maneira, que<br />
cada uma d<strong>as</strong> pesso<strong>as</strong>, que a exercita, a recebe tambem da outra»<br />
(FIgueIredo, 1779: 23). não obstante este facto, nenhum dos três<br />
gramáticos explicou convenientemente o valor semântico-sintático<br />
do pro<strong>no</strong>me que acompanhava o verbo, pelo que d<strong>as</strong> definições<br />
apresentad<strong>as</strong> pode concluir-se que <strong>as</strong> designações de recíproco,<br />
reflexivo e pro<strong>no</strong>minal se reportavam exclusivamente ao que <strong>as</strong><br />
gramátic<strong>as</strong> tradicionais atuais chamam «verbo reflexivo». Mesmo<br />
<strong>as</strong>sim, a sistematização apresentada por Fonseca é a que mais se<br />
aproxima d<strong>as</strong> sistematizações dos gramáticos da atualidade.<br />
todos os gramáticos do corpus opuseram ao verbo ativo, o verbo<br />
p<strong>as</strong>sivo que foi definido tendo em conta um critério semânticosintático,<br />
já que o verbo p<strong>as</strong>sivo, tendo em conta a tradição gramatical,<br />
significava «paixão», isto é, o sujeito apen<strong>as</strong> recebia a ação exercida<br />
por outrem.<br />
deste modo, parece existir consenso <strong>no</strong> que diz respeito à<br />
oposição estabelecida pelos autores entre ativo e p<strong>as</strong>sivo, já que todos<br />
eles consideraram que <strong>as</strong> du<strong>as</strong> subcl<strong>as</strong>ses se opunham pelos mesmos<br />
critérios semântico-sintáticos.<br />
de<strong>no</strong>tou-se também uma certa unanimidade entre os autores<br />
setecentist<strong>as</strong> em considerarem, de uma forma mais ou me<strong>no</strong>s explícita,<br />
a inexistência de verdadeiros verbos p<strong>as</strong>sivos em português, pelo que a<br />
sua falta se remediava com um circunlóquio constituído pel<strong>as</strong> form<strong>as</strong><br />
verbais do verbo ser+particípio do verbo a conjugar.<br />
Figueiredo foi ainda o único autor que estabeleceu uma subdivisão<br />
do verbo p<strong>as</strong>sivo em «substantivo» e «adjectivo», caracterizando o<br />
verbo substantivo, através do recurso a um critério semântico, numa<br />
perspetiva extra oracional, na esteira de Priscia<strong>no</strong>, identificando-o<br />
apen<strong>as</strong> com o verbo «ser», ao qual opôs semanticamente o verbo adjetivo<br />
que correspondia a todos os outros verbos. este <strong>as</strong>peto <strong>as</strong>sume uma<br />
484
importância relevante na história d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> em Portugal,<br />
na medida em que, por um lado, perpetuou a teoria do verbo único,<br />
de raiz prisciânica, largamente difundida pelos gramáticos franceses<br />
de Port-royal. e, por outro lado, contribui para que a análise do verbo<br />
«ser» deix<strong>as</strong>se de ser vista como uma análise extra proposicional e<br />
p<strong>as</strong>s<strong>as</strong>se a ser encarada, ao longo do <strong>século</strong> XIX, como uma análise<br />
intra proposicional, de b<strong>as</strong>e essencialmente sintática, onde se de<strong>no</strong>ta<br />
uma acentuada influência d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> gramaticais frances<strong>as</strong>, de cunho<br />
filosófico, em que a a caracterização do verbo «ser» foi complementada<br />
com a <strong>no</strong>ção de verbo atributivo. Figueiredo foi o único autor do<br />
corpus que parece ter <strong>as</strong>similado a teoria do verbo único, sendo que<br />
este verbo «está de alguna manera contenido, implícito, en tod<strong>as</strong> l<strong>as</strong><br />
demás palabr<strong>as</strong> que tradicionalmente habían venido llamando verbos»<br />
(AsencIo, 1885: 122-123).<br />
<strong>no</strong> que diz respeito aos verbos pessoais/impessoais apen<strong>as</strong> Argote,<br />
Fonseca e Figueiredo apontaram esta subcl<strong>as</strong>se, caracterizando-a<br />
em termos morfológicos, embora Figueiredo só tenha referido os<br />
impessoais. <strong>no</strong> entanto, Fonseca foi o gramático que adiantou uma<br />
caracterização mais porme<strong>no</strong>rizada, contemplando os verbos que<br />
eram usados quer pessoal quer impessoalmente, tecendo algum<strong>as</strong><br />
considerações b<strong>as</strong>tante pertinentes que encontramos n<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong><br />
tradicionais da atualidade. Ademais, chamou a atenção para o facto de<br />
alguns gramáticos atribuírem erradamente aos verbos impessoais, a<br />
designação de «defetivos», defendendo, de um ponto de vista formal,<br />
que tal termi<strong>no</strong>logia só deveria ser aplicada aos verbos «que tem falta<br />
de alguns tempos» (FonsecA, 1799: 91).<br />
todos os gramáticos do corpus estabeleceram também a divisão<br />
dos verbos em regulares e irregulares, utilizando o critério formal para<br />
a sua caracterização. também identificaram três conjugações para a<br />
língua portuguesa, af<strong>as</strong>tando-se claramente d<strong>as</strong> quatro conjugações<br />
latin<strong>as</strong>. não obstante esta cl<strong>as</strong>sificação, Fonseca foi o gramático que<br />
analisou de um ponto de vista mais atual os verbos irregulares, já que<br />
485
os seus comentários se aproximam d<strong>as</strong> <strong>as</strong>severações tecid<strong>as</strong> pelos<br />
autores d<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> atuais.<br />
Além disso, existe também conformidade entre os autores <strong>no</strong> que<br />
aos verbos auxiliares diz respeito, apresentando como únicos verbos<br />
auxiliares do português os verbos «ser», «haver» e «ter», aos quais o<br />
gramático anónimo adicio<strong>no</strong>u o verbo «estar».<br />
Argote e Fonseca aumentaram ainda a tipologia verbal ao<br />
estabelecerem a divisão dos verbos em simples e compostos. <strong>no</strong> entanto,<br />
Argote usou apen<strong>as</strong> o critério formal e Fonseca adicio<strong>no</strong>u-lhe algum<strong>as</strong><br />
propriedades semântic<strong>as</strong>. Além disso, este autor estabeleceu uma<br />
divisão tripartida dos verbos compostos em «próprios», «impróprios»<br />
e «frequentativos», sendo que esta cl<strong>as</strong>sificação viria a influenciar a<br />
sistematização proposta por soares Barbosa, já <strong>no</strong> <strong>século</strong> XIX.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito à pessoa verbal, na senda da tradição grecolatina,<br />
todos os gramáticos admitiram de uma forma mais ou me<strong>no</strong>s<br />
explícita a existência de três pesso<strong>as</strong> em cada número.<br />
Quanto à categoria gramatical número, todos os autores<br />
reconheceram o singular e do plural.<br />
<strong>no</strong> modo verbal, todos os autores do corpus admitiram apen<strong>as</strong><br />
quatro modos verbais para o português: indicativo, conjuntivo,<br />
imperativo e infinitivo, sendo que este <strong>as</strong>peto é um dos mais relevantes<br />
na evolução d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> dos gramáticos setecentist<strong>as</strong>, já que<br />
se af<strong>as</strong>taram da gramática latina, que considerava o modo optativo, e<br />
dos primeiros gramáticos da língua portuguesa. Porém, apen<strong>as</strong> Argote,<br />
Lobato e Fonseca caracterizaram cada um dos modos.<br />
na caracterização do indicativo, selecionaram o mesmo critério<br />
semântico que, <strong>no</strong> entanto, foi coadjuvado por um critério sintático na<br />
definição apresentada por Fonseca. o conjuntivo foi definido através<br />
da combinação de um critério semântico com um critério sintático.<br />
o imperativo foi também caracterizado, unanimemente, pelo recurso<br />
a um critério semântico. Por fim, o modo infinitivo, ao contrário de<br />
todos os outros, foi caracterizado tendo por b<strong>as</strong>e uma mescla criterial.<br />
486
Assim, se os três autores se socorreram do mesmo critério semântico,<br />
Argote e Fonseca serviram-se também do critério sintático que foi, <strong>no</strong><br />
entanto, coadjuvado com um critério formal na definição exposta por<br />
Fonseca e Lobato. estes gramáticos estabeleceram uma sistematização<br />
b<strong>as</strong>tante detalhada e completa dos modos verbais do português,<br />
tecendo comentários b<strong>as</strong>tante atuais sobre o <strong>as</strong>sunto. Acresce, ainda,<br />
<strong>no</strong>tar que esta conformidade setecentista em relação aos modos<br />
verbais não se faz sentir <strong>no</strong>s autores d<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> tradicionais da<br />
atualidade, mormente ao número de modos verbais existentes na<br />
língua portuguesa.<br />
Quanto à <strong>no</strong>ção de tempo verbal, ela foi definida por Argote,<br />
Lobato, Fonseca e pelo gramático anónimo que recorreram a um<br />
prisma semântico para a elaboração da respetiv<strong>as</strong> caracterização. <strong>no</strong><br />
entanto, Lobato e Fonseca aliaram ao critério semântico um critério<br />
de cunho formal. Além disso, os quatro autores estabeleceram a<br />
distinção dos tempos presente, p<strong>as</strong>sado e futuro, utilizando na respetiva<br />
caracterização um critério formal.<br />
Além disso, todos os gramáticos do corpus consignaram a divisão<br />
dos tempos verbais em simples e compostos. <strong>no</strong> entanto, Fonseca<br />
foi o único gramático a proceder a uma sistematização dos tempos<br />
em causa, caracterizando em termos formais e sintáticos a <strong>no</strong>ção de<br />
simples e composto.<br />
Por outro lado, todos os autores do corpus usaram a termi<strong>no</strong>logia<br />
consignada pela tradição latina <strong>no</strong> que à designação dos tempos verbais<br />
diz respeito. Porém, verificou-se uma discrepância significativa em<br />
relação à distribuição d<strong>as</strong> form<strong>as</strong> verbais por tempos e por modos, quer<br />
em relação aos tempos simples quer em relação aos tempos compostos.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito ao gerúndio, verificou-se que <strong>as</strong> observações<br />
prestad<strong>as</strong> pelos gramáticos do corpus foram muito esc<strong>as</strong>s<strong>as</strong> e pouco<br />
esclarecedor<strong>as</strong>, sendo que Lobato e c<strong>as</strong>imiro apelidaram a forma<br />
verbal terminada em -ndo de particípio. não obstante, todos os autores<br />
parecem incluir o gerúndio <strong>no</strong> modo infinitivo, m<strong>as</strong> apen<strong>as</strong> Argote e<br />
Fonseca expuseram a sua definição que foi <strong>as</strong>sente em b<strong>as</strong>es semântico-<br />
487
formais por Argote, às quais Fonseca acrescentou propriedades<br />
definitóri<strong>as</strong> de carácter sintático.<br />
Assim, apesar de esta mescla criterial retirar uma certa consistência<br />
à caracterização do gerúndio, verificamos que a definição de Fonseca<br />
foi mais pertinente e completa, na medida em que o gerúndio, enquanto<br />
«inflexão do verbo», designava «o estado do sujeito, a razão, ou o<br />
fundamento da acção, huma maneira, ou hum meio para chegar a<br />
hum fim», <strong>no</strong> entanto, «o seu significado tem dependencia de outro<br />
verbo principal, que com elle entra na mesma fr<strong>as</strong>e» (FonsecA,<br />
1799: 105-106), sendo de destacar que a única observação tecida por<br />
Figueiredo a respeito do gerúndio parece contrariar a de Fonseca, pois<br />
admitiu que o gerúndio se tomava sempre só, como voz simples do<br />
Verbo» (FIgueIredo, 1799: 86). Por outro lado, cumpre <strong>as</strong>sinalar<br />
que todos os gramáticos <strong>as</strong>sumiram que o gerúndio também exprime<br />
tempo, pelo que apresentara o gerúndio presente, como equivalendo à<br />
forma «amando» ou «louvando», muito embora o gramático anónimo<br />
não explicit<strong>as</strong>se claramente se se tratava do presente.<br />
<strong>no</strong> que diz respeito à doutrina do particípio, verificamos que<br />
os gramáticos do corpus usaram <strong>no</strong>menclatur<strong>as</strong> distint<strong>as</strong> para se<br />
referirem a uma mesma matéria, pelo que se torna difícil estabelecer<br />
um paradigma fidedig<strong>no</strong> em relação às idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> sobre este<br />
<strong>as</strong>sunto. este <strong>as</strong>peto <strong>as</strong>sume uma importância relevante sobretudo<br />
na termi<strong>no</strong>logia utilizada pelos gramáticos na formação dos tempos<br />
compostos quer na voz ativa quer na voz p<strong>as</strong>siva. <strong>no</strong> entanto, Fonseca<br />
foi o autor que melhor sistematizou a formação dos tempos compostos,<br />
aduzindo que quando o particípio p<strong>as</strong>sivo «amado» auxiliava a<br />
formação dos tempos compostos da voz ativa mantinha-se invariável<br />
em género e número, retendo a terminação «o».<br />
Para terminar cumpre referir que, seguindo a tradição grecolatina,<br />
Argote, Lobato, c<strong>as</strong>imiro e Fonseca defenderam que o particípio<br />
era uma cl<strong>as</strong>se de palavr<strong>as</strong> autó<strong>no</strong>ma, contrariamente a Figueiredo e<br />
ao gramático anónimo que o consideraram como uma subcl<strong>as</strong>se do<br />
<strong>no</strong>me adjetivo. não obstante esta cl<strong>as</strong>sificação, os autores em causa<br />
488
filiaram-se à corrente ren<strong>as</strong>centista que incluía o particípio <strong>no</strong> <strong>no</strong>me<br />
adjetivo, ou <strong>no</strong> verbo.<br />
A caracterização de particípio oscilou entre um critério formal,<br />
empregado por Argote e c<strong>as</strong>imiro, um critério semântico, em Lobato, e<br />
um critério semântico-formal, em Fonseca, Figueiredo e <strong>no</strong> gramático<br />
anónimo. <strong>no</strong> entanto, o ponto de vista formal, consignado na tradição<br />
gramatical de que o particípio tinha propriedades do <strong>no</strong>me (adjetivo)<br />
e do verbo, foi aquele que foi considerado mais pertinente em todos<br />
os autores.<br />
Assim, os gramáticos portugueses setecentist<strong>as</strong> estudados<br />
consolidaram na tradição gramatical portuguesa a tradição grecolatina<br />
da <strong>no</strong>ção de participação conferida ao particípio. não obstante,<br />
os autores do corpus foram lacónicos na explanação dos seus pontos<br />
de vista sobre este <strong>as</strong>sunto, confundindo, não rar<strong>as</strong> vezes, <strong>as</strong> <strong>no</strong>ções<br />
conceptuais consignad<strong>as</strong> ao longo da história, atribuindo às mesm<strong>as</strong><br />
<strong>no</strong>ções termi<strong>no</strong>logi<strong>as</strong> e pontos de vista contraditórios, o que até certo<br />
ponto corrobora a ideia expendida por calero Vaquera que defende que<br />
a «categoria del participio se mantiene incoherentemente, por el único<br />
e injustificado motivo de respetar los esquem<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ificatorios que se<br />
venín sustentado desde dionísio de trácia» (VAQuero, 1986: 136).<br />
Apesar disso, Fonseca foi sem dúvida o gramático que dedicou<br />
mais atenção ao particípio, defendendo que este, enquanto <strong>no</strong>me<br />
adjetivo, «serve para qualificar os substantivos, e muit<strong>as</strong> vezes tem<br />
hum m<strong>as</strong>culi<strong>no</strong>, em hum femini<strong>no</strong>, hum singular, e hum plural»<br />
(FonsecA, 1799: 176). <strong>no</strong> entanto, contrariamente a autores como<br />
Figueiredo, estabeleceu coerentemente a distinção entre particípio<br />
ativo «amante», particípio p<strong>as</strong>sivo «amado» e entre estes e o que<br />
considera ser «adjectivos verbaes», que definiu como os «participios,<br />
em que não ha a regencia dos seus verbos» (FonsecA, 1799: 182).<br />
do que ficou exposto, resta salientar que apesar de os gramáticos<br />
de setecentos apresentarem algum<strong>as</strong> divergênci<strong>as</strong> e inconsistênci<strong>as</strong> na<br />
sistematização de algum<strong>as</strong> matéri<strong>as</strong> tratad<strong>as</strong> neste trabalho, apegandose<br />
não raro à tradição, verificou-se por outro lado, que houve um<br />
489
claro esforço em af<strong>as</strong>tar-se dessa mesma tradição, tendo em conta a<br />
especificidade da língua portuguesa. deste modo, a contribuição destes<br />
autores para a história d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> e gramaticais portugues<strong>as</strong><br />
é, sem dúvida, inegável, pelo que o trabalho que agora findamos é<br />
apen<strong>as</strong> um ponto de partida para futur<strong>as</strong> investigações.<br />
490
BIBLIOGRAFIA<br />
491
492
I. Bibliografia Ativa<br />
Argote, Jeronymo contador de (1725). Regr<strong>as</strong> da lingua portugueza,<br />
espelho da lingua latina, ou disposição para facilitar o ensi<strong>no</strong> da lingua<br />
latina pel<strong>as</strong> regr<strong>as</strong> da portugueza, Lisboa, officina da musica.<br />
LoBAto, António José dos reis (2000). A arte da grammatica da<br />
lingua portugueza, Lisboa, Academia real d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong>.<br />
cAsIMIro, João Joaquim (1792). Methodo grammatical resumido<br />
da lingua portugueza, Porto, officina de Antonio Alvarez ribeiro.<br />
FIgueIredo, Pedro José de (1799). Arte da grammatica portugueza,<br />
ordenada em methodo breve, facil e claro, offerecida a sua alteza<br />
real o sereníssimo senhor Dom Antonio, principe da Beira, Lisboa,<br />
Imprensa regia.<br />
FonsecA, Pedro José da (1799). Rudimentos da grammatica<br />
portugueza, cómmodos á instrucção da mocidade, e confirmados<br />
com selectos exemplos de bons autores, Lisboa, oficcina de simão<br />
Thaddeo Ferreira.<br />
AnÓnIMo (1804). Compendio da grammatica portugueza para<br />
instrucção da mocidade, Lisboa, typografia rollandiana.<br />
II. Bibliografia P<strong>as</strong>siva<br />
AA. VV. (2001). Dicionário da língua portuguesa contemporânea, vols.<br />
1 e 2, Lisboa, Academia d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> de Lisboa e editorial Verbo.<br />
493
AHLQVIst, Anders (1992). «Les premières grammaires des<br />
vernaculaires européens», in Histoire des idées linguistiques, tome 2,<br />
Le développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.107-114.<br />
ALMeIdA, Joaquim da costa (2001). Reflexos de Priscia<strong>no</strong> na<br />
Gramática da Língua Portuguesa de João de Barros. Subsídios para<br />
a didáctica da língua <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVI, dissertação de Mestrado em<br />
ensi<strong>no</strong> da Língua e Literatura Portugues<strong>as</strong>, Vila real, universidade<br />
de trás-os-Montes e Alto douro.<br />
AndrAde, António Alberto de (1966). Verney e a cultura do seu<br />
tempo, coimbra, Imprensa de coimbra.<br />
AndrAde, A. A. Banha de (1980). Verney e a projecção da sua obra,<br />
«Biblioteca Breve», nº49, Lisboa, Instituto da cultura Portuguesa.<br />
AndrAde, A. A. Banha de (1981). A reforma Pombalina dos Estudos<br />
Secundários (1759-1771, vol. I, coimbra, universidade.<br />
AndrAde, A. A. Banha de (1981). A reforma Pombalina dos Estudos<br />
Secundários (1759-1771, vol. II, coimbra, universidade.<br />
AndrAde, A. A. Banha de (1982). Contributos para a história da<br />
mentalidade pedagógica em Portugal, Lisboa, Imprensa nacionalc<strong>as</strong>a<br />
da Moeda.<br />
André, João Maria (1981). Os Descobrimentos e a teoria da<br />
ciência. coimbra, centro de História da sociedade e da cultura<br />
da universidade de coimbra. Separata da Revista de História d<strong>as</strong><br />
Idei<strong>as</strong>, vol. III, coimbra, Instituto de História e teoria d<strong>as</strong> Idei<strong>as</strong> da<br />
Faculdade de Letr<strong>as</strong>, p. 77-123.<br />
Antunes, Manuel (1983a). «como interpretar Pombal?», in Como<br />
interpretar Pombal?, Lisboa, edições Bróteria, p.9-12.<br />
Antunes, Manuel (1983b). «o Marquês de Pombal e os jesuít<strong>as</strong>?»,<br />
in Como interpretar Pombal?, Lisboa, edições Bróteria, p.125-144.<br />
ArAÚJo, Ana cristina Bartolomeu de (1998). «As inv<strong>as</strong>ões frances<strong>as</strong><br />
e a afirmação d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> liberais», in José Mattoso (dir.), História<br />
de Portugal, quinto volume, O Liberalismo (1807-1890), Lisboa,<br />
editorial estampa, p. 21-40.<br />
494
ArAÚJo, Ana cristina (2003). A cultura d<strong>as</strong> Luzes em Portugal – tem<strong>as</strong><br />
e problem<strong>as</strong>, Lisboa, Livros Horizonte.<br />
ArnAuLd e LAnceLot (1660). Grammaire générale et raisonnée,<br />
contenant les fondemens de l’art de parler; expliquez d’une maniere<br />
claire & naturelle; les raisons de ce qui est commun à toutes les langues,<br />
& des principales différences qui s’y rencontrent; et plusieurs remarques<br />
<strong>no</strong>uvelles sur la langue françoise, Paris, Pierre le Petit, Imprimeur &<br />
Libraire ordinaire du roy.<br />
ArnAuLd e LAnceLot (1754). Grammaire générale et raisonnée,<br />
contenant les fondemens de l’art de parler; expliquez d’une manière<br />
claire et naturelle; les raisons de ce qui est commun a toutes les langues,<br />
& des principales différences qui s’y rencontrent; et plusieurs remarques<br />
<strong>no</strong>uvelles sur la langue françoise, avec les remarques de Duclos, Paris,<br />
Prault fils.<br />
ArnAuLd e nIcoLe (1662). La logique ou l’art de penser, Paris,<br />
charles savreux.<br />
AsencIo, José J. gómez (1985). Subcl<strong>as</strong>es de palabr<strong>as</strong> en la tradición<br />
española (1771-1847), salamanca, ediciones universidad de<br />
salamanca.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1996). Para uma gramatologia<br />
portuguesa, I – Edição Crítica da «Arte da Grammatica da Lingua<br />
Portugueza» de António José dos Reis Lobato, II – António José dos<br />
Reis Lobato, gramático iluminista, III – Manuscritos e outros textos<br />
subsidiários, dissertação de doutoramento, Vila real, universidade<br />
de trás-os-Montes e Alto douro.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1997a). A Gramática latina do P.e<br />
Manuel Álvares, série Ensaio, nº13, Vila real, universidade de trásos-Montes<br />
e Alto douro.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1997b). Gramática e gramatologia,<br />
Braga, edições APPAcdM.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1997c). Para uma gramatologia<br />
portuguesa, Vila real, universidade de trás-os-Montes e Alto douro.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1997d). Reis Lobato, gramático<br />
495
pombali<strong>no</strong>, col. «Para a História da Linguística em Portugal»,<br />
cader<strong>no</strong> 3º, Lisboa, Associação Portuguesa de Linguística.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1998a). «gramaticalismo português<br />
setecentista e a Gramática de la lengua c<strong>as</strong>tellana da rAe», in<br />
Act<strong>as</strong> do XIII Encontro Nacional da APL, vol. I, Lisboa, Associação<br />
Portuguesa de Linguística. p. 103-115.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (1998b). Amaro de Roboredo: gramático<br />
e pedagogo transmonta<strong>no</strong>, Vila real, universidade de trás-os-Montes<br />
e Alto douro.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (2000). A Arte da Grammatica da Língua<br />
Portugueza de António José dos Reis Lobato. Estudos, Edição Crítica,<br />
Manuscritos e Textos Subsidiários, Lisboa, Academia d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong><br />
de Lisboa.<br />
AssunÇÃo, carlos da costa (2003). «Vicissitudes gramatológic<strong>as</strong><br />
do <strong>no</strong>me como categoria privilegiada <strong>no</strong> quadro d<strong>as</strong> cl<strong>as</strong>ses de<br />
palavr<strong>as</strong>», in Confluência, separata n. os 25 e 26, Lisboa, Instituto de<br />
Língua Portuguesa, p.259-296.<br />
AurouX, sylvain (1989). «Introduction», in sylvain Auroux (dir.),<br />
Histoire des idées linguistiques, tome 1, Le développement de la<br />
grammaire occidentale, Liège/Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur,<br />
p.13-38.<br />
AurouX, sylvain (1992a). «Introduction. Le processus de<br />
grammatisation et ses enjeux», in Histoire des idées linguistiques,<br />
tome 2, Le développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.11-64.<br />
AurouX, sylvain (1992b). «Les parties du discours et leurs critères.<br />
Le processus de grammatisation et ses enjeux», in Histoire des idées<br />
linguistiques, tome 2, Le développement de la grammaire occidentale,<br />
Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.581-589.<br />
AurouX, sylvain e tristan Hordé (1992). «Les grandes complations<br />
et les modeles de mobilité», in Histoire des idées linguistiques, tome 2,<br />
Le développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.538-579.<br />
496
AZuAgA, Luísa (1996). «Morfologia» in Isabel Hub Faria, emília<br />
ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia (org.) Introdução<br />
à linguística Geral e Portuguesa, Lisboa, editorial caminho, p.215-<br />
244.<br />
BAPtIstA, Jorge (2005). Sintaxe dos predicados <strong>no</strong>minais com ser de,<br />
Lisboa, Fundação calouste gulbenkian e Fundação para a ciência<br />
e tec<strong>no</strong>logia.<br />
BArAtIn, Marc (1989a). «La constitution de la grammaire et de la<br />
dialectique», in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques,<br />
tome 1, La naissnce des métalangages en Oriente t en Occident, Liège/<br />
Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, p. 186-206.<br />
BArAtIn, Marc (1989b). «La maturation des analyses grammaticales»,<br />
in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La<br />
naissnce des métalangages en Oriente t en Occident, Liège/Bruxelles,<br />
Pierre Mardaga éditeur, p. 207-227.<br />
BArAtIn, Marc (1989c). «Les difficultés de l’analyse syntaxique»,<br />
in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La<br />
naissnce des métalangages en Oriente t en Occident, Liège/Bruxelles,<br />
Pierre Mardaga éditeur, p. 228-242.<br />
BArBosA, Jerónimo soares (2004 [1822]). Gramática filosófica da<br />
língua portuguesa (1822), edição fac-similada, comentário e <strong>no</strong>t<strong>as</strong> de<br />
Amadeu Torres, Lisboa, Academia d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> de Lisboa.<br />
BArBosA, Jorge Morais (1994). Introdução ao estudo da fo<strong>no</strong>logia e<br />
morfologia do português, coimbra, Livraria Almedina.<br />
BArros, João de (1971). Gramática da Língua Portuguesa, Cartilha,<br />
Gramática, Diálogo e Louvor à <strong>no</strong>ssa Linguagem e Diálogo da Viciosa<br />
Vergonha, Reprodução Facsimilada, Leitura, Introdução e Not<strong>as</strong> por<br />
Maria Leo<strong>no</strong>r Carvalhão Buescu, Lisboa, Faculdade de Letr<strong>as</strong> da<br />
universidade de Lisboa.<br />
BeAuZée (1767). Grammaire générale ou exposition raisonée des<br />
éléments nécessaires du langage pour servir de fondements à l’étude de<br />
toutes les langues, tome I e II, a Paris, de l’imprimerie de J. Barbou,<br />
rue & vis-à-vis la grille des Mathurins.<br />
497
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1784a). «général, universel», in Encyclopédie<br />
méthodique. Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur<br />
Le camus de néville, Maître des requêtres, directeur général de la<br />
Librairie, tome II, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux,<br />
p. 145-146.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1784b). «Langue», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome II, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 400-456.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1784c). «<strong>no</strong>m», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome II, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 659-664.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786a). «Participe», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 3-14.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786b). «Préposition», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 200-216.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786c). «Prétérit», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 216-217.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786d). «Primitif, ive», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 221.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786e). «Pro<strong>no</strong>minal», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 237.<br />
498
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786f). «Proposition», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 241-248.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786g). «régime», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 292-294.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786h). «sujet», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus<br />
de néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie,<br />
tome III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 444.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786i). «supin», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 454-456.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786j). «temps», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 494-522.<br />
BeAuZée, nicol<strong>as</strong> (1786l). «Verbe», in Encyclopédie méthodique.<br />
Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur Le camus de<br />
néville, Maître des requêtres, directeur général de la Librairie, tome<br />
III, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux, p. 620-626.<br />
BeAuZée e doucHet (1784). «grammaire», in Encyclopédie<br />
méthodique. Grammaire et littérature, dédiée et présentée a Monsieur<br />
Le camus de néville, Maître des requêtres, directeur général de la<br />
Librairie, tome II, a Paris, chez Panckoucke/ a Liège, chez Plomteux,<br />
p. 189-197.<br />
BenreKAssA, georges (1995). Le langage des lumières: concepts et<br />
savoir de la langue, Paris, Presses universitaires de France.<br />
BecHArA, evanildo (2004). Moderna gramática portuguesa, 37ª ed.,<br />
revista e ampliada [14ª reimpr.], rio de Janeiro, editora Lucerna.<br />
499
BetHencourt, Francisco (1994). História d<strong>as</strong> inquisições –<br />
Portugal, espanha e Itália, Lisboa, círculo de Leitores.<br />
BLuteAu, rafael (1728). Pros<strong>as</strong> Portugguez<strong>as</strong>, recitad<strong>as</strong> em differentes<br />
congressos academicos, pelo padre D. Rafael Bluteau, Clérigo Regular,<br />
Doutor na Sagrada Theologia, pregador da rainha da Grãa Bretanha<br />
Henriqueta Maria de França, Qualificador do Santo Officio <strong>no</strong> sagrado<br />
tribunal da inquisiçaõ de Lisboa, e académico da Academia Real, parte<br />
primeira, Lisboa, na officina de Joseph Antonio da sylva, Impressor<br />
da Academia real.<br />
BoLéo, Manuel de Paiva (1960). O estudo dos falares portugueses,<br />
antigos e moder<strong>no</strong>s, e sua contribuição para a história da língua.<br />
separata d<strong>as</strong> Act<strong>as</strong> do III Colóquio Internacional de Estudos Luso-<br />
Br<strong>as</strong>ileiros, vol. II, Lisboa, p. 1-11.<br />
BorrALHo, Maria Luísa Malato (2005). «distância e instância.<br />
A identidade narrativa <strong>no</strong> Verdadeiro Método de estudar», in<br />
BorrALHo et aliae, Luís António Verney – percursos para um<br />
Verdadeiro Método de Estudar, évora, universidade de évora, p.19-<br />
40.<br />
BosQue, Ignacio (1997). «La investigación sobre el español –<br />
tradición y actualidad», in Maria do carmo Y Ángel esparza (eds.),<br />
Estudios de lingüística, departamento de Filologia española de la<br />
universidad de Vigo, p.9-37.<br />
BroZAs, Francisco sánchez de l<strong>as</strong> (1995). Minerva o de causis linguae<br />
latinae, edição crítica de E. Sánchez Salor e C. Caparro Gómez,<br />
cáceres, universidad de extremadura, servicio de Publicaciones, e<br />
Institución cultural «el Brocense».<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1971). «Introdução» in João<br />
de Barros Gramática da Língua Portuguesa, Cartilha, Gramática,<br />
Diálogo e Louvor à <strong>no</strong>ssa Linguagem e Diálogo da Viciosa<br />
Vergonha, Reprodução Facsimilada, Leitura, Introdução e Not<strong>as</strong> por<br />
Maria Leo<strong>no</strong>r Carvalhão Buescu, Lisboa, Faculdade de Letr<strong>as</strong> da<br />
universidade de Lisboa.<br />
500
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1971). João de Barros, pedagogo<br />
e linguista, Lisboa, revista Língua e cultura.<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1972) «os grammatices rudimenta<br />
de João de Barros», in Arquivos do Centro Cultural Português, 4,<br />
p.93-140., Lisboa, revista Língua e cultura.<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1975). «Introdução», in Fernão de<br />
oliveira, A Gramática da Linguagem Portuguesa, Lisboa, Imprensa<br />
nacional c<strong>as</strong>a da Moeda, p.7-36.<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1978). Gramáticos Portugueses do<br />
Século XVI, «Biblioteca Breve», nº18, Lisboa, Instituto da cultura<br />
Portuguesa.<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1984a). Babel ou a ruptura do<br />
sig<strong>no</strong>: a gramática e os gramáticos portugueses do <strong>século</strong> XVI, Lisboa,<br />
Imprensa nacional – c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
Buescu, Maria Leo<strong>no</strong>r carvalhão (1984b). Historiografia da língua<br />
portuguesa. Século XVI, 1ª ed., Lisboa sá da costa.<br />
cALAFAte, Pedro (2002). «Apresentação» in Manuel de Azevedo<br />
Fortes, Lógica racional, Lisboa, Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda,<br />
p.11-30<br />
cÂMArA Jr. J. Mattoso (1969). Princípios de lingüística geral, 4ª ed.,<br />
revista e aumentada (terceira impressão), rio de Janeiro, Livraria<br />
Académica.<br />
cÂMArA Jr. J. Mattoso (1977). Dicionário de lingüística e gramática<br />
referente à língua portuguesa, 7ª edição, Petrópolis, editora Vozes<br />
Ltda..<br />
cÃMArA Jr. J. Mattoso (1986). História da linguística, trad. Port. de<br />
Maria do Amparo Barbosa de Azevedo, 4ª ed., Petrópolis, editora<br />
Vozes Ltda..<br />
cAÑo, António ramajo (1987). L<strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> de la lengua c<strong>as</strong>tellana<br />
desde Nebrija a Corre<strong>as</strong>, salamanca, ediciones universidad<br />
salamanca.<br />
cArdoso, José Luís (1989). O pensamento económico em Portugal<br />
<strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII, Lisboa, editorial estampa.<br />
501
cArdoso, simão cerveira (1986). A Gramática Filosófica de<br />
Jerónimo Soares Barbosa: reflexos da gramática geral, dissertação de<br />
Mestrado em Linguística Portuguesa, Porto, Faculdade de Letr<strong>as</strong> da<br />
universidade do Porto.<br />
cArdoso, simão cerveira (comp. e org.) (1994). Historiografia<br />
gramatical: 1500 -1920: língua portuguesa – autores portugueses,<br />
Anexo VII da Revista da Faculdade de Letr<strong>as</strong>, série «Língu<strong>as</strong> e<br />
Literatur<strong>as</strong>», Porto, Faculdade de Letr<strong>as</strong> da universidade do Porto.<br />
cArdoso, simão cerveira (1998). «A gramática Latina <strong>no</strong> séc. XVI:<br />
<strong>as</strong> “partes orationis” na “gramática Latina” do Pe. Manuel Álvares<br />
(1572) e na “Minerva” de sanctius (1587)», in Linguística e Didáctica<br />
d<strong>as</strong> Língu<strong>as</strong>, Act<strong>as</strong> do Fórum Linguística e Didáctica d<strong>as</strong> Língu<strong>as</strong>,<br />
Vila real, universidade de trás-os-Montes e Alto douro, p.473-484.<br />
cArreter, Fernando Lázaro, (1949). L<strong>as</strong> ide<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> en España<br />
durante el siglo XVIII, Madrid, csIc.<br />
cArVALHo, Joaquim de (1981). «Introdução ao ensaio Filosófico<br />
sobre o entendimento Huma<strong>no</strong> de John Locke» (1951) in Obra<br />
Completa, vol. I, Lisboa, Fundação calouste gulbenkian, p.301-354.<br />
cArVALHo, José g. Hercula<strong>no</strong> de (1973). Teoria da Linguagem, tomo<br />
I [3ª tiragem], coimbra, Atlântida editora.<br />
cArVALHo, José g. Hercula<strong>no</strong> de (1979). Teoria da Linguagem, tomo<br />
II [3ª tiragem, emendada], coimbra, Atlântida editora.<br />
cArVALHo, José g. Hercula<strong>no</strong> de (1984). Pequena contribuição à<br />
história da linguística, coimbra, coimbra editora.<br />
cArVALHo, rómulo de (1983). «As ciênci<strong>as</strong> exact<strong>as</strong> <strong>no</strong> tempo de<br />
Pombal» in Como Interpretar Pombal?, Lisboa, edições Brotéria,<br />
p.215-232.<br />
cArVALHo, rómulo de (2001). História do ensi<strong>no</strong> em Portugal, Desde<br />
a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caeta<strong>no</strong>,<br />
3ª edição, Lisboa, Fundação calouste gulbenkian.<br />
cAsteLeIro, Malaca (1980/81). «Jerónimo soares Barbosa: um<br />
gramático racionalista do <strong>século</strong> XVIII», in Boletim de Filologia,<br />
502
tomo XXXVI, f<strong>as</strong>cículos 1-4, Lisboa, centro de Linguística da<br />
universidade de Lisboa / Instituto nacional de Investigação<br />
científica, p.101-110.<br />
cAtrogA, Fernando e Paulo A. M. Archer de cArVALHo (1996).<br />
Sociedade e Cultura Portugues<strong>as</strong> II, Lisboa, universidade Aberta.<br />
cAtrogA, Fernando (1998). «romantismo, literatura e história»,<br />
in José Mattoso (dir.), História de Portugal, quinto volume, O<br />
Liberalismo (1807-1890), Lisboa, editorial estampa, p.463-477.<br />
cAtrogA, Fernando (1998). «cientismo, política e anticlericalismo»,<br />
in José Mattoso (dir.), História de Portugal, quinto volume, O<br />
Liberalismo (1807-1890), Lisboa, editorial estampa, p.505-514.<br />
ÈernÝ, Jiøí (1998). Historia de la linguística, version española,<br />
traducida por el autor, cáceres, universidad de extremadura.<br />
cHAunu, Pierre (1985). A Civilização da Europa d<strong>as</strong> Luzes, Vol. I e<br />
II, Lisboa, editorial estampa.<br />
cHeVALIer, Jean-claude (1968). Histoire de la Syntaxe. Naissance de<br />
la <strong>no</strong>tion de complément dans la grammaire française, (1530-1750),<br />
genève, Librairie droz.<br />
cHeVALIer, Jean-claude (1977). «grammaire générale de Portroyal<br />
et la tradition grecque. La constitution des parties du discours:<br />
cl<strong>as</strong>sement et signification», in André Joly et Jean stéfanini (ed.), La<br />
grammaire générale: des modistes aux idéologues, Villeneuve-dÁscq,<br />
Publications de l’université de Lille III, p. IX.<br />
cHoMsKY, <strong>no</strong>am (1994). O conhecimento da língua: sua natureza,<br />
origem e uso, trad. port. de Anabela gonçalves e Ana teresa Alves,<br />
Lisboa, editorial caminho.<br />
cIdAde, Hernâni (1984). Lições de Cultura e Literatura Portugues<strong>as</strong>,<br />
vols. I e II, 7ª ed. [corr. actual. e ampli.], coimbra, coimbra editora.<br />
coeLHo, Francisco Adolpho (1868). A lingua portugueza. Pho<strong>no</strong>logia,<br />
etymologia, morphologia e syntaxe, coimbra, universidade.<br />
coeLHo, Francisco Adolpho (1885). Anthologia de poet<strong>as</strong> e prosadores<br />
e curso pratico ou grammatica intuitiva da lingua portugueza,<br />
coimbra, universidade.<br />
503
coeLHo, Francisco Adolpho (1887). Curso de litteratura nacional. I.<br />
- A lingua portugueza: <strong>no</strong>ções de glottologia geral e especial portueza,<br />
2ª edição, emendada e augmentada, Porto, Magalhães & Moniz,<br />
editores.<br />
coeLHo, Jacinto do Prado (1994a) «Leo<strong>no</strong>r de Almeida de Portugal<br />
Lorena e Lenc<strong>as</strong>tre» in Jacinto do Prado coelho (dir.), Dicionário de<br />
literatura, 4ª edição, 1º volume, Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.40-41.<br />
coeLHo, Jacinto do Prado (1994b) «Historiografia moderna» in<br />
Jacinto do Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição,<br />
2º volume, Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.404-418.<br />
coeLHo, Jacinto do Prado (1994c) «Linguística em Portugal» in<br />
Jacinto do Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição,<br />
2º volume, Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.531-534.<br />
coeLHo, Jacinto do Prado (1994d) «<strong>no</strong>va arcádia» in Jacinto do<br />
Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição, 3º volume,<br />
Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.740.<br />
coLoMBAt, Bernard (1992). «La description du latin à l’épreuve<br />
de la montée des vernaculaires», in Histoire des idées linguistiques,<br />
tome 2, Le développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.509-521.<br />
condILLAc, étienne Bon<strong>no</strong>t de (1746). Essai sur l’origine des<br />
connaissences humanines: ouvrage où l’on réduit à un seul principe<br />
tout ce qui concerne l’entendement humain, Amsterdam, P. Mortier.<br />
condILLAc, étienne Bon<strong>no</strong>t de (1775). Cours d’étude pour<br />
l’instruction du prince de Parme, aujourd’hui S. A. R. l’Infant D.<br />
Ferdinand, Duc de Parme, Plaisange, Gu<strong>as</strong>talle, &c., tome premier,<br />
Grammaire, A Parme, de l’Imprimerie royale.<br />
condILLAc, étienne Bon<strong>no</strong>t de (An VI de la république [1798]).<br />
Principes généraux de grammaire pour toutes les langues, avec leur<br />
application particulière à la langue française, <strong>no</strong>uvelle édition, Paris,<br />
A. J. ducour.<br />
coserIu, eugenio (1977). Tradición y <strong>no</strong>vedad en la ciencia del<br />
504
lenguaje. Estudios de historia de la lingüística, Madrid, editorial<br />
gredos<br />
coserIu, eugenio (1981). Lecciones de lingüística general, Madrid,<br />
editorial gredos.<br />
coserIu, eugénio (1982). Teoría del lenguaje general. Cinco estudios,<br />
Madrid, editorial gredos.<br />
coserIu, eugénio (2000). «Língua e Funcionalidade em Fernão de<br />
oliveira», trad. de Maria christina da Motta Maia, ligeiramente<br />
adaptada ao português continental, in Fernão de oliveira, Gramática<br />
da linguagem portuguesa. Edição crítica, semidiplomática e an<strong>as</strong>tática,<br />
organizada por Amadeu torres e carlos Assunção, Lisboa, Academia<br />
d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> de Lisboa, p. 29-60.<br />
cunHA, celso e Lindley cIntrA (1992), Nova gramática do<br />
português contemporâneo, 9ª edição, Lisboa, edições João sá da<br />
costa.<br />
desBordes, Françoise (1989). «Les idées sur le langage avant la<br />
constitution des disciplines spécifiques», in sylvain Auroux (dir.),<br />
Histoire des idées linguistiques, tome 1, La naissance des métalangages<br />
en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur,<br />
chapitre III, section 1, p.149-161.<br />
desBordes, Françoise (1989). «La rhétorique», in sylvain Auroux<br />
(dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La naissance des<br />
métalangages en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles, Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.162-185.<br />
dIAs, Augusto epiphanio da silva (1881). Grammatica elementar, 4ª<br />
edição, revista, Porto, Magalhães & Moniz-editores.<br />
dIAs, Augusto epiphanio da silva (1870). Grammatica da lingua<br />
portugueza para uso dos alum<strong>no</strong>s do primeiro an<strong>no</strong> do curso dos<br />
lyceus, Porto, typographia do ‘Jornal do Porto’.<br />
dIAs, José seb<strong>as</strong>tião da silva (1994) «Antigos e Moder<strong>no</strong>s» in Jacinto<br />
do Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição, 1º volume,<br />
Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.59.<br />
doMInIcY, Marc (1992). «Le programme scientifique de la<br />
505
grammaire générale», in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le<br />
développement de la grammaire occidentale, Liège Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.424-441.<br />
doMIngos, Manuela d. (2000). Livreiros de Setecentos, Lisboa,<br />
Biblioteca nacional.<br />
douAY-souBLIn (1992). «La rhétorique en europe à travers<br />
son enseignement», in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le<br />
développement de la grammaire occidentale, Liège Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.467-507.<br />
duBoIs, Jean et alii (1997-98). Dicionário de lingüística, trad. port.<br />
dirigida e coordenada por Izidoro Blikstein, são Paulo, cultrix.<br />
du MArsAIs (1792). Logique et príncipes de Grammaire ouvrages<br />
posthumes en partie, & en partie extraits de plusieurs traités qui<br />
ont déja paru de cet auteur, <strong>no</strong>velle édition augmentée du traité<br />
de l’inversion, tome I e II, a Paris, chez Barrois, libraire, quai des<br />
Augustins, nº 19, Foullé imprimeur-libraire quai des Augustins, nº<br />
39.<br />
estIenne, robert (1569). Traicté de la grãmaire francoise, Paris, rob.<br />
estienne Imprimeur du roy.<br />
FArIA, Isabel Hub, emília ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M.<br />
gouveia (1996). «Introdução» in Introdução à linguística Geral e<br />
Portuguesa, Lisboa, editorial caminho, p.11-23.<br />
FÁVero, L. Lopes (1987). O papel da gramática <strong>no</strong> ensi<strong>no</strong>-aprendizagem<br />
da língua materna, Lisboa, Instituto de cultura e Língua Portugues<strong>as</strong>.<br />
FÁVero, Leo<strong>no</strong>r Lopes (1996). As Concepções linguístic<strong>as</strong> do Século<br />
XVIII, campin<strong>as</strong>, unicamp.<br />
FernAndes, Manuel gonçalo de sá (1996). Partícul<strong>as</strong> discursiv<strong>as</strong><br />
e modais: do latim ao português, dissertação de Mestrado em<br />
Linguística descritiva, Porto, Faculdade de Letr<strong>as</strong> da universidade<br />
do Porto.<br />
FernAndes, Manuel gonçalo de sá (2002). Amaro de Roboredo,<br />
um pioneiro <strong>no</strong>s estudos linguísticos e na didáctica d<strong>as</strong> língu<strong>as</strong>,<br />
506
dissertação de doutoramento em Linguística Portuguesa, Vila real,<br />
universidade de trás-os-Montes e Alto douro.<br />
FernAndes, rogério (1978). O pensamento pedagógico em Portugal,<br />
Lisboa, Instituto de cultura Portuguesa.<br />
FernAndes, rogério (1994). Os caminhos do ABC – sociedade<br />
portuguesa e ensi<strong>no</strong> d<strong>as</strong> primeir<strong>as</strong> letr<strong>as</strong>, Porto, Porto editora.<br />
FerreIrA, Francisco soares (1819). Elementos de grammatica<br />
portugueza, ordenados segundo a doutrina dos melhores grammaticos,<br />
para aplanar á mocidade o estudo da sua lingua, Lisboa, Imprensa<br />
régia.<br />
FIgueIredo, Pedro José de (1837). Arte da grammatica portugueza<br />
em methodo breve, facil, e claro para uso do Collegio Real de Nobres<br />
e do Real Seminario do Patriarchado, Lisboa, Imprensa nacional.<br />
FonsecA, Maria do céu Brás (2000). Historiografia linguística<br />
do <strong>século</strong> XVII: <strong>as</strong> unidades de relação na produção gramatical<br />
portuguesa, tese de doutoramento em Linguística Portuguesa<br />
apresentada à universidade de évora, évora.<br />
Fortes, Manuel de Azevedo (2002 [1744]. Lógica Racional, Lisboa.<br />
Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
FunK, Maria gabriela (1997). «A questão da ordem d<strong>as</strong> palavr<strong>as</strong><br />
na gramática portuguesa tradicional», in Act<strong>as</strong> do XII Encontro da<br />
APL, vol. II, Linguística histórica, História da Linguística, Lisboa,<br />
Associação Portuguesa de Linguística, p.419-427.<br />
gAMBArA, daniele (1989). «L’origine des <strong>no</strong>ms et du langage dans<br />
la grèce ancienne», in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées<br />
linguistiques, tome 1, La naissance des métalangages en Orient et<br />
en Occident, Liège/Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, chapitre III,<br />
section 1, p.79-97.<br />
gArcíA, constanti<strong>no</strong> (1960). Contribución a la historia de los<br />
conceptos gramaticales: la aportación del Brocense, Madrid, consejo<br />
superior de Investigaciones científic<strong>as</strong>.<br />
géBeLIn, Antoine court de (1774). Monde primitif, analysé et comparé<br />
avec le monde moderne, considéré dans l’histoire naturelle de la parole;<br />
507
ou grammaire universelle et comparative; avec des figures en tailledouce,<br />
a Paris, chez L’Auteur, Boudet, Imprimeur-Libraire, Valleyre<br />
l’aîné, Imprimeur-Libraire, Veuve duchesne, Libraire, saugrain,<br />
Libraire, & ruault, Libraire.<br />
gIArd, Luce (1992). «L’entrée en lice des vernaculaires», in Histoire<br />
des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la grammaire<br />
occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.206-225.<br />
goMes, Joaquim Ferreira (1983). «Pombal e a reforma da<br />
universidade» in Como interpretar Pombal, Lisboa, edições Brotéria,<br />
p. 235-251.<br />
goMes, Joaquim Ferreira (1995). «Luís António Verney e <strong>as</strong> reform<strong>as</strong><br />
pombalin<strong>as</strong> do ensi<strong>no</strong>» in Verney e o Iluminismo em Portugal, Braga,<br />
centro de estudos Humanísticos, universidade do Minho, p. 7-27.<br />
gonÇALVes, Maria Filomena (2003). As idei<strong>as</strong> ortográfic<strong>as</strong> em<br />
Portugal: de Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734 – 1911),<br />
Lisboa, Fundação calouste gulbenkian e Fundação para a ciência<br />
e a tec<strong>no</strong>logia.<br />
gonÇALVes, Maria Filomena (2003). «As reflexões sobre a Língua<br />
Portugueza (1773/1842) <strong>no</strong> contexto d<strong>as</strong> idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> do <strong>século</strong><br />
XVIII», in Act<strong>as</strong> del XXIII Congreso Internacional de Lingüística<br />
Y Filologia Románica (Salamanca 24-30 septiembre 2001), vol. V,<br />
tübingen, Max niemeyer Verlag, p.181-189..<br />
gonÇALVes, Maria Filomena (2005). «singularidades verneian<strong>as</strong>:<br />
a <strong>no</strong>rmalização da língua portuguesa e o Verdadeiro Método de<br />
Estudar», in BorrALHo et aliae, Luís António Verney – percursos<br />
para um Verdadeiro Método de Estudar, évora, universidade de<br />
évora, p.41-77.<br />
gouVeIA, António camões (1994). «estratégi<strong>as</strong> de interiorização<br />
da disciplina», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, quarto<br />
volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa, editorial estampa,<br />
415-450.<br />
gouVeIA, carlos A. M. (1996). «Pragmática», in Isabel Hub, emília<br />
ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia (org.), Introdução<br />
508
à linguística geral e portuguesa, Lisboa, editorial caminho, p.383-<br />
419.<br />
gusdorF, georges (1971). Les sciences humaines et la pensée<br />
occidentale, IV, Les príncipes de la pensée au siècle des Lumières,<br />
Paris, Payot.<br />
HALL, A. rupert (1983). A revolução na ciência 1500-1750, trad. port.<br />
de Mª teresa Louro Pérez, Lisboa, edições 70.<br />
HAZArd, paul (1989). O pensamento europeu <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII, Lisboa,<br />
editorial Presença.<br />
HesPAnHA, António Manuel (1994). «A família», in José Mattoso<br />
(dir.), História de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-<br />
1807), Lisboa, editorial estampa, 273-279.<br />
HesPAnHA, António Manuel (1994). «A igreja», in José Mattoso<br />
(dir.), História de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-<br />
1807), Lisboa, editorial estampa, 287-290.<br />
HesPAnHA, António Manuel (1994). «A resistência aos poderes», in<br />
José Mattoso (dir.), História de Portugal, quarto volume, O antigo<br />
regime (1620-1807), Lisboa, editorial estampa, 451-460.<br />
HesPAnHA, António Manuel e Ângela Barreto XAVIer (1994).<br />
«A representação da sociedade e do Poder», in José Mattoso (dir.),<br />
História de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807),<br />
Lisboa, editorial estampa, 121-156.<br />
HesPAnHA, António Manuel e Maria cristina sAntos (1994). «os<br />
poderes num império oceânico», in José Mattoso (dir.), História<br />
de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa,<br />
editorial estampa, 395-414.<br />
JIMeneZ, Alfonso Martín (1997). Retórica y Literatura en el siglo<br />
XVI, El Brocense, Valladolid, universidad de Valladolid.<br />
JoLY, André e Jean stéFAnInI (1977). «Avant-propos» in André<br />
Joly et Jean stéfanini (ed.), La grammaire générale: des modistes aux<br />
idéologues, Villeneuve-dÁscq, Publications de l’université de Lille<br />
III, p. IX.<br />
Koerner, Konrad (1996). «Questões que persistem em historiografia<br />
509
da lingüística», in revista da Anpoll, nº 2, são Paulo, universidade<br />
de são Paulo, p.45-70.<br />
KossArIK, Marina A. (1997). «A doutrina Linguística de Amaro<br />
de roboredo», in Act<strong>as</strong> do XII Encontro Nacional da Associação<br />
Portuguesa de Linguística, vol. II, Linguística Histórica/História da<br />
Linguística, Lisboa, Associação Portuguesa de Linguística, p.429-443.<br />
KossArIK, Marina A. (2002). «A obra de Amaro de roboredo»,<br />
introdução à edição fac-similadade Methodo Grammatical para<br />
tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> Língu<strong>as</strong>, de Amaro de roboredo, Lisboa, Imprensa<br />
nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda, p.7-63.<br />
KrIsteVA, Júlia (2003). História da Linguagem, trad. Port. de Maria<br />
Margarida Barahona, Lisboa, edições 70.<br />
LAMY, Bernard (1688). L’art de parler, Paris, chez André Pralard.<br />
LAMY, Bernard (1688). La Rhetorique ou l’art de parler, troisiéme<br />
edition, reveu¸ & augnentée, Paris, chez André Pralard.<br />
LAPA, rodrigues (1984). Estilística da língua portuguesa, 11ª ed.,<br />
revista pelo autor, coimbra, coimbra editora, Limitada.<br />
LAW, Vivien (1992). «La grammaire latine durant le haut moyen âge»,<br />
in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la<br />
grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.83-95.<br />
LeÃo, duarte nunes de (1576). Orthographia da Língua Portuguesa,<br />
Lisboa, João de Barreira.<br />
LeMos, Fernando José Patrício (2005). «singularidades verneian<strong>as</strong>:<br />
a <strong>no</strong>rmalização da língua portuguesa e o Verdadeiro Método de<br />
estudar», in BorrALHo et aliae, Luís António Verney – percursos<br />
para um Verdadeiro Método de Estudar, évora, universidade de<br />
évora, p.79-100.<br />
LeroY, André-Louis (1985). Locke, trad. port. de António Manuel<br />
gonçalves e Joaquim coelho da rosa, Lisboa, edições 70.<br />
LIBerA, Alain de et Irene rosIer (1992). «courants, auteurs<br />
et disciplines», in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le<br />
développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.115-129.<br />
510
LIBerA, Alain de et Irene rosIer (1992). «définition des catégories<br />
grammaticales», in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le<br />
développement de la grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga<br />
éditeur, p.130-136.<br />
LIMA, José Pinto de (1996). «o papel da semântica e da pragmática <strong>no</strong><br />
estudo dos conectores», in Isabel Hub Faria, emília ribeiro Pedro,<br />
Inês duarte e carlos A. M. gouveia (org.), Introdução à linguística<br />
geral e portuguesa, Lisboa, editorial caminho, p.421-427.<br />
LoPes, Ana cristina Macário (1996). «contributos para uma<br />
análise dos valores temporais e discursivos de logo», in Isabel Hub<br />
Faria, emília ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia<br />
(org.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Lisboa, editorial<br />
caminho, p.433-443.<br />
LoPes, Isabel (1999). «<strong>no</strong>rma(s) e gramática(s)», in Jorge Morais<br />
Barbosa, Joana Vieira santos, Isabel Lopes, Ana Paula Loureiro e<br />
cristina Figueiredo (org.), Gramática e ensi<strong>no</strong> d<strong>as</strong> língu<strong>as</strong> - Act<strong>as</strong> do<br />
I Colóquio sobre Gramática, coimbra, Almedina, p.45-50.<br />
LoPes, Óscar (1972). Gramática simbólica do português, 2ª edição,<br />
corrigida, Lisboa, Fundação calouste gulbenkian.<br />
MAcHAdo, diogo Barbosa (1966). Bibliotheca lusitana historica,<br />
tomos I e III, coimbra, Atlântica editora.<br />
MAIA, clarinda de Azavedo (1997). História do galego-português,<br />
Lisboa, Fundação calouste gulbenkian, Junta nacional de<br />
Investigação científica e tec<strong>no</strong>lógica.<br />
gAMA, caeta<strong>no</strong> Maldonado da (1721). Regr<strong>as</strong> da lingua portugueza,<br />
espelho da lingua latina, ou disposic,am para facilitar o ensi<strong>no</strong> da<br />
lingua latina pel<strong>as</strong> regr<strong>as</strong> da portugueza, Lisboa, officina de Mathi<strong>as</strong><br />
Pereyra da sylva, & Joaõ Antunes Pedrozo.<br />
MArQuILHAs, rita (1996). «Mudança linguística», in Isabel Hub<br />
Faria, emília ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia<br />
(org.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Lisboa, editorial<br />
caminho, p.563-588.<br />
MArQuILHAs, rita (2001). «em tor<strong>no</strong> do Vocabulário de Bluteau –<br />
511
o reformismo e o prestígio da <strong>no</strong>rma do <strong>século</strong> XVIII» in Caminhos<br />
do Português – Catálogo da Exposição Comemorativa do A<strong>no</strong> Europeu<br />
d<strong>as</strong> Língu<strong>as</strong>, coord. Maria Helena Mira Mateus, Lisboa, Biblioteca<br />
nacional, p. 105-118.<br />
MArtInet, André (1976). Conceitos fundamentais de linguística,<br />
trad. port. de Wanda ramos, Lisbo Por & BrA, editorial estampa/<br />
Livraria Martins Fontes.<br />
MArtInet, André (1991). Elementos de Linguística Geral, 11ª ed.,<br />
trad. port. de Jorge Morais Barbosa, Lisboa, Livraria sá da costa.<br />
MArtInet, André (1995). Função e dinâmica d<strong>as</strong> língu<strong>as</strong>, trad. port.<br />
de Jorge Morais Barbosa e Maria Joana Vieira santos, coimbra,<br />
Livraria Almedina.<br />
MArtIns, décio ruivo (2005). «o florescimento dos <strong>no</strong>vos<br />
paradigm<strong>as</strong> científicos <strong>no</strong> Iluminismo Português», in BorrALHo<br />
et aliae, Luís António Verney – percursos para um Verdadeiro Método<br />
de Estudar, évora, universidade de évora, p.133-164.<br />
MAteus, Maria Helena Mira et aliae (2003). Gramática da Língua<br />
Portuguesa, 5ª edição revista e aumentada, Lisboa, editorial<br />
caminho.<br />
MAttoso, José (1985a). Portugal medieval – Nov<strong>as</strong> interpretações,<br />
Lisboa, Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
MAttoso, José (1985b). A cultura medieval portuguesa (<strong>século</strong>s XI<br />
a XIV, Lisboa, Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
MAttoso, José (1997). Religião e cultura na Idade Média Portuguesa,<br />
2ª edição, Lisboa, Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
MenéndeZ, Fernanda Miranda (1997). A “construção do discurso<br />
setecentista”. Dos processos discursivos à história da língua, dissertação<br />
de doutoramento, Lisboa, [s.n.].<br />
MenéndeZ, Fernanda Miranda (2003). «Preocupações enunciativ<strong>as</strong><br />
<strong>no</strong> estudo do português – <strong>as</strong> gramátic<strong>as</strong> filosófic<strong>as</strong>», in Act<strong>as</strong> del<br />
XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filologá Românica<br />
(Salamanca, 24-30 septiembre 2001), vol. V, tübingen, Max niemeyer<br />
Verlag, p.269-273.<br />
512
MoncAdA, Luís cabral de (1941). Um «iluminista» português do<br />
<strong>século</strong> XVIII: Luís António Verney, coimbra, Amado editor.<br />
MonteIro, nu<strong>no</strong> gonçalo (1994b). «Poder senhorial, estatuto<br />
<strong>no</strong>biliárquico e aristocracia», in José Mattoso (dir.), História de<br />
Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa,<br />
editorial estampa, 333-380.<br />
MotA, Isabel Ferreira (2003). A Academia Real de História. Os<br />
intelectuais, o poder cultural e o poder monárquico <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII,<br />
coimbra, editora Minerva.<br />
MounIn, georges (1967). Histoire de la linguistique des origines au<br />
XX ème siècle, Paris, Presses universitaires de France.<br />
MounIn, georges (1970). Histoire de la linguistique des origines au<br />
XX ème siècle, 2 e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires de<br />
France.<br />
MounIn, george (1989). Historia de la lingüística desde los orígenes<br />
al siglo XX, versión española, traducida por Sánchez Pacheco, col.<br />
Biblioteca românica Hispânica. Manuales, 16, Madrid, editorial<br />
gredos.<br />
MourA, teresa Maria teixeira de (2002). A tradição gramatical<br />
portuguesa: Jerónimo Contador de Argote <strong>no</strong> contexto cultural<br />
iluminista, dissertação de Mestrado em ensi<strong>no</strong> da Língua e Literatura<br />
Portugues<strong>as</strong>, Vila real, universidade de trás-os-Montes e Alto<br />
douro.<br />
neBrIJA, élio António de (1989). Gramática de la lengua c<strong>as</strong>tellana,<br />
estudio y edición de António Quilis, 3ª edição, Madrid, editorial<br />
centro de estudios ramon Areces.<br />
neBrIJA, élio António de (1992). Gramática c<strong>as</strong>tellana, introducción<br />
y <strong>no</strong>t<strong>as</strong>: Miguel Ángel Esparza Ramón Sarmiento, Madrid, Fundación<br />
António de nebrija.<br />
neBrIJA, élio António de (1999). Introductiones Latinae, reprodução<br />
facsimilada da edição de 1481, 2ª reimpressão, salamanca, edições<br />
da universidade de salamanca.<br />
513
neto, serafim da silva (1992). História da língua portuguesa, 6ª<br />
edição, rio de Janeiro BrA & Lisboa Por, Presença/ dinaLivro.<br />
neVes, Maria Helena de Moura (1987). A vertente grega da gramática<br />
tradicional, são Paulo, editora HucItec.<br />
nunes, Maria de Fátima (2005). «Verney e Moncada em 1940:<br />
em busca de uma (<strong>no</strong>va) modernidade da cultura científica em<br />
Portugal?», in BorrALHo et aliae, Luís António Verney – percursos<br />
para um Verdadeiro Método de Estudar, évora, universidade de<br />
évora, p.101-132.<br />
oLIVeIrA, Fátima (1996). «semântica» in Isabel Hub Faria, emília<br />
ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia (org.) Introdução<br />
à linguística Geral e Portuguesa, Lisboa, editorial caminho, p.332-<br />
379.<br />
oLIVeIrA, Fernão de (1975). A Gramática da Linguagem Portuguesa,<br />
Lisboa, Imprensa nacional c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
oLIVeIrA, Fernão de (2000). Gramática da linguagem portuguesa.<br />
Edição crítica, semidiplomática e an<strong>as</strong>tática, organizada por Amadeu<br />
torres e carlos Assunção, Lisboa, Academia d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> de Lisboa.<br />
PArAtore, ettore (1987). História da Literatura Latina, trad. port.<br />
de Manuel Losa, s. J., Lisboa, Fundação calouste gulbenkian.<br />
Pedro, emília ribeiro (1991). «Algum<strong>as</strong> questões sobre a prática (da)<br />
linguística», in Act<strong>as</strong> do VII Encontro da Associação Portuguesa de<br />
Linguística, Lisboa, p.330-341.<br />
Pedro, emília ribeiro (1996). «Interacção verbal», in Isabel Hub<br />
Faria, emília ribeiro Pedro, Inês duarte e carlos A. M. gouveia<br />
(org.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Lisboa, editorial<br />
caminho, p.449-475.<br />
PercIVAL, W. Keith (1992). «La connaissance des lengues du monde»,<br />
in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la<br />
grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.226-238.<br />
Peres, João Andrade e telmo MÓIA (1995). Áre<strong>as</strong> crític<strong>as</strong> da língua<br />
portuguesa, 2ª ed., Lisboa, editorial caminho.<br />
PereIrA, Ana Leo<strong>no</strong>r e João rui PItA (1998). «ciênci<strong>as</strong>», in José<br />
514
Mattoso (dir.), História de Portugal, quinto volume, O Liberalismo<br />
(1807-1890), Lisboa, editorial estampa, p.551-563.<br />
PereIrA, Maria Helena da rocha (1970). «HoMero», in Enciclopédia<br />
luso-br<strong>as</strong>ileira de cultura, vol. 10, Lisboa, editorial Verbo, p.416-419.<br />
PereIrA, Maria Helena da rocha (1993). Estudos de história da<br />
cultura clássica, vol. I, Cultura Grega, 7ª edição, Lisboa, Fundação<br />
calouste gulbenkian.<br />
PereIrA, Maria Helena da rocha (2002). Estudos de história da<br />
cultura clássica, vol. II, Cultura Romana, 3ª edição, Lisboa, Fundação<br />
calouste gulbenkian.<br />
PereIrA, Miguel Baptista (1982). «Iluminismo e secularização», in<br />
Revista de História d<strong>as</strong> Idei<strong>as</strong>, volume IV, O Marquês de Pombal e o<br />
seu tempo, tomo II, coimbra, Instituto de História e teoria d<strong>as</strong> Idei<strong>as</strong><br />
da Faculdade de Letr<strong>as</strong> da universidade de coimbra, p.439-500.<br />
PInAuLt, georges-Jean (1989a). «Parole articulée et vérité», in sylvain<br />
Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La naissance<br />
des métalangages en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.293-302.<br />
PInAuLt, georges-Jean (1989b). «travaux à partir du corpus védique»,<br />
in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La<br />
naissance des métalangages en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles<br />
Pierre Mardaga éditeur, p.303-330.<br />
PInAuLt, georges-Jean (1989c). «Pânini et L’enseignement<br />
grammatical», in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques,<br />
tome 1, La naissance des métalangages en Orient et en Occident, Liège/<br />
Bruxelles Pierre Mardaga éditeur, p.331-353.<br />
PInAuLt, georges-Jean (1989d). «Procédés pâninéens», in sylvain<br />
Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La naissance<br />
des métalangages en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.354-370.<br />
PInAuLt, georges-Jean (1989e). «Le système de Pânini», in sylvain<br />
Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, La naissance<br />
515
des métalangages en Orient et en Occident, Liège/Bruxelles Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.303-330.<br />
PIWnIK, Marie-Hélène (1991). «Para um estudo sistemático d<strong>as</strong><br />
prátic<strong>as</strong> de leitura <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII em Portugal», in Portugal <strong>no</strong><br />
<strong>século</strong> XVIII – de D. João V à revolução francesa, Lisboa, universitária<br />
editora, p. 371-400.<br />
ProenÇA, Martinho de Mendonça de Pina e de, (1734). Apontamentos<br />
para a educaçaõ de hum meni<strong>no</strong> <strong>no</strong>bre, que para seu uso particular<br />
fazia, Lisboa, na officina de Joseph Antonio da silava, Impressor<br />
da Academia real.<br />
QuILIs, Antonio (1989). «estudio» in Antonio de nebrija, Gramática<br />
de la lengua c<strong>as</strong>tellana, estudio y edición de Antonio Quilis, 3ª edição,<br />
Madrid, editorial centro de estúdios ramon Areces, p.8-104.<br />
QuILIs, Antonio (1999). «L<strong>as</strong> tres gramátic<strong>as</strong> de Antonio de nebrija»<br />
in Marina Maquieira rodríguez, Maria dolores Martínez gavilán<br />
e Milka Villayandre Llamazares (org.), 2001, Act<strong>as</strong> del II Congreso<br />
internacional de la sociedad española de historiografía lingüística,<br />
Léon, 2-5 de Marzo de 1999, Madrid, editorial Arco/Libros, s.L.,<br />
p.125-196.<br />
rAMos, Luís de oliveira (1988). Sob o sig<strong>no</strong> d<strong>as</strong> «luzes», Maia,<br />
Imprensa nacional-c<strong>as</strong>a da Moeda.<br />
rIBeIro, José silvrestre (1871). Historia dos estabelecimentos<br />
scientificos – litterarios e artisticos de Portugal <strong>no</strong>s successivos reinados<br />
da monarquia, tomo I, Lisboa, typographia da Academia real d<strong>as</strong><br />
scienci<strong>as</strong>.<br />
roBIns, r. H. (1988). Pequena história de la lingüística, trad. port.<br />
do Br<strong>as</strong>il de Luiz Martins Monteiro de Barros, rio de Janeiro, Ao<br />
livro técnico s. A..<br />
roBIns, r. H. (1992). Breve historia de la lingüística – ediçión revisada,<br />
trad. esp. de enrique Alcaraz Varo, Madrid, editorial Paraninfo.<br />
roBoredo, Amaro (1619). Methodo Grammatical para Tod<strong>as</strong> <strong>as</strong><br />
Língu<strong>as</strong>. Consta de tres partes: 1. Grammatica exemplificada na<br />
portugueza, & latina. 2. Copia de Palavr<strong>as</strong> exemplificada n<strong>as</strong> latin<strong>as</strong>,<br />
516
artificio experimentado para entender Latim em poucos meses. 3.<br />
Phr<strong>as</strong>e exemplificada na Latina, em que se exercitão <strong>as</strong> syntaxes<br />
ordinári<strong>as</strong>, & collocação rhetorica, como mostra a 3. & 4. folha. Autor<br />
Amaro de Roboredo natural da villa de Algoso, Pedro craesbeek,<br />
Lisboa.<br />
roBoredo, Amaro de (2002). Methodo Grammatical para tod<strong>as</strong> <strong>as</strong><br />
Língu<strong>as</strong>, edição de Marina A. Kossarik, Lisboa, Imprensa nacionalc<strong>as</strong>a<br />
da Moeda.<br />
rodrIgues, graça Almeida (1980). Breve história da censura literária<br />
em Portugal, col. «Biblioteca Breve», nº54, Lisboa, Instituto da<br />
cultura Portuguesa.<br />
roMeo, rogelio Ponce de León (1996). «La pedagogia del latín en<br />
Portugal durante la primera mitad del siglo XVII: cuatro gramáticos<br />
lusita<strong>no</strong>s» in Cuader<strong>no</strong>s de Filologia Clásica. Estúdios lati<strong>no</strong>s, nº10,<br />
Madrid, universidade complutense de Madrid, p.217-228.<br />
rosIer, Irène (1992). «La termi<strong>no</strong>logie latine médiévale», in Histoire<br />
des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la grammaire<br />
occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.590-597.<br />
rudé, george (1988). A Europa <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII, Lisboa, gradiva.<br />
sALgAdo JÚnIor (1994a) «Academi<strong>as</strong>» in Jacinto do Prado coelho<br />
(dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição, 1º volume, Porto, Livraria<br />
Figueirinh<strong>as</strong>, p.19-20.<br />
sALgAdo JÚnIor (1994b) «Arcádia Lusitana» in Jacinto do Prado<br />
coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição, 1º volume, Porto,<br />
Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.65-66.<br />
sALgAdo JÚnIor (1994c) «conferênci<strong>as</strong> erudit<strong>as</strong>» in Jacinto do<br />
Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição, 1º volume,<br />
Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.195-196.<br />
sALgAdo JÚnIor (1994c) «Verdadeiro método de estudar» in<br />
Jacinto do Prado coelho (dir.), Dicionário de literatura, 4ª edição,<br />
4º volume, Porto, Livraria Figueirinh<strong>as</strong>, p.1137-1139.<br />
sALMon, Vivian (1992). «caractéristiques et langues universelles»,<br />
517
in Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la<br />
grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.407-423.<br />
sAncHes, António nunes ribeiro ([s.d.]). Cart<strong>as</strong> sobre a educação<br />
da mocidade, Porto, editorial domingos Barreira.<br />
sÁncHeZ, Francisco (1995). Minerva o de causis linguae latinae libri<br />
I, III, IV (Introducción y edición E. Sánchez Salor) Liber II (Edición<br />
C. Chaparro Gómez), salamanca, Institucion cultural el Brocense<br />
universidad de extremadura.<br />
sAncHeZ, Manuel Martí (1998). En tor<strong>no</strong> a la cientificidad de la<br />
lingüística: <strong>as</strong>pectos diacrónicos y sincrónicos, Alcalá, universidad<br />
de Alcalá.<br />
sAntos, Boaventura sousa de (1988). Um discurso sobre <strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong>,<br />
Porto, Afrontamento.<br />
sAntos, Maria Joana de Almeida Vieira dos (2003). Os usos do<br />
conjuntivo em língua portuguesa, uma proposta de análise sintáctica<br />
e semântico-pragmática, Lisboa, Fundação calouste gulbenkian e<br />
Fundação para a ciência e tec<strong>no</strong>logia.<br />
sAntos, Maria Helena carvalho dos (1991). «o <strong>século</strong> XVIII e o<br />
absolutismo português», in Portugal <strong>no</strong> <strong>século</strong> XVIII – de D. João V<br />
à revolução francesa, Lisboa, universitária editora, p. 53-74.<br />
sAntos, Maria Helena Pessoa (2005). As idei<strong>as</strong> linguístic<strong>as</strong> portugues<strong>as</strong><br />
na centúria de oitocentos, 2 vols., dissertação de doutoramento em<br />
Linguística Portuguesa, Vila real, universidade de trás-os-Montes<br />
e Alto douro.<br />
sArAIVA, António José (1985). Inquisição e cristãos-<strong>no</strong>vos, 5ª edição,<br />
Lisboa, editorial estampa.<br />
sArAIVA, A. J. e Óscar LoPes (2000), História da Literatura<br />
Portuguesa, 17ª edição, Porto, Porto editora.<br />
sArMIento, ramón (1992). «espagne», in sylvain Auroux (dir.),<br />
Histoire des idées linguistiques, tome 2, Le développement de la<br />
grammaire occidentale, Liège, Pierre Mardaga éditeur, p.329-338.<br />
sArMIento, ramón (1997). «La tradición gramaticográfica<br />
518
española: esbozo de una tipología», in Maria do carmo Henríquez<br />
y Miguel Ángel esparza (eds.), Estudios de lingüística, departamento<br />
de Filología española de la universidade de Vigo, p.39-68.<br />
sAussure, Ferdinand de (1978). Curso de linguística geral, publicado<br />
por charles Bally e Albert sechehaye, com a colaboração de Albert<br />
riedlinger, trad. port. Por José Victor Adragão, Lisboa, Publicações<br />
dom Quixote.<br />
serrÃo, José Vicente (1994). «o quadro huma<strong>no</strong>», in José Mattoso<br />
(dir.), História de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-<br />
1807), Lisboa, editorial estampa, 49-70.<br />
serrÃo, José Vicente (1994). «o quadro económico: configurações<br />
estruturais e tendênci<strong>as</strong> de evolução», in José Mattoso (dir.), História<br />
de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa,<br />
editorial estampa, 71-118.<br />
sILVA, Ana cristina <strong>no</strong>gueira da e António Manuel HesPAnHA<br />
(1994). «A identidade portuguesa», in José Mattoso (dir.), História<br />
de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa,<br />
editorial estampa, 19-37.<br />
sILVA, Ana cristina <strong>no</strong>gueira da e António Manuel HesPAnHA<br />
(1994). «o quadro espacial», in José Mattoso (dir.), História de<br />
Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa,<br />
editorial estampa, 39-48.<br />
sILVA, Antonio de Moraes (1806). Epitome de grammatica da lingoa<br />
portugueza, Lisboa, na officina de simão Thaddeo Ferreira.<br />
sILVA, Francisco In<strong>no</strong>cencio da (1858). Diccionario bibliographico<br />
portuguez. estudos de In<strong>no</strong>cencio Francisco da silva Applicaveis a<br />
Portugal e ao Br<strong>as</strong>il, tomo I, Lisboa, Imprensa nacional.<br />
sILVA, Francisco In<strong>no</strong>cencio da (1859). Diccionario bibliographico<br />
portuguez. estudos de In<strong>no</strong>cencio Francisco da silva Applicaveis a<br />
Portugal e ao Br<strong>as</strong>il, tomo III, Lisboa, Imprensa nacional.<br />
sILVA, Francisco In<strong>no</strong>cencio da (1859). Diccionario bibliographico<br />
portuguez. estudos de In<strong>no</strong>cencio Francisco da silva Applicaveis a<br />
Portugal e ao Br<strong>as</strong>il, tomo III, Lisboa, Imprensa nacional.<br />
519
sILVA, Francisco In<strong>no</strong>cencio da (1860). Diccionario bibliographico<br />
portuguez. estudos de In<strong>no</strong>cencio Francisco da silva Applicaveis a<br />
Portugal e ao Br<strong>as</strong>il, tomo V, Lisboa, Imprensa nacional.<br />
sILVA, rosa Virgínia Mattos e (1996). Tradição gramatical e gramática<br />
tradicional, 3ª edição, são Paulo, editora contexto.<br />
souZA, Ma<strong>no</strong>el di<strong>as</strong> de (1804). Grammatica portugueza ordenada<br />
segundo a doutrina dos mais celebres grammaticos conhecidos, <strong>as</strong>sim<br />
nacionaes como estrangeiros, coimbra, Imprensa da universidade.<br />
suBtIL, José (1994). «os poderes do centro», in José Mattoso (dir.),<br />
História de Portugal, quarto volume, O antigo regime (1620-1807),<br />
Lisboa, editorial estampa, 157-191.<br />
teYssIer, Paul (1989). Manual de língua portuguesa: Portugal/Br<strong>as</strong>il,<br />
tradução portuguesa de Margarida chorão de carvalho, coimbra<br />
editora.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «Arte ou ciência, a gramática?», in<br />
Gramática e Linguística: ensaios e outros estudos, Braga, universidade<br />
católica Portuguesa, p. 23-31.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998b). «d<strong>as</strong> fronteir<strong>as</strong> sem gramática à<br />
gramática sem fronteir<strong>as</strong> – contributo para a gramaticologia francoportuguesa»,<br />
in Gramática e Linguística: ensaios e outros estudos,<br />
Braga, universidade católica Portuguesa, p. 103-124.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «dos códices gramaticais<br />
medievos à gramática de Fernão de oliveira», in Gramática e<br />
Linguística: ensaios e outros estudos, Braga, universidade católica<br />
Portuguesa, p. 43-59.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «Fernão de oliveira e a sua<br />
gramática em edição crítica», in Gramática e Linguística: ensaios e<br />
outros estudos, Braga, universidade católica Portuguesa, p. 61-71.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «Fernão de oliveira, primeiro<br />
gramático e filólogo da lusofonia», in Gramática e Linguística: ensaios<br />
e outros estudos, Braga, universidade católica Portuguesa, p. 73-81.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «gramática da língua e gramática<br />
520
da comunicação», in Gramática e Linguística: ensaios e outros estudos,<br />
Braga, universidade católica Portuguesa, p. 35-41.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «gramaticalismo e especulação<br />
a propósito da “grammatica Philosophica de Jerónimo soares<br />
Barbosa», in Gramática e Linguística: ensaios e outros estudos, Braga,<br />
universidade católica Portuguesa, p. 135-161.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «Humanismo inacia<strong>no</strong> e artes<br />
de gramática, Manuel Álvares entre a ‘ratio’ e o ‘usus’», in Gramática<br />
e Linguística: ensaios e outros estudos, Braga, universidade católica<br />
Portuguesa, p. 83-102.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «Linguística histórica e<br />
interdisciplinaridade», in Gramática e Linguística: ensaios e outros<br />
estudos, Braga, universidade católica Portuguesa, p. 1175-190.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «sintaxe e microgramaticalismos»,<br />
in Gramática e Linguística: ensaios e outros estudos, Braga,<br />
universidade católica Portuguesa, p. 163-172.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1996). Gramática filosófica portuguesa<br />
de Bernardo de Lima e Melo Bacelar. Reprodução fac-similada da<br />
edição de 1783 com introdução e <strong>no</strong>t<strong>as</strong>, Lisboa, Academia Portuguesa<br />
de História.<br />
torres, Amadeu rodrigues (1998). «gramática e linguística», in<br />
Revista Portuguesa de Humanidades, nº1, Braga, universidade<br />
católica Portuguesa.<br />
torres, Miguel Ángel esparza (1995). L<strong>as</strong> ide<strong>as</strong> lingüístic<strong>as</strong> de<br />
Antonio de Nebrija, Münster, <strong>no</strong>dus Publikationen.<br />
torres, Miguel Ángel esparza (1997). «tare<strong>as</strong> de la historiografía<br />
lingüística», in Maria do carmo Y Ángel esparza (eds.), Estudios de<br />
lingüística, departamento de Filología española de la universidad<br />
de Vigo, p.69-86.<br />
VALero, Pedro M. Hurtado (2001). «nuevos fundamentos<br />
epistemológicos para la historiografía lingüística su aplicación a la<br />
lingüística española», in Marina Maquieira rodríguez, Maria dolores<br />
Martínez gavilán e Milka Villayandre Llamazares (eds.), Act<strong>as</strong> del<br />
521
II Congreso internacional de la sociedad española de historiografía<br />
lingüística (León, 2-5 de Marzo de 1999), Madrid, editorial Arco /<br />
Libros, s.l. p.563-572.<br />
VAQuerA María Luísa calero (1986). Historia de la gramática<br />
española (1847-1920), col. Biblioteca românica Hispânica – II.<br />
estudios y ensayos, 345, Madrid, editorial gredos.<br />
VAsconceLos, carolina Micha¸lis de ([s.d.]). Lições de filologia<br />
portuguesa segundo <strong>as</strong> prelecções feit<strong>as</strong> aos cursos de 1911/12 e de<br />
1912/13 seguid<strong>as</strong> d<strong>as</strong> lições prátic<strong>as</strong> de português arcaico, Lisboa,<br />
dinaLivro.<br />
VAsconceLos, José Leite de (1928). Opúsculos, Vol. I, Filologia<br />
(parte II), coimbra, Imprensa da universidade.<br />
VAsconceLos, José Leite de (1929). Opúsculos, Vol. IV, Filologia<br />
(parte II), coimbra, Imprensa da universidade.<br />
VerdeLHo, evelina Pereira da silva (1997). «sobre a língua<br />
portuguesa do <strong>século</strong> XVII. estudos realizados e trabalhos em<br />
curso», in Act<strong>as</strong> do XII Encontro da APL, Vol. II, Lisboa, Associação<br />
Portuguesa de Linguística, p.325-339.<br />
VerdeLHo, telmo (1995). As origens da Gramaticografia e da<br />
Lexicografia Lati<strong>no</strong>-portugues<strong>as</strong>, Lisboa, Instituto nacional de<br />
Investigação científica.<br />
VerneY, Luís António (1746). Verdadeiro metodo de estudar, para<br />
ser util à Republica, e à Igreja: proporcionado ao estilo, e necesidade<br />
de Portugal. Exposto em vari<strong>as</strong> cart<strong>as</strong>, escrit<strong>as</strong> pólo R. P. … da<br />
Congreg<strong>as</strong>am de Itália, ao R. P. … Doutor na Universidade de<br />
Coimbra., tomo I e II, Valensa, na oficina de Antonio Balle.<br />
VerneY, Luís António (1949). Verdadeiro método de estudar, edição<br />
organizada por António Salgado Júnior, vol I, Lisboa, sá da costa.<br />
VILeLA, Mário (1992). Gramática de valênci<strong>as</strong>, coimbra, Almedina.<br />
VILeLA, Mário (1999). Gramática da língua portuguesa, coimbra,<br />
Almedina<br />
XAVIer, Ângela Barreto e António Manuel Hespanha (1994). «As<br />
redes clientelares», in José Mattoso (dir.), História de Portugal, quarto<br />
522
volume, O antigo regime (1620-1807), Lisboa, editorial estampa,<br />
381-394.<br />
XAVIer, Maria Francisca e Maria Helena Mira MAteus (orgs.)<br />
(1990). Dicionário de Termos Linguísticos, vol. I, Lisboa, edições<br />
cosmos / Associação de Linguística e Instituto de Linguística teórica<br />
e computacional.<br />
XAVIer, Maria Francisca e Maria Helena Mira MAteus (orgs.)<br />
(1992). Dicionário de Termos Linguísticos, vol. II, Lisboa, edições<br />
cosmos / Associação de Linguística e Instituto de Linguística teórica<br />
e computacional.<br />
ZIMMerMAnn, Francis (1989). «Les théories de la signification»,<br />
in sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques, tome 1, Le<br />
développement de la grammaire occidentale, Liège/Bruxelles, Pierre<br />
Mardaga éditeur, p.401-416.<br />
523