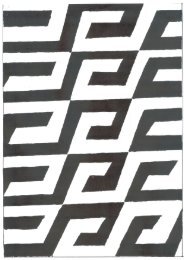UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT MESTRADO EM ...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT MESTRADO EM ...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT MESTRADO EM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>UNIVERSIDADE</strong> <strong>FEDERAL</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong> <strong>–</strong> <strong>UFT</strong><br />
MESTRA<strong>DO</strong> <strong>EM</strong> DESENVOLVIMENTO REGIONAL E<br />
AGRONEGÓCIO <strong>–</strong> MDRA<br />
ERNA AUGUSTA DENZIN SCHULTZ<br />
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO <strong>DO</strong> CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>:<br />
A ESCOLA <strong>DO</strong> CAMPESINATO VERSUS A ESCOLA <strong>DO</strong> AGRONEGÓCIO<br />
PALMAS<br />
2010
ERNA AUGUSTA DENZIN SCHULTZ<br />
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO <strong>DO</strong> CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>: A<br />
ESCOLA <strong>DO</strong> CAMPESINATO VERSUS A ESCOLA <strong>DO</strong> AGRANEGÓCIO<br />
Dissertação de Mestrado apresentada como<br />
requisito parcial para obtenção do título de<br />
Mestre no Programa de Mestrado em<br />
Desenvolvimento Regional e Agronegócio da<br />
Universidade Federal do Tocantins <strong>–</strong> <strong>UFT</strong>, sob<br />
a orientação do prof. Dr. Elizeu Ribeiro Lira.<br />
PALMAS<br />
2010
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)<br />
Biblioteca da Universidade Federal do Tocantins<br />
Campus Universitário de Palmas<br />
S387e Schultz, Erna Augusta Denzin<br />
Educação e desenvolvimento do campo no Estado do Tcantins: a escola do<br />
campesinato versus a escola do agronegócio / Erna Augusta Denzin Schultz. -<br />
Palmas, 2010.<br />
153 f.<br />
Dissertação (Mestrado) <strong>–</strong> Universidade Federal do Tocantins, Curso de<br />
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, 2010.<br />
Orientador: Prof. Dr. Elizeu Ribeiro Lira.<br />
1. Educação do Campo. 2. Campesinato. 3. Desenvolvimento Regional. I.<br />
Título.<br />
CDD 370<br />
Bibliotecário: Paulo Roberto Moreira de Almeida<br />
CRB-2 / 1118<br />
TO<strong>DO</strong>S OS DIREITOS RESERVA<strong>DO</strong>S <strong>–</strong>A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por<br />
qualquer meio deste documento é autorizado desde que citada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei<br />
nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.
ERNA AUGUSTA DENZIN SCHULTZ<br />
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO <strong>DO</strong> CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>:<br />
A ESCOLA <strong>DO</strong> CAMPESINATO VERSUS A ESCOLA <strong>DO</strong> AGRONEGÓCIO<br />
BANCA EXAMINA<strong>DO</strong>RA<br />
Dissertação de Mestrado apresentada como<br />
requisito parcial para obtenção do título de<br />
Mestre no Programa de Mestrado em<br />
Desenvolvimento Regional e Agronegócio<br />
da Universidade Federal do Tocantins <strong>–</strong><br />
<strong>UFT</strong>, sob a orientação do prof. Dr. Elizeu<br />
Ribeiro Lira<br />
___________________________________________________________<br />
Orientador: Prof. Dr. . Elizeu Ribeiro Lira<br />
Universidade Federal do Tocantins <strong>–</strong> <strong>UFT</strong><br />
____________________________________________________________<br />
Prof. Dr. Roberto de Souza Santos<br />
Universidade Federal do Tocantins <strong>–</strong> <strong>UFT</strong><br />
___________________________________________________________<br />
Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira<br />
Universidade de São Paulo <strong>–</strong> USP<br />
PALMAS<br />
2010
Ao meu esposo, Lorival Schultz,<br />
e aos meus filhos Verena e<br />
Martin.
A todos os moradores do<br />
campo, com o desejo de que<br />
nunca parem de lutar pelos seus<br />
direitos, em especial, pelo<br />
direito à educação
AGRADECIMENTOS<br />
A Deus,<br />
por ter me dado a sabedoria que proporcionou aprender sempre.<br />
Ao meu esposo, Lorival Schultz,<br />
por estar ao meu lado em todos os momentos.<br />
Aos meus Filhos Verena e Martin,<br />
por suportarem minha ausência.<br />
Ao querido professor Dr. Elizeu,<br />
que me orientou com paciência e dedicação<br />
A EFA e Canuanã<br />
por gentilmente cederem seus espaços e tempo para a realização desse projeto.<br />
A todos os meus professores,<br />
pelo conhecimento transmitido.<br />
A todos os meus amigos,<br />
por me incentivarem e acreditarem nesse projeto de vida.
RESUMO<br />
SCHULTZ, Erna Augusta Denzin. Educação e desenvolvimento do campo no estado do<br />
Tocantins: a escola do campesinato versus a escola do agronegócio. 2010, 153.<br />
Dissertação de Mestrado do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e<br />
Agronegócio, Universidade Federal do Tocantins <strong>–</strong> <strong>UFT</strong>, Palmas, TO.<br />
O presente trabalho levanta uma discussão sobre o papel da educação no<br />
desenvolvimento do campo no estado do Tocantins. Para isso realizamos uma<br />
investigação em duas escolas rurais do estado, a saber: a Escola de Canuanã e a Escola<br />
Família Agrícola de Porto Nacional. Sabendo que existe uma diferença fundamental entre<br />
educação do campo e educação no campo, procuramos estabelecer qual das duas está<br />
sendo proporcionada aos moradores do campo tocantinense. Por meio das propostas<br />
políticas pedagógicas das escolas em questão investigamos as práticas, comparando-as<br />
com o discurso de cada uma delas no sentido de verificar o papel que exercem sobre o<br />
desenvolvimento do campo. Por fim, com base num conceito de desenvolvimento que<br />
não visa apenas o crescimento econômico, mas sim o bem estar e a melhoria da qualidade<br />
de vida da população, pudemos observar qual das escolas mais se destaca no<br />
cumprimento de seu papel enquanto agente promotor de mudanças e desenvolvimento.<br />
Palavras - chave: Educação do Campo, Campesinato, Desenvolvimento Regional
ABSTRACT<br />
SCHULTZ, Erna Augusta Denzin. Education and field development in the state of<br />
Tocantins, the school's peasantry versus the school of agribusiness. 2010, 153. Thesis of<br />
Master's Program in Regional Development and Agribusiness, Federal University of<br />
Tocantins - <strong>UFT</strong>, Palmas, TO.<br />
The present work raises a discussion about the role of education in developing the rural field in the<br />
state of Tocantins. To this end a research was conducted in two rural schools in the state: the Canuanã<br />
School and the Porto Nacional Family Farm School. Knowing that there is a fundamental difference<br />
between ‘education of the rural field´ and ´education in the rural field´, we intended to establish which<br />
one is being provided to the Tocantins rural fields inhabitants. Through the educational policies of the<br />
schools in question it was possible to investigate their practices, comparing them with the speech of<br />
each school in order to verify the role they have on the agricultural field development. Finally, based<br />
on a development concept that considers not only economic growth but the population welfare and life<br />
quality improvement, we could identify the most prominent school in fulfilling the role of change and<br />
development promoter.<br />
Key Words: Rural Education, Peasantry, Regional Development
LISTA DE ILUSTRAÇÕES<br />
Quadro 1 <strong>–</strong> Plano de estudos praticado pelos jesuítas no Brasil........................................ 22<br />
Mapa 1 <strong>–</strong> Localização de Porto Nacional, TO.................................................................... 79<br />
Mapa 2 - Localização de Formoso do Araguaia, TO.......................................................... 82<br />
Mapa 3 - Posição geográfica do município de Formoso do Araguaia abrangendo a parte<br />
sul da Ilha do Bananal, TO..........................................................................................<br />
83
LISTA DE TABELAS<br />
Tabela 1 - Alunos matriculados (matrícula inicial) nas escolas rurais do município de<br />
Palmas, TO........................................................................................................................<br />
Tabela 2 - Taxa de aprovação nas escolas rurais do município de Palmas,<br />
TO.................................................................................................................................<br />
Tabela 3 - Taxa de abandono nas escolas rurais do município de Palmas, TO................. 76<br />
Tabela 4 - Principais produtos de Lavoura permanente de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins... 80<br />
Tabela 5 - Principais produtos de Lavoura temporária de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins... 80<br />
Tabela 6 - Principais produtos pecuários de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins....................... 80<br />
Tabela 7 - Estabelecimentos de ensino e número de matriculas Educação Básica Porto<br />
Nacional, TO, 2009.......................................................................................................<br />
Tabela 8 - Lavoura permanente de Formoso do Araguaia <strong>–</strong> Tocantins......................... 84<br />
Tabela 9 - Principais produtos de Lavoura temporária de Formoso do Araguaia <strong>–</strong><br />
Tocantins.......................................................................................................................<br />
Tabela 10 - Principais produtos pecuários de Formoso do Araguaia <strong>–</strong> Tocantins........ 84<br />
Tabela 11 - Estabelecimentos de ensino e número de matriculas Educação Básica Porto<br />
Nacional, TO, 2009.......................................................................................................<br />
Tabela 12 - Opiniões dos alunos sobre sua participação nas decisões e nas diversas<br />
atividades extra-classe oferecidas pelas escola <strong>–</strong> Canuanã, 2009..................................<br />
Tabela 13 - Opiniões dos alunos sobre sua participação nas decisões e nas diversas<br />
atividades extra-classe oferecidas pelas escola <strong>–</strong> EFA, 2009.........................................<br />
75<br />
75<br />
81<br />
84<br />
85<br />
117<br />
120
LISTA DE GRÁFICOS<br />
Gráfico 1 <strong>–</strong> PIB Porto Nacional, TO por Setores................................................................ 79<br />
Gráfico 2 - PIB de Formoso do Araguaia por setores da economia.................................... 84<br />
Gráfico 3 - Envolvimento das pessoas que trabalham na escola nas atividades<br />
curriculares e extra-curriculares desenvolvidas <strong>–</strong> EFA....................................................<br />
Gráfico 4 - Envolvimento das pessoas que trabalham na escola nas atividades<br />
curriculares e extra-curriculares desenvolvidas <strong>–</strong> Canuanã.................................................<br />
Gráfico 5 - Atividades que aprende na escola e utiliza no trabalho em casa <strong>–</strong> Canuanã.... 109<br />
Gráfico 6 - Atividades que aprende na escola e utiliza no trabalho em casa <strong>–</strong> EFA........... 109<br />
Gráfico 7 - Conteúdo desenvolvido e suas apropriações reais............................................ 125<br />
Gráfico 8 - Envolvimento das pessoas da comunidade nas atividades extra-curriculares<br />
da escola..............................................................................................................................<br />
Gráfico 9 - Valor que as pessoas da comunidade atribuem à escola................................... 141<br />
Gráfico 10 - Momentos em que a comunidade mais participa das atividades da escola..... 142<br />
Gráfico 11 - Benefícios que a atuação da escola proporcionou à vida dos alunos.............. 142<br />
Gráfico 12 - Organizações que mais contribuem para mudanças e melhorias na<br />
comunidade, em porcentagem............................................................................................<br />
107<br />
108<br />
141<br />
143
LISTA DE SIGLAS<br />
ABCAR <strong>–</strong> Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural<br />
ACAR <strong>–</strong> Associação de Crédito e Assistência Rural<br />
AEAFACOT <strong>–</strong> Associação das Escolas Família Agrícola do Centro Oeste e Tocantins<br />
AIA <strong>–</strong> American International Association<br />
AIMFR <strong>–</strong> Associação Internacional Maisons Familiares Rurales<br />
ATER <strong>–</strong> Assistência Técnica e Extensão Rural<br />
BIRD <strong>–</strong> Banco Internacional para a reconstrução e o Desenvolvimento<br />
CBAR <strong>–</strong> Comissão Brasileira Americana de Educação das Populações Rurais<br />
CEAA <strong>–</strong> Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos<br />
CEB <strong>–</strong> Câmara da Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura<br />
CEE/TO <strong>–</strong> Conselho Estadual de Educação do Estado do Tocantins<br />
CFR <strong>–</strong> Casas Familiares Rurais<br />
CNEA <strong>–</strong> Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo<br />
CNER <strong>–</strong> Campanha Nacional de Educação Rural<br />
COMSAÚDE <strong>–</strong> Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação<br />
CPT <strong>–</strong> Comissão Pastoral da Terra<br />
CTA <strong>–</strong> Centro de Tecnologias Alternativas<br />
DNAV <strong>–</strong> Dia Nacional de Ação Voluntária das Escolas da Fundação Bradesco<br />
EFA <strong>–</strong> Escola Família Agrícola<br />
EJA <strong>–</strong> Educação de Jovens e Adultos<br />
<strong>EM</strong>ATER <strong>–</strong> Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural<br />
<strong>EM</strong>BRATER <strong>–</strong> Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural<br />
EN<strong>EM</strong> <strong>–</strong> Exame Nacional do Ensino Médio<br />
FUNDESCOLA <strong>–</strong> Fundo de Fortalecimento da Escola<br />
GSR <strong>–</strong> Grupo de Saúde Rural<br />
IBGE <strong>–</strong> Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística<br />
INCRA <strong>–</strong> Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária<br />
INEP <strong>–</strong> Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional Anísio Teixeira<br />
LDB <strong>–</strong> Leis de Diretrizes e Bases<br />
LDBN <strong>–</strong> Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional<br />
LOEA <strong>–</strong> Lei Orgânica do Ensino Agrícola
MAIC <strong>–</strong> Ministério da Agricultura Indústria e Comércio<br />
MEC <strong>–</strong> Ministério da Educação e Cultura<br />
MEPES <strong>–</strong> Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo<br />
MST <strong>–</strong> Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra<br />
OAS <strong>–</strong> Orientação Afetivo Sexual<br />
PEACAN <strong>–</strong> Programa de Educação Ambiental de Canuanã<br />
PEE <strong>–</strong> Plano Estadual de Educação<br />
PIB <strong>–</strong> Produto Interno Bruto<br />
PIPMOA <strong>–</strong> Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Agrícola<br />
PNE <strong>–</strong> Plano Nacional de Educação<br />
PPP <strong>–</strong> Projeto Político Pedagógico<br />
PRODAC <strong>–</strong> Programa Diversificado de Ação Comunitária<br />
PROJOV<strong>EM</strong> <strong>–</strong> Programa Nacional de Inclusão de Jovens<br />
PROLARE <strong>–</strong> Programa de Lazer e Recreação da Escola de Canuanã<br />
PRONERA <strong>–</strong> Programa Nacional de Educação nas Áreas de reforma Agrária<br />
RMAIC <strong>–</strong> Relatório do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio<br />
SBPC <strong>–</strong> Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência<br />
SEDUC <strong>–</strong> Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins<br />
S<strong>EM</strong>EC <strong>–</strong> Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Palmas, TO<br />
SENAC <strong>–</strong> Serviço Nacional do Comércio<br />
SENAI <strong>–</strong> Serviço Nacional da Indústria<br />
SENAR <strong>–</strong> Serviço Nacional de Formação Profissional Rural<br />
SIDRA <strong>–</strong> Sistema IBGE de Recuperação Automática<br />
SSR <strong>–</strong> Serviço Social Rural<br />
SUDENE <strong>–</strong> Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste<br />
SUDSUL- Superintendência da Região Sul<br />
UNEFAB <strong>–</strong> União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil<br />
UNESCO <strong>–</strong> Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura<br />
UNITINS <strong>–</strong> Fundação Universidade do Tocantins<br />
USDA <strong>–</strong> United States Department of Agriculture <strong>–</strong> Departamento de Agricultura dos Estados<br />
Unidos da América<br />
ZAP <strong>–</strong> Zona de Atendimento Prioritária do Programa Escola Ativa
SUMÁRIO<br />
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15<br />
CAPÍTULO I AS PROPOSTAS NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO NO CAMPO:<br />
UMA VISÃO TEÓRICA ....................................................................................................... 19<br />
1.1 Histórico da Educação no Campo no Brasil .............................................................. 19<br />
1.1.1 O processo histórico de uma classe social esquecida ......................................... 20<br />
1.1.2 Educação no Campo: sua construção através da história ................................... 33<br />
1.2 Educação no Campo: uma análise sobre as teorias e métodos ....................................... 38<br />
1.2.1 O Aprendizado Agrícola e o Patronato Agrícola ............................................... 40<br />
1.2.2 O Ruralismo Pedagógico no campo brasileiro ................................................... 41<br />
1.2.3 A Extensão Rural no Brasil ................................................................................ 43<br />
1.2.4 O Decreto-Lei n 0. 9613 de 20 de agosto de 1946 <strong>–</strong> Lei Orgânica do Ensino<br />
Agrícola ............................................................................................................................ 47<br />
1.2.5 Movimento de Educação de Base no campo brasilerio ...................................... 49<br />
1.2.6 As práticas pedagógicas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -<br />
MST ............................................................................................................................ 50<br />
1.2.7 A Pedagogia da Alternância ............................................................................... 51<br />
1.3 As atuais Diretrizes Nacionais para a Educação no Campo ........................................... 53<br />
1.4 Educação do campo ou no campo? O respeito às particularidades rurais ................. 59<br />
CAPÍTULO II EDUCAÇÃO NO CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>: HISTÓRIA<br />
E DESENVOLVIMENTO ..................................................................................................... 63<br />
2.1 A história da Educação no Campo no Estado do Tocantins ...................................... 63<br />
2.2 A proposta da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins ................ 66<br />
2.3 As Contradições das Propostas Nacionais e Estaduais para a Educação no Campo. 71<br />
2.4 Realidades e Complexidades da Educação no Campo no Tocantins ......................... 74<br />
CAPÍTULO III PROJETO E REALIDADE: (IN)COMPATIBILIDADE DE<br />
IDEIAS? ............................................................................................................................. 79<br />
3.1 As propostas político-pedagógicas da Escola Família Agrícola de Porto Nacional ....... 87<br />
3.1.1 Escola Família Agrícola <strong>–</strong> EFA <strong>–</strong> Porto Nacional <strong>–</strong> Um breve histórico ........... 88<br />
3.1.2 A proposta pedagógica da Escola Família Agrícola de Porto Nacional ............. 89<br />
3.1.3 A proposta política da Escola Família Agrícola de Porto Nacional ................... 96<br />
3.2 As propostas político-pedagógicas da Escola de Canuanã <strong>–</strong> Formoso do Araguaia <strong>–</strong><br />
TO ................................................................................................................................... 98<br />
3.2.1 A proposta Pedagógica da Escola de Canuanã ................................................. 100
3.2.2 A proposta política da Escola de Canuanã ....................................................... 104<br />
3.3 Igualdades e Diversidades dos Processos Educacionais nas escolas rurais EFA e<br />
Canuanã .............................................................................................................................. 105<br />
3.4 O discurso e a práxis no cotidiano da escola ........................................................... 111<br />
CAPÍTULO IV EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO <strong>DO</strong> CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong><br />
<strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>: UMA REALIDADE POSSÍVEL? ...................................................... 123<br />
4.1 A Educação no Campo e o processo de (re)construção da identidade camponesa .. 123<br />
4.2 Educação e caráter social do trabalho camponês ..................................................... 130<br />
4.3 Educação e autonomia no campo: utopia ou realidade? .......................................... 134<br />
4.4 As escolas e sua contribuição para o desenvolvimento do campo no Estado do<br />
Tocantins ............................................................................................................................ 137<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 146<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 149
INTRODUÇÃO<br />
Estudar educação, em especial educação do campo, não é tarefa fácil. A diversidade<br />
dos sujeitos, as especificidades sociais, políticas e econômicas, além das diferenças étnicas e<br />
raciais presentes no campo brasileiro fazem deste tema um algo bastante complexo. Mais<br />
difícil ainda é a compreensão sobre a relação de educação com o processo de<br />
desenvolvimento do campo.<br />
Por razões históricas do processo de desenvolvimento do capitalismo no mundo, o<br />
modo de vida urbano sempre foi mais valorizado que o modo de vida do campo e sempre foi<br />
passada a imagem de que tudo o que é urbano é “desenvolvido” enquanto que tudo o que é do<br />
campo é “atrasado”.<br />
Modificar essa realidade, tendo como parte do processo de mudanças o sistema<br />
educacional, seja ele formal ou informal, é um grande desafio para aqueles que desejam uma<br />
sociedade com oportunidades iguais para todos. Dessa forma os movimentos sociais atuam<br />
muito bem no sentido de proporcionar ao homem do campo uma educação diferenciada, que<br />
atenda às suas necessidades e não reproduza a lógica capitalista de produção agrícola que<br />
valoriza muito mais o ter em detrimento do ser.<br />
Nas discussões em torno desse tema, mais especificamente a partir da década de 1990,<br />
aparecem dois conceitos para tratar de educação do homem do campo: a educação no campo e<br />
a educação do campo. Com diferenças aparentemente imperceptíveis, esses conceitos<br />
carregam em suas raízes epistemológicas diferenças fundamentais para a concepção e<br />
realização de ações educativas voltadas especificamente ao homem do campo.<br />
Desenvolver um programa de educação no campo não requer, necessariamente, um<br />
compromisso com o desenvolvimento do campo no sentido de valorizar o seu modo de vida, o<br />
seu modo de ser e o seu modo de produzir. Portanto, nessa proposta, busca somente dar ao<br />
homem do campo uma educação científica, totalmente desvinculada de sua realidade, e que<br />
apenas contribui para o aumento de um conhecimento científico transmitido com vistas à<br />
perpetuação das relações sociais dominantes.<br />
Já a educação do campo, ao contrário, busca desenvolver uma proposta pedagógica<br />
baseada nas concepções de valorizar o modo de ser e a identidade camponesa, pautados num<br />
conceito construído pelos movimentos sociais, a partir das lutas pela posse da terra e pelo<br />
reconhecimento dos seus direitos como classe social que é.<br />
Muito embora mudanças tenham ocorrido, o que ainda se percebe, ao analisar os<br />
15
currículos e as atividades desenvolvidas em escolas do campo, é que a educação escolar ali<br />
praticada é apenas uma reprodução da educação escolar urbana.<br />
Diante desse quadro, ficou a inquietação de como está acontecendo a educação do<br />
campo no estado do Tocantins, tarefa a que se dispõe investigar o presente trabalho. Para<br />
realizar tal investigação, propomos como objetivo geral analisar o papel da educação no<br />
desenvolvimento do campo no estado do Tocantins, a partir das propostas educacionais da<br />
Escola Família Agrícola, em Porto Nacional e da Escola de Canuanã em Formoso do<br />
Araguaia, estado do Tocantins.<br />
Para cumprir com esse objetivo foi necessário analisar as propostas de Educação do<br />
Campo no estado do Tocantins; compará-las com as propostas nacionais; analisar os projetos<br />
político-pedagógicos das escolas Família Agrícola (Porto Nacional) e Canuanã (Formoso do<br />
Araguaia), com vistas à identificação do seu comprometimento com a formação e<br />
desenvolvimento do campo, bem como investigar a compreensão da comunidade em relação<br />
às questões do campo e à preparação dos jovens para o exercício da cidadania.<br />
Para alcançar tais objetivos, fez-se necessário a escolha de um método de trabalho, o<br />
qual permitiu analisar de forma científica o objeto de pesquisa em questão. Dessa maneira, de<br />
todas as possibilidades de Método, optou-se para a realização do presente trabalho pelo<br />
Método Dialético, pois como afirma Demo (1995):<br />
Consideramos a dialética a metodologia mais conveniente para a realidade social,<br />
[...] dizíamos que entre as realidades natural e social há diferença suficiente, não<br />
estanque. Entretanto, para além das condições objetivas, a realidade social é movida<br />
igualmente por condições subjetivas, que não são nem maiores, nem menores.<br />
(D<strong>EM</strong>O, 1995, p 88).<br />
Fundamentado nas análises dialéticas em que “as contradições se transcendem dando<br />
origem a novas contradições” e “considera que os fatos não podem ser considerados fora de<br />
um contexto social, político e econômico” (MORESI, 2004), o método dialético tornou-se<br />
adequado para análise da realidade desse trabalho, pois o mesmo buscou analisar as relações<br />
contraditórias existentes entre o discurso e as práticas educacionais no campo, bem como a<br />
dicotomia urbano-rural em uma sociedade que vive um determinado contexto social, político<br />
cultural e econômico. Frantz (2006), em trabalho semelhante, afirma que a dialética se aplica<br />
a esse tipo de trabalho porque:<br />
[...] possibilita problematizar com maior perspicácia a relação entre sujeito e objeto,<br />
superando as posições estanques e estereotipadas ligadas a visões estáticas da<br />
objetividade e da neutralidade. Além disso, a dialética vê entre dois lados opostos<br />
uma polarização dinâmica, que faz do conhecimento um processo, não uma<br />
descrição ou um retrato, faz do conhecimento uma expressão criativa, não um<br />
ajuntamento mecânico e justaposto de argumentos. (FRANTZ, 2006, p.17)<br />
16
Nesse contexto, para entender o papel da educação no desenvolvimento do campo é<br />
preciso estudá-lo em todas as suas relações, aspectos e conexões, pois como afirma Frantz,<br />
“para conhecer realmente um problema é preciso estudá-lo em todos os seus aspectos, em<br />
todas as suas relações e em todas as suas conexões, pois tudo é visto em constante mudança,<br />
sempre há algo que nasce e se desenvolve e há algo que se desagrega e se transforma”.<br />
(FRANTZ, 2006, p.17).<br />
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esse trabalho é uma pesquisa<br />
qualitativa, pois “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto<br />
é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode<br />
ser traduzido em números.” (SILVA; MENEZES, 2001. p. 20). Entretanto, apesar de não<br />
considerar que “tudo pode ser quantificável” e traduzido em números, alguns aspectos da<br />
pesquisa foram baseados em dados quantitativos relativos a gráficos, tabelas e quadros<br />
produzidos por institutos de pesquisa conhecidos no país, bem como pelo resultado obtido na<br />
pesquisa realizada junto à comunidade escolar.<br />
Do ponto de vista dos procedimentos, para a pesquisa bibliográfica foi levantado e<br />
organizado um conjunto de literaturas teóricas sobre o qual construímos e balizamos um<br />
referencial teórico. Os trabalhos de campo basearam-se em levantamento documental nas<br />
duas escolas, aplicação de questionário junto ao corpo discente e entrevistas organizadas junto<br />
ao corpo docente das referidas unidades escolares.<br />
A presente pesquisa foi realizada em duas escolas rurais do estado do Tocantins. Uma<br />
delas de natureza pública, a saber, a Escola Família Agrícola, de Porto Nacional e outra de<br />
natureza privada, a Escola de Canuanã em Formoso do Araguaia. No universo da pesquisa foi<br />
fundamental a participação dos professores, diretores e alunos do ensino médio matriculados<br />
em 2009 nas duas escolas. Estas escolas foram escolhidas por representarem as esferas<br />
pública e privada na educação do campo no estado do Tocantins, levando-se em consideração<br />
também o fato de oferecerem cursos profissionalizantes. Dados secundários foram levantados<br />
junto aos órgãos públicos ligados direta ou indiretamente à temática da educação do campo.<br />
Foi realizada pesquisa documental junto à Secretaria Estadual de Educação <strong>–</strong> SEDUC,<br />
e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Palmas, S<strong>EM</strong>EC, com o objetivo de<br />
analisar os documentos que direcionam as políticas de Educação do Campo para o estado.<br />
Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto às autoridades com o intuito de<br />
observar as visões e as análises comparativas entre as propostas estaduais e nacionais de<br />
Educação no Campo, bem como várias consultas às diretrizes nacionais, disponibilizadas no<br />
site do Ministério da Educação e Cultura <strong>–</strong> MEC, além de consulta aos documentos<br />
17
disponibilizados na página on line da Secretaria De Educação e Cultura do Estado do<br />
Tocantins <strong>–</strong> SEDUC.<br />
Para a análise dos projetos pedagógicos, foram utilizados os Projetos Políticos<br />
Pedagógicos <strong>–</strong> PPP <strong>–</strong> das duas escolas, além de entrevistas juntos aos professores. O conteúdo<br />
das entrevistas teve como tema a relação entre as práticas observadas e teoria exposta nos<br />
documentos.<br />
Para investigar a compreensão da comunidade, no que se refere às práticas escolares<br />
no desenvolvimento do campo, foi aplicado um questionário junto a todos os alunos do<br />
Ensino Médio das duas escolas. O questionário utilizado na pesquisa foi adaptado do<br />
questionário elaborado por Frantz (2006).<br />
Por meio desses procedimentos e a partir da análise dos dados obtidos, elaborou-se o<br />
presente texto no qual cada capítulo colabora para alcançar os objetivos propostos.<br />
O Capítulo I apresenta um relato histórico da educação e da educação do campo no<br />
Brasil e tem como objetivo apresentar o processo histórico político e social que fizeram com<br />
que uma classe social fosse excluída do processo de desenvolvimento nacional. Apresenta,<br />
também, as propostas para a educação do campo, surgida a partir da luta dos movimentos<br />
sociais.<br />
O Capítulo II relata como se deu o desenvolvimento da educação no estado do<br />
Tocantins, além de apresentar as propostas estaduais para a educação do campo e compará-las<br />
com as propostas nacionais.<br />
O Capítulo III analisa as propostas educacionais da Escola Família Agrícola de Porto<br />
Nacional e da Escola de Canuanã, apresentando aspectos do conteúdo dos Projetos Políticos<br />
Pedagógicos de cada escola para os quais se faz uma análise de como as mesmas contribuem<br />
para uma educação do campo, observando os conceitos de modo de vida camponesa e modo<br />
de produção capitalista no campo.<br />
O Capítulo IV pretende chamar a atenção para o tipo de educação e de<br />
desenvolvimento estão propostos para o campo tocantinense. Nesse sentido, procura retratar<br />
aspectos da vida do camponês relacionando-as ao tipo de educação e desenvolvimento e como<br />
o sistema educacional propõe oportunidades iguais para os cidadãos tocantinenses,<br />
independentemente de estarem na cidade ou no campo.<br />
Nas Considerações Finais faz-se uma retomada dos temas, enfatizando os resultados<br />
obtidos na pesquisa de campo.<br />
18
CAPÍTULO I<br />
AS PROPOSTAS NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO NO CAMPO: UMA VISÃO<br />
TEÓRICA<br />
1.1 Histórico da Educação no Campo no Brasil<br />
Educação e sociedade são indissociáveis. Portanto, para compreender a história<br />
recente da educação no campo no Brasil é necessário entender as bases históricas da educação<br />
na sociedade brasileira.<br />
A sociedade brasileira foi formada sob a influência do pensamento colonizador<br />
português, o qual via em suas colônias um “mero ‘instrumento’ de seus próprios interesses”<br />
(COTRIM, 1987 p. 256). Cotrim afirma que não era intenção dos portugueses fazer de suas<br />
colônias nações independentes, mas sim ampliar o Império de Portugal através da conquistas<br />
e exploração dos “novos” mundos.<br />
Os portugueses, fundamentados nas ideias mercantilistas de produção/exploração para<br />
o mercado, iniciaram no Brasil um processo de depredação para a produção em grande escala<br />
(ZOTTI, 2004). Nesse mesmo pensamento, ao se esgotarem as explorações dos recursos<br />
naturais, houve a necessidade de garantir a posse da terra que era muito lucrativa para o<br />
processo mercantilista português. Como solução, deu-se início no Brasil à agromanufatura<br />
açucareira e a formação de grandes fazendas para a plantação da cana-de-açúcar.<br />
Dessa forma, podemos afirmar que a sociedade brasileira tem sua formação e<br />
desenvolvimento no campo. Seja pela exploração das riquezas naturais ou pela formação dos<br />
engenhos de açúcar, o processo de ocupação do território, bem como as raízes da organização<br />
social do Brasil, foi essencialmente pelo campo. Speyer (1983) ao citar Diégues escreve da<br />
seguinte maneira:<br />
[...] no meio rural se formou a nossa sociedade;no meio rural se verificaram as<br />
primeiras relações entre os grupos que formavam nossas populações; no meio rural<br />
se encontram as raízes de nossa organização social. [...] Constitui assim a ‘fazenda’<br />
o elemento básico da implantação da cultura portuguesa no Brasil. (DIEGUES apud<br />
SPEYER, 1983. p 19)<br />
O processo de ocupação das terras brasileiras, baseado nas ideias mercantilistas, deu<br />
origem a uma economia pautada na grande propriedade e na mão-de-obra escrava,<br />
19
influenciando o sistema de produção, a vida social e o sistema de poder. Eram os aristocratas<br />
quem detinham a propriedade da terra, e aos escravos, primeiro indígenas e depois os negros,<br />
cabia o cultivo e o trabalho pesado. Assim, foi no contexto de dominação metrópole-colônia e<br />
de uma sociedade latifundiária e escravocrata que chegou ao Brasil os primeiros educadores: a<br />
Ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus.<br />
1.1.1 O processo histórico de uma classe social esquecida<br />
Os padres Jesuítas chegaram no país em 1549 e durante os dois primeiros séculos de<br />
colonização foram os únicos responsáveis pelo desenvolvimento da educação no Brasil.<br />
Entretanto, o principal objetivo dos jesuítas era o de propagar a fé católica e recrutar<br />
sacerdotes, e a educação por eles praticada buscava atingir tais objetivos.<br />
De acordo com Zotti (2004), os primeiros anos da educação jesuítica foram<br />
comandados pelo padre Manuel da Nóbrega. A política educacional de Nóbrega, consonante<br />
com o dos jesuítas, visava formar adeptos do catolicismo e aculturar os indígenas e, por isso,<br />
era necessário manter um espaço de convivência entre as etnias para que se pudesse<br />
disseminar os “valores espirituais e morais da civilização ocidental e cristã” (ZOTTI, 2004, p.<br />
16). Dessa maneira, sob o comando de Nóbrega, a educação teve um caráter democrático<br />
sendo destinada aos indígenas, mamelucos, órfãos e filhos dos colonos brancos.<br />
O plano de estudos elaborado por Nóbrega procurava atender aos diversos interesses.<br />
Aprendia-se a falar o português, a ler e a escrever bem como a doutrina cristã, compondo a<br />
educação primária. Como opcional e também como forma de atrair alunos para a escola,<br />
fazendo com que os mesmos gostassem dela, eram ministradas aulas de música.<br />
Numa segunda etapa educacional, àqueles que se destacavam eram ministradas aulas<br />
de gramática latina com vistas à continuidade dos estudos na Europa e aos demais, era<br />
oferecida a aprendizagem profissional e agrícola. Entretanto, inicialmente não havia a<br />
intenção de se praticar uma educação dual, como afirma Ribeiro:<br />
Não tinha inicialmente, de modo explícito, a intenção de fazer com que o ensino<br />
profissional atendesse à população indígena e o outro à população ‘branca’<br />
exclusivamente.[...] Mas como cedo se perceberam a não adequação do índio para a<br />
formação sacerdotal católica, esta percepção não deve ter deixado de exercer<br />
influência na proposição de um ensino profissional e agrícola, ensino este que<br />
parecia a Nóbrega imprescindível para formar pessoal capacitado em outras funções<br />
essenciais à vida da colônia.(RIBEIRO, 2001, p 22).<br />
20
Nota-se que na fase elementar, a educação dada aos pequenos índios era a mesma dada<br />
aos filhos dos colonos. Aqueles que não seguiriam a carreira religiosa eram encaminhados<br />
para Coimbra, a fim de terminarem os estudos.<br />
O pensamento educacional de Nóbrega busca aliar as Humanidades com a educação<br />
prática, assim também era possível formar pessoas para atender às necessidades da colônia.<br />
Entretanto, esse plano educacional começa a enfrentar resistência por parte dos<br />
jesuítas e, com a morte de Nóbrega, passa a vigorar um novo método de estudos, do qual foi<br />
excluído o ensino do português, da música e das atividades agrícolas. Era o Ratio Studiorum.<br />
Esse novo conteúdo transmitido pelos padres era caracterizado por uma:<br />
[...] enérgica reação ao pensamento crítico,[...] por um apego a formas dogmáticas<br />
de pensamento, [...] pela reafirmação da autoridade [..] pela prática de exercícios<br />
intelectuais com a finalidade de robustecer a memória e capacitar o raciocínio para<br />
fazer comentários de textos (ROMANELLI, 2002 p.34).<br />
Segundo Cotrim (1987), o Ratio Studiorum se baseava em cinco princípios, a saber, o<br />
mestre primeiramente deveria explicar aquilo que deveria ser aprendido. Esse conteúdo<br />
aprendido também era colocado em debate para estimular a competição entre os alunos. Cada<br />
aluno tinha um rival que deveria denunciar qualquer falha do seu oponente. Os alunos<br />
deveriam produzir textos sobre os grandes temas do ensino, mas esses textos não<br />
desenvolviam a criatividade dos alunos, uma vez que deveriam ser produzidos com base em<br />
conteúdos memorizados e imitando estilos de textos já desenvolvidos e considerados corretos.<br />
Portanto, nesse modelo, fica claro o caráter reprodutor e não criativo da educação.<br />
Nesse contexto, o ensino praticado pelos padres jesuítas, nessa segunda fase, nada<br />
tinha em comum com o dia-a-dia dos educandos. O conteúdo abrangia o estudo das línguas<br />
latina e grega, além de filosofia e teologia. Era uma educação impregnada da cultura medieval<br />
europeia e dominada pela igreja, que visava tão somente formar letrados e eruditos e aos<br />
índios apenas catequizar.<br />
período:<br />
Cotrim apresenta os seguintes aspectos para a educação praticada pelos jesuítas nesse<br />
[...] as mulheres ficavam afastadas do processo educacional sistemático. Aprendiam<br />
apenas os afazeres do serviço doméstico e as regras de boas maneiras;<br />
[...] a educação necessária ao trabalho produtivo (agricultura e, posteriormente a<br />
mineração) era aprendida de forma assistemática, no convívio prático dos mais<br />
novos com os mais velhos;<br />
[...] nos estabelecimentos de ensino jesuítas, a elite colonial recebia uma educação<br />
avessa ao desenvolvimento do espírito científico, inspirada em valores medievais,<br />
uma educação que tinha um objetivo máximo de formar pessoas para o sacerdócio<br />
ou, então, prepará-las para o curso jurídico superior, geralmente na Universidade de<br />
Coimbra. (COTRIM, 1987, p. 260).<br />
21
Segundo a educação jesuítica após Nóbrega estava divida em três etapas, a saber:<br />
a educação elementar destinada à população indígena e branca em geral, desde<br />
que do sexo masculino;<br />
religiosa.<br />
a educação média para os homens da classe dominante;<br />
a educação superior religiosa destinada àqueles que seguiriam a carreira<br />
Assim, vê-se que o ensino profissional e agrícola, os quais Nóbrega considerava<br />
imprescindíveis para o desenvolvimento da colônia, foi excluído e, a partir de então, fica claro<br />
que, além de catequizar, estava explícito o objetivo de educar a elite para a manutenção do<br />
estado de dominação existente.<br />
Pela ilustração 01 pode-se perceber a diferença entre os dois planos de ensino: o de<br />
Nóbrega e o Ratio Studiorum, ministrado pelos jesuítas após a morte de Nóbrega.<br />
Quadro 01 <strong>–</strong> Plano de estudos praticado pelos jesuítas no Brasil<br />
canto<br />
orfeônico<br />
aprendizado do português<br />
Aprendizado<br />
profissional e agrícola<br />
de Nóbrega<br />
doutrina cristã<br />
escola de ler e escrever<br />
música<br />
instrumental<br />
gramática<br />
latina<br />
viagem à Europa<br />
Plano de Estudos<br />
dos jesuítas a<br />
partir de 1570<br />
curso de humanidades<br />
curso de filosofia<br />
curso de Teologia<br />
viagem à Europa<br />
Fonte: RIBEIRO, Maria Luiza Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 17. ed.<br />
rev e ampl. Campinas: Autores Associados, 2001. p.23.<br />
Assim, segundo esse novo sistema de ensino, estava sendo formada a elite agrária na<br />
sociedade colonial. Afastada do pensar crítico, bem como distanciada da prática das<br />
atividades diárias, aqueles que iriam compor a classe dirigente eram, por assim dizer,<br />
treinados para manter uma estrutura de poder e de classe que distanciava cada vez mais<br />
22
aqueles que pensam (filhos dos colonos) daqueles que fazem (negros, indígenas e mestiços).<br />
Incentivando o “privilegiamento do trabalho intelectual em detrimento do manual”,<br />
(COTRIM, 1987. p 260) nutria-se a ideia de que se deveria copiar o modelo da metrópole,<br />
pois lá estava a civilização. Vejamos o que diz Speyer:<br />
A consequência mais clara dessa opção é que a educação brasileira, nos primeiros<br />
séculos, foi ‘amordaçada por colonialismo empobrecedor’ e, por tabela, ‘a nossa<br />
cultura foi uma cultura reflexa, uma cultura transplantada de centros mais<br />
desenvolvidos’. (SPEYER, 1983, p. 63).<br />
Com a nomeação do Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal e a<br />
expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses, tem início uma nova fase da educação, tanto<br />
em Portugal como no Brasil.<br />
Influenciado pelas ideias iluministas, Pombal deu início a um conjunto de reformas<br />
que pretendiam inserir Portugal e seus domínios em um mundo moderno.<br />
No que se refere à educação, criou o cargo de diretor geral dos estudos. A partir de<br />
então, não era mais possível lecionar sem licença.<br />
Pombal pretendia “simplificar e abreviar os estudos; [...] propiciar o aprimoramento da<br />
língua portuguesa; diversificar o conteúdo, incluindo o de natureza científica” (RIBERO,<br />
2001 p 33). Instituiu as aulas régias, que nada mais eram além de aulas avulsas de latim,<br />
grego, filosofia e retórica. Com essa atitude, Pombal pretendia tornar o conteúdo das escolas<br />
mais prático e utilitário, além de fomentar um maior interesse ao ensino superior.<br />
Entretanto, como diz Ribeiro “as transformações ocorridas no nível secundário não<br />
afetam, como não poderia deixar de ser, o fundamental. O ensino permaneceu desvinculado<br />
dos assuntos e problemas da realidade imediata. O modelo continuou sendo o exterior<br />
‘civilizado’ a ser imitado” (RIBEIRO, 2001, p. 35).<br />
Nesse contexto, as mudanças que deveriam servir para oportunizar melhorias<br />
acabaram por piorar ainda mais a situação educacional da colônia. O que se seguiu foi uma<br />
completa desintegração do sistema de ensino, tornando-se precário e irregular, sendo<br />
ministrados em sua maioria por leigos. Não produziu os efeitos práticos desejados, mas fez<br />
nascer um ensino público financiado pelo Estado para atender aos seus interesses, conforme<br />
afirma Romanelli:<br />
O ensino [...] orientou-se para os mesmos objetivos [...] e se realizou com os<br />
mesmos métodos pedagógicos, com apelo à autoridade e à disciplina estreita, [...]<br />
tendendo a abafar a originalidade, a iniciativa e a força criadora individual, para pôr<br />
em seu lugar a submissão, o respeito à autoridade e a escravidão aos modelos<br />
antigos.( ROMANELLI, 2002, p.36,37).<br />
23
O que se pode afirmar, com relação a esse período, é que foi um grande atraso para a<br />
educação no Brasil, pois o maior objetivo das reformas implementadas por Pombal<br />
seguramente não eram para melhorar a situação da colônia, mas para inserir definitivamente o<br />
Brasil no mundo capitalista, que emergia e reafirmava a posição da colônia como submissa à<br />
metrópole. Para atingir tais objetivos, ou seja, tornar a elite colonial “mais eficiente em sua<br />
função articuladora das atividades internas e dos interesses da camada dominante portuguesa”<br />
(RIBEIRO, 2001, p. 35) era necessário educar a elite colonial nos modelos de dominação.<br />
Entretanto, essa situação de estagnação começa a mudar com a vinda da família real<br />
portuguesa para o Brasil.<br />
Apesar de ainda continuar a ter importância secundária, algumas mudanças se fizeram<br />
notar, tanto na esfera econômica quanto na cultural. Cotrim (1987) lista uma série de eventos<br />
que contribuíram para o desenvolvimento cultural e da educação no Brasil, a saber: a<br />
fundação da Imprensa Régia; a criação da Biblioteca Pública, do Jardim Botânico e do Museu<br />
Nacional; e o nascimento do ensino superior não-teológico com a criação da Academia Real<br />
da Marinha e Academia Real Militar (que futuramente se tornou a Escola Politécnica), e dos<br />
seguintes cursos: Direito, Cirurgia e Anatomia, Economia, Agricultura, Química, Desenho<br />
Técnico e da Academia de Belas Artes.<br />
Apesar de o ensino superior brasileiro ter surgido com a “preocupação basicamente<br />
profissionalizante”, havia um aspecto positivo: “o de terem surgido de necessidades reais do<br />
Brasil, coisa que pela primeira vez ocorria” (RIBERO, 2001, p. 42).<br />
Porém, enquanto nascia o ensino superior, ficava completamente abandonado pelo<br />
Estado os ensinos primário e secundário, fazendo da população em geral uma sociedade de<br />
analfabetos. Assim, com a criação desses cursos superiores, a educação passa a se firmar<br />
como uma educação de elite aristocrática e nobre e é nesse contexto que se firmam as bases<br />
para a educação, que será praticada também no período Imperial: ensino primário, secundário<br />
e superior.<br />
Há que se fazer uma pausa para esclarecer alguns pontos sobre a sociedade imperial. É<br />
preciso deixar claro que, apesar de o Brasil ter conquistado sua independência política, isso<br />
não significou o rompimento efetivo com as condições do passado. Não ocorreu aqui uma<br />
“libertação nacional visando a emancipação do povo”, mas “em nada modificou a situação<br />
das classes dominantes do país, que continuaram desfrutando dos mesmos privilégios sociais<br />
e influindo sobre o poder político” (COTRIM, 1987, p. 270).<br />
Sem nenhuma alteração na ordem social-econômica do ponto de vista do modelo de<br />
dominação, mantendo uma sociedade aristocrática e escravocrata, imperava o sentimento de<br />
24
que a “prática do trabalho era algo indigno e degradante, coisa própria para escravos”. O<br />
homem livre não deveria “sujar as mãos”, mas sim:<br />
[...] dedicar-se à atividade intelectual que seria tanto mais valorizada quanto mais se<br />
distanciasse da atividade concreta de garantir a imediata sobrevivência material.<br />
Desse modo, por exemplo, o trabalho do administrador da produção, do engenheiro<br />
e mesmo do médico era considerado menos nobre que o trabalho do político, do<br />
advogado, do jornalista; enfim, dos profissionais que, ‘cultivando o espírito’,<br />
trabalhavam com ideias, teses e filosofias. (COTRIM, 1987, p. 270 - 271).<br />
Nesse contexto, não havia muita necessidade de preocupação com a educação popular<br />
(leia-se aqui “da classe trabalhadora”), sendo privilegiado o ensino àqueles que tinham tempo<br />
ocioso. Por essa razão, há ênfase no ensino superior, caindo no esquecimento as fases<br />
anteriores de educação.<br />
Como diz Cotrim (1987, p. 273) “prova do descaso das autoridades pelo ensino<br />
primário foi a adoção do método lancasteriano”. Por esse método, apenas um professor<br />
preparava um grupo seleto de dez alunos. Esses dez eram encarregados de repassar o<br />
conteúdo para uma classe de cinqüenta colegas, vigiados por um supervisor. Por seus<br />
resultados desastrosos, foi logo abolido na Inglaterra, local onde surgiu. Porém, no Brasil,<br />
vigorou durante quinze anos.<br />
Entretanto, Faria Filho (2000) afirma que, apesar desse esquecimento da educação<br />
primária e secundária, em muitas Províncias havia uma grande preocupação com a educação<br />
das classes mais baixas da população. Eram discutidas questões como: a necessidade de se<br />
educar negros e índios e de ampliar a educação para a maior parte da população. Essa<br />
discussão se dá porque a Constituição de 1824 assegura direitos civis apenas aos brancos (não<br />
aos índios e escravos) e direitos públicos aos brancos com renda mínima de 100 mil reis<br />
anuais. (FRANTZ, 2006). Nota-se, novamente, a força de uma sociedade voltada apenas a<br />
manter o status quo de “classe senhorial resguardando seus direitos segundo a ótica da<br />
preservação da ordem social escravista estabelecida e a ordem política liberal-<br />
constitucionalista.” (FRANTZ, 2006, p 23).<br />
Muitas foram as discussões, os projetos e os decretos para normatizar a educação<br />
como uma obrigatoriedade do Estado para educação popular até que em 15 de outubro de<br />
1827, é sancionada a primeira Lei para dirigir o processo educacional. Em seu artigo primeiro<br />
dizia que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, deveria haver as escolas de<br />
primeiras letras que fossem necessárias. Os defensores da educação popular consideraram<br />
essa lei uma grande vitória, pois os mesmos insistiam sempre que “instruir as ‘classes<br />
inferiores’ era tarefa fundamental do Estado brasileiro” e que somente a instrução “poderia<br />
25
arregimentar o povo para o projeto de um país independente, criando também condições para<br />
uma participação controlada na definição dos destinos do país”. (FARIA FILHO, 2000, p<br />
137).<br />
Entretanto, o que deveria ser comemorado como vitória, segundo Speyer (1983) foi:<br />
[...] apenas um discurso em que o governo se dizia preocupado com a educação<br />
popular: na prática o Decreto não saiu do papel e foi posteriormente engavetado e<br />
esquecido. [...] Apesar das afirmações em contrário, as classes dominantes não<br />
tinham qualquer interesse em proporcionar uma educação de base para toda a<br />
população (...) A ausência de educação escolar para toda a população não era apenas<br />
fruto, mas antes uma condição essencial para nosso desenvolvimento.(QUEDA apud<br />
SPEYER, 1983, p. 64 - 65).<br />
Pelo Decreto de 1827, a educação, em seus três níveis, era de responsabilidade do<br />
governo Federal, porém, em 1834, pelo Ato Adicional à Constituição do Império, passa a ser<br />
das Províncias (hoje estados) a responsabilidade de legislar sobre o ensino primário e<br />
secundário. A partir de então, a organização educacional estava dividida. Sob a<br />
responsabilidade do poder central ficava o ensino superior de todo o país e os demais níveis<br />
educacionais do município da corte. As províncias tinham a responsabilidade de prover o<br />
ensino primário e secundário.<br />
Dessa forma, a constante falta de recursos nas províncias acabou por impedir uma<br />
organização eficiente dessas escolas.<br />
Sobre essa descentralização do ensino e a situação deplorável da educação nesse<br />
período, Darcy Ribeiro assim escreve:<br />
Duas são as vias históricas de popularização do ensino elementar. Primeiro, a<br />
luterana, que se dá com a conversão da leitura da Bíblia no supremo ato de fé. [...] A<br />
outra forma de generalização do ensino primário foi a cívica, napoleônica,<br />
promovida pelo Estado, fruto da Revolução Francesa, que se dispõe a alfabetizar os<br />
franceses para fazer deles cidadãos. [...] Como se vê, temos duas formas de se fazer<br />
a educação popular: uma religiosa, que é comunitária, municipal; outra cívica, que é<br />
estatal, e em consequência federal. [...] ao entregar a educação primária exatamente<br />
àqueles que não queriam educar ninguém <strong>–</strong> porque achavam uma inutilidade ensinar<br />
o povo a ler, escrever e contar <strong>–</strong> [...] a tarefa de generalizar a educação primária, a<br />
condenavam ao fracasso, tudo isso sem admitir, jamais, que seu intento era<br />
precisamente este. (RIBEIRO apud COTRIM, 1987, p. 278).<br />
Com isso, no final do Império, em nosso país havia 14 milhões de habitantes dos quais<br />
85% eram analfabetos.<br />
Portanto, não era de se estranhar que, de toda a “intensa circulação de novas ideias no<br />
país”, a educação era tida, no início da República, como o único meio de “promover a<br />
reconstrução da sociedade, transformando o súdito em cidadão”. (COTRIM, 1987, p. 280).<br />
Esse era o pensamento liberal burguês e, conforme Frantz “a educação escolar passara<br />
26
a fazer parte do discurso de importantes seguimentos da sociedade brasileira: jornalistas,<br />
políticos, padres e ministros evangélicos, proprietários e homens do povo e, principalmente,<br />
as mulheres que expressavam grande interesse pela escolarização”. (FRANTZ, 2006, p.25).<br />
Por outro lado, nota-se novamente a grande distância existente entre o discurso e a<br />
prática, haja vista que o primeiro governo republicano reuniu, em um mesmo ministério, a<br />
Instrução Pública e os Correios e Telégrafos. (ROMANELLI, 2002).<br />
Em 1891, a Constituição da República consagrou o sistema dual na educação, não só<br />
quando reserva à União criar instituições de ensino superior e educação secundária nas<br />
Unidades Federativas, e às Unidades Federativas comandar a educação primária, mas<br />
oficializando a distinção entre “a educação da classe dominante (escolas secundárias<br />
acadêmicas e escolas superiores) e a educação do povo ou popular (escolas primárias e<br />
profissionais)” (SPEYER, 1983, p 66).<br />
Faz-se importante ressaltar que, no início da República, a maior parte da população<br />
vivia no campo. Segundo Santos (2008), apenas 10% do total da população de<br />
aproximadamente 17.318.556 pessoas viviam na cidade. Entretanto, houve uma maior<br />
demanda por educação por parte da população urbana. Romanelli explica esse fato da<br />
seguinte forma:<br />
No começo da República as classes médias que emergiam na zona urbana não<br />
tinham ainda força numérica que iria ter a contar dos anos 30. Durante todo esse<br />
período de que estamos tratando, o predomínio numérico coube às populações<br />
estabelecidas na zona rural. Esse fato, determinado pela estrutura sócio-econômica<br />
vigente, foi também fator determinante na composição efetiva da demanda escolar,<br />
no decorrer do período. Para uma economia de base agrícola, como era a nossa,<br />
sobre a qual se assentavam o latifúndio e a monocultura e para cuja produtividade<br />
não contribuía a modernização dos fatores de produção, mas tão-somente se<br />
contentava com a existência de técnicas arcaicas de cultivo, a educação realmente<br />
não era considerada como fator necessário. Se a população se concentrava na zona<br />
rural e as técnicas de cultivo não exigiam nenhuma preparação, nem mesmo a<br />
alfabetização, está claro que, para a população camponesa, a escola não tinha<br />
nenhum interesse. Enquanto as classes médias e operárias urbanas procuravam a<br />
escola, porque dela precisavam para, de um lado ascender na escala social e, de<br />
outro, obter um mínimo de condições para consecução de emprego nas pouca<br />
fábricas [...] (ROMANELLI, 2002, p. 45).<br />
Observando o exposto, percebe-se que já se firmavam duas condições básicas para o<br />
esquecimento da escolarização do campo: o ócio fazia aproximar-se da classe dos senhores e<br />
o trabalho era coisa de escravo. Portanto, não se fazia necessário aprender a trabalhar.<br />
(SPEYER, 1983).<br />
Algum esboço de mudança começa a surgir a partir de 1920. Porém, não acarretou<br />
nenhuma mudança efetiva no sistema e estava-se muito longe de, através da mudança,<br />
estabelecer-se uma política nacional de educação, bem como de promover a cidadania e uma<br />
27
sociedade mais igualitária. Vários pensadores da Educação, tais como Anísio Teixeira,<br />
Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Almeida Júnior, entre outros, surgem comandando<br />
algumas reformas, tentando implantar no Brasil os ideais neopositivistas da Escola Nova.<br />
É necessário um breve comentário sobre o movimento escolanovista. Esse movimento,<br />
apesar de ter sua origem na Europa, foi amplamente difundido nos Estados Unidos, tendo<br />
como principal teórico John Dewey.<br />
De acordo com Silva e Schelbauer (2007), Rodrigues (2006) e Catelli (2005), a Escola<br />
Nova surge como uma forma de reação à chamada “Pedagogia Tradicional”. Além de<br />
expressar uma preocupação com a formação do caráter e da personalidade, propõe uma<br />
educação ativa, na qual a aprendizagem ocorre por meio de resolução de problemas.<br />
Propunham, assim, um ensino baseado na observação e no aprendizado concreto, estando<br />
assim, mais próximo da realidade do educando.<br />
Dessa forma, o processo ensino aprendizagem deixa de ser centrado no professor, que<br />
passa a ser um estimulador e orientador, e passa a ser centrado no aluno, que passa a ter maior<br />
participação na construção do seu conhecimento.<br />
No Brasil, foram representantes dessas ideias Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto,<br />
Anísio Teixeira, Manuel B. Lourenço Filho, Francisco Venâncio Filho, entre outros.<br />
Em 1932, Fernando de Azevedo elabora o Manifesto do Pioneiros da Escola Nova,<br />
que foi assinado por ele e outros 26 educadores brasileiros. O Manifesto defendia uma<br />
educação pública de qualidade e gratuita, mista, laica, obrigatória e associada à vida prática<br />
das pessoas, ou seja, transferia para o Estado a obrigação pela educação da sociedade e<br />
promulgava a educação como motivadora do progresso. Dessa forma, daria acesso a todos,<br />
sem distinção de raças, sexo, credos ou camadas sociais.<br />
Entretanto, Ribeiro aponta alguns problemas sobre a teoria educacional expressa no<br />
Manifesto quando aponta que<br />
As ‘ideias novas’ em educação, que aparecem como teoria educacional adequada às<br />
novas circunstâncias de rompimento com uma sociedade basicamente agrária, são o<br />
resultado da adesão de tais educadores ao movimento europeu e norte-americano,<br />
chamado ‘escola nova’. Este visava o ‘restabelecimento daquele sentido humano<br />
ameaçado pelas exigências econômicas como pelas exigências políticas (Hubert<br />
1967:123), advindas da industrialização e da nacionalização que pressionava a<br />
educação para o trabalho durante o século XIX. Por isso parecia ser a educação<br />
adequada aos países industrializados ou em vias de industrialização. Adequada,<br />
portanto, às sociedades capitalistas avançadas. (RIBEIRO, 2001, p.123).<br />
Nesse contexto, os autores do Manifesto se esqueceram que princípios educacionais<br />
surgem para resolver os problemas nas sociedades das quais fazem parte. Além disso, não<br />
existe apenas um tipo de sociedade urbano-industrial. Esqueceram-se que os processos de<br />
28
transformação das sociedades americana e europeia também se deram em contextos diferentes<br />
um do outro. E mais diferente ainda era a situação brasileira, que nunca rompeu com o<br />
modelo de sociedade existente desde o início de sua colonização. Vejamos o que escreve<br />
Ribeiro:<br />
Ao proporem um novo tipo de homem para a sociedade capitalista e defenderem<br />
princípios ditos democráticos e, portanto, o direito de todos se desenvolverem<br />
segundo modelo proposto de ser humano, esqueceram o fato fundamental desta<br />
sociedade que é o de estar ainda dividida em termos de condição humana entre os<br />
que detém e os que não detém os meios de produção, isto é, entre dominantes e<br />
dominados. (RIBEIRO, 2001, p.124 - 125).<br />
Por outro lado a própria Ribeiro não deixa de apresentar alguns pontos positivos<br />
advindos das reflexões sobre a educação. Colocar em debate permanente as deficiências da<br />
estrutura educacional brasileira fez com que as autoridades voltassem seus olhos para a<br />
melhoria do sistema educacional. Mais do que os próprios princípios pedagógicos da “Escola<br />
Nova”, a reflexão sobre nossos problemas educacionais foram de grande importância para as<br />
melhorias conquistadas.<br />
As ideias do manifesto foram atendidas na Constituição de 1934, a qual:<br />
[...] incumbiu a União de fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do<br />
ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e de coordenar e<br />
fiscalizar a sua execução em todo o território nacional. Estabeleceu a<br />
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário; instituiu a tendência à gratuidade<br />
para o ensino secundário e superior; tornou obrigatório o concurso público para o<br />
provimento de cargos no magistério; determinou como incumbência do Estado a<br />
fiscalização e a regulamentação das instituições de ensino público e particular;<br />
determinou dotações orçamentárias para o ensino nas zonas rurais; e fixou que a<br />
União deveria reservar no mínimo 10% do orçamento anual para a educação e os<br />
Estados deveriam destinar 20%. (FRANTZ, 2006 p. 30 - 31).<br />
A partir de 1937, com a instituição do Estado Novo, percebem-se mudanças<br />
significativas em nossa sociedade. Conforme Cotrim (1987), a pequena burguesia empresarial<br />
começa a ter um aumento gradual de poder sobre a oligarquia agrária. Acentuam-se as<br />
diferenças entre o campo e o urbano, com um aumento da população do segundo. A indústria<br />
começa a ganhar status em detrimento da agricultura, bem como o mundo urbano passa a ser<br />
mais valorizado que o campo. O acentuado crescimento das atividades urbano-industriais<br />
demandou novas exigências educacionais, entretanto, as discussões sobre a Educação, apesar<br />
da criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública e das reformas realizadas, entram<br />
em um período que Romanelli (2002) chama de período de hibernação.<br />
Na Constituição de 1937, o que era de obrigatoriedade do Estado no sentido de prover<br />
a educação gratuita a todos, passa a ser apenas uma ação supletiva, ou seja, o Estado deveria<br />
prover educação apenas às famílias às quais faltassem os recursos. A ênfase educacional recai<br />
29
sobre os trabalhos manuais, os quais se tornam componente curricular obrigatório das escolas<br />
primárias, normais e secundárias. O que se destaca nesse período é a criação do SANAC e<br />
SENAI, que vieram a valorizar o ensino profissionalizante no país, ratificando o caráter<br />
vocacional e profissional “que se destina às ‘classes menos favorecidas”. (RIBEIRO, 2001, p<br />
129).<br />
Para regulamentar a educação, nesse período, foram criadas as Leis Orgânicas do<br />
Ensino, as quais tinham por objetivo um sistema de ensino centralizado e articulados<br />
intrapartes. Regulavam o Ensino Industrial (Decreto lei 4.073 de 1942), o Ensino Secundário<br />
(Decreto lei 4.244 de 1942) e o Ensino Comercial (Decreto lei 6.141 de 1943).<br />
Em 1946, mesmo com o fim da ditadura imposta por Getúlio Vargas, foram<br />
promulgadas mais três leis orgânicas, a saber, a Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto lei<br />
8.529 de 1946), a Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto lei 8.530 de 1946) e a Lei<br />
Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto lei 9.613 de 1946).<br />
Entretanto, na opinião de Frantz (2006), as Leis Orgânicas provocaram um<br />
distanciamento na educação das classes mais abastadas das classes populares, pois ofereciam<br />
percursos diferentes para ambos.<br />
Para as elites, o caminho era simples: do primário ao ginásio, do ginásio ao colégio<br />
e, posteriormente, a opção por qualquer curso superior. O caminho escolar das<br />
classes populares, caso escapassem da evasão escolar, ia do primário aos diversos<br />
cursos profissionalizantes que, por sua vez, só davam acesso ao curso superior da<br />
mesma área. (FRANTZ, 2006, p 32).<br />
Com o fim do Estado Novo, inicia-se no Brasil um período mais liberal e democrático,<br />
trazendo de volta, em sua nova Constituição, os preceitos educacionais de antes no que tange<br />
à obrigatoriedade do Estado em prover educação de qualidade e gratuita para todos. Nasce um<br />
novo período de discussões sobre a área educacional que perdurará por 13 anos.<br />
Em 1953, é criado o Ministério da Educação e Cultura e, em 1961, foi promulgada a<br />
Lei 4.024 que passa a reger a Educação de forma nacional. Entretanto, essa Lei foi<br />
considerada uma derrota para os defensores da Escola Pública gratuita, pois facilitava a<br />
expansão do ensino privado, em especial para os níveis secundários e superiores. Como<br />
resultado da frustração pelo desfecho dessa nova lei, movimentos de base popular não<br />
institucionais acabaram por criar um sistema paralelo à educação formal. Os Centros<br />
Populares de Cultura, os Movimentos de Cultura Popular e o Movimento de Educação de<br />
Base levavam arte e educação de base ao povo. Destaca-se aqui a atuação do Movimento de<br />
Educação de Base que, atuando em conjunto com a Conferência Nacional dos Bispos do<br />
Brasil <strong>–</strong> CNBB <strong>–</strong> dedicavam-se à alfabetização de adultos no campo com suas bases<br />
30
metodológicas ancoradas pelo método Paulo Freire de pedagogia libertadora (FRANTZ,<br />
2006).<br />
Em 1964, a Ditadura Militar põe fim às manifestações pela educação popular que, em<br />
última análise, buscavam tornar o povo mais consciente de seu papel na sociedade e do<br />
exercício de sua cidadania.<br />
A defesa da ideia de que a opção pela radicalização do nacionalismo e a melhora das<br />
condições de vida da classe trabalhadora colocavam em risco a burguesia agrária-industrial<br />
brasileira e causavam desconfiança aos olhos do capital estrangeiro que a financiaria e,<br />
portanto, precisava ser combatida. Assim, o governo militar iria se desenvolver com base no<br />
modelo de desenvolvimento com segurança. (GHIRALDELLI apud FRANTZ, 2006).<br />
No que se refere à educação, a mesma assume uma “tendência tecnicista [...] de acordo<br />
com o modelo tecnoburocrático-capitalista-dependente” (COTRIM, 1987, p. 297). A grande<br />
preocupação do governo era de utilizar a educação como meio de qualificar a mão-de-obra<br />
para o trabalho. Nesse modelo pedagógico, não há qualquer tipo de questionamento sócio-<br />
político do conteúdo (prioridade de Paulo Freire), mas apenas fazer com que o aluno opere de<br />
forma técnica e prática com o conteúdo desenvolvido na escola. (COTRIM, 1987).<br />
Em 1971, foi instituída a Lei 5.692 <strong>–</strong> a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação<br />
Nacional <strong>–</strong> LDB, que regulamentou a forte tendência profissionalizante da pedagogia<br />
tecnicista. Outra criação do Regime Militar foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização <strong>–</strong><br />
MOBRAL. Este propunha acabar com o analfabetismo teimosamente reinante no Brasil desde<br />
a época da Colônia. Entretanto, o programa além de oneroso, não surtiu os efeitos desejados.<br />
Da evolução histórica no período da Ditadura Militar, pode-se perceber que “a<br />
imposição do econômico sobre o social e o predomínio do interesse privado sobre o público”,<br />
fez com que, nos seus anos finais, o crescimento da inflação aliado ao endividamento externo<br />
trouxesse sérios problemas para a economia brasileira e causou um descontentamento na<br />
burguesia agrário-industrial. Como consequência desses problemas na educação, pode-se<br />
perceber uma generalizada queda na qualidade do ensino público, motivado, principalmente,<br />
pela desvalorização do profissional ligado ao ensino e prestação de serviços nas escolas<br />
públicas do país.<br />
Em virtude do caos social e econômico promovidos pelo fracasso do modelo político-<br />
econômico desenvolvido pelos militares a sociedade mobilizou-se para provocar mudanças<br />
nas ações do governo. Essas mobilizações acabaram por provocar uma nova fase na história<br />
do Brasil: a volta da democracia.<br />
Nessa nova fase política econômica e social, as discussões sobre a educação foram<br />
31
etomadas e, a partir daí, nasce no contexto brasileiro a Pedagogia crítico-social dos<br />
conteúdos, que:<br />
[...] valoriza o papel social da escola pública na transmissão do saber<br />
institucionalizado; leva em conta o saber popular, mas também considera<br />
sumamente importante a transmissão do saber científico (erudito) para as classes<br />
populares e considera a escola um local de contradições que pode ser aproveitado<br />
pelas forças progressistas no contexto das lutas sociais globais. (COTRIM, 1987, p.<br />
305).<br />
No contexto dessa nova fase da história brasileira, Frantz afirma que as discussões<br />
sobre educação ganharam “um nível de complexidade jamais visto na história da sociedade<br />
brasileira” (FRANTZ, 2006, p. 39). A situação educacional brasileira era caótica:<br />
A educação havia chegado ao seu degrau mais baixo, com a política educacional<br />
ditatorial que se pautava pela repressão, pela privatização de ensino, pela exclusão<br />
de boa parcela das classes populares do ensino elementar de boa qualidade, pela<br />
institucionalização do ensino profissionalizante pelo tecnicismo pedagógico e pela<br />
desmobilização do magistério, através de abundante e confusa legislação<br />
educacional (FRANTZ, 2006, p. 39 - 40).<br />
A Constituição de 1988 e, por conseguinte, a nova LDB (projeto de autoria do Senador<br />
Darcy Ribeiro, a Lei 9.394, aprovada em 1996 que estabelece as diretrizes para a educação<br />
nacional) tenta melhorar o sistema educacional no país.<br />
Essa nova lei foi elaborada de forma a respeitar as diversidades regionais, sociais,<br />
culturais e políticas existentes no Brasil. Alguns aspectos importantes para a educação estão<br />
ali contemplados, tais como: um caráter menos profissionalizante da educação, a<br />
descentralização administrativa do processo educacional, preocupação com um profissional<br />
da educação mais bem preparado, o direito da educação para todas as classes sociais e todas<br />
as raças, sem distinção, com acesso, inclusive, à educação para alunos com necessidades<br />
especiais.<br />
Ao analisar a história da Educação no Brasil, percebe-se que a mesma, apesar de<br />
passar por várias reformas e muitas tentativas de se estabelecer uma educação democrática,<br />
com acesso igual para todos, acabou por perpetuar uma situação dual, privilegiando as elites<br />
dominantes, com vistas a atender aos seus interesses, como afirma Romanelli (2002) “se, por<br />
um lado, a sobrevivência desse sistema de poder está na dependência da ordem social e<br />
econômica vigente, por outro, mantém relações com o conteúdo oferecido pela escola<br />
existente”. (ROMANELLI, 2002, p. 29). Além disso, o processo de urbanização acontecendo<br />
de uma forma acelerada e desordenada juntado à crescente valoração do urbano em<br />
detrimento do camponês, os esforços sempre foram no sentido de se melhorar a educação<br />
urbana, deixando a educação do campo no esquecimento.<br />
32
E foi nesse contexto educacional conservador, destinado à manutenção do status quo<br />
da classe dominante, que alguns programas voltados para a valorização da educação no<br />
campo começam a ser mais intensamente discutidos.<br />
1.1.2 Educação no Campo: sua construção através da história<br />
Apesar de o Brasil ser de origem eminentemente agrária, o processo histórico de<br />
desenvolvimento social fez com que a sociedade camponesa ficasse de certa forma, à margem<br />
do desenvolvimento. A ela eram constantemente negados direitos básicos de cidadania, em<br />
especial a educação.<br />
Como consequência de uma sociedade pautada no trabalho escravo, na concentração<br />
fundiária, na monocultura exportadora e no modelo de cultura europeu urbanocêntrico, as<br />
atividades do campo não eram percebidas como portadoras de necessidades educacionais para<br />
desenvolver-se e atingir os objetivos econômicos para os quais existia.<br />
Em decorrência desse descaso, a educação do campo, que figurava como uma<br />
necessidade de desenvolvimento local no pensamento de Nóbrega (vide Quadro 01), foi sendo<br />
negligenciada na medida em que as necessidades prioritárias eram as de manter a condição de<br />
dominação, tão presente nas relações socioculturais do Brasil.<br />
Prova desse descaso é que a educação do campo, como tal, não figurava nas<br />
Constituições de 1824 e 1891. Até então era entendida de forma subjetiva nos textos<br />
constitucionais e estava timidamente citada em textos complementares da legislação.<br />
Calazans (1983), em um levantamento histórico da educação no campo no Brasil,<br />
apresenta que o ensino regular em áreas rurais surgiu no fim do segundo Império e foi<br />
intensificada na primeira metade do século XX, mais precisamente a partir de 1930.<br />
Na legislação brasileira, anterior à república, encontramos especificamente três<br />
documentos nos quais se faz referência à educação no campo, a saber:<br />
O Plano de Educação de 1812: (governo de D. João VI) inclui como um dos<br />
dispositivos ‘que no 1 0 grau da instrução pública se ensinariam aqueles<br />
conhecimentos que a todos são necessários, qualquer que seja o seu estado, e, no 2 0<br />
grau, todos os conhecimentos que são essenciais aos agricultores, aos artistas e<br />
comerciantes’.<br />
Na reforma de 1826 <strong>–</strong> Plano Nacional de Educação <strong>–</strong> ‘inscreve-se que no 1 0 ano do<br />
2 0 grau se dará uma ideia dos três reinos da natureza, insistindo-se, particularmente,<br />
no conhecimento dos terrenos e dos produtos naturais da maior utilidade nos usos da<br />
vida’.<br />
Na reforma de 1879 (Decreto n 0 7247) estabeleceu-se que ‘o ensino nas escolas<br />
33
primárias do 2 0 grau constaria da continuação e desenvolvimento das disciplinas<br />
ensinadas no 1 0 grau e mais, entre outras disciplinas, noções de lavoura e<br />
horticultura’. (CALAZANS, 1983, p.17).<br />
Na Bahia, em 1814, surgiu o curso técnico de Agricultura, sendo este transformado<br />
futuramente na primeira escola de Agronomia do Brasil.<br />
Entretanto, Mendonça (2007) afirma que a interferência estatal sobre a educação do<br />
campo está presente desde a abolição da escravidão no Brasil, quando mudanças significativas<br />
na sociedade e na economia afetaram as relações de trabalho no campo. Dadas estas<br />
mudanças, o Ministério da Agricultura Indústria e Comércio <strong>–</strong> MAIC <strong>–</strong> fundamentou sua<br />
política de educação no campo pautada na arregimentação de mão-de-obra.<br />
Mendonça destaca que esta atuação estatal se deu através das ações de duas<br />
importantes organizações representativas da classe dos proprietários rurais, a saber, “a<br />
Sociedade Paulista de Agricultura/Sociedade Rural Brasileira (paulista) e a Sociedade<br />
Nacional de Agricultura (fluminense)” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 246) com o predomínio desta<br />
última na participação política nacional.<br />
A partir da difusão da ideia de que os problemas enfrentados pela agricultura<br />
brasileira, no que se refere à exportação de seus produtos, eram atribuídos ao “arcaico homem<br />
do campo” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 246), duas modalidades de intervenção pedagógicas<br />
surgiram para educar a população do campo: os Aprendizados Agrícolas e os Patronatos<br />
Agrícolas, “ambos responsáveis pela formação de trabalhadores ‘aptos ao manejo de<br />
máquinas e técnicas modernas de cultivo, ensinando-lhes, sobretudo, seu valor econômico’<br />
(MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 247 ). Ambas instituições serão descritas no item 1.2 do presente<br />
capítulo.<br />
Ao citar o funcionamento e as intenções do Estado para a atuação de tais instituições<br />
Mendonça (2007), destaca que as manifestações estatais sobre a melhoria do ensino agrícola,<br />
a partir de 1930, foram meras ratificações do sistema dualista de ensino que foi se<br />
desenvolvendo ao longo da história do país e se deu apenas como uma continuidade de<br />
políticas estabelecidas anteriormente. Daí entende-se o movimento do ruralismo pedagógico<br />
que, pautado nas ideias escolanovistas, pretendia um ensino universal praticado em uma<br />
escola leiga, gratuita, proporcionada pelo Estado.<br />
Ao promover às pessoas do campo uma educação primária e técnica, tirava dos<br />
mesmos a possibilidade de seguirem no ensino superior, pois para esse havia a necessidade de<br />
se cursar o ensino secundário (destinado ao preparo das elites para o trabalho intelectual).<br />
Assim, ao homem do campo restava apenas uma educação voltada “para a preparação e<br />
34
adestramento dos trabalhos manuais” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 250).<br />
O ideal pedagógico do ruralismo em discussão entre os pensadores da educação, a<br />
partir de 1920, buscava uma escola do campo que fosse:<br />
[...] acomodada aos interesses e necessidades da região a que fosse destinada [...];<br />
que impregnasse o espírito do brasileiro [...]; de alto e profundo sentido ruralista<br />
[...]; que desperte e forme uma consciência cívica e trabalhista [...]; que faça<br />
desaparecer o ferrete da humilhação e desprestígio impresso no trabalho rural desde<br />
os tempos da escravatura [...]; que engrandeça as atividades do campo e da lavoura<br />
[...]. Uma educação primária que objetiva o desenvolvimento da personalidade [...];<br />
a integração do indivíduo na sociedade brasileira em geral [...]; o ajustamento<br />
regional em que se desenvolva a vida do educando. (CALAZANS, 1983, p. 18 - 19).<br />
Entretanto, a despeito desse ideal pedagógico, Speyer (1983) afirma que o interesse<br />
em fixar o homem no campo estava mais associado aos interesses econômicos e políticos que<br />
aos humanistas e culturais. Frantz (2006, p. 46) afirma que o maior interesse do Estado era o<br />
de “aperfeiçoar o homem do campo, de tal forma, que ele não deixasse de ser trabalhador,<br />
nem despertasse o interesse de ascender socialmente e aceitasse, disciplinadamente, sua<br />
função no sistema de produção”. Talvez, essa tenha sido a razão pela qual tal movimento não<br />
logrou êxito, haja vista a população urbana ter crescido sistematicamente.<br />
No que se refere à Legislação Educacional, há que se fazer destaque para a<br />
Constituição de 1934 que, no seu Artigo 156, obriga o Estado a destinar verbas para promover<br />
a educação do campo e para a criação da Lei Orgânica do Ensino Agrícola (1946), destinada<br />
“essencialmente à preparação profissional dos trabalhadores da agricultura” (LOEA, 1946,<br />
Art 1 0 ). Porém, o que se pode perceber é que, apesar de todos os esforços direcionados à<br />
educação do homem do campo, não houve mudança no que se refere ao estado de<br />
inferioridade educacional do campo em relação à cidade.<br />
Apesar da obrigatoriedade do ensino primário gratuito para todos os brasileiros, o que<br />
se viu foi a formação de escolas rurais funcionando em instalações precárias, quase sempre<br />
com uma turma multisseriada, na qual um único professor atende alunos de diversas séries<br />
escolares em uma mesma sala de aula. Além de que, essa prática mantinha um ensino do<br />
campo que não se distinguia do urbano, a não ser pela sua localização e precariedade, tanto no<br />
aspecto quantitativo como no qualitativo.<br />
Essa precariedade, associada aos movimentos sociais existentes e atuantes, apoiados<br />
pelo Estado, favoreceu uma rede de ensino paralela ao convencional. Sociedades e<br />
Associações Rurais, Cooperativas bem como outros tipos de instituições e programas<br />
destinados ao homem do campo tiveram participação fundamental no desenvolvimento da<br />
educação do campo. Dentre esses se destacam: Serviço Social Rural (SSR); Associação<br />
35
Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR); Campanha de Educação de Adolescentes<br />
e Adultos (CEAA); Campanha Nacional de Educação Rural (CNER); Campanha Nacional de<br />
Erradicação do Analfabetismo (CNEA) Polonordeste, Polocentro, Poloamazônia, Projeto<br />
Rondon, entre muitos outros.<br />
No contexto desses programas desenvolvidos, a educação do campo estava<br />
direcionada a uma formação sócio-profissional fundamentada na aquisição de conhecimentos,<br />
que possibilitassem ao indivíduo compreender as razões que dificultavam seu<br />
desenvolvimento a partir do conhecimento do seu modo de vida e, então, desenvolvessem<br />
meios de aumento da produtividade que trariam, como consequência, a melhoria da qualidade<br />
de vida no ambiente do campo.<br />
Também é preciso ressaltar que, muito mais por esforço do Ministério da Agricultura<br />
que do Ministério da Educação, formou-se uma rede de ensino pautada em uma nova<br />
modalidade: a modalidade de assistência técnica e fomento agrícola denominado Extensão<br />
Rural.<br />
A Extensão Rural chegou ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial e foi “definido<br />
por seus idealizadores como um processo de escolarização extra-curricular” (QUEDA apud<br />
SPEYER, 1983, p.101).<br />
Trazido pela American International Association (AIA), executado inicialmente pela<br />
Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), era destinado a todas as pessoas do<br />
campo, tais como grandes fazendeiros, pequenos proprietários rurais e trabalhadores<br />
agrícolas. O Programa de Extensão e Assistência Técnica Rural tem se mantido até os dias<br />
atuais.<br />
No que se refere à Educação convencional, a mesma só foi retomada na década de<br />
1960, contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação <strong>–</strong> LDB 4.024/61 <strong>–</strong> quando, em<br />
seu Artigo 32, exige que os proprietários rurais mantenham instalações para o ensino público<br />
nas suas propriedades ou facilitem o acesso à escola primária aos moradores de suas terras.<br />
Além disso, o Artigo 57 faz referência à formação de pessoal para atuar na docência no<br />
campo (GOVERNO..., 1982). A LDB 5.692/71, quando em seu texto promulga que se devem<br />
levar em conta as diferenças regionais, flexibilizar calendários e processos, integrar a<br />
educação regular e propiciar pelo menos alguma iniciação profissional, abre brechas<br />
importantíssimas para que se busque uma educação do campo na sua essência. Entretanto,<br />
dadas as condições políticas e sociais, a educação do campo continuou sendo negligenciada,<br />
evidenciando e aumentando os problemas acumulados ao longo da história.<br />
Os debates sobre a melhoria da educação do campo ganham intensidade quando<br />
36
organizações da sociedade civil, em especial aquelas ligadas à educação popular, incluíram a<br />
mesma na pauta das discussões sobre temas estratégicos para a redemocratização do país.<br />
(BRASIL, 2007). Isso se deu em meados da década de 1980.<br />
Com a educação no campo novamente incluída na pauta das discussões de<br />
redemocratização do país, discutiu-se a criação de um modelo educacional em consonância<br />
com a cultura, direitos sociais, e necessidades inerentes à vida do agricultor. Esse projeto foi<br />
apoiado por vários pensadores da educação, pelas organizações não governamentais,<br />
movimentos sociais e religiosos, dos quais destacam-se, entre outros, a Comissão Pastoral da<br />
Terra <strong>–</strong> CPT e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra <strong>–</strong> MST<br />
Houve algumas iniciativas populares para organização da educação para o campo, tais<br />
como, Escolas Famílias Agrícolas, as Casas Familiares Rurais, os Centros Familiares de<br />
Educação por Alternância. Eram baseadas nos modelos franceses de educação sendo que, em<br />
especial a Pedagogia da Alternância foi considerada uma excelente alternativa para uma<br />
educação no campo de qualidade.<br />
Em 1988, com o compromisso de uma educação para todos de responsabilidade do<br />
Estado, a educação no campo ganha maior poder de reivindicação. Em 1998, é estabelecida a<br />
“Articulação Nacional por uma Educação do Campo”, que deveria gerenciar ações por uma<br />
educação do campo em nível nacional.<br />
Em 2002, instituem-se as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas<br />
do Campo e em 2003, o Grupo Permanente de Trabalho de Educação no Campo. (BRASIL,<br />
2007).<br />
Entretanto, para se pensar educação no campo que atenda aos anseios da população<br />
campesina, alguns pressupostos precisam ser levados em consideração. Como citado, a<br />
educação no Brasil sempre serviu às elites, numa perspectiva urbana, para o desenvolvimento<br />
urbano em detrimento do camponês. Porém, como afirma Ramos:<br />
Educação é um direito social e não uma questão de mercado. A educação enquanto<br />
organizadora e produtora da cultura de um povo e produzida por uma cultura <strong>–</strong> a<br />
cultura do campo - não pode permanecer seguindo a lógica da exclusão do direito à<br />
educação de qualidade para todos e todas. [...] Uma política de educação do campo<br />
precisa conceber que a cidade não é superior ao campo, e, a partir dessa<br />
compreensão, impõem-se novas relações baseadas na horizontalidade e<br />
solidariedade entre campo e cidade, seja nas formas de poder, de gestão das<br />
políticas, de produção econômica e de conhecimento. (REFERÊNCIAS..., 2004, p.<br />
35).<br />
Assim, mais que ter conhecimento de que a população do campo é detentora de<br />
saberes próprios, necessita-se proporcionar condições para que esses saberes sejam utilizados<br />
de forma a contribuir para o desenvolvimento da cidadania e melhoria das condições de vida<br />
37
do agricultor.<br />
1.2 Educação no Campo: uma análise sobre as teorias e métodos<br />
Os sistemas educacionais sempre estão destinados a atingir algum propósito. Não se<br />
pode pensar que educar visa apenas à aquisição de conhecimentos, sejam eles práticos ou<br />
acadêmicos, mas educa-se para que os educandos assumam uma determinada postura na<br />
sociedade da qual faz parte. É pela educação que se moldam comportamentos sociais, mesmo<br />
que os educandos desconheçam tal intenção. É pela prática educativa que se pode perceber<br />
quais são esses comportamentos.<br />
Sendo a educação um processo social que não se direciona a um rumo qualquer, nem<br />
se desenvolve sem orientação, tende a ser conservadora, fortalecendo as ideologias e<br />
aumentando o potencial das forças produtivas, mantendo as relações sociais de forma a não<br />
alterar a estrutura de poder existente. (EDUCAÇÃO..., 1984)<br />
Nesse contexto, nenhum plano educacional estruturado é elaborado sem uma<br />
finalidade específica. Os Estados o elaboram para regular a ação educativa, ou seja, com o<br />
propósito de promulgar aqueles conhecimentos que são úteis e favoráveis à ação do Estado.<br />
Estudiosos como Sacristàn, Giroux, Bourdieux, entre outros, chegam a afirmar que<br />
esse agir educacional, que molda as ações de uma sociedade, está presente não apenas no<br />
plano de estudos, mas em todas as experiências vividas pelo educando na escola. (ZOTTI,<br />
2004).<br />
Diante desse fato, cada fase vivida pelos processos educacionais no Brasil serviu a um<br />
propósito bastante específico. Desde os jesuítas, os processos educacionais visavam atingir<br />
certos objetivos <strong>–</strong> nem sempre explícitos <strong>–</strong> que podem ser percebidos pelas diversas formas de<br />
se praticar a educação.<br />
O plano de ensino de Nóbrega serviu aos interesses da Colônia, no sentido de manter a<br />
unidade espiritual e escolar, bem como o aprendizado dos costumes com vistas a manter a<br />
unidade política. A catequese era interessante do ponto de vista econômico, uma vez que<br />
tornava o índio mais dócil para a realização do trabalho (ZOTTI, 2004).<br />
Ao adotar o Plano de Ensino de Ratio 1 , os jesuítas deixaram clara a intenção de educar<br />
1 Ratio Studiorum, descrito na página 20.<br />
38
uma elite reprodutora da Metrópole. Marcada pela intensa rigidez na maneira de pensar e<br />
interpretar a realidade servia à Metrópole na manutenção da Colônia em sua condição de<br />
explorada. Marcada pela obediência, imitação e falta de liberdade criativa, a prática do Ratio<br />
mantinha os educandos na condição de dominados, especialmente quando se observa que os<br />
estudos deveriam ser terminados na Metrópole, modelo de progresso.<br />
Pelo exposto sobre os primórdios da educação no Brasil, pode-se perceber que a<br />
mesma se consolidou num processo dual, onde havia a explícita separação entre os educados<br />
para comandar (elite) e os educados para trabalhar (educação popular), consolidando através<br />
da educação um comportamento social voltado para a produção e para o consumo.<br />
No que se referem à educação no campo, todas as práticas educacionais estabelecidas<br />
pela legislação, além de não estar ao alcance de todos, visavam à formação de uma mão de<br />
obra não questionadora, que servia aos interesses do capitalismo. Todas as manifestações são<br />
no sentido de aprender novas técnicas agrícolas, com vistas à manutenção do modo de<br />
produção e, por conseguinte, o modelo agrário exportador que favorecia aos latifundiários.<br />
Mendonça (2007) afirma que, apesar de a maioria dos historiadores retratarem os<br />
movimentos em favor da educação no campo, a partir da década de 1930, quando da criação<br />
do Ministério da Educação e Saúde, tais movimentos serviram apenas para dar continuidade<br />
às práticas existentes.<br />
Desde a abolição da escravatura, ocasião em que o Estado propõe rever as relações de<br />
trabalho do campo no Brasil, políticos e grandes proprietários de terra uniram-se para o<br />
estabelecimento de uma política de ensino agrícola, com vistas à arregimentação da mão de<br />
obra para garantir o sistema de produção vigente sob o domínio dos grandes proprietários.<br />
Vale ressaltar que, em virtude de uma política discriminatória, a população camponesa<br />
foi desprovida de educação, e, à margem da sociedade, era considerada “atrasada”.<br />
[...] nossos campônios são baldos até dos conhecimentos mais comezinhos e o único<br />
meio de combater este problema é fornecer-lhes escola primária e aprendizado<br />
agrícola para seus filhos, pois, só assim será possível reunir essa grande massa<br />
anônima que se vai degradando pela miséria, fazendo com que ela fique longe de ser<br />
uma ameaça contra a vida rural (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p.247).<br />
Portanto, para manter a mão de obra no campo e, porque não dizer, redefinir as formas<br />
de trabalho compulsório, a elite agrária buscou a escolarização do homem do campo. Para<br />
tanto, o Ministério da Agricultura Indústria e Comércio instituiu os Aprendizados Agrícolas e<br />
os Patronatos Agrícolas, ambos no intuito de “construir e fixar o trabalhador nacional”<br />
(MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 247).<br />
39
1.2.1 O Aprendizado Agrícola e o Patronato Agrícola<br />
Mendonça (2007) apresenta que os Aprendizados Agrícolas eram instituições que<br />
funcionavam em regime de internato e atendiam jovens de 14 a 18 anos que eram<br />
comprovadamente filhos de pequenos agricultores.<br />
A estrutura era de uma propriedade agrícola, contendo todas as suas instalações, tais<br />
como, pomares, trato com animais, lavoura, além de instalações para beneficiamento da<br />
produção.<br />
O ensino era composto de um curso de primeiras letras, destinado a aprimorar a<br />
qualidade técnica dos jovens que ali estudavam. Além desse, era ministrado um curso<br />
elementar de dois anos, visando dar ao interno “a aprendizagem dos métodos racionais do<br />
trato do solo, bem como noções de higiene e criação animal, além de instruções para o uso de<br />
máquinas e implementos agrícolas” (RMAIC, 1911, p. 57 apud MEN<strong>DO</strong>NÇA 2007 p. 247).<br />
Daí pode-se dizer que o ensino praticado pelos Aprendizados era eminentemente pragmático,<br />
uma vez que sua ênfase estava na detenção de técnicas de trabalho para servir aos interesses<br />
dos latifundiários em garantir mão de obra para suas terras.<br />
Sobre a intenção do Estado em manter e incentivar os Aprendizados Agrícolas,<br />
Mendonça diz que:<br />
[...] a importância dos Aprendizados residiu em difundir os princípios do “ensino<br />
agrícola” enquanto instrumentos do poder, material e simbólico, dos grupos<br />
dominantes agrários sobre o trabalhador rural, uma vez que, colocando à porta do<br />
rurícola um saber presidido pela noção de “progresso”, naturalizava-se tanto a<br />
oposição entre uma agricultura "moderna" e outra "arcaica", quanto à subordinação<br />
desta à primeira, ambas despidas de conteúdo de classe. Os Aprendizados<br />
mantinham seus internos numa imobilidade própria a viveiros de mão-de-obra, onde<br />
os fazendeiros da vizinhança recrutavam gratuitamente equipes para tarefas sazonais<br />
em suas propriedades (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 247 - 248).<br />
Entre 1911 e 1930, o MAIC manteve de 5 a 8 Aprendizados em todo o país e recebiam<br />
cerca de 150 e 250 jovens anualmente, destacando-se as regiões Norte e Nordeste que<br />
demandavam 50% das matriculas oferecidas.<br />
Os Patronatos foram criados pelo Decreto 12.893 de fevereiro de 1918. Eram na<br />
verdade, instituições cujo papel era de abrigar “a infância órfã desvalida da cidade do Rio de<br />
Janeiro”.<br />
Tais instituições funcionavam como abrigo de crianças abandonadas no perímetro<br />
urbano do Rio de Janeiro, para supostamente afastá-los do crime. Como as instituições<br />
prisionais urbanas eram tidas como degradantes, os Patronatos serviriam como um paliativo<br />
40
educacional para jovens de 10 a 16 anos, recrutados pelos Chefes de Polícia para “assegurar-<br />
lhes uma atmosfera oxigenada de bons sentimentos, prendê-las à fecundidade da terra ou<br />
habilitá-las à tenda da oficina ou de uma profissão” transformando “cada uma delas em fator<br />
de engrandecimento coletivo” (RMAIC, 1919, p. 156 apud MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 248).<br />
Os Patronatos ministravam um ensino profissional que “habilitava os internos em<br />
horticultura, jardinagem, pomicultura, pecuária e cultivo de plantas industriais, mediante<br />
cursos profissionalizantes” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 248). Entre 1918 e 1930, foram criadas<br />
98 instituições, em especial nas regiões Norte e Nordeste.<br />
Pelo seu caráter específico de instituição corretiva, destinada a abrigar os desocupados<br />
e livrá-los das “tendências anárquicas intoleráveis” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 248), os<br />
Patronatos foram responsáveis por fornecer uma mão de obra mais disciplinada para o<br />
trabalho técnico agrícola e, em 1930, contava com aproximadamente 5.500 jovens abrigados.<br />
Pelo exposto percebe-se que a proposta para a educação do homem do campo não se<br />
destinava na verdade à emancipação do ser, mas à formação de um trabalhador dependente e<br />
“domesticado”. Educação que, apesar de promulgar um discurso modernizador, era destinada<br />
a preservar a estrutura fundiária para a manutenção do modelo agroexportador.<br />
1.2.2 O Ruralismo Pedagógico no campo brasileiro<br />
A década de 1930, em função da crise, provocou profundas mudanças de ordem<br />
econômica, política e social no mundo inteiro. Essas mudanças atingiram a sociedade como<br />
um todo, porém as relações de trabalho foram as que sofreram maior impacto.<br />
Assim, como o fim da escravidão trouxe para o Brasil mudanças na estrutura de mão<br />
de obra empregada na agricultura, será a industrialização o principal fator gerador da<br />
intervenção estatal na busca pela permanência do homem no campo. Isso porque a<br />
industrialização estava provocando a saída em massa de trabalhadores do campo para as<br />
cidades em busca de um trabalho nas fábricas. Então representava problema, pois além de<br />
inchar as cidades, acarretaria em uma diminuição da produtividade agrícola e, portanto, algo<br />
precisaria ser feito para conter esse movimento.<br />
Preocupado em fixar o homem à terra, o governo de Getúlio Vargas promoveu uma<br />
série de ações para melhorar as condições de vida da população do campo, e, para tanto, a<br />
educação era vista como uma forte aliada na propagação das ideias. É nesse contexto que<br />
41
surge o Ruralismo Pedagógico.<br />
Calazans afirma que as ideias educacionais desse movimento estão pautadas em uma<br />
escola destinada às particularidades regionais, que “impregnasse o espírito do brasileiro [...]<br />
de alto e profundo sentido ruralista” (CALAZANS, 1983 p. 18), que pudesse proporcionar o<br />
enriquecimento próprio e do seu grupo social, carregada de incentivo à vocação histórica do<br />
Brasil para a agricultura.<br />
O movimento ruralista era quase um “endeusamento” do campo em relação à cidade,<br />
tentando convencer a população de que a melhor escolha a se fazer era a de permanecer no<br />
campo.<br />
Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pela escola deveriam ser diferenciadas,<br />
proporcionando ao educando disciplinas relacionadas à agricultura. Por isso, também houve<br />
uma especial atenção no que se refere à formação dos profissionais que deveriam atuar junto a<br />
essas escolas. Foi assim que surgiram as Escolas Normais Rurais e que foram organizados os<br />
vários Congressos de Educação Rural.<br />
O ensino agrícola, regulamentado pelo decreto-lei 23.979 de março de 1933, previa<br />
três tipos de cursos, assim explicitados por Mendonça (2007):<br />
1 <strong>–</strong> Ensino Agrícola Básico: Destinado a atender jovens a partir de 14 anos que já<br />
tivessem cursado o primário completo, tinha três anos de duração e formava capatazes.<br />
Habilitava o aluno em horticultura, culturas regionais, produção animal, máquinas e indústrias<br />
agrícolas.<br />
2 <strong>–</strong> Ensino Rural: Atendia crianças a partir de 12 anos que “já tivessem recebido<br />
alguma instrução primária” (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 252). De base prática, tinha a duração de<br />
dois anos e era destinado a formar trabalhadores rurais. Além da formação geral oferecida<br />
pelas aulas de português, aritmética, história, cartografia e ciências, os alunos receberiam<br />
aulas práticas para o aprendizado da utilização de máquinas agrícolas, avicultura, apicultura,<br />
piscicultura e trabalhos em oficinas.<br />
3 <strong>–</strong> Curso de Adaptação: Era destinado ao trabalhador do campo em geral (jovem ou<br />
adulto), mesmo que sem diploma ou qualificação profissional. Não possuíam calendário<br />
formal, sendo organizado em qualquer época do ano com rápida duração.<br />
Como se percebe, todas as formas de ensino praticadas carregam em si o tecnicismo<br />
profissionalizante característico do pensamento ruralista e escolanovista.<br />
Essa forma de praticar a educação do campo só seria modificada pela promulgação da<br />
Lei Orgânica do Ensino Agrícola <strong>–</strong> LOEA (Decreto-Lei n 0. 9613 de 20 de agosto de 1946).<br />
Entretanto, a motivação desse movimento não estava na real valorização da pessoa<br />
42
humana do campo, mas em defender os interesses de uma elite agrária dominante, que se via<br />
prestes a perder o poder para a burguesia industrial crescente no Brasil, além de resolver os<br />
problemas relacionados à produtividade agrícola.<br />
Lembrando que o ensino do campo, na forma como apresentado, era de<br />
responsabilidade do Ministério da Agricultura, cabendo ao Ministério da Educação apenas a<br />
preocupação em manter a expansão das escolas primárias. Essas, por sua vez, não se<br />
diferenciavam das escolas urbanas, a não ser pela sua precariedade tanto quantitativa quanto<br />
qualitativa (SPEYER, 1983).<br />
Nesse cenário de precariedade do ensino formal é que entra em cena no Brasil um<br />
movimento iniciado nos Estados Unidos, que visava o desenvolvimento do campo por meio<br />
de processos educacionais informais voltados para transmissão de informações úteis para a<br />
agricultura: a Extensão Rural.<br />
1.2.3 A Extensão Rural no Brasil<br />
A Extensão Rural, como é conhecida no Brasil, teve sua origem nos Estados Unidos<br />
quando a agricultura precisou adaptar sua produção, que era voltada ao consumo próprio, para<br />
uma produção voltada para o mercado. Assim, para discutirem os problemas próprios dos<br />
fazendeiros com relação ao aumento da produção e da produtividade, estes se organizaram em<br />
associações agrícolas. Essas associações promoviam feiras, encontros e cursos de pequena<br />
duração em parceria com universidades e colégios, todos voltados à melhoria de técnicas de<br />
produção e, por conseguinte, aumento da produtividade.<br />
Em 1914, com a oficialização do Trabalho Cooperativo de Extensão Rural, os<br />
trabalhos de extensão rural naquele país foram intensificados, inclusive com financiamentos<br />
federais e estaduais para sua realização sob o comando do Ministério da Agricultura<br />
Americano <strong>–</strong> USDA. (ORGANIZAÇÃO..., 1991).<br />
De acordo como foi concebida, a extensão:<br />
[...] é um processo educativo que tem como objetivo a transmissão de informações<br />
úteis à população, ajudando-a a aprender como utilizá-las para melhorar sua vida,<br />
assim como a dos seus familiares e comunidade. [...] Geralmente o objetivo do<br />
processo de extensão é o de permitir às pessoas utilizar essas capacidades,<br />
conhecimentos e informações para melhorar seu nível de vida. [...] pode ser<br />
combinada ou integrada com outras atividades de transferência de tecnologia. [...]<br />
tem que capacitar os agricultores para a gestão e tomada de decisões, [...] deve<br />
também ajudar a população rural a desenvolver qualidades de direção e organização,<br />
43
para que possa organizar-se melhor, intervir e/ou participar em cooperativas,<br />
sociedades de crédito e outras organizações de ajuda mútua, e participar mais<br />
plenamente no desenvolvimento das suas comunidades ao nível local.<br />
(ORGANIZAÇÃO..., 1991, p. 01)<br />
Quanto ao conceito de extensão rural, não há uma definição única que se aplique a<br />
todas as situações por ser um conceito dinâmico, que descreve um processo contínuo de<br />
mudança nas zonas rurais. Dentre as muitas definições existentes, Oakley e Garforth destacam<br />
que extensão é “um processo didático informal dirigido à população camponesa. [...] procura<br />
aumentar a eficiência da exploração agrícola familiar, aumentar a produção e [...] o nível de<br />
vida da família rural”. Ou ainda: “é um processo de trabalho junto à população rural para<br />
melhorar sua vida. Implica em ajudar os agricultores a aumentar a produtividade [...],<br />
desenvolver sua capacidade de orientar sua própria evolução futura”. (ORGANIZAÇÃO...,<br />
1992, p. 14).<br />
Pelo exposto, percebe-se que a extensão rural representa um papel bastante importante<br />
no processo de transformação de um mundo agrário “atrasado” para outro capaz de produzir<br />
mais e melhor, numa perspectiva capitalista de produzir para o mercado.<br />
Muitos países de diversos continentes aderiram a essa filosofia de educação voltada<br />
para os produtores rurais, e, portanto, chegou também ao Brasil.<br />
No Brasil, os interesses da elite em manter mão de obra especializada no campo, bem<br />
como as preocupações com a questão da produtividade agrícola, aliados ao esquecimento no<br />
qual se encontrava a educação formal no campo, formavam o cenário ideal para o<br />
desenvolvimento das atividades extensionista sob o comando norte americano.<br />
Em 1945, o Brasil firmou um acordo com a Fundação Interamericana de Educação dos<br />
Estados Unidos. Desse acordo, surgiu a Comissão Brasileira Americana de Educação das<br />
Populações Rurais <strong>–</strong> o CBAR, dando início às atividades de Extensão Rural, com a<br />
justificativa de melhorar as condições da educação do campo formal. Os principais objetivos<br />
desse acordo, segundo Mendonça (2007) eram de<br />
a) desenvolver relações mais íntimas com docentes do Ensino Agrícola dos Estados<br />
Unidos; b), facilitar o treinamento de brasileiros e americanos especializados em<br />
ensino profissional agrícola e c) possibilitar que fossem programadas atividades, no<br />
setor da Educação Rural, do interesse de ambas as partes contratantes<br />
(MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 257).<br />
A CBAR era gerenciada pelo Ministério da Agricultura e, através das suas ações,<br />
ampliaram-se os Centros de Treinamentos de Operários Agrários, em especial nas regiões<br />
Norte e Nordeste. Mendonça ainda afirma que “um dos mais significativos desdobramentos<br />
dessa comissão foi estipular como obrigação do Ministério da Agricultura a fundação de<br />
44
‘Clubes Agrícolas’ que funcionariam junto às escolas primárias do meio rural”<br />
(MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 258).<br />
Tais clubes agrícolas teriam fundamental importância no desenvolvimento educacional<br />
do campo, pois deveria contribuir para ajustar a escola primária formal camponesa ao meio ao<br />
qual pertence. Conforme descrito por Mendonça:<br />
[...] como instituição escolar o ‘clube agrícola’ é dos que mais se recomendam,<br />
especialmente nas escolas do interior, contribuindo para a melhor identificação da<br />
escola com as peculiaridades regionais e a formação de uma esclarecida mentalidade<br />
ruralista, propiciando à criança a iniciação no trabalho (SALLES apud<br />
MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 261).<br />
Além desses, também foram organizadas as Semanas Ruralistas e os Conselhos<br />
Comunitários Rurais, entre outros.<br />
Foi sob as orientações da CBAR que seria promulgada a Lei Orgânica do Ensino<br />
Agrícola <strong>–</strong> LOEA em 1946.<br />
Em 1948, com a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural <strong>–</strong> ACAR,<br />
apoiada pela Associação Internacional Americana para o Desenvolvimento Econômico e<br />
Social que foi institucionalizar-se a ação da Extensão Rural no Brasil. Foi, também, com esse<br />
evento, que se iniciaram os processos de expansão da Extensão Rural pelo país que, em 1956,<br />
culminou com a criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural.<br />
O processo educativo da Extensão Rural estava pautado na teoria do capital humano,<br />
que pregava a “educação como um fator de produção e de desenvolvimento, em que o recurso<br />
humano é convertido para a produção e a educação passa a ser considerada um investimento e<br />
instrumento para promover o crescimento econômico e reduzir a pobreza”. (LOVATO, 2009,<br />
p. 4).<br />
Assim, a função da escola era a de educar o homem do campo para que, por meio das<br />
técnicas, obtivesse uma produção voltada para o mercado (LOVATO, 2009, p 05). Essa<br />
educação, porém, não produzia no indivíduo uma consciência crítica, mas apenas adestrava os<br />
trabalhadores para a utilização de métodos e técnicas impostas como sendo ideais.<br />
Nas décadas de 1940 e 1950, iniciam-se os trabalhos da Campanha Nacional de<br />
Educação Rural <strong>–</strong> CNER e do Serviço Social Rural <strong>–</strong> SSR, que apenas reforçavam o<br />
pensamento educacional da época, ou seja, preparar técnicos para atender às necessidades<br />
desenvolvimentistas direcionadas para o capital.<br />
Os objetivos da CNER, segundo Calazans, eram:<br />
a) investigar e pesquisar as condições econômicas, sociais e culturais da vida rural<br />
brasileira; b) preparar técnicos para atender a educação de base; c) promover e<br />
estimular a cooperação das instituições e dos serviços educativos existente no meio<br />
45
ural pela introdução, entre os rurículas, de técnicas avançadas de organização e de<br />
trabalho; e) contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões educativos, sanitários,<br />
assistenciais, cívicos e morais das populações do campo; f) oferecer, enfim,<br />
orientação técnica e auxílio financeiro à instituições públicas e privadas que,<br />
atuando no meio rural, estejam integrados aos objetivos e finalidades dos seus<br />
planos. (CALAZANS, 1983, p. 22)<br />
Entretanto, no final da década de 1950, a Extensão Rural, implantada por meio das<br />
ACAR’s regionais, começa a ser questionada. Os problemas econômicos dos brasileiros<br />
aliados ao rápido processo de urbanização fizeram com que os governantes optassem pela<br />
tecnificação dos grandes proprietários de terra, facilitando o acesso destas ao crédito fácil e<br />
barato. No âmbito educacional, reforçam-se as ideias do ruralismo pedagógico, procurando<br />
manter a população no campo.<br />
A partir da década de 1960, entra em cena o crédito agrícola subsidiado, destinado a<br />
inserir o trabalhador do campo na lógica do mercado. O crédito era dado para que o produtor<br />
comprasse um pacote tecnológico, utilizando, para isso, máquinas agrícolas e insumos<br />
industrializados. A Assistência Técnica e Extensão Rural <strong>–</strong> ATER <strong>–</strong> auxiliava nesse processo<br />
para aumentar produtividade e mudar a mentalidade tradicional para o moderno. (LISITA,<br />
2005).<br />
Nesse contexto, os conhecimentos dos produtores não eram levados em conta e os<br />
mesmos eram obrigados a aderir aos “pacotes prontos”, desenvolvidos para realidades<br />
diversas e que se mostraram excludentes, por beneficiar apenas os grandes produtores.<br />
Ao final da década de 1960, agravam-se as diferenças regionais entre o Nordeste e o<br />
Sul-Sudeste, provocando a criação do planejamento e desenvolvimento regional brasileiro.<br />
Assim, com o apoio dos Estados Unidos, são estabelecidos vários planos de desenvolvimento,<br />
dentre os quais se pode citar a SUDENE <strong>–</strong> Superintendência de Desenvolvimento do<br />
Nordeste, o SUDSUL <strong>–</strong> Superintendência da Região Sul , o PIPMOA <strong>–</strong> Programa Intensivo<br />
de Preparação de Mão de Obra Agrícola, o PRODAC <strong>–</strong> Programa Diversificado de Ação<br />
Comunitária, o SENAR <strong>–</strong> Serviço Nacional de Formação Profissional Rural, o Projeto<br />
Rondon e, com os recursos do BIRD na execução do II Plano Nacional de Desenvolvimento,<br />
o Polonordeste, Poloamazônia e o Polocentro” (CALAZANS, 1983).<br />
Em 1974, é criada a <strong>EM</strong>BRATER <strong>–</strong> Empresa Brasileira de Assistência Técnica e<br />
Extensão Rural, que tinha como objetivo melhorar as condições de vida da população<br />
camponesa e aumentar a produção, tanto de alimentos como de matérias-primas, destinadas<br />
para o mercado interno e exportação (BITTAR, SOUZA; MODESTO, 2008). A <strong>EM</strong>BRATER<br />
e as <strong>EM</strong>ATERs <strong>–</strong> Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural nos estados <strong>–</strong> eram as<br />
46
esponsáveis pelos serviços de extensão rural no Brasil.<br />
No âmbito da <strong>EM</strong>BRATER, a atuação dos extensionistas era condicionada ao crédito<br />
agrícola. Os pequenos produtores, que não tinham acesso ao crédito, também ficavam de fora<br />
do serviço de extensão e a educação, nesse contexto, seria voltada a criar condições para o<br />
desenvolvimento de programas “que venham repercutir na melhoria socioeconômico das<br />
populações” rurais. Também seria “voltada para uma mentalidade tecnológica condizente com<br />
a atualização do homem no que diz respeito às relações da economia moderna”<br />
(CALAZANS, 1983, p. 33 - 35).<br />
A partir da década de 1980, com o fim do crédito subsidiado, a Extensão Rural busca<br />
uma nova proposta de atuação, pautada na pedagogia da autonomia e do oprimido, de Paulo<br />
Freire. Nessa nova concepção da extensão rural, o que se busca é o desenvolvimento de uma<br />
consciência crítica dos produtores, levando em consideração os aspectos culturais e a<br />
participação ativa das partes interessadas.<br />
No que se refere à educação do campo no discurso extensionista, pode-se perceber<br />
que, na verdade, a educação era apenas um meio encontrado pelo capital para difundir suas<br />
ideias desenvolvimentistas de uma produção voltada para o mercado. Seu discurso modernista<br />
apenas trouxe para a população agrícola brasileira uma modernização conservadora<br />
“ratificando a condição subalterna do trabalhador rural em relação aos demais trabalhadores<br />
do país”. (MEN<strong>DO</strong>NÇA, 2007, p. 264).<br />
Speyer afirma que o programa de extensão rural<br />
visava essencialmente a elevação do nível de renda da comunidade através do<br />
aumento da produção, relegava a segundo plano discussões que, em nosso país ainda<br />
eram essenciais: as alterações de estrutura de poder no meio rural e a distribuição da<br />
renda agrícola de maneira mais equitativa. (SPEYER, 1983, p 102).<br />
Seu discurso é concebido para dar sustentação a uma realidade que precisa ser<br />
preservada. Sua prática é assistencialista e contribui para a manutenção do poder e do<br />
processo de dominação sempre presente na realidade da educação brasileira.<br />
1.2.4 O Decreto-Lei n0. 9613 de 20 de agosto de 1946 <strong>–</strong> Lei Orgânica do Ensino<br />
Agrícola<br />
Sob a égide do capital, vieram as reformas na educação formal, as quais ficaram<br />
47
conhecidas como Reformas de Capanema, ou as Leis Orgânicas do Ensino. Essas tiveram por<br />
objetivo estruturar o ensino técnico profissional. Pela ordem de promulgação, foram assim<br />
estabelecidas: Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942), Lei Orgânica do Ensino Secundário<br />
(1942), Lei Orgânica do Ensino Comercial (1943), Lei Orgânica do Ensino Primário (1946),<br />
Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) e Lei Orgânica do Ensino Agrícola <strong>–</strong> LOEA (1946),<br />
sendo, esta última, a consolidação dos ideais da extensão rural no que se refere à educação.<br />
A finalidade do ensino agrícola, segundo a LOEA, é a de formar profissionais, através<br />
do aperfeiçoamento dos conhecimentos e capacidades técnicas, aptos aos trabalhos agrícolas,<br />
com qualificação profissional que lhes aumente a eficiência e a produtividade.<br />
Deveria ser ministrado em dois ciclos e cada ciclo dividido em cursos. O primeiro<br />
ciclo deveria se desdobrar em dois cursos, a saber, a Iniciação Agrícola e a Mestria Agrícola.<br />
1 <strong>–</strong> Iniciação Agrícola: Com duração de dois anos, tinha por objetivo formar um<br />
operário agrícola qualificado. Poderia ser ministrados nas Escolas de Iniciação Agrícola, nas<br />
Escolas Agrícolas e nas Escolas Agrotécnicas e era articulado com o ensino primário. Atendia<br />
aos adolescentes a partir dos doze anos completos, que já tinham recebido educação primária<br />
conveniente. O ingresso se dava mediante a aprovação em exame vestibular. Fornecia<br />
diploma de Operário Agrícola.<br />
2 <strong>–</strong> Mestria Agrícola: Seu público alvo era o de jovens que tivessem concluído a<br />
Iniciação Agrícola. Tinha duração de dois anos e formava profissionais com diploma para o<br />
exercício do trabalho de Mestre Agrícola. Era ministrado nas Escolas Agrícolas e<br />
Agrotécnicas e era necessário ser aprovado em exame vestibular para cursá-lo.<br />
pedagógicos.<br />
O segundo ciclo compreendia os cursos agrícolas técnicos e os cursos agrícolas<br />
1 <strong>–</strong> Cursos Agrícolas Técnicos <strong>–</strong>Tinham duração de três e era destinado ao ensino<br />
técnico, dos quais citam-se: Agricultura, Horticultura, Zootecnia, Práticas Veterinárias,<br />
Indústrias Agrícolas, Laticínios e Mecânica Agrícola. Eram ministrados apenas nas Escolas<br />
Agrotécnicas e estava articulado com o ensino secundário. Dava direito ao ensino superior,<br />
desde que relacionado ao curso técnico concluído. Para se ter acesso, era necessário ter<br />
concluído o curso de mestria ou ter terminado o primeiro ciclo do ensino secundário ou<br />
normal e ser aprovado em vestibular. Oferecia diploma de Técnico do curso escolhido.<br />
2 <strong>–</strong> Cursos Agrícolas Pedagógicos <strong>–</strong> Destinado à formação de pessoal docente ou<br />
pessoal administrativo do ensino agrícola. Estava dividido em Magistério de Economia Rural<br />
Doméstica, Didática do Ensino Agrícola e Administração do Ensino Agrícola. Ministrados<br />
nas Escolas Agrotécnicas, estava articulado com o ensino normal do primeiro ciclo. Para<br />
48
poder cursar os cursos agrícolas pedagógicos, era necessário ter concluído qualquer um dos<br />
ensinos agrícolas técnicos e ser aprovado em exame vestibular. Oferecia diploma de<br />
Licenciado em Economia Rural Doméstica ou Didática do Ensino Agrícola e de Técnico em<br />
Administração do Ensino Agrícola.<br />
Além das disciplinas correntes formadoras de cada curso, eram consideradas matérias<br />
obrigatórias a Educação Física até a idade de 21 anos, o Canto Orfeônico, até a idade de 18<br />
anos, a Instrução Moral e Cívica. O ensino religioso estava previsto, mas não obrigatório.<br />
Existiam ainda os cursos de continuação <strong>–</strong> destinados aos jovens maiores de 16 anos e<br />
adultos, os quais ensinavam um ofício agrícola especial, uma técnica ou um processo usual ou<br />
recomendável na agricultura para os quais fornecia um certificado. Também os cursos de<br />
aperfeiçoamento, destinados ao aperfeiçoamento daqueles que já cursaram alguma<br />
modalidade do ensino agrícola para os quais também era fornecido um certificado.<br />
Esse foi o texto no qual a educação formal do campo foi sustentada até os anos de<br />
1961, quando da promulgação da LDB.<br />
Como todo processo educacional não está isento de ideologia, vê-se que a LOEA foi<br />
também um instrumento desenvolvido nos ideais extensionistas, que buscavam a tecnificação<br />
do campo com vistas à expansão de uma agricultura voltada a atender às necessidades do<br />
mercado e, como tal, também desvinculada do desenvolvimento do ser que a educação deve<br />
promover.<br />
1.2.5 Movimento de Educação de Base no campo brasilerio<br />
O Movimento de Educação de Base <strong>–</strong> MEB, ligado à Conferência Nacional dos Bispos<br />
no Brasil <strong>–</strong> CNBB, se constituiu em fórum colaborador do Ministério da Educação e Cultura <strong>–</strong><br />
MEC, no sentido de auxiliar na alfabetização de jovens e adultos. Sua atuação se deu<br />
concomitantemente com a educação praticada pela extensão rural, porém pautada no Método<br />
Paulo Freire.<br />
Tal método se opunha à educação burocrática, formal e impositiva e visava tornar o<br />
aluno um sujeito capaz de mudar a sua realidade. Nele, a escola não deve ser reprodutora das<br />
desigualdades sociais, que ensina a dependência e a passividade, mas sim, deve incentivar a<br />
autonomia e a emancipação humana.<br />
A preocupação do MEB foi com a população do campo das áreas mais pobres, em<br />
49
especial as da Região Norte e Nordeste e busca levar para essa população algo mais do que<br />
saber ler e escrever. Antes de qualquer coisa, era preciso aculturar essa população. Sua<br />
atuação propõe renovação de técnicas de trabalho que sejam mais humanizadas. A educação<br />
econômica propõe melhora na formação profissional e traz benefícios para o trabalhador do<br />
campo.<br />
Por meio de atividades em grupo, reforça os conceitos de solidariedade, de liderança,<br />
de vida social. Ouve as necessidades de cada comunidade e, a partir delas se inicia o processo<br />
educacional. Desse modo, cada grupo reconhece “seu valor, sua capacidade e seus próprios<br />
recursos” (SPEYER, 1983, p. 115), tornando possível a qualificação da mão de obra para o<br />
melhor aproveitamento dos recursos naturais.<br />
Como se percebe, é uma atuação educativa bastante diferenciada daquela praticada e<br />
incentivada pelo governo. Não tem por objetivo o aumento da produção, mas “um<br />
reavivamento dos valores culturais básicos do povo na busca de sua identidade e de sua<br />
realização plena” (SPEYER, 1983, p. 120).<br />
1.2.6 As práticas pedagógicas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -<br />
MST<br />
O Movimento Social dos Trabalhadores Rurais Sem Terra <strong>–</strong> MST <strong>–</strong> teve sua origem<br />
na década de 1980, época em que vários movimentos sociais surgiram para protestar contra o<br />
modelo de reforma agrária desenvolvido pelo governo militar. Sua luta é pela conquista de<br />
terra e trabalho por meio da ocupação.<br />
Segundo Bezerra Neto (2009), o MST luta contra a concentração de terras e exclusão<br />
social, luta também contra o trabalho escravo e a exploração do trabalho infantil. Vê na<br />
educação, posta a serviço da classe trabalhadora, a única forma de se construir uma sociedade<br />
socialista. E é na defesa dessa causa que o MST tem pautado suas ações educacionais que tem<br />
influenciado ações governamentais, tais como a criação do Grupo Permanente de Trabalho de<br />
Educação do Campo.<br />
A proposta de educação do MST busca conseguir uma educação pública de acesso a<br />
todos e de qualidade, ao mesmo tempo em que propõe uma gestão compartilhada. Reivindica<br />
que a educação no campo seja voltada para o trabalho no campo, porém dando a mesma<br />
ênfase sobre os trabalhos manuais e intelectuais, acabando dessa forma com a dicotomia entre<br />
50
trabalho braçal e intelectual.<br />
Defende a autonomia da escola com um currículo mínimo a ser seguido de forma<br />
unânime em todas as escolas. Essa autonomia seria exercida pela autogestão, a qual também<br />
serviria de aprendizado para os educandos aprenderem a gerir as associações e cooperativas<br />
de assentados.<br />
Propõe que o governo seja responsável pela manutenção e financiamento das escolas,<br />
porém a organização escolar ficaria a cargo de pais, alunos e professores, que fariam com que<br />
essas escolas fossem voltadas às necessidades do campo, com pedagogia, metodologias e<br />
práticas educativas voltadas à realidade do campo e dos assentamentos.<br />
A educação do MST deve ser pautada em alguns princípios filosóficos dos quais se<br />
pode citar: 1. educação para a transformação social; 2. educação aberta para o mundo, aberta<br />
para os povos; 3. educação para o trabalho e cooperação; 4. educação voltada para as várias<br />
dimensões da pessoa humana” Tais princípios filosóficos devem ser complementados pelos<br />
seguintes princípios pedagógicos de:<br />
1. relação permanente entre teoria e prática; 2. realidade como a base da produção<br />
do conhecimento; 3. Conteúdos formativos socialmente úteis: educação para o<br />
trabalho e pelo trabalho; 4. vínculo orgânico entre processos educativos e processos<br />
políticos; 5. Vínculo orgânico entre processos educativos e processos produtivos; 6.<br />
gestão democrática; 7. Auto-organização dos estudantes; 8. criação de coletivos<br />
pedagógicos e formação permanente dos educadores; 9 combinação entre processos<br />
pedagógicos coletivos e individuais. (BEZERRA NETO, 2009, p.12 - 13)<br />
Os princípios filosóficos e pedagógicos que pautam as ações educacionais do MST<br />
visam uma prática de educação que proporcione ao educando uma escola que prepare as<br />
crianças e os jovens para o campo, desenvolvendo o amor pela terra e pelo trabalho na terra.<br />
Uma escola na qual o ensino científico tenha a sua origem na resolução de um problema<br />
prático, onde a cultura e o saber do povo sejam valorizados, onde o aluno não seja um mero<br />
ouvinte do conhecimento, mas um ser atuante no processo ensino-aprendizagem. Uma escola<br />
na qual sejam eliminados o autoritarismo, o individualismo e a falta de solidariedade,<br />
valorizando o ser e não o ter.<br />
1.2.7 A Pedagogia da Alternância<br />
A Pedagogia da Alternância surgiu na França na década de 1930. O que provocou sua<br />
criação foi o fato de um dos filhos do agricultor Jean Peyrat não mais querer continuar seus<br />
51
estudos em escolas nas quais não se faziam agricultores.<br />
Essa recusa, aliada a uma educação que não atendia às necessidades e especificidades<br />
da população camponesa, provocou uma reunião entre alguns agricultores que, após amplas<br />
discussões, decidiram dar aos seus filhos uma educação diferenciada.<br />
Foi na casa de Jean Peyrat que definiram que, em alternância e sob a responsabilidade<br />
das famílias, os jovens teriam formação técnica, geral, humana e cristã, além de serem<br />
inscritos nos Cursos Agrícolas por correspondência da Escola Superior de Agricultura, em<br />
Toulouse. Algumas famílias aderiram ao novo formato educacional e, em 21 de novembro de<br />
1935, os quatro jovens agricultores iniciaram seus estudos sob a orientação do Padre<br />
Granereau. Era uma combinação de Internato, contato permanente com a família e estadia no<br />
campo. (QUEIROZ, 2006).<br />
Outras discussões vieram, o número de alunos aumentou e várias questões de ordem<br />
administrativas tiveram que ser resolvidas. Por essa razão, foi somente em 1937 que “criou-se<br />
um verdadeiro Centro de Formação com quarenta alunos regulares” (QUEIROZ, 2006, p. 20),<br />
o qual se instituiu como a primeira Casa Familiar com nome atual de Casa Familiar Rural.<br />
Mas foi somente em 1973, após o Colóquio de Rennes, que a Pedagogia da Alternância<br />
obteve maior crédito e passou a crescer. Após esse colóquio, a alternância passou a ser vista<br />
“como a solução das distorções e rupturas presentes no campo sócio-educativo” (SILVA,<br />
2003 apud PALITOT, 2007, p. 31).<br />
No Brasil, a Pedagogia da Alternância chegou no ano de 1969 com o Movimento de<br />
Educação Promocional do Espírito Santo <strong>–</strong> MEPES.<br />
Fundado pelos jesuítas originários da Itália, o MEPES introduziu no Brasil uma versão<br />
italiana da Casa Familiar Rural, que no Espírito Santo recebeu o nome de Escola Família<br />
Agrícola <strong>–</strong> EFA. Isso faz com que a experiência da alternância no Brasil tenha alguns<br />
aspectos particulares em relação à importada da França. Queiroz (2006) apresenta que esses<br />
aspectos são importantes para entender a realidade e os desafios das EFAs no Brasil, a saber:<br />
sua ligação com as igrejas Católica e Luterana; nasceram pela ação de políticos, ao contrário<br />
da França, que nasceu do povo, tem ênfase na escolaridade (por isso Escola Família Agrícola)<br />
e contam com o apoio de entidades europeias.<br />
Outra modalidade de ensino por alternância surgiu no Brasil na década de 1980. Sob a<br />
influência da União Nacional das Casas Familiares Rurais da França, surge no Nordeste e no<br />
Sul as Casas Familiares Rurais.<br />
No Tocantins, foram criados os Centros Familiares de Formação por Alternância,<br />
dentre os quais as EFA’s nas cidades de Porto Nacional (1994), de Colinas (2000) e de<br />
52
Campos Lindos (2006).<br />
Conforme explicita Palitot (2007), a metodologia Pedagogia da Alternância alterna a<br />
vivência na escola com a vivência familiar. Por meio desse método, o educando aprende no<br />
espaço familiar e comunitário e na escola. Isso acontecendo de forma alternada, família-<br />
escola-família, proporciona um processo de aprendizagem que parte da realidade<br />
(família/comunidade), reflexão (escola) e prática (família/comunidade). Assim, possibilita ao<br />
educando aprender através das três dimensões de aprendizagem possíveis, a saber: a educação<br />
formal (escola), a educação não-formal (práticas educativas na sociedade/comunidade) e<br />
educação informal (família). Fundamenta-se no “aprender fazendo”, porém, sustentado pelo<br />
tripé ação <strong>–</strong> reflexão <strong>–</strong> ação. Ao possibilitar a aprendizagem por meio das vivências diárias,<br />
permite ao educando refletir sobre o meio no qual está inserido.<br />
Partindo do princípio que nenhuma educação é neutra, cada uma das teorias e métodos<br />
aqui apresentados possui uma concepção e está direcionada a um fim específico. Algumas<br />
mais conservadoras buscam a manutenção das formas de poder e das formas de dominação,<br />
outras proporcionam uma consciência de classe social, e outra, ainda, busca proporcionar uma<br />
educação libertadora e autônoma, que permite aos educandos serem autônomos, donos de um<br />
pensamento crítico perante as verdades que descobriu, analisou e tomou uma decisão. Essa<br />
última, a meu ver, é que deve ser uma proposta de educação no campo, que efetivamente<br />
contribuirá para o desenvolvimento tanto do ser quanto do meio ao qual pertence.<br />
1.3 As atuais Diretrizes Nacionais para a Educação no Campo<br />
Até o presente momento, o texto foi tecido pela evolução histórica das políticas<br />
educacionais para a educação no campo. Nesse tópico do capítulo, o que se pretende fazer é<br />
uma análise da educação no campo, tendo como base os textos governamentais que dirigem a<br />
educação no campo na atualidade. Os documentos em análise serão a Lei 9394, de 20 de<br />
dezembro de 1996 <strong>–</strong> Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 10.172, de 09 de<br />
janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, o Parecer 36/2001 que aprova as<br />
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, o Parecer 01 CEB,<br />
01/2006, que recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em Escolas do Campo e as<br />
Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo de 2004<br />
Sobre a LDBN, o que queremos destacar nesse trabalho é que a referida lei afirma que<br />
53
a educação é “dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais<br />
de solidariedade humana” e deve proporcionar o “pleno desenvolvimento do educando, seu<br />
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e “igualdade de<br />
condições para o acesso e permanência para todos”. Assim, percebe-se que a educação não<br />
deve ser mero instrumento de “adestramento” do educando, mas sim de inseri-lo no contexto<br />
de criticidade e liberdade de escolha, proporcionando condições de saber posicionar-se como<br />
um ser consciente de seu papel na sociedade.<br />
No tocante à linha pedagógica, pode-se afirmar que a LDBN está pautada na linha<br />
progressista de educação. Aspectos como valorização docente, gestão democrática, ênfase no<br />
aprendizado do aluno, no aprender a aprender, a flexibilidade do currículo, entre outros,<br />
podem demonstrar tal presença. Entretanto, Demo (2004) afirma que apesar das inovações, a<br />
atual lei apresenta alguns aspectos que não podem passar despercebidos.<br />
Na visão de Demo, a nova LDB não é inovadora, mas continua numa visão<br />
tradicionalista. Não foge da educação para a manutenção do status quo, na medida em que<br />
sugere uma educação voltada à aquisição de conhecimentos úteis para o mercado. Para Demo,<br />
“a visão de educação não ultrapassa a do mero ensino” (D<strong>EM</strong>O, 2004, p. 68) e, para ele, o<br />
termo ensino está apenas relacionado ao treinamento, à técnica, ao adestramento.<br />
Sobre o ensino técnico-profissional, vale a pena ressaltar que o mesmo proporciona ao<br />
aluno seguir no ensino superior em área que escolher, como previsto no artigo 36D “os<br />
diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão<br />
validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior”. (LDBN.<br />
Art. 36D).<br />
Especificamente sobre a educação no campo, destaca-se o Art. 28:<br />
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino<br />
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida<br />
rural e de cada região, especialmente:<br />
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e<br />
interesses dos alunos da zona rural;<br />
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases<br />
do ciclo agrícola e às condições climáticas;<br />
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (LDBN, Art 28)<br />
O conteúdo desse artigo deixa transparecer uma das características positivas advindas<br />
dessa lei que é a flexibilidade na organização dos sistemas educacionais, além da autonomia<br />
pedagógica.<br />
Esse aspecto também pode ser observado no Plano Nacional de Educação <strong>–</strong> PNE. O<br />
plano traça as diretrizes e ações estratégicas com respeito à educação e inclui também a<br />
54
educação do campo:<br />
A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de ensino<br />
fundamental precisa chegar a todos os recantos do País e a ampliação da oferta de<br />
quatro séries regulares em substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser<br />
perseguida, consideradas as peculiaridades regionais e a sazonalidade.<br />
Prever formas mais flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem como a<br />
adequada formação profissional dos professores, considerando a especificidade do<br />
alunado e as exigências do meio<br />
Ampliar a oferta de programas de formação a distância para a educação de jovens e<br />
adultos, especialmente no que diz respeito à oferta de ensino fundamental, com<br />
especial consideração para o potencial dos canais radiofônicos e para o atendimento<br />
da população rural.<br />
Como face da pobreza, as taxas de analfabetismo acompanham os desequilíbrios<br />
regionais brasileiros, tanto no que diz respeito às regiões político-administrativas,<br />
como no que se refere ao corte urbano/rural. Assim, é importante o<br />
acompanhamento regionalizado das metas, além de estratégias específicas para a<br />
população rural.<br />
Ampliar a oferta de programas de formação a distância para a educação de jovens e<br />
adultos, especialmente no que diz respeito à oferta de ensino fundamental, com<br />
especial consideração para o potencial dos canais radiofônicos e para o atendimento<br />
da população rural.(PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO)<br />
Como se percebe, há, novamente, a visão de educação para todos, flexibilidade de<br />
currículo, autonomia pedagógica, respeito à sazonalidade, formação de professores mostrando<br />
a tendência progressista de educação. Entretanto, o que muitas vezes se percebe, na realidade,<br />
é que novamente o PNE não passa de meras palavras no que se refere à educação do campo.<br />
O questionamento que se faz é se a população do campo está sendo realmente beneficiada<br />
com tais ações.<br />
Assim, foi a partir desses documentos que foram elaboradas as Diretrizes Operacionais<br />
para a Educação Básica nas escolas do Campo, aprovada pela Resolução 01 CNE/CEB, de 03<br />
de abril de 2002.<br />
Sobre as Diretrizes, cabe citar que as mesmas estão em consonância com a LDBN no<br />
que se refere aos aspectos já citados da pedagogia progressista. Destaca-se o Art. 3 o que diz:<br />
O Poder Público, considerando a magnitude da importância da educação escolar<br />
para o exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo<br />
paradigma tenha como referências a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre<br />
todos, independente de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a<br />
universalização do acesso da população do campo à Educação Básica e à Educação<br />
Profissional de Nível Técnico (LDBN, Art. 3 o )<br />
Além disso, ressalta-se o compromisso com o respeito às diversidades sociais,<br />
culturais, políticas e econômicas, de gênero, geração e etnia das populações rurais. Também<br />
são aspectos importantes das diretrizes a obrigatoriedade da atenção ao desenvolvimento<br />
sustentável, a participação da comunidade na gestão escolar e a participação de movimentos<br />
sociais no auxílio educacional, notadamente na educação profissional e técnica. Não se pode<br />
55
deixar de mencionar a importância dada à formação de um profissional que esteja realmente<br />
preparado para lidar com as questões do campo, sem “urbanizar” o espaço do campo.<br />
A Portaria 1374, de 03/06/2003, instituiu o Grupo Permanente de trabalho de<br />
Educação do Campo com a “atribuição de articular as ações do Ministério pertinentes à<br />
Educação do Campo, divulgar e debater a implementação das Diretrizes Operacionais para a<br />
Educação Básica nas Escolas do Campo” (BRASIL, 2004). Tal grupo elaborou, em 2003, um<br />
Caderno de subsídios para uma Política Nacional de Educação do Campo. Tal caderno<br />
apresenta um diagnóstico da educação no campo em 2003 e estabelece pressupostos e<br />
propostas políticas para fazer cumprir as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do<br />
Campo.<br />
Dentre os pressupostos para uma política de educação no campo, constata-se a esta<br />
como um direito dos povos do campo. A Lei 9394/96 diz que a educação é um direito<br />
subjetivo, ou seja, qualquer pessoa pode exigir imediatamente o cumprimento de uma lei. Ou<br />
seja, se há uma lei que diz que a educação é um direito de todos, em havendo necessidade,<br />
qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode reivindicar o cumprimento de tal lei. Sendo a<br />
educação um direito social, as pessoas do campo não podem continuar sendo desprovidas<br />
desse direito básico para o exercício de sua cidadania.<br />
Outro pressuposto é a existência de um movimento pedagógico e político no campo.<br />
Isso se comprova pelas diversas parcerias entre organizações da sociedade civil organizada e<br />
poder público na luta pela educação no campo.<br />
Um terceiro pressuposto trata da questão do desenvolvimento sustentável. O<br />
documento constata que somente através da educação será possível realizar ações para<br />
transformações efetivas da realidade produtiva, ambiental, política e social.<br />
Sobre as políticas para a educação no campo, o documento se refere aos elementos de<br />
identidade das escolas do campo. As Referências apresentam que a educação voltada à<br />
valorização da identidade camponesa deve estar baseada na interpretação da realidade do<br />
campo, trabalhando suas questões de forma a potencializar suas atividades e melhorar a<br />
qualidade de vida dos que ali se encontram. Lembra que, no campo, existem diferentes tipos<br />
de sociedade, tais como assentados, quilombolas, indígenas, agricultores familiares,<br />
assalariadas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores, entre outros. Cada qual com suas<br />
particularidades e costumes que devem ser respeitados, preservados e cultivados.<br />
As Referências apresentam dois aspectos, os quais precisam ser levados em conta ao<br />
se defender uma educação que reforce a identidade dos povos do campo, a saber: uma<br />
educação que supere a dicotomia rural-urbano, pois “não existe um espaço melhor ou pior,<br />
56
existem espaços diferentes que coexistem” (BRASIL, 2004, p. 36) e uma educação que afirme<br />
o sentimento de pertença que “vai criar o mundo para que os sujeitos possam existir”. Dessa<br />
maneira, para que esses aspectos possam se desenvolver, o documento aponta alguns<br />
princípios que devem ser seguidos na implementação de ações educativas, da organização<br />
escolar e curricular e do papel escolar dentro do campo brasileiro. São eles:<br />
Princípio pedagógico da escola, enquanto formadora de sujeitos, articulada a um<br />
projeto de emancipação humana. Aqui se percebe uma grande diferença entre todos os outros<br />
projetos de educação no campo que já foram desenvolvidos no Brasil. Esta sempre foi voltada<br />
à profissionalização, às técnicas, ao saber lidar com a terra, mas principalmente em saber lidar<br />
com as tecnologias relacionadas à produção. Esse princípio, entretanto, chama a atenção para<br />
uma educação que “possibilita ao sujeito constituir-se enquanto ser social responsável e livre,<br />
capaz de refletir sobre sua atividade, capaz de ver e corrigir os erros, capaz de cooperar e de<br />
relacionar-se eticamente, porque não desaparece nas suas relações com o outro” (BRASIL,<br />
2004, p. 37). Para que isso aconteça, faz-se necessário levar em consideração todos os<br />
aspectos da vida do educando, tais como conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos,<br />
ou seja, a própria dinâmica da realidade social na qual ele está inserido.<br />
Princípio Pedagógico da valorização dos saberes no processo educativo. A ação<br />
educativa no campo deve levar em conta o conhecimento dos alunos, pais e comunidade para<br />
garantir mudanças e melhoria da qualidade de vida. Por isso, a educação no campo deve<br />
considerar a pesquisa enquanto um procedimento metodológico de construção do saber, posto<br />
que busca soluções para os problemas e desafios encontrados na comunidade na qual o<br />
educando está inserido.<br />
Princípio metodológico dos espaços e tempos de formação dos sujeitos da<br />
aprendizagem. Esse princípio considera que educação acontece tanto nos espaços escolares<br />
quanto fora deles. Portanto, as ações pedagógicas precisam considerar os diversos espaços<br />
que o educando frequenta. “A sala de aula é um espaço específico de sistematização, análise e<br />
de síntese das aprendizagens se constituindo assim, num local de encontro das diferenças, pois<br />
é nelas que se produzem novas formas de ver, estar e se relacionar com o mundo” (BRASIL,<br />
2004, p. 38).<br />
Princípio Pedagógico do lugar da escola vinculada à realidade dos sujeitos.<br />
Considerando que a realidade dos sujeitos não se limita ao espaço geográfico, mas aos<br />
elementos socioculturais que envolvem o modo de vida dos sujeitos esse princípio propõe<br />
que:<br />
Construir uma educação do campo significa pensar numa escola sustentada no<br />
57
enriquecimento das experiências de vida, obviamente não em nome da permanência,<br />
nem da redução destas experiências, mas em nome de uma reconstrução dos modos<br />
de vida, pautada na ética da valorização humana e do respeito à diferença. Uma<br />
escola que proporcione aos seus alunos e alunas condições de optarem, como<br />
cidadãos e cidadãs, sobre o lugar onde desejam viver. Isso significa, em última<br />
análise, inverter a lógica de que apenas se estuda para sair do campo. (BRASIL,<br />
2004, p. 39).<br />
Princípio Pedagógico da educação como estratégia para o desenvolvimento<br />
sustentável. O desenvolvimento deve se considerado a partir das perspectivas da<br />
sustentabilidade ambiental, agrícola, agrária, econômica, social, política, cultural, além de<br />
outros. O currículo precisa partir de uma lógica que valorize o ser humano, proporcionando a<br />
construção de sua cidadania, desenvolvendo condições de produção que promovam a justiça,<br />
o bem estar social e econômico.<br />
Princípio pedagógico da autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o<br />
sistema nacional de ensino. Para se fazer cumprir esse princípio, a educação no campo deve<br />
levar em conta que o campo não é um só. O campo é heterogêneo e muito diverso. Portanto,<br />
não se pode construir uma educação homogênea, mas articular as políticas nacionais à<br />
heterogeneidade do campo.<br />
Estruturadas a partir dos princípios acima estabelecidos, as Referências apontam<br />
algumas propostas de desenvolvimento da educação no campo, as quais devem proporcionar<br />
uma educação que valorize o ser humano, o meio ao qual está inserido e também a sua<br />
qualificação profissional, proporcionado assim uma educação para a cidadania plena.<br />
Atendendo a essa perspectiva de pluralidade e heterogeneidade é que, a Câmara da<br />
Educação Básica <strong>–</strong> CEB entende que a Pedagogia da Alternância seja adotada nas escolas do<br />
campo, por considerá-la a mais adequada no cumprimento dos princípios e das ações<br />
pedagógicas propostas pelos grupos envolvidos nas discussões sobre a educação no campo.<br />
Do exposto, pode-se dizer que grandes avanços aconteceram em favor da educação do<br />
campo no Brasil, dos quais, o principal deles pode ser considerado o fato de a educação no<br />
campo ser realmente tratada como uma educação do ser e não apenas o ensino de técnicas. Do<br />
escrito nos documentos que norteiam a educação no campo percebe-se uma forte influência<br />
dos pensamentos de Paulo Freire expressos na Pedagogia da Autonomia. A criticidade, a<br />
pesquisa, o respeito aos saberes do educando, a reflexão sobre a prática, o reconhecimento da<br />
identidade cultural, o bom senso, a valorização dos educadores, a convicção de que a<br />
mudança é possível, o comprometimento, o entender o eu, a educação é uma forma de mudar<br />
o mundo, a tomada consciente de decisão, o saber ouvir o outro, a disponibilidade para o<br />
diálogo e o querer bem aos educandos são aspectos bastante presentes nas discussões<br />
58
propostas por Paulo Freire. Assim, mais uma vez reforça-se a necessidade de o presente<br />
trabalho buscar na educação no campo do estado do Tocantins a presença atuante de tais<br />
princípios educacionais.<br />
Por outro lado, é importante ressaltar que, embora retratamos esse emaranhado de leis<br />
e normas ao longo da história da educação no campo brasileiro, não significa a existência de<br />
melhores condições de aprendizagem para quem vive no campo. Pelo contrário, essas leis e<br />
normas que o Estado impõe para o campo reproduzem, de forma visível, as diferenças entre a<br />
riqueza e a pobreza crescentes nas regiões brasileiras, especialmente no Norte e Nordeste.<br />
1.4 Educação do campo ou no campo? O respeito às particularidades rurais<br />
Educação do campo ou educação no campo são expressões aparentemente sem muita<br />
diferença, afinal as duas se referem a uma educação voltada para a população do campo.<br />
Entretanto, se as analisarmos do ponto de vista da semântica, logo perceberemos que entre<br />
elas existem diferenças importantes.<br />
Segundo o dicionário Aurélio, a palavra “do” é a contração da preposição “de”,<br />
somada ao artigo definido “o”. A preposição “de” é uma preposição designativa de relações<br />
de posse, lugar, modo, meio, valor e relaciona-se com o sentimento de pertença. A palavra<br />
“no” é a contração da preposição “em” somada ao artigo definido “o”. Indica lugar, tempo,<br />
local onde se está ou se sucede alguma coisa. Como prefixo de algumas palavras dá a ideia de<br />
introdução, movimento para dentro ou para algum lugar.<br />
Só pelas diferenças de semântica, já podemos perceber que a expressão “educação do<br />
campo” está muito mais relacionada a um tipo de educação voltada para o sujeito do campo,<br />
que reforce as suas relações de posse com o lugar, o meio, o modo de vida e os valores dessa<br />
população que sempre esteve à margem das políticas educacionais do país.<br />
Mas muito mais que uma questão de semântica, as expressões “do campo” e “no<br />
campo”, no contexto desse trabalho, vêm designar um modo de pensar educação<br />
contemplando ideologias políticas, sociais e conceituais diferenciadas.<br />
Quando tratamos de educação no campo, estamos falando de uma educação que<br />
acontece no campo, ou além disso, de uma educação que busca proporcionar para a população<br />
camponesa os conhecimentos científicos básicos. Uma vez que se destina à transmissão de<br />
conhecimentos, não necessariamente precisa acontecer no espaço do campo, podendo ser os<br />
59
alunos transportados para a cidade.<br />
Como se vê, a educação no campo não tem nenhum tipo de compromisso com o<br />
homem do campo, com suas relações sociais, com relações de trabalho, nem com a lógica<br />
produtiva do homem do campo. É totalmente desvinculada da cultura camponesa e visa,<br />
apenas, capacitar tecnicamente o homem do campo para poder atuar com as máquinas e<br />
demais tecnologias advindas da modernização. É desarraigada das relações sociais e busca<br />
fazer do homem do campo apenas um profissional do campo, ou seja, um proletário do<br />
campo, em benefício de uma agricultura caracterizada pela monocultura exportadora.<br />
A educação praticada, tendo como princípio o pensamento que o campo é apenas um<br />
espaço econômico, não privilegia o desenvolvimento da identidade camponesa, mas, enfatiza<br />
a urbanização como um alvo a ser perseguido, promovendo desse modo, a expulsão do<br />
camponês para as periferias das cidades.<br />
Mesmo que, no discurso, a educação no campo pregue uma educação que vise à<br />
formação de um ser completo e autônomo, suas ações pedagógicas não estão voltadas para a<br />
emancipação do ser, pois, enfatizando a urbanização não dará ao educando a oportunidade de<br />
(re)conhecer a sua própria realidade, promovendo assim a desconstrução da identidade do<br />
homem do campo.<br />
Contrariamente, a educação do campo propõe uma prática educativa totalmente<br />
voltada às necessidades do homem do campo. Essa educação, segundo Fernandes (2006), está<br />
muito relacionada às questões de território, entendido aqui como espaço de vida e como “tipo<br />
de espaço geográfico onde se realizam todas as dimensões da existência humana”.<br />
(FERNANDES, 2006, p. 29).<br />
Em uma educação do campo, a ação educativa, que também não é neutra, precisa estar<br />
voltada para as ações políticas, pois ultrapassa as ações meramente pedagógicas quando<br />
incorpora, no fazer educacional, a valorização das práticas sociais, dos conhecimentos, das<br />
habilidades, dos valores, do modo de produzir e do modo de ser do camponês. Essas ações<br />
não devem estar preocupadas apenas com a capacitação técnica do educando. Esse tipo de<br />
educação dinamiza a ligação do homem do campo com sua forma de se relacionar<br />
socialmente, com sua forma de tratar a terra, com sua relação com o trabalho, com seu<br />
imaginário e com seus diversos saberes.<br />
A educação do campo compreende que o campo não é apenas um espaço econômico,<br />
mas é um lugar de vida com relações sociais próprias e particulares. Dessa forma, as ações<br />
educativas, além de proporcionar a resolução de problemas encontrados no campo, vinculam<br />
à educação com a cultura camponesa, cultura essa não individualista e que tem no trabalho e<br />
60
nos valores morais sua maior produção material e cultural. Uma educação do campo não<br />
desvincula o cotidiano camponês do cotidiano educacional, fazendo da escola o locus da<br />
resolução dos problemas pelo conhecimento científico compartilhado.<br />
Por essa razão, o profissional da educação do campo não pode ser qualquer<br />
profissional, pois esse precisa conhecer profundamente a realidade do camponês para atuar<br />
sobre ela conjuntamente com os alunos. Precisa familiarizar-se com os problemas enfrentados<br />
pelos alunos e seus familiares, para poder buscar formas de resolvê-los. Precisa desvincular-se<br />
dos livros didáticos urbanos e voltar-se para atividades educacionais, que contribuam, não só<br />
para o desenvolvimento científico dos alunos, mas também para a construção, ou em muitos<br />
casos, para a reconstrução da identidade do camponês, “perdida” pelo processo de<br />
urbanização que o país sofreu nas décadas de 1960 a 1980. Precisa ter consciência de que sua<br />
ação deve voltar-se para a preservação do modo de vida, do modo de ser e de produzir do<br />
camponês.<br />
Quando praticamos uma educação do campo, estamos valorizando as relações de<br />
posse, lugar, modo, meio e valor presentes na semântica da palavra, bem como valorizando o<br />
sentimento de pertença a terra e a uma realidade que não se apresenta nem melhor, nem pior<br />
que outras realidades, apenas diferente. É reafirmar que, reconhecer-se camponês não é<br />
reconhecer-se como inferior, como atrasado, mas como uma classe social consciente de sua<br />
importância social e de sua realidade, para, a partir do conhecimento, buscar modificá-la pelas<br />
suas ações. É provocar uma mudança de paradigma social, quando propõe desenvolver<br />
conhecimentos que potencializam o desenvolvimento a partir de estratégias comunitárias e<br />
solidárias, e não apenas o crescimento econômico desenfreado e desvinculado do humano.<br />
Como se percebe, para fazer educação do campo é preciso muito mais do que leis, que<br />
em muitos casos nem saem do papel, é preciso ação e vontade política. Ação para levar ao<br />
campo, não só uma qualificação profissional, mas uma educação capaz de trabalhar e mudar<br />
uma “realidade de atrasos” e desqualificação para uma realidade cultural e produtiva, que<br />
proporcionem melhoria de qualidade de vida e valorização de uma classe social que muito<br />
contribui com esse país.<br />
Quando se trata de uma educação do campo, escolas localizadas no campo podem<br />
permanecer em estado de abandono. É preciso que haja investimentos no sentido de melhorar<br />
as instalações físicas e, principalmente, para formar os profissionais da educação para que<br />
possam realmente contribuir com a melhoria da qualidade de vida, não só dos educandos, mas<br />
de toda a comunidade na qual a escola está inserida. É preciso proporcionar condições para<br />
que essa educação efetivamente promova a autonomia e a emancipação do camponês,<br />
61
proporcionando a ele reconhecer-se como camponês sem envergonhar-se disso e assim<br />
contribuir para uma realidade social mais justa e solidária.<br />
62
CAPÍTULO II<br />
EDUCAÇÃO NO CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>: HISTÓRIA E<br />
DESENVOLVIMENTO<br />
2.1 A história da Educação no Campo no Estado do Tocantins<br />
O espaço geográfico onde hoje se localiza o Estado do Tocantins pertencia <strong>–</strong> até 1988<br />
<strong>–</strong> ao norte do estado de Goiás. A exemplo do que aconteceu em todo o território brasileiro, a<br />
colonização da capitania de Goiás se deu a partir da ideia mercantilista de exploração,<br />
notadamente a aurífera. A constatação de que essa região era a maior produtora de ouro da<br />
capitania fez com que fosse intensificado o processo de ocupação, incentivado enquanto<br />
houve minas a serem exploradas.<br />
Diferentemente das regiões do sul, entretanto, a preocupação com a educação da<br />
população que vinha para o norte era inexistente, principalmente por ser essa população<br />
formada em sua grande maioria por escravos.<br />
Aliás, foram justamente os constantes conflitos entre a população nativa e os mineiros<br />
que não permitiram o bom trabalho dos jesuítas nessa região.<br />
No período colonial, Pará e Maranhão, vizinhos do Tocantins, tiveram o jesuíta na<br />
educação do índio, ensinando-o a ler e escrever língua portuguesa. Tocantins<br />
desconheceu essa instrução, porque os aldeandos estavam sempre em pé de guerra<br />
com o colonizador aventureiro (SILVA, 1996, p. 128).<br />
De acordo com Apolinário (2006, p. 50), “os padres jesuítas eram responsáveis pela<br />
organização social, catequização e educação das artes liberais dos indígenas aldeados no<br />
antigo Norte de Goiás”. Entretanto, como o maior interesse nessa educação era utilizar o índio<br />
como mão de obra, esses índios demonstravam-se resistentes. “Os religiosos que atuavam na<br />
educação e instrução dos indígenas do aldeamento de Duro tinham dificuldades em mantê-los<br />
sob suas ordens, pois os segundos resistiam a todo custo à opressão e ao modo de vida do<br />
colonizador.”<br />
Segundo Silva (1996), mesmo com o sistema de aulas avulsas de Pombal, a região<br />
norte de Goiás continuou a produzir analfabetos. Em seu relato, aponta para a cidade de<br />
Carolina como um dos primeiros lugares a contar com escolas na região, fazendo menção ao<br />
63
Instituto Renascença que “funcionava com estrutura de curso ginasial”, mas não menciona<br />
datas.<br />
Já Oliveira (2002), aponta que Porto Imperial (hoje Porto Nacional) “contou com uma<br />
escola pública funcionando em 1840” (OLIVERIA, 2002, p. 271) e que a mesma atendia<br />
apenas os alunos do sexo masculino. As meninas somente tiveram acesso à educação a partir<br />
de 1864. Em 1886, padres dominicanos que chegaram a Porto Imperial “empreenderam<br />
incursões às aldeias indígenas, fundaram escola primária e banda de música” (OLIVEIRA,<br />
2002, p 269).<br />
Em 1896, o Estado havia nomeado professores de português, francês, e aritmética,<br />
de nível secundário, nos municípios que tinham pessoas habilitadas nessas matérias.<br />
Foram beneficiados com tal medida os municípios de Catalão, Rio Verde, Entre<br />
Rios, Porto Nacional e Palma. Mas somente em Porto Nacional as aulas<br />
funcionavam com certa regularidade (OLVIEIRA, 2002, p. 271).<br />
Em 1904, freiras dominicanas chegam a Porto Nacional para auxiliarem na educação<br />
da população. Tal acontecimento foi de grande importância para o desenvolvimento<br />
intelectual no Tocantins, em especial para a educação feminina. Atendiam não só a cidade de<br />
Porto Nacional, mas também de toda a região por terem construído ali um colégio internato.<br />
Na região, havia apenas a Escola Primária, sendo necessário se dirigir para centros<br />
maiores para a continuação dos estudos.<br />
Em 1904, o médico Dr. Francisco Ayres da Silva foi nomeado pelo governo a reger a<br />
instrução pública na região norte, porém, em 1909, “o governo do Sul de Goiás resolveu<br />
extinguir as escolas públicas de Porto e Paranã” (SILVA, 1996, p. 129).<br />
Silva (1996) também aponta para Natividade, Arraias, Porto Nacional e Carolina como<br />
“centros irradiadores de saber para a juventude tocantina”.<br />
Nesse período, não se separa educação urbana da educação do campo, haja vista que o<br />
fenômeno da urbanização não se fazia tão presente na região. “Na sociedade estabelecida,<br />
dividida entre grandes proprietários, não poderia existir interesse nem necessidade de trocas<br />
intelectuais. Não havia lugar para a vida urbana, não aproxima e não cria condições para a<br />
comunicação de ideias” (SILVA, 1996, p. 128).<br />
No que tange à população camponesa, registros afirmam ser sua situação de<br />
isolamento, responsável pela formação de uma sociedade iletrada. Entretanto, essa situação de<br />
falta de letramento não era algo pertencente apenas à população camponesa.<br />
Na roça não existe o sistema de leis, nem hábitos de pesquisa ou reflexão intelectual<br />
[...] Ao longo do tempo, a única coisa que havia de comum entre a roça (interior) e a<br />
rua (cidade) era a falta de instrução escolar. Daí o atraso secular da nossa gente.<br />
Acreditamos mesmo que há muito o Norte não manteve a sua independência<br />
político-adminsitrativa exatamente pela ausência de instrução escolar dos nortenses.<br />
64
[...] O ensino secundário era proibitivo. Era natural que nos primeiros tempos do<br />
arraial, como em geral acontecia em todos os lugares do sertão, não houvesse<br />
escolas públicas. Os próprios pais <strong>–</strong> quando sabiam ler <strong>–</strong> transmitiam aos filhos os<br />
rudimentos da Linguagem e da Aritmética. Outros, contratavam professores<br />
particulares para esse mister. Esses professores eram autodidatas e possuíam uma<br />
pequena biblioteca, onde os livros de Leis ocupavam lugar de destaque. Essa foi a<br />
fase heróica da Educação que se estendeu até a década de 1940 (SILVA, 1996, p.<br />
130).<br />
De acordo com Arbués (2002), foi por meio da política de ocupação da região<br />
amazônica do Estado Novo, a partir de 1937, que a Região Norte iniciou um processo de<br />
aumento demográfico. Esse processo é ainda mais intensificado na década de 1960, com a<br />
construção da rodovia Belém-Brasília, a BR 153.<br />
Entretanto, pelos relatos históricos se pode perceber que, apesar do interesse em<br />
povoar o norte do estado, a situação de abandono por parte dos governantes era uma<br />
realidade.<br />
Escolas? Nesses trezentos e muitos milhares de quilômetros quadrados, onde luta<br />
desesperadamente uma população de quase duzentas mil almas cheias de<br />
patriotismo, não há uma única escola federal. Por muito favor há escolas primárias<br />
estaduais, municipais e particulares, que, para a multidão de crianças em idade<br />
escolar, só podem comportar um exíguo número de alunos 2 .<br />
Nesse contexto expansionista, nasceu a escola de Canuanã, da Fundação Bradesco em<br />
Formoso do Araguaia. No ano 1973, um grande fazendeiro, vindo de São Paulo, resolveu<br />
transformar parte de sua fazenda em uma escola internato para atender à população carente da<br />
região de Formoso do Araguaia. Nota-se que a falta de escolas era uma realidade, haja vista<br />
haver uma empresa privada (Fundação Bradesco) fomentando a educação gratuita na região.<br />
A partir da criação do estado do Tocantins, houve melhorias no que se refere à<br />
abertura de escolas e de implantações de programas para atender tanto à população urbana<br />
quanto à população do campo.<br />
Por meio da entrevista na gerência da educação no campo da Secretaria da Educação<br />
do Estado do Tocantins <strong>–</strong> SEDUC, percebemos que está havendo uma movimentação em<br />
torno da educação no campo no estado, a partir do programa Escola Ativa, do governo<br />
federal, para atender às escolas do campo.<br />
Nunes (2008), faz referência ao I Seminário Estadual de Educação do Campo do<br />
estado do Tocantins, acontecido em Palmas, no ano de 2004. Como resultado, nasceu o<br />
Fórum Permanente de Educação do Campo. Este fórum evidenciou algumas políticas públicas<br />
necessárias a melhorar a educação no campo no estado, a saber:<br />
2 Entrevista do cel. Lysias Rodrigues ao jornal “Brasil-Portugal”, do Rio de Janeiro, e transcrita pelo semanário<br />
“A Tarde”, de Carolina, edição n o 718, em 19/5/44<br />
65
Eliminação do analfabetismo rural através da educação de jovens e adultos;<br />
Acesso de todos à escola;<br />
Implementação das Diretrizes Operacionais da Educação Básica para as Escolas do<br />
Campo nas estruturas municipais de educação;<br />
Maior participação da população na gestão escolar da escola do campo;<br />
Apoiar iniciativas de modificações nas estruturas e nos currículos das escolas do<br />
campo, construindo uma pedagogia adequada ao meio rural;<br />
Elaborar propostas de formação de professores para as escolas do campo;<br />
Maior incentivo a pesquisas e estudos sobre o meio rural;<br />
Nunes (2008), também aponta que programas para atender a educação no campo<br />
foram implementados no Tocantins, a saber: Programa Escola Ativa (1999), Programa<br />
Saberes da Terra (2006) e o Referencial Curricular da Educação do Campo (2008). Além<br />
desses aponta também para a importância das EFAs e da escola itinerante do MST.<br />
A primeira Escola Família Agrícola <strong>–</strong> EFA chegou ao estado do Tocantins em 1994,<br />
em Porto Nacional. Nasceu a partir de um movimento que buscava minimizar a saída da<br />
população do campo para estudar na cidade. Preocupados com essa situação, e sabendo que<br />
um dos maiores motivos da transferência da população do campo para a cidade era a busca<br />
pela educação dos filhos, um grupo de pessoas ligadas a uma instituição não governamental<br />
(COMSAÚDE), buscou, no MEPES, uma alternativa para minimizar o problema. Em 2000,<br />
nasce a EFA Zé de Deus, em Colinas, e em 2006, a EFA São Francisco, em Campos Lindos.<br />
2.2 A proposta da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins<br />
Nesses 22 anos de existência do estado do Tocantins, a SEDUC desenvolve ações com<br />
base nas diretrizes nacionais, adotando os programas do Ministério da Educação e Cultura <strong>–</strong><br />
MEC.<br />
Com respeito à Educação no Campo, o Tocantins adotou os programas Escola Ativa e<br />
Saberes da Terra e desenvolveu o Plano Estadual de Educação, o qual em seu artigo 6 o trata<br />
especificamente da educação no campo. Além desses, publicou, em 2008, a primeira versão<br />
da Proposta Curricular para a Educação do Campo no Tocantins.<br />
De acordo com Nunes (2008), o programa Escola Ativa é:<br />
[...] uma experiência colombiana pensada por teóricos norteamericanos para<br />
66
minimizar a baixa qualidade educacional na zona rural. Financiado pelo Banco<br />
Mundial, este programa se destina às séries iniciais do ensino fundamental<br />
ministradas em classes multisseriadas, apresenta uma metodologia de ensino<br />
variada, e atua ainda na formação continuada dos professores da zona rural.<br />
(NUNES, 2008, p. 124).<br />
Conforme publicado na página eletrônica da SEDUC, esse programa “combina, em<br />
sala de aula, uma série de elementos e de instrumentos de caráter pedagógico/administrativo,<br />
cuja implementação objetiva aumentar a qualidade do ensino oferecido nessas classes”. No<br />
Brasil foi implementado em 1997 “com o objetivo de minimizar uma lacuna no sistema<br />
educacional brasileiro: a ausência de metodologia adequada para o atendimento de escolas<br />
multisseriadas”.<br />
No Tocantins, o programa teve início em 1999 atendendo:<br />
e tem por objetivo:<br />
25 escolas da ZAP I (Zona de Atendimento Prioritário I), 10 municípios que<br />
formaram o pólo de Palmas. No ano de 2000 foi expandido para 81 escolas em 17<br />
municípios que integram a ZAP II (Formando o Pólo de Araguaína). No ano<br />
seguinte expandiu-se o número de escolas atendidas pelo Programa nas ZAP´S I e II<br />
para 163 escolas. O Programa FUNDESCOLA subsidiou o Programa Escola Ativa<br />
nas ZAP´s I e II fornecendo os Kits pedagógicos, Cadernos de Aprendizagens,<br />
capacitações para os professores e um supervisor para acompanhar a implementação<br />
e desenvolvimento do Programa. Em 2001 o Programa foi expandido na modalidade<br />
autônoma para 44 escolas da Rede Municipal. Atualmente atende a 84 municípios<br />
em 381 escolas totalizando 3.606 alunos do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e<br />
em 14 escolas da Rede Estadual de Ensino, distribuídas em 07 Diretorias Regionais<br />
de Ensino. E está regulamentada na Normativa nº 054/2007 do CEE/TO. 3<br />
Ofertar às escolas multisseriadas uma metodologia adequada e com custos mais<br />
baixos do que a nucleação; Atender o (a) estudante em sua comunidade; Promover a<br />
eqüidade; Reduzir as taxas de evasão e de repetência nas escolas multisseriadas;<br />
Corrigir a distorção idade/ série dos (as) estudantes; Promover a participação dos<br />
pais nos aspectos pedagógicos e administrativos da escola; Melhorar a qualidade do<br />
ensino fundamental <strong>–</strong> 1º ao 5º ano - ofertado nessas escolas. 4<br />
Conforme Nunes (2008, p.124), que também é responsável pela gerência da Educação<br />
do Campo na SEDUC, os:<br />
[...] técnicos das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação consideram o<br />
programa inovador. Apontam pontos positivos, como: a formação continuada destes<br />
professores, que estavam esquecidos nas escolas isoladas e a flexibilidade da<br />
proposta curricular, principalmente no que se refere à realização dos trabalhos em<br />
grupo. E como negativos: a falta de compreensão por parte dos professores do<br />
desenvolvimento da metodologia do programa e uma pedagogia centrada na<br />
memorização e no verticalismo dos conteúdos.<br />
O Programa Saberes da Terra foi desenvolvido no Tocantins, em 2006, por sugestão<br />
3 Texto retirado da página http://www.seduc.to.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2307<br />
4 Ibid.<br />
67
do Fórum Permanente de Educação do Campo.<br />
Implementado pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada,<br />
Alfabetização e Diversidade, tinha por objetivo alfabetizar 5.000 jovens agricultores de<br />
diferentes locais do Brasil, tais como Bahia, Pernambuco, Paraíba, Maranhão e Piauí, Mato<br />
Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná, Minas Gerais, Pará, Tocantins e Rondônia. Como se<br />
vê, foram contemplados estados de todas as regiões administrativas do Brasil.<br />
No Tocantins, o programa:<br />
e tem por objetivo:<br />
[...] possibilitou, o ingresso de 250 jovens e adultos a partir dos 15 anos em 11<br />
escolas de 8 municípios da Região do Bico do Papagaio no Estado Tocantins. Os<br />
educandos do Projeto Piloto atenderam à escolarização prevista pelo Projeto 2008. A<br />
partir de 2007, o Programa vem passando por uma reestruturação, passou a integrar<br />
o Programa Nacional de Juventude com a denominação de ProJovem Campo <strong>–</strong><br />
Saberes da Terra com algumas modificações na operacionalização, e na estrutura<br />
pedagógica e um recorte etário atendendo apenas jovens agricultores familiares de<br />
18 a 29 anos. Para 2009 o Programa objetivou atender 874 educandos em 31 turmas<br />
em 8 DRE nas diversas regiões do estado. 5<br />
Desenvolver políticas públicas de Educação do Campo e de juventude que<br />
oportunizem a jovens agricultores(as) familiares, excluídos do sistema formal de<br />
ensino a escolarização em Ensino Fundamental na modalidade de educação de<br />
Jovens e Adultos, integrados à qualificação social e profissional. 6<br />
O Plano Estadual de Educação <strong>–</strong> PEE <strong>–</strong> , aprovado pela Lei n o 1.859, de 06 de<br />
dezembro de 2007, foi elaborado contando com a participação de todas as comunidades<br />
envolvidas com o processo educacional do estado e de educadores preocupados com as<br />
políticas educacionais. Nele, a educação no campo é citada nas diretrizes para o ensino<br />
fundamental, para o ensino médio, para educação de jovens e adultos, para educação à<br />
distância e tecnologias educacionais, para educação tecnológica e formação profissional. Em<br />
seu Artigo 6 0 trata, especificamente, das diretrizes para educação no campo.<br />
No contexto do PEE são destacados aspectos como:<br />
Tratamento diferenciado aos alunos do campo, respeitando as peculiaridades<br />
geográficas, climáticas e econômicas, levando em consideração as distâncias<br />
percorridas e as condições dos transportes que utilizam;<br />
Garantia de transporte adequado;<br />
Garantia do Ensino Fundamental específico e contextualizado;<br />
Garantia de vagas para cursar o Ensino Médio;<br />
Garantia de atendimento na Educação de Jovens e Adultos;<br />
5 Texto retirado da página http://www.seduc.to.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2310<br />
6 Ibid.<br />
68
Instituir programas de formação à distância;<br />
Oferecer programas de formação técnica e profissional específica, levando em<br />
consideração o nível de escolarização, peculiaridades e potencialidades da atividade<br />
agrícola da região.<br />
Neste artigo pode-se verificar que as diretrizes de tal programa seguem os documentos<br />
“Resolução CNE/CEB/n. 1, de 3 de abril de 2002, pelo artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases<br />
da Educação Nacional, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/1998 e Manual<br />
de Operações do PRONERA <strong>–</strong> Portaria do INCRA/P/n. 282, de 26 de abril de 2004”.<br />
A partir desses documentos, foram elaboradas diretrizes as quais destacam, entre<br />
outras, o acesso à Educação Infantil, Fundamental e Média, o respeito à identidade cultural e<br />
social dos educandos, a organização do calendário às necessidades rurais, formação específica<br />
para educadores do campo e articulação com outros setores para promover políticas públicas<br />
que atendam às necessidades específicas da educação no campo.<br />
No âmbito dos objetivos e metas, destacam-se a busca por parcerias com Municípios,<br />
União e Universidades, a oferta progressiva de vagas para todos os níveis educacionais<br />
(infantil, fundamental, médio, profissional e superior), melhoria das condições físicas dos<br />
estabelecimentos de ensino, melhoria das condições de transporte, implementação de pólos<br />
educacionais para educação fundamental e média, no próprio espaço do campo, e<br />
implementação do plano de carreira contemplando e valorizando o educador do campo.<br />
Conforme entrevista realizada na gerência da Educação no Campo da SEDUC, dos<br />
objetivos e metas descritos no PEE, quase a totalidade ainda está em fase inicial de realização.<br />
O que se tem de concreto é a elaboração da proposta curricular, que ainda sofrerá alterações, e<br />
algumas parcerias que estão sendo buscadas com os programas Escola Ativa e Saberes da<br />
Terra para a formação de professores. Existem, também, alguns projetos de construções de<br />
escolas em parcerias com os municípios. Daí se percebe a morosidade e, porque não dizer, um<br />
certo descaso do poder público em fazer acontecer aquilo que fica muito bem no discurso.<br />
Percebe-se que as pessoas envolvidas com o processo educacional, na gerência da<br />
Educação do Campo, têm muita vontade de que tais objetivos sejam alcançados. Mas, a<br />
observação e análise das falas, entretanto, deixa a entender que as instâncias maiores não<br />
demonstram ter a mesma motivação e engajamento.<br />
Existem, também, alguns projetos pontuais que são oferecidos por outras secretarias às<br />
comunidades rurais. Entretanto, quando esses projetos chegam até a SEDUC já estão em<br />
andamento, por terem sido desenvolvidos por meio dos municípios, que têm autonomia para<br />
tal atuação. Essa situação vem reforçar o que foi comentado a respeito de uma articulação<br />
69
maior entre prefeituras e SEDUC.<br />
Com respeito à Proposta Curricular para a Educação do Campo no estado do<br />
Tocantins, publicada no ano de 2008, apresenta as competências, habilidades e conteúdos<br />
mínimos que necessitam ser trabalhados nas escolas do campo para o Ensino Fundamental e<br />
Médio. Contempla e é dirigida a partir das quatro premissas propostas pela UNESCO como<br />
eixos estruturais da educação para a sociedade contemporânea: aprender a conhecer, aprender<br />
a fazer, aprender a viver e aprender a ser.<br />
De tal modo trata-se de uma proposta curricular comprometida com o<br />
desenvolvimento total da pessoa, sempre considerando que a educação do campo<br />
deve ser um instrumento de preparação do educando para a vida numa perspectiva<br />
de mundo globalizado em que as fronteiras de rural e urbano caminham cada vez<br />
mais para o encurtamento. Ao mesmo tempo está atenta para não sobrepor o ideal de<br />
vida urbana ao do campo, como historicamente vem ocorrendo no país, onde o<br />
campo é visto como lugar de atraso e a cidade de desenvolvimento. Portanto, o que<br />
se espera desta proposta curricular é sua eficiência no processo de emancipação dos<br />
educandos do campo em relação a uma vida materialmente mais próspera,<br />
socialmente mais digna, ambientalmente mais auto-sustentável e espiritualmente de<br />
equilíbrio e paz interior. (GOVERNO <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>, 2008, p. 25).<br />
A proposta apresenta-se organizada por área do conhecimento, a saber:<br />
Ciências Humanas: deve desenvolver no educando do campo a formação da<br />
inteligência sócio-política e crítica, oferecendo uma formação ética e humanista<br />
baseada no respeito à diversidade de pensamentos e cultura, além de promover a<br />
valorização da vida. Dentre as competências a serem desenvolvidas nessa área<br />
destacam-se: adotar comportamento de racionalidade crítica mediante os discursos que<br />
perpassam no interior da sociedade; ser capaz de conviver com a diversidade cultural;<br />
ser capaz de compreender que a sociedade, tanto no campo como na cidade não é<br />
resultado determinista das situações naturais irreversíveis, mas sim de articulações<br />
humano-sociais<br />
Linguagens: O homem é por natureza um ser que se comunica. Nessa perspectiva o<br />
papel dessa área é despertar no educando entender os significados ideológicos<br />
presentes nas manifestações específicas das diferentes linguagens. Nesse quesito uma<br />
das competências que merece destaque é ser capaz de utilizar das linguagens como<br />
ferramenta de comunicação emancipatória.<br />
Ciências da Natureza e Matemática: O modo de vida e as atividades cotidianas rurais<br />
são permanentemente ligados à essa área de conhecimento. Por essa razão, a educação<br />
do campo precisa desenvolver essa área de conhecimento como condição de cidadania<br />
e elevação da qualidade de vida.<br />
Com respeito à avaliação da aprendizagem, a proposta sugere que seja utilizada a<br />
70
concepção sociointeracionista, pois considera que a avaliação deva servir para subsidiar a<br />
tomada de decisão sobre o trabalho pedagógico e não para decidir quem será excluído do<br />
processo. Essa proposta de avaliação aceita o educando a partir de sua realidade concreta,<br />
considerando sua condição social, política, cultural e religiosa.<br />
Essas são as propostas para a educação no campo no estado do Tocantins. Todas elas<br />
apresentam um discurso epistemologicamente correto. Porém, sabe-se que para sair do<br />
discurso e ir para a prática, grandes são os desafios e as barreiras que precisam ser enfrentados<br />
e vencidos afim de se tornar uma realidade presente na vida dos camponeses.<br />
2.3 As Contradições das Propostas Nacionais e Estaduais para a Educação no Campo<br />
Conforme já explicitado no Capítulo I, as propostas nacionais para a educação no<br />
campo estão descritas em três documentos principais <strong>–</strong> LDBN, PNE e CNE/CEB <strong>–</strong> e em<br />
publicações realizadas pelo Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo. As<br />
propostas para o estado do Tocantins estão estabelecidas na Lei 1.859, de 6 de dezembro de<br />
2007, que aprova o Plano Estadual de Educação <strong>–</strong> PEE, elaborado em concordância com as<br />
diretrizes nacionais descritas acima.<br />
Nesses documentos, fica claro que as propostas nacionais propõem e, por força destas,<br />
as propostas estaduais e municipais também, seguir uma linha de educação progressista e<br />
desenvolver seus conteúdos a partir de uma concepção pós-crítica do currículo.<br />
Na perspectiva adotada pelo Estado, a Educação no Campo passa do histórico e total<br />
esquecimento para um visível processo de valorização, dando aos seus agentes fomentadores,<br />
inclusive, a autonomia de gestão, flexibilidade de currículo, respeito às particularidades<br />
geográficas e climatológicas, entre outras.<br />
Se antes a população camponesa era tida como atrasada, desprovida de cultura e<br />
ignorante no que diz respeito às técnicas avançadas de produção, pelos documentos atuais,<br />
essa população passa a ser vista como cidadã, possuidora de cultura própria que necessita ser<br />
respeitada e inserida num contexto de criticidade, liberdade de escolha e desenvolvimento<br />
tecnológico sempre a ela negado. Discurso bonito e carregado de boas intenções, que<br />
proporciona medidas compensatórias para apagar todos os anos de esquecimento e abandono<br />
a que sempre foi submetida.<br />
Todas essas propostas não surgiram por vontade do Estado, mas sim pela pressão dos<br />
71
movimentos sociais que exigiram do poder público uma reação para um problema que há<br />
muito carecia de dedicação e resolução. Então, como resposta, o Estado estabelece leis,<br />
diretrizes e planos, os quais deixa a cargo das localidades operacionalizá-los.<br />
Diante desse quadro, as regiões mais desenvolvidas conseguem uma rápida<br />
articulação, seguida de bons resultados no processo de implementação dessas mudanças.<br />
Entretanto, aquelas regiões que sempre foram esquecidas e carecem de políticas públicas mais<br />
efetivas para suprir as necessidades mais básicas <strong>–</strong> como alimentação e moradia, por exemplo<br />
<strong>–</strong> acabam por sofrer um enorme desgaste para conseguir tornar possível todas as vontades<br />
expressas nos documentos.<br />
No Tocantins, isso se percebe muito claramente, tanto ao se verificar o que de real<br />
aconteceu desde a aprovação dos documentos, quanto ao se constatar a real situação de muitas<br />
escolas do campo espalhadas pelos municípios do interior do estado, que ainda sofrem pelo<br />
abandono e falta de recursos para melhorar as instalações físicas.<br />
Percebe-se que, desde 2004, existe uma tentativa de estabelecer ações efetivas no<br />
sentido de colocar em prática o conteúdo dos documentos. O PEE foi aprovado em 2007 e a<br />
Proposta Curricular foi elaborada em 2008. Entretanto, o que de real acontece é a execução<br />
dos Programas Escola Ativa e Saberes da Terra, salvo algumas outras ações bem pontuais.<br />
A dificuldade de operacionalização das leis também pode ser percebida pela entrevista<br />
realizada na SEDUC quando é relatado que:<br />
[...] o MEC também ainda não tem essa política estruturada de fluxo da educação no<br />
campo, do campo e no campo, ainda não tem. Eles oferecem alguns programas<br />
pontuais como o Saberes da Terra...[...] tem o programa Escola Ativa, tem o Brasil<br />
Profissionalizando..Então assim, ainda não há um fluxo da educação básica no<br />
campo. Essa política ela não está estruturada nem em nível de Ministério da<br />
Educação 7<br />
Além desse respaldo não dado pelo próprio Ministério da Educação, percebe-se o grau<br />
de amplitude e complexidade existentes para tornar tais diretrizes, objetivos e metas<br />
operacionalizáveis quando se observa que, questões de infra-estrutura ainda são impeditivos<br />
para o acesso de todos os residentes no campo à educação formal. É o que percebemos pela<br />
entrevista realizada:<br />
7 Entrevista concedida no dia 04 de dezembro de 2009<br />
Para a gente ter uma eficácia na educação do campo... ela é uma política muito<br />
ampla. Ela entra todos os setores. Não pode só pensar na visão da educação, mas é<br />
muito mais ampla. Porque aí entra a questão de acesso. Tem a questão das estradas<br />
de tudo. Como é que a educação vai viabilizar essa questão da estrada? Então<br />
precisa outros elementos, outros setores não só da visão da educação. [...] É uma<br />
visão política e uma política maior, que envolve outros setores. [...] que também<br />
72
envolve uma articulação com municípios 8<br />
Não será uma contradição colocar no documento que todos devem ter acesso à<br />
educação, quando para que esse acesso se torne uma realidade alguns educandos necessitam<br />
levantar de madrugada e enfrentar grandes trechos a pé para chegar à escola? Não será uma<br />
contradição estabelecer uma diretriz que diz que é preciso haver uma proposta curricular<br />
diferenciada para a Educação Infantil, quando a realidade das escolas do interior do estado<br />
ainda não dispõe, sequer, de instalações adequadas para a realização do Ensino Fundamental?<br />
Não é contradição estabelecer uma meta de melhoria do transporte escolar sendo que é<br />
negligenciada a própria condição das estradas pelas quais deve circular esse transporte?<br />
Não se quer dizer, aqui, que a Gerência da Educação do Campo não está empenhada<br />
em tornar o discurso uma realidade, e nem tão pouco a SEDUC, como dito na entrevista<br />
realizada:<br />
Mas assim, muita vontade da Secretaria de atender tem, através da Gerência da<br />
Educação do Campo, vontade mesmo das pessoas que estão aí à frente, né, de fazer<br />
um trabalho diferenciado. Mas é um trabalho que vai demorar algum tempo, como a<br />
gente já vem há muitos anos nesse processo....e os desafios são muitos! Muitos<br />
desafios! Porque é preciso uma visão muito ampla desse processo. 9<br />
O que aqui se apresenta é que, é preciso algo mais que leis, diretrizes, objetivos, metas<br />
e palavras bonitas. É preciso que se tenha vontade política das instâncias governamentais<br />
superiores, destinar recursos financeiros para que se possa efetivar formas de capacitação de<br />
pessoal e melhorar as condições de infra-estrutura, efetivar a articulação entre todas as partes<br />
envolvidas, para que haja cooperação entre elas e não uma disputa individualista por recursos<br />
que atendam às necessidades isoladas e de interesse único. E quem deve ser o maior<br />
articulador desse processo é o governante maior do estado. Mas é preciso, principalmente, que<br />
tudo isso não fique só na vontade.<br />
Enquanto essas questões básicas não forem dirimidas e, para além disso, efetivamente<br />
resolvidas de forma prática, o que se terá é exatamente o que se tem hoje: palavras bonitas em<br />
um discurso que nada acrescenta de melhoria para uma população há muito esquecida em<br />
todos os seus direitos. É preciso ação. Ação para mudar as realidades de uma população que,<br />
apesar das grandes modificações ocorridas na sua história, ainda continua esquecida e<br />
desprovida de seus direitos.<br />
8 Entrevista concedida no dia 04 de dezembro de 2009.<br />
9 Ibid<br />
73
2.4 Realidades e Complexidades da Educação no Campo no Tocantins<br />
O estado do Tocantins, o mais novo da Federação, desde a sua criação vem sofrendo<br />
um processo de desenvolvimento bastante acelerado.<br />
Aos 22 anos de existência, no novo estado muitas coisas já foram conquistadas, em<br />
especial no que concerne à Educação.<br />
Enquanto que, na década de 1940, o Cel. Lysias Rodrigues reclamava da falta de<br />
escolas na região, hoje já não se pode dizer que faltam escolas, nem mesmo para atender à<br />
população camponesa. Entretanto, alguns aspectos ainda precisam de atenção maior, como<br />
por exemplo, as condições das instalações físicas das escolas do campo, estradas e formas de<br />
acesso, para citar as mais evidentes.<br />
Ainda é fato que a distância entre a casa e a escola <strong>–</strong> mesmo quando esta se encontra<br />
no campo <strong>–</strong> é um grande problema a ser enfrentado. Também, muitas escolas trabalham com<br />
classes multisseriadas, com professor único para atender a todas as crianças, que as escolas<br />
existentes campo ainda oferecem apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental, que muitas<br />
prefeituras pensam ser mais barato e mais prático transportar os alunos para uma escola da<br />
cidade do que proporcionar a esses alunos aquilo que a LDBN diz que lhe é garantido: ser<br />
educado, observando as particularidades do meio em que vivem e que as instalações físicas de<br />
muitas escolas do campo estão às ruínas e não oferecem condições que proporcionem uma<br />
aprendizagem capaz de realmente modificar a vida dos educandos.<br />
Existem os que são “privilegiados” com um transporte escolar que os levam para a<br />
cidade, mas esse “privilégio” os leva para uma educação que nada tem a ver com sua<br />
identidade, com seus costumes, com seu modo de vida. Nesse ambiente urbano, acabam sendo<br />
discriminados pela sua situação de camponês e acabam por se aceitar como um ser inferior.<br />
Sem contar que quando esse aluno chega até a escola, já está cansado em função de tudo o<br />
que já teve que enfrentar para estar ali.<br />
Essa situação é comprovada pela entrevista realizada na SEDUC, onde a pessoa<br />
entrevistada diz:<br />
Eles (os municípios) não atendem nem os anos finais e nem o ensino médio no<br />
campo. Esses alunos são trazidos para a zona urbana por transporte escolar, quem<br />
tem acesso ao transporte escolar. Há um tempo muito grande de demora desses<br />
alunos nesse transporte, alunos que andam bastante pra pegar o transporte escolar. E<br />
depois do transporte tem uma rota e ai a partir daquela rota o aluno tem que andar<br />
ainda bastante pra chegar a sua escola.[...] 10<br />
10 Entrevista concedida no dia 04 de dezembro de 2009.<br />
74
Outro problema, enfrentado na realidade cotidiana das escolas no campo do estado do<br />
Tocantins, é o da formação do docente para atuar nessas escolas de singularidades tão<br />
particulares. Apesar do programa Escola Ativa e Saberes da Terra, que oferecem formação<br />
para os docentes que atuam no campo, o estado ainda não firmou uma parceria com as<br />
Faculdades e Universidades no que concerne a estruturar um curso superior de formação<br />
docente para atuar especificamente no campo. Daí ocorre que, nas escolas do campo, acaba<br />
sendo desenvolvido um currículo com parâmetros urbanos, ministrado por professores<br />
urbanos que não se identificam com a realidade do campo. E nem podem se identificar. Eles<br />
não pertencem à realidade do campo, não conhecem os problemas, as alegrias e as relações<br />
sociais presentes no cotidiano do camponês.<br />
No intuito de sanar parcialmente esse problema, a SEDUC elaborou uma proposta<br />
curricular cujo objetivo é “ter um norte, uma base e a partir da formação poder trabalhar o<br />
contexto do campo”. Mas como trabalhar um contexto sobre o qual o professor pouco ou nada<br />
conhece e não faz parte da sua vida?<br />
Também existe a realidade de que a maioria das escolas situadas no campo é escola<br />
municipal, o que faz com que o problema se agrave na medida em que as ações dependem da<br />
vontade política do governante local.<br />
Nesse sentido, vale citar neste capítulo, a experiência do município de Palmas, o qual,<br />
por meio do Setorial de Educação do Campo da Secretaria Municipal de educação e Cultura <strong>–</strong><br />
S<strong>EM</strong>EC, vem apresentando significativas melhorias para a educação básica do campo.<br />
Segundo o depoimento coletado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,<br />
S<strong>EM</strong>C, no ano 1997, as escolas do campo do município de Palmas estavam sofrendo um<br />
processo de nucleação. Algumas crianças permaneceram na escola nucleada e outras eram<br />
transportadas para a cidade. Na escola da cidade, as crianças urbanas discriminavam as<br />
crianças do campo, provocando nestas últimas um sentimento de inferioridade. Situação que<br />
se repetiu por alguns anos. De acordo com esse depoimento,<br />
[...] é como se a pessoa da zona rural ela se sentisse ‘eu sou menos mesmo, eu sou<br />
uma criança da zona rural, então, eu já estou aqui de favor, eu não tenho que<br />
reclamar, etc. e tal’[...] muitas crianças acordavam duas, três horas da manhã, quatro<br />
horas da manhã para poder caminhar, né. Até hoje elas tem que acordar muito<br />
cedo. 11<br />
Estando consciente do quanto essa situação era prejudicial para as crianças do campo,<br />
na busca de uma proposta para sanar tais problemas, no ano de 2008, a S<strong>EM</strong>EC, deu início a<br />
um trabalho que seria inovador no Brasil, criando as escolas do campo de tempo integral. Em<br />
11 Entrevista concedida no dia 22 de fevereiro de 2010<br />
75
entrevista foi abordado que:<br />
A partir do processo de nucleação muitas melhoras ocorreram na estrutura física das<br />
mesmas,[...] merenda foi melhorando[...] Ocorre que muitas crianças ainda ficavam<br />
fora da escola pública. Nós detectamos no início de 2005 que mais de trezentas<br />
crianças estavam sem estudar na zona rural de Palmas. [...] Depois, nós verificamos<br />
lá na frente o custo do transporte escolar, que é muito alto. [...]. A partir de 2008 nós<br />
introduzimos uma mudança aqui no sistema de Palmas. Tornamos a escola do<br />
campo integral. Nós não trazemos mais crianças da zona rural para a cidade. Todas<br />
as crianças que estão na zona rural elas estudam no campo.[...] O sistema é simples<br />
ele funciona de segunda a quinta-feira em regime integral. As crianças passam em<br />
média sete horas e meia na escola. É um currículo amplo, abrangente [...] Essas<br />
crianças elas, como elas ficam menos tempo pra lá e prá cá no transporte, como elas<br />
tem...passam um tempo maior dentro da escola, elas tem melhores condições de<br />
absorção dos conteúdos. 12<br />
De acordo com a Proposta para a Educação do Campo para o município de Palmas,<br />
que foi realizado pela S<strong>EM</strong>EC, em parceria com a Fundação Universidade do Tocantins,<br />
UNITINS, tem como grande objetivo construir a identidade do campo no município de<br />
Palmas. Para atingir esse objetivo, foram tomadas algumas ações, entre as quais: ampliação da<br />
oferta de vagas, melhorias das condições das instalações físicas, programas de formação<br />
continuada para todo o pessoal envolvido com as atividades da escola, estabelecimento de<br />
currículo e atividades extra-sala que atendam às necessidades e anseios da comunidade local,<br />
entre outras.<br />
As tabelas abaixo retratam os resultados obtidos pelas ações desenvolvidas, fazendo<br />
um comparativo entre os anos de 2006 e 2009.<br />
Tabela 1 - Alunos matriculados (matrícula inicial) nas escolas rurais do município de<br />
Palmas, TO<br />
2006 2009<br />
1264 1420<br />
Fonte: S<strong>EM</strong>C, 2010 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Observa-se aqui um aumento de 12,3% no número de matrículas no período observado<br />
12 Entrevista concedida no dia 22 de fevereiro de 2010<br />
76
Tabela 2 - Taxa de aprovação nas escolas rurais do município de Palmas, TO<br />
2006 2009<br />
N o alunos Em % N o alunos Em %<br />
913 72,2% 1093 77%<br />
Fonte: S<strong>EM</strong>C, 2010 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Em função da ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, as crianças têm<br />
maiores possibilidades de aprendizagem, pois realizam os temas de casa na própria escola,<br />
com auxílio de professores ou monitores. Essa ação permitiu que houvesse uma redução de<br />
4,8% na taxa de reprovação dos alunos do campo.<br />
Tabela 3 - Taxa de abandono nas escolas rurais do município de Palmas, TO<br />
2006 2009<br />
N o alunos Em % N o alunos Em %<br />
77 6,1% 31 2,45%<br />
Fonte: S<strong>EM</strong>C, 2010 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Podemos observar que a proposta proporcionou uma diminuição de aproximadamente<br />
3,65% na taxa de abandono escolar.<br />
A redução de custos pode proporcionar a utilização dos recursos para melhorar as<br />
condições físicas das instalações, bem como do material didático utilizado para o aprendizado<br />
das crianças.<br />
Além disso, também houve um aumento de 100% no número de horas dedicadas ao<br />
processo ensino e aprendizagem.<br />
Essa iniciativa trouxe muitos benefícios para as crianças do campo.<br />
Nós até aplicamos um teste, é [....] dois testes no ano passado de avaliação do nível<br />
de aprendizagem, e é possível verificar um crescimento substancial na avaliação que<br />
nós fizemos na rede como um todo. E na zona rural algumas escolas cresceram mais<br />
de 30% de uma medição pra outra em termos de desempenho escolar. O que mostra<br />
que parece que as crianças estão aprendendo mais. [...] A impressão que nós temos<br />
empírica é que a criança, ela está passando mais tempo, ela tá fazendo dever de casa<br />
dentro da escola [...] Eles têm oficina de reforço de matemática, língua portuguesa,<br />
teatro, dança, esporte e todas as atividades de socialização [...] isso já provoca uma<br />
mudança, as crianças se alimentam melhor, ficam mais distantes do trabalho infantil.<br />
A sexta-feira que é o dia que eles não têm aula presencial, que eles estão em casa,<br />
geralmente a escola passa trabalhos, pesquisa e principalmente leituras, para que a<br />
criança possa, digamos assim, complementar na sexta-feira as atividades da escola.<br />
Esse nosso projeto é novo e o foco é esse: fazer com que a criança fique mais tempo<br />
na escola, tenha um aprendizado mais enriquecido, tenha acesso aos meios de<br />
77
cultura [...] 13<br />
Nesse projeto nada é imposto. Tudo é construído com a participação de todos os atores<br />
envolvidos. Tudo é realizado conforme o interesse de cada comunidade de maneira que<br />
currículo, ampliação do espaço físico, formação continuada dos professores, determinação das<br />
oficinas que irão acontecer, enfim, tudo o que se refere ao espaço escolar, é decidido pelos<br />
envolvidos no processo, como afirma a entrevista:<br />
Temos grupo, por exemplo, na Buritirana temos grupo de.....é.....tem uma fanfarra<br />
da escola que fez tanto sucesso, que desfilou no Sete de Setembro aqui na sede do<br />
município[...] Eles tem uma orquestra de violinos de rabeca de buriti, que<br />
começaram a fazer as próprias rabecas.[...] A escola Aprígio [...] ganhou alguns<br />
prêmios no festival de arte escolar, com teatro, com dança com música.[...] Eles são<br />
muito criativos. Faltava assim, gente qualificada, professores, monitores e<br />
oficineiros, que hoje nós temos. Eles trabalham na zona rural, levam a informação,<br />
dialogam com a cultura local. Alguns desses oficineiros são pais de alunos, como é o<br />
caso lá de Buritirana, que quem ajudou a fazer a rabeca de buriti foi o pai de aluno<br />
mesmo. [...] Toda criança tem de três a quatro refeições pelo menos. A refeição é<br />
balanceada com acompanhado por um nutricionista. A qualidade das refeições é<br />
muito interessante, a gente pode atestar isso e as crianças gostam muito.[...] Hoje<br />
você tem o dobro das possibilidades com a criança. Então é mais aula de<br />
matemática, é o xadrez, é a dança, é a música, é a flauta é o coral. Isso tudo<br />
repercute. Você vê que muda a formação cultural também, o nível de acesso aos<br />
meios de cultura. 14<br />
Pelo descrito, pode-se perceber que Palmas desfruta de uma realidade muito diferente<br />
das demais localidades do Tocantins. Uma realidade que mostra que, quando existe vontade<br />
política e aplicação correta dos recursos destinados à educação, é possível mudar, e mudar<br />
para melhor.<br />
13 Entrevista concedida no dia 22 de fevereiro de 2010<br />
14 Ibid<br />
78
CAPÍTULO III<br />
PROJETO E REALIDADE: (IN)COMPATIBILIDADE DE IDEIAS?<br />
Projeto, do latim projecto, particípio passado do verbo projicere, que significa “lançar<br />
para diante” (VEIGA, 2004, p. 14). Significa, portanto, que a partir de uma realidade<br />
existente, pretende-se propor ações para o futuro. Tal conceito aplica-se a todas as<br />
organizações, inclusive às escolas. Quando escolas constroem projetos, estão simplesmente<br />
lançando-se para frente a partir daquilo que têm. Sobre projeto na escola, Gadotti afirma:<br />
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar<br />
significa quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de<br />
instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa de que cada<br />
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser<br />
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam<br />
visíveis os campos de ação possíveis, comprometendo seus atores e autores.<br />
(GA<strong>DO</strong>TTI, 1994 apud VEIGA, 2004, p. 14).<br />
Por essa afirmação, percebe-se que Projeto Político Pedagógico é algo que vai muito<br />
além de um agrupamento de planos e atividades educacionais. Não é construído para ser<br />
arquivado ou esquecido, muito menos para apenas cumprir requisitos burocráticos.<br />
Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com<br />
o processo educativo da escola. [...] Por isso, todo projeto pedagógico da escola é,<br />
também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio<br />
político com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no<br />
sentido de compromisso de formação do cidadão para um tipo de sociedade. [...] Na<br />
dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da<br />
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado,<br />
crítico e criativo. É pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as<br />
características necessárias às escolas para cumprir seus propósitos e sua<br />
intencionalidade. (VEIGA, 2004. p. 14 - 15).<br />
Diante dessa perspectiva, a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas que<br />
fazem parte do objeto deste trabalho, somente fará sentido após ter sido conhecida a realidade<br />
de cada comunidade onde estão inseridas. Portanto, apresentaremos algumas características<br />
do processo produtivo dos dois municípios que abrigam as referidas escolas do campo.<br />
A Escola Família Agrícola de Porto Nacional localiza-se a 10 quilômetros no sentido<br />
leste da cidade de Porto Nacional, município sede da microrregião homônima, pertencente a<br />
região centro-sul do estado do Tocantins. Dista-se 52 quilômetros da capital Palmas,<br />
conforme se observa na Figura1.<br />
Possui uma área de 4.450 Km 2 . Sua população, em 2007 (IBGE), era de 45.289<br />
79
habitantes. Destes, 38.920 (87,3%) residentes em área urbana e 6.194 no campo (13,7%).<br />
Mapa 1 <strong>–</strong> Localização de Porto Nacional, TO<br />
Porto Nacional<br />
Fonte: IBGE <strong>–</strong> Cidades, 2007<br />
Porto Nacional apresenta o sexto PIB (representado 3,13% do PIB total do estado) do<br />
estado do Tocantins (IBGE, 2007). Como se observa na Figura 2, o setor de serviços é o que<br />
mais contribui para o PIB portuense.<br />
Gráfico 1 <strong>–</strong> PIB Porto Nacional, TO por Setores.<br />
Fonte: IBGE, 2007 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Palmas<br />
Apesar de o setor agropecuário ser o que menos contribui para o município, o PIB<br />
80
agropecuário é o quarto do estado, representado 2,84% do total do estado.<br />
O município de Porto Nacional possui 1.242 estabelecimentos agropecuários (IBGE<br />
2006). As Tabelas 04, 05 e 06 apresentam produtos agropecuários que mais contribuem para a<br />
economia do município segundo dados do IBGE/2008.<br />
Tabela 4 - Principais produtos de Lavoura permanente de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins<br />
Produto Quantidade Produzida Valor da Produção (R$)<br />
Coco da Bahia 2.140.000 frutos 1.070.000,00<br />
Banana 1.230 toneladas 707.000,00<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Tabela 5 - Principais produtos de Lavoura temporária de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins<br />
Produto Quantidade Produzida (ton.) Valor da Produção (R$)<br />
Soja em grão 29.700 20.642.000,00<br />
Milho em grão 5.856 3.104.000,00<br />
Arroz em casca 3.600 2.322.000,00<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Tabela 6 - Principais produtos pecuários de Porto Nacional <strong>–</strong> Tocantins<br />
Produto Efetivo do rebanho (cabeças)<br />
Bovinos 115.600<br />
Aves 78.100<br />
Suínos 7.840<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
O PIB per capita anual de Porto Nacional ocupa o 47 o lugar na classificação dos<br />
municípios do estado do Tocantins, apresentando no valor de R$ 7.667,00 por ano. Esse valor<br />
representa aproximadamente 55% do PIB per capita nacional que, no ano de 2007, apresentou<br />
o valor de R$ 13.720,00 (IBGE). Ainda que seja o sexto em geração de riquezas para o<br />
estado, o índice de Gini é 0,45, indicando um nível de concentração de riqueza bastante<br />
acentuado. De acordo com levantamento do IBGE feito em 2003, o índice de pobreza em<br />
Porto Nacional foi de 38,74% e o de pobreza subjetiva de 40,18%, o que significa dizer que<br />
quase a metade da população de Porto Nacional vive na pobreza, pertencendo às classe D e E.<br />
Com respeito à Educação Básica, Porto Nacional apresenta os seguintes dados,<br />
conforme publicações do IBGE (2008)<br />
81
Tabela 7 - Estabelecimentos de ensino e número de matriculas Educação Básica Porto<br />
Nacional, TO, 2009<br />
Escolas Municipais Escolas Estaduais Escolas Privadas Total<br />
Rurais Urbanas Rurais Urbanas Rurais Urbanas<br />
N o de<br />
Estabelecimentos<br />
N<br />
17 16 03 18 -x- 07 61<br />
o de Matrículas<br />
Educação<br />
Infantil<br />
N<br />
171 1257 -x- 175 -x- 205<br />
o de Matrículas<br />
Ensino<br />
Fundamental<br />
793 940 432 6.272 -x- 670<br />
N o de Matrículas<br />
no Ensino Médio<br />
-x- -x- 316 2.310 -x- 39 2.626<br />
Fonte: INEP/SEDUC-TO, 2009 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
A Tabela 7 demonstra-nos que, no âmbito da educação municipal, o número de<br />
estabelecimentos de ensino é praticamente o mesmo entre escolas no campo e na cidade. A<br />
diferença entre o número de alunos matriculados no ensino fundamental entre uma e outra é<br />
bem pequena, aproximadamente 16% menos alunos nas escolas no campo apenas. No âmbito<br />
estadual, porém, são apenas três escolas no campo para 18 na cidade, e os alunos do campo<br />
atendidos pelas escolas estaduais não chegam a 10% dos alunos atendidos pelas escolas<br />
urbanas.<br />
Num total de 54 escolas públicas, 20 encontram-se no campo e 34 na cidade. Nesse<br />
contexto, um total 63% das escolas atendem 86% dos alunos, enquanto 37% das escolas<br />
atendem 14% do total de alunos matriculados no município. Vale comentar, ainda, que<br />
existem no campo 20 escolas que estão com suas atividades paralisadas (INEP, 2009). O que,<br />
entretanto, os números não revelam são a qualidade das instalações físicas e a qualificação<br />
dos profissionais que atuam nas escolas do campo.<br />
O que nos chama a atenção, entretanto, é o fato de que no campo existe uma escola<br />
para cada 86 alunos matriculados, enquanto que na cidade esse número cresce para uma<br />
escola para cada 323 alunos matriculados. Talvez esse fato seja um dos motivos dos baixos<br />
investimentos realizados, bem como a ideia de que seria mais fácil e barato transportar esses<br />
alunos do campo para a cidade.<br />
Nota-se, também, que as escolas municipais atendem principalmente o público da<br />
Educação Infantil e primeira fase do ensino fundamental, mas no que se refere ao Ensino<br />
Fundamental e as escolas estaduais atendem o público da segunda fase do ensino<br />
fundamental, razão pela qual possui um maior número de alunos.<br />
82
No que concerne às escolas privadas, podemos constatar que no município de Porto<br />
Nacional não existe nenhuma que esteja instalada no campo.<br />
Dessa forma, percebemos que o número de escolas do campo não é fator significante<br />
para que a população não receba uma educação adequada, mas sim propostas pedagógicas que<br />
possam ser desenvolvidas nessas escolas que atendam suas necessidades, com destinação<br />
adequada de recursos públicos.<br />
A Escola Dr. Dante Pazzanese é conhecida na região como Escola de Canuanã (e<br />
assim será tratada nesse trabalho) Está situada no município de Formoso do Araguaia, o qual<br />
se localiza na região sudoeste do Estado do Tocantins, distante 327 Km da capital Palmas,<br />
conforme se verifica na Figura 2.<br />
Os dados que se seguem sobre Formoso apresentam características dos setores<br />
produtivos do município, os quais nos fornecerão elementos para diferenciar, na área da<br />
economia, as realidades das duas escolas, bem como as realidades produtivas nas quais estão<br />
inseridas.<br />
Mapa 2 - Localização de Formoso do Araguaia, TO<br />
Formoso do Araguaia<br />
Fonte: IBGE-Cidades, 2007<br />
Como se percebe pela Figura 2, o município de Formoso do Araguaia possui uma área<br />
bem maior que a área do município de Porto Nacional, totalizando 13.423 km 2 . É o maior<br />
município em extensão territorial do Tocantins.<br />
Palmas<br />
No ano de 2008, sua população era de 18.225 habitantes, sendo que destes 13.006<br />
83
(72%) residiam em área urbana e 5.072 (28%) no campo.<br />
Apesar de possuir uma área três vezes maior que Porto Nacional, possui uma<br />
população quase duas vezes e meia menor. Isso se justifica porque abriga, em mais de 50% de<br />
suas terras, aproximadamente 40% da extensão territorial da Ilha do Bananal, a maior ilha<br />
fluvial do mundo, conforme pode ser visto na Figura 3.<br />
Mapa 3 - Posição geográfica do município de Formoso do Araguaia abrangendo a parte<br />
sul da Ilha do Bananal, TO.<br />
Legenda:<br />
Ilha do bananal<br />
Formoso do Araguaia<br />
Fonte: IBGE-Cidades.<br />
A base da economia do município é a agropecuária. Na década de 1980, foi<br />
implantado, em seu território, o Projeto Rio Formoso, pelo governo de Goiás no mandato do<br />
Sr. Ari Valadão, conhecido fazendeiro do norte goiano, constituindo-se no maior projeto de<br />
agricultura irrigada em áreas contínuas da América Latina. De acordo com dados de 2007,<br />
Formoso do Araguaia possui o décimo PIB tocantinense (1,7% do PIB estadual). Ao contrário<br />
de Porto Nacional, a parcela de maior contribuição encontra-se na agropecuária, sendo seu<br />
PIB agropecuário o segundo maior do estado, representando 5,1% do total. O Gráfico 2<br />
apresenta o PIB dos setores em Formoso do Araguaia.<br />
84
Gráfico 2 - PIB de Formoso do Araguaia por setores da economia.<br />
Fonte: IBGE, 2007 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
O município de Formoso do Araguaia possui 1.039 estabelecimentos agropecuários.<br />
As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam os produtos agropecuários que mais contribuem com a<br />
economia do município.<br />
Tabela 8 - Lavoura permanente de Formoso do Araguaia <strong>–</strong> Tocantins<br />
Produto Quantidade Produzida Valor da Produção (R$)<br />
Banana 219 toneladas 131.000,00<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Tabela 9 - Principais produtos de Lavoura temporária de Formoso do Araguaia <strong>–</strong><br />
Tocantins<br />
Produto Quantidade Produzida (ton.) Valor da Produção (R$)<br />
Arroz em casca 63.340 40.614.000,00<br />
Soja 32.098 24.812.000,00<br />
Melancia 25.550 7.154.000,00<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE/SIDRA, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Tabela 10 - Principais produtos pecuários de Formoso do Araguaia <strong>–</strong> Tocantins<br />
Produto Efetivo do rebanho (cabeças)<br />
Bovinos 202.000<br />
Aves 100.000<br />
Suínos 6.500<br />
Fonte <strong>–</strong> IBGE, 2008 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
85
Por meio desses números, é possível perceber o quanto o município de Formoso difere<br />
do município de Porto Nacional, em especial no que se refere à agropecuária. Em decorrência<br />
do projeto de irrigação, a lavoura de arroz, soja e melancia é bastante intensificada em<br />
Formoso e a criação de bovinos é bastante tradicional nas áreas da Ilha do Bananal.<br />
O PIB per capita anual de Formoso, em 2008, foi de R$ 10.308,00, sendo o 25 o do<br />
Tocantins. É aproximadamente 35% maior que o de Porto Nacional e representa<br />
aproximadamente 75% do PIB per capita nacional. Entretanto, observamos um índice de Gini<br />
de 0,43, o que nos indica um maior grau de concentração de riqueza neste município quando<br />
comparado a Porto Nacional. O índice de pobreza é de 39,75 e o da pobreza subjetiva é de<br />
44,14, indicando índices maiores que os de Porto Nacional.<br />
Desses dados, podemos dizer que apesar do município de Formoso do Araguaia<br />
apresentar um maior PIB per capita, vemos que essa riqueza fica concentrada nas mãos de<br />
poucos produtores, donos das grandes fazendas.<br />
No que concerne à educação, a Tabela 11 apresenta os resultados quantitativos sobre o<br />
número de estabelecimentos escolares na zona urbana e do campo do município.<br />
Tabela 11 - Estabelecimentos de ensino e número de matriculas Educação Formoso do<br />
Araguaia, TO, 2009<br />
Escolas Municipais Escolas Estaduais Escolas Privadas Total<br />
Rurais Urbanas Rurais Urbanas Rurais Urbanas<br />
N o de<br />
Estabelecimentos<br />
6 8 11 15 N<br />
4 1 2 32<br />
o de Matrículas<br />
Educação<br />
Infantil<br />
N<br />
9 331 9 -x- -x- 40 389<br />
o de Matrículas<br />
Ensino<br />
Fundamental<br />
231 2001 739 707 644 104 4.426<br />
N o de Matrículas<br />
no Ensino Médio<br />
-x- -x- 102 717 249 0 1.068<br />
Fonte: INEP/SEDUC-TO, 2009 <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Por meio dos números apresentados, podemos perceber que a quantidade de escolas<br />
municipais rurais e urbanas são praticamente as mesmos. Percebemos que, no âmbito<br />
estadual, há um número maior de escolas rurais, porém todas as 11 escolas estão localizadas<br />
em aldeias indígenas, em especial na Ilha do Bananal, com proposta pedagógica específica<br />
15 Todas essas escolas estaduais rurais são escolas de educação indígena, localizadas nas aldeias da região, em<br />
especial na Ilha do Bananal.<br />
86
para atender a essa população. Disso, podemos dizer que, em âmbito estadual, não existem<br />
escolas no campo para atender à população não indígena.<br />
A população indígena já è atendida em suas particularidades pelas escolas estaduais,<br />
dessa forma, no que se refere às escolas públicas, temos que 33% das escolas situadas no<br />
campo atendem 6% do total de alunos. Isso dá uma relação de uma escola para cada 40<br />
alunos. Os outros 67% das escolas, situadas na cidade, atendem 94% do total de alunos,<br />
indicando uma relação de uma escola para cada 313 alunos. Situação bastante parecida com<br />
Porto Nacional, que, de certa forma, justifica uma destinação de recursos públicos para as<br />
escolas urbanas em detrimento das situadas no campo.<br />
O que difere esse município quando comparado a Porto Nacional, no entanto, é a<br />
presença da escola de Canuanã, a única escola particular situada no campo no estado do<br />
Tocantins. Temos que apenas a escola de Canuanã abriga um total de 893 alunos, quase se<br />
igualando à soma dos alunos do campo atendidos pelas escolas públicas, incluindo as<br />
indígenas. Percebe que, no Ensino Fundamental, essa escola atende apenas 63 alunos a menos<br />
que a escola urbana estadual.<br />
Não há como não dizer que a presença dessa escola, no município, não faça diferença<br />
quando falamos de educação da população do campo.<br />
É nesse cenário que a Escola Família Agrícola de Porto Nacional e a Escola de<br />
Canuanã, objeto deste estudo, fazem parte e são instituições que, de certa forma, atuam como<br />
agentes ativos e participativos na dinâmica de seus processos produtivos. Dessa forma, faz-se<br />
necessário que a leitura qualitativa dos itens, que seguem nesse capítulo, seja realizada sem<br />
tirar os olhos dos dados quantitativos até aqui apresentados.<br />
3.1 As propostas político-pedagógicas da Escola Família Agrícola de Porto Nacional <strong>–</strong><br />
TO<br />
A Escola Família Agrícola de Porto Nacional <strong>–</strong> TO está localizada no campo, no km<br />
03 da rodovia TO-255. A mesma ocupa uma área de cerca de 30 hectares de vegetação de<br />
cerrado, com um prédio de 2.400 m² de área coberta. Assume-se como uma “escola pública<br />
no seu atendimento, estatal no seu financiamento, autônoma e democrática na sua gestão”<br />
(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA...., 2009, p. 31). Atualmente é dirigida pela servidora<br />
Deusina Ribeiro dos Reis Pereira.<br />
87
3.1.1 Escola Família Agrícola <strong>–</strong> EFA <strong>–</strong> Porto Nacional <strong>–</strong> Um breve histórico<br />
Conforme descrito em seu projeto pedagógico (2009), a Escola Família Agrícola de<br />
Porto Nacional <strong>–</strong> EFA nasceu a partir de uma entidade não governamental criada em 1969, a<br />
COMSAÚDE <strong>–</strong> Comunidade de Saúde Desenvolvimento e Educação. Seu objetivo era atuar<br />
junto aos trabalhadores do campo, por meio das Associações de Agricultores Familiares e o<br />
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.<br />
No ano de 1986, em conjunto com os agricultores, construiu um Centro de<br />
Tecnologias Alternativas <strong>–</strong> CTA <strong>–</strong> para contribuir com a formação de agricultores familiares<br />
na região. Apesar do bom trabalho desenvolvido pelo CTA, muitas famílias estavam<br />
abandonando o campo. Duas foram as razões encontradas para tal acontecimento. Uma delas<br />
era que, no campo, não havia oportunidade para educação de seus filhos no ensino médio, e a<br />
segunda era que os agricultores:<br />
[...] foram estimulados pelos pacotes bancários de financiamentos para compra de<br />
máquinas pesadas, sementes híbridas, adubos sintéticos, agrotóxicos, desmatamento<br />
do cerrado, etc. Esse processo deixou muitos agricultores endividados, a ponto de<br />
perder a própria terra, além é claro, de não ter levado em consideração o meio<br />
ambiente e as pessoas que viviam no campo (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA....,<br />
2009, p. 08)<br />
Preocupada com essa situação, após ter tido conhecimento do modelo de educação das<br />
Escolas Famílias Agrícolas coordenadas pelo MEPES <strong>–</strong> Movimento de Educação<br />
Promocional do Espírito Santo <strong>–</strong> a COMSAÚDE começa a fomentar a ideia de criar uma<br />
escola desse tipo no município de Porto Nacional.<br />
Em 1993, a COMSAÚDE, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,<br />
tomou as providências para a instalação da escola. Enviou uma equipe para uma capacitação<br />
de 10 meses no centro de formação do MEPES, na cidade de Vitória, ES, e iniciou um<br />
processo de discussão com as famílias sobre essa nova maneira de se praticar educação. Foi<br />
assim que, em janeiro de 1994, a escola iniciou as atividades com uma turma de 36<br />
estudantes.<br />
No ano de 2009, após 15 anos de atividades, a escola possui condições de ministrar os<br />
cursos de educação fundamental e média, além da educação profissional, formando Técnicos<br />
em Agropecuária com ênfase na Agricultura Familiar e Professores, por meio do curso de<br />
Magistério PRONERA (Programa Nacional de Educação em áreas de Reforma Agrária).<br />
Atendeu 295 alunos, filhos de agricultores familiares, distribuídos entre 18 municípios, num<br />
88
aio de 15 a 340 quilômetros escola-residência.<br />
A escola trabalha com a Pedagogia da Alternância, cujas práticas já se encontram<br />
explicitadas no Capítulo I deste trabalho. Na EFA de Porto Nacional, os alunos passam uma<br />
semana na escola e uma semana em casa.<br />
A escola atende:<br />
[...] a juventude camponesa, filhos e filhas de agricultores familiares, que estão<br />
cursando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio<br />
Integrado, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Básico e Educação Profissional [...] na<br />
faixa etária de 10 a 39 anos de idade, provenientes de famílias que são: assentadas<br />
de reforma agrária, reassentadas, empregadas rurais, meeiras, quilombolas,<br />
parceleiras, proprietárias de pequenas propriedades familiares, servidores públicos e<br />
outros profissionais que vivem no campo num raio de 15 a 340 km. (ESCOLA<br />
FAMÍLIA AGRÍCOLA...., 2009, p.13)<br />
Para atender os alunos em regime de alternância, a escola conta com as seguintes<br />
instalações: 04 salas de aulas; 10 dormitórios; 01 refeitório; 01 cozinha; 01 lavatório de<br />
louças; 01 depósito para alimentos; 01 depósito para material de limpeza; 01 auditório; 01<br />
lavanderia; 05 banheiros; 01 sala de professores; 01 diretoria; 01 secretaria; 01 biblioteca com<br />
dois ambientes; 01 videoteca; 01 Centro de Inclusão Digital; 02 salas para consultórios, sendo<br />
um médico e outro odontológico; 01 sala para artesanato; 01 Laboratório de Ciências da<br />
natureza; áreas abertas em todo o prédio e ainda um campo de futebol de terra e uma quadra<br />
poliesportiva descoberta.<br />
3.1.2 A proposta pedagógica da Escola Família Agrícola de Porto Nacional<br />
Com base nos princípios da Pedagogia da Alternância, a EFA tem uma proposta<br />
pedagógica compreendida como um processo formativo, que considera uma diversidade de<br />
espaços, tempos e formadores. Retomando a dinâmica da aprendizagem por alternância,<br />
ressalta-se que a mesma considera, como espaço de aprendizagem, todos aqueles aos quais o<br />
educando participa, ou seja: a escola, a comunidade e a família. Assim, por meio dessa<br />
dinâmica, o educando aprende a partir de sua realidade (família/comunidade), levando-a para<br />
a reflexão (escola <strong>–</strong> espaço onde a realidade é discutida e analisada), voltando-se para a<br />
prática (família e comunidade). Esse processo torna-se a base para oferecer aos educando uma<br />
formação, não somente profissional com competências técnicas adequadas ao campo, mas<br />
também uma formação política para atuar na sociedade a qual pertencem, permitindo um<br />
89
pensamento crítico perante as verdades que descobre.<br />
Essa forma de aprendizado é considerada por Gasparim (2005) como uma forma de<br />
aprendizagem não separada do contexto social do discente. Assim, quando a aprendizagem<br />
passa de uma prática social inicial, que é problematizada, para a qual se buscam discussões<br />
teóricas, que são sistematizadas, para a resolução do problema identificado e volta-se com<br />
uma solução para a prática social final, constitui-se numa forma significativa da<br />
aprendizagem, pois evita o distanciamento entre o que preocupa o educando e o conteúdo a<br />
ser aprendido.<br />
Diante desse contexto de aprendizagem significativa, faz-se necessária a utilização de<br />
atividades pedagógicas específicas, que envolvam todos os atores do processo ensino-<br />
aprendizagem, proporcionando uma educação completa a partir das três dimensões de<br />
educação possíveis, a saber: a formal (escola), a não formal (sociedade/comunidade) e a<br />
informal (família). A seguir são apresentadas as atividades pedagógicas praticadas pela EFA,<br />
conforme consta no Projeto Político Pedagógico <strong>–</strong> PPP <strong>–</strong> nas páginas 21 a 27.<br />
Ação no Internato <strong>–</strong> são realizadas pelos estudantes, no período da sessão-escola com a<br />
orientação de monitores, auxiliados pelo grupo do internato, pela leitura da realidade, pelo<br />
material científico e, além de outros colaboradores. As atividades do internato são:<br />
Projeto Multidisciplinar de Arte <strong>–</strong> as disciplinas Relações Comunitárias, Educação<br />
Familiar, Ensino Religioso, Educação Artística, Educação Física no Ensino<br />
Fundamental, e Sociologia, Filosofia, Educação Física e Artes no Ensino Médio, são<br />
trabalhadas em forma de projeto, com conteúdos ligados ao Tema Gerador. Os<br />
estudantes pesquisam, buscam auxílio junto aos monitores e criam atividades sobre<br />
esses conteúdos, que são apresentadas aos demais colegas da sessão, três vezes por<br />
semestre;<br />
Caderno da produção <strong>–</strong> é o local de registro do estudante, onde são sistematizados os<br />
trabalhos práticos da área de ciências agrárias, realizados na propriedade familiar, na<br />
escola, nos cursos, estágios e outros. Consiste num banco de dados e material de<br />
consulta posterior de grande importância, num espaço onde a oralidade é<br />
predominante;<br />
Viagem de Estudo <strong>–</strong> é uma visita a uma experiência concreta extra-escola, com roteiro<br />
de estudo pré-determinado, para o aprofundamento sobre o tema gerador em estudo;<br />
Colocação em Comum <strong>–</strong> espaço de socialização dos resultados das pesquisas<br />
realizadas na comunidade com a turma e com os demais colegas da sessão, cujo<br />
objetivo é informar-se sobre o tema in loco, para, a partir daí, fazer o confronto com o<br />
90
saber teórico;<br />
Intervenção externa <strong>–</strong> é a participação de pessoas, do campo ou da cidade, que<br />
apresentem afinidade com a proposta de educação do campo, convidadas para<br />
exposição, debate ou aprofundamento do tema em estudo, a fim de enriquecer a<br />
aprendizagem do estudante;<br />
Acompanhamento personalizado <strong>–</strong> para cada estudante há um monitor (a) responsável,<br />
com tempo determinado dentro do horário escolar, no inicio da sessão escola, para dar<br />
boas vindas, conversar sobre a sessão-família, animar para a sessão que se inicia,<br />
contribuir com os instrumentos pedagógicos e demais dificuldades de aprendizagem, e<br />
em caso de necessidade, resolver problemas pessoais junto à família;<br />
Avaliação da Sessão <strong>–</strong> no final de cada sessão-escola, acontece uma reunião de<br />
avaliação das atividades realizadas durante essa semana. Participam as turmas<br />
presentes, o coordenador da sessão, os monitores e demais funcionários. É uma<br />
atividade altamente reflexiva, cuja proposição é contribuir para a mudança de atitudes,<br />
e conseqüente melhoria do clima escolar e da aprendizagem. Os resultados desta<br />
avaliação, quando negativos, são encaminhados aos responsáveis de cada estudante<br />
para possíveis soluções;<br />
Orientação para Aprendizagem <strong>–</strong> a cada bimestre são convidados os estudantes que<br />
têm demonstrado dificuldades na aprendizagem, nas relações interpessoais, nos<br />
trabalhos, ou em outros aspectos para um momento de diálogo, onde se tenta descobrir<br />
quais são os principais problemas que vêm afetando o desenvolvimento dos mesmos e<br />
quais as possíveis soluções. É um trabalho que tenta avaliar o processo educativo,<br />
resgatar a auto-estima e animar o educando para ser sujeito da sua aprendizagem. Esse<br />
encontro é aberto a todos os professores, familiares e, se necessário, a especialistas<br />
convidados;<br />
Trabalho Diário <strong>–</strong> Os estudantes são os responsáveis pelas atividades de organização<br />
do espaço escolar. São formados grupos que se responsabilizam por determinados<br />
espaços, que fazem a limpeza da casa duas vezes ao dia, em rodízio semanal;<br />
Trabalho Prático <strong>–</strong> As atividades de produção são divididas em unidades<br />
demonstrativas de estudo nas áreas de agropecuária, onde são formados grupos de<br />
estudantes que fazem opção pela área de trabalho com a qual mais se identificam. O<br />
trabalho é realizado em quatro aulas semanais, conforme horário pré-estabelecido<br />
favorecendo o vínculo teoria-prática.<br />
Disciplinas Curriculares <strong>–</strong> A Escola possui uma matriz curricular própria, que atende à<br />
91
ase nacional comum de conhecimentos científicos e uma parte diversificada<br />
ampliada, que são utilizados como meios, para a formação da cidadania e do trabalho.<br />
Ação na Comunidade <strong>–</strong> são realizadas pelos estudantes no tempo sessão-família, orientadas<br />
pelos monitores e auxiliadas pelos pais, pelas pesquisas da realidade local e outros<br />
colaboradores existentes no meio. Essas ações são:<br />
Cursos <strong>–</strong> são atividades de interesse do estudante, realizadas em parcerias com outras<br />
instituições que buscam o aprofundamento de conhecimentos e a definição da vocação<br />
profissional;<br />
Estágios <strong>–</strong> são experiências práticas profissionais ou sociais, feitas em<br />
empreendimentos ou organizações escolhidas pelos estudantes, com os objetivos de<br />
aplicar, adicionar ou buscar novos conhecimentos. Uma semana por ano, cada<br />
estudante participa de trabalhos na propriedade da escola, a título de experiência e<br />
colaboração;<br />
Atividades de Retorno <strong>–</strong> são ações de intervenção do educando, em si, ou no seu meio<br />
sócio-profissional, referente a cada tema pesquisado. São respostas aos resultados<br />
obtidos no estudo da realidade de sua comunidade, que pressupõem mudanças de<br />
atitudes;<br />
Visita às Famílias <strong>–</strong> os monitores (as) visitam as famílias dos estudantes, mediante<br />
alguns aspectos: assistência técnica, realidade sócio-familiar, eventos culturais e<br />
comunitários, questões sócio-pedagógicas que envolvam o estudante e outros<br />
acontecimentos de relevância para uma melhor relação escola/família.<br />
Ações no Internato/Comunidade <strong>–</strong> atividades que são elos complementares nos dois espaços -<br />
escola e família. Essas atividades necessitam, para sua realização, dos conhecimentos<br />
escolares e dos conhecimentos comunitários. As atividades pedagógicas utilizadas são:<br />
Caderno da Realidade <strong>–</strong> é o instrumento de sistematização da reflexão e da ação<br />
provocada pelo plano de estudo e folha de observação. É o registro ordenado em<br />
caderno próprio, de parte das experiências educativas acontecidas na escola e na<br />
comunidade, que foram construídas pelo (a) educando;<br />
Caderno de Acompanhamento <strong>–</strong> é o elo entre a escola e a família. Neste caderno,<br />
ficam registradas pelo educando, semanalmente, as principais aprendizagens da<br />
sessão-escola e da sessão-família. O monitor responsável e os pais também fazem<br />
observações no caderno sobre o estudante, na sessão-escola e sessão-família,<br />
92
espectivamente. A cada cinco sessões <strong>–</strong> um bimestre <strong>–</strong> é feito pelo estudante, família<br />
e monitor um registro avaliativo do processo educativo;<br />
Plano de Estudo <strong>–</strong> é a atividade de pesquisa que parte do tema gerador. É elaborado<br />
pelos estudantes, orientado pelos monitores na sessão escola e realizado junto à<br />
família, à comunidade, ao trabalho ou à organização social, na sessão-família.<br />
Retornando à escola, é ponto de partida para as aulas e, de forma transversal, perpassa<br />
as outras atividades da sessão-escola, concluindo com a atividade de retorno;<br />
Projeto Profissional de Vida <strong>–</strong> a partir da formação vivenciada na escola, o estudante<br />
concluinte do 9º ano do Ensino Fundamental deverá sistematizar um projeto para<br />
orientação de sua vida futura. É a sistematização do sonho dentro das possibilidades<br />
reais em que está vivendo. Ao término do Curso de Educação Profissional, o (a)<br />
estudante deverá apresentar um Projeto Profissional que demonstre o conhecimento<br />
técnico, as habilidades de elaboração de texto, bem como a sua pré-disposição em<br />
iniciar um trabalho que favoreça economicamente a sua permanência ou não no<br />
campo, com a perspectiva de uma vida melhor;<br />
Folha de Observação <strong>–</strong> são interrogações relacionadas com os temas de estudos,<br />
formuladas pelos (as) monitor (as), respondidas e sistematizadas pelos (as) estudantes.<br />
A mesma tem o objetivo de complementar, ampliar e aprofundar os conhecimentos<br />
que foram insuficientemente refletidos no plano de estudo.<br />
Ações Organizacionais do processo <strong>–</strong> são atividades realizadas pelos monitores, com a<br />
participação de estudantes, das famílias, da associação e de outros colaboradores, que<br />
contribuem para a organização das outras ações.<br />
Tema Gerador <strong>–</strong> estudantes, monitores, famílias e outros colaboradores, definem<br />
temas para estudo durante o ano letivo. Os mesmos serão pesquisados junto às<br />
comunidades, relacionados com os conteúdos de forma interdisciplinar, aprofundados<br />
e sistematizados pelos estudantes;<br />
Avaliação Formativa <strong>–</strong> as atividades de avaliação das turmas têm o caráter de orientar<br />
o processo educativo e não de determinar quem sabe e quem não sabe. A escola<br />
trabalha com a meta de 100% de aprovação e luta, com todos os esforços, para que<br />
isso aconteça, por meio do próprio grupo, dos monitores, da família e outros<br />
profissionais parceiros, utilizando os instrumentos pedagógicos como suporte para<br />
formação integral do educando;<br />
Formação das Famílias <strong>–</strong> as famílias, responsáveis na formação dos jovens,<br />
93
participam, durante o ano, de quatro encontros de formação na escola. Em cada<br />
encontro de 12 horas, é trabalhado um tema. Nestes encontros são também debatidos<br />
os problemas da escola e há comemorações festivas com atividades de cultura e lazer.<br />
Os assuntos estudados são sugeridos pela própria comunidade escolar e encontram-se<br />
sistematizados num documento denominado Plano de Formação das Famílias. Além<br />
das famílias, participam estudantes, na condição de representantes das turmas,<br />
assessores, pessoas convidadas e o grupo de servidores;<br />
Plano de Aprendizagem <strong>–</strong> é a ficha em que o monitor registra o planejamento das<br />
aulas por sessão. O mesmo contém: tema central, tema gerador, série, período da<br />
sessão, Área de Conhecimento, Competência, Habilidade, bases tecnológicas,<br />
procedimentos didáticos, instrumentos e procedimentos de avaliação, critérios de<br />
desempenho, evidências de desempenho, material de apoio didático e atividades<br />
encaminhada para tempo comunidade;<br />
Reunião Pedagógica e Administrativa <strong>–</strong> quinzenalmente, a equipe de monitores se<br />
reúne para decidir sobre as questões administrativas, estudos e socialização das<br />
atividades pedagógicas. Sempre que necessário, participam estudantes, representante<br />
da associação de apoio à escola, famílias e outros parceiros;<br />
Responsável do Dia <strong>–</strong> a equipe de monitores se reveza, diariamente, na administração<br />
da escola. No início do ano letivo, fica determinado o profissional e o dia em que vai<br />
responder internamente pela escola, junto aos estudantes, aos colegas e aos visitantes;<br />
Além disso, compete ao responsável do dia acompanhar os trabalhos diários dos<br />
estudantes, orientando-os sempre que necessário;<br />
Plano de Formação <strong>–</strong> é a sistematização do programa anual de aprendizagem,<br />
contendo: os temas geradores, as atividades do internato, os conteúdos das disciplinas<br />
curriculares e as ações dos instrumentos pedagógicos da sessão-escola e, também, as<br />
atividades da ação comunitária <strong>–</strong> os instrumentos pedagógicos aplicados na sessão-<br />
família;<br />
Conselho de Classe <strong>–</strong> é o momento avaliativo de todo o processo educativo que<br />
envolve os estudantes, a família, a comunidade, os monitores, a estrutura da escola e a<br />
proposta pedagógica. É realizado de modo participativo, com a presença dos<br />
estudantes e monitores de cada turma, e, se necessário, convidados, onde todos têm<br />
direito de fazer críticas e sugerir mudanças. Os resultados finais do conselho são<br />
utilizados como orientação administrativo-pedagógica da escola;<br />
Contribuição das Famílias <strong>–</strong> as famílias são educadoras, gestoras e responsáveis pelo<br />
94
projeto da escola. A contribuição se dá por meio de doações de alimentos, matéria-<br />
prima para as construções, terra para roças comunitárias, trabalhos voluntários e pela<br />
participação nos instrumentos pedagógicos junto aos filhos e em outras atividades da<br />
escola;<br />
Coordenador da Semana <strong>–</strong> a cada sessão-escola é escolhido, pelo grupo, um(a)<br />
estudante para ser o coordenador(a) da semana. O mesmo faz a ligação entre<br />
estudantes e monitor responsável do dia, controla o horário, resolve pequenos<br />
problemas, coordena material de limpeza e esportivo, entre outras. O objetivo é<br />
favorecer a formação de lideranças e a auto-organização dos estudantes;<br />
Semana da Cultura <strong>–</strong> na última sessão de cada semestre, juntam-se os dois grupos de<br />
estudantes que se alternam, com o objetivo de integração, trocas de experiências e<br />
realização de atividades conjuntas. Neste período, são feitas mostras de aprendizagens<br />
dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento, oficinas, palestras, jogos,<br />
atividades de cultura, passeios, entre outras. As atividades são propostas pelos<br />
estudantes e muitos são os parceiros que colaboram para sua realização;<br />
Datas Comemorativas <strong>–</strong> há um calendário de datas da própria escola a serem<br />
comemoradas, com temas relacionados ao campo, à educação e à cidadania que são<br />
trabalhadas pelos monitores, com a participação de pessoas convidadas e que busca a<br />
reflexão junto aos estudantes;<br />
OLIMPEFA <strong>–</strong> Olimpíadas da Escola Família Agrícola <strong>–</strong> são jogos estudantis da<br />
escola, que acontecem em comemoração ao dia do estudante. Todas as turmas se<br />
juntam por três dias e disputam, aproximadamente, doze modalidades desportivas e<br />
culturais - desde atividades simples do campo, como a prova do berrante e o jogo de<br />
palitos, até as principais modalidades olímpicas, como o salto em distância, em altura,<br />
a maratona, o futebol, etc. Há, ainda, atividades artísticas e culturais;<br />
Assembleia da Associação <strong>–</strong> quatro vezes por ano, a Associação realiza a assembleia<br />
geral ordinária, com a participação de pais, estudantes, monitores, demais funcionários<br />
e parceiros convidados. Nesta assembleia é discutida a escola em todos os seus<br />
aspectos. E também, são aprovados projetos, planos, prestação de contas, entre outros;<br />
Jornada Pedagógica <strong>–</strong> no início de cada semestre, os monitores se reúnem para avaliar<br />
e planejar as atividades pedagógicas da escola. São consideradas as avaliações feitas<br />
anteriormente pelas famílias e pelos estudantes. Há sempre a contribuição de parceiros<br />
especialistas.<br />
95
No que concerne aos componentes curriculares desenvolvidos na EFA, a mesma<br />
procura associá-los às necessidades das famílias agricultoras sem, entretanto, negligenciar a<br />
formação geral do educando. Nesse sentido, a EFA Porto Nacional procura enfocar nas suas<br />
práticas educativas as três áreas que se relacionam com as dimensões humanas (PEREIRA,<br />
2003), a saber: a área intelectual, a área afetiva e a área sócio-econômica. Dessa forma, a EFA<br />
desenvolve os conhecimentos a partir das cinco áreas básicas de conhecimento: Línguas,<br />
Ciências Exatas, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Ciências Agrárias.<br />
desenvolvidos<br />
A Pedagogia da Alternância com a dinâmica formação escola e formação famíliacomunidade,<br />
requer um estudante ativo, participativo, comunicativo, observador,<br />
interessado, e com desejos de conduzir o seu próprio destino na construção da sua<br />
aprendizagem. Portanto, entende que o jovem deve aprender pela pesquisa, pela<br />
socialização e sistematização dos dados pesquisados, todo conhecimento deve ser<br />
reconstruído à luz da realidade que está sendo trabalhada, a experiência deve ser<br />
refletida, sistematizada para se tornar conhecimento e ser aplicada em outras<br />
realidades. (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA...., 2009, p. 25)<br />
Conforme explicita Pereira (2003) sobre o PPP EFA, com respeito aos conteúdos<br />
O ensino fundamental contém disciplinas da Base Nacional Comum e uma parte<br />
diversificada própria, relacionada com a cidadania e o preparo para o trabalho que<br />
são: Educação Familiar, Relações Comunitárias, Agricultura, Zootecnia e Práticas<br />
alternativas. O Ensino Médio também segue a Base Nacional Comum e tem como<br />
parte diversificada Agricultura, Zootecnia e Práticas Alternativas. O Curso<br />
Profissional trabalha com as disciplinas da área técnica em agropecuária e procura<br />
atender ao projeto de desenvolvimento sustentável e solidário, com ênfase na<br />
agricultura familiar. (PEREIRA, 2003, p. 36).<br />
Porém, como colocado no início do capítulo, o Projeto é Pedagógico na medida em<br />
que desenvolve ações para cumprir com sua intenção, que é a de formar um cidadão<br />
participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Também é Político no sentido<br />
de formar um cidadão para um determinado tipo de sociedade e pelas suas propostas de<br />
atuação junto a essa sociedade.<br />
3.1.3 A proposta política da Escola Família Agrícola de Porto Nacional<br />
A EFA entende que o projeto é político “porque é construção coletiva, consciente, e<br />
expressa a posição escolar, os seus compromissos, os seus sonhos, em relação ao tipo de<br />
pessoa, sociedade, desenvolvimento e mundo que se quer construir”. (ESCOLA FAMÍLIA<br />
AGRÍCOLA...., 2009, p. 08)<br />
96
Nesse sentido, a EFA proporciona, por meio das suas atividades, o encontro do povo<br />
do campo, a manutenção da cultura, o apoio aos movimentos populares, festas e outras<br />
atividades que envolvem a comunidade. Entretanto, considera como uma de suas ações<br />
eminentemente políticas a construção coletiva do cotidiano escolar, a começar pela própria<br />
construção do projeto pedagógico.<br />
Percebe-se que suas atividades são voltadas ao desenvolvimento de uma sociedade<br />
mais solidária, preocupada com a sustentabilidade e com a projeção na sociedade de um<br />
cidadão mais conhecedor do lugar que ocupa na sociedade.<br />
Propõe a formação de um ser que saiba tomar decisões com respeito ao seu futuro e<br />
que as tome com consciência, sabedor das razões e implicações de suas escolhas.<br />
Parte das atividades da semana em que o educando fica em casa deve ser desenvolvida<br />
junto à comunidade, o que o torna mais participante e conhecedor das necessidades locais, e,<br />
muito mais que isso, pode ver-se como parte das soluções para os problemas que envolvem o<br />
meio no qual se insere.<br />
Nota-se pela ênfase dada à Agricultura Familiar, que não deseja manter uma sociedade<br />
pautada na utilização da mão-de-obra do campo apenas como um meio de perpetuar a<br />
exploração do camponês em benefício dos concentradores de terra. Ao contrário, utiliza a<br />
profissionalização como forma de melhorar as condições do camponês como proprietário de<br />
suas terras, exercendo sua autonomia, sua capacidade de escolha. Essa capacidade de escolha<br />
também oferece condições de decidir se quer ou não permanecer na terra.<br />
Percebe-se, pela estrutura curricular oferecida, que a EFA também apresenta ao<br />
educando as atividades do Agronegócio e os capacita para atuar nessa área. A EFA entende<br />
que uma educação libertadora é oferecer condições para que o educando, conhecedor de suas<br />
competências, possa fazer a escolha que melhor contribuir para seu crescimento.<br />
No entanto, vale ressaltar que a escola por si só não consegue preencher todos os<br />
requisitos para a emancipação da população camponesa. É preciso que a ela sejam anexadas<br />
políticas públicas que favoreçam outros aspectos de valorização do homem do campo.<br />
Também ressaltamos o fato de que a Pedagogia da Alternância nasceu a partir de uma<br />
necessidade de agricultores franceses, com características bastante diferentes dos agricultores<br />
brasileiros, em especial os das regiões Norte e Nordeste. Dentre essas diferenças podemos<br />
citar a condição sócio-econômico-educacional da população camponesa da França e as<br />
relações escola-família lá existentes. Podemos citar também a natureza das atividades diárias,<br />
com maior grau de mecanização, assim como as próprias condições de estrutura educacional<br />
do campo francesa que conta com escolas rurais mais equipadas que muitas escolas urbanas<br />
97
das regiões norte e nordeste do nosso país. Por isso, percebemos que o modelo da Alternância<br />
precisa de algumas adaptações para se desenvolver no Brasil.<br />
O princípio norteador da Pedagogia da Alternância é baseado na vivência na escola,<br />
vivência na família com ênfase na formação integral do aluno, buscando, assim, uma maior<br />
interação entre sua forma de vida em casa e o saber educacional.<br />
O que observamos na EFA foi que, a partir do conhecimento adquirido na escola, o<br />
educando deve desenvolver suas atividades familiares. Entretanto, alguns alunos e professores<br />
afirmaram que nem sempre as famílias aceitam essas novidades vindas da escola com bom<br />
grado, preferindo fazer suas atividades como sempre fizeram a arriscar sua produção em algo<br />
novo.<br />
Esse fato nos permite dizer que o que ocorre na Pedagogia da Alternância<br />
desenvolvida na EFA de Porto Nacional não é uma verdadeira interação entre escola e<br />
família, mas uma justaposição de diferentes atividades entre o momento na escola e o<br />
momento na família. Isso ocorre, em parte, porque nossos agricultores, em função de todos os<br />
fatores sociais econômicos e educacionais nos quais estão historicamente inseridos, não<br />
proporcionam a eles o preparo adequado para lidar com as atividades vindas da escola de<br />
maneira natural.<br />
Todavia, apesar das fragilidades e limitações do modelo de Alternância adaptado para<br />
as condições brasileiras, ainda podemos afirmar que é um modelo que proporciona maiores<br />
condições para a permanência do agricultor em suas terras, preservando, também, sua cultura<br />
e seu modo de produção.<br />
3.2 As propostas político-pedagógicas da Escola de Canuanã <strong>–</strong> Formoso do Araguaia<br />
<strong>–</strong> TO<br />
Situada a 60 quilômetros da cidade de Formoso do Araguaia, estado do Tocantins a<br />
Escola de Canuanã é uma escola-fazenda, com regime de internato, que abriga crianças e<br />
jovens entre 7 e 20 anos de idade. Localizada na margem leste do Rio Javaés, faz divisa com a<br />
Ilha do Bananal, região caracterizada por fauna, flora e paisagens exuberantes. Na área da<br />
escola podem ser encontrados vários tipos de vegetação, tais como: cerrado, mata fechada,<br />
varjões e várzeas inundadas, típicas da Ilha do Bananal.<br />
A escola fazenda ocupa uma área de 2.549 hectares, com 72.343 m 2 de área<br />
98
construída. É uma instituição privada, mantida pela Fundação Bradesco, oferecendo ensino<br />
gratuito, assistência médica, odontológica, material didático, uniforme e alimentação para<br />
crianças desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e Técnico Profissionalizante. (Revista<br />
da Escola Canuanã, 2007)<br />
Foi inaugurada em 5 de julho de 1973, quando a região ainda pertencia ao estado de<br />
Goiás. Vejamos o que obtivemos por meio de entrevista realizada:<br />
A Canuanã é uma das primeiras escolas da Fundação Bradesco. Ela tem 36 anos e<br />
foi inserida aqui nesse lugar justamente para atender a clientela do pessoal que não<br />
tinha acesso à escola, que eram as pessoas que moravam na Ilha do Bananal e<br />
também nas fazendas vizinhas. Mas, prioritariamente, foi pensado na questão da ilha<br />
do Bananal. Pelos relatos que eu já ouvi, pelas histórias que o pessoal conta, diz que<br />
foi uma conversa do senhor Amador Aguiar com o proprietário da fazenda, que na<br />
época era a Fazenda Canuanã ....que eles começaram a ficar preocupados com as<br />
crianças que estavam dentro da Ilha do Bananal, que moravam dentro da ilha do<br />
Bananal, na sua maioria oriundos do Maranhão, do Pará que se deslocavam pra cá. E<br />
eles falaram: porque que não cria uma escola....e daí surgiu esse sonho.....E aí que<br />
nasceu a Canuanã, uma escola diferente das outras que já tinham, que é uma escola<br />
internato para os alunos morarem aqui em virtude da dificuldade de locomoção da<br />
casa para escola. 16<br />
No ano de 2009, a Escola de Canuanã atendeu um total de 921 alunos, sendo 665 na<br />
Educação Infantil e Fundamental e 256 no Ensino Médio e Profissionalizante. Atendeu<br />
também 20 Jovens e Adultos na EJA para o ensino médio.<br />
Atualmente, atende crianças e jovens filhos de agricultores que vieram da Ilha do<br />
Bananal e que foram assentados pelo INCRA em áreas próximas à escola, lavradores,<br />
vaqueiros, posseiros e pequenos proprietários de terras cultivadas que vivem do regime de<br />
agricultura familiar ou mesmo de subsistência (ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO..., 2009<br />
p. 04).<br />
Para atender alunos em regime de internato, a escola fazenda dispõe de um bloco com<br />
salas de aula, secretaria, alojamentos femininos, alojamentos masculinos beneficiando as<br />
crianças da 1 a a 8 a séries. Dispõe também de uma área de recreação, contando, inclusive, com<br />
uma casa de bonecas e uma brinquedoteca, para atender às crianças menores. Os educandos<br />
do Ensino Médio estudam num outro bloco, com instalações apropriadas à idade. Também<br />
possuem alojamento masculino e feminino separados dos pequenos<br />
Além desses, a escola conta com laboratório de ciências, de informática, biblioteca,<br />
oficinas mecânicas, estábulos, sala para inseminação artificial, indústria de doces, queijos e<br />
embutidos, quadras poli-esportivas, piscinas semi-olímpica, campo de futebol, cinema, rádio<br />
televisão e internet, salas de orientação pedagógico-profissional, sala de artes, além do<br />
16 Entrevista concedida em 12 de novembro de 2009<br />
99
efeitório, cozinha, área de serviço e almoxarifado. A fazenda também dispõe de casas para<br />
moradia de professores e funcionários e uma casa sede, onde ficam hospedados os que visitam<br />
o local.<br />
3.2.1 A proposta Pedagógica da Escola de Canuanã<br />
Conforme descrito em seu Projeto Político Pedagógico, Canuanã é uma escola fazenda<br />
que mantém os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino<br />
Profissionalizante concomitantemente em regime de internato misto. Podemos observar no<br />
documento da escola os seguintes objetivos:<br />
100<br />
[...] investir na educação de crianças, jovens e adultos desfavorecidos<br />
economicamente, propiciando às comunidades um ensino gratuito desde o curso de<br />
Educação Infantil até o Ensino Médio profissionalizante. [...] A proposta pedagógica<br />
do Colégio fundamenta-se em concepções educacionais, em especial as<br />
construtivistas, baseadas numa visão dialética como forma de entender o<br />
desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. (ESCOLA FUNDAÇÃO<br />
BRADESCO...,2009, p. 04,10).<br />
A escola tem como principal meta formar indivíduos, preparando-os para o exercício<br />
da sua cidadania, num mundo em constante mutação, repassando valores que repercutem uma<br />
visão do Homem, de sociedade e da relação entre mercado de trabalho e empregabilidade.<br />
Visa oportunizar ao aluno compreender e atuar na dialética do mundo contemporâneo,<br />
enquanto sujeito político, social, cultural e produtivo, por meio do exercício de sua<br />
capacidade criativa, da liderança e da sua potencialidade para refletir e participar das relações<br />
sociais históricas.<br />
Como descrito no Projeto Pedagógico, a aprendizagem se dá na interação dialética e<br />
construtiva entre o sujeito e o conhecimento, onde professores, alunos, agentes sociais e os<br />
meios de comunicação são informantes fundamentais nesse processo (ESCOLA<br />
FUNDAÇÃO BRADESCO...,2009, p. 07). Nesse contexto de aprendizagem, o educando<br />
deverá aprender na realidade cotidiana, por meio de trabalhos práticos, de vivenciar aspectos<br />
relevantes da formação geral, por meio da sua participação nos projetos educacionais da<br />
escola, por meio da constante interação entre escola e família, a qual participará,<br />
efetivamente, nos diversos momentos, tais como: construção do conhecimento, lazer, estudos<br />
e decisões que influenciam o caminho da escola.<br />
Para a Escola Canuanã “a aprendizagem [...] é compreendida como sendo
consequência de um processo original vivido pelos indivíduos, através da interação com<br />
elementos do mundo" e o processo de crescimento do sujeito da aprendizagem “é dialético e<br />
construtivo no qual o educando é produtor de cultura". Nesse contexto, “ao professor cabe<br />
criar situações de aprendizagem adequadas [...] que orientem a construção do conhecimento<br />
científico." (ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO..., 2009, p.10).<br />
No que diz respeito à sua organização curricular, a Escola Canuanã oferece Educação<br />
Infantil apenas para os filhos dos funcionários, haja vista a tenra idade para o regime de<br />
internato.<br />
Por meio das ações educativas do Ensino Fundamental (com duração de 8 anos), a<br />
escola pretende preparar a criança e o adolescente para o exercício consciente de sua<br />
cidadania por meio da aquisição de conhecimento e habilidades e da formação de atitudes e<br />
valores. Tem como objetivo levar o educando a agir de forma autônoma, problematizando a<br />
realidade que o cerca, formulando hipóteses, analisando e comparando dados percebidos,<br />
construindo e reconstruindo seus próprios conceitos.<br />
Agindo dessa forma, a escola pretende capacitar o educando a caminhar em direção à<br />
conquista do saber elaborado pela ação e reflexão, a conquistar a segurança indispensável<br />
para sua integração social e para prosseguir na busca de novas descobertas, a utilizar as<br />
diferentes linguagens, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio de<br />
expressar, produzir e comunicar suas ideias. Enfim, prestar ao educando o apoio necessário<br />
para que se sinta seguro e capaz de ir cada vez mais adiante na construção do seu saber e para<br />
que, como indivíduo autônomo e ser social, desenvolva-se de maneira efetiva.<br />
A organização curricular do Ensino Médio pretende dar formação integral ao<br />
adolescente, possibilitando o prosseguimento de seus estudos, preparando-o para o trabalho e<br />
o exercício da sua cidadania. As componentes curriculares dão destaque à educação<br />
tecnológica básica, à compreensão do significado da ciência, das letras, das artes e ao<br />
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura na língua portuguesa como<br />
instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento.<br />
Conforme o PPP do curso Técnico em Agropecuária da Escola de Canuanã, o mesmo<br />
tem por objetivo:<br />
101<br />
[...] preparar e integrar qualificadamente no processo produtivo os jovens atendidos<br />
pela escola, cumprindo assim sua função social junto à comunidade; propiciar<br />
condições técnicas e sociais para que o profissional rural se estabilize em seu meio,<br />
favorecendo com isso, uma melhoria das condições de vida no campo e uma redução<br />
da migração rural; favorecer a melhoria de qualidade do trabalho desenvolvido pelo<br />
profissional rural, propiciando maior produtividade agrícola e ampliando as<br />
possibilidades de empregabilidade. Fazer uma interface entre o setor produtivo e<br />
centros de pesquisa que atuam no mesmo segmento, propiciando trocas favoráveis
102<br />
aos aprendizes, à escola e às próprias empresas; desenvolver a formação de<br />
profissionais técnicos capazes de usar novas tecnologias em seu campo de trabalho,<br />
além de adaptar-se constantemente às mudanças exigidas pela sociedade e pelo<br />
mercado e formar Técnicos em Agropecuária que pautem suas ações na ética do bem<br />
comum, do respeito ao trabalho humano, à proteção dos recursos naturais e ao<br />
cumprimento as leis que envolvem o seu campo de atuação. (ESCOLA<br />
FUNDAÇÃO BRADESCO...,2009, p. 05)<br />
Por meio da estrutura didática estabelecida, a Escola Técnica Agrícola de Canuanã<br />
pretende formar um profissional com o seguinte perfil:<br />
[...] capacidade de aprender a aprender; capacidade de interpretar dados e resolver<br />
problemas; capacidade para o trabalho em equipe; capacidade de exercer papel de<br />
liderança na divulgação de conhecimentos que possam melhorar a qualidade de vida<br />
e trabalho no meio rural; capacidade de elaborar e desenvolver projetos nos<br />
diferentes ramos do setor agropecuário e agro-industrial, identificando e<br />
considerando as particularidades técnicas, econômicas e sociais da região;<br />
capacidade de analisar as características do solo, organizar e melhorar a exploração e<br />
manejo deste considerando os fatores climáticos, tipos de cultivo, instalações,<br />
matérias primas, produtos e tratamento dos resíduos; capacidade para identificar os<br />
recursos hídricos e avaliar as possibilidades de utilização ecologicamente<br />
responsável dos mesmos; capacidade de planejar e acompanhar diferentes tipos de<br />
culturas, identificando necessidades nutricionais, sanitárias, de prazos e de<br />
equipamentos que resultem em maior produtividade; capacidade para aplicar<br />
métodos e programas de reprodução animal de cuidados higiênicos e sanitários,<br />
controlando a produção animal e agroindustrial; habilidade na aplicação de técnicas<br />
e recursos, inclusive os da informática, adequados à gestão e monitoramento dos<br />
empreendimentos agrícolas, pecuários, paisagísticos e agroindustriais; capacidade de<br />
propor e orientar projetos agropecuários pautados pela valorização do trabalho<br />
humano, pela defesa do meio ambiente, pela ética profissional e respeito às leis e<br />
normas pertinentes; pesquisar, apreciar e desenvolver novas alternativas de<br />
produção; conhecer e considerar, no desenvolvimento de projetos, as questões de<br />
ordem ambiental, tornando-se, na região em que atua, agente multiplicador das<br />
ideias e atitudes de defesa do meio ambiente. (ESCOLA FUNDAÇÃO<br />
BRADESCO...,2009, p. 07)<br />
Além das aulas regulares, os educandos são incentivados a participar de projetos que<br />
visam tanto seu desenvolvimento intelectual (projetos de pesquisa), desenvolvimento do<br />
voluntariado (atuando junto à comunidade) e desenvolvimento pessoal (saúde, sexualidade,<br />
artes, entre outros). São alguns projetos desenvolvidos:<br />
GSR <strong>–</strong> Grupo de Saúde Rural: Atende moradores de assentamento do INCRA e tem<br />
por objetivos desenvolver práticas de saúde e bem-estar bem como incentivar um<br />
desenvolvimento autossustentável da comunidade.<br />
Programa de Educação Ambiental de Canuanã <strong>–</strong> PEACAN: Trabalhando junto aos<br />
educandos de Canuanã, tem por objetivo oportunizar a educação ambiental na busca<br />
do desenvolvimento sustentável. Tem como atividades: produção de mudas de<br />
espécies nativas e promover o reflorestamento, preservação dos quelônios (animais em<br />
extinção por ser utilizado como fonte de alimentação) e ações para redução da
produção de lixo e poluição do ambiente, incentivando a reciclagem e reutilização.<br />
Dia Nacional de Ação Voluntária das Escolas da Fundação Bradesco <strong>–</strong> DNAV: Com a<br />
atuação dos educandos de Canuanã junto às comunidades vizinhas, esse projeto tem<br />
por objetivo promover o voluntariado e levar a escola para atuar junto à comunidade,<br />
“reduzindo a distância entre texto e contexto” (Revista Canuanã 2007, p.07)<br />
promovendo a construção de uma “nação socialmente justa” pela atuação de<br />
indivíduos “socialmente participantes” (Revista Canuanã, 2007, p. 07).<br />
Trabalho e Consumo: Tem por objetivo “contribuir para uma visão clara e globalizada<br />
do mundo do trabalho, focando nesse contexto o jovem de Canuanã, oportunizando-<br />
lhe conhecer as diversas áreas, possibilitando uma tomada de decisão mais consciente<br />
em relação à escolha de uma carreira profissional”(Revista Canuanã, 2007, p. 08).<br />
Suas principais atividades: o estudo (filosófico e sociológico) sobre o trabalho e sua<br />
função na vida humana; profissão e emprego; conhecimentos das universidades da<br />
região e seus cursos; seminário das profissões com a participação de profissionais que<br />
compartilhem sua trajetória profissional.<br />
Produção Agropecuária: Pretende desenvolver a preparação para a aplicação das<br />
técnicas disponíveis na gestão e monitoramento dos empreendimentos agropecuários e<br />
agroindustriais; desenvolver a capacidade de liderança na divulgação de<br />
conhecimentos que possam melhorar a qualidade de vida e trabalho no campo e<br />
desenvolver as atividades agropecuárias pautados na valorização do trabalho humano,<br />
defesa do meio ambiente.<br />
Programa de Recreação e Lazer <strong>–</strong> PROLARE: Procura, através de atividades<br />
recreativas, desenvolver e valorizar o próprio saber do educando, desertando a<br />
criatividade e a cultura corporal manifestada por meio da sintonia entre as atividades<br />
físicas e mentais, melhorando a auto-estima.<br />
Orientação Afetivo Sexual <strong>–</strong> OAS: Procura possibilitar a “formação de uma auto-<br />
imagem positiva que permita ao educando vivenciar sua sexualidade de forma sadia,<br />
feliz e responsável na construção de seu projeto de vida”. (Revista Canuanã, 2007, p<br />
11).<br />
Além desses, a escola também promove oficinas pedagógicas sobre temas variados e<br />
de interesse dos discentes, bem como visitas técnicas e estudos do meio.<br />
Com seus projetos de pesquisa, a Escola Canuanã já participou de várias feiras da<br />
SBPC conquistando, inclusive, premiações pelos trabalhos desenvolvidos pelos educandos.<br />
103<br />
As propostas aqui apresentadas pela Escola de Canuanã buscam desenvolver o aluno
de forma integral, envolvendo não somente os aspectos do conhecimento científico, mas<br />
também aquelas que procuram proporcionar melhores condições de vida aos educandos e seus<br />
familiares.<br />
Além disso, essas atividades desenvolvidas são elementos considerados de grande<br />
importância pelos potenciais empregadores e, dessa forma, por meio dessas atividades a<br />
escola prepara seu aluno também para atuar de forma competente num contexto empresarial<br />
3.2.2 A proposta política da Escola de Canuanã<br />
A Proposta Pedagógica Colégio de Canuanã não possui em seu texto uma referência<br />
explícita sobre sua proposta política. Entretanto, todo:<br />
104<br />
[...] projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido<br />
explícito, com um compromisso definido coletivamente. [...] A dimensão política se<br />
cumpre ma medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente<br />
pedagógica. (VEIGA, 2004, p.14 - 15).<br />
Nesse contexto, é possível verificar a proposta política por meio do discurso e da<br />
constituição curricular, afinal, o valor social e cultural da escola se revela pelo<br />
desenvolvimento do currículo.<br />
Pelo conteúdo apresentado no documento ora exposto, pode-se afirmar que a Escola<br />
Canuanã apresenta uma proposta política de educação para o mercado. Podem comprovar essa<br />
afirmação frases como:<br />
“formar indivíduos com valores que repercutem uma visão do Homem, de sociedade e<br />
da relação entre mercado de trabalho e empregabilidade” (ESCOLA FUNDAÇÃO<br />
BRADESCO...,2009, p. 04);<br />
“oportunizar ao aluno compreender e atuar na dialética do mundo contemporâneo,<br />
enquanto sujeito político, social, cultural e produtivo, através do exercício de sua<br />
capacidade criativa, da liderança e da sua potencialidade para refletir e participar das<br />
relações sociais históricas” (ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO...,2009, p. 05);<br />
“destina-se à formação integral do adolescente possibilitando o prosseguimento de<br />
seus estudos, preparando-o para o trabalho e o exercício da sua cidadania” "A escola<br />
tem por objetivo propiciar um ensino pedagógico e uma formação educacional de<br />
qualidade e o compromisso de oportunizar ao educando conhecimentos profissionais
completos e necessários, capaz de emitir sua auto-realização, bem como a qualificação<br />
do mesmo para o mercado profissional, à sociedade e ao país"<br />
Por meio do Plano de Curso do Eixo Tecnológico Recursos Naturais <strong>–</strong> Educação<br />
Técnica de Nível Médio <strong>–</strong> Curso em Agropecuária, pode-se perceber a mesma intenção<br />
política, quando coloca como objetivo do curso “preparar e integrar qualificadamente no<br />
processo produtivo os jovens atendidos pela escola, cumprindo assim sua função social junto<br />
à comunidade.<br />
A proposta política também pode ser comprovada pela estrutura curricular que possui<br />
componentes como Planejamento e Projeto, Produção Agroindustrial e Gestão de<br />
Empreendimentos Agropecuários e Agroindustriais.<br />
Porém, ao mesmo tempo em que o discurso descreve uma educação para o mercado,<br />
descreve também uma educação para autonomia quando apresenta que a escola:<br />
forma indivíduos, preparando-os para o exercício da sua cidadania, compreendendo e<br />
atuando na dialética do mundo contemporâneo, enquanto sujeito político, social,<br />
cultural com potencialidade para refletir e participar das relações sociais históricas;<br />
acredita que a aprendizagem se dá na interação dialética e construtiva entre o sujeito e<br />
o conhecimento;<br />
pratica uma aprendizagem [...] compreendida como sendo consequência de um<br />
processo original vivido pelos indivíduos, através da interação com elementos do<br />
mundo, na qual o processo de crescimento do sujeito da aprendizagem "é dialético e<br />
construtivo. [...] É produtor de cultura;<br />
adota o procedimento de aprender fazendo, pois reconhece nessa sistemática uma<br />
oportunidade para consolidar o conhecimento teórico construído.<br />
Nesse contexto, ao mesmo tempo em que educa com ênfase nas atividades<br />
agroindustriais, que são concentradoras de terra e renda, também possibilita aos educandos a<br />
capacidade do pensar próprio pelo conhecimento adquirido, colaborando para sua<br />
emancipação social, cultural e econômica.<br />
3.3 Igualdades e Diversidades dos Processos Educacionais nas escolas rurais EFA e<br />
Canuanã<br />
105<br />
Um dos questionamentos que se pode fazer em relação a esse item: Igualdades e
Diversidades é, exatamente, se existe a possibilidade de igualdade onde existem duas<br />
realidades e duas formas de trabalho bastante diferenciadas, como é o caso da EFA e<br />
Canuanã.<br />
Outro questionamento possível se refere ao atendimento dos “processos educacionais”.<br />
Existem várias definições para explicar o que seja um processo. No contexto da pedagogia ,<br />
Senna afirma que:<br />
106<br />
os processos educacionais são propriamente as experiências que promovem a<br />
educação de um povo. Nestas experiências todos concorrem, ao mesmo tempo como<br />
agentes de ensino e de aprendizagem, transformando-se mutuamente e tendo por<br />
motivação a integração, de si próprios com suas expectativas de vida e de si com o<br />
outro ao qual reconhece como par. (SENNA, 2007, p. 57 - 58)<br />
Ainda que com palavras diferentes, ambos os conceitos dizem que processos causam<br />
mudanças, transformações.<br />
Quando se pensa “processo educacional”, com base nas duas últimas definições, é<br />
possível afirmar que existirão muito mais igualdades que diversidades presentes nas duas<br />
realidades pesquisadas do que se poderia inicialmente pensar.<br />
É bem verdade que as diversidades, entendidas aqui como formas diferentes de se<br />
conduzir o processo educacional, mostram-se mais clara e abertamente. Pode-se começar a<br />
descrevê-las pela área destinada ao ensino e aprendizagem. Não somente a área, mas todas as<br />
instalações físicas das escolas.<br />
A Escola de Canuanã possui uma estrutura física melhor equipada que a EFA. Várias<br />
razões contribuem para isso. Por estar em uma área muito maior, Canuanã possibilita a<br />
construção de espaços de ensino e aprendizagem mais amplos. Por ser financiada por uma<br />
fundação pertencente a uma instituição financeira privada, consegue mais recursos para a<br />
realização de suas atividades. Essa diferença na obtenção de recursos financeiros também<br />
permite à Canuanã utilizar recursos tecnológicos, que a EFA não tem acesso no ambiente<br />
escolar.<br />
Porém, a pressão por resultados na Escola de Canuanã é muito grande. Por fazer parte<br />
de um grupo que trabalha com um sistema de gestão por resultados, precisa atingir metas<br />
estabelecidas pela direção nacional. A escola tem um sistema de avaliação de aprendizagem<br />
que, anualmente, é aplicado a todas as escolas pertencentes à Fundação. Caso os educandos<br />
não atinjam a meta estabelecida, a escola é fortemente cobrada.<br />
A EFA é financiada pelo Estado, o que faz com que o recebimento de recursos<br />
financeiros siga uma lógica diferenciada, porém é de gestão autônoma e compartilhada e isso<br />
faz com que a pressão por resultados seja menor. O que não significa que o compromisso da
equipe diretiva e docente com o ensino e a aprendizagem seja diminuído ou desprezado.<br />
Outra diversidade que se pode observar entre as duas escolas são as propostas<br />
pedagógicas. Com a adoção da Pedagogia da Alternância, a EFA propõe uma variedade maior<br />
de tempos e espaços de aprendizagem, que não são possíveis de serem aplicadas em Canuanã,<br />
na qual o regime de internato limita as ações. Os projetos voltados ao atendimento da<br />
comunidade, desenvolvidos pela escola de Canuanã, não contam com a participação de todos<br />
os educandos. Na EFA, por força do Plano de Estudo, presente na proposta da Alternância,<br />
todos os educandos precisam ter uma maior interação com a comunidade na busca de solução<br />
para problemas comuns, fato que não acontece na escola de Canuanã<br />
Também sob a ótica das diversidades, não se pode deixar de falar sobre a forma de<br />
acesso às duas escolas.<br />
Canuanã tem vagas limitadas, os alunos passam por um processo de seleção que tem<br />
critérios a serem seguidos. Conforme conteúdo de entrevista realizada, são em torno de<br />
setecentas inscrições para 100 vagas disponíveis, das quais 70 são para a primeira série. No<br />
ano de 2009, foram 160 inscrições para as 70 vagas disponíveis. Conforme entrevista<br />
realizada, o processo de seleção da escola acontece da seguinte maneira:<br />
107<br />
Em junho, eles fazem as inscrições, em agosto e setembro a gente seleciona as fichas<br />
e fazemos a visita na casa. Então nós vamos na casa, pra ver se aquele aluninho que<br />
fez a inscrição mora realmente na fazenda, como que é a estrutura familiar dele, se<br />
ele está dentro da faixa etária para aquela série pretendida. Se estiver tudo dentro<br />
desse perfil que a gente colocou, desse critério, a gente agenda a entrevista dele aqui<br />
na escola. A gente quer que a criança venha com o pai na escola de Canuanã. Então<br />
ele já tem um primeiro contato. Então ele vai ver como que é a escola, como que é o<br />
parquinho, onde ele vai dormir, onde ele vai morar, quem são os coleguinhas, para<br />
ele ter um pouquinho mais de segurança em vir. Feito tudo isso, a gente fecha o<br />
processo seletivo em dezembro. Então, geralmente, na última reunião de pais a gente<br />
divulga a classificação da primeira série para 2010. A matrícula é feita em janeiro.<br />
Os que não conseguem, a gente orienta os pais que coloquem eles pra estudar. Eles<br />
não podem ficar sem escola. Por quê? Se eles estiverem estudando, eles têm chance<br />
de entrar em Canuanã até o primeiro médio do Agro. Então até a oitava série eles<br />
podem entrar e até o primeiro ano geralmente surgem aí dez vagas.[...]. Então a<br />
gente orienta os pais para que eles não desistam. Todo ano eles têm que fazer a<br />
inscrição. Manter o menino na escola, não deixar reprovar, que se reprovar fica fora<br />
da faixa etária e não consegue entrar mais aqui. 17<br />
Situação bastante diferenciada da EFA, que recebe todos aqueles que queiram estudar.<br />
Mesmo as distorções idade-série não são empecilho para a matrícula.<br />
Sobre as igualdades percebidas nos dois casos, pode-se iniciar comentando sobre o<br />
carinho que os educando têm pelas escolas. Tanto os educandos de Canuanã quanto os<br />
educandos da EFA consideram que a escola contribui de forma muito significativa para suas<br />
17 Entrevista concedida em 12 de novembro de 2009.
vidas. Isso pode ser percebido pelos depoimentos: “a escola é maravilhosa. Ajuda nós, nossos<br />
familiares, não é restrita apenas aos alunos. Há uma relação maravilhosa com a comunidade”<br />
e ainda, “eu agradeço essa escola muito porque é a melhor escola do mundo e faz tudo para<br />
melhorar o dia-a-dia da sociedade”. (depoimentos de alunos de Canuanã deixados no<br />
questionário aplicado).<br />
Na EFA, o sentimento não é diferente: “Gosto dessa escola. Aprendi muito aqui”;<br />
“Esta escola é muito boa. Espero que ela melhore do que ela é. Eu tenho muito orgulho de<br />
estudar aqui. Muito obrigado.” (depoimentos de alunos da EFA deixados no questionário<br />
aplicado).<br />
Outro aspecto comum percebido é o comprometimento da comunidade envolvida em<br />
relação às duas escolas. Em ambas existe a mesma vontade de mudar a realidade e a mesma<br />
dedicação com a tarefa de educar. Tanto na EFA quanto em Canuanã todos trabalham em<br />
busca do mesmo objetivo, mesmo sendo o objetivo diferente em cada uma delas. Isso pode<br />
ser confirmado pelas respostas dos alunos no questionário aplicado quando, ao serem<br />
indagados sobre a participação dos professores e funcionários nas atividades da escola,<br />
obteve-se os seguintes resultados.<br />
Gráfico 3 - Envolvimento das pessoas que trabalham na escola nas atividades<br />
curriculares e extra-curriculares desenvolvidas <strong>–</strong> EFA<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
20%<br />
64%<br />
16%<br />
muito fraco fraco médio forte muito forte não sabe<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
108
Gráfico 4 - Envolvimento das pessoas que trabalham na escola nas atividades<br />
curriculares e extra-curriculares desenvolvidas <strong>–</strong> Canuanã<br />
50,0%<br />
45,0%<br />
40,0%<br />
35,0%<br />
30,0%<br />
25,0%<br />
20,0%<br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
0,6%<br />
3,2%<br />
25,1%<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Outra similaridade observada é a estrutura curricular do curso Técnico em<br />
Agropecuária. As disciplinas ministradas são as mesmas. A corrente pedagógica que as<br />
escolas pautam suas ações é a mesma. Embora contraditoriamente nos dois Projetos<br />
Pedagógicos, as ações pedagógicas estão pautadas na proposta freireana de ensino e, por essa<br />
razão, ambas buscam a formação de um cidadão completo, consciente e capaz.<br />
As ações pedagógicas de ambas as escolas estão direcionadas ao atendimento das<br />
necessidades locais, como propõe a teoria de construção do projeto pedagógico. Através de<br />
respostas dos alunos ao questionário aplicado, percebe-se que em Canuanã existe uma ênfase<br />
maior nas atividades com gado. Já na EFA, percebe-se que a maior ênfase está na preparação<br />
45,0%<br />
25,1%<br />
de hortas, adubos orgânicos e atividades relacionadas à avicultura.<br />
1,0%<br />
muito fraco fraco médio forte muito forte não sabe<br />
109
Gráfico 5 - Atividades que aprende na escola e utiliza no trabalho em casa <strong>–</strong> Canuanã<br />
35,0%<br />
30,0%<br />
25,0%<br />
20,0%<br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Gráfico 6 - Atividades que aprende na escola e utiliza no trabalho em casa - EFA<br />
45,0%<br />
40,0%<br />
35,0%<br />
30,0%<br />
25,0%<br />
20,0%<br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0<br />
0,0<br />
18,2%<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
As duas escolas oferecem o ensino profissionalizante integrado ao Ensino Médio,<br />
permitindo, dessa maneira, que os alunos tenham a oportunidade de escolha entre continuar<br />
seus estudos em uma faculdade, entrar para o mundo do trabalho como Técnico<br />
Agropecuário, ou ainda realizar as duas coisas, ou seja, por meio da profissão já conquistada<br />
poder continuar seus estudos.<br />
38,5%<br />
30,5%<br />
Se processo educacional são transformações provocadas na vida do educando, é<br />
possível afirmar que ambas as escolas atuam de forma igual, ainda que por caminhos<br />
diferentes. Pelo exposto, pode-se observar que as diversidades do processo estão relacionadas<br />
aos recursos físicos, materiais. No que concerne à parte humana, ou seja, no que realmente é<br />
32,5%<br />
18,7%<br />
22,0%<br />
Tirar leite Manejo de animais Fazer horta Castrar animais<br />
18,0%<br />
Horta Preparar adubo orgânico Avicultura<br />
110
capaz de proporcionar mudanças de paradigmas e transformar a vida daqueles que passam<br />
pelas escolas, não há diversidade, são iguais nos dois espaços educacionais.<br />
Diante do exposto, percebe-se que quando o conceito de processo educacional é<br />
alinhado ao conceito de projeto e à proposta política assumida pela escola, torna-se ainda mais<br />
nítida a igualdade de ações nas duas escolas. Ambas trabalham no intuito de fazer cumprir o<br />
projeto proposto, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo afinco<br />
para proporcionar, não só aos educandos, mas à sociedade à sua volta, transformações que<br />
tragam melhorias tanto aos alunos quanto à comunidade na qual está inserida.<br />
Percebemos, com isso, que mesmo não apresentando de forma explícita sua proposta<br />
política, esta pode ser percebida implicitamente pelas ações praticadas, mostrando-nos que<br />
discurso e prática nem sempre são coerentes no fazer educacional.<br />
3.4 O discurso e a práxis no cotidiano da escola<br />
Todo projeto pedagógico é uma declaração da filosofia pedagógica da instituição que,<br />
ao construí-lo, necessariamente se pergunta qual é o ser que se pretende formar.<br />
Paralelo a isso, a história tem mostrado que a escola cumpre com primazia o seu papel<br />
de manter a hegemonia da cultura dominante, repassando seus valores, seja mais abertamente<br />
em seu discurso ou camufladamente numa práxis que se traduz em ações diferenciadas do<br />
discurso expresso no projeto.<br />
O que o tema desse item propõe é justamente analisar a coerência entre o discurso<br />
presente nos projetos pedagógicos e a práxis docente, verificando sua coerência ou diferenças.<br />
Coerência com o quê? Diferenças entre quais aspectos?<br />
Para se compreender análise das práticas escolares, é necessário compreender um<br />
pouco a respeito das teorias de currículos propostas pelos pensadores da pedagogia. Segundo<br />
esses pensadores, a Teoria do Currículo passa por três fases: Teoria Tradicional, Teoria<br />
Crítica e Teoria Pós Crítica.<br />
Silva (2003) expõe essas teorias sobre o currículo no qual explicita as ideias<br />
fundamentais de cada uma delas.<br />
A Teoria Tradicional procura ser neutra e pretende formar um trabalhador<br />
especializado ou proporcionar uma educação geral acadêmica. Tem por premissa apresentar<br />
os conteúdos de forma eficaz para se obter resultados eficientes. Eficácia e Eficiência. Dois<br />
111
termos da Administração de Taylor, cujo modelo inspira a escola a funcionar como uma<br />
empresa comercial ou industrial.<br />
A década de 60 do século XX foi marcada pela ação de movimentos sociais e<br />
culturais. Em meio a esses movimentos, surge uma nova concepção de currículo: as Teorias<br />
Críticas, no plural, haja vista serem vários os autores com visões diferenciadas sobre a prática<br />
escolar.<br />
A premissa das Teorias Críticas está na subjetividade das experiências pedagógicas e<br />
curriculares. As experiências vividas, no ambiente escolar, devem ser encaradas de uma forma<br />
absolutamente pessoal e subjetiva e considerar de que maneira professores e discentes<br />
estabelecem os processos de negociação e os significados sobre o conhecimento.<br />
Apesar de serem vários autores, o que se procura é o compreender “em uma análise<br />
marxista, o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existiu uma ligação<br />
entre educação e ideologia”. (Hornburg e Silva, 2007, p. 02).<br />
Dentre os representantes dessa teoria, encontram-se Louis Althusser, Samuel Bowles e<br />
Herbert Gintis, Pierre Bourdieu e Jean Claude Chamboredon, Michael Apple, Henry Giroux e<br />
Paulo Freire.<br />
Segundo Althusser, a escola, por fazer parte da vida da população por um longo<br />
período de tempo, é um meio utilizado pelo capitalismo para manter sua ideologia. Daí ocorre<br />
que o currículo, por meio das disciplinas e conteúdos desenvolvidos, é um instrumento pelo<br />
qual a ideologia dominante transmite seus princípios. Além disso, as formas de seleção e as<br />
práticas discriminatórias presentes nas ações pedagógicas fazem com que se perpetue a<br />
relação entre dominantes e dominados.<br />
Bowles e Gintis apontam para o fato de que não é apenas mediante o conteúdo<br />
explícito no currículo que a classe dominante procura manter sua ideologia, mas as relações<br />
sociais existentes na escola também são fator determinante para se atingir tal objetivo. Dessa<br />
maneira:<br />
112<br />
[...] as escolas dirigidas aos trabalhadores subordinados tendem a privilegiar<br />
relações sociais nas quais, ao praticar papéis subordinados, os estudantes aprendem<br />
a subordinação. Em contraste, as escolas dirigidas aos trabalhadores dos escalões<br />
superiores da escala ocupacional tendem a favorecer relações sociais nas quais os<br />
estudantes têm a oportunidade de praticar atitudes de comando e autonomia.<br />
(SILVA, 2003, p. 33).<br />
Já os estudos de Bourdiex e Jean Claude propõem que a reprodução social ocorre por<br />
meio da cultura, na reprodução cultural. É pela reprodução da cultura dominante que se<br />
perpetua a sua hegemonia. Considera-se cultura nesse contexto os hábitos, os valores, os
gostos e os costumes da classe dominante, sendo desprezados quaisquer outros que sejam<br />
diferentes. No contexto escolar, um currículo baseado na cultura dominante atua como um<br />
mecanismo de exclusão, pois se utiliza de códigos facilmente entendidos pela classe<br />
dominante, mas completamente indecifráveis à classe dominada.<br />
A contribuição de Apple para a Teoria Crítica do Currículo está no fato de sua obra<br />
questionar a forma como os conteúdos são trabalhados no ambiente escolar. Em seu<br />
pensamento, expõe que os conteúdos do currículo não se apresentam de forma neutra. O<br />
currículo materializa o conhecimento e o legitima como verdadeiro e absoluto. Nesse<br />
entendimento, deve-se refletir não apenas sobre qual conhecimento é verdadeiro, mas a quem<br />
pertence o conhecimento, quem o selecionou e porque é organizado e transmitido dessa<br />
forma. Por isso valores, normas e disposições são importantes, mas mais importantes ainda<br />
são as ideologias presentes nos conteúdos que compõe o currículo.<br />
Apple apresenta que todas as atividades desenvolvidas no contexto escolar estão<br />
repletas de significação, nem sempre apresentados de forma explícita. Chama a atenção para<br />
as relações sociais estabelecidas na escola, em especial para as relações de poder. Essas<br />
relações de poder, existentes no ambiente escolar, fazem com que a transmissão do<br />
conhecimento aconteça de forma diferenciada, de acordo com o grupo para o qual esse<br />
conhecimento é transmitido. Isso porque a escola acumula e legitima a cultura e o<br />
conhecimento transforma-os em capital que, dependendo do grupo, será ou não adquirido pelo<br />
educando. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a escola produz e transmite<br />
conhecimentos, sejam eles valores, regras e comportamentos sociais ou conhecimentos<br />
técnico-administrativos de maneira a manter o funcionamento do capitalismo.<br />
Apple critica essa maneira pela qual a sociedade capitalista pressiona as escolas, os<br />
currículos e a prática pedagógica dos professores.<br />
Giroux apresenta um pensamento de currículo voltado para a noção ‘político-cultural’.<br />
Para ele, o currículo é o lugar onde os significados sociais são criados e produzidos e deve ser<br />
compreendido utilizando os conceitos de libertação e emancipação. Isso porque, é por meio<br />
dos conteúdos do currículo trabalhados no cotidiano da escola que as pessoas se tornam<br />
conscientes de sua condição de dominados e podem se tornar emancipadas ou libertas do<br />
poder e controle exercidos pelos detentores do poder.<br />
É por essa razão que os educandos deverão participar ativamente do processo de<br />
construção do currículo, discutindo as práticas sociais, políticas econômicas, analisando-as e<br />
percebendo seu caráter de controle.<br />
113<br />
Nesse contexto, o professor tem papel fundamental, pois são eles que devem não
somente permitir, mas instigar o aluno a participar e questionar, bem como propor questões<br />
reflexivas, permitindo ao aluno ser ouvido e expressar sua opinião.<br />
Freire não desenvolve uma teoria sobre currículo propriamente dita, mas discute o<br />
espaço da escola como um espaço apenas de reprodução do conhecimento. Desenvolve o<br />
conceito de ‘educação bancária’, onde o professor tem um papel ativo de transmissor e o<br />
educando um papel de receptor passivo. O currículo, então, não faz parte da vida das pessoas.<br />
O que Freire propõe é uma educação problematizadora, ou seja, o ato de aprender<br />
somente fará sentido se for realizado por meio de uma prática social. Num espaço onde o ato<br />
pedagógico é dialógico e realizado a partir de uma prática social, os conteúdos são definidos<br />
junto com os educandos e na realidade em que estão inseridos, eliminando, assim, a diferença<br />
entre cultura erudita e cultura popular, permitindo que esta última também se torne<br />
conhecimento legitimado.<br />
Silva (2003), nos estudos sobre currículo, chama a atenção para o currículo oculto. Em<br />
sua exposição, afirma que nem tudo o que acontece no ambiente escolar está explícito no<br />
projeto pedagógico. Estão presentes nos acontecimentos do cotidiano da escola valores,<br />
comportamentos e atitudes que contribuem de forma significativa para aprendizagens sociais<br />
relevantes. São experiências (planejadas ou não) vividas no ambiente escolar que podem<br />
contribuir positiva ou negativamente. Para as teorias críticas estão associadas ao<br />
conformismo, à obediência e ao individualismo, que são comportamentos que mantém a<br />
ideologia dominante.<br />
Nas teorias pós-críticas o que se procura é quebrar um paradigma das visões de mundo<br />
anteriores. Propõe um abandono gradual dos velhos temas e entra em cena a discussão de dois<br />
deles: o multiculturalismo e as questões de gênero e pedagogia feminista.<br />
Para os defensores do multiculturalismo nenhuma cultura pode ser julgada superior à<br />
outra. No ambiente escolar, as teorias pós-críticas se posicionam contra um currículo que<br />
privilegia a cultura branca, masculina, heterossexual e europeia em detrimento de outras.<br />
Surgem, então, duas correntes: a liberal e a crítica<br />
A liberal entende que no ambiente escolar deve haver respeito, tolerância e<br />
convivência harmoniosa. Para a crítica, isso apenas não quebra as relações de poder<br />
existentes, permanecendo a supremacia da cultura dominante que permite que as demais<br />
tenham o ‘seu espaço’. O que se pretende é fazer com que todas tenham igualdade de<br />
condições, discutindo valores de outras culturas e trazendo-os para um patamar de igualdade<br />
com as da classe dominante.<br />
114<br />
Ao discutirem as questões de gênero nas relações escolares, as teorias críticas
propõem uma repensar de valores repassados pela escola que são essencialmente masculinos,<br />
tais como a valorização do domínio, controle, racionalidade, lógica, técnica, individualismo e<br />
competição. Defendem que o ambiente escolar também deve valorizar aspectos como a<br />
importância das relações sociais, a intuição, arte, estética, comunitarismo e cooperação. Isso<br />
porque o objetivo não é de ‘masculinizar’ as mulheres, mas através da inclusão e discussão de<br />
valores femininos, possa haver um equilíbrio de interesses e particularidades.<br />
Ao analisar o projeto pedagógico da Escola de Canuanã, pode-se perceber que há uma<br />
mescla de todas as teorias apresentadas. Podem ser observados aspectos das teorias críticas<br />
como o preparo para o exercício da cidadania, a compreensão por parte do aluno como um<br />
sujeito político social e cultural, como o aprender por meio da interação dialética, agir de<br />
forma autônoma e oportunizar ao aluno situações de aprendizagem que orientem a construção<br />
do conhecimento científico.<br />
Por outro lado e também de forma explícita, encontram-se aspectos fortemente<br />
tradicionais, notadamente no que tange à formação profissional e formação geral acadêmica.<br />
Verifica-se a presença explícita da teoria tradicional, quando escreve que a escola pretende<br />
formar indivíduos para o mercado de trabalho e empregabilidade, que oportuniza a<br />
compreensão do mundo enquanto sujeito produtivo, quando o objetivo do ensino médio é a<br />
formação integral do adolescente preparando <strong>–</strong> o tanto para o prosseguimento de seus estudos<br />
quanto para o trabalho e, quando apresenta como objetivo do curso técnico preparar e<br />
integrar, qualificadamente no processo produtivo, os jovens atendidos pela escola.<br />
Contrariamente na EFA, não se pode perceber explicitamente aspectos das teorias<br />
tradicionais, com exceção, talvez, de em algumas poucas vezes, apresentar que tem por<br />
objetivos oferecer uma “educação para o trabalho e para a cidadania” (ESCOLA FAMÍLIA<br />
AGRÍCOLA..., 2009, p.14). Pela própria natureza da Pedagogia da Alternância, o que a EFA<br />
apresenta é uma educação baseada nos princípios de Paulo Freire, trabalhando, inclusive, a<br />
partir de temas geradores. A partir de um tema amplo, explora-se os conteúdos de cada<br />
disciplina e também todos os outros aspectos de formação do ser, tais como: questões de<br />
gênero, espiritualidade, sexualidade, afetividade, entre outros.<br />
Mas, como bem colocado pelos teóricos, currículo não é só o que está explícito nos<br />
documentos, e sim o lugar onde os significados sociais são criados, são experiências vividas<br />
no cotidiano que definem as práticas sociais. Sob esse olhar, uma análise mais complexa pode<br />
ser explorada.<br />
O que se pode perceber nas práticas sociais da Escola de Canuanã é que existe uma<br />
mescla de sentimentos, valores e princípios que demonstram a vontade dos educadores em<br />
115
ealmente proporcionar uma educação libertadora, que tire os educandos da condição de<br />
dominados e o torne consciente da possibilidade de mudança, ainda que inseridos em um<br />
sistema educacional tradicional. Sendo as relações sociais o palco das contradições, é possível<br />
afirmar que Canuanã não foge à regra.<br />
Pelo ambiente administrativo vê-se que a escola é pensada como uma empresa. Fica<br />
nítida a presença da eficácia e da eficiência quando se observa que a escola tem metas a<br />
cumprir. Metas de aprovação, metas de desempenho na prova do EN<strong>EM</strong>, metas de<br />
desempenho na avaliação institucional, metas de empregabilidade dos egressos. Metas pelas<br />
quais os diretores são cobrados e os resultados atingidos pela escola de Canuanã são<br />
comparados com outras escolas da Fundação. Fica clara a presença das ferramentas<br />
empresariais tão bem utilizadas pelas teorias tradicionais, como se observa pelas palavras da<br />
entrevista:<br />
116<br />
Dentro do PGE 18 temos várias medidas e uma delas é a empregabilidade. Então nós<br />
temos uma medida, um número mínimo que nós precisamos alcançar. Hoje nós<br />
estamos em 70%. 70% dos alunos que terminam o curso necessariamente deverão<br />
trabalhar na área. Então a gente trabalha nesse sentido. De que forma? Nós fazemos<br />
muito contato entre empresas que são empregadoras de técnicos e incentivamos<br />
também a autonomia deles, não precisa ser necessariamente empregado, pode ser<br />
também um gestor do próprio negócio. Pode ser autônomo, pode criar um emprego<br />
de prestação de serviço. Então os alunos do terceiro ano a gente trabalha muito nesse<br />
sentido, mostrando as possibilidades que eles têm [...]. 19<br />
As contradições presentes nas relações sociais permeiam a subjetividade dos atores<br />
envolvidos no processo ensino-aprendizagem de Canuanã. A região na qual está inserida a<br />
escola é uma região muito pobre, onde em muitas residências não se tem a presença de<br />
energia elétrica e, em muitas delas falta até o alimento para a família. Por essa razão, os<br />
alunos de Canuanã vão para a escola para terem um futuro melhor por meio da aquisição do<br />
conhecimento. Embora seja esse conhecimento aquele legitimado pelos grupos hegemônicos,<br />
haja vista estarem vinculados ao sistema educacional do país, é conhecimento e pode permitir<br />
uma ascensão social, seja por meio do trabalho ou por descobrir novas formas de produção<br />
em sua própria terra.<br />
Canuanã entende que formar um cidadão é oferecer ao aluno uma “formação mais<br />
completa possível. Ele sair da escola com uma formação ampla, uma formação, digamos<br />
abrangente e desvinculada de preconceitos, ele vai ter condições de assumir esse papel na<br />
sociedade”. 20<br />
18 PGE: Programa de Gestão Escolar<br />
19 Entrevista concedida em 11 de novembro de 2009<br />
20 Ibid.
O que se percebe, entretanto, nas falas dos professores, é que os mesmos vivem num<br />
paradoxo. Como tornar os alunos cidadãos? Como torná-los críticos? Como fazer com que<br />
eles percebam que são capazes? Como não deixá-los acomodados na sua condição? Como<br />
dizer que sua cultura e sua forma de vida também são válidos estando eles em uma instituição,<br />
que em sua forma de gestão, apresenta todos os aspectos de uma educação tradicional?<br />
professores:<br />
Percebe-se essa mescla de sentimentos no fazer educacional quando ouvimos dos<br />
21 Entrevista concedida em 11 de novembro de 2009<br />
117<br />
Pelo próprio contexto da nossa região [...] a formação que os nossos alunos aqui<br />
têm, a formação técnica que eles têm aqui, somente essa formação já colabora, faz<br />
com que eles saiam sem esse sentimento de inferioridade. Acho que o conhecimento<br />
adquirido por eles, aqui, contribui com a auto-estima deles para eles não se sentirem<br />
tão inferiores com relação aos outros. Outra coisa que melhora a auto estima deles é<br />
a questão do índice de empregabilidade. [...] nós temos uma lista de empresas de<br />
produtores que querem contratar os nossos técnicos.[...]. Sou muito saudosista e de<br />
certa forma à vezes até muito utópico, mas eu acho que às vezes a gente tem que<br />
acreditar um pouco na utopia. Acredito sim que nós temos que trabalhar sim pra<br />
posteridade, e de pelo menos uma porcentagem de 5% dos nossos alunos<br />
anualmente volte pro meio rural. A gente tem que trabalhar com uma pequena<br />
porcentagem. Isso aí ao longo prazo talvez vai mudar o desenvolvimento da região.<br />
[...] não adianta pensar de maneira sonhadora que os alunos devem voltar pra<br />
família, se a família nas propriedades rurais não têm condições de mantê-los lá.<br />
Temos um problema aqui que a grande maioria são meninas. As meninas envolvidas<br />
no meio rural. Elas não conseguem se encaixar e aí a gente tem que fazer todo um<br />
trabalho de como que elas podem trabalhar nesse meio rural, ou onde elas podem ser<br />
inseridas no mercado de trabalho. Mas quando chega no terceiro ano, elas ficam<br />
perdidas, sem saber o que que ela vai fazer com o curso técnico, o que que elas<br />
estudaram, onde que elas vão trabalhar, quem é que vai aceitar a mulher no campo,<br />
né? Então a gente ainda tem esse problema. Mas a escola tenta trazer os pais para<br />
mudar toda essa ideia. 21<br />
Temos 50% dos alunos que querem fazer o agro e 50% que não querem...<br />
Principalmente as meninas...porque encaixá-las no agronegócio, principalmente nas<br />
fazendas, meninas é muito complicado. A gente tem procurado melhorar isso mas<br />
não é tão simples. Recentemente a gente mandou uma menina pra Monte Santo de<br />
Minas. Isso foi muito legal porque ela foi trabalhar com ovinocultura. [...] Temos<br />
uma outra que desde que ela se formou, ela foi uma das primeiras colocadas da<br />
turma dela e os três primeiros colocados de cada turma tem emprego garantido no<br />
Bradesco ou na Fundação. E ela foi uma das primeiras, só que ela abriu mão do<br />
Bradesco que ela queria atuar na área que ela se formou,.Então isso é uma raridade.<br />
Uma menina e queria ser técnica. E ela foi para uma fazenda perto de Uruaçu uma<br />
produtora de gado [...] e está lá até hoje, tá há três anos trabalhando no escritório<br />
dessa fazenda. Então ela é responsável pelo gado registrado, ela é responsável pelas<br />
exposições que eles participam, então ela tá no meio, tá no mercado e tá muito feliz.<br />
Então são poucos casos de meninas que realmente se enquadram nessa área. [...]<br />
Mas a função dos projetos vai muito além de atender a comunidade ao redor da<br />
escola ou de fazer um trabalho social com a comunidade. Muito além!. Ele<br />
desenvolve nos alunos essa perspectiva de que eu posso sair do Tocantins’ <strong>–</strong> que é<br />
um estado novo, uma região menos desenvolvida <strong>–</strong> e ‘posso ir até o Rio Grande do<br />
Sul representando meu estado e conseguir uma boa classificação. Ou posso sair do<br />
meu país e ir pra um outro país muito mais desenvolvido representando meu país.<br />
Mesmo sendo do interior do Tocantins. Então eu não sou menos inteligente ou<br />
menos capacitado por ser do interior ou por ser filho de pequenos agricultores, de
118<br />
pequenos produtores rurais, dos assentamentos ou que veio da Ilha do Bananal por<br />
exemplo’. Ele tem a mesma capacidade, ele pode conseguir resultados<br />
surpreendentes. Pra ele mesmo, pra família, pra escola. 22<br />
Ainda falando a respeito da participação ativa dos educandos no processo de<br />
construção do seu próprio conhecimento, buscou-se junto aos alunos essa informação,<br />
notadamente serem eles os maiores interessados. Ao serem perguntados sobre as atividades<br />
escolares e a participação ativa deles, responderam da seguinte maneira:<br />
Tabela 12 - Opiniões dos alunos sobre sua participação nas decisões e nas diversas<br />
atividades extra-classe oferecidas pelas escola <strong>–</strong> Canuanã, 2009<br />
Itens N o de alunos Porcentagem<br />
Consideram importante a participação de todos os<br />
segmentos na elaboração do PPP<br />
157 84%<br />
Responderam que os alunos devem participar da<br />
construção do PPP<br />
145 77,5%<br />
Concordam que os conteúdos que são desenvolvidos na<br />
escola são apropriados às necessidades<br />
170 91%<br />
Concordam que os conteúdos são voltados para a zona<br />
rural<br />
138 73,8%<br />
Participam de eventos sobre educação 118 63%<br />
Participam das reuniões da escola 125 66,8%<br />
Realizam trabalho voluntário<br />
Responderam que a escola oferece atividades como<br />
161 86%<br />
teatro, dança e apresentações musicais fora do horário de<br />
aula<br />
139 74,3%<br />
Afirmaram que a escola inclui nas suas tarefas diárias<br />
atividades sobre agricultura<br />
162 86,6%<br />
Afirmaram que a escola inclui nas suas tarefas diárias<br />
atividades sobre pecuária<br />
175 99,5%<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Em meio a essas relações contraditórias, surge a pergunta: Canuanã possui uma prática<br />
voltada para o campo ou apenas leva para dentro do espaço do campo uma educação urbana?<br />
Seguramente, a Escola de Canuanã apresenta uma estrutura tecnológica que as escolas<br />
urbanas públicas <strong>–</strong> e muitas particulares <strong>–</strong> não possuem. É fato que em seu espaço de<br />
aprendizagem apresenta ao educando todas as facilidades do mundo urbano. Entretanto, o que<br />
se percebe é que essas tecnologias são utilizadas para a construção de um conhecimento que é<br />
próprio do campo. Os projetos desenvolvidos pela escola para serem encaminhados para<br />
22 A pessoa entrevistada se refere, nesse texto, aos alunos que foram participar de uma feira internacional de<br />
tecnologia, por terem desenvolvido uma pomada cicatrizante para bovinos a partir da mangabeira, árvore nativa<br />
da região.
concursos são voltados para o desenvolvimento da agricultura familiar.<br />
119<br />
A gente busca soluções que as grandes indústrias não estão preocupadas em<br />
resolver. A gente busca soluções alternativas, muito na área de fitoterápicos de baixo<br />
custo. Tecnologias que tenham um acesso maior pra pessoas com uma renda menor,<br />
com possibilidades financeiras menor. 23<br />
Pelo exposto se percebe que, tanto o discurso quanto a prática em Canuanã, apesar de<br />
apresentarem uma preocupação com uma educação para a cidadania, apresenta muito mais<br />
fortemente as características das Teorias Tradicionais.<br />
Com relação às práticas da EFA, pela sua própria natureza, a escola é tida apenas<br />
como mais um espaço onde o aluno pode desenvolver o aprendizado. Ainda que apresente<br />
uma estrutura administrativa que necessite ser gerenciada, a escola não é vista como uma<br />
empresa que necessita apresentar resultados eficientes e eficazes. A busca pela qualidade no<br />
ensino é sinônimo de oferecer à comunidade um tipo de educação inclusiva, dando ao<br />
educando o suporte para reconhecer-se como cidadão participativo inserido em um meio no<br />
qual ele é um elemento importante.<br />
As práticas da escola incluem a participação efetiva dos alunos, funcionários,<br />
professores, pais, representantes da comunidade, na construção do projeto político pedagógico<br />
da escola, na escolha dos conteúdos, nas decisões sobre investimentos. A EFA entende que<br />
formar um cidadão é dar condições para os alunos assumirem responsabilidades e oferecer<br />
“instrumentos para que ele busque o seu espaço no meio em que ele vive”, é fazê-lo “refletir<br />
sua condição de pessoa humana”. 24<br />
As atividades que acontecem diariamente na escola, segundo os professores,<br />
proporcionam isso aos educandos quando providencia para que as mesmas sejam coordenadas<br />
pelos próprios estudantes, na semana em que estão no internato.<br />
Outra maneira pela qual a escola busca a formação do cidadão pelo conceito acima<br />
descrito é trabalhando os conteúdos científicos, a partir do que na EFA se chama “temas<br />
geradores”. A ênfase não está apenas no campo do conhecimento científico, mas em todos os<br />
aspectos que envolvem a pessoa humana. Mostrar ao educando que ele pode se assumir como<br />
camponês em qualquer espaço onde ele estiver inserido. Os depoimentos concedidos pelos<br />
professores, em entrevista, explanam sobre como esse trabalho é realizado:<br />
23 Entrevista concedida em 11 de novembro de 2009<br />
24 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009<br />
Uma outra coisa dentro da formação integral é que a gente trabalha os aspectos,<br />
é...vários aspectos: filosóficos, humanos, éticos, artísticos, então você abrange um<br />
conjunto de aspectos que não está só no aspecto científico, que é o que a escola<br />
convencional ainda faz muito, trabalha muito o aspecto científico. E aqui a gente<br />
trabalha o científico, o espiritual, o humano, o filosófico, o artístico. Então você
120<br />
junta um conjunto de princípios que você trabalha com eles e a gente entende que<br />
trabalhando todos esses aspectos nós estamos trabalhando o aspecto do ser humano,<br />
da pessoa como um todo e não só o aspecto do conhecimento.<br />
Então se você pegar o sexto ano que é família, aí a gente trabalha, dentro da família<br />
o indivíduo <strong>–</strong> ele indivíduo dentro da família <strong>–</strong> a questão de gênero, a questão de<br />
sexualidade e afetividade, a questão da espiritualidade, a questão de saúde. Como é<br />
que ele vai trabalhar dentro da família, trabalhar todos esses aspectos que são os<br />
aspectos que se dão inicialmente na família. [...] Então, daí ele sai da família e vai<br />
pra comunidade. Que é o sétimo ano que daí tem como tema grande a Comunidade.<br />
Então vai discutir a escola da comunidade, a história da comunidade, a organização<br />
da comunidade, a política da comunidade. Então ele vai discutindo todos esses<br />
aspectos. E assim, é obrigação de todos os professores conseguir pegar o seu<br />
conteúdo e trabalhar a partir desse tema em cada turma. Trabalhar o próprio<br />
conhecimento a partir de um determinado tema.[...] A gente destrincha mais em<br />
função da questão humana [...] 25<br />
O contexto das relações contraditórias presentes na subjetividade do ser também pode<br />
ser percebido na EFA. Quando indagados sobre os desafios de ser professor em uma escola do<br />
campo, o que se ouviu foi:<br />
25 Ibid.<br />
É um dasafio.....Eu acho que pra ser professor de EFA você tem que acreditar muito<br />
no projeto. Porque quando a gente se dedica aqui a gente se dedica em todo, todo o<br />
ser, né? Não só trabalhar o conteúdo. Porque a gente só não vem trabalhar conteúdo<br />
e vai embora. Nós trabalhamos todos os aspectos do desenvolvimento integral.<br />
Então nós temos vários desafios: primeiro o nosso tempo, que a gente se dedica<br />
além do que é previsto em contrato, né? Além das 40 horas geralmente tem<br />
professor, nós temos que cumprir mais além disso. [...]Tem o desafio<br />
de....trabalhamos na faculdade, aprendemos de uma forma e aqui a gente vai tentar<br />
vivenciar um projeto novo, que é um projeto, uma proposta pedagógica diferente.<br />
[...] Nós temos o desafio do contato muito próximo dos estudantes e a gente acaba<br />
desempenhando o papel de às vezes de conselheiro, de psicólogo, de resolver<br />
problemas e eu vejo muito como um desafio, mas um desafio legal, porque ao<br />
mesmo tempo que eu contribuo com esse estudante eu contribuo muito mais pro<br />
meu desenvolvimento pessoal. Eu, por exemplo, tenho três anos de EFA e a primeira<br />
semana da cultura, que é um espaço que estão todos juntos, envolvendo várias<br />
atividades, eu fiquei maravilhada, que eu não acreditava que existisse um projeto<br />
desse, e existe, e eu faço parte e até a que ponto eu posso contribuir? Então eu<br />
acredito, eu [...], a dizer que eu me tornei um ser humano muito melhor [...] É<br />
desafio, é renúncia...Você tem que renunciar muitos outros fatores, porque por<br />
exemplo a gente trabalha em feriado. Nós não respeitamos nem um feriado do ano.<br />
E aí? É renuncia, nós renunciamos tempo com a família, nós renunciamos às vezes o<br />
espaço, né? Essa separação professor aluno, às vezes você tem que passar disso.<br />
Você tem que se aproximar do aluno, entendeu? Do problema dele, da família dele e<br />
contribuir pra melhora dele...[...] E ao mesmo tempo é confortável porque quando<br />
você vê aquele indivíduo que chegou de uma forma, não politizado, não sociável,<br />
aquele indivíduo que provocava muito tumulto e você vê ele sair daqui<br />
transformado, você vê ele saindo daqui defendendo uma causa comunitária, sair<br />
daqui uma pessoa totalmente diferente [...] Eu acho que...vale a pena. [...] Se você<br />
não tiver o mínimo de afinidade pelo campo...não agüenta, não consegue. [...]<br />
Precisa disso pra você entender. [...] Acho que o mais difícil é você sair daqui,<br />
porque a gente apega. [...] Eu não me vejo em outro espaço de escola. Apesar de<br />
hoje eu trabalhar, pelo fato de trabalhar com outro idioma, eu trabalho em outras<br />
escolas também da cidade. Mas pra mim o meu espaço é este. [...] Na minha visão<br />
eu acho que a EFA faz da gente uma pessoa diferente, melhor, e isso gratifica muito.<br />
Você trabalha muito mais [...] mas você recebe tanto que você sente que o que você
dá ainda é pouco diante do que você acaba recebendo. 26<br />
No que diz respeito à opinião dos alunos sobre as práticas da escola, com relação às<br />
atividades realizadas no período de aprendizagem com a família, o que se pode obter deles é<br />
apresentado pelos depoimentos colocados no questionário, como segue:<br />
121<br />
Da escola levamos um trabalho que se chama "Plano de Estudo" onde trata-se de um<br />
tema que será pesquisado na comunidade como uma pesquisa amadora para assim<br />
detectarmos eficiência e deficiências e como poderemos contribuir para melhoria. A<br />
participação efetiva em reuniões comunitárias<br />
Procuro responder os exercícios e tarefas de casa como plano de estudo,<br />
questionários educativos, relatórios e outros. Coloco em prática o aprendizado da<br />
semana. Tiro dúvidas acompanhando o plantio. Recolho amostras para serem<br />
analisadas na escola. Estudo algumas pragas e doenças já identificadas e procuro<br />
resoluções para as mesmas. Aperfeiçoamos as práticas rústicas com as aprendidas na<br />
escola. Estuda-se por meio de entrevistas, observações, sobre determinado tema<br />
elaborado na escola respondido com a comunidade (algumas pessoas). O plano de<br />
estudo é um dos itens da pedagogia, onde estudamos a realidade da comunidade,<br />
meio ambiente, o social. A parir destas respostas temos o conhecimento da ideia de<br />
pessoas sobre o meio ou a situação do espaço em que ocupamos. 27<br />
Com respeito às opiniões referentes à participação nas decisões e nas diversas<br />
atividades extra-classe oferecidas pela EFA, a opinião dos alunos pode ser verificada na<br />
Tabela 13.<br />
Tabela 13 - Opiniões dos alunos sobre sua participação nas decisões e nas diversas<br />
atividades extra-classe oferecidas pelas escola <strong>–</strong> EFA, 2009<br />
Itens N o Afirmam que comunidade, pais, professores, funcionários e alunos<br />
de alunos Porcentagem<br />
participam ativamente da construção da proposta político-pedagógica<br />
da escola<br />
66 81,5%<br />
Concordam que os conteúdos que são desenvolvidos na escola são<br />
apropriados às necessidades<br />
78 96,3%<br />
Concordam que os conteúdos são voltados para a zona rural 67 82,7%<br />
Responderam que a escola oferece atividades como teatro, dança e<br />
apresentações musicais fora do horário de aula<br />
50 61,7%<br />
Afirmaram que a escola desenvolve palestras sobre preservação do<br />
meio ambiente.<br />
71 87,6%<br />
Afirmaram que a escola inclui nas suas tarefas diárias atividades sobre<br />
agricultura<br />
73 90%<br />
Afirmaram que a escola inclui nas suas tarefas diárias atividades sobre<br />
pecuária<br />
63 77,8%<br />
Afirmaram que realizam trabalho voluntário 51 63%<br />
Buscam auxílio na escola para ampliar seu conhecimento<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
69 85,2%<br />
Vê-se que a relação discurso-prática vai muito além do que simplesmente analisar o<br />
26 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009<br />
27 depoimentos de estudantes da EFA escritos em questionário aplicado no dia 14 de dezembro de 2009
que se faz ou não se faz no cotidiano da escola. Essa relação torna-se muito mais complexa<br />
quando analisada à luz das teorias do currículo, em especial das que tratam do currículo<br />
oculto. Há que se levar em conta que educação não é meramente o transferir de<br />
conhecimentos, mas educação está presente em todos os aspectos que envolvem o ser<br />
humano.<br />
Nesse sentido, percebe-se claramente que a diferença marcante entre as duas escolas,<br />
objeto desse estudo, está na proposta de formação apresentada. Enquanto uma apresenta uma<br />
proposta tradicional, enfocando mais claramente as relações de mercado e profissionalização,<br />
a outra apresenta uma proposta pós-crítica, na qual propõe que o indivíduo se assuma como<br />
cidadão independentemente de cultura, raça e gênero, em qualquer local no qual esteja<br />
inserido.<br />
Mas, estão essas escolas colaborando para o desenvolvimento do campo no estado do<br />
Tocantins? Que tipo de desenvolvimento as escolas estão proporcionando por meio de suas<br />
ações e atuações? É isso que será discutido no capítulo a seguir.<br />
122
CAPÍTULO IV<br />
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO <strong>DO</strong> CAMPO NO ESTA<strong>DO</strong> <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>:<br />
UMA REALIDADE POSSÍVEL?<br />
4.1 A Educação no Campo e o processo de (re)construção da identidade camponesa<br />
A história mostra que a saída do homem do campo para viver na cidade fez com que,<br />
no processo de migração, esse homem perdesse partes materiais de sua identidade camponesa<br />
e assumisse uma “urbanidade incompleta” que não lhe é própria. Movimentos sociais se<br />
fizeram bastante atuantes na luta pela preservação do campesinato e no sentido de resgatar o<br />
modo de ser dessa classe tão esquecida, cujos discursos dominantes pregavam até mesmo a<br />
sua extinção. Movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra <strong>–</strong> MST, a<br />
Comissão Pastoral da Terra <strong>–</strong> CPT, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo<br />
<strong>–</strong> MEPES e outros se organizam para, através da educação (formal, não-formal e informal)<br />
esse modo de viver e de ser não caísse em desuso.<br />
No entendimento do MST e demais movimentos que defendem o mesmo ideal, o<br />
termo camponês não é apenas uma palavra para denominar um morador do campo, mas é<br />
carregado de sentimentos sociais, culturais, éticos e morais. O campesinato é mais que um<br />
simples setor da economia, uma forma de produção ou simplesmente um modo de vida e deve<br />
ser entendido como uma classe social com padrões de relações sociais próprios e distintos que<br />
é marcada fortemente pelas guerras do passado e pelas lutas contemporâneas pela posse da<br />
terra em várias regiões do mundo.<br />
Os movimentos sociais entendem que a escola é um dos lugares nos quais ocorrem o<br />
processo de (re)construção da identidade camponesa e por essa razão, a escola do campo<br />
necessita de uma pedagogia diferenciada. De forma que o MST, por conhecer o problema,<br />
adota uma pedagogia própria que, além de permitir a reconstrução da identidade camponesa,<br />
tem um objetivo bastante específico de continuidade do movimento. Outros movimentos,<br />
como a CPT e o MEPES, optaram pela adoção da Pedagogia da Alternância como a mais<br />
apropriada para fortalecer a identidade camponesa.<br />
Concordando que identidade é “o aspecto coletivo de um conjunto de características<br />
pelas quais algo é definitivamente reconhecível, ou conhecido” (FERREIRA, 1999) e que o<br />
123
conceito de camponês denota uma classe social cuja identidade precisa ser preservada, o que<br />
ora se propõe é fazer uma análise de como as escolas pesquisadas estão cumprindo essa<br />
função.<br />
Na busca pela (re)construção da identidade camponesa, movimentos sociais<br />
desenvolvem a educação dos campesinos por meio de uma proposta diferenciada. Para atingir<br />
o propósito a que se presta, a educação camponesa deve ter formas flexíveis de organização,<br />
os professores devem receber formação profissional adequada ao trabalho com camponeses,<br />
as especificidades dos alunos devem ser atendidas, bem como as exigências do meio.<br />
Também é necessário que se utilize uma pedagogia formadora de sujeitos críticos e<br />
autônomos, com a valorização dos saberes, espaços e tempos de aprendizagem e ter a escola<br />
como um lugar vinculado à realidade local. Esses aspectos, trabalhados conjuntamente,<br />
devem colaborar para a emancipação do ser, nesse caso o homem que vive no campo.<br />
Nesse contexto, tornam-se princípios fundamentais da educação camponesa a<br />
transformação social e valores como justiça social, democracia, solidariedade e valores<br />
humanistas. Além disso, a educação camponesa deve pautar-se na educação para para a lida<br />
no campo, desvinculando-se do modo de produção capitalista que prega uma educação para o<br />
mercado de trabalho. Deve sempre buscar a solução de problemas reais da comunidade, para<br />
garantir a permanência do homem do campo no campo, respeitando sua cultura e melhorando<br />
sua qualidade de vida.<br />
Uma educação emancipadora, voltada para as várias dimensões da pessoa humana, as<br />
quais envolvem concepções políticas, ideológicas, tradicionais, morais, culturais, estéticas<br />
afetivas e religiosas e que se constitui num processo permanente de (trans)formação dos<br />
camponeses preparando-os para relacionar-se com a modernidade sem perder suas principais<br />
características.<br />
O questionamento a que nos reportamos nesse ponto do trabalho é se as escolas<br />
pesquisadas estão colaborando para a (re)construção da identidade camponesa dos educandos<br />
ou se apenas apresentam conhecimentos científicos voltados apenas para o aperfeiçoamento<br />
técnico-profissional.<br />
A Escola de Canuanã tem sua organização determinada pelo Programa de Gestão<br />
Escolar, desenvolvido pela entidade mantenedora e segue um modelo tradicional, empresarial.<br />
Já a EFA possui uma proposta de gestão compartilhada e conta com a participação de todos os<br />
segmentos da comunidade <strong>–</strong> professores, alunos, pais e funcionários nas decisões sobre sua<br />
forma de atuação.<br />
124<br />
Para ser professor em Canuanã é necessário passar por uma fase de adaptações, uma
vez que os professores passam a morar na escola, que é internato e está situada na campo.<br />
Entretanto para esse professor, não é necessário passar por um processo de formação<br />
específico em educação camponesa no sentido da compreensão do conceito de camponês<br />
difundido pelos movimentos sociais. O conteúdo trabalhado em Canuanã trata o camponês<br />
apenas como um morador do campo.<br />
Na EFA, os professores passam por um processo de formação continuada,<br />
participando dos eventos promovidos pelas EFA’s e Casas Família Agrícolas <strong>–</strong> CFA’s <strong>–</strong> em<br />
nível regional e nacional, além de outras oportunidades para se discutir a educação no campo<br />
a partir do entendimento do campesinato e incentivar a luta pelos direitos de camponês. Isso<br />
fica claro no Projeto Político Pedagógico quando trata da formação continuada de seus<br />
profissionais<br />
125<br />
A formação inicial e continuada desses servidores, famílias, lideranças comunitárias,<br />
jovens estudantes e ex-estudantes, vem sendo feita de forma articulada a nível local,<br />
regional, nacional e internacional, por meio da Associação local da escola, da<br />
AEFACOT - Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Centro-Oeste e<br />
Tocantins, UNEFAB <strong>–</strong> União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil e<br />
AIMFR <strong>–</strong> Associação Internacional Maisons Familiares Rurales. São essas<br />
organizações que vêm garantindo os princípios da Pedagogia da Alternância nas<br />
Escolas Famílias Agrícolas. Há ainda as formações continuadas internas da Equipe<br />
Escolar e as oferecidas pela SEDUC (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA..., 2009,<br />
p.17)<br />
Com respeito ao atendimento das necessidades dos educandos, é possível afirmar que<br />
Canuanã atende em parte. Isso porque promove uma educação técnico-profissional voltada<br />
aos interesses dos alunos no sentido de apresentar conteúdos relacionados à vida no campo,<br />
buscando melhorar também as condições da família.<br />
Na escola, os alunos aprendem a lida do campo e podem aplicar os conhecimentos<br />
aprendidos nas propriedades rurais dos pais. Também muitos de seus projetos científicos<br />
buscam desenvolver tecnologias que possam ser utilizadas nas pequenas propriedades onde<br />
residem. Isso se comprova pela fala de um dos professores de Canuanã em entrevista, quando<br />
diz que “a grande maioria dos projetos [...] é pensando na sustentabilidade do campo. Ver<br />
métodos alternativos que não seja a tecnologia da escola e implantar isso na propriedade do<br />
pai dele”. Entretanto, esses projetos, apesar de sugeridos pelos alunos, não partem da<br />
propriedade ou na comunidade, e sim da escola. Além disso, desenvolve uma educação<br />
voltada à profissionalização para atuar em grandes fazendas e aos órgãos extensionistas, não<br />
voltadas ao desenvolvimento da propriedade. Vejamos o que disseram os professores em<br />
entrevista:<br />
A escola forma não só um bom técnico. Forma um grande profissional. [...] a ênfase<br />
não só é para a agricultura patronal, mas para órgãos de extensão. Por quê? Porque a
126<br />
estrutura das unidades de produção familiar na região dos pais, no caso, dos pais dos<br />
pais dos alunos não oferece condições. 28<br />
Situação diferenciada vive a EFA, na qual as ações pedagógicas desenvolvidas com<br />
base no Plano de Estudos, tem por princípio praticar uma educação que parte da busca por<br />
solução de um problema real vivenciado pela comunidade. Como declarou um professor em<br />
entrevista: “nós temos estudantes que falam ‘eu quero estudar isso, eu quero ver isso’,<br />
depende muito da região”. E ainda<br />
No geral, os meninos que estudam, aproveitam, participam desse projeto<br />
efetivamente, eles transformam a propriedade em que eles vivem [...] para melhor.<br />
[...] Aumenta a renda, busca desenvolver, evita degradar o próprio meio.[...] No<br />
geral a escola é muito bem vista na comunidade. Há um apego muito grande pela<br />
escola, pelo aprendizado da escola. Nós temos pais que buscam o conhecimento aqui<br />
na escola pra levar pra propriedade, pra desenvolver a propriedade. [...] Teve um<br />
caso de um aluno aqui da escola que ele não gosta de colocar a mão na massa, mas a<br />
gente se surpreendeu quando chegamos lá na propriedade dele. Era como se você<br />
tivesse chegado num modelo de EFA. Tudo o que ele aprende aqui, ele tenta levar<br />
pra lá. Ele é um cara politizado já, né, ele consegue convencer o pai que daquela<br />
forma é melhor e...embora ele não põe a mão na massa, ele coloca o pai<br />
dele...(risos). 29<br />
Com o intuito de entender a visão dos dois lados levantamos algumas questões sobre o<br />
grau de satisfação e de resposta à demanda do alunado das duas escolas<br />
Gráfico 7 - Conteúdo desenvolvido e suas apropriações reais<br />
<strong>–</strong> Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Como se observou, quando perguntado aos alunos das duas escolas se os conteúdos e<br />
os resultados do processo de aprendizagem atingiram seus objetivos pessoais, apesar de haver<br />
uma mínima diferença, no entendimento dos alunos, ambas escolas atendem às suas<br />
28 Entrevista concedia dia 11 de novembro de 2009<br />
29 Entrevista concedida dia 14 de dezembro de 2009
necessidades.<br />
No que se refere à criticidade e autonomia, bem como à valorização dos saberes,<br />
espaços e tempos de aprendizagem, podemos dizer que na EFA é bastante presente. Ali o<br />
aluno aprende na escola, em casa com a família e na comunidade. No período de tempo que<br />
os alunos passam em casa, existem tarefas que precisam ser cumpridas envolvendo a família e<br />
a comunidade. Também busca a formação do sujeito crítico e autônomo, mas com uma<br />
formação voltada ao campesinato, enquanto uma classe social que precisa fazer-se atuante e<br />
ouvida. A EFA procura formar um cidadão mais politizado, mais consciente de seu papel em<br />
defesa da vida no campo.<br />
127<br />
Formação integral se dá também pelo aprendizado que não se dá só aqui na escola.<br />
Ele aprende no tempo que ele está nas famílias e no tempo que ele tá na escola<br />
também. Então todas as ações que ele faz na família é aprendizado que deve ser<br />
trazido de volta pra escola, pra que a escola possa aprimorar isso e eles devolver<br />
como retorno de volta pras famílias. [...] Então daí ele sai da família e vai pra<br />
comunidade. [...]. Então vai discutir a escola da comunidade, a história da<br />
comunidade, a organização da comunidade, a política da comunidade. [...] e quando<br />
você vê aquele indivíduo que chegou de uma forma, não politizado, não sociável,<br />
aquele indivíduo que provocava muito tumulto e você vê ele sair daqui<br />
transformado, você vê ele saindo daqui defendendo uma causa comunitária, sair<br />
daqui uma pessoa totalmente diferente [...] Eu acho que...vale a pena. 30<br />
A Escola de Canuanã atua em regime de internato, no qual os alunos permanecem o<br />
ano todo e durante boa parte da sua vida, pois tem alunos que ingressam aos sete anos de<br />
idade e de lá só saem aos 17 ou 18 anos. O espaço e o tempo que os alunos conhecem para o<br />
aprendizado é o espaço e o tempo vivenciado na escola. Como já exposto anteriormente, a<br />
proposta pedagógica da escola é voltada para formar um cidadão “crítico” e autônomo, mas<br />
esse sujeito crítico e autônomo não precisa, necessariamente, estar voltado às necessidades da<br />
classe camponesa. Ele precisa, impreterivelmente, é do entendimento das tecnologias rurais e<br />
da dinâmica dos mercados de produtos e serviços, tornando-se assim um aprendizado mais<br />
individual e competitivo. A família e a comunidade são coadjuvantes no processo e não<br />
participantes ativos. Todo saber e todo conhecimento pode ser encontrados somente na escola.<br />
Apesar de ser uma escola fazenda e de ter atividades relacionadas à vida do campo, as<br />
instalações da Escola Canuanã são instalações que retratam uma agricultura latifundiária, não<br />
camponesa, totalmente voltada ao agronegócio, com tecnologias bastante avançadas. Muito<br />
diferente da realidade cotidiana dos familiares dos alunos que lá estudam, que em muitos<br />
lugares ainda nem dispõem de energia elétrica em sua propriedade. A escola não é o lugar<br />
onde são discutidos os problemas reais da comunidade ou os problemas das famílias, os quais<br />
30 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009
são tratados de forma generalizada. A escola é o lugar onde se busca conhecimento e<br />
tecnologia para poder atuar bem na sua profissão. Os próprios professores reconhecem essa<br />
distância entre a realidade do aluno e a escola quando dizem:<br />
128<br />
A função da escola é a educação do aluno. A escola de Canuanã é uma referência de<br />
educação, de tecnologia. A escola [...] em termos de tecnologia e em termos de<br />
estrutura ela é fora do padrão da região. Acredito que no máximo uma ou duas<br />
fazendas vão ter a mesma estrutura em toda a região. [...] Esse menino vem pra cá e<br />
aprende numa tecnologia que é fora da realidade dele, que ele não tem em casa.<br />
[...] 31<br />
De outra forma o modelo da Pedagogia da Alternância, objetiva introduzir a realidade<br />
das famílias para dentro da escola, onde é discutida a possibilidade de ser transformada pela<br />
atuação dos próprios educandos.<br />
A respeito dessa educação libertadora para autonomia trataremos logo mais, porém,<br />
adiantamos que educar para a emancipação do ser é cuidar do ser humano em todas as suas<br />
dimensões, a saber: político-ideológica, organizativa, técnico-profissional, caráter, moral,<br />
cultural, estética, afetiva e religiosa.<br />
Por essa razão, os princípios educacionais que buscam fazer com que o camponês<br />
tenha sua identidade preservada devem ser princípios que busquem a verdadeira igualdade<br />
entre os indivíduos. Justiça social, democracia, trabalho e cooperação, valores humanistas e<br />
demais dimensões da pessoa humana devem ser temas amplamente discutidos no ambiente<br />
escolar.<br />
Diante do exposto, podemos afirmar que, com respeito à (re)construção da identidade<br />
camponesa, a atuação da EFA se mostra mais eficaz, quando por sua vez busca a emancipação<br />
dos educandos que por ela passam. Uma valorização diferenciada da proposta do MST, que é<br />
mais enfática no sentido da permanência na terra e da consciência das lutas de classe, porém<br />
com uma consciência de identidade que estará presente na vida do aluno, onde quer que ele<br />
venha a atuar.<br />
O movimento que coordena as EFA’s no Brasil já não defende tão enfaticamente a<br />
permanência do homem no campo. Segundo os professores, esse discurso já foi transformado<br />
e o que as EFA’s pretendem, na atualidade, é proporcionar o reconhecer-se como camponês,<br />
mesmo quando o sujeito não permanece no campo. O que se procura fazer é que mesmo que<br />
esse aluno opte por não permanecer no campo, ele execute atividades por meio das quais ele<br />
possa defender os interesses da classe camponesa, no que diz respeito aos seus direitos. É<br />
defender a causa camponesa, mesmo não morando no campo. Isso pode ser verificado pelo<br />
31 Ibid.
trecho da entrevista com os professores da EFA:<br />
129<br />
Então a gente entende que quando a gente trabalha todos esses aspectos,<br />
incentivando ele a ver essa realidade e a pensar sua própria realidade, ele vai aos<br />
poucos se valorizando em cima do seu processo pessoal da realidade que ele vive. E<br />
aí.. aqui, assim, é muito forte pros alunos essa questão do valor pela vida do campo.<br />
[...] Eles trazem muitos traços do jovem da cidade. Eles têm essa mistura muito<br />
confusa mas, assim, o fato da gente trabalhar muito aqui na escola essa valorização<br />
cultura camponesa, do homem do campo, como pessoa em qualquer espaço que ele<br />
vivencia, vai ajudando um aspecto que é muito forte neles que é se aceitar como<br />
camponês e a se valorizar em qualquer ambiente e qualquer pessoa o trabalho feito<br />
ajuda eles, pelo menos, a se aceitar enquanto camponês. Então se um jovem nosso<br />
hoje sai daqui da EFA e vai pra universidade ele encontra o espaço dele lá como<br />
camponês, não mais que ele tenha que sair daqui da EFA que era um meio do campo<br />
e ir na Universidade e pronto, vou ter que voltar pro ritmo porque eu estou lá. Não,<br />
ele se assume como camponês lá dentro.[...] Nós temos vários jovens hoje,<br />
sobretudo aqui na Universidade Federal. O primeiro jovem nosso, que foi pra lá, pra<br />
Universidade, eu lembro que o primeiro texto dele na universidade, que ele fazia o<br />
curso de Letras, foi “o jovem do campo e a universidade”, foi o primeiro texto que<br />
ele produziu. Então ele fez todo um resgate do que é um jovem do campo dentro da<br />
Universidade [...] Onde quer que eles estejam eles acabam defendendo um pouco o<br />
aspecto do campo, trazendo um pouco pra dentro do espaço...Trabalham uma outra<br />
visão do campo. Não é mais aquela visão do homem do campo como atrasado, como<br />
Jeca Tatu que se pinta por aí há muito tempo[...] Eu acredito que a EFA ela traz um<br />
leque de informações, né, que abre a visão, dando oportunidade por estudante ter<br />
posição e decidir que ele quer da vida dele. Ele pode querer ser um agricultor<br />
familiar, ele pode ser um grande agricultor, ele pode ser, quer dizer, dificilmente,<br />
dificilmente ele vai estar sonhando com esse..., da forma como nós trabalhamos com<br />
esse grande, né? Mas na verdade, as informações nós não vamos é....como é que<br />
fala, é.... podar nenhuma, elas são abertas. Nós vamos falar tanto do grande, quanto<br />
do agricultor familiar, quanto do agronegócio. Aí é opção de vida. É eles lá na frente<br />
como técnico, como profissional, como.....é que ele vai decidir a vida dele. Ele vai<br />
buscar e vai correr o sonho dele. Ele é que vai definir o sonho dele. 32<br />
Talvez essa mudança de pensamento esteja trazendo à tona as raízes pedagógicas das<br />
EFA’s, pautadas num pensamento contrário ao tradicionalismo, mas que, entretanto, não se<br />
desvincula do pensamento liberal voltado para a individualidade e competitividade.<br />
Ajudar a (re)construir e preservar aspectos sociais, culturais, éticos e morais de uma<br />
classe social, com padrões próprios e distintos, que foi histórica e deliberadamente deixada à<br />
margem de um sistema é algo bastante complexo, em especial em um mundo onde as relações<br />
de produção capitalistas se renovam sempre a seu favor. Justamente por sua complexidade é<br />
preciso que as escolas do campo repensem sua forma de atuar e busquem, por meio de uma<br />
prática pedagógica adequada, trazer de volta àqueles que vivem do campo a sua história, a sua<br />
importância e o seu orgulho. Permitir o acesso ao conhecimento científico, às tecnologias<br />
sem, entretanto, deixar de atender suas necessidades e especificidades no que concerne ao seu<br />
modo de ser e de produzir e de reproduzir.<br />
32 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009
4.2 Educação e caráter social do trabalho camponês<br />
O viver no campo é um viver voltado para a natureza, não somente para a paisagem,<br />
mas para as forças que compõem a própria natureza do homem. Ao utilizar sua força física e<br />
intelectual para modificar aspectos naturais e torná-los úteis para sua vida, o homem<br />
desenvolve sua capacidade criativa e a aprimora seus conhecimentos e, nesse sentido, o<br />
trabalho deixa de ser apenas uma função de produção e passa a ser uma alternativa que faz do<br />
homem aquilo que ele quer ser e pelo qual se realiza.<br />
No imaginário camponês, terra, família e trabalho norteiam o seu modo de ser, sua<br />
vida e sua moral. Para o camponês, a terra é terra de trabalho e não terra de negócio, pois a<br />
propriedade/posse da terra, por meio do trabalho autônomo, garante o sustento da família.<br />
É exatamente pelo valor dado ao trabalho que o camponês não explora o trabalho de<br />
outrem para produzir e nem vê o trabalho da família apenas como mão de obra, mas como a<br />
garantia da manutenção de sua vida e manutenção de suas tradições, as festas, aos dias santos,<br />
etc.<br />
O trabalho do camponês produz para seu próprio sustento, vendendo o excedente para<br />
comprar mercadorias que não consegue produzir, mas necessita para sobreviver, mantendo<br />
uma lógica contrária ao capital (que transforma dinheiro em mercadoria para ganhar mais<br />
dinheiro). Na lógica camponesa, o trabalho tem valor de uso e não valor de troca, no qual<br />
cada membro da família trabalha para suprir uma necessidade de todo o grupo e assim, de<br />
forma coletiva e cooperativa, o trabalho de todos garante a sua (re)produção.<br />
Dessa característica do trabalho familiar, coletivo e cooperativo, nascem outras<br />
relações de trabalho que contribuem e sustentam o modo de produção do campesinato.<br />
Oliveira (1997) apresenta algumas dessas relações, a saber, o trabalho assalariado, a ajuda<br />
mútua e a parceira.<br />
130<br />
É pois derivado dessa característica que a família abre a possibilidade da<br />
combinação muitas vezes articulada de outras relações de trabalho no seio da<br />
unidade camponesa. É assim que trabalho assalariado, ajuda mútua e parceria<br />
aparecem como relações que garantem a complexidade das relações na produção<br />
camponesa. Porém, essa complexidade de relações estabelecidas é primeiro e<br />
fundamentalmente, articulada a partir da família (OLIVEIRA, 1997, p. 56).<br />
Nota-se que podem existir relações de trabalho assalariado numa unidade de produção<br />
camponesa. Isso acontece porque, conforme a época do ciclo agrícola, não há membros na<br />
família que sejam suficientes para realizar o trabalho com a urgência que o mesmo exige.
Contrata-se, então, o trabalhador temporário, que Oliveira (1997), chama de trabalho<br />
acessório, cujas relações não são relações capitalistas, pois os trabalhadores assalariados não<br />
são necessariamente desprovidos de terras, mas que está em tempo ocioso na sua propriedade<br />
ou de seus pais. Ainda é preciso ressaltar que, ao contratar um trabalhador temporário, o<br />
camponês destinará o resultado financeiro obtido por aquela força de trabalho ao consumo das<br />
necessidades de sua família, e não ao lucro.<br />
Mas o trabalho assalariado não é a única maneira pela qual o camponês supre a sua<br />
necessidade extra de mão de obra. A família camponesa pode lançar mão da ajuda mútua. Ela<br />
pode aparecer tanto na forma de mutirão como pela troca de dias trabalhados. As duas são<br />
práticas muito comuns entre camponeses de uma mesma região. Na época da colheita, os<br />
camponeses se juntam e colhem em rodízio de propriedades, garantindo assim mão de obra<br />
satisfatória para que nenhuma colheita seja prejudicada. Todos se ajudam sem a necessidade<br />
de desembolso financeiro.<br />
A parceria se dá quando o camponês contrata um parceiro e divide com ele custos e<br />
ganhos para suprir a necessidade de capital que poderia levar ambos a não produzir. Nesse<br />
caso, também não existe desembolso financeiro para pagar a mão de obra, mas o trabalho é<br />
remunerado pelo resultado da colheita, que é divido entre ambos.<br />
Ao se falar em caráter social do trabalho camponês, não poderíamos deixar de falar<br />
sobre o trabalho das crianças. Em uma unidade de produção camponesa não se pode encarar o<br />
trabalho de uma criança como uma forma de exploração do trabalho infantil, mas como uma<br />
forma de garantir a (re)produção camponesa. A grafia é mesmo (re)produção, porque não<br />
apenas estamos falando de manter a produção pela força do trabalho familiar, mas porque é<br />
por meio dessa iniciação precoce nas atividades laborais que o camponês pode continuar a<br />
existir como classe. Iniciar as crianças no trabalho do campo é condição social para a<br />
sobrevivência do campesinato e a permanência do homem no campo. Isso não significa,<br />
entretanto, ceifar a infância ou não permitir que as atividades próprias de criança aconteçam.<br />
As crianças vão para a escola, brincam, se divertem, entretanto, cada uma delas já tem sua<br />
atividade que auxilia no trabalho diário. A exemplo o MST criou a figura do “Sem-terrinha”,<br />
ou seja, uma maneira de incluir as crianças para a continuidade da luta pela Reforma Agrária.<br />
Outra característica peculiar do trabalho camponês diz respeito à jornada de trabalho.<br />
Sendo a natureza da produção camponesa sazonal, o horário de trabalho do camponês não<br />
possui características rígidas, alternando períodos nos quais se exige trabalhar de sol a sol,<br />
respeitando apenas os dias santos, com outros nos quais há ociosidade. Essa ociosidade<br />
sazonal permite ao camponês ofertar mão de obra assalariada em outra unidade produtiva ou<br />
131
dedicar-se à realização de trabalhos artesanais para complementar sua renda.<br />
No campo, o resultado do trabalho não é desvinculado de quem o realiza, mas o<br />
trabalhador é dono do resultado de seu trabalho. Desse modo, uma educação do campo que<br />
pretende fortificar a relação trabalho/camponês deve concebê-la como uma educação pelo<br />
trabalho social, ou seja, é essa forma de trabalho que educa o camponês no seu pensar, sentir e<br />
agir diferente do capitalista.<br />
É fato que, para melhorar sua capacidade de produção e, consequentemente sua<br />
qualidade de vida, os camponeses precisam desenvolver suas competências, habilidades e<br />
conhecimentos técnicos. Mas uma educação pautada somente em capacitações e treinamentos<br />
acaba por transformar o trabalho camponês em força produtiva para o capital.<br />
A concepção de educação para o trabalho, voltada às necessidades do camponês, deve<br />
também priorizar o trabalho intelectual e não somente o trabalho manual.<br />
O camponês não tem necessidade apenas de aprender novas técnicas para melhorar sua<br />
produção, mas tem também necessidade de aprender como essa característica de trabalho<br />
familiar, coletivo e cooperativo pode ser gerido de forma a melhorar a qualidade de vida dos<br />
camponeses. Assim, incentivar o trabalho intelectual é desenvolver lideranças em prol da<br />
continuidade do campesinato, de sua cultura e de seus valores.<br />
Por todas as razões já discutidas anteriormente, podemos afirmar mais uma vez que a<br />
Escola de Canuanã de Formoso do Araguaia não apresenta uma educação voltada ao<br />
campesinato, mas sim ao capitalismo no campo. Incentiva claramente as relações de trabalho<br />
assalariado, com valor de troca e não com valor de uso.<br />
A partir da década de 1990 a Escola de Canuanã começa a aceitar os filhos de<br />
assentados provenientes da Ilha do Bananal e inicia atividades de formação junto às famílias<br />
dos assentados através dos projetos de Formação Inicial e Continuada <strong>–</strong> FIC. A FIC oferece<br />
cursos de curta duração, geralmente com quarenta horas de acordo com a demanda da<br />
comunidade, nos quais são repassadas técnicas de industrialização dos produtos pecuários,<br />
tais como embutidos de carne e/ derivados de leite, como uma forma de diversificação da<br />
produção camponesa e do trabalho autônomo. Embora sejam cursos de capacitação técnica e<br />
voltados à industrialização dos produtos do campo, auxiliam o pequeno produtor, nos<br />
momentos ociosos da produção agropecuária, a ter uma fonte de renda alternativa na própria<br />
propriedade e que pode ser realizada pela ajuda mútua ou mesmo pela parceria.<br />
Nos projetos de FIC, bem como em outros realizados pela escola, há um incentivo<br />
muito grande para que os assentados da região, que hoje dão preferência pela atividade de<br />
pecuária de corte, muito tradicional na região, diversifiquem sua produção não só pecuária<br />
132
mas também agrícola, incentivando formas de culturas variadas que venham suprir as<br />
necessidades alimentares do camponês. Vejamos o que obtivemos em entrevista:<br />
133<br />
A gente percebe um movimento muito forte no sentido de organização da casa, no<br />
sentido de melhoria de pastagem de gado, no sentido de produção de leite....isso a<br />
gente tem percebido. Tem um assentado que vendeu todo o gado branco dele, ele<br />
não tem mais nem uma cabeça de gado Nelore. Ele só tem gado de leite agora. E o<br />
gado Nelore, como que eles trabalhavam? que é uma coisa bem inusitada aqui da<br />
região [...] Eles tem lá suas vinte vaquinhas de gado de corte. Então eles ficam<br />
rezando pra aquela vaca enxertar. Quando a vaca enxerta ele já vende para as<br />
pessoas aqui de volta o bezerro por R$ 150,00. A vaca nem pariu ainda, mas o<br />
bezerro já está vendido. Então ele pega aquele R$ 150,00 e vai comprar arroz, vai<br />
comprar feijão para viver. Só que a vaca quando pari, ela pode parir uma fêmea e ele<br />
tem entregar um macho. Aí ele vai ter que pegar um macho em outro lugar e vai ter<br />
que entregar esse bezerro pro rapaz que comprou com 7 meses de desmamando.<br />
Então quem comprou o bezerro a R$ 150,00 há 10 meses atrás vai pegar e vai<br />
vender por R$ 450,00 de imediato. Ganhou R$ 300,00 sem fazer nada. Então eu falo<br />
pra eles que esse é o modo mais é......absurdo de escravidão. [...] É um ciclo vicioso<br />
que vocês tem que quebrar. E acho que o leite entrou nisso pra quebrar. Então<br />
aqueles R$ 150,00 que ele precisava pra comprar comida ele tira do leite. 33<br />
Na EFA, a própria razão da sua existência é uma afirmação do comprometimento com<br />
uma educação para o campesinato. Ao respeitar o espaço de trabalho enquanto um espaço<br />
formativo reforça o sentimento do trabalho como um valor de uso.<br />
Entretanto, de acordo com a entrevista realizada com os professores da unidade de<br />
Porto Nacional, nos foi apresentada a mudança de natureza da proposta educacional das<br />
EFA’s em nível nacional, que antes era de lutar pela permanência no campo, ao longo dos<br />
anos tem se modificado, dando-nos a impressão de que há uma certa acomodação diante da<br />
situação que o capitalismo, por meio do agronegócio, está impondo ao campo.<br />
Repensar esse nosso discurso que é um discurso muito ousado pra gente tentar tá<br />
divulgando tá fazendo tanta ênfase por aí. Então o que que a gente acredita hoje: que<br />
a gente trabalha numa proposta específica pra campo, na condição de que seja no<br />
campo, seja na cidade o jovem tenha uma vida qualificada, não é? Se for no campo,<br />
melhor ainda, que o sonho nosso é investir na qualidade de vida no campo. Mas, o<br />
que nós acreditamos hoje é assim: se o jovem sair daqui dessa escola, e trabalhou,<br />
passou por todo esse processo nessa visão, onde quer que ele atua ele vai atuar de<br />
forma qualificada [...] Hoje a gente discute muito isso sim, trabalhar e incentivar o<br />
jovem pra investir na formação dele pra que ele possa oferecer qualidade de vida<br />
onde ele estiver. Seja no campo seja na cidade, que seja uma vida qualificada. 34<br />
Assim, podemos perceber que mudanças estão acontecendo e está surgindo um novo<br />
modelo de produção no campo, no qual campesinato e capitalismo vivem uma relação<br />
contraditória de coexistência. Por essa razão, devemos refletir se o discurso escolar sobre<br />
autonomia e emancipação, um dos princípios que reforçam a identidade camponesa e que por<br />
sua vez relacionam-se diretamente com o valor do trabalho no campo, são realidade ou apenas<br />
33 Entrevista concedida em 12 de novembro de 2009<br />
34 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009
um discurso do capitalismo agrário para sujeitar a si o trabalho camponês.<br />
4.3 Educação e autonomia no campo: utopia ou realidade?<br />
Proporcionar uma educação voltada para a autonomia do ser é objetivo presente nas<br />
duas escolas pesquisadas. Retratamos isso no Capítulo III, quando analisamos as propostas<br />
pedagógicas das mesmas.<br />
Interessante é notar que, as escolas pesquisadas, teoricamente, deveriam apresentar<br />
propostas diferentes para o conceito de autonomia, haja vista que apresentam propostas<br />
diferenciadas de educação, mas percebemos que as duas se fundamentam no pensamento de<br />
Paulo Freire para nortear suas ações.<br />
Na busca de uma resposta para essa intrigante semelhança, encontramos no texto de<br />
Ribeiro (2009), um estudo teórico sobre liberdade, autonomia e emancipação nos<br />
pensamentos pedagógicos que fundamentam os modelos de educação no campo que vem se<br />
firmando no Brasil e, conseqüentemente no estado do Tocantins.<br />
Ribeiro (2009), destaca que os movimentos sociais que desenvolvem programas de<br />
educação no campo (MST, EFA’s, CFA’s, entre outros) fundamentam suas ações pedagógicas<br />
em duas vertentes teóricas que são bastante diferentes.<br />
Em seus estudos verificou que a vertente teórica que fundamenta a ação pedagógica<br />
das EFA’s e CFA’s é liberal, tendo como principais representantes Dewey (Escola Nova) e<br />
Piaget (construtivismo). Já a proposta do MST e Via Campesina fundamentam sua ação<br />
pedagógica no modelo de educação socialista Russo, dos quais se destacam os pensadores<br />
Pistrak, Makarenko e Krupskaya. Entretanto, apesar de terem raízes epistemológicas<br />
diferenciadas, possuem um ponto em comum, que é a pedagogia freireana. (RIBEIRO, 2009)<br />
Trabalhando com a alfabetização de adultos, Freire idealizou e sistematizou uma<br />
forma de educar o jovem e o adulto, na qual pretendia tornar o aluno capaz de mudar a sua<br />
realidade. Em seu pensamento, a educação deve buscar a libertação, fazendo com que as<br />
pessoas sejam sujeitos de sua história e do seu conhecimento. A educação dever permitir ao<br />
indivíduo uma leitura crítica de sua realidade para poder agir sobre ela e transformá-la. Outra<br />
questão defendida por Freire é o fato de que a escola não deve ser reprodutora das<br />
desigualdades sociais, que ensina a dependência e a passividade, mas sim deve incentivar a<br />
autonomia e a emancipação humana.<br />
134
135<br />
O caráter emancipante da pedagogia freireana destaca-se principalmente em três<br />
pontos: a) na perspectiva epistemológica, que rompe com a tradição filosófica e<br />
pedagógica autoritária importada, encaminhando-se à formulação de um pensamento<br />
educacional brasileiro autônomo; b) na educação popular como projeto de classe,<br />
que se amplia para abarcar, além dos pobres, todos os seres humanos que, de algum<br />
modo, vivenciam situações de opressão e discriminação <strong>–</strong> as quais ultrapassam as<br />
relações sociais de produção <strong>–</strong>, como as mulheres, os negros, os índios, os<br />
migrantes, os meninos de rua; c) na ação política em que o exercício da liberdade<br />
nos leva à necessidade de optar e esta à impossibilidade de ser neutros. (RIBEIRO,<br />
2009, p. 434).<br />
Ao defender uma educação que busca fazer do sujeito um ser capaz de reconhecer,<br />
criticar e modificar a própria realidade de opressão na qual se encontra, que busca não tolerar<br />
qualquer tipo de discriminação social e despertar uma consciência política e de classe que<br />
tiram o indivíduo da sua neutralidade, a pedagogia freireana mostra-se capaz de atender aos<br />
anseios dos movimentos sociais do campo.<br />
De acordo com o pensamento de Freire, uma educação que busque a autonomia do ser<br />
precisa seguir alguns princípios, dentre os quais se destacam: o respeito aos saberes dos<br />
educandos, criticidade, ética e estética, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma<br />
de discriminação, reconhecimento e assunção da identidade cultural, humildade, tolerância e<br />
luta em defesa de seus direitos, curiosidade e a convicção de que a mudança é possível.<br />
Com base nessa concepção de autonomia, podemos afirmar que nenhum tipo de<br />
conhecimento pode ser negligenciado na educação camponesa. É preciso que se apresente ao<br />
educando todas as possibilidades, dando a ele o direito de escolha, mas uma escolha crítica,<br />
que não despreze sua identidade.<br />
Nesse sentido, a escola deve proporcionar uma educação que busque trabalhar todos<br />
os aspectos do ser humano, uma educação holística, que desenvolva o ser em todas as suas<br />
dimensões: político-ideológica, organizativa, técnico-profissional, caráter, moral, cultural,<br />
estética, afetiva e religiosa.<br />
Por meio do questionário, buscamos obter dos alunos alguns aspectos dessa educação<br />
integral do ser, em especial no que diz respeito à participação de todos os atores envolvidos<br />
no processo educacional, nas decisões da escola, aos tipos de atividades que a escola<br />
proporciona aos seus alunos além da educação formal dos conhecimentos científicos.<br />
Pela análise dos projetos pedagógicos já descritos e comentados no Capítulo III, e pela<br />
análise qualitativa do discurso relacionado com a prática observada, foi possível identificar o<br />
desenvolvimento de projetos e atividades da escola que procuram desenvolver essas<br />
dimensões.<br />
Assim sendo, foi possível observar que as duas escolas realizam atividades que
uscam desenvolver os aspectos relacionados ao caráter, à moral, à afetividade, à sexualidade,<br />
à liberdade religiosa. No tocante às expressões culturais, esportivas e de lazer, verificou-se<br />
que as duas escolas desenvolvem atividades relacionadas à música, dança e atividades<br />
esportivas.<br />
No entanto, é preciso retomar o significado de educar para a autonomia e<br />
emancipação. No contexto do campo, a autonomia relaciona-se com o exercício do trabalho<br />
camponês, que deve ser autônomo livre de qualquer forma de alienação. Assim, não basta<br />
oferecer atividades que desenvolvam todas as dimensões do ser. É preciso que se faça também<br />
uma análise de como essas formas de expressão estão colaborando para promover, ou não, o<br />
trabalho autônomo. Quando a escola oferece aulas de inglês, de dança, de teatro ou outra<br />
atividade qualquer, é preciso que se indague quais intenções acompanham essas atividades. Se<br />
buscam transformar o camponês em trabalhador assalariado, não estão promovendo a<br />
autonomia e a emancipação, mas sim a alienação do camponês e sua inclusão no mercado de<br />
trabalho.<br />
Sendo assim, observamos que a EFA apresenta uma proposta mais próxima do<br />
pensamento autônomo de autonomia de Paulo Freire quando diz que, como escola, não nega<br />
nenhum tipo de conhecimento ao educando. Mas que, por sua natureza de escola do campo,<br />
suas ações também reforçam a cultura camponesa como uma forma de preservar a identidade<br />
e a classe camponesa, lutando sempre pelos seus direitos, em especial no que se refere<br />
trabalho camponês. Vejamos o que afirmam os professores da EFA<br />
136<br />
Uma outra coisa dentro da formação integral é que a gente trabalha os aspectos,<br />
é...vários aspectos: filosóficos, humanos, éticos, artísticos, então você abrange um<br />
conjunto de aspectos que não está só no aspecto científico, que é o que a escola<br />
convencional ainda faz muito, trabalha muito o aspecto científico. E aqui a gente<br />
trabalha o científico, o espiritual, o humano, o filosófico, o artístico. Então você<br />
junta um conjunto de princípios que você trabalha com eles e a gente entende que<br />
trabalhando todos esses aspectos nós estamos trabalhando o aspecto do ser humano,<br />
da pessoa como um todo e não só o aspecto do conhecimento. 35<br />
Ao proporcionar uma educação que envolve nas suas práticas todas as partes<br />
interessadas no processo, a EFA procura mostrar que quando uma classe se organiza e luta<br />
pelos seus direitos, mesmo tendo que conviver <strong>–</strong> e em alguns momentos se sujeitar <strong>–</strong> com o<br />
capital, pode conquistar benefícios coletivos e melhorar a qualidade de vida de todos.<br />
Para a EFA, a autonomia não é uma utopia, mas uma realidade vivenciada a cada dia<br />
de trabalho seja na escola, na comunidade ou na família. Também presenciamos uma<br />
educação para a autonomia nas escolas do campo do município de Palmas, que vivenciam<br />
35 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009
hoje uma educação de tempo integral, com conteúdos voltados ao atendimento das<br />
necessidades dos educandos. Mas, quanto às outras escolas no campo do estado não se tem<br />
clareza sobre quais tipos de políticas públicas o governo está, efetivamente, desenvolvendo<br />
para que a autonomia do campo no Tocantins não seja apenas um sonho impossível de ser<br />
realizado?<br />
Seguidamente, nas entrevistas realizadas ouvimos os docentes, discentes e<br />
comunidade afirmando que o que falta no campo são políticas públicas voltadas para a<br />
preservação da agricultura camponesa<br />
Então reforçamos, aqui, o fato de que o discurso do Plano Estadual de Educação<br />
proporciona o desenvolvimento dessa autonomia do campo, porém, enquanto estiver somente<br />
no papel, o campo estará reproduzindo uma educação urbanizada, em condições precárias e<br />
sem interesse para os educandos.<br />
Enquanto os governos municipais e estaduais acreditarem que o transporte escolar<br />
resolve o problema da precariedade da educação no campo e, enquanto as escolas no campo<br />
estiverem se prestando apenas a reproduzir uma educação urbana, se nunca houver vontade<br />
política que promova a autonomia nessas escolas, transformando-as em espaços de discussão<br />
permanente sobre a conscientização do homem do campo como pertencente a uma classe<br />
social, que constrói historicamente seu próprio futuro, sua realidade e, subjetivamente, na luta<br />
cotidiana, sua utopia, a educação nunca será “do campo”.<br />
O tipo de educação que promove o desenvolvimento do campo não pode fundamentar-<br />
se numa educação que transforme o camponês em proletário ou em escravos temporários, mas<br />
que, mantendo sua identidade e autonomia, desenvolva o campo mantendo sua diversidade,<br />
tradições e contradições.<br />
4.4 As escolas e sua contribuição para o desenvolvimento do campo no Estado do<br />
Tocantins<br />
Para falar em desenvolvimento do campo é preciso, antes de qualquer coisa, esclarecer<br />
sobre que tipo de desenvolvimento falamos. Por outro lado, para entender que tipo de<br />
desenvolvimento queremos, é preciso esclarecer o que entendemos como não<br />
desenvolvimento.<br />
137<br />
Não entendemos desenvolvimento apenas o crescimento como econômico, adquirido
apenas pelo aumento da produção e do valor financeiro da produção que resultaria apenas<br />
como acumulação de riquezas<br />
Entendemos desenvolvimento “como um processo complexo de mudanças e<br />
transformações de ordem econômica, política e principalmente humana e social”.<br />
(OLIVEIRA, 2002, p. 40).<br />
Concordando com o conceito acima, o desenvolvimento para o campo, no estado do<br />
Tocantins, trata da discussão conceitual baseada em autores que não possuem a visão fechada<br />
da Economia e sim naqueles que entendem uma ideia mais socialista de desenvolvimento,<br />
especialmente quando se trata de desenvolvimento do campo.<br />
Historicamente, o desenvolvimento do campo brasileiro foi pensado apenas como<br />
crescimento econômico e as políticas públicas desenvolvimentistas apenas contribuíram para<br />
aumentar as desigualdades sociais e promover a expulsão do homem do campo. Um modelo<br />
de desenvolvimento no qual o homem se torna algoz de seu igual. Esse modelo de<br />
desenvolvimento, que privilegia a agricultura capitalista em detrimento do trabalho camponês,<br />
somente contribuiu para a miséria e lutas no campo.<br />
Sobre o modelo de desenvolvimento pautado no crescimento das riquezas, afirmamos<br />
que se torna sem sentido discutí-lo neste trabalho, pois apenas contribui para a concentração<br />
da riqueza nas mãos de poucos promovendo uma espécie de chaga da violência do campo,<br />
colocando trabalhadores sem terra a enfrentarem a injustiça dos latifundiários capitaneados<br />
pelo agronegócio e apoiado pelo Estado.<br />
O desenvolvimento que queremos discutir para o campo tocantinense é aquele que<br />
permite ao camponês ter a posse da terra, terra de trabalho e não terra de negócio; permite ao<br />
camponês ter autonomia sobre seu trabalho e alcançar a emancipação pelo autossustento é<br />
aquele que permite ao camponês ter orgulho de sua identidade cultural, sem que para isso abra<br />
mão dos múltiplos conhecimentos que a tecnologia pode proporcionar. Um desenvolvimento<br />
que proporcione ao camponês ser historicamente o que sempre foi sem abrir mão das suas<br />
tradições, inclusive tradições de uma classe revolucionária, que nasce e renasce na luta pela<br />
reforma agrária em todas as regiões do mundo. Ser ouvido e atendido em todas as<br />
necessidades, em especial no que se refere ao respeito à terra e aos recursos naturais que a<br />
terra pertencem.<br />
Não temos dúvidas em afirmar que esse tipo de desenvolvimento somente poderá ser<br />
alcançado por meio da educação, mas não de qualquer educação, falamos aqui de uma<br />
educação que proporcione ao educando todos os aspectos discutidos até esse ponto de nosso<br />
trabalho. Desenvolvimento da cidadania, preservação da identidade camponesa, respeito ao<br />
138
valor do trabalho social e promoção da autonomia são questões determinantes no<br />
estabelecimento de uma educação para o desenvolvimento.<br />
A escola do campo não pode se eximir de seu papel de agente promotor de<br />
desenvolvimento. Perde a razão de sua existência uma escola que desenvolva um trabalho<br />
meramente reprodutor da educação urbana, classificadora, discriminatória e desvinculada da<br />
realidade do camponês.<br />
Uma escola voltada aos interesses do campo deve se fazer presente na comunidade e<br />
permitir que a comunidade dela se beneficie. Deve promover mudanças na vida da<br />
comunidade. Mas não somente mudanças tecnológicas, “adestradoras” de mão de obra. Deve<br />
promover mudanças que promova melhoria nas condições de saúde, de trabalho, de moradia,<br />
enfim, de qualidade de vida.<br />
Sem desviar o olhar do objetivo primeiro desse trabalho, procuramos mostrar a<br />
atuação das escolas naqueles pontos que contribuem diretamente para que o campo tenha um<br />
desenvolvimento no qual o ser humano não deve descartado.<br />
Com base nos depoimentos das entrevistas e nas respostas dos questionários, podemos<br />
afirmar que as escolas pesquisadas estão contribuindo para o desenvolvimento do campo,<br />
ainda que por vieses diferentes. Na Escola de Canuanã, algumas atividades e projetos<br />
específicos são desenvolvidos junto à comunidade tem contribuído para uma melhoria na<br />
qualidade de vida dos moradores dessa comunidade, conforme observamos pelo conteúdo da<br />
entrevista realizada:<br />
139<br />
Esse ano tem um aluno que me procurou que quer comprar alguns suínos, que ele<br />
quer iniciar uma criação de suínos na casa do pai dele. Então isso é legal. Já<br />
mandamos pra São Paulo a proposta pra fazer a venda pra ele, que eu acho que é<br />
uma coisa que a gente tem que estimular. É....o professor Rubiam esse ano<br />
desenvolveu um projeto muito interessante que foi da.....da mini empresa. Onde eles<br />
produziram no primeiro semestre produtos de carne, então tipo embutidos, é... o<br />
hambúrguer e puderam vender dentro da comunidade da escola. Então por exemplo<br />
eles produziram 10 quilos de hambúrguer. Cada 10 quilos de hambúrguer, pra pagar<br />
a matéria prima que eles usaram que é da escola eles tinha que dar dois quilos pra<br />
escola. Os outros quilos eles poderiam vender para a comunidade. Então isso mexeu<br />
muito com eles [...] Então tem alunos falando: a gente vai dar continuidade disso lá<br />
fora. [...] Isso fez o que? Fez eles entenderem que é possível, que eles podem fazer<br />
algo diferente. [...]. O médico nosso, o Cícero, ele tem um projeto que chama GSR <strong>–</strong><br />
Grupo de Saúde Rural que ele pega um grupo de 30 alunos todo o final de semana,<br />
voluntários, tanto eles como os alunos a cada 15 dias e vão nos assentamentos. No<br />
assentamento o que que eles fazem? Eles ensinam a fazer uma horta, uma horta<br />
medicinal, [....] eles vêem a qualidade da água...um monte de atividades que vem ao<br />
encontro das necessidades deles. E esse foi o quarto ano consecutivo que tem um<br />
pessoal da USP que vem junto, de Harvard, passa janeiro aqui desenvolvendo<br />
tecnologias simples para colocar em prática nos assentamentos. Também houve a<br />
criação do leite aqui no assentamento. Eu acho que foi um pouco da pressão da<br />
escola com a comunidade política e com os próprios alunos. Então no ano passado<br />
foi implantado dentro do assentamento um tanque de produção de leite [...] e eles já<br />
estão vendendo leite pra esse pessoal hoje. Então quer dizer, pessoas que não tinham
140<br />
R$ 10,00 de renda hoje já tem R$ 150,00, R$ 200,00 por mês de venda de leite com<br />
uma ou duas vaquinha lá que ele tira 10 litros por dia. [...] Essa é a função da escola,<br />
é mostrar caminhos pra eles. Se eles vão seguir eu acho que não é bem a escola não<br />
pode obrigar. [...] Acho que a escola tem que inquietá-los, acho que esse é o papel<br />
nosso. [....] É fácil atuar, mas não é fácil fazer mudanças. 36<br />
Em relação ao desenvolvimento do humano e da politização do homem do campo,<br />
podemos perceber que a EFA prioriza uma educação não só para o desenvolvimento<br />
econômico, mas também para o desenvolvimento científico e, primordialmente, para a<br />
valorização do ser. Abaixo segue o depoimento de um professor que foi aluno da EFA.<br />
Eu passei pela escola na segunda fase do ensino fundamental. Eu estive nessa fase<br />
na escola e saí pra fazer o ensino médio. Talvez o ensino médio me marcou<br />
profissionalmente enquanto conteúdo científico, né, mas enquanto pessoa, de<br />
participar, de...né? essa pessoa mais politizada [...] a outra escola não contribuiu<br />
tanto quanto a EFA. Embora estava na EFA numa fase jovem, talvez, mais nova,<br />
mas mesmo assim me marcou muito e a contribuição foi muito grande na<br />
continuação do estudo e sobretudo na área do campo, em defender o campo onde<br />
que que seja e principalmente na busca de políticas públicas e tudo o mais. Passei<br />
aqui quatro anos mas são quatro anos que carrego daqui situações pra vida inteira.<br />
[...] Você está fora mas você nunca esquece.[...] Não sei se eu não tivesse passado<br />
por aqui se eu ainda estaria no campo. 37<br />
Os professores da EFA também apresentam outros exemplos de depoimentos que<br />
mostram como a EFA promove um desenvolvimento pessoal em sua forma de agir.<br />
Nós temos tido várias visitas de estudantes que vem de vontade própria e dá<br />
verdadeiros depoimentos para os que estão aqui pra poder valorizar até mais do que<br />
eles esse espaço. Nesse sentido de.....se não tivesse passado por aqui ele não estaria,<br />
não seria..ou o que seria de mim se não tivesse passado por aqui. São uma série de<br />
coisas que são colocadas, destrinchadas por eles próprios e que nos leva a crer que<br />
nós estamos no caminho certo e que é isso mesmo...[...]. Se não tivesse passado pela<br />
EFA não seria a pessoa que é. Então vai além da questão do conteúdo. [...] Esse lado<br />
mais humano, mais político, mais participativo, então ele sobressai muito. Talvez<br />
em conteúdo científico ele não seja tão forte quanto é esse outro lado. 38<br />
Os professores da EFA afirmam que o campo está passando por um momento de<br />
reestruturação e, contraditoriamente, acreditam que, pelas transformações sociais ocorridas no<br />
campo, nos últimos tempos, a agricultura camponesa deverá andar sempre mais alinhada ao<br />
agronegócio. Entretanto, segundo depoimento, a escola não enfatiza o estreitamento dessa<br />
relação, mas procura mostrar as diversas opções para que o aluno tenha possibilidades de<br />
escolha:<br />
36 Entrevista concedida em 12 de novembro de 2009<br />
37 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009<br />
38 Ibid.<br />
Agora, o que é que nós temos hoje de mais real? 84% dos jovens que passam pelas<br />
EFA’s continuam ou no campo ou vinculado a alguma atividade voltada pro campo.<br />
[...] No nosso trabalho, na nossa luta, a gente acredita que a gente está atendendo<br />
mais o campo, chegando mais perto do que a gente realmente deseja do que...quer
141<br />
dizer: tem mais jovens vivendo ou trabalhando ou fazendo alguma atividade em<br />
função do campo do que os que saem e acabam mesmo indo pra outra...um outro<br />
lado que também não quer dizer que não seja bom. Nós temos que trabalhar nos<br />
jovens as escolhas. Agora que sejam escolhas que levem ele a uma qualidade de<br />
vida melhor onde ele estiver. [...]. E quando a gente trabalha o profissional lá no<br />
curso técnico, por exemplo, que ele tem a oficina lá de projetos, você trabalha com<br />
ele na perspectiva de que ele possa criar o projeto dele, um projeto viável, que ele<br />
possa implantar, que ele possa trabalhar ali na propriedade que ele reside. Mas nem<br />
sempre isso acontece. [...] Quando você fala em educação você tem que dar qualquer<br />
informação que ele queira [...] 42% da soja no último ano veio da agricultura<br />
familiar, você tem a cana, então que dizer, não dá pra separar mais hoje e dizer que<br />
agricultor familiar tá de um lado e o agronegócio tá de outro. Não dá mais pra fazer<br />
isso. Nós temos hoje a legislação específica, por exemplo, no caso do leite, então<br />
tudo indica que o próprio agricultor familiar vai ter que se enquadrar em alguma<br />
situação em relação ao agronegócio, ou senão vai ter que se organizar de uma forma<br />
que permita a ele comercializar essas coisas. [...] A gente acredita que esse novo<br />
modelo de campo que vem por aí muita coisa vai andar lado a lado. [...] Nós<br />
trabalhamos a agricultura familiar como um tema de Plano de Estudo, nós<br />
trabalhamos também com as famílias, quando a gente reúne as famílias uma vez<br />
bimestralmente a gente também discute formas empreendedoras de desenvolver o<br />
campo. Então nós trabalhamos com os estudantes: Agricultura Familiar é um tema<br />
específico, o que que é, qual a legislação, nós trabalhamos políticas de crédito, como<br />
conseguir o crédito. Nós trabalhamos turismo rural, como é que desenvolve o<br />
turismo na comunidade. [...] a gente dá as ferramentas pro indivíduo buscar o que<br />
ele quer, as maneiras que ele vai desenvolver o espaço em que ele vive.[...] O nosso<br />
público hoje são agricultores familiares e aí você tem que trabalhar com eles no<br />
sentido de que eles como agricultores familiares....resgatar com eles que ainda é a<br />
agricultura familiar que ainda sustenta esse país, né, trabalhar com eles nesse sentido<br />
e a gente trabalha muito isso. [...] é claro, se ele é um agricultor familiar ele vai<br />
investir numa vida qualificada no meio em que ele vive. 39<br />
Na pesquisa com os alunos, colocamos algumas perguntas no questionário com o<br />
intuito de investigar como eles percebiam a importância da escola no processo das mudanças<br />
ocorridas na comunidade. Buscamos informações a respeito da participação da comunidade<br />
na escola, na importância que a comunidade dá para as atividades da escola e, principalmente,<br />
como ele, o maior interessado na atuação da escola a considera como agente de<br />
desenvolvimento local.<br />
O Gráfico 08 nos mostra que os alunos percebem uma participação bastante grande da<br />
comunidade nas atividades extracurriculares de ambas as escolas. Vê-se que 32,1% dos<br />
alunos de Canuanã consideram que a comunidade tem um forte envolvimento com a escola.<br />
Já na EFA, essa porcentagem é quase a metade, 17%, pois na EFA 65% dos alunos percebem<br />
que o envolvimento da comunidade é médio, ou seja, apesar de a mesma estar envolvida com<br />
as atividades da escola, esse envolvimento não é tão intenso.<br />
39 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2009
Gráfico 8 - Envolvimento das pessoas da comunidade nas atividades extra-curriculares<br />
da escola<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
O gráfico 09 mostra que Canuanã representa um grande bem para a comunidade na<br />
qual está inserida. Podemos observar que 70% dos alunos consideram que a comunidade<br />
atribui à Escola um valor forte ou muito forte. Na EFA, apesar de apresentar uma<br />
porcentagem inferior, 66,3%, também se percebe que a comunidade considera que a escola<br />
representa um bem de valor para si.<br />
Gráfico 9 - Valor que as pessoas da comunidade atribuem à escola<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
O gráfico 10 apresenta os momentos em que a comunidade mais participa das<br />
artividades promovidas pela escola. Reuniões escolares e palestras são as duas atividades que<br />
conseguem trazer a comunidade para a escola com maior frequência.<br />
142
Gráfico 10 - Momentos em que a comunidade mais participa das atividades da escola<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Pelo gráfico 11 é possível verificar que a maior mudança promovida pela escola na<br />
vida de seus alunos diz respeito à condições e técnicas de trabalho. Na Escola de Canuanã<br />
percebemos também uma modificação considerável na melhoria das condições de moradia.<br />
Gráfico 11 - Benefícios que a atuação da escola proporcionou à vida dos alunos<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Percebemos, com isso, que a comunidade realmente considera a escola um local de<br />
referência e de melhoria para suas condições de vida.<br />
143<br />
Colocamos também no questionário uma questão na qual os alunos deveriam
enumerar por grau de importância, dentre as organizações ali colocadas, quais, na opinião<br />
dele, mais contribuíam para mudanças na comunidade. Dentre as opções estavam o governo,<br />
as empresas, associações, as pessoas e a escola. O que observamos foi que tanto em Canuanã<br />
quanto na EFA, a maioria dos alunos consideraram a escola como maior agente de<br />
transformação da região.<br />
Gráfico 12 - Organizações que mais contribuem para mudanças e melhorias na<br />
comunidade, em porcentagem<br />
Fonte: resultado de pesquisa de campo <strong>–</strong> organizado pela autora<br />
Esse resultado só reforçou um dos fatores presentes deste os momentos iniciais da<br />
pesquisa, no qual as escolas aparecem como espaços de grande importância para o<br />
desenvolvimento da comunidade.<br />
É pela atuação da escola que as pessoas que tivemos contato acreditam adquir<br />
conhecimentos que provocam a melhoria do seu bem estar por meio da satisfação de suas<br />
necessidades. Acreditam, principalmente os professores e alunos, que a escola quando<br />
pensada corretamente, ou seja, quando atua pelos princípios de uma pedagogia para a<br />
autonomia, oferece igualdade de oportunidades, por meio do acesso ao conhecimento,<br />
amenizando, assim, as desigualdades sociais e econômicas.<br />
Em especial as escolas do campo, ao atuarem para a autonomia, permitem que<br />
recursos naturais sejam preservados e utilizados para a melhoria de toda a comunidade,<br />
desenvolvendo o potencial criativo, promovendo a integração solidária. Mas como fator mais<br />
importante, a escola permite a valorização do patrimônio natural, histórico, pessoal, cultural e<br />
144
dos saberes próprios da comunidade na qual está inserida. A educação promove<br />
desenvolvimento e a falta dela apenas um crescimento desordenado que favorece a poucos.<br />
Por essa razão, o poder público, em todas as suas instâncias, não pode se eximir da sua<br />
função enquanto promotor de condições favoráveis à essa educação no campo.<br />
Esse trabalho procurou analisar a realidade de apenas duas escolas, as quais possuem<br />
condições para realizarem bem as suas funções. Mas é preciso lembrar das outras que se<br />
encontram no campo, nas quais as condições de precariedade, tanto de estrutura quanto de<br />
profissionais que, apesar da boa vontade e da dedicação, não são preparados adequadamente,<br />
não permitem que a comunidade tenha dela o benefício que se espera.<br />
Defendemos um modelo de educação que faça a diferença na vida, não só dos seus<br />
alunos, mas de toda a comunidade toda na qual está inserida, provocando mudanças e<br />
melhorias, mas principalmente que promova a autonomia e emancipação do camponês.<br />
Vejamos o que o professor Lira ressaltou:<br />
145<br />
Só esamos falando sério sobre ensino e campesinato[...] não perdendo de vista a<br />
inserção em seus conteúdos de temas pertinentes ao entendimento da necessidade de<br />
uma discussão permanente sob a luz da continuidade da compreensão, aceitação e<br />
tomada de partida de que existe no campo brasileiro um processo em pleno curso de<br />
construção e reconstrução de identidade camponesa se espalhando por todas as<br />
regiões do Brasil. (LIRA, 2003, p. 44)<br />
Portanto, podemos afirmar que as escolas, quando possuem o respaldo e as condições<br />
necessárias para sua atuação, são um grande vetor de desenvolvimento no campo, pois<br />
contribuem significativamente para as mudanças na vida da comunidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O presente trabalho teve por objetivo investigar o papel das escolas no<br />
desenvolvimento do campo no estado do Tocantins. Para cumprir esse objetivo, foi necessário<br />
buscar na história como se deu o desenvolvimento das políticas públicas para a educação do<br />
campo no Brasil.<br />
Dessa análise resultou que, apesar de o Brasil ter suas raízes colonizadoras no campo,<br />
a população do campo sempre se desenvolveu à margem de uma elite agrária conservadora.<br />
No que concerne às propostas para educação no campo, pudemos perceber que eram escassas<br />
e, quando haviam, eram voltadas à profissionalização do homem do campo, com vistas a<br />
torná-lo um empregado rural.<br />
Sem levar em conta as especificidades da população camponesa, a educação que se<br />
sempre se praticou no campo brasileiro privilegiou os aspectos urbanos, incutindo na<br />
população camponesa um sentimento de que o modo de vida urbano era melhor, provocando a<br />
ilusão de que viver na cidade era a opção mais acertada a seguir. Esse sentimento fez com que<br />
cada vez mais a agricultura conservadora, incentivada por políticas agrárias também<br />
conservadoras, ganhasse espaço em detrimento da agricultura camponesa.<br />
Porém, na década de 1980 os movimentos sociais camponeses dão início a um<br />
processo reivindicatório para levar o camponês de volta para a terra. Lutam pela posse da<br />
mesma e pela preservação de seus direitos. É nesse contexto que se desenvolve o conceito de<br />
identidade camponesa no Brasil. Um conceito que surge para resgatar um modo de vida<br />
esquecido, que define uma classe social, que lembra as lutas pela posse da terra e que<br />
pretende ter uma educação que atenda às suas necessidades.<br />
É nesse contexto que surgem as primeiras propostas de educação do campo no Brasil,<br />
pois até então o que se vinha praticando era uma educação para o campo, ou ainda uma<br />
educação no campo.<br />
Sobre essas propostas, tanto nacionais quanto estaduais, podemos afirmar que, apesar<br />
das fortes intenções de se realizar uma educação do campo em seu discurso, na prática não<br />
passa de ações isoladas, em algumas escolas de algumas regiões. Pela situação de abandono<br />
de muitas escolas do campo, em especial das regiões norte e nordeste, vê-se que há, quando<br />
muito, uma educação no campo, carregadas de urbanidades, ministrada por profissionais<br />
urbanos.<br />
146<br />
A proposta dos movimentos sociais para a educação da população do campo não é
apenas proporcionar a ela os conhecimentos científicos, mas uma educação que respeite suas<br />
particularidades, resgate sua identidade e possa manter seu modo de produção e reprodução.<br />
Nessa vertente surgem duas propostas de educação do campo: a proposta do MST e a<br />
Pedagogia da Alternância.<br />
A proposta do MST é uma proposta baseada em princípios socialistas de educação,<br />
trazendo para suas práticas princípios de educadores soviéticos, tais como, Pistrak,<br />
Makarenko e Krupskaya. Busca mais veementemente a permanência da população camponesa<br />
no campo, além de desenvolver atividades pedagógicas que visam à manutenção do<br />
movimento. Nesse sentido podemos afirmar que a proposta do MST aplica-se muito bem à<br />
educação oferecida nos acampamentos e assentamentos promovidos pelo movimento.<br />
A Pedagogia da Alternância busca a formação integral do ser, ou seja, sua proposta<br />
pedagógica vai além do conhecimento científico e procura resgatar a identidade camponesa<br />
perdida ao longo do processo de urbanização. Enfatiza o modo de vida e de produção<br />
camponeses, procurando desenvolver no educando um sentimento de ser camponês mesmo<br />
quando este se encontra fora do campo. Procura desenvolver um trabalho pelo qual o sujeito<br />
se reconheça como camponês em qualquer ambiente em que estiver inserido. Entretanto,<br />
apresenta uma proposta de educação liberal ao fundamentar suas ações em autores como<br />
Dewey (Escola Nova) e Piaget (construtivismo).<br />
Esse modelo de educação, por ter sido importado da França, sofreu adaptações no<br />
Brasil, uma vez que as propriedades rurais francesas apresentam condições bastante<br />
diferenciadas das propriedades rurais brasileiras. Dessa forma, algumas fragilidades e<br />
limitações podem ser encontradas nesse modelo no Brasil, em especial no que concerne à<br />
interação escola-família e às atividades cotidianas.<br />
Pela análise das propostas pedagógicas das escolas de Canuanã e Família Agrícola de<br />
Porto Nacional, o que pudemos perceber é que a Escola de Canuanã pratica uma educação<br />
tradicional, voltada à profissionalização e à empregabilidade do trabalhador do campo como<br />
funcionário de grandes fazendas ou órgãos de extensão rural. Nesse sentido atua como agente<br />
de desenvolvimento do agronegócio, não enfatizando a permanência do educando no campo.<br />
Suas ações não estão direcionadas à manutenção da identidade camponesa, mas à melhoria de<br />
condições de vida do camponês mediante o assalariamento dos membros de sua família.<br />
Ainda assim, pelos dados coletados, podemos afirmar que a escola de Canuanã é um<br />
agente de mudanças, pois, apesar de suas ações estarem direcionadas à manutenção do<br />
agronegócio, algumas atividades desenvolvidas junto à comunidade na qual está inserida,<br />
proporcionam melhoria das suas condições de vida no campo.<br />
147
A EFA, por meio da proposta de alternância, procura desenvolver suas atividades<br />
voltadas ao modo de produção camponesa. Suas ações pedagógicas estão voltadas a fazer com<br />
que o educando se identifique como camponês e defenda as causas do campo em qualquer<br />
meio em que estiver inserido. Entretanto, apesar de suas propostas estarem voltadas à<br />
manutenção da identidade camponesa, não dá mais tanta ênfase à permanência do homem no<br />
campo.<br />
Dessa forma podemos afirmar que a EFA oferece uma educação que proporciona o<br />
desenvolvimento do campo, pois colabora para formar um cidadão mais crítico e consciente<br />
de seu papel na sociedade, colabora no processo de reconstrução da identidade camponesa,<br />
além de proporcionar o crescimento econômico das famílias da comunidade na qual está<br />
inserida. Por meio das suas ações, procura formar um cidadão mais politizado, que luta pelos<br />
seus direitos e de sua comunidade.<br />
Como podemos perceber, ainda existem muitas coisas a conquistar para garantir uma<br />
educação do campo que colabore efetivamente com uma forma de desenvolvimento que vá<br />
além do crescimento econômico. É preciso que se tenha a consciência de que as leis, quando<br />
permanecem arquivadas, não proporcionarão aos camponeses a conquista de sua liberdade e<br />
emancipação tão comentadas no discurso. Para que elas se tornem realidade, é preciso<br />
vontade política e utilização adequada dos recursos públicos destinado à educação.<br />
Com tudo isso é possível afirmar que, por meio da análise das propostas das escolas de<br />
Canuanã e Família Agrícola, a educação tem um papel importante no desenvolvimento de<br />
uma região. Em se tratando de educação do campo, esse papel é ainda mais fundamental, haja<br />
vista a comunidade perceber na escola o maior agente de transformação e melhorias.<br />
Entretanto, para que o Tocantins pratique uma educação do campo, será necessário ainda<br />
maior empenho, tanto do poder público, oferecendo os recursos adequados e necessários,<br />
quanto da comunidade, que deve ser sempre um agente de cobrança para a conquista de seus<br />
direitos.<br />
148
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
APOLINÁRIO, Juciene Ricarte. Vivências escravistas no norte de Goiás no século XVIII. In.:<br />
GIRALDIN, Odair. (Org.) A (trans)formação histórica do Tocantins. Goiania: UFG;<br />
Palmas: Unitins, 2002.<br />
ARBUÉS, Margarth P. A migração e a construção de uma (nova) identidade regional: Gurupi<br />
(1958-1988). In.: GIRALDIN, Odair. (Org.) A (trans)formação histórica do Tocantins.<br />
Goiania: UFG; Palmas: Unitins, 2002.<br />
BEZERRA NETO. Educação rural no contexto das lutas do MST. In.: ALVES, Gilberto Luiz<br />
(Org.). Educação no campo: recortes no tempo e no espaço. Campinas: Autores Associados,<br />
2009.<br />
BITTAR, Cíntia de Lima; SOUZA, Murilo Mendonça Oliveira de; MODESTO, Ricardo<br />
Veiga. Extensão rural e educação nos assentamentos rurais no Triângulo Mineiro/Alto<br />
Parnaíba. In.: S<strong>EM</strong>ANA <strong>DO</strong> SERVI<strong>DO</strong>R, 4., 2008; S<strong>EM</strong>ANA ACADÊMICA, 5.,2008.<br />
Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2008.<br />
BRASIL. Decreto-Lei n 0. 9613 de 20 de agosto de 1946 <strong>–</strong> Lei Orgânica do Ensino Agrícola<br />
(LOEA). Disponível em:< http://www.soleis.adv.br>. Acesso em: 7 ago. 2009.<br />
BRASIL. Instituto Brasileiro de geografia e Estatística <strong>–</strong> IBGE<br />
BRASIL. Lei 10172 de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá<br />
outras providências. Disponível em:< http://www.soleis.adv.br>. Acesso em: 25 set. 2009.<br />
BRASIL. Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e bases da Educação<br />
Nacional. Disponível em:< http://www.soleis.adv.br>. Acesso em: 7 maio. 2009.<br />
BRASIL. Parecer CEB 01 de 01 de fevereiro de 2006. Recomenda a adoção da Pedagogia da<br />
Alternância em escolas do campo. Disponível em . Acesso em: 7 de maio<br />
de 2009<br />
BRASIL, Resolução CNE/CEB 1 de 03 de abril de 2002. Aprova as Diretrizes Operacionais<br />
para a Educação Básica nas escolas do campo. Disponível em . Acesso<br />
em: 7 de maio de 2009<br />
149
CALAZANS, Maria Julieta Costa. Para compreender a educação do Estado no meio rural:<br />
traços de uma trajetória. In. Educação e escola no campo. Campinas: Papyrus, 1983.<br />
CATELLI, Rosana Elisa. Aprender a ver: o cinema e a irradiação da educação e da cultura,<br />
entre os anos de 1920 e 1940. In.: ENCONTRO DE ESTU<strong>DO</strong>S MULTIDISCIPLINARES<br />
<strong>EM</strong> CULTURA, 1 - I ENECULT, 2005, Salvador. Anais... Salvador: Enecult, 2005.<br />
COTRIM, Gilberto. Educação para uma escola democrática. São Paulo: Saraiva, 1987.<br />
D<strong>EM</strong>O, Pedro. A nova LDB ranços e avanços.17. ed. Campinas: Papyrus, 2004.<br />
D<strong>EM</strong>O, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 03. Ed. São Paulo: Atlas, 1995.<br />
ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE PORTO NACIONAL. Projeto Político Pedagógico.<br />
Porto Nacional, TO, 2009.<br />
ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO CANUANÃ DR. DANTE PAZZANESE. Projeto<br />
Político Pedagógico. Formoso do Araguaia, TO, 2009.<br />
ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO CANUANÃ <strong>–</strong> DR. DANTE PAZZANESE. Plano de<br />
curso do eixo tecnológico Recursos Naturais <strong>–</strong> Educação Técnica de Nível Médio - Cursos<br />
em Agropecuária. Formoso do Araguaia, TO, 2009.<br />
EDUCAÇÃO do Campo: diferenças mudando paradigmas. Coord. Ricardo Henriques,<br />
Antonio Marangon, Michieli Dalamora, Adelaide Chamusca. Departamento de Educação para<br />
a Diversidade e Cidadania, Cadernos SECAD, Brasília, DF: Secretaria da Educação<br />
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e Cultura, 2007. 81 p.<br />
EDUCAÇÃO no Meio Rural <strong>–</strong> Experiências Curriculares em Pernambuco. Instituto<br />
Interamericano de Cooperação para a Agricultura <strong>–</strong> IICA, Unidade de Informação e<br />
Documentos. São Paulo: Brasiliense, 1984.<br />
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Instrução elementar no século XIX. In.: 500 anos de<br />
educação no Brasil. 2. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2000.<br />
FERNANDES, Bernardo Mançano. Os campos da pesquisa em educação do campo: espaço e<br />
território como categorias essenciais. In.: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário.<br />
Educação do campo e pesquisa: questões para reflexão. Mônica Castagna Molina (Org.).<br />
150
Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.<br />
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Século XXI. Dicionário<br />
Eletrônico Versão 3.0. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.<br />
FRANTZ, Valmor Luiz. A Escola formal e a escola não formal no processo de<br />
desenvolvimento rural. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional), 2006. Área<br />
de concentração em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS.<br />
Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 149 p.<br />
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed.<br />
São Paulo: Paz e Terra, 2005.<br />
FUNDAÇÃO BRADESCO. Revista da Escola de Canuanã. Edição de Abril de 2007.<br />
GASPARIM, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 3. ed.<br />
Campinas, SP: Autores Associados, 2005.<br />
GOVERNO DE PERNAMBUCO. Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.<br />
Sistema Integrado de Educação Rural <strong>–</strong> SIER, 1982, 257 p.<br />
GOVERNO <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>. Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins <strong>–</strong><br />
SEDUC. Proposta Curricular Educação do Campo <strong>–</strong> Educação Básica. Palmas, TO, 2008.<br />
GOVERNO <strong>DO</strong> <strong>TOCANTINS</strong>. Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins <strong>–</strong><br />
SEDUC. Plano Estadual de Educação PEE 2006/2015. Palmas, TO, 2006.<br />
HORNBURG, Nice; SILVA, Rubia da. Teorias sobre currículo: uma análise para<br />
compreensão e mudança. In.: Revista de divulgação Técnico-científica do ICPG <strong>–</strong> Intituto<br />
Catarinense de Pós Graduação. V. 3, n 10, jan-jun 2007, p. 61-66. ISSN 1807-2836.<br />
LIRA, Eliseu. A comunidade Jacotinga: a luta pela posse da terra na Região de Porto<br />
Nacional-TO. In.: Revista Produção Acadêmica, n 1, p. 42-46, 2003.<br />
LISITA, Frederico Olivieri. Considerações sobre a Extensão Rural no Brasil. Artigo de<br />
divulgação na mídia, Embrapa Pantanal, n 77, p. 1-3, 2005. Disponível em:<br />
Acesso em: 02 set. 2009.<br />
151
LOVATTO, Deodice Maria Castanha. As políticas públicas para a educação rural no âmbito<br />
do capital. In.: S<strong>EM</strong>INÁRIO DE EDUCAÇÃO, 2009. Universidade federal de Mato Grosso.<br />
Disponível em: <<br />
http://www.ie.ufmt.br/semiedu2009/gts/gt7/ComunicacaoOral/DEONICE%20MARIA%20C<br />
ASTANHA%20LOVATO%20_761_.pdf>. Acesso em 26 ago. 2009.<br />
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da Revolução<br />
Industrial à Revolução Digital. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007.<br />
MEN<strong>DO</strong>NÇA, Sonia Regina. Conflitos intraestatais e políticas de educação agrícola no Brasil<br />
(1930-1950). In.: Revista Tempos Históricos, ano 10, n 1p. 243-266, 2007.<br />
MORESI, Eduardo. Metodologia da pesquisa. Disponível em: .<br />
Acesso em: 02 dez. 2004.<br />
NUNES, Klívia de Cássia Silva. Políticas educacionais E formação de professores no<br />
sistema neoliberal: uma análise da Educação Rural no Município de Pedro Afonso <strong>–</strong><br />
Tocantins de 2002 a 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Católica de<br />
Goías, Goiânia, 2008.<br />
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Agricultura Camponesa no Brasil. 3. ed. São Paulo:<br />
Contexto, 1997.<br />
OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre os conceitos de desenvolvimento. In.:<br />
Revista FAE, Curitiba, v 5, n 2, mai/ago, 2002, p. 37-48.<br />
OLIVEIRA, Maria de Fátima. Um Porto no Sertão: Cultura e Cotidiano em Porto Nacional <strong>–</strong><br />
1880 a 1910. In.: GIRALDIN, Odair. (Org.) A (trans)formação histórica do Tocantins.<br />
Goiania: UFG; Palmas: Unitins, 2002.<br />
ORGANIZAÇÃO PARA AS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E<br />
AGRICULTURA. Extensão Rural, manual de referência. 2. ed. Editado por Burton E.<br />
Swanson, 1991.<br />
ORGANIZAÇÃO PARA AS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E<br />
AGRICULTURA. Guia de formação para a extensão rural. Editado por P. Oakley e C.<br />
Garforth, 1992.<br />
152
PALITOT, Maria de Fátima de Souza. Pedagogia da Alternância: Estudo exploratório na<br />
escola rural de Massaroca (ERUM) Dissertação (Mestrado em Extensão Rural), 2007.<br />
Programa de Pós Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Viçosa, MG.<br />
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 82 p.<br />
PEREIRA, Erialdo Augusto. Formação de jovens e participação Social: Um estudo sobre a<br />
formação de três jovens da Escola Família Agrícola de Porto Nacional, TO. Dissertação<br />
(Mestrado Internacional em Ciências da Educação “Formação e Desenvolvimento<br />
Sustentável), 2003. Faculdade de Ciências e Tecnologia de Educação da Universidade Nova<br />
de Lisboa, Portugal e Départament des Sciences de l’Éducation et de La formation, Université<br />
François Rebelais de Tour, França. 211 p.<br />
PREFEITURA <strong>DO</strong> MUNICÍPIO DE PALMAS. Secretaria Municipal de Educação e Cultura<br />
<strong>–</strong> S<strong>EM</strong>EC. Proposta de Educação do Campo. Palmas, TO, 2010.<br />
QUEIROZ, João Batista Pereira de. Centros familiares de formação por alternância<br />
(CEEFAs): origem e expansão no mundo, no Brasil e no Centro-Oeste. In.: Pedagogia da<br />
Alternância: construindo a educação do campo. Organizadores João Batista Pereira de<br />
Queiroz, Virgínia Costa e Silva e Zuleika Pacheco. Goiania: Ed. Da UCG; Brasília: Ed.<br />
Universa, 2006.<br />
REFERÊNCIAS para uma política nacional de educação do campo: caderno de subsídios.<br />
Coordenadores Marise Nogueira Ramos, Telma Maria Moreira, Clarice Aparecida Santos.<br />
Brasília, DF: Secretaria de Educação Média e tecnológica, Grupo Permanente de Trabalho,<br />
2004. 48 p.<br />
RIBEIRO, Maria Luiza Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 17.<br />
ed. rev e ampl. Campinas: Autores Associados, 2001.<br />
RIBEIRO, Marlene. Trabalho e educação no movimento camponês: liberdade ou<br />
emancipação? In.: Revista Brasileira de Educação, Vol. 14, n 42, set-dez, 2009, p.423-439<br />
RODRIGUES, Almerinda Maria dos Reis Vieira. O movimento da Escola Nova no sul do<br />
Mato Grosso: uma análise de suas contribuições para a educação do estado na primeira<br />
metade do século XX. Dissertação (Mestrado em História), 2006. Programa de Pós Graduação<br />
em História da Universidade Federal de mato Grosso do Sul, MS, Campus de Dourados.<br />
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, 2006. 114 p.<br />
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. 28. ed. Petrópolis:<br />
Vozes, 2002.<br />
153
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de<br />
São Paulo, 2008.<br />
SENNA, Luiz Antonio Gomes. Processos educacionais: os lugares da educação na sociedade<br />
contemporânea. In.: Letramento: princípios e processos. Luiz Antonio Gomes Senna, (Org.).<br />
Curitiba: IBPEX, 2007.<br />
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3.<br />
ed. rev. atual. Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, 2001.<br />
SILVA, Gescielly Barbosa; SCHELBAUER, Analete Regina. Lourenço Filho e a<br />
alfabetização: os testes ABC e a reforma do sistema educacional no estado do ceará. In.:<br />
ENCONTRO DE PESQUISA <strong>EM</strong> EDUCAÇÃO, I; JORNADA DE PRÁTICA DE ENSINO,<br />
IV, S<strong>EM</strong>ANA PEDAGÓGICA DA U<strong>EM</strong>: “Infância e Práticas Educativas”, XIII. Arq.<br />
Mudi 2007; 11 (supl 2) Páginas 364-371. Disponível em: .<br />
Acesso em: 20 out. 2009.<br />
SILVA, Otávio Barros da. Breve História do Tocantins e de sua gente. Araguaína:<br />
Federação das Indústrias do Estado do Tocantins/Solo Editores, 1996.<br />
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do<br />
currículo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.<br />
SPEYER, Anne Marie. Educação e campesinato: uma educação para o homem do meio<br />
rural. São Paulo: Loyola, 1983.<br />
VEIGA, Ilma Passos Alencatro. Educação Básica e Educação Superior Projeto Político<br />
Pedagógico. Campinas: Papirus, 2004<br />
ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos<br />
anos de 1980. Campinas: Autores Associados; Brasília, DF: Editora Plano, 2004<br />
154