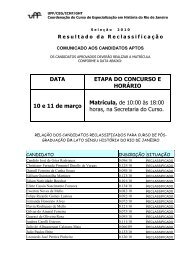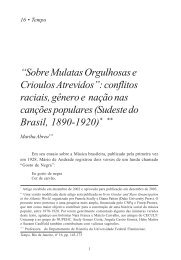Catolização e poder no tempo do tráfico: o reino do Congo - Área de ...
Catolização e poder no tempo do tráfico: o reino do Congo - Área de ...
Catolização e poder no tempo do tráfico: o reino do Congo - Área de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6 Tempo<br />
<strong>Catolização</strong> e <strong>po<strong>de</strong>r</strong> <strong>no</strong> <strong>tempo</strong> <strong>do</strong> <strong>tráfico</strong>: o<br />
rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> da conversão coroada ao<br />
movimento antonia<strong>no</strong>, séculos XV-XVIII<br />
Ronal<strong>do</strong> Vainfas*<br />
Marina <strong>de</strong> Mello e Souza **<br />
Introdução<br />
Um <strong>do</strong>s maiores problemas da historiografia brasileira acerca da escravidão é<br />
seu relativo <strong>de</strong>sconhecimento da história e cultura africanas. Desconhecimento<br />
injustificável que, <strong>no</strong> limite, implica consi<strong>de</strong>rar o africa<strong>no</strong> apenas em função da<br />
escravidão, reifican<strong>do</strong>-o, e tanto mais grave quanto é hoje a história cultural campo<br />
<strong>do</strong>s mais frequenta<strong>do</strong>s pela pesquisa historiográfica <strong>no</strong> Brasil.<br />
É verda<strong>de</strong> que, talvez, <strong>no</strong>s últimos vinte a<strong>no</strong>s, este quadro lacu<strong>no</strong>so tem da<strong>do</strong><br />
sinais <strong>de</strong> mudança, bastan<strong>do</strong> citar, sem a preocupação <strong>de</strong> esgotar o assunto, os<br />
trabalhos <strong>de</strong> João Reis sobre a revolta <strong>do</strong>s malês na Bahia 1 , o <strong>de</strong> Ma<strong>no</strong>lo Florenti<strong>no</strong><br />
sobre o <strong>tráfico</strong> atlântico 2 , ou o <strong>de</strong> Robert Slenes sobre a formação <strong>de</strong> uma “etnia<br />
proto-banto” <strong>no</strong> su<strong>de</strong>ste brasileiro oitocentista 3 . Há, porém, muito ainda por fazer<br />
nesta área <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s.<br />
A história <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> certamente tem muitas lições a dar, quer para os<br />
interessa<strong>do</strong>s <strong>no</strong> estu<strong>do</strong> da África, quer para os estudiosos da escravidão e da cultura<br />
negra na diáspora colonial. Afinal, a região <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>-Angola foi daquelas que mais<br />
*<br />
Professor Titular <strong>de</strong> História Mo<strong>de</strong>rna da UFF com pesquisa sobre o movimento antonia<strong>no</strong> <strong>no</strong> rei<strong>no</strong> <strong>do</strong><br />
<strong>Congo</strong> (CNPq).<br />
**<br />
Doutoranda da UFF com pesquisa sobre I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> étnica nas festas <strong>de</strong> coroação <strong>de</strong> Reis <strong>Congo</strong> <strong>no</strong> Brasil<br />
(CNPq).<br />
1<br />
- João Reis. Rebelião escrava <strong>no</strong> Brasil: a história <strong>do</strong> levante <strong>do</strong>s malês (1835). São Paulo, Brasiliense,<br />
1986, 293 pp.<br />
2<br />
- Ma<strong>no</strong>lo G. Florenti<strong>no</strong>. Em costas negras: uma história <strong>do</strong> <strong>tráfico</strong> atlântico <strong>de</strong> escravos entre a África e o<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro (sécs. XVIII-XIX). Rio <strong>de</strong> Janeiro, Arquivo Nacional, 1995, 300 pp.<br />
3 - Robert Slenes. “Malungu, Ngoma vem: África coberta e <strong>de</strong>scoberta <strong>no</strong> Brasil”. Revista USP, vol.12, São<br />
Paulo, 1991-92, pp.48-67.
forneceu africa<strong>no</strong>s para o Brasil, especialmente para o su<strong>de</strong>ste, posição assumida <strong>no</strong><br />
século XVII e consolidada na virada <strong>do</strong> século XVIII para o XIX.<br />
Muito se escreveu, <strong>no</strong> âmbito da bibliografia et<strong>no</strong>lógica e antropólógica,<br />
sobre a importância das religiosida<strong>de</strong>s banto na chamada cultura afro-brasileira e<br />
bastaria isto para estimular investigações mais sistemáticas sobre a história da<br />
região. Mas a história <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> revela, <strong>no</strong> entanto, aspectos surpreen<strong>de</strong>ntes e não<br />
muito conheci<strong>do</strong>s <strong>de</strong> <strong>no</strong>ssos historia<strong>do</strong>res, embora sejam bem estuda<strong>do</strong>s por<br />
estudiosos estrangeiros, especialmente belgas e <strong>no</strong>rte-america<strong>no</strong>s e, em me<strong>no</strong>r<br />
escala, franceses e portugueses. Referimo-<strong>no</strong>s ao extraordinário processo <strong>de</strong><br />
catolização leva<strong>do</strong> a cabo <strong>no</strong> <strong>Congo</strong>, a partir <strong>de</strong> fins <strong>do</strong> século XV, e ao<br />
“aportuguesamento” <strong>de</strong> suas instituições sociais e <strong>de</strong> gover<strong>no</strong>, a partir <strong>de</strong> inícios <strong>do</strong><br />
século XVI, processos que não implicaram, porém, muito pelo contrário, o<br />
aniquilamento das tradições bakongo ali vigentes. Referimo-<strong>no</strong>s, em especial, à<br />
constituição da monarquia congolesa em mol<strong>de</strong>s lusita<strong>no</strong>s, réplica da portuguesa, e<br />
às complexas relações entre esta e o Esta<strong>do</strong> português, o que, sem dúvida, tem a ver<br />
com os interesses <strong>do</strong> <strong>tráfico</strong> atlântico.<br />
De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, a famosa “festa <strong>de</strong> coroação <strong>de</strong> Reis <strong>Congo</strong>”, difundida <strong>no</strong><br />
Brasil ao longo <strong>do</strong> século XIX, é a ponta <strong>do</strong> iceberg <strong>de</strong> uma história que só se po<strong>de</strong><br />
esclarecer com o <strong>de</strong>slocamento <strong>no</strong> espaço e <strong>no</strong> <strong>tempo</strong>. Deslocamento rumo à<br />
África, ao antigo rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> manicongo, e retor<strong>no</strong> ao século XV, século da conversão<br />
<strong>do</strong> primeiro sobera<strong>no</strong> congolês ao catolicismo.<br />
<strong>Congo</strong> <strong>de</strong>scoberto<br />
Quan<strong>do</strong> Diogo Cão chegou à foz <strong>do</strong> rio Zaire em 1483 e contactou pela<br />
primeira vez o mani Nsoyo, chefe da localida<strong>de</strong> na qual aportara, o <strong>Congo</strong> era um<br />
rei<strong>no</strong> forte e estrutura<strong>do</strong>, cuja chefia máxima cabia ao Mani <strong>Congo</strong>. Forma<strong>do</strong> por<br />
grupos <strong>de</strong> etnia banto, especialmente os bakongo, abrangia gran<strong>de</strong> extensão da<br />
África Centro-Oci<strong>de</strong>ntal e se compunha <strong>de</strong> diversas províncias. Algumas <strong>de</strong>las, como<br />
as <strong>de</strong> Nsoyo, Mbata, Wandu e Nkusu, eram administradas por membros <strong>de</strong> uma<br />
<strong>no</strong>breza local que assumiam os cargos <strong>de</strong> chefia há gerações, sen<strong>do</strong> o controle<br />
político manti<strong>do</strong> por uma mesma linhagem, enraizada <strong>no</strong> local. Outras províncias<br />
eram administradas por chefes escolhi<strong>do</strong>s pelo rei <strong>de</strong>ntre a <strong>no</strong>breza que o cercava na<br />
capital.<br />
A unida<strong>de</strong> <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> era mantida a partir <strong>do</strong> controle exerci<strong>do</strong> pelo<br />
Mani <strong>Congo</strong>, cerca<strong>do</strong> por linhagens <strong>no</strong>bres que teciam alianças principalmente por<br />
meio <strong>do</strong> casamento, mas era também fortalecida pelas relações comerciais e<br />
políticas entre as diversas regiões. O centro <strong>de</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> localizava-se na capital,<br />
mbanza Kongo, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> o rei administrava a confe<strong>de</strong>ração juntamente com um<br />
grupo <strong>de</strong> <strong>no</strong>bres que formavam o conselho real, composto provavelmente por 12<br />
membros, dividi<strong>do</strong>s em grupos com diferentes atribuições: secretários reais,<br />
coletores <strong>de</strong> impostos, oficiais militares, juízes e emprega<strong>do</strong>s pessoais. A<br />
centralização político-administrativa, ao mesmo <strong>tempo</strong> que conferia estabilida<strong>de</strong> ao<br />
sistema, ensejava intensas e frequentes disputas pelo <strong>po<strong>de</strong>r</strong>.<br />
A formação <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> parece datar <strong>do</strong> final <strong>do</strong> século XIV, a partir da expansão<br />
<strong>de</strong> um núcleo localiza<strong>do</strong> a <strong>no</strong>roeste <strong>de</strong> mbanza Kongo. Os mitos <strong>de</strong> origem
egistra<strong>do</strong>s <strong>no</strong> século XVII referem-se à conquista <strong>do</strong> território por um grupo <strong>de</strong><br />
estrangeiros, chefia<strong>do</strong>s por Nimi a Lukeni, que teria subjuga<strong>do</strong> as al<strong>de</strong>ias da região<br />
<strong>do</strong> <strong>Congo</strong> e imposto a sua soberania pela supremacia guerreira. Nos séculos XVI e<br />
XVII, após o contato com os portugueses, o direito <strong>do</strong> rei coletar impostos e tributos<br />
estaria i<strong>de</strong>ologicamente fundamenta<strong>do</strong> na conquista efetivada pelos antepassa<strong>do</strong>s das<br />
linhagens governantes, o que nem sempre era aceito pacificamente.<br />
A divisão fundamental na socieda<strong>de</strong> congolesa era entre as cida<strong>de</strong>s - mbanza -<br />
e as comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> al<strong>de</strong>ia - lubata. A tradição representava esta divisão como entre<br />
povos que vieram <strong>de</strong> fora e os nativos, submeti<strong>do</strong>s àqueles. Os estrangeiros seriam<br />
os membros da <strong>no</strong>breza, os habitantes da capital, os governantes das províncias<br />
indica<strong>do</strong>s pelo rei, isto é, os que ocupavam as posições superiores <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>. A<br />
lubata era <strong>do</strong>minada pela mbanza, que podia requisitar parte <strong>do</strong> exce<strong>de</strong>nte al<strong>de</strong>ão.<br />
Os chefes <strong>de</strong> al<strong>de</strong>ia - nkuluntu - faziam a ligação entre os setores, receben<strong>do</strong> o<br />
exce<strong>de</strong>nte agrícola e repassan<strong>do</strong> parte <strong>de</strong>ste para os representantes das cida<strong>de</strong>s,<br />
reconheci<strong>do</strong>s como superiores políticos. Nas comunida<strong>de</strong>s rurais, a apropriação <strong>do</strong><br />
exce<strong>de</strong>nte era justificada pelo <strong>po<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> mediação com o sobrenatural <strong>do</strong> kitomi, ou<br />
pelo privilégio <strong>do</strong> mais velho, o nkuluntu. Como nelas a produção supria apenas as<br />
necessida<strong>de</strong>s básicas, não havia um acúmulo <strong>de</strong> bens que permitisse sinais<br />
exteriores <strong>de</strong> status para os chefes. Enquanto nas al<strong>de</strong>ias os chefes não tinham<br />
controle sobre a produção, baseada na estrutura familiar e na divisão sexual <strong>do</strong><br />
trabalho, nas cida<strong>de</strong>s eram os <strong>no</strong>bres - as linhagens governantes - que controlavam a<br />
produção, fruto <strong>do</strong> trabalho escravo <strong>no</strong> cultivo <strong>de</strong> terras controladas pela <strong>no</strong>breza. As<br />
diferenças básicas que distinguiam as cida<strong>de</strong>s das al<strong>de</strong>ias eram a maior concentração<br />
da população e a administração da produção por parte da <strong>no</strong>breza, que se apropriava<br />
<strong>de</strong> parte <strong>do</strong> trabalho escravo.<br />
De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, as características da escravidão existente <strong>no</strong> <strong>Congo</strong><br />
confirmam a tipologia elaborada por João Reis em artigo sobre a África pré-colonial<br />
4 . No rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> havia, <strong>de</strong> um la<strong>do</strong>, a escravidão <strong>do</strong>méstica ou <strong>de</strong> linhagem, na<br />
qual o cativeiro era resultante <strong>de</strong> sanções sociais ou mesmo da captura em guerras,<br />
integran<strong>do</strong>-se o escravo à linhagem <strong>do</strong> senhor. Cativeiro em que se <strong>de</strong>stacavam as<br />
escravas concubinas, que geravam filhos para o clã masculi<strong>no</strong>, ao contrário <strong>do</strong>s<br />
casamentos entre linhagens, <strong>no</strong>s quais os filhos ficavam liga<strong>do</strong>s à família da mãe<br />
(mastrilinearida<strong>de</strong>). Mas ao la<strong>do</strong> da escravidão <strong>de</strong> linhagem, mais amena e mitigada,<br />
existia o que João Reis chamou <strong>de</strong> escravidão ampliada ou escravismo<br />
propriamente dito: um tipo <strong>de</strong> escravidão comercial ligada à produção agrícola ou à<br />
exploração <strong>de</strong> minas, a qual seria consi<strong>de</strong>ravelmente estimulada e <strong>de</strong>sviada para o<br />
Atlântico após o contato com os portugueses.<br />
São Salva<strong>do</strong>r, <strong>no</strong>me atribuí<strong>do</strong> a mbanza Kongo após a conversão <strong>do</strong>s reis<br />
congoleses ao cristianismo em 1491, chegou a ter cerca <strong>de</strong> 60.000 habitantes <strong>no</strong><br />
século XVII, sen<strong>do</strong> que <strong>de</strong> 9 a 12.000 <strong>de</strong>sses não estavam diretamente engaja<strong>do</strong>s na<br />
produção. Des<strong>de</strong> antes <strong>do</strong> contato com os portugueses, até mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XVII, a<br />
capital foi um ímã que unia as diferentes linhagens <strong>no</strong>bres, e a base da soli<strong>de</strong>z <strong>do</strong><br />
<strong>Congo</strong>, pois mesmo quan<strong>do</strong> eram travadas lutas sucessórias entre as chefias, tu<strong>do</strong> se<br />
4 - João Reis. “Notas sobre a escravidão na África pré-colonial”. Estu<strong>do</strong>s Afro-Asiáticos, n.14, Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
pp.5-21.
esolvia em função da centralização política em São Salva<strong>do</strong>r, antiga mbanza <strong>Congo</strong>.<br />
As diferentes linhagens sempre preferiam a<strong>de</strong>rir ao grupo que <strong>no</strong> momento<br />
<strong>do</strong>minasse a política da capital, a tentar a separação.<br />
Quan<strong>do</strong> os portugueses chegaram ao <strong>Congo</strong>, encontraram ali gran<strong>de</strong>s<br />
merca<strong>do</strong>s regionais, <strong>no</strong>s quais produtos específicos a certas áreas como sal, metais,<br />
teci<strong>do</strong>s e <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s <strong>de</strong> animais eram troca<strong>do</strong>s por outros, e um sistema monetário,<br />
<strong>no</strong> qual conchas chamadas nzimbu, coletadas na região da ilha <strong>de</strong> Luanda, serviam <strong>de</strong><br />
unida<strong>de</strong> básica. O estreitamento das relações com os portugueses intensificou o<br />
comércio regional e o internacional e aumentou a importância <strong>do</strong>s comerciantes,<br />
muitos <strong>de</strong>les não congoleses. O <strong>Congo</strong> não era uma nação voltada para o comércio,<br />
exerci<strong>do</strong> em gran<strong>de</strong> parte pelos naturais <strong>de</strong> Loango, e posteriormente controla<strong>do</strong><br />
pelos portugueses <strong>de</strong> São Tomé e <strong>de</strong> Angola e pelos holan<strong>de</strong>ses. Mas eram o<br />
comércio, principalmente <strong>de</strong> escravos, e o controle das minas, sempre aquém das<br />
expectativas, os principais interesses <strong>do</strong>s portugueses <strong>no</strong> <strong>Congo</strong> quan<strong>do</strong> ali chegou<br />
Diogo Cão.<br />
Conversão e catolização<br />
D. João II enviou Diogo Cão, <strong>no</strong> a<strong>no</strong> <strong>de</strong> 1485, em mais uma expedição<br />
marítima que foi dar <strong>no</strong> estuário <strong>do</strong> rio Zaire. Instruí<strong>do</strong>s para estabelecer contatos<br />
pacíficos e acompanha<strong>do</strong>s <strong>de</strong> intérpretes conhece<strong>do</strong>res <strong>de</strong> línguas africanas, os<br />
envia<strong>do</strong>s <strong>do</strong> rei português tomaram conhecimento da cida<strong>de</strong> real <strong>no</strong> interior <strong>do</strong><br />
continente e para lá enviaram emissários. Como estes <strong>de</strong>morassem a voltar, reti<strong>do</strong>s<br />
na corte congolesa pela curiosida<strong>de</strong> que <strong>de</strong>spertou o que contavam, os navios<br />
portugueses, recusan<strong>do</strong>-se a esperar, zarparam sem eles, levan<strong>do</strong> alguns reféns. Em<br />
Portugal esses foram trata<strong>do</strong>s como amigos e apren<strong>de</strong>ram um pouco <strong>do</strong>s hábitos, da<br />
religião e da língua <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>. Conforme o prometi<strong>do</strong>, <strong>no</strong>va expedição trouxe <strong>de</strong> volta<br />
os congoleses captura<strong>do</strong>s, agora “ladi<strong>no</strong>s”, juntamente com uma embaixada e<br />
presentes para o mani congo, retor<strong>no</strong> amplamente festeja<strong>do</strong> 5 .<br />
Disposto a abraçar a fé <strong>de</strong> Cristo, o mani congo enviou, em 1489, uma<br />
embaixada para o rei português, que foi presentea<strong>do</strong> com teci<strong>do</strong>s <strong>de</strong> palmeiras e<br />
objetos <strong>de</strong> marfim, formalizan<strong>do</strong> seu <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> se converter ao cristianismo e<br />
pedin<strong>do</strong> o envio <strong>de</strong> clérigos, assim como <strong>de</strong> artesãos, mestres <strong>de</strong> pedraria e<br />
carpintaria, trabalha<strong>do</strong>res da terra, burros e pastores. Junto com os pedi<strong>do</strong>s, <strong>de</strong>ixou<br />
claro, segun<strong>do</strong> Rui <strong>de</strong> Pina, cronista que registrou o evento, seu <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> que<br />
<strong>do</strong>ravante os <strong>do</strong>is rei<strong>no</strong>s se igualassem <strong>no</strong>s costumes e na maneira <strong>de</strong> viver,<br />
solicitan<strong>do</strong> que alguns jovens, envia<strong>do</strong>s com a embaixada, fossem instruí<strong>do</strong>s na fala,<br />
escrita e leitura latinas, além <strong>do</strong>s mandamentos da fé católica. E, com efeito, durante<br />
to<strong>do</strong> a<strong>no</strong> <strong>de</strong> 1490 os envia<strong>do</strong>s <strong>do</strong> rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> permaneceram em Portugal,<br />
apren<strong>de</strong>n<strong>do</strong> o português, os mandamentos da fé católica e os costumes da socieda<strong>de</strong><br />
portuguesa.<br />
Em <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1490, <strong>no</strong>va expedição foi enviada ao <strong>Congo</strong>, a qual,<br />
em março <strong>de</strong> 1491, chegou à foz <strong>do</strong> rio Zaire, por eles chama<strong>do</strong> <strong>de</strong> rio <strong>do</strong> Padrão por<br />
5 - Rui <strong>de</strong> Pina. “Relação <strong>do</strong> Rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>”. In: Radulet, Carmem. O cronista Rui <strong>de</strong> Pina e a Relação <strong>do</strong><br />
Rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>.Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1992, p.101.
lá ter si<strong>do</strong> coloca<strong>do</strong> um padrão indica<strong>do</strong>r <strong>de</strong> que o rei <strong>de</strong> Portugal havia si<strong>do</strong> o<br />
<strong>de</strong>scobri<strong>do</strong>r daquelas terras, em <strong>no</strong>me <strong>do</strong> seu rei<strong>no</strong> e <strong>de</strong> Cristo. A província <strong>de</strong><br />
Nsoyo (Sonho ou So<strong>no</strong> <strong>no</strong>s relatos portugueses), na qual se encontrava a foz <strong>do</strong> rio<br />
Zaire, era governada por um irmão da mãe <strong>do</strong> rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, o mais respeita<strong>do</strong> <strong>de</strong>ntre<br />
os chefes provinciais. Ao receber os portugueses, o chefe local man<strong>do</strong>u que to<strong>do</strong>s<br />
viessem recepcionar os envia<strong>do</strong>s <strong>do</strong> rei <strong>de</strong> Portugal. Rui <strong>de</strong> Pina <strong>no</strong>s <strong>de</strong>ixou um<br />
<strong>de</strong>talha<strong>do</strong> relato <strong>de</strong>sses primeiros contatos entre portugueses e congoleses, aludin<strong>do</strong><br />
aos festejos e reverências com que foram recebi<strong>do</strong>s os portugueses e à pompa <strong>do</strong><br />
mani Nsoyo, que veio trazen<strong>do</strong> carapuça na cabeça com uma serpente “mui bem<br />
lavrada d’agulha”. Registra o cronista - e isto se reveste <strong>de</strong> máxima importância -,<br />
que as “mulheres <strong>do</strong>s fidalgos” locais se fartaram <strong>de</strong> saudar os estrangeiros, dizen<strong>do</strong><br />
que seus mari<strong>do</strong>s haviam <strong>de</strong> fazer o melhor <strong>de</strong> si para o serviço <strong>de</strong>l Rei <strong>de</strong> Portugal,<br />
“a que eles chamavam Zampem-Apongo, que antr’eles quer dizer Senhor <strong>do</strong><br />
Mun<strong>do</strong> 6 .<br />
Ao olhos <strong>do</strong>s congoleses, o rei português passava, pois, a ser assimila<strong>do</strong> a<br />
Zambem-apongo, divinda<strong>de</strong> suprema <strong>do</strong>s povos banto, senhor que reinava <strong>no</strong> mun<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong>s mortos, pois, vale dizer, a festa era também para João da Silva, congolês batiza<strong>do</strong><br />
e embaixa<strong>do</strong>r <strong>do</strong> rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> morto na viagem. Senhor <strong>do</strong> Mun<strong>do</strong>, porque senhor<br />
<strong>do</strong>s mortos, o Zambem-apongo <strong>do</strong>s congoleses foi entendi<strong>do</strong> pelos observa<strong>do</strong>res<br />
portugueses como sen<strong>do</strong> o rei <strong>de</strong> Portugal, D.João II especificamente. Doravante, e<br />
por muito <strong>tempo</strong>, portugueses e congoleses passariam a traduzir <strong>no</strong>ções alheias para<br />
sua própria cultura a partir <strong>de</strong> analogias que permitiam supor estarem tratan<strong>do</strong> das<br />
mesmas coisas quan<strong>do</strong> na verda<strong>de</strong> sistemas culturais distintos permaneciam<br />
fundamentalmente inaltera<strong>do</strong>s.<br />
No dia seguinte a essa confraternização, o chefe congolês,<br />
provavelmente associan<strong>do</strong> as coisas extraordinárias trazidas pelos lusita<strong>no</strong>s à sua<br />
linguagem cultural, pediu para ser batiza<strong>do</strong> sem mais <strong>de</strong>mora. Assim foi erigida uma<br />
igreja <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, <strong>de</strong>vidadamente paramentada com os objetos trazi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Portugal<br />
para nela realizar o batismo <strong>do</strong> mani Nsoyo. Conta-<strong>no</strong>s Rui <strong>de</strong> Pina que, apesar <strong>de</strong><br />
outros <strong>no</strong>bres expressarem o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> serem batiza<strong>do</strong>s, o mani Nsoyo só permitiu<br />
que ele e seu filho mais velho o fossem antes <strong>do</strong> rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, primazia que sua<br />
<strong>de</strong>stacada posição permitia, não permitin<strong>do</strong> aos “fidalgos <strong>de</strong> sua Casa” que sequer<br />
entrassem na igreja. O mani Nsoyo recebeu o <strong>no</strong>me <strong>de</strong> Manuel, tal qual o irmão da<br />
rainha <strong>de</strong> Portugal, e seu filho chamou-se Antonio, inauguran<strong>do</strong> um padrão analógico<br />
que regeria os primeiros <strong>tempo</strong>s das relações entre os <strong>do</strong>is povos. Nessa altura, a<br />
narrativa <strong>de</strong> Rui <strong>de</strong> Pina <strong>de</strong>ixa bastante clara a relação imediatamente percebida pelos<br />
congoleses entre fé e <strong>po<strong>de</strong>r</strong>. O batismo foi reserva<strong>do</strong> aos maiores <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>, numa<br />
certa or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> hierarquias. Principalmente não podia ser usufruí<strong>do</strong> antes <strong>de</strong> que o<br />
rei o recebesse, fato percebi<strong>do</strong> pelo mani Nsoyo que respon<strong>de</strong>u negativamente aos<br />
<strong>no</strong>bres que pediram para também serem batiza<strong>do</strong>s, justifican<strong>do</strong> o seu próprio batismo<br />
antes <strong>do</strong> Mani <strong>Congo</strong> por ser tio <strong>do</strong> rei e mais velho que ele.<br />
Após a cerimônia <strong>do</strong> batismo, seguiram-se festejos, os padres acompanharam<br />
o mani Nsoyo até sua casa em procissão com cruz erguida, discursaram contra as<br />
i<strong>do</strong>latrias e superstições e Manuel man<strong>do</strong>u que to<strong>do</strong>s os í<strong>do</strong>los e templos fossem<br />
6 - I<strong>de</strong>m, p.140.
<strong>de</strong>struí<strong>do</strong>s. Rezas e missas suce<strong>de</strong>ram-se antes que seguisse a expedição para a<br />
capital real, dispon<strong>do</strong> <strong>de</strong> 200 homens cedi<strong>do</strong>s por Manuel para carregarem os<br />
presentes e carga, além <strong>do</strong>s que levavam os mantimentos e garantiam a segurança.<br />
Demorariam 23 dias para chegar à corte, sen<strong>do</strong> recepciona<strong>do</strong>s <strong>no</strong> caminho pelos<br />
chefes locais.<br />
Ao se aproximar <strong>de</strong> mbanza <strong>Congo</strong>, a expedição foi recebida por um membro<br />
da família real que levou presentes para o embaixa<strong>do</strong>r. O cronista <strong>de</strong>screve a<br />
recepção da embaixada lusitana pelo rei congolês, usan<strong>do</strong> termi<strong>no</strong>logia familiar aos<br />
europeus e que pareciam aos observa<strong>do</strong>res aplicáveis à realida<strong>de</strong> com que se<br />
<strong>de</strong>paravam pela primeira vez. Assim, o Mani <strong>Congo</strong> e os chefes que o cercavam<br />
foram imediatamente i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s como o rei e sua corte; os <strong>no</strong>bres congoleses<br />
associa<strong>do</strong>s aos fidalgos portugueses e os cargos administrativos e ho<strong>no</strong>ríficos foram<br />
chama<strong>do</strong>s pelos equivalentes europeus.<br />
Conforme as <strong>de</strong>scrições <strong>do</strong> evento, o Rei or<strong>de</strong><strong>no</strong>u que to<strong>do</strong>s os fidalgos e<br />
toda a sua Corte saíssem com arcos, lanças, trombas, timbales e muitos outros<br />
instrumentos que eles usavam, e quan<strong>do</strong> os cristãos a<strong>de</strong>ntraram a capital, foram<br />
recebi<strong>do</strong>s com gran<strong>de</strong>s estron<strong>do</strong>s e logo hospeda<strong>do</strong>s em umas “casas gran<strong>de</strong>s<br />
honradas e <strong>no</strong>vas” providas em tu<strong>do</strong> <strong>do</strong> que pera eles compria. E chegaram ante El-<br />
Rei “que estava em um terreiro <strong>de</strong> seus paços”, acompanha<strong>do</strong> <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> multidão e<br />
posto em um estra<strong>do</strong> rico ao seu mo<strong>do</strong>, nu da cinta pera cima, com uma carapuça <strong>de</strong><br />
pa<strong>no</strong> <strong>de</strong> palma lavrada e muito alta, posta na cabeça, ao ombro um rabo <strong>de</strong> cavalo<br />
guarneci<strong>do</strong> <strong>de</strong> prata, da cinta para baixo coberto com uns pa<strong>no</strong>s <strong>de</strong> damasco<br />
presenta<strong>do</strong>s por El-Rei <strong>de</strong> Portugal e <strong>no</strong> braço esquer<strong>do</strong> um bracelete <strong>de</strong> marfim 7 .<br />
Enquanto isso as pessoas festejavam, levantan<strong>do</strong> as mãos em direção ao mar e<br />
gritan<strong>do</strong> em louvor a <strong>de</strong>us e ao rei lusita<strong>no</strong>, ou pelo me<strong>no</strong>s assim o enten<strong>de</strong>ram<br />
aqueles que <strong>de</strong>ixaram registro <strong>do</strong> dia. Foram inicia<strong>do</strong>s os trabalhos <strong>de</strong> construção <strong>de</strong><br />
uma igreja, que seria consagrada à Virgem Maria e <strong>de</strong>moraria um a<strong>no</strong> para ser<br />
levantada. Enquanto isso os clérigos iam falar ao rei sobre as “maravilhosas obras <strong>de</strong><br />
Deus, para que, com sua agradável conversação, o conduzissem ainda mais à fé <strong>de</strong><br />
Cristo” 8 . Este não mais quis esperar pelas maravilhas <strong>do</strong> batismo e pediu para ser<br />
batiza<strong>do</strong> imediatamente, <strong>no</strong> que foi atendi<strong>do</strong>. Preparou-se um cômo<strong>do</strong>, <strong>de</strong> uma casa<br />
escolhida, ergueram-se altares, acen<strong>de</strong>ram-se tochas e velas, prepararam-se bacias<br />
cheias d’água, e aí o mani <strong>Congo</strong> foi batiza<strong>do</strong>, toman<strong>do</strong> o <strong>no</strong>me <strong>do</strong> rei <strong>de</strong> Portugal e<br />
os outros fidalgos, <strong>no</strong>mes <strong>de</strong> fidalgos da “Casa d’El-Rei <strong>de</strong> Portugal”, seguin<strong>do</strong> na<br />
linha analógica pre<strong>do</strong>minante <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o começo das relações entre os <strong>do</strong>is povos.<br />
O embaixa<strong>do</strong>r português foi, enfim, fartamente presentea<strong>do</strong> e <strong>de</strong>ixou <strong>no</strong><br />
<strong>Congo</strong> quatro clérigos, os ornamentos da igreja usa<strong>do</strong>s <strong>no</strong>s cultos e “um negro que<br />
conhecia as duas línguas e que, igualmente, era experimenta<strong>do</strong> nas letras <strong>de</strong> uma e da<br />
outra língua, negro que começou a ensinar a muitos fidalgos e a seus filhos e a<br />
muitos homens honra<strong>do</strong>s e virtuosos” 9 .<br />
I<strong>de</strong>almente a igreja <strong>de</strong>veria servir <strong>de</strong> posto avança<strong>do</strong> <strong>no</strong> percurso da expansão<br />
portuguesa. O retor<strong>no</strong> da expedição lusitana seguiu com uma embaixada <strong>do</strong> mani<br />
7 - I<strong>de</strong>m, p.145.<br />
8 - I<strong>de</strong>m, p.121.<br />
9 - I<strong>de</strong>m, p.129.
<strong>Congo</strong> agra<strong>de</strong>cen<strong>do</strong> os presentes e favores recebi<strong>do</strong>s, comunican<strong>do</strong> seu batismo e<br />
intenção <strong>de</strong> multiplicar os conversos (para o que pedia mais padres), oferecen<strong>do</strong>-se<br />
como súdito em troca <strong>do</strong> apoio militar recebi<strong>do</strong> e finalmente expressan<strong>do</strong> sua<br />
intenção <strong>de</strong> enviar um embaixa<strong>do</strong>r diretamente a Roma, a mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> prestar obediência<br />
ao chefe maior da Igreja, mas <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong> claro que <strong>de</strong>via a sua fé à ação <strong>do</strong> rei <strong>de</strong><br />
Portugal. E, com efeito, entreven<strong>do</strong> boas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comércio com o rei<strong>no</strong> <strong>do</strong><br />
<strong>Congo</strong> e da expansão <strong>do</strong> catolicismo - as duas faces inseparáveis da expansão<br />
ultramarina lusitana -, Portugal iniciou então uma intensa relação comercial com o<br />
rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> Mani <strong>Congo</strong> capitaneada pela difusão da fé cristã.<br />
Morto D.João I <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, e após uma luta sucessória e fratricida na qual não<br />
faltaram tentativas, da parte <strong>de</strong> algumas facções <strong>no</strong>bres, em remover o cristianismo<br />
<strong>de</strong> que haviam si<strong>do</strong> excluí<strong>do</strong>s, ascen<strong>de</strong>u ao tro<strong>no</strong> D.Afonso I, o mais importante rei<br />
da história luso-congolesa, chefe político e espiritual da catolização <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> <strong>do</strong><br />
<strong>Congo</strong>. Isto porque, na verda<strong>de</strong>, seu pai, D.João I, não obstante converti<strong>do</strong>, logo<br />
aban<strong>do</strong>naria o cristianismo, pressiona<strong>do</strong> por setores da <strong>no</strong>breza que não aceitavam a<br />
<strong>no</strong>va religião. Para eles, ela não se mostrou eficaz contra os infortúnios que então<br />
assolavam o rei<strong>no</strong>. Além disso, o rei e os <strong>no</strong>bres resistiam a aceitar a mo<strong>no</strong>gamia<br />
imposta pelos padres, um <strong>do</strong>s temas mais polêmicos na aceitação da <strong>no</strong>va religião,<br />
uma vez que a extensão da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong>s tecida pelos casamentos era peça<br />
fundamental nas relações <strong>de</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> tradicionais.<br />
Com a morte <strong>de</strong> João I e a <strong>de</strong>flagração da luta sucessória, subiu ao tro<strong>no</strong> um<br />
outro filho seu que não seguia os preceitos <strong>do</strong> cristianismo, apoia<strong>do</strong> pelos <strong>no</strong>bres<br />
<strong>de</strong>fensores das tradições congolesas. Mas Afonso conquistou o tro<strong>no</strong> <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> lutas<br />
com seu irmão e rei<strong>no</strong>u por trinta e sete a<strong>no</strong>s, <strong>de</strong> 1506 a 1543, sen<strong>do</strong> as bases <strong>do</strong><br />
cristianismo <strong>no</strong> <strong>Congo</strong> estabelecidas em seu reina<strong>do</strong>. Era profundamente <strong>de</strong>dica<strong>do</strong> ao<br />
catolicismo, impressionan<strong>do</strong> os missionários com o seu saber e com a sua<br />
<strong>de</strong>dicação aos estu<strong>do</strong>s 10 . Seu filho Henrique chegou a ser consagra<strong>do</strong> bispo (1518-<br />
1531), o que não foi visto com bons olhos pelo clero e pela coroa portuguesa, pois<br />
<strong>de</strong>ssa forma diminuía o controle exerci<strong>do</strong> pelo Esta<strong>do</strong> por meio <strong>do</strong> mo<strong>no</strong>pólio da<br />
religião.<br />
Mas não foi apenas o cristianismo que floresceu sob o reina<strong>do</strong> <strong>de</strong> Afonso I.<br />
Antes <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>, D.Afonso promoveu um autêntico “aportuguesamento” das<br />
instituições políticas <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>, em consonância com D.Manuel, rei <strong>de</strong> Portugal, que a<br />
isto o estimulou. Assim, a justiça <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> passou a se guiar pela <strong>no</strong>rmas<br />
portuguesas, a partir da embaixada <strong>de</strong> Simão da Silva, porta<strong>do</strong>r <strong>do</strong> Regimento <strong>de</strong><br />
1512, e os antigos chefes <strong>de</strong> linhagem das províncias passaram a intitular-<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
con<strong>de</strong>s, marqueses, duques. Trata-se <strong>de</strong> matéria riquíssima que não temos condições<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver aqui, mas vale o registro <strong>de</strong> que, sob a inspiração política e<br />
institucional portuguesa, o Esta<strong>do</strong> congolês foi per<strong>de</strong>n<strong>do</strong> as características<br />
tradicionais <strong>de</strong> confe<strong>de</strong>ração ou chefatura pluritribal para assumir, ainda que <strong>no</strong> pla<strong>no</strong><br />
das instituições e da etiqueta política, aspectos da monarquia oci<strong>de</strong>ntal,<br />
centralizan<strong>do</strong>-se mais nitidamente - traço que sobreviveria ao reina<strong>do</strong> <strong>de</strong> Afonso I,<br />
10 - John Thornton. “The Development of an African Catholic Church in the King<strong>do</strong>m of Kongo, 1491-1750”,<br />
Journal of African History, n.25, 1984, p.155.
perduran<strong>do</strong> até o século XVIII, não obstante as dilacerantes crises políticas que o<br />
rei<strong>no</strong> atravessou <strong>no</strong> século XVII.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, Afonso I recebeu gran<strong>de</strong> ajuda <strong>do</strong>s portugueses para<br />
incrementar o comércio <strong>de</strong> cobre extraí<strong>do</strong> em regiões ao <strong>no</strong>rte <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> que,<br />
trazi<strong>do</strong> para a capital , tor<strong>no</strong>u-se um meio valioso com o qual o rei podia adquirir<br />
merca<strong>do</strong>rias européias. Essas importações e o incremento <strong>no</strong> comércio, ao aumentar<br />
a riqueza <strong>do</strong> rei, permitiram assegurar a lealda<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>no</strong>bres importantes, construin<strong>do</strong><br />
a base <strong>de</strong> um longo e memorável reina<strong>do</strong>. Também o comércio <strong>de</strong> escravos com os<br />
portugueses, em fase inicial <strong>de</strong> implantação, tor<strong>no</strong>u-se mo<strong>no</strong>pólio real com re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
comércio que chegavam a São Tomé, o centro <strong>de</strong> to<strong>do</strong> <strong>tráfico</strong> da África oci<strong>de</strong>ntal, e<br />
até mesmo ao Benin 11 .<br />
Quan<strong>do</strong> o comércio <strong>de</strong> pessoas fugiu <strong>do</strong> controle <strong>do</strong> rei, com merca<strong>do</strong>res<br />
<strong>de</strong>srespeitan<strong>do</strong> as rotas estabelecidas e o mo<strong>no</strong>pólio real, Afonso I escreveu ao rei<br />
português reclaman<strong>do</strong> que até mesmo <strong>no</strong>bres congoleses estavam sen<strong>do</strong> captura<strong>do</strong>s<br />
em guerras interprovinciais para serem vendi<strong>do</strong>s como escravos. O comércio <strong>de</strong><br />
escravos era antigo naquela região, mas as regras tradicionais estavam sen<strong>do</strong><br />
violadas. Não apenas prisioneiros <strong>de</strong> guerra ou pessoas endividadas estavam sen<strong>do</strong><br />
negociadas, mas as rotas tradicionais, controladas pelos chefes locais, estavam sen<strong>do</strong><br />
ig<strong>no</strong>radas em prol <strong>de</strong> <strong>no</strong>vos caminhos que burlavam o controle real. Tu<strong>do</strong> isso<br />
ameaçava o <strong>po<strong>de</strong>r</strong> real com a evasão <strong>de</strong> tributos que lhe seriam <strong>de</strong>vi<strong>do</strong>s pelos<br />
privilégios tradicionais e o enriquecimento <strong>de</strong> chefes e comerciantes abalava as<br />
bases <strong>de</strong> seu <strong>po<strong>de</strong>r</strong>. Soman<strong>do</strong>-se a isso, a região <strong>do</strong> N<strong>do</strong>ngo (futura Angola),<br />
começava a atrair o interesse <strong>do</strong>s comerciantes portugueses que buscavam<br />
justamente fugir aos mo<strong>no</strong>pólios existentes <strong>no</strong> <strong>Congo</strong>, concorren<strong>do</strong> com o <strong>tráfico</strong><br />
<strong>de</strong> escravos controla<strong>do</strong> pelo rei congolês e pelos comerciantes autoriza<strong>do</strong>s pelo rei<br />
lusita<strong>no</strong>.<br />
De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, quan<strong>do</strong> os portugueses chegaram à foz <strong>do</strong> Zaire, o <strong>Congo</strong>,<br />
assim como outros rei<strong>no</strong>s da região, estava em processo <strong>de</strong> franca expansão, como<br />
os registros <strong>de</strong> guerras frequentes atestam. A escravização das populações<br />
conquistadas permitia aos reis ampliar sua riqueza pessoal assim como fortalecer<br />
exércitos e o corpo administrativo composto por <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes diretos, além <strong>de</strong><br />
aumentar o volume <strong>de</strong> tributos recebi<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s territórios ocupa<strong>do</strong>s. Assim, a<br />
expansão permitia o acúmulo <strong>de</strong> riqueza e um reforço da centralização política.<br />
Quan<strong>do</strong> os portugueses chegaram àquela parte da África, portanto, não só<br />
encontraram uma gran<strong>de</strong> população cativa, como as condições necessárias para<br />
sustentar um amplo merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> escravos, <strong>no</strong> qual havia espaço para os estrangeiros<br />
recém-chega<strong>do</strong>s. No caso congolês, o próprio processo <strong>de</strong> centralização e<br />
fortalecimento das cida<strong>de</strong>s frente às al<strong>de</strong>ias estava basea<strong>do</strong> na crescente existência<br />
<strong>de</strong> escravos, concentra<strong>do</strong>s principalmente em mbanza Kongo, cujo trabalho era<br />
apropria<strong>do</strong> pelos membros das linhagens <strong>no</strong>bres que, assim, incrementavam sua<br />
riqueza, seu <strong>po<strong>de</strong>r</strong>, seus sinais <strong>de</strong> status. Não só <strong>no</strong> <strong>Congo</strong>, mas em vários esta<strong>do</strong>s da<br />
11 - Wyatt MacGaffey. “Dialogues of the <strong>de</strong>af: europeans on the Atlantic coast of Africa”. In: Stuart<br />
Schwartz, (org). Implicit Un<strong>de</strong>rstandings. Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p.259; Kenny<br />
Mann. Kongo, N<strong>do</strong>ngo, West Central Africa. New Jersey, Dillon Press, 1996, pp.51-53.
África centro-oci<strong>de</strong>ntal os escravos eram resulta<strong>do</strong> das guerras <strong>de</strong> expansão, sen<strong>do</strong><br />
fundamentais na centralização e reforço das lealda<strong>de</strong>s 12 .<br />
Afonso I rei<strong>no</strong>u nesse perío<strong>do</strong>, e apesar <strong>do</strong>s problemas que seu reina<strong>do</strong><br />
enfrentou, expandiu as fronteiras <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>, fortaleceu a centralização <strong>do</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> real,<br />
<strong>de</strong>senvolveu a capital, dissemi<strong>no</strong>u o cristianismo e a educação formal, valorizan<strong>do</strong><br />
sobremo<strong>do</strong> a leitura e a escrita. Não seria exagero ver em seu reina<strong>do</strong>, sobretu<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
ponto <strong>de</strong> vista religioso e político-institucional, o processo que Serge Gruzinski<br />
chamou <strong>de</strong> oci<strong>de</strong>ntalização, estudan<strong>do</strong> o México na mesma época 13 . Lembra<strong>do</strong> até<br />
hoje como o mais <strong>po<strong>de</strong>r</strong>oso rei da história <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, Afonso I, esse <strong>de</strong>fensor<br />
implacável da fé cristã, assemelha-se em muitos aspectos ao i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> rei missionário<br />
e cruza<strong>do</strong>, rei que combate os infiéis com a ajuda <strong>de</strong> forças divinas, amplia e<br />
consolida as fronteiras da cristanda<strong>de</strong>. As bases <strong>do</strong> catolicismo congolês fincaram<br />
raízes profundas <strong>no</strong> seu reina<strong>do</strong>, que se prolongou até quase mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XVI.<br />
Catolicismo que, não obstante, foi incapaz <strong>de</strong> remover por completo as tradições<br />
religiosas locais, <strong>do</strong> que resultou um complexo religioso original, híbri<strong>do</strong>, a um só<br />
<strong>tempo</strong> católico e banto.<br />
Crise congolesa: Mbwila e a fragmentação política<br />
As relações luso-congolesas estabelecidas <strong>no</strong> reina<strong>do</strong> <strong>de</strong> Afonso I<br />
entraram em lento mas progresivo colapso a partir da segunda meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVI<br />
e, sobretu<strong>do</strong> <strong>no</strong> século XVII, após a morte <strong>de</strong> Álvaro II, em 1614. Na verda<strong>de</strong>, não<br />
obstante a retórica da Coroa portuguesa <strong>de</strong> que o rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> não era vassalo <strong>de</strong><br />
Portugal, senão um “irmão em armas <strong>de</strong> seus reis”, como <strong>de</strong>le disse D.João IV, o<br />
fato é que Portugal sempre viu <strong>no</strong> <strong>Congo</strong> uma possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expandir a fé católica<br />
e garantir o <strong>tráfico</strong> <strong>de</strong> escravos em partes d’África. Portugal aten<strong>de</strong>u muito pouco às<br />
reivindicações <strong>do</strong>s monarcas congoleses, como se percebe na correspondência entre<br />
as duas Coroas <strong>no</strong> perío<strong>do</strong>, e acabaria <strong>de</strong>slocan<strong>do</strong> seus interesses <strong>no</strong> <strong>tráfico</strong> para<br />
Angola.<br />
A <strong>de</strong>terioração das relações luso-congolesas só fez crescer <strong>no</strong> século<br />
XVII, a ponto <strong>de</strong>, <strong>no</strong> reina<strong>do</strong> <strong>de</strong> Garcia Afonso II (1641-1663), o <strong>Congo</strong> ter se<br />
aproxima<strong>do</strong> <strong>do</strong>s holan<strong>de</strong>ses, que haviam toma<strong>do</strong> Luanda a<strong>no</strong>s antes. Garcia II<br />
<strong>de</strong>senvolveu, na verda<strong>de</strong>, uma política ambígua, cortejan<strong>do</strong> e <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong>-se cortejar<br />
pelos batavos, porém, recusan<strong>do</strong> a pressão holan<strong>de</strong>sa para aban<strong>do</strong>nar o catolicismo<br />
roma<strong>no</strong>. Desaten<strong>de</strong>u, por outro la<strong>do</strong>, as exigências <strong>do</strong> padroa<strong>do</strong> da Coroa Portuguesa,<br />
admitin<strong>do</strong> <strong>no</strong> rei<strong>no</strong> capuchinhos italia<strong>no</strong>s e espanhóis, embora tenha ratifica<strong>do</strong> um<br />
trata<strong>do</strong> que garantia importantes concessões territoriais a Portugal na vizinha<br />
Angola 14 .<br />
12 - John Thornton. Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1680, Chicago, The<br />
University of Chicago Press, p.108-109.<br />
13 - Serge Gruzinski, . La colonisation <strong>de</strong> l’imaginaire - l’ occi<strong>de</strong>ntalisation dans le Méxique. Paris,<br />
Gallimard, 1988.<br />
14 - Charles Boxer. Salva<strong>do</strong>r <strong>de</strong> Sá e a luta pelo Brasil e Angola. São Paulo, Companhia Editora Nacional,<br />
1973, pp.287 e segs.
Apesar das cautelas <strong>de</strong> parte a parte, <strong>Congo</strong> e Portugal seguiriam<br />
<strong>do</strong>ravante caminhos distintos, quan<strong>do</strong> não opostos, até o frontal embate <strong>de</strong> 1665.<br />
Referimo-<strong>no</strong>s à batalha <strong>de</strong> Mbwila (Ambuíla), quan<strong>do</strong> os congoleses foram<br />
<strong>de</strong>rrota<strong>do</strong>s pelos portugueses, seguin<strong>do</strong>-se um perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> guerras internas ligadas à<br />
sucessão real. Portugueses e congoleses enfrentaram-se em Mbwila em relativa<br />
igualda<strong>de</strong> numérica, mas, enquanto o exércio congolês era forma<strong>do</strong> principalmente<br />
por camponeses recruta<strong>do</strong>s, o exército português era composto em sua maioria por<br />
guerreiros imbangalas (jagas), povo cria<strong>do</strong> na tradição guerreira. A guerra ocorreu<br />
em tor<strong>no</strong> a uma disputa sucessória em Mbwila, importante região <strong>do</strong> N<strong>de</strong>mbo,<br />
estan<strong>do</strong> os portugueses interessa<strong>do</strong>s em controlar o território que seria passagem<br />
para as cobiçadas minas <strong>de</strong> ouro e prata. Na batalha morreram milhares <strong>de</strong><br />
congoleses, muitíssimos <strong>no</strong>bres e o rei Antonio I teve sua cabeça cortada e enterrada<br />
em Luanda, enquanto sua coroa e seu cetro, emblemas reais, foram remeti<strong>do</strong>s a<br />
Lisboa à guisa <strong>de</strong> troféus. Junto com o rei, haviam morri<strong>do</strong> os principais candidatos<br />
ao tro<strong>no</strong>, abrin<strong>do</strong>-se então um complica<strong>do</strong> processo sucessório que fortaleceu a<br />
posição <strong>de</strong> Nsoyo. Depois da batalha, São Salva<strong>do</strong>r (mbanza <strong>Congo</strong>) foi à ruína com<br />
as linhagens <strong>no</strong>bres fugin<strong>do</strong> das guerras sucessórias para outras províncias.<br />
De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, a maioria <strong>do</strong>s autores que se <strong>de</strong>tiveram na história congolesa<br />
<strong>de</strong>ste perío<strong>do</strong> atribuem a <strong>de</strong>sestruturação <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> a causas externas, localizan<strong>do</strong> <strong>no</strong><br />
aumento <strong>do</strong> número <strong>de</strong> escravos trafica<strong>do</strong>s, na intensificação das guerras regionais e<br />
na alteração <strong>do</strong> equilíbrio entre os <strong>po<strong>de</strong>r</strong>es tradicionais os principais motivos das<br />
guerras civis que assolaram o <strong>Congo</strong> até o início <strong>do</strong> século XVIII. John Thornton é <strong>de</strong><br />
opinião diferente, <strong>de</strong>svendan<strong>do</strong> os mecanismos inter<strong>no</strong>s que levaram às guerras civis<br />
e ao longo perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> lutas sucessórias após a <strong>de</strong>rrota <strong>de</strong> Mbwila. Com o<br />
enriquecimento das linhagens governantes <strong>do</strong> Nsoyo, não só <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> ao gran<strong>de</strong><br />
aumento <strong>do</strong> comércio que passava por Mpinda, seu porto, mas principalmente com o<br />
aumento da riqueza produzida na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> à concentração <strong>de</strong> escravos e<br />
tributos, surgiu uma alternativa <strong>de</strong> aliança entre as linhagens em disputa, que não<br />
<strong>de</strong>pendiam mais apenas da linhagem então reinante. No seu enten<strong>de</strong>r, o <strong>po<strong>de</strong>r</strong><br />
centraliza<strong>do</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> foi <strong>de</strong>struí<strong>do</strong> pelas rivalida<strong>de</strong>s entre Nsoyo e São Salva<strong>do</strong>r -<br />
agudizadas <strong>no</strong> “perío<strong>do</strong> holandês” - , pela <strong>de</strong>rrota em Mbwila e pelas lutas entre as<br />
linhagens <strong>no</strong>bres.<br />
Depois <strong>de</strong> Mbwila, toda a <strong>no</strong>breza transferiu-se para as províncias, que se<br />
tornaram mais autô<strong>no</strong>mas e passaram a escolher seus administra<strong>do</strong>res,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>do</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> central, pelo qual, <strong>no</strong> entanto, a disputa era constante.<br />
Cada chefe local cercou-se <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong> auxiliares, reproduzin<strong>do</strong> nas provínicias a<br />
estrutura da corte real e escolhen<strong>do</strong> seu sucessor. As rivalida<strong>de</strong>s entre as linhagens<br />
provocaram guerras permanentes que empobreceram a população em consequência<br />
<strong>de</strong> recrutamentos força<strong>do</strong>s, <strong>de</strong>struição <strong>de</strong> plantações e escravização <strong>do</strong>s <strong>de</strong>rrota<strong>do</strong>s,<br />
vendi<strong>do</strong>s para os comerciantes <strong>de</strong> Luanda ou para a Loango <strong>do</strong>s merca<strong>do</strong>res. Nsoyo, a<br />
mais forte província, cuja capital teve a população <strong>do</strong>brada entre 1645 e 1700,<br />
quan<strong>do</strong> contava com cerca <strong>de</strong> 30.000 habitantes, <strong>de</strong>senvolveu-se muito nesse<br />
perío<strong>do</strong>, benefician<strong>do</strong>-se <strong>do</strong>s escravos trazi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> São Salva<strong>do</strong>r, em ruínas. A<br />
intenção <strong>de</strong> Nsoyo era manter um rei fantoche <strong>no</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong>, servin<strong>do</strong> aos interesses da<br />
<strong>no</strong>breza local, e, para tal, apoiava algum preten<strong>de</strong>nte ao tro<strong>no</strong> o suficiente para lá<br />
colocá-lo, mas não o suficiente para que se fortalecesse <strong>no</strong> cargo.
No entanto, a crise política, qualificada por alguns como verda<strong>de</strong>ira<br />
“anarquia”, tomou conta <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> congolês. Entre 1665 e 1694, houve nada me<strong>no</strong>s<br />
<strong>do</strong> que 14 preten<strong>de</strong>ntes à coroa <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>, alguns com sucesso, outros nem tanto, e<br />
muitos <strong>de</strong>les assassina<strong>do</strong>s. No final <strong>do</strong>s seiscentos, o <strong>Congo</strong> possuía três reis, sen<strong>do</strong><br />
D.Pedro IV o mais <strong>po<strong>de</strong>r</strong>oso <strong>de</strong>les, aparentemente, e talvez o único capaz <strong>de</strong> levar<br />
adiante um projeto <strong>de</strong> reunificação congolês.<br />
Kimpa Vita e a ressurreição imaginária<br />
Foi neste contexto <strong>de</strong> crise e fragmentação que irrompeu o antonianismo,<br />
movimento que, seja em termos religiosos ou políticos, fornece-<strong>no</strong>s importantes<br />
pistas para compreen<strong>de</strong>r as complexas relações entre catolicismo e monarquia na<br />
África banto.<br />
A funda<strong>do</strong>ra da “seita” foi a jovem aristocrata Kimpa Vita, nascida <strong>de</strong> família<br />
<strong>no</strong>bre congolesa na década <strong>de</strong> 1680, batizada Dona Beatriz, mulher que fora<br />
sacer<strong>do</strong>tisa <strong>do</strong> culto <strong>de</strong> Marinda (nganga marinda), embora educada <strong>no</strong> catolicismo.<br />
Kimpa Vita contava entre 18 e 20 a<strong>no</strong>s quan<strong>do</strong>, cerca <strong>de</strong> 1702-1703, acometida <strong>de</strong><br />
forte <strong>do</strong>ença, disse ter faleci<strong>do</strong> e <strong>de</strong>pois ressucita<strong>do</strong> como Santo Antônio. E seria<br />
como Santo Antônio que Kimpa Vita pregaria às multidões <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> - daí o<br />
movimento ter fica<strong>do</strong> conheci<strong>do</strong> como antonianismo -, seguin<strong>do</strong> o rastro <strong>de</strong> outras<br />
várias profetisas que lhe prece<strong>de</strong>ram na mesma tarefa, como a Mafuta, em meio à<br />
crise que assolava o rei<strong>no</strong>.<br />
A pregação <strong>de</strong> Kimpa Vita possuía forte co<strong>no</strong>tação política. Preconizava o<br />
retor<strong>no</strong> da capital a São Salva<strong>do</strong>r e a reunificação <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>, chegan<strong>do</strong> mesmo a<br />
envolver-se nas lutas facciosas da época. Melhor exemplo disso ocorreu quan<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
sua chegada a São Salva<strong>do</strong>r, on<strong>de</strong> encontrou Pedro Constanti<strong>no</strong> da Silva, <strong>no</strong>bre<br />
militar envia<strong>do</strong> por D.Pedro IV, a quem proclamou “Rei <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>” em troca <strong>de</strong> sua<br />
a<strong>de</strong>são ao antonianismo. Assegurou-se ainda, por meio <strong>de</strong> vários acor<strong>do</strong>s, da aliança<br />
<strong>de</strong> famílias <strong>no</strong>bres adversárias <strong>de</strong> D.Pedro, a exemplo <strong>do</strong>s grupos <strong>de</strong> Kimpanzu,<br />
especialmente da família Nóbrega, enraízada <strong>no</strong> sul da província <strong>de</strong> Nsoyo.<br />
As alianças estabelecidas por Kimpa Vita, metamorfoseada em Santo Antônio,<br />
não eram porém resulta<strong>do</strong> <strong>de</strong> mero cálculo político. Ancoravam-se numa<br />
cosmologia complexa e peculiar que, se formos resumir em poucas palavras, vale<br />
seguir o que disse Ch.Boxer sobre o movimento: “uma modalida<strong>de</strong> remo<strong>de</strong>lada e<br />
completamente africanizada <strong>do</strong> cristianismo” 15 .<br />
Com efeito, o movimento antonia<strong>no</strong> confirma, antes <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>, o êxito <strong>do</strong><br />
processo <strong>de</strong> catolização <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> inaugura<strong>do</strong> <strong>no</strong> século XV e cristaliza<strong>do</strong> sob o<br />
reina<strong>do</strong> <strong>de</strong> Afonso I na primeira meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século XVI. O Deus <strong>do</strong>s antonia<strong>no</strong>s era,<br />
sem dúvida, o Deus cristão, o Deus <strong>do</strong>s missionários, com o qual Kimpa Vita dizia<br />
jantar todas as sextas-feiras, após “morrer”, para “ressucitar” <strong>no</strong> dia seguinte. Santo<br />
Antônio, por outro la<strong>do</strong>, santo mui valoriza<strong>do</strong> na missionação realizada <strong>no</strong> <strong>Congo</strong>,<br />
era a persona assumida pela profetisa, por ela chama<strong>do</strong> <strong>de</strong> “segun<strong>do</strong> Deus”.<br />
Africanizan<strong>do</strong> o catolicismo, “a Santo Antônio congolesa” dizia que Cristo nascera<br />
em São Salva<strong>do</strong>r, a verda<strong>de</strong>ira Belém, e recebera o batismo em Nsundi, a verda<strong>de</strong>ira<br />
15 - Charles Boxer. A Igreja e a expansão ibérica. Lisboa, Edições 70, 1981, p.132.
Nazareth. Afirmava ainda que a Virgem Santíssima era negra, filha <strong>de</strong> uma escrava ou<br />
criada <strong>do</strong> Marquês <strong>de</strong> Nzimba Npanghi e que São Francisco pertencia ao clã <strong>do</strong><br />
Marquês <strong>de</strong> Vunda.<br />
O catolicismo <strong>do</strong> movimento antonia<strong>no</strong> era, portanto, muitíssimo original,<br />
implican<strong>do</strong> uma leitura banto ou bakongo da mensagem cristã. Mo<strong>de</strong>lava-se, em<br />
vários aspectos, na ação pedagógica <strong>do</strong>s missionários, mas con<strong>de</strong>nava o clero<br />
oficial, sobretu<strong>do</strong> os missionários estrangeiros, aos quais acusava <strong>de</strong> “haverem<br />
mo<strong>no</strong>poliza<strong>do</strong> a revelação e o segre<strong>do</strong> das riquezas para exclusiva vantagem <strong>do</strong>s<br />
brancos” em prejuízo <strong>do</strong>s “santos negros”. Rejeitou, igualmente, boa parte <strong>do</strong>s<br />
sacramentos católicos: o batismo, a confissão, o matrimônio, ao me<strong>no</strong>s <strong>no</strong> tocante à<br />
liturgia e aos significa<strong>do</strong>s oficiais, abrin<strong>do</strong> caminho, <strong>no</strong> caso <strong>do</strong> matrimônio, para a<br />
restauração legitimada da poligamia. Adaptou, ainda, certas orações católicas, a<br />
exemplo da Ave -Maria e sobretu<strong>do</strong> <strong>do</strong> Salve Rainha. Proibiu, ainda, a veneração da<br />
cruz, esse gran<strong>de</strong> nkisi católico-bakongo, em razão <strong>de</strong> ter ela si<strong>do</strong> o instrumento da<br />
morte <strong>de</strong> Cristo.<br />
Kimpa Vita prometia a to<strong>do</strong>s os que a<strong>de</strong>rissem à sua pregação uma próxima<br />
“ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ouro”, e não apenas <strong>no</strong> senti<strong>do</strong> figura<strong>do</strong>, pois dizia que as raízes das<br />
árvores <strong>de</strong>rrubadas converter-se-iam em ouro e prata e que das ruínas das cida<strong>de</strong>s<br />
surgiriam minas <strong>de</strong> pedras preciosas. Prometia, ainda, tornar fecundas as mulheres<br />
estéreis e outras mil bem-aventuranças, granjean<strong>do</strong> imenso apoio popular. Não se<br />
escusava, porém, <strong>de</strong> ameaçar os reticentes com as piores penas, incluin<strong>do</strong> a <strong>de</strong><br />
transformá-los em animais. Organizou para tanto uma verda<strong>de</strong>ira igreja antoniana, um<br />
clero, on<strong>de</strong> pontificavam outros santos, como São João, e uma plêia<strong>de</strong> <strong>de</strong> sacer<strong>do</strong>tes<br />
<strong>de</strong><strong>no</strong>minada <strong>de</strong> “os antoninhos” que saíam a pregar a excelência da <strong>no</strong>va igreja e o<br />
<strong>po<strong>de</strong>r</strong> taumatúrgico e apostólico “da Santo Antônio” que a chefiava.<br />
Kimpa Vita <strong>de</strong>spertou obviamente a ira <strong>do</strong>s missionários capuchinhos e das<br />
facções <strong>no</strong>bres adversárias <strong>do</strong> antonianismo e postulantes <strong>do</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> real. O próprio<br />
D.Pedro IV, <strong>de</strong> início cauteloso e hesitante em reprimir o movimento, termi<strong>no</strong>u por<br />
ce<strong>de</strong>r às pressões <strong>do</strong>s capuchinhos italia<strong>no</strong>s, or<strong>de</strong>nan<strong>do</strong> a prisão da profetisa e <strong>de</strong><br />
São João, “o anjo da guarda” da profetisa que os fra<strong>de</strong>s diziam ser seu amante. O<br />
estopim ou pretexto que levou à prisão <strong>de</strong> Kimpa Vita teria si<strong>do</strong> a acusação <strong>de</strong> que<br />
tinha um filho recém-nasci<strong>do</strong>, cujo choro teria si<strong>do</strong> ouvi<strong>do</strong> enquanto ela o<br />
amamentava em segre<strong>do</strong>, <strong>do</strong> que resultara o seu <strong>de</strong>smascaramento como “falso Santo<br />
Antônio”. Kimpa Vita foi presa, arguida pelo capuchinho Bernar<strong>do</strong> Gallo 16 e<br />
con<strong>de</strong>nada a morrer na fogueira como herege <strong>do</strong> catolicismo. A sentença foi<br />
executada em 1708 e na fogueira ar<strong>de</strong>ram Kimpa Vita e seu “anjo da guarda” - o<br />
Santo Antônio e o São João <strong>do</strong> catolicismo congolês.<br />
Significa<strong>do</strong>s <strong>do</strong> antonianismo<br />
O movimento <strong>do</strong>s antonia<strong>no</strong>s tem si<strong>do</strong> tema <strong>do</strong>s mais polêmicos na<br />
historiografia acerca <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, especialmente a partir <strong>do</strong>s a<strong>no</strong>s 1960, <strong>de</strong>bate<br />
16 - A principal fonte para o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> antonianismo é a “Relação” <strong>de</strong> Bernar<strong>do</strong> da Gallo, capuchinho que<br />
arguiu Kimpas Vita <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> presa.. In: Bulletin <strong>de</strong> L’Institut Historique Belge <strong>de</strong> Rome, fasc. XXXIII,<br />
Bruxelles/Rome, 1961.
estimula<strong>do</strong> pelo processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>scolonização da África. O antonianismo foi, <strong>de</strong> um<br />
la<strong>do</strong>, con<strong>de</strong>na<strong>do</strong> por uma certa historiografia oficial portuguesa como heresia<br />
obsecena e diabólica, historiografia que muito espelhava o conserva<strong>do</strong>rismo da Igreja<br />
portuguesa e o próprio colonialismo <strong>do</strong>s <strong>tempo</strong>s <strong>de</strong> Salazar 17 .<br />
No pólo oposto, o antonianismo foi visto como uma espécie <strong>de</strong> movimento<br />
precursor das guerras <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência africanas levadas a cabo <strong>no</strong>s a<strong>no</strong>s 60,<br />
posição obviamente ex<strong>tempo</strong>rânea porque motivada mais pela ban<strong>de</strong>ira da<br />
<strong>de</strong>scolonização <strong>do</strong> que pela contextualização <strong>do</strong> movimento em seu <strong>tempo</strong>. É o caso<br />
<strong>de</strong> Louis Jadin, gran<strong>de</strong> estudioso <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, que, escreven<strong>do</strong> em 1968, caracterizou o<br />
antonianismo como precursor das agitações político-religiosas mo<strong>de</strong>rnas na<br />
África 18 . É também o caso <strong>do</strong> clássico Georges Balandier, que consi<strong>de</strong>rou o<br />
movimento como o primeiro a indicar o caminho, sob forma messiânica, “para o<br />
rei<strong>no</strong> i<strong>de</strong>al da liberda<strong>de</strong>”, isto é, como proto-nacionalismo congolês 19 . E assim<br />
como esses, muitos outros seguiram semelhante linha <strong>de</strong> interpretação, muito<br />
politizada na verda<strong>de</strong>, ainda que tenham da<strong>do</strong> contribuição relevante, inclusive<br />
<strong>do</strong>cumental, para o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> movimento.<br />
Crítica antiga, porém pertinenente a este tipo <strong>de</strong> interpretação, encontrâmo-la<br />
<strong>no</strong> português Eduar<strong>do</strong> <strong>do</strong>s Santos que, escreven<strong>do</strong> em 1970, lembrou que o<br />
antonianismo havia pouco fora <strong>de</strong>scobero <strong>no</strong>s arquivos e que nenhum movimento<br />
libertário congolês sequer conheceu a experiência antoniana <strong>de</strong> séculos atrás. Sugere<br />
que o movimento <strong>de</strong>ve ser interpreta<strong>do</strong> como resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong> tipo <strong>de</strong> missionação<br />
leva<strong>do</strong> a cabo <strong>no</strong> <strong>Congo</strong>, a saber, uma catolização superficial, habituada aos<br />
“batismos <strong>de</strong> carregação” (batismos em massa) e por isso facilmente permeável a<br />
i<strong>no</strong>vações extravagantes 20. Se Eduar<strong>do</strong> <strong>do</strong>s Santos acerta ao criticar os que vêem uma<br />
linha evolutiva entre o antonianismo e a <strong>de</strong>scolonização <strong>do</strong>s a<strong>no</strong>s 60, é contu<strong>do</strong><br />
muito simplista ao atribuir o antonianismo às imperfeições da catequese praticada na<br />
África.<br />
A historiografia mais recente, sobretu<strong>do</strong> a produzida a partir <strong>do</strong>s a<strong>no</strong>s 1980,<br />
trilhou caminhos muito distintos, imprimin<strong>do</strong> leitura histórico-antropológica <strong>no</strong><br />
estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> antonianismo e procuran<strong>do</strong> realçar, antes <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>, os fenôme<strong>no</strong>s <strong>de</strong><br />
hibridismo cultural e a resignificação <strong>do</strong> catolicismo pela cultura banto.<br />
É o caso <strong>de</strong> António Custódio Gonçalves 21 , cuja obra procurou contestar to<strong>do</strong><br />
e qualquer caráter anticolonialista <strong>no</strong> movimento <strong>do</strong>s antonia<strong>no</strong>s. Gonçalves<br />
<strong>de</strong>senvolveu interessante estu<strong>do</strong> sobre a simbolização política <strong>no</strong> rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a chefatura <strong>de</strong> mbanza <strong>Congo</strong> ao movimento antonia<strong>no</strong>, passan<strong>do</strong><br />
evi<strong>de</strong>ntemente pelo processo <strong>de</strong> oci<strong>de</strong>ntalização religiosa e institucional levada a<br />
cabo na região. Nesse senti<strong>do</strong>, o movimento antonia<strong>no</strong> seria, em vários aspectos,<br />
17 - Adalberto <strong>de</strong> Postioma. “A heresia <strong>do</strong> antonianismo”. Portugal em África. Lisboa, v.XIX:378-81, 1962.<br />
18 - Louis Jadin. “Les sectes secrètes au <strong>Congo</strong> (1703-1709)”. Cahiers <strong>de</strong>s Religions Africaines, n.3, v.2:110-<br />
119, 1968.<br />
19 - Georges Balandier. La vie quotidienne au Kongo du XVIème au XVIIème siecle. Paris, Hachette, 1965,<br />
p.268.<br />
20 - Eduar<strong>do</strong> <strong>do</strong>s Santos. “O Antonianismo. Uma página da História <strong>do</strong> Antigo Rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>”. Lisboa,<br />
Studia, ns. 30/31:81-112.<br />
21 - António Custódio Gonçalves. Kongo: le lignage contre l’Etat. Évora, Univ. <strong>de</strong> Évora, 1985.
anti-oci<strong>de</strong>ntal, sem por isso ser anticolonial, embora se tenha realmente apropria<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> inúmeros elementos simbólicos <strong>do</strong> catolicismo, reiventan<strong>do</strong>-os à luz da cultura<br />
Bakongo. Gonçalves compreen<strong>de</strong> o movimento em termos <strong>de</strong> tensão entre<br />
matrilinearida<strong>de</strong> e patrilocalida<strong>de</strong>, entre formalismos tradicionais e <strong>no</strong>vos, ten<strong>de</strong>n<strong>do</strong>,<br />
<strong>no</strong> limite, a pensar o antonianismo como expressão simbólica da crise interna por<br />
que passava o rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> <strong>no</strong>s <strong>tempo</strong>s <strong>de</strong> Kimpa Vita. A profetisa encarnaria,<br />
assim, <strong>no</strong> enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Gonçalves, uma tentativa <strong>de</strong> restaurar as tradições Bakongo em<br />
face das profundas modificações provocadas pela formação <strong>de</strong> um Esta<strong>do</strong> à moda<br />
oci<strong>de</strong>ntal.<br />
Não resta dúvida que António Gonçalves dá contribuição<br />
interessantíssima e original para o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> antonianismo, e <strong>de</strong>la só fornecemos<br />
aqui uma visão superficial. Parece correto <strong>no</strong>sso autor ao <strong>de</strong>scartar a caracterização<br />
anticolonialista que muitos viram <strong>no</strong> antonianismo, especialmente porque, <strong>no</strong> início<br />
<strong>do</strong> século XVIII, o rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> não mais era objeto da cobiça portuguesa (ele<br />
que, na verda<strong>de</strong>, nunca fora colônia propriamente dita) e longe estava <strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar<br />
<strong>no</strong>vas arremetidas européias, fenôme<strong>no</strong> sabidamente posterior, data<strong>do</strong> <strong>do</strong> século<br />
XIX. Des<strong>de</strong> a batalha <strong>de</strong> Mbwila, para não dizer que antes <strong>de</strong>la, os portugueses se<br />
haviam concentra<strong>do</strong> em Angola e <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> só esperavam que não atalhasse seus<br />
interesses <strong>no</strong> <strong>tráfico</strong> <strong>de</strong> cativos através <strong>de</strong> Luanda.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, a caracterização <strong>do</strong> antonianismo como processo <strong>de</strong><br />
luta (restaura<strong>do</strong>ra) da “linhagem contra o Esta<strong>do</strong>” corre o risco <strong>de</strong> simplificar o<br />
significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> movimento ao reduzi-lo, <strong>no</strong> fun<strong>do</strong>, a uma tensão exclusivamente<br />
interna entre as tradições al<strong>de</strong>ãs e as estruturas estatais herdadas <strong>do</strong> reina<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
Afonso I, além <strong>de</strong> priorizar em <strong>de</strong>masia a questão <strong>do</strong> simbolismo político <strong>no</strong> exame<br />
da questão. O problema talvez resida em que, na época <strong>de</strong> Kimpa Vita, nem o Esta<strong>do</strong><br />
congolês era forte como fora <strong>no</strong> século XVI, nem tampouco o antonianismo parece<br />
ter preconiza<strong>do</strong> um “retor<strong>no</strong>” radical às tradições anteriores a 1491. O<br />
antonianismo, vale relembrar, foi um movimento religioso <strong>de</strong> inspiração claramente<br />
católica e sua gran<strong>de</strong> originalida<strong>de</strong> foi “refazer” o lega<strong>do</strong> da evangelização à moda<br />
local, reinventan<strong>do</strong> o catolicismo, <strong>no</strong> limite, como tradição tipicamente congolesa.<br />
Aproprian<strong>do</strong>-se, portanto, das mensagens, liturgias e <strong>do</strong>s méto<strong>do</strong>s missionários<br />
católicos como se fossem patrimônio da cultura Bakongo.<br />
Avanço significativo na interpretação <strong>do</strong> antonianismo vê-se nas<br />
recentes contribuições <strong>do</strong>s <strong>no</strong>rte-america<strong>no</strong>s John Thornton e Wyatt MacGaffey, aos<br />
quais <strong>no</strong>s referimos outras vezes <strong>no</strong> presente artigo, apesar <strong>de</strong> ambos ten<strong>de</strong>rem<br />
sutilmente a relacionar o antonianismo aos movimentos anticolonialistas<br />
posteriores. De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, à semelhança <strong>de</strong> António Gonçalves, Thornton e<br />
MacGaffey são <strong>de</strong> opinião <strong>de</strong> que o antonianismo só po<strong>de</strong> ser compreendi<strong>do</strong> na<br />
longuíssima duração, remeten<strong>do</strong>-se-o ao processo <strong>de</strong> catolização <strong>do</strong> <strong>Congo</strong> <strong>no</strong>s<br />
séculos XV e XVI e a<strong>do</strong>tan<strong>do</strong>-se uma postura et<strong>no</strong>-histórica na investigação.<br />
MacGaffey e Thornton <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m que durante os primeiros 200 a<strong>no</strong>s <strong>de</strong><br />
contato entre congoleses e europeus, houve o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um catolicismo<br />
africa<strong>no</strong> <strong>no</strong> qual os missionários cristãos viam sua própria religião, e as populações<br />
congolesas, a sua tradicional forma <strong>de</strong> reverenciar os <strong>de</strong>uses e <strong>de</strong> relacionar-se com<br />
o além. Diálogo <strong>de</strong> sur<strong>do</strong>s ou reinterpretação <strong>de</strong> mitologias e símbolos a partir <strong>do</strong>s<br />
códigos culturais próprios, a conversão ao cristianismo foi dada como fato pelos
missionários e pela Santa Sé, da mesma forma que a população e os lí<strong>de</strong>res<br />
religiosos locais aceitavam as <strong>no</strong>vas <strong>de</strong>signações e ritos como <strong>no</strong>vas formas <strong>de</strong> lidar<br />
com crenças tradicionais.<br />
No enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> MacGaffey, o acontecimento <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>r da forma como os<br />
congoleses receberam os portugueses e sua religião foi o retor<strong>no</strong> <strong>do</strong>s reféns em<br />
1485. O rei e a corte <strong>de</strong>monstraram e<strong>no</strong>rme alegria com a volta <strong>do</strong>s reféns, “como<br />
se to<strong>do</strong>s fossem mortos e ressucita<strong>do</strong>s”, nas palavras <strong>de</strong> Rui <strong>de</strong> Pina. Diz MacGaffey<br />
que eles certamente foram vistos como sobreviventes <strong>de</strong> uma iniciação excepcional<br />
aos <strong>po<strong>de</strong>r</strong>es <strong>do</strong>s mortos, sen<strong>do</strong> o batismo prometi<strong>do</strong> pelos visitantes uma iniciação<br />
numa <strong>no</strong>va e mais <strong>po<strong>de</strong>r</strong>osa versão <strong>do</strong> culto <strong>do</strong>s espíritos locais 22 . Na cosmogonia<br />
banto, o mun<strong>do</strong> se dividia em <strong>do</strong>is - o <strong>do</strong>s vivos e o <strong>do</strong>s mortos. A comunicação entre<br />
os <strong>do</strong>is mun<strong>do</strong>s era possível por meio <strong>de</strong> ritos executa<strong>do</strong>s por especialistas, lí<strong>de</strong>res<br />
religiosos que <strong>de</strong>tinham o conhecimento mágico requeri<strong>do</strong> para tal contato: os itomi<br />
(plural <strong>de</strong> kitomi ), sacer<strong>do</strong>tes da comunida<strong>de</strong>, responsáveis pela fertilida<strong>de</strong>,<br />
guardiões das relações entre o homem e a natureza e das instituições sociais mais<br />
importantes como a família, além <strong>de</strong> legitimar a or<strong>de</strong>m política ao entronizar o <strong>no</strong>vo<br />
chefe; os nganga, que prestavam serviços priva<strong>do</strong>s e trabalhavam com a ajuda <strong>de</strong><br />
nkisi, objetos mágicos indispensáveis à execução <strong>do</strong>s ritos religiosos, origina<strong>do</strong>res<br />
da <strong>no</strong>ção <strong>de</strong> fetiche; os n<strong>do</strong>ki, feiticeiros especializa<strong>do</strong>s em ajudar seus clientes a<br />
prejudicar o próximo.<br />
Partin<strong>do</strong>, como et<strong>no</strong>-historia<strong>do</strong>r, da cosmologia congolesa con<strong>tempo</strong>rânea,<br />
na qual o mun<strong>do</strong> está divi<strong>do</strong> em duas partes, a <strong>do</strong>s vivos e a <strong>do</strong>s mortos, sen<strong>do</strong> a água<br />
a passagem entre os <strong>do</strong>is mun<strong>do</strong>s, MacGaffey tenta enten<strong>de</strong>r aquele acontecimento<br />
chave sob a ótica <strong>do</strong>s congoleses 23 . Para os banto, os mortos têm a cor branca;<br />
requerem homenagens, presentes e obediência; po<strong>de</strong>m conferir algum <strong>de</strong> seu <strong>po<strong>de</strong>r</strong><br />
aos vivos, que <strong>de</strong>vem to<strong>do</strong>s os seus <strong>do</strong>ns a alguma forma <strong>de</strong> contato com eles e a<br />
iniciação requer um estágio <strong>de</strong> enclausuramento, como uma estadia <strong>no</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s<br />
mortos 24 . Dessa forma, o retor<strong>no</strong> <strong>do</strong>s reféns em 1485 teria si<strong>do</strong> visto como uma<br />
volta <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s mortos e tu<strong>do</strong> que eles viram em Lisboa tor<strong>no</strong>u-se<br />
imediatamente alvo <strong>do</strong> mais intenso <strong>de</strong>sejo, uma vez que dizia respeito ao rei<strong>no</strong> da<br />
sabe<strong>do</strong>ria, à fonte <strong>do</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong>, <strong>do</strong> conhecimento, da riqueza.<br />
Os brancos portugueses, vin<strong>do</strong>s <strong>do</strong> mar, aparelha<strong>do</strong>s <strong>de</strong> coisas nunca vistas e<br />
cuja eficácia foi logo comprovada, ofereciam insistentemente sua orientação na<br />
iniciação <strong>de</strong>sse culto que parecia ser mais <strong>po<strong>de</strong>r</strong>oso. O mani Nsoyo, como <strong>de</strong>pois o<br />
mani <strong>Congo</strong>, teriam interpreta<strong>do</strong> os rituais ofereci<strong>do</strong>s como uma <strong>no</strong>va versão <strong>do</strong><br />
culto que lhes era familiar, um sistema cósmico sobre o qual os portugueses, por<br />
séculos, nada souberam. Seus batismos cumpriram os requisitos <strong>de</strong> reclusão ritual,<br />
sen<strong>do</strong> outras pessoas que não as diretamente envolvidas <strong>no</strong> culto proibidas <strong>de</strong> ver os<br />
objetos e gestos sagra<strong>do</strong>s. Os brancos trouxeram <strong>no</strong>vos objetos sagra<strong>do</strong>s, <strong>no</strong>vos<br />
ritos, que foram prontamente incorpora<strong>do</strong>s pelos chefes, que <strong>de</strong>ssa forma tiveram<br />
22 - Wyatt MacGaffey. “Dialogues of the <strong>de</strong>af...”, p.257; i<strong>de</strong>m, Religion and Society in Central Africa.<br />
Chicago, The University of Chicago Press, 1986, p.199.<br />
23 - I<strong>de</strong>m, “The West in <strong>Congo</strong>lese Experience”. In: Ph. Curtin (org). Africa and the West. Intelectual<br />
Responses to European Culture. Madison, The University of Winsconsin Press, 1972.<br />
24 - I<strong>de</strong>m, Religion and Society..., pp.43 e segs.
seus <strong>po<strong>de</strong>r</strong>es fortaleci<strong>do</strong>s, e tanto, a ponto <strong>de</strong> acatarem as exortações <strong>do</strong>s padres e<br />
or<strong>de</strong>narem uma gran<strong>de</strong> queima <strong>de</strong> nkisi, objetos rituais da tradição local.<br />
No enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> MacGaffey, esse padrão estabeleci<strong>do</strong> logo <strong>no</strong>s primeiros<br />
contatos permitiu que Portugal e o <strong>Congo</strong> por séculos se relacionassem orienta<strong>do</strong>s<br />
por pressupostos eficazes, porém falsos, sobretu<strong>do</strong> o <strong>de</strong> que conceitos análogos<br />
eram idênticos. Assim, as estruturas nativas foram em gran<strong>de</strong> parte conservadas, com<br />
cada povo len<strong>do</strong> a realida<strong>de</strong> conforme as suas concepções. O primeiro catecismo<br />
escrito em kikongo, língua corrente na região, <strong>de</strong> 1556, e o primeiro dicionário, <strong>de</strong><br />
1652, mostram o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um vocabulário ambíguo que mediou o diálogo<br />
<strong>de</strong> sur<strong>do</strong>s, levan<strong>do</strong> ao que o autor chamou <strong>de</strong> institucionalização <strong>de</strong> um mal<br />
entendi<strong>do</strong> 25 . Nos primeiros <strong>tempo</strong>s da cristianização, objetos rituais africa<strong>no</strong>s e<br />
objetos sacramentais cristãos viram-se confundi<strong>do</strong>s, na prática, sen<strong>do</strong> ambos<br />
chama<strong>do</strong>s <strong>de</strong> nkisi pelos próprios missionários. Da mesma forma, os missionários<br />
eram chama<strong>do</strong>s <strong>de</strong> nganga, como os mágicos locais, ocupan<strong>do</strong> ambos lugar<br />
fundamental na realização <strong>de</strong> ritos liga<strong>do</strong>s ao nascimento, ao casamento, à colheita,<br />
entre outros momentos chaves na vida das pessoas e das al<strong>de</strong>ias.<br />
John Thornton 26 , por sua vez, argumenta que uma das diferenças entre a<br />
religião banto e a católica dizia respeito ao papel e às características básicas <strong>do</strong>s<br />
agentes religiosos, intermediários entre este mun<strong>do</strong> e o outro. Enquanto os nganga<br />
e os itomi não tinham controle completo sobre as explicações <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m religiosa e<br />
não faziam parte <strong>de</strong> um grupo solidamente institucionaliza<strong>do</strong>, po<strong>de</strong>n<strong>do</strong> mesmo haver<br />
frequente contestação <strong>de</strong> suas interpretações, o clero católico era fortemente<br />
estrutura<strong>do</strong>, hierarquiza<strong>do</strong>, regulamenta<strong>do</strong>, <strong>de</strong>ten<strong>do</strong> a Igreja, por meio <strong>de</strong> seu clero, o<br />
<strong>po<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> estabelecer orto<strong>do</strong>xias e controlar rigidamente o que podia ser aceito e o<br />
que <strong>de</strong>veria ser repeli<strong>do</strong> <strong>do</strong> corpo da religião.<br />
Mas se os sacer<strong>do</strong>tes <strong>de</strong> ambas culturas agiam segun<strong>do</strong> regras diferentes,<br />
havia semelhanças, segun<strong>do</strong> Thornton, comuns à gran<strong>de</strong> parte da experiência<br />
religiosa, que uniam as duas religiões. Tanto para africa<strong>no</strong>s como para europeus, e<br />
muitíssimos outros povos, a semelhança residiria na capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong><br />
informações <strong>do</strong> outro mun<strong>do</strong>, para a qual a religião seria uma espécie <strong>de</strong> janela. A<br />
maneira <strong>de</strong> se comunicar com o além não seria muito diferente entre congoleses e<br />
portugueses: sinais <strong>de</strong>veriam ser <strong>de</strong>codifica<strong>do</strong>s para que um sistema religioso se<br />
fosse estruturan<strong>do</strong>. Noutras palavras, as “revelações” <strong>do</strong> além <strong>de</strong>veriam ser<br />
interpretadas por um corpo <strong>de</strong> especialistas e revertidas para o bem da comunida<strong>de</strong>.<br />
Se a aproximação com o sobrenatural possuía semelhanças, as diferenças relativas à<br />
organização <strong>do</strong> corpo sacer<strong>do</strong>tal faziam com que não fossem as mesmas as relações<br />
que as duas religiões mantinham com os mecanismos relativos à interpretação das<br />
revelações e sua incorporação ao já estabeleci<strong>do</strong>. Do encontro das duas religiões,<br />
seus sacer<strong>do</strong>tes e segui<strong>do</strong>res, nasceu, segun<strong>do</strong> Thornton, o que vem sen<strong>do</strong> chama<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> cristianismo africa<strong>no</strong>, que aceita várias revelações cristãs e combina <strong>de</strong> forma<br />
dinâmica as diferentes cosmologias.<br />
25 - I<strong>de</strong>m, “Dialogues of the <strong>de</strong>af...”, p.260.<br />
26 - John Thornton. Africa and Africans in the Making of the Atlantic World....p.248.
A linha <strong>de</strong> interpretação proposta por Thornton e MacGaffey talvez <strong>no</strong>s<br />
ofereça a chave para o entendimento <strong>do</strong> fenôme<strong>no</strong> Kimpa Vita e o movimento <strong>do</strong>s<br />
antonia<strong>no</strong>s. É certo que talvez haja certo exagero, sobretu<strong>do</strong> <strong>no</strong> caso <strong>de</strong> Thornton,<br />
quanto às analogias - quan<strong>do</strong> não homologias - estabelecidas entre o catolicismo e a<br />
religiosida<strong>de</strong> banto. Convém não esquecer que muito <strong>do</strong> que se sabe acerca <strong>do</strong>s<br />
congoleses na época <strong>do</strong>s primeiros contatos com os portugueses, <strong>de</strong>corre <strong>do</strong><br />
registro <strong>do</strong>s missionários e cronistas envia<strong>do</strong>s nas expedições, homens habitua<strong>do</strong>s a<br />
“traduzir” na sua própria linguagem cultural os traços <strong>de</strong> culturas distintas que lhes<br />
pareciam passíveis <strong>de</strong> assimilação. A qualida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s registros posteriores não fugiu a<br />
essa regra, não obstante os congoleses tenham produzi<strong>do</strong> fontes escritas em<br />
profusão a partir <strong>de</strong> Afonso I. Não esqueçamos, neste caso, que os “escribas” <strong>do</strong><br />
rei<strong>no</strong> congolês foram sistematicamente aportuguesa<strong>do</strong>s, a par da catolização da<br />
religião e da conversão das instituições sociais e políticas banto às tradições<br />
portuguesas.<br />
De to<strong>do</strong> mo<strong>do</strong>, se as diferenças estruturais entre os <strong>do</strong>is corpi religiosos<br />
eram maiores <strong>do</strong> que as semelhanças supostas pelos <strong>do</strong>is autores <strong>no</strong>rte-america<strong>no</strong>s,<br />
e se talvez não seja exato supor ab origine que a religião congolesa fosse uma<br />
religião revelada (traço clásico <strong>do</strong>s chama<strong>do</strong>s mo<strong>no</strong>teísmos), as analogias e<br />
mesmo homologias religiosas <strong>de</strong>tectadas por Thornton e MacGaffey se tornaram<br />
realida<strong>de</strong> com o passar <strong>do</strong>s séculos. <strong>Catolização</strong> da religiosida<strong>de</strong> banto e<br />
africanização <strong>do</strong> catolicismo configuraram os nós imbrica<strong>do</strong>s <strong>de</strong> um mesmo<br />
processo - e os <strong>do</strong>is autores, neste ponto, o percebem e <strong>de</strong>screvem muito bem.<br />
Não lhes escapou, por outro la<strong>do</strong>, a associação verda<strong>de</strong>iramente oficial entre<br />
catolicismo e <strong>po<strong>de</strong>r</strong> <strong>no</strong> rei<strong>no</strong> <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>, fenôme<strong>no</strong>, este sim, que marcou a formação<br />
<strong>do</strong> rei<strong>no</strong> e os conflitos entre chefaturas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> D.João I, o pai <strong>de</strong> D. Afonso, e<br />
primeiro monarca católico <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>.Tanto é que os <strong>do</strong>is autores percebem <strong>no</strong><br />
movimento li<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> por Kimpa Vita uma reação “popular”, embora inscrita <strong>no</strong>s<br />
marcos <strong>do</strong> catolicismo, contra o catolicismo oficial vigente <strong>no</strong> rei<strong>no</strong>. Reação<br />
popular e por isso talvez mais “africanizada” <strong>do</strong> catolicismo ou, quan<strong>do</strong> me<strong>no</strong>s,<br />
hostil aos sacramentos, à cruz e aos missionários.<br />
É sugestiva, portanto, a afirmação <strong>de</strong> MacGaffey <strong>de</strong> que “a relativa<br />
<strong>de</strong>mocratização da religião” entre os antonia<strong>no</strong>s ameaçava as hierarquias existentes e<br />
as estruturas políticas e sociais das chefaturas, propon<strong>do</strong> uma or<strong>de</strong>m política<br />
alternativa à vigente 27 . Or<strong>de</strong>m alternativa não somente à fragmentação política <strong>de</strong><br />
inícios <strong>do</strong> século XVIII, mas talvez à própria estrutura da monarquia luso-católicocongolesa<br />
erigida <strong>do</strong>is séculos antes. É nesta linha <strong>de</strong> argumentação que se move, <strong>de</strong><br />
certo mo<strong>do</strong>, António Gonçalves, embora este último radicalize a oposição em causa,<br />
ao caracterizá-la em termos <strong>de</strong> linhagem versus Esta<strong>do</strong>, africanizan<strong>do</strong> quiçá em<br />
<strong>de</strong>masia o antonianismo.<br />
Thornton, por sua vez, localiza socialmente a gênese <strong>do</strong> antonianismo <strong>no</strong><br />
<strong>de</strong>sconforto <strong>de</strong> toda uma geração <strong>de</strong> camponeses flagelada pela guerra permanente e<br />
pela ameaça <strong>do</strong> <strong>tráfico</strong> atlântico. O movimento antonia<strong>no</strong>, afirma Thornton, “nasci<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> paz <strong>do</strong>s camponeses <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>”, teria resulta<strong>do</strong> numa <strong>po<strong>de</strong>r</strong>osa e <strong>no</strong>va<br />
i<strong>de</strong>ologia religiosa. I<strong>de</strong>ologia que combinava a religião tradicional congolesa com a<br />
27 - Wyatt MacGaffey. Religion and Society..., p.210.
mensagem <strong>do</strong>s padres cristãos <strong>de</strong>vidamente “congolizada”. Catolicismo<br />
“congoliza<strong>do</strong>”, mas nem por isso anti-cristão (apesar <strong>de</strong> herege), insiste Thornton,<br />
pois <strong>no</strong> mínimo não se opunha à fé cristã tal como ela fora capaz <strong>de</strong> ser a<strong>do</strong>tada <strong>no</strong><br />
<strong>Congo</strong> e integrada à estrutura social e política <strong>do</strong> rei<strong>no</strong> 28 .<br />
Tem-se, portanto, um quadro em que o antonianismo se afigura como<br />
movimento pre<strong>do</strong>minantemente popular, embora li<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> por uma jovem aristocrata<br />
congolesa e apoia<strong>do</strong> por facções <strong>no</strong>bres <strong>do</strong> rei<strong>no</strong>. Movimento católico, embora a<br />
cosmologia antoniana, sobretu<strong>do</strong> por africanizar, quan<strong>do</strong> me<strong>no</strong>s, o que há <strong>de</strong> mais<br />
sagra<strong>do</strong> <strong>no</strong> cristianismo (a concepção <strong>do</strong> Cristo), indique tratar-se <strong>do</strong> “cristianismo<br />
africa<strong>no</strong>” <strong>de</strong> que fala Thornton. Um movimento em que, malgré seu catolicismo,<br />
pulsavam tradições e crenças mui caras à religiosida<strong>de</strong> tradicional <strong>do</strong>s banto, a saber,<br />
a crença <strong>no</strong> <strong>po<strong>de</strong>r</strong> <strong>do</strong>s mortos.<br />
Kimpa Vita ancorou seu <strong>po<strong>de</strong>r</strong>, antes <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>, na morte. Morrera e ressucitara,<br />
encenan<strong>do</strong>, num só ato, o enre<strong>do</strong> que levara os reis congoleses a abraçar o<br />
cristianismo séculos antes. E Kimpa Vita “reatualizava o mito” através <strong>do</strong> rito <strong>de</strong><br />
sempre morrer às sextas-feiras para voltar <strong>no</strong>s sába<strong>do</strong>s, após jantar com Deus.<br />
Encontrava o “Senhor <strong>do</strong> Mun<strong>do</strong>” bakongo, o governante <strong>do</strong>s mortos, <strong>de</strong> que falava o<br />
cronista <strong>de</strong> antanho, realimentan<strong>do</strong> com isso seu <strong>po<strong>de</strong>r</strong> espiritual <strong>de</strong> nganga. Mas<br />
não esqueçamos <strong>de</strong> que, Kimpa Vita, ao morrer e ressucitar ad perpetuam, <strong>de</strong>ixara<br />
<strong>de</strong> ser Kimpa Vita ou D.Beatriz para ser Santo Antônio. Santo Antônio <strong>de</strong> Pádua ou<br />
<strong>de</strong> Lisboa, sem <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser Santo Antônio <strong>do</strong> <strong>Congo</strong>. O “segun<strong>do</strong> Deus”, <strong>de</strong>le dizia<br />
a profetisa, dizen<strong>do</strong> <strong>de</strong> si mesma, portanto (porque ela era ele, se <strong>no</strong>s permitem),<br />
cuja importância se revela nas imagens <strong>de</strong> marfim ou bronze cuja palavra em<br />
Kikongo significava “boa sorte”.<br />
Kimpa Vita só adquiriu a importância máxima que chegou a ter após retornar<br />
<strong>do</strong> “mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s mortos”, para on<strong>de</strong> ia e <strong>de</strong> on<strong>de</strong> vinha semanalmente. Mas ia e vinha<br />
como Santo Antônio, na verda<strong>de</strong>. Quan<strong>do</strong> voltou <strong>de</strong> vez a ser Kimpa Vita, “a Santo<br />
Antônio congolesa” per<strong>de</strong>u tu<strong>do</strong>, inclusive a vida. Bernar<strong>do</strong> da Gallo, o capuchinho<br />
que a interrogou, registrou que, ao morrer na fogueira, “a pobre Santo Antônio” não<br />
ressuscitaria jamais. Mas, fiel aos acontecimentos, registrou também que os<br />
“antonia<strong>no</strong>s” recolheram os fragmentos <strong>de</strong> seus ossos, guarda<strong>do</strong>s como se relíquias<br />
fossem, e espalharam que Beatriz não havia <strong>de</strong>sapareci<strong>do</strong> senão sob uma <strong>de</strong> suas<br />
múltiplas formas.<br />
28 - John Thornton. The King<strong>do</strong>m of Kongo: Civil Wars and Transition, 1641-1718. Wisconsin Press, 1983,<br />
pp.106-107