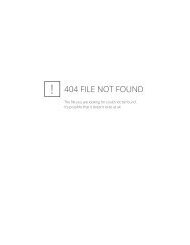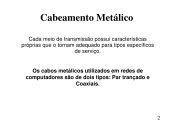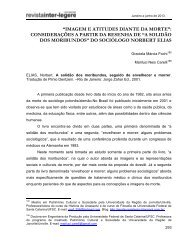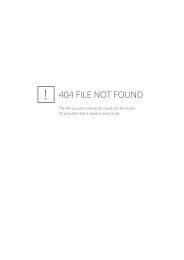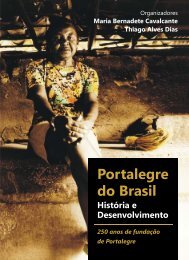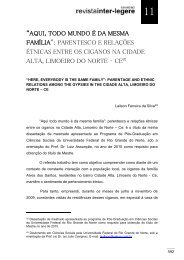Araceli Sobreira Benevides (UERN).pdf - cchla
Araceli Sobreira Benevides (UERN).pdf - cchla
Araceli Sobreira Benevides (UERN).pdf - cchla
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
O LETRAMENTO EM AULAS DE ENSINO RELIGIOSO – O DIÁLOGO DOS<br />
MITOS COM OS TEXTOS LITERÁRIOS<br />
Introdução<br />
<strong>Araceli</strong> <strong>Sobreira</strong> <strong>Benevides</strong> (<strong>UERN</strong>)<br />
aracelisobreira@yahoo.com.br<br />
Em 2005, fomos apresentadas ao curso de Licenciatura em Ciências da Religião,<br />
área das Ciências Humanas e Sociais, responsável pela formação de professore de<br />
Ensino Religioso. Nesse curso, iniciamos três tipos de atividades: o ensino da Produção<br />
Textual (leitura e escrita dos gêneros presentes na academia), o ensino da Literatura<br />
(pelo viés do Letramento Literário) e o trabalho com a formação de professores a partir<br />
da reflexão sobre as identidades, as memórias e histórias de vida de docentes (pelo viés<br />
da Linguística Aplicada e dos Estudos Culturais).<br />
Nessas atividades, descobrimos um ambiente propício a pesquisas pelo fato de<br />
a Licenciatura em Ciências da Religião ser, no Estado do Rio Grande do Norte e em<br />
outras regiões do Brasil, um curso recém-criado. No RN, a primeira turma concluiu o<br />
curso em 2006. Assim, além de se constituir como área de conhecimento, as Ciências da<br />
Religião ainda procuram estabelecer o status legal que embasa o Ensino Religioso nas<br />
escolas públicas e privadas no país. Não entrando no mérito da questão, até porque<br />
outros autores já se dedicaram a isso (BRANDENBURG, 2007; CAMILO, 2007;<br />
CURY, 2004; GIUMBELLE, 2007), optamos ter como aceito o acesso à disciplina,<br />
ministrada no Ensino Fundamental, considerando, porém, as características que definem<br />
o modelo atual de ensino dessa disciplina, desvinculando-a de qualquer proselitismo,<br />
dogmatismo ou pregação religiosa.<br />
Assim, só para esclarecer, para atuar em sala de aula de Ensino Religioso no país,<br />
não mais aula de Religião, como conhecíamos em nossas práticas passadas, é necessário<br />
possuir a formação específica em Ciências da Religião, diferentemente de tempos atrás<br />
quando bastava a alguém, no caso o/a professor/a, ser catequizador/a, possuir uma fé ou<br />
conhecer determinado texto sagrado, que envolvesse essa fé, para lecionar essa<br />
disciplina nas escolas. Muitas vezes, o conteúdo resumia-se apenas “no estudo da<br />
Bíblia” 1 para a preparação de uma aula.<br />
As Ciências da Religião, área de conhecimento das Ciências Humanas e que têm<br />
uma estreita relação com outras disciplinas dessa área, tem se firmado, no Brasil, tanto<br />
na graduação quanto em cursos de Pós-Graduação, provocando nos estudantes uma<br />
série de questionamentos no que tange a preparação e seleção dos conteúdos a ser<br />
ministrados em uma aula de Ensino Religioso.<br />
Esse novo modelo apresenta-se legalizado pelo artigo 33 da Lei de Diretrizes e<br />
Bases da Educação Nacional nº 9394/96, modificada, posteriormente, pela lei nº<br />
9475/97, que o estabelece como área de conhecimento do Ensino Fundamental. Em<br />
decorrência, a religiosidade deixa de ser o ponto central da docência que passa a ter o<br />
fenômeno religioso como objeto de estudo. A esse respeito, trazemos uma das<br />
justificativas dadas para a defesa da permanência dessa disciplina nas escolas:<br />
1 Enunciado dado como resposta a uma pergunta do instrumento de pesquisa do projeto Identidades de<br />
professores de Ensino Religioso – mapeando os/as profissionais de ER a partir do discurso sobre si<br />
mesmos e sobre os saberes da docência, realizada na <strong>UERN</strong>, com apoio financeiro da Fundação de Apoio<br />
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – FAPERN [2007-2010].
A presença do estudo da religião nas escolas visa a fornecer elementos<br />
que favoreçam o discernimento do fato religioso por parte dos<br />
estudantes. A presença ativa da religião na sociedade e,<br />
conseqüentemente, na vida pessoal do cidadão em formação exige da<br />
escola uma palavra qualificada sobre essa questão, no sentido de<br />
oferecer informações corretas e abrangentes sobre as tradições<br />
religiosas, apresentar ângulos de visão do fato religioso, superando<br />
endogenias e proselitismos religiosos e culturais e, ao mesmo tempo,<br />
despertar nos estudantes o espírito de curiosidade sobre esse objeto.<br />
As tradições religiosas costumam apresentar-se como um campo de<br />
verdade constituída. O estudo delas poderá lançar os germes para<br />
opções religiosas críticas e maduras. (PASSOS, 2007a, p. 105-106).<br />
Entendendo o caráter disciplinar desse componente do Ensino Fundamental,<br />
questionamo-nos a respeito de nosso papel como formadora de formadores de leitores<br />
nessa área que se constitui e que também tenta estabelecer os conteúdos que serão<br />
levados para o ambiente da sala de aula. Apropriamo-nos do pensamento bakhtiniano<br />
(BAKHTIN, 2003) e das pesquisas atuais da Linguística Aplicada (MOITA LOPES,<br />
2006) que respaldam nossas investigações no Curso de Ciências da Religião da <strong>UERN</strong><br />
(BENEVIDES, 2009; 2011 2 ), para desenvolver um diálogo entre a Literatura e a<br />
Religião, baseado em duas vertentes: a compreensão dos textos sagrados, pertencentes<br />
às concepções religiosas mais conhecidas e que o há de literário nesses textos e a<br />
compreensão de textos da literatura universal cujo tema é o fenômeno religioso.<br />
No trabalho com a formação de leitores, a maior preocupação que vemos é o que<br />
fazer para conquistar os leitores atuais para formas mais abertas de compreensão dos<br />
sistemas simbólicos. Imaginem, então, o quanto é difícil construir no cotidiano escolar<br />
um olhar para a cultura e para a compreensão de textos do ponto de vista da<br />
compreensão do fenômeno religioso, que não seja carregado por um pensamento<br />
dogmático ou catequético. Para colocar em prática essa vivência, precisamos entender<br />
como são construídas certas narrativas, principalmente aquelas que se referem a mitos,<br />
tanto do tempo presente quanto de outras épocas, como bem coloca Bakhtin, narrativas<br />
que entraram para o grande tempo, ou, citando as palavras desse pensador, quando<br />
defende que “uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se não reúne em si, de<br />
certo modo, os séculos passados” (BAKHTIN, 2003, p. 363). Segundo Bakhtin, tanto na<br />
vida como na literatura, o tempo se organiza mediante convenções que não se<br />
restringem a definir o movimento e o arranjo das situações; pelo contrário, essas<br />
convenções firmam posicionamentos e revelam diferentes formas de ver o mundo.<br />
Nesse percurso, fomos descobrindo os fios que unem os estudos da linguagem,<br />
tanto em termos de formação de leitores quanto em termos de compreensão de textos<br />
literários e, dessa união, trazemos para discussão alguns posicionamentos.<br />
Olhar o mundo de um ponto de vista excedente, diverso da posição centrada em<br />
um único posicionamento, para melhor compreender o movimento dos fenômenos<br />
sociais, políticos, históricos, religiosos, linguísticos etc. em sua pluralidade e<br />
heterogeneidade – esta é a postura que adotamos, ao pensarmos em um trabalho de<br />
2 Projeto de pesquisa em andamento no curso de Ciências da Religião/<strong>UERN</strong>, intitulado Saberes das<br />
práticas docentes no contexto do Ensino Religioso – entrecruzando a multidisciplinaridade, leituras e<br />
experiências na construção de identidades docentes [2010-2012], coordenado pela autora deste artigo.
formação de leitores-literários. Ainda nessa linha de pensamento, inserimos nosso<br />
trabalho na área da Linguística Aplicada (LA), configurada pelo percurso<br />
transdisciplinar, na compreensão de Celani (1998) ou, ainda, entendida como mestiça e<br />
nômade, conforme propõe Moita Lopes (2006). Seguindo essa orientação, concebemos<br />
o trabalho do linguística aplicado sob a orientação de diferentes campos de<br />
conhecimentos cuja produção é capaz de criar inteligibilidades para os problemas em<br />
que a linguagem ocupe papel principal (ROJO, 2006).<br />
Quando nos voltamos para as práticas de formação de professores de Ensino<br />
Religioso – fundadas na perspectiva do pluralismo e numa postura não confessional<br />
(desvinculada de dogmas e da catequização), encontramos na orientação dialógica da<br />
linguagem (BAKHTIN, 2003) caminhos para a construção de um olhar<br />
compreensivo/responsivo voltado para os textos que circulam na esfera do discurso<br />
religioso e do discurso literário. Com o intuito de avaliar esses textos como espaços<br />
abertos à simultaneidade das visões, apreciando não apenas os pontos de vista<br />
convergentes, mas principalmente aqueles divergentes que estão implicados no Livro de<br />
Gênesis, primeiro livro da Bíblia Hebraica como da Bíblia Cristã.<br />
Para realizar essa tarefa, pautamo-nos na teoria da linguagem formulada pelo<br />
pensador Mikhail Bakhtin, entendendo que “O texto só vive em contato com outro texto<br />
(contexto). Somente no seu ponto de contato é que surge a luz que aclara para trás e<br />
para frente, fazendo com que o texto participe de um diálogo”. (BAKHTIN, 1992,<br />
p.404). Desse modo, também ancoramo-nos na perspectiva da LA, com base em uma<br />
orientação interpretativista (MOITA LOPES, 1994), percebendo como os textos a ser<br />
analisados dialogam entre si ou como “[...] esses enunciados se tocam no território do<br />
tema comum, do pensamento comum” (BAKHTIN, 2003, p.320); trataremos, então, de<br />
dois textos, de autoria diversa, produzidos em tempos e espaços (cronotopos) 3 também<br />
diversos, mas que dialogam com base em um mesmo tema: o Mito do Dilúvio.<br />
Este artigo articula as visões e os sistemas de valores que configuram os<br />
posicionamentos de Machado de Assis e de Miguel Torga sobre o fenômeno religioso<br />
narrado no Livro do Gênesis que esses autores recontam em duas narrativas, Na Arca –<br />
três capítulos inéditos do Genesis e Vicente, respectivamente, e que constroem no leitor<br />
outra leitura/compreensão que se confronta ao discurso fechado, de uma única<br />
interpretação, comumente presente no âmbito das práticas religiosas ou das antigas<br />
aulas de Religião, modelos com os quais a atual formação de professores de ER diverge.<br />
Primeiramente, faremos uma breve explanação situando o Mito do Dilúvio e o<br />
texto de Gênesis, em seguida, comentaremos o conto de Machado de Assis, para,<br />
depois, avaliar o conto de Miguel Torga e encerrar essa discussão.<br />
Dilúvio<br />
Como sabemos, a história do Dilúvio faz parte de um conjunto de narrativas que<br />
explicam a origem e o povoamento do mundo logo após a criação do homem. Essas<br />
narrativas estão presentes em quase todos os povos e culturas do planeta 4 e variam<br />
apenas nos detalhes e na justificativa para o desaparecimento da raça humana. Porém, o<br />
Dilúvio (ELIADE, 2010a) seria a forma encontrada por Deus ou pelos Deuses, nas<br />
sociedades politeístas, para punir a raça humana pela desobediência, pelos excessos de<br />
3 Conceito existente em Bakhtin (1990, p.211) que assim define cronotopo: “uma categoria conteudístico-<br />
formal, que mostra a interligação fundamental das relações espaciais e temporais representadas nos<br />
textos, principalmente literários”.<br />
4 De acordo com Eliade (2010), essas narrativas são raras apenas no continente Africano.
crueldade e pelos descaminhos tomados pela rebeldia face aos desígnios superiores (os<br />
de um deus único ou dos vários deuses). Nesse sentido, os seres humanos e os animais<br />
tiveram que aceitar os desejos do Criador (ou dos Criadores) e se submeter ao<br />
desaparecimento pela inundação das terras, perecendo tanto os ímpios quanto os bons.<br />
Em quase todas as narrativas em que o Mito do Dilúvio aparece, o castigo é um<br />
elemento presente. (Cf. BIERLEIN, 2003). Deus demonstra-se arrependido pela criação<br />
do homem, que não lhe obedece mais e/ou esqueceu o caminho da retidão e sua decisão<br />
de sumir com os homens torna-se o meio para trazê-lo novamente para o Bem. Embora<br />
o Mito do Dilúvio trate de uma destruição da humanidade, ela não se acaba totalmente,<br />
ao contrário, renova-se, geralmente tendo um casal como únicos sobreviventes e<br />
responsáveis pelo novo povoamento da Terra (ELIADE, 2010a). Esse novo povoamento<br />
simboliza uma fase de regeneração da humanidade diante de seus pecados e iniquidades<br />
que enfureceram os Entes Superiores a ponto deles decidirem pelo fim (ainda que<br />
transitório) da raça humana.<br />
Os vestígios históricos de que o texto judaico-cristão não é o primeiro nem o<br />
único a narrar a passagem do dilúvio começaram a surgir no mundo europeu e científico<br />
a partir da expansão marítima, quando o intercâmbio cultural se intensificou e isso<br />
reitera a ideia de que as narrativas literárias permitem uma visão diferente da época em<br />
que são escritas. Alguns mitos são contados a partir de uma visão original e foram<br />
mantidos exclusivamente pela cultura oral; outros, sofreram influência da colonização<br />
europeia, impostas a vários grupos sociais, principalmente àqueles onde missões<br />
religiosas estabeleceram a obrigatoriedade do ensino cristão (não necessariamente o<br />
católico), durante a fase de ocupação das novas terras.<br />
Segundo Bierlein, na introdução do livro Mitos Paralelos, “ao ler esses mitos, os<br />
abismos entre as culturas se estreitam, revelando o que é constante e universal na<br />
experiência humana” (BIERLEIN, 2003, p.14). Mircea Eliade, teórico das Ciências da<br />
Religião, entende que os mitos contam uma história sagrada, segundo ele, o mundo<br />
moderno conserva, de certa forma, um comportamento mítico, o que seria um modo de<br />
se estar no mundo, principalmente quando esse homem o reatualiza, embora esse<br />
mundo tenha visto a vitória do logos sobre o mythos. Para Eliade, determinadas<br />
características e funções do pensamento mítico são constitutivos do ser humano,<br />
Visto que, para o homem religioso das sociedades primitivas, os mitos<br />
constituem sua “história sagrada”, ele não deve esquecê-los:<br />
reatualizando os mitos, o homem religioso aproxima se de seus deuses<br />
e participa da santidade. Mas há também “histórias divinas trágicas”, e<br />
o homem assume uma grande responsabilidade perante si mesmo e a<br />
Natureza ao reatualizá-las periodicamente. (ELIADE, 2010b, p. 93)<br />
Mais ainda, o estudo dessas narrativas revela as crenças, o modo de pensar e a<br />
psicologia do povo que as elaboraram. Dentre essas narrativas, destacamos a Epopeia de<br />
Gilgamés. Embora não exista uma versão completa dessa obra, crê-se que, inicialmente,<br />
foi compilada e guardada na biblioteca de Assurbanipal, um dos grandes reis do império<br />
Assírio (até 630 a.C.). Muito tempo depois, tornou-se um achado importante que vem<br />
das escavações de Henry Layard, em 1839, para quem a descoberta antecipava em<br />
muito a narrativa que se encontra no Livro do Gênesis. Essa narrativa foi recuperada em<br />
tabletes de cerâmica que foram achados em diversas regiões onde hoje é o Iraque.<br />
Foram necessários anos de tradução para se chegar à versão como está publicada
atualmente (ANÔNIMO, 2001) 5 : a partir da tradução dos 12 tabletes nos quais foram<br />
organizados os poemas.<br />
Quando o Épico de Gilgamesh foi publicado pela primeira vez na Europa por<br />
George Smith, em 1872, causou uma sensação que rivalizou com as teorias de Darwin.<br />
Algumas pessoas o declaravam uma prova histórica do dilúvio do Gênesis, enquanto<br />
outras desdenharam da asseveração de que a Bíblia é singular e autêntica. Em toda a<br />
literatura mesopotâmica, o conto do dilúvio no tablete 11 representa a principal<br />
correlação com o texto bíblico.<br />
A história relata as aventuras vividas pelo herói que deu o nome ao mito, um<br />
homem fortíssimo, dois terços deus e um terço humano, que participou de inúmeros<br />
feitos sobre-humanos que envolvem monstros, deuses e animais. A narrativa é<br />
construída com base na busca do herói pela imortalidade. Gilgamesh teria sido um dos<br />
reis sumérios que governara após o dilúvio e, por isso, quando foram encontradas as<br />
tabuinhas que apresentam o encontro do rei com o único homem, Utnapishtim, que<br />
conseguira se salvar das águas e se tornara imortal, a narrativa causou enorme sensação<br />
na Europa.<br />
O poema contém um relato que lembra os mesmos fatos vivenciados por Noé da<br />
Bíblia judaico-cristã: Utnapishtim conta a Gilgamesh que ele e sua esposa foram os<br />
únicos mortais a quem os deuses teriam dado a vida eterna – segundo ele, um deus, Ea<br />
– deus da água doce e da sabedoria – o advertira da grande maré que cobriria as terras e<br />
lhe ensinara como construir um barco, para onde deveria levar a família, os parentes, os<br />
animais dos campos e os selvagens e todos os artesãos.<br />
O barco tinha um acre de área e cada lado do convés media cento e<br />
vinte côvados, formando um quadrado. Construí abaixo mais seis<br />
conveses, num total de sete, e dividi cada um em nove<br />
compartimentos, colocando tabiques entre eles. Finquei cunhas onde<br />
elas eram necessárias, providenciei as zingas e armazenei<br />
suprimentos. Os carregadores trouxeram o óleo em cestas.<br />
(ANÔNIMO, 2001, p.101)<br />
Do mesmo modo que Deus – do relato judaico-cristão, o conselho dos deuses, da<br />
cidade de Shurrupak, resolvera destruir a humanidade com uma grande inundação, que<br />
de acordo com a versão contada para Gilgamesh por Utnapishtim, acabou no sétimo dia,<br />
e a terra seca apareceu no décimo segundo dia, quando o grande barco veio repousar<br />
sobre o monte Nisir, no Curdistão (na versão judaico-cristã, a arca de Noé para no<br />
monte Ararat, na atual Turquia). Assim como o Noé bíblico, também passou a salvo<br />
pelas águas do dilúvio. A descrição da tempestade, contida na obra de Gilgamesh, das<br />
trevas, das águas subindo e, depois, de como os deuses se arrependeram e fugiram para<br />
a parte mais alta dos céus, é bastante simbólica, causando surpresa no leitor.<br />
Por um dia inteiro o temporal grassou devastadoramente, acumulando<br />
fúria à medida que avançava e desabando torrencialmente sobre as<br />
pessoas como os fluxos e refluxos de uma batalha; um homem não<br />
conseguia ver seu irmão, nem podiam os povos serem vistos do céu.<br />
(ANÔNIMO, 2001, p.101)<br />
5 Disponível em http://www.slideshare.net/WillPapp/a-epopia-de-gilgamesh-rev-anonimo.
É importante frisar, ainda, que essa história, embora chamada de épico, está mais<br />
para a representação de um mito e, nesse sentido, valemo-nos novamente do teórico,<br />
Mircea Eliade, para quem<br />
[...] o mito conta uma história sagrada; ele relata um<br />
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso<br />
do "princípio". Em outros termos, o mito narra como, graças às<br />
façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a<br />
existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um<br />
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento<br />
humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de<br />
uma criação: ele relata de que modo algo foi produzido e<br />
começou a ser. (ELIADE, 2010a, p.11).<br />
Ainda, segundo esse autor, os mitos são narrativas de caráter essencialmente<br />
religioso, porque re-ligam o homem a uma outra esfera que diz respeito não apenas aos<br />
seus antepassados, porém ao que existia antes deles. (ELIADE, 2010b). Para essa<br />
compreensão, o ato de conhecer as origens não é o mais importante, ao contrário, o que<br />
importa mesmo é a produção de um discurso sobre elas. Dessa forma, o homem que as<br />
narra não procura uma explicação. Para ele, o ato de narrar torna-se um processo<br />
inventor de mundos (ARAÚJO, 2008).<br />
No levantamento das narrativas que dialogam com o mito do Dilúvio, segundo o<br />
conhecimento que temos do texto bíblico, encontramos, além daquelas existentes em<br />
diferentes culturas 6 , dois textos da literatura mundial que se aproximam diretamente do<br />
texto de Gênesis: os contos Na Arca – três capítulos inéditos do Genesis, de Machado<br />
de Assis, e Vicente, de Miguel Torga e, com base neles, discutiremos um pouco daquilo<br />
que é apreendido da leitura desses dois grandes escritores.<br />
Perguntando-nos em que medida e sob que condições o discurso literário é capaz<br />
de articular sentidos específica e autenticamente religiosos/teológicos, passemos, então,<br />
à nossa interpretação e às possíveis compreensões que decorrem do diálogo entre esses<br />
textos trazidos para este momento.<br />
A Arca, de Machado de Assis: homens como seres do mundo da vida<br />
No conto Na arca, de Machado de Assis, publicado inicialmente em 1878, mas<br />
cujo texto retiramos da antologia organizada por Flávio Moreira Costa (2006), intitulada<br />
Os melhores contos bíblicos, temos uma recriação da linguagem bíblica.<br />
A narrativa imita a forma bíblica de escrita em capítulos e versículos e tem como foco a<br />
briga de dois dos três filhos de Noé, que nem mesmo esperam passar a inundação e já<br />
disputam a posse das terras que viriam a ter depois do dilúvio.<br />
Na prosa machadiana desse conto, os personagens mantêm a imagem construída<br />
por influência do Realismo, estilo literário vigente à época da obra, que também revela<br />
o herói problemático: o ser humano em sua pequenez, com fraquezas, manias e<br />
incertezas, em um mundo no qual se sente perdido, sem base. Além disso, Machado<br />
recupera, em uma leitura mais atenta do século, as questões de terra que dominavam o<br />
6 Em sala de aula, utilizamos ainda os contos de Galeano (2010) que trazem algumas versões para esse<br />
mito, conforme os povos americanos. Em Bierlein (2003), encontramos narrativas havaianas, astecas e<br />
gregas e egípcias.
Brasil imperial também e que são retratadas em várias partes do conto. A sutileza com<br />
que o autor constrói os diálogos entre os personagens cria uma atmosfera de intimidade<br />
entre eles, visível no trecho a seguir:<br />
E Sem falou a voz de seu coração, dizendo:<br />
—Meu pai tem a sua família; cada um de nós tem a sua<br />
família; a terra é de sobra; podíamos viver em tendas separadas.<br />
Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor: e plantará, caçará, ou<br />
lavrará a madeira, ou fiará o linho.<br />
E respondeu Jafé:<br />
— Acho bem lembrada a idéia de Sem; podemos viver em<br />
tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha;<br />
meu pai e Cam descerão para o lado do nascente; eu e Sem para o<br />
lado do poente, Sem ocupará duzentos côvados de terra, eu outros<br />
duzentos.<br />
Mas dizendo Sem:<br />
— Acho pouco duzentos côvados.<br />
Retorquiu Jafé:<br />
— Pois sejam quinhentos cada um. Entre a minha terra e a<br />
tua haverá um rio, que as divida no meio, para se não confundir a<br />
propriedade. Eu fico na margem esquerda e tu na margem direita.<br />
— E a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se<br />
chamará a terra de Sem; e iremos às tendas um do outro, e<br />
partiremos o pão da alegria e da concórdia.<br />
Até essa parte, os irmãos agem de acordo com o que Deus havia pretendido:<br />
homens justos e bons tomando conta da nova terra, porém, por não entrar em acordo<br />
com as dimensões da terra e com a posse do rio que iria banhá-la, os irmãos se<br />
esquecem do pacto de Noé com Deus e iniciam a contenda.<br />
Destacamos, a seguir, outro trecho do conto em que Machado mostra o momento<br />
em que Noé é chamado pelo seu terceiro filho, Cam, para tentar acalmar os filhos<br />
briguentos:<br />
E achou-os ainda agarrados um ao outro, e Sem debaixo do<br />
joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, a qual<br />
estava roxa e sangrenta.<br />
Entretanto, Sem, alçando as mãos, conseguiu apertar o<br />
pescoço do irmão, e este começou a bradar:<br />
— Larga-me, larga-me!<br />
Ouvindo os brados, às mulheres de Jafé e Sem acudiram<br />
também ao lugar da luta, e, vendo-os assim, entraram a soluçar e a<br />
dizer:<br />
— O que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos<br />
maridos.<br />
Noé, porém, lhes disse:<br />
— Calai-vos, mulheres de meus filhos, eu verei de que se<br />
trata, e ordenarei o que for justo.<br />
E caminhando para os dois combatentes, bradou:<br />
— Cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando.<br />
E ouvindo os dois irmãos o pai, detiveram-se subitamente, e<br />
ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum<br />
deles.<br />
Noé continuou:
— Erguei-vos, homens indignos da salvação e merecedores<br />
do castigo que feriu os outros homens.<br />
Jafé e Sem ergueram-se. Ambos tinham feridos o rosto, o<br />
pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham<br />
lutado com unhas e dentes, instigados de ódio mortal.<br />
O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de<br />
um e outro, e os cabelos de um e outro, como se o pecado os quisera<br />
marcar com o selo da iniquidade.<br />
Noé age conforme deve agir um pai que reprime as brigas familiares e se<br />
preocupa, ao compreender os motivos pelos quais Jafé e Sem brigam até tirarem sangue<br />
um do outro. Nessa personificação dos heróis, Machado constrói cenas de uma vida<br />
normal, pois capta os conflitos internos de uma família diante da divisão de bens.<br />
Paralelamente, encontramos nessa composição, outra particularidade que quebra a<br />
retórica presente no livro de Gênesis (6,13), gerando um paradoxo na cena indicada a<br />
seguir:<br />
Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a<br />
minha face; porque a terra está cheia de violência; e eis que os<br />
desfarei com a terra.<br />
Deus, ao indicar que Noé construísse uma arca porque iria destruir a violência<br />
que dominava os homens e, ao dar a incumbência ao patriarca de começar um novo<br />
mundo, deixa a entender nos leitores do texto bíblico que tanto Noé quanto sua família<br />
são merecedores desse benefício porque agem conforme os ditames do Criador:<br />
combinam as qualidades necessárias para a renovação do mundo. Machado de Assis,<br />
entretanto, cria no enredo do conto, cenas de uma família casual (BAKHTIN, 1997) nas<br />
quais brigas e discussões são parte da realidade, opondo-se à ideia de bondade, justiça e<br />
equidade reservadas para o mundo que Noé deveria povoar. Além disso, revela-se aqui<br />
uma nova face para a compreensão do conto de Machado: os heróis personificam a<br />
condição humana – compatível com a vida tal qual ela é: cheia de conflitos, anseios,<br />
desejos, incongruências. A singularidade do indivíduo, enquanto ser no mundo<br />
(BAKHTIN, 2003) – motivado pela sua ambivalência registra-se na altercação entre os<br />
irmãos por causa da ambição pela propriedade das terras. Essas características divergem<br />
da visão de narrativa sagrada defendida por Eliade (2010a). Segundo esse autor, os<br />
personagens dos mitos (narrativas verdadeiras) e dos contos e fábulas (narrativas falsas)<br />
têm uma característica em comum: “eles não pertencem ao mundo quotidiano”.<br />
(ELIADE, 2010a, p.15). A experiência religiosa da re-criação do mundo produziria no<br />
novos homens e mais ainda na família de Noé, por terem sidos escolhidos para o<br />
povoamento do mundo, uma aproximação com o divino, com a natureza exemplar do<br />
mundo de origem.<br />
A ironia – marca da discursividade e do estilo de Machado de Assis, aparece<br />
surpreendentemente no final do texto, quando Noé, falando como um homem do século<br />
XIX, brada:<br />
— Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos<br />
limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia?<br />
Aqui, percebemos claramente um autor cuja voz resgata o mundo em que se<br />
situa, ao registrar os conflitos de seu tempo, (a guerra do império russo contra o<br />
otomano) na voz do patriarca bíblico. Poder-se-ia questionar ainda se Machado não
estaria representando, nesse mesmo exemplar de ironia pura, a típica família patriarcal<br />
(RABELLO, 2008) tão conhecida sua em outras narrativas.<br />
Lido como narrativa, na concepção das Ciências da Religião, o conto de<br />
Machado de Assis, embora possua as características básicas colocadas para àqueles<br />
textos que indicam que o Dilúvio funcionaria como uma renovação do mundo, quando<br />
reatualizamos a leitura na perspectiva machadiana, percebemos que o mundo criado no<br />
conto, não se mostra renovado. Ao contrário, até o patriarca revela-se preocupado com<br />
as ações da humanidade, como sinaliza sua última fala, mostrada acima.<br />
Nesse sentido, o grande escritor brasileiro responde, enquanto atividade<br />
responsiva ativa (BAKHTIN, 2003), às imposições histórico-culturais de seu tempo, ao<br />
revelar um protagonista (Noé) do tempo passado (tempo primordial), mas revelado pela<br />
perspectiva de futuro, ao trazer um confronto (O que será quando vierem a Turquia e a<br />
Rússia?), distante em milênios, para o leitor.<br />
A seguir, trazemos para esta discussão outro belíssimo conto que dialoga com o<br />
livro do Gênesis.<br />
Vicente, de Miguel Torga, a desobediência em nome da liberdade<br />
Miguel Torga, pseudônimo adotado pelo médico português Adolfo Correia<br />
Rocha que apresenta o conto Vicente – nome do personagem principal da narrativa que<br />
faz parte da obra Bichos, publicação de contos datada de 1940 em que grande parte dos<br />
personagens é de animais. A extrema beleza com que o autor divide a coletânea e atribui<br />
aos animais as características humanas de imediato conquistam o leitor para o mundo<br />
alegórico construído pelo autor.<br />
Torga narra, no conto Vicente escolhido aqui, a aventura do corvo que, no texto<br />
original da Bíblia, é solto por Noé 7 para verificar, quando a chuva cessa, se há terra seca<br />
por perto. Em Gênesis, como podemos ver a seguir, lhe são dedicadas apenas duas<br />
linhas na passagem:<br />
Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e<br />
soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram<br />
as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as<br />
águas teriam já minguado da superfície da terra; mas a pomba, não<br />
achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca; porque as águas<br />
cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu<br />
consigo na arca (GÊNESIS, 8.6-9).<br />
Na narrativa, Miguel Torga dá vida à ave, que diferentemente do texto bíblico,<br />
foge da Arca, por não concordar com o fato de estar preso ali. Imputando-lhe um nome<br />
simbólico: Vicente é aquele que vence, Anido (1975) analisa a forma como Miguel<br />
Torga posiciona a construção do herói da narrativa em torno da vitória que o pequeno<br />
pássaro conquistará ao sair da Arca, em busca de liberdade; alegoria que põe em cheque<br />
as primeiras desigualdades entre os seres, já bem claras na leitura de todo o livro de<br />
Gênesis: Deus é o criador supremo, o homem é o ser superior; os animais, sujeitados<br />
aos homens, eram simples criaturas, separadas pela posição: puro/impuro, os que<br />
podiam servir ao holocausto, os que se arrastavam, etc. Porém, os únicos que<br />
7 Encontramos a presença do corvo com essa mesma função também na Epopeia de Gilgamesh.
desobedeceram ao Senhor foram os homens. E a revolta de Vicente acontece pelo fato<br />
dele não concordar em “sofrer com os maus atos dos homens”.<br />
Em resumo, essa narrativa dá voz e corpo à pequena ave, transformando-a em<br />
um inconformado pela prisão temporária, em nome dos erros e pecados da raça humana,<br />
e pelo julgo de Noé durante os dias de confinamento. Noé, como representação do<br />
homem, é patético, um simulacro. Reage à ira de Deus, ao dar conta de que Vicente<br />
fugira, simulando, primeiramente, uma surpresa inesperada, depois, como subserviente,<br />
coloca em Vicente defeitos de caráter e uma ingratidão aos cuidados que ele, Noé, teve<br />
com o corvo.<br />
Anido (1975) elabora um sistema de simbologias colocando o protagonista em<br />
oposição ao despotismo divino. Ainda mais, a autora, estabelece a Mãe Terra como a<br />
divindade que protegerá a ave da ira de Deus que luta diante da fuga e do mau-exemplo<br />
dado por Vicente. De acordo com ela, o personagem “[...] encontra a Mãe Terra, mas o<br />
destinos de ambos está intimamente ligado e dependendo dos caprichos da “implacável<br />
tirania” [grifos da autora] do Pai”. (ANIDO, 1975, p.35). Outra autora que destaca o<br />
duelo de Deus e Vicente, percebendo a luta pela sobrevivência como um sistema de<br />
oposição, é Lopes (1975). Essa autora prende-se ao sistema semiótico construído pela<br />
seleção lexical de Torga e que revela as posições entre os personagens (Deus, Noé,<br />
Vicente e os animais da Arca).<br />
Porém, percebemos que em todo o texto, a postura rebelde e inconformada de<br />
Vicente diante da força divina que estabelece as posições axiológicas de quem são os<br />
escolhidos, os puros e impuros. Em algumas interpretações religiosas, o corvo é tido<br />
como animal impuro, por conta da carne podre de que este se alimenta; em outras, é tido<br />
como um animal do mal, pelo simbolismo representado pela cor preta, também<br />
representação de protesto.<br />
Vicente assume uma voz de insubordinação, embora que silenciosa, porque em<br />
nenhum momento fala diretamente na narrativa. Os outros personagens falam em<br />
discurso direto: Deus, Noé e o coro de animais que assiste a tudo, diga-se espantado,<br />
admirado com a coragem e o atrevimento de Vivente. Em todo movimento discursivo, a<br />
escolha lexical que caracteriza o corvo, suas reações e posicionamentos são construídos<br />
pela imagem daquele que não se conforma:<br />
“Calado e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua,<br />
como se aquele grande navio onde o Senhor guardara a vida fosse um<br />
ultraje à criação.”<br />
“A consciência em protesto activo contra o arbítrio que dividia os<br />
seres em eleitos e condenados.”<br />
Além dessas marcas explícitas que constroem um ser não alheio ao que lhe<br />
acontece no mundo/realidade, Vicente possui consciência plena de seu sofrimento e,<br />
opostamente aos homens, não aceita como decisão fatalista a versão de que todos da<br />
Arca estavam incondicionalmente presos até que a ira de Deus acalmasse as chuvas e a<br />
terra surgisse novamente no horizonte da Arca.<br />
O texto de Torga, assim como o conto de Machado de Assis, transforma a<br />
interpretação dada ao mito diluviano bíblico, insinuando uma natureza má em Deus, que<br />
age injustamente ou por vontade própria, ignorando as vontades das criaturas, das<br />
maiores (o homem) e das menores (os animais). A natureza divina é questionada, com<br />
sabedoria e força pelo pequeno Vicente, que se torna uma forma alegórica de<br />
representação de um contexto histórico-político vivenciado por Torga. Este também
posiciona axiologicamente seus personagens, respondendo ativamente a um tempo em<br />
que os homens ora agem como Vicente ora agem como Noé diante de um Deus que<br />
poderia ser interpretado como governos, igrejas, comandos em relação a comandados.<br />
Para encerrar, concluímos que o homem Torga toca o discurso, pela voz de Vicente,<br />
trazendo algumas questões de sua época que não podiam ficar em silêncio. Apesar do<br />
contexto ditatorial e de censura com o qual o autor convivia.<br />
A re-atualização dos mitos numa proposta dialógica<br />
A escolha desses dois contos como exemplos de compreensões sobre as<br />
narrativas mitológicas que são/foram reatualizadas pela Literatura indica como<br />
professores de Ensino Religioso e de outras disciplinas, que trabalhem com a leitura ou<br />
letramento literário, podem (des) construir discursos, principalmente aqueles arraigados,<br />
tidos como únicos (A Verdade) em que os valores religiosos e culturais não expressem a<br />
diversidade ou a pluralidade. A fronteira entre o discurso literário e o discurso mítico é<br />
tênue, vista por esse aspecto, assim, colocamo-nos em favor de práticas pedagógicas<br />
que possibilitem a construção de diferentes visões de mundo, construídas em<br />
dialogismo, em interação, em interlocução.<br />
Por fim, entendemos que essa interlocução ajuda sensivelmente na compreensão<br />
dos horizontes de Machado de Assis e de Miguel Torga a respeito dos homens e das<br />
divindades que ambos representam nas narrativas e que um trabalho de transposição<br />
didática concebido<br />
O homem de Machado de Assis dialoga com a construção discursiva de<br />
patriarca, responsável pela organização do lar, da família, dos bens, da moral (cristã) e<br />
da sociedade (aristocracia brasileira). Seus filhos constroem-se pela característica da<br />
ambição e Deus é aquele que deixa aos homens a direção de seus destinos, mesmo que<br />
tomem caminhos totalmente diverso daquele que lhe fora predestinado ou preparado.<br />
O homem de Miguel Torga indica um ser submisso, inconsciente de seu mundo,<br />
de seu papel. Marionete nas mãos da(s) divindade(s), porém essa imagem – deflagrada<br />
por Noé, é desconstruída pelo novo homem que surge, símbolo do discurso humanitário<br />
de Torga, Vicente, apresenta-se como o homem transformado, aquele que luta, que não<br />
aceita, que questiona. A sua fuga põe em movimento os sonhos, a força que remete para<br />
realização de uma nova existência.<br />
Assim, entendemos que, ao trazer para o ambiente escolar textos literários que<br />
abordem a temática do Transcendente e das questões religiosas, o/a professor/a<br />
possibilita momentos de leitura para a compreensão do Outro (alteridade) e abre espaços<br />
para a pluralidade, para o diálogo entendido como acontecimento da vida.<br />
Referências<br />
ANIDO, Nayade. Miguel Torga e a “recusa do Divino”.In: Revista Colóquio/Letras.<br />
Ensaio, n.º 24, Mar. 1975, p. 31-40.<br />
ANÔNIMO. A Epopeia de Gilgamesh. São Paulo: Martins Fontes, 2001.<br />
ASSIS, Machado de. Papéis Avulsos. São Paulo: Martin Claret, 2003.<br />
ARAÚJO, Wandekarla Bônia de. A crise juvenil ante o sagrado institucional e a busca<br />
de uma espiritualidade na mística de Paula Franssinetti. (Dissertação de Mestrado).
Universidade Católica da Pernambuco. Programa de Mestrado em Ciências da Religião,<br />
2008.<br />
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Tradução Paulo Bezerra. 4ª ed. São<br />
Paulo, Martins Fontes, 2003.<br />
_____. Problemas da poética de Dostoievski. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense<br />
Universitária, 1997.<br />
BRANDENBURG, Laude Erandi. Ensino Religioso na escola pública estadual: o difícil<br />
exercício da diferença. Revista de Estudos Teológicos. v.45, n.1, 2005, pp.78-98.<br />
Disponível em<br />
http://www3.est.edu.br/publicacoes/estudos_teologicos/vol4501_2005/et2005-<br />
BENEVIDES, <strong>Araceli</strong> <strong>Sobreira</strong>. Identidades de professores de Ensino Religioso –<br />
mapeando os/as profissionais de ER a partir do discurso sobre si mesmos e sobre os<br />
saberes da docência. Relatório Final de Projeto de Pesquisa, Natal: Departamento de<br />
Ciências da Religião, FAPERN/<strong>UERN</strong>, 2011.<br />
______. Saberes da Prática Docente do Ensino Religioso Referências para a Formação<br />
sobre a construção/constituição da identidade do/a professor/a de ER. Relatório Final<br />
de Projeto de Pesquisa, Natal: Departamento de Ciências da Religião, <strong>UERN</strong>, 2009.<br />
CELANI, Maria Antonieta Alba. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no<br />
Brasil. In: SIGNORINI, Inês; CAVALCANTI, Marilda C. (Orgs.). Linguística Aplicada<br />
e transdisciplinaridade: questões e perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 1998.<br />
BIERLEIN, J. F. Mitos paralelos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.<br />
CAMILO, Janaína. Ensino Religioso na escola pública: uma mudança de paradigma.<br />
Revista de Estudos da Religião. São Paulo, n.2, 2004, pp.26-36. Disponível em:<br />
. Acesso em: 15 jun. 2007.<br />
CELANI, Maria Antonieta Alba. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no<br />
Brasil. In: SIGNORINI, Inês; CAVALCANTI, Marilda C. (orgs.) Linguística Aplicada<br />
e transdisciplinaridade: questões e perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 1998.<br />
COSTA, Flávio M. (org.) Os melhores contos bíblicos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.<br />
CURY, Carlos Roberto Jamil. Ensino Religioso na escola pública: o retorno de uma<br />
polêmica recorrente. Revista Brasileira de Educação. Set /Out /Nov /Dez. No 27. 2004.<br />
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Lisboa, Edições 70, 1989 (Perspectivas do<br />
Homem, 19).<br />
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010a.<br />
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3. ed. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 2010b.<br />
GALEANO, Eduardo. Os nascimentos: memória do fogo. Volume 1. Porto Alegre:<br />
L&PM, 2010.<br />
GIUMBELLI, Emerson; CARNEIRO, Sandra de Sá. Religião nas escolas públicas:<br />
questões nacionais e a situação no Rio de Janeiro. Revista Contemporânea de<br />
Educação. Rio de Janeiro, n.2, dez. 2006. Disponível em:<br />
. Acesso<br />
em: 23 dez. 2007.<br />
MOITA LOPES, L. P. Uma linguística aplicada mestiça e ideológica: interrogando o<br />
campo como lingüista aplicado. In: MOITA LOPES, L. P. (org.). Por uma lingüística<br />
aplicada INdiscliplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.<br />
LOPES, Teresa Rita. Além, aqui e aquém em Miguel Torga – análise de “Vicente”.<br />
Revista Colóquio/ Letras. Ensaio. n.º 25, maio,1975.<br />
PASSOS, João Décio. Ensino Religioso: construção de uma proposta. São Paulo:<br />
Paulinas, 2007a.
PASSOS, João Décio. Ensino Religioso: mediações epistemológicas e finalidades<br />
pedagógicas. In: SENA, Luzia (org.). Ensino religioso e formação docente: Ciências da<br />
Religião e Ensino Religioso em diálogo. São Paulo: Paulinas, 2007b<br />
McCALL, Henrietta. Mitos da Mesopotâmia. São Paulo: Editora Moraes, 1994.<br />
RABELLO, Ivone Daré. Machado de Assis: um homem genial?. J. epilepsy clin.<br />
neurophysiol., Porto Alegre, v. 14, n. 4, Dec. 2008 .<br />
ROJO, Roxane H. Fazer lingüística aplicada em perspectiva sócio-histórica: privação<br />
sofrida e leveza de pensamento. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma linguística<br />
INdisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.<br />
TORGA, Miguel. Bichos. Lisboa: Publicações D. Quixote, 2002.