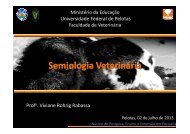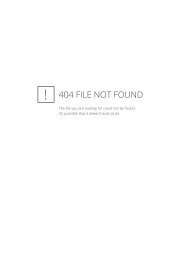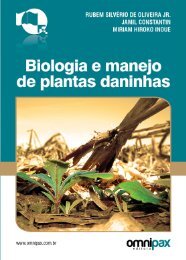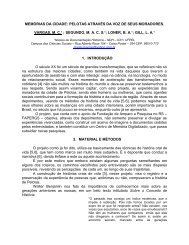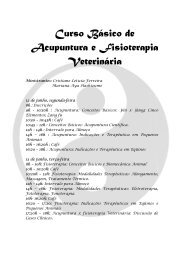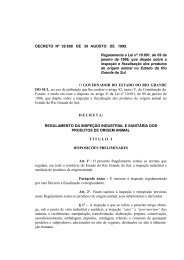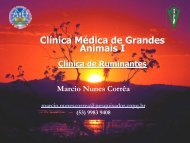Marcelo Baquero; Bianca de Freitas Linhares Capital social
Marcelo Baquero; Bianca de Freitas Linhares Capital social
Marcelo Baquero; Bianca de Freitas Linhares Capital social
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPITAL SOCIAL E EMPODERAMENTO DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR<br />
EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO SUL DO BRASIL<br />
BAQUERO, <strong>Marcelo</strong> 1 ; LINHARES, <strong>Bianca</strong> <strong>de</strong> <strong>Freitas</strong> 2<br />
1 UFRGS; 2 UFRGS<br />
Resumo<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é examinar o impacto do estabelecimento <strong>de</strong> empreendimentos<br />
hidrelétricos na fragmentação <strong>social</strong> e <strong>de</strong>sestruturação familiar nas comunida<strong>de</strong>s atingidas.<br />
O capital <strong>social</strong>, <strong>de</strong>finido em termos <strong>de</strong> confiança recíproca e interpessoal, ten<strong>de</strong> a se<br />
fortalecer em comunida<strong>de</strong>s locais atingidas por dispositivos que afetam suas vidas positiva<br />
ou negativamente. Neste trabalho, consi<strong>de</strong>ramos que as comunida<strong>de</strong>s afetadas por<br />
empreendimentos hidrelétricos experimentam uma perda da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> coletiva primária,<br />
sendo obrigados a fazer parte <strong>de</strong> outras comunida<strong>de</strong>s constituídas em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas<br />
iniciativas, possibilitando, ou não, a promoção do capital <strong>social</strong> e do empo<strong>de</strong>ramento.<br />
Defen<strong>de</strong>-se que é necessário que os responsáveis pelos empreendimentos realizem<br />
diagnósticos aprofundados, <strong>de</strong> natureza psicos<strong>social</strong> junto às populações atingidas, sob<br />
pena <strong>de</strong> causar danos irreparáveis à qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong>ssas comunida<strong>de</strong>s. Para alcançar<br />
os objetivos propostos e testar a hipótese central, utilizam-se dados da pesquisa Avaliação<br />
dos resultados e proposição <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> remanejamento da<br />
população atingida por empreendimentos hidrelétricos, realizada em janeiro <strong>de</strong> 2012, com a<br />
população atingida por ocasião da instalação <strong>de</strong> cinco usinas hidrelétricas no norte do Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul e no sul <strong>de</strong> Santa Catarina.<br />
Palavras-chave: Atingidos por Barragens; <strong>Capital</strong> Social; Confiança.<br />
Introdução<br />
Estudos sobre políticas públicas no Brasil têm proliferado significativamente<br />
nos últimos anos. Nas mais diversas áreas <strong>de</strong> aplicação, as políticas públicas 1 se<br />
constituem em ações que o Estado toma para solucionar alguma questão na<br />
socieda<strong>de</strong>, com o objetivo <strong>de</strong> proporcionar uma melhor qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida à<br />
população. Nessa perspectiva, surgem políticas públicas, por exemplo, nas áreas <strong>de</strong><br />
educação, <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, <strong>de</strong> segurança, <strong>de</strong> assistência <strong>social</strong>, <strong>de</strong> habitação, entre<br />
outras.<br />
Uma das dimensões das políticas públicas que tem sido alvo <strong>de</strong> poucas<br />
pesquisas na área <strong>de</strong> Ciência Política diz respeito à política <strong>de</strong> acesso à energia e<br />
suas conseqüências. Contudo, estudos sobre essa temática são imprescindíveis,<br />
dado que o acesso da população a esse bem <strong>social</strong> tornou-se imperativo. Não por<br />
acaso o governo brasileiro tem investido e estimulado a instalação <strong>de</strong> hidrelétricas<br />
no país <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o final do século XIX, com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aproveitar a hidrografia e o<br />
1 Para uma revisão <strong>de</strong> literatura sobre Políticas Públicas ver Souza (2006).
elevo propício à geração <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> energia (PASE e ROCHA, 2010; PASE,<br />
2012).<br />
Entretanto, apesar da energia elétrica se constituir num mecanismo <strong>de</strong><br />
inclusão <strong>social</strong>, o processo envolvido até chegar às residências enfrenta<br />
adversida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> toda or<strong>de</strong>m. Esse caminho passa, muitas vezes, sem que a maior<br />
parte dos cidadãos perceba, sobre famílias, comunida<strong>de</strong>s e suas proprieda<strong>de</strong>s, na<br />
forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>sapropriação <strong>de</strong> terras via dispositivos jurídicos, em nome <strong>de</strong> um bem<br />
maior, qual seja, o <strong>de</strong>senvolvimento econômico do país.<br />
Não se po<strong>de</strong> negar que mecanismos <strong>de</strong> proteção existem para as famílias e<br />
grupos sociais que são atingidos pelos empreendimentos hidrelétricos no Brasil.<br />
Conforme mostra Rocha (2012a e 2012b), atualmente o atingido por barragens<br />
possui direitos, como o <strong>de</strong> ser in<strong>de</strong>nizado pela <strong>de</strong>sapropriação <strong>de</strong> sua terra, ou<br />
escolher entre outras possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acordos referentes à saída <strong>de</strong> sua<br />
proprieda<strong>de</strong>.<br />
No entanto, como a história recente tem se encarregado <strong>de</strong> mostrar, os<br />
empreendimentos afetam não apenas os proprietários (os quais terão algum tipo <strong>de</strong><br />
acordo para “sanar” problemas advindos <strong>de</strong>ssa perda), mas impactam também as<br />
relações sociais, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e histórias <strong>de</strong> vida. A avaliação <strong>de</strong>ssas questões,<br />
entretanto, não tem merecido, proporcionalmente, estudos que aprofun<strong>de</strong>m as<br />
sequelas dos empreendimentos nessas dimensões. Com base nessa constatação,<br />
este trabalho examina o impacto do estabelecimento <strong>de</strong> empreendimentos<br />
hidrelétricos nas dimensões subjetivas acima citadas e, num segundo momento,<br />
analisa como o capital <strong>social</strong> po<strong>de</strong>ria auxiliar na construção <strong>de</strong> coesão <strong>social</strong> e<br />
comunitária.<br />
O capital <strong>social</strong>, <strong>de</strong>finido em termos <strong>de</strong> confiança recíproca e interpessoal, se<br />
modifica em comunida<strong>de</strong>s locais atingidas por dispositivos que afetam suas vidas<br />
positiva ou negativamente. Neste trabalho, consi<strong>de</strong>ramos que as comunida<strong>de</strong>s<br />
afetadas por empreendimentos hidrelétricos experimentam uma perda da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
coletiva primária, sendo obrigados a fazer parte <strong>de</strong> outras comunida<strong>de</strong>s constituídas<br />
em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas iniciativas, possibilitando, ou não, a promoção do capital <strong>social</strong> e<br />
do empo<strong>de</strong>ramento.<br />
Buscamos, nesse trabalho, subsídios teórico-práticos que auxiliem os<br />
responsáveis pelos empreendimentos a realizar diagnósticos aprofundados, <strong>de</strong>
natureza psicos<strong>social</strong>, junto às populações atingidas, a fim <strong>de</strong> evitar danos<br />
irreparáveis à qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong>ssas comunida<strong>de</strong>s.<br />
Para alcançar os objetivos propostos, utilizam-se dados da pesquisa<br />
Avaliação dos resultados e proposição <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong> programas <strong>de</strong><br />
remanejamento da população atingida por empreendimentos hidrelétricos, realizada<br />
em janeiro <strong>de</strong> 2012, com a população atingida por ocasião da instalação <strong>de</strong> cinco<br />
usinas hidrelétricas no norte do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul e no sul <strong>de</strong> Santa Catarina.<br />
O paper está organizado, além da Introdução, em mais quatro partes. Na<br />
primeira são abordados os conceitos <strong>de</strong> Cultura Política, <strong>Capital</strong> Social e<br />
Empo<strong>de</strong>ramento. Na segunda é apresentada a metodologia utilizada. Na terceira<br />
parte são apresentados os dados empíricos da pesquisa. Por fim, são trazidas<br />
algumas conclusões do paper.<br />
I. A relevância do estudo da Cultura Política, do <strong>Capital</strong> Social e do<br />
Empo<strong>de</strong>ramento<br />
Atualmente, se constata uma convergência <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong> vista, em relação a<br />
i<strong>de</strong>ntificar um conjunto <strong>de</strong> fatores (mercado, privatizações, redução do tamanho do<br />
Estado, a globalização, a robótica e a informática), que estão alterando<br />
profundamente o estilo <strong>de</strong> vida das pessoas em países como o Brasil. Constata-se<br />
que os avanços formais da <strong>de</strong>mocracia não encontram um <strong>de</strong>senvolvimento paralelo<br />
na dimensão <strong>social</strong>, pois continua a prevalecer a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> <strong>social</strong>. Essa<br />
assimetria inci<strong>de</strong>, sobretudo, nos setores mais vulneráveis da socieda<strong>de</strong>. Nesse<br />
cenários os cientistas políticos têm sido chamados a respon<strong>de</strong>r questões<br />
fundamentais, estando entre as mais importantes:<br />
Que medidas tomar para sanar os déficits <strong>de</strong>mocráticos?<br />
Como assegurar que os segmentos <strong>social</strong>mente marginalizados sejam<br />
incluídos nos benefícios do <strong>de</strong>senvolvimento do país?<br />
Como organizar o apoio crescente da socieda<strong>de</strong> que dê po<strong>de</strong>r e<br />
sustentabilida<strong>de</strong> à <strong>de</strong>mocracia na sua forma atual? (OEA, PNUD, 2010).<br />
Nesse sentido, trata-se <strong>de</strong> discutir a <strong>de</strong>mocracia no Brasil com base numa<br />
situação pontual e que se refere ao tratamento dado as populações que são<br />
<strong>de</strong>slocadas por dispositivos tecnológicos em nome do <strong>de</strong>senvolvimento do país.<br />
Essa preocupação tem a ver, portanto, com o processo <strong>de</strong> construção da cidadania.
Essa preocupação se aprofunda em virtu<strong>de</strong> da constatação <strong>de</strong> que<br />
estaríamos testemunhando um processo <strong>de</strong> erosão <strong>de</strong> valores ético-morais,<br />
essenciais para a construção <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> <strong>social</strong>mente justa e <strong>de</strong>mocrática. O<br />
resultado <strong>de</strong>sse <strong>de</strong>scompasso é visível na fragilização dos laços sociais e na<br />
individualização das relações sociais on<strong>de</strong> predominam os valores particularistas em<br />
<strong>de</strong>trimento do bem estar coletivo.<br />
Valores como a solidarieda<strong>de</strong>, a amiza<strong>de</strong>, a confiança recíproca (e também<br />
nas instituições políticas), bem como a valorização da participação estão em<br />
<strong>de</strong>clínio. É possível dizer que está em andamento a institucionalização <strong>de</strong> um vazio<br />
<strong>social</strong> on<strong>de</strong> a anomia, a indiferença, a intolerância e o <strong>de</strong>sencanto dos cidadãos com<br />
o atual estado <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioração <strong>social</strong>, política, ética e econômica produz dúvidas e<br />
incertezas sobre a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se consolidar uma <strong>de</strong>mocracia equitativa e<br />
<strong>social</strong>mente orientada no futuro do país.<br />
Somado a esse quadro, as expectativas geradas na população brasileira pelo<br />
processo <strong>de</strong> re<strong>de</strong>mocratização têm sido frustradas. A consequência é a<br />
materialização <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> na qual prevalecem elevados déficits <strong>de</strong> coesão<br />
<strong>social</strong>, <strong>de</strong> cultura política participativa, <strong>de</strong> empo<strong>de</strong>ramento emancipatório e <strong>de</strong> capital<br />
<strong>social</strong>.<br />
Parte-se, portanto, da premissa que a <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>,<br />
fundamentalmente, para funcionar eficientemente (regular os conflitos sociais) e<br />
plenamente (satisfazer minimamente as <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> caráter <strong>social</strong>) do grau <strong>de</strong><br />
apoio que os cidadãos dão ao regime político vigente, ou seja, do tipo <strong>de</strong> cultura<br />
política existente.<br />
Uma questão importante é saber como se distribui o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ntro da<br />
socieda<strong>de</strong>, quem o <strong>de</strong>tém, como ele é utilizado, <strong>de</strong> que forma a soberania doméstica<br />
constrange o pleno <strong>de</strong>senvolvimento da <strong>de</strong>mocracia e da cidadania? De que forma a<br />
<strong>de</strong>mocracia se torna sustentável, ou seja, um sistema on<strong>de</strong> as promessas eleitorais<br />
são cumpridas e há um efetivo respeito pelos direitos <strong>de</strong> todos os cidadãos? Com<br />
base nessa perspectiva, a <strong>de</strong>mocracia começa e não se esgota no voto<br />
<strong>de</strong>mocrático. É pertinente a este respeito sumariar os diversos fatores propostos<br />
pelo Relatório do OEA/PNUD 2010 para caracterizar uma <strong>de</strong>mocracia efetiva.<br />
1. A <strong>de</strong>mocracia é sustentável, ou seja, gera capacida<strong>de</strong>s para perdurar e<br />
ampliar-se, na medida em que sua legitimida<strong>de</strong> <strong>de</strong> exercício e <strong>de</strong> finalida<strong>de</strong> seja<br />
agregada à legitimida<strong>de</strong> <strong>de</strong> origem.
2. Da forma como funciona o sistema <strong>de</strong>mocrático latino-americano<br />
atualmente, acaba distanciando os cidadãos dos gestores públicos. A crise <strong>de</strong><br />
representação se converte na exteriorização das falências do exercício e do<br />
cumprimento dos fins da <strong>de</strong>mocracia. Uma socieda<strong>de</strong> que pouco acredita em quem<br />
os governa é uma socieda<strong>de</strong> que po<strong>de</strong> se <strong>de</strong>svincular da <strong>de</strong>mocracia.<br />
3. Sem procedimentos apropriados que regulem a relação Estado-<br />
socieda<strong>de</strong> (exercício) e sem alcançar a ampliação crescente da cidadania, o sistema<br />
<strong>de</strong>mocrático po<strong>de</strong>-se transformar num rito ou po<strong>de</strong>ria ser superado por outra forma<br />
<strong>de</strong> organização <strong>social</strong>. O risco presente para as <strong>de</strong>mocracias latino-americanas se<br />
encontra menos nas intenções <strong>de</strong> <strong>de</strong>stituir presi<strong>de</strong>ntes do que a perda da<br />
legitimida<strong>de</strong>.<br />
4. O exercício e os fins da <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong>vem estar no centro do <strong>de</strong>bate<br />
na América Latina. Se o cesarismo substitui o presi<strong>de</strong>ncialismo, as instituições<br />
republicanas ficam truncadas, <strong>de</strong>saparece a in<strong>de</strong>pendência do po<strong>de</strong>r e os controles.<br />
Se a <strong>de</strong>mocracia não se concebe sem um Estado, um Estado <strong>de</strong>mocrático não é<br />
viável sem um sistema republicano <strong>de</strong> pesos e contrapesos no exercício do po<strong>de</strong>r. A<br />
qualida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>mocracia exige igualmente o funcionamento cabal do Estado <strong>de</strong><br />
Direito.<br />
5. Existem <strong>de</strong>safios imediatos a enfrentar: a maior taxa <strong>de</strong> homicídios no<br />
mundo, isso significa que não se garante o direito a vida; a maior <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> no<br />
planeta, <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> ingresso, território, e gênero e étnica significa<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. Portanto, nem o po<strong>de</strong>r nem a lei são iguais para todos.<br />
Consi<strong>de</strong>rando esses pontos indicados como essenciais à prevalência da<br />
<strong>de</strong>mocracia em uma socieda<strong>de</strong>, po<strong>de</strong>-se afirmar que o Brasil apresenta<br />
constrangimentos à plena <strong>de</strong>mocracia. Um <strong>de</strong>sses limitadores se refere à<br />
capacida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>mocracia formal contemporânea em se manter e se ampliar em um<br />
cenário on<strong>de</strong> a relação entre a população e seus representantes políticos se mostra<br />
frágil. Tal situação é agravada pelos episódios <strong>de</strong> corrupção e o mau <strong>de</strong>sempenho<br />
dos políticos enquanto representantes. O resultado se manifesta na falta <strong>de</strong><br />
confiança nos gestores públicos e o <strong>de</strong>sencanto geral com a <strong>de</strong>mocracia.<br />
O mal estar <strong>de</strong>monstrado, pelos brasileiros, com o estágio atual da<br />
<strong>de</strong>mocracia po<strong>de</strong> gerar ações que <strong>de</strong>slegitimam o regime <strong>de</strong>mocrático no país, o<br />
que, por sua vez, po<strong>de</strong> favorecer o pensamento <strong>de</strong> que a relação Estado-socieda<strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong> ser regulada por outras formas <strong>de</strong> práxis política e que historicamente se
mostraram ineficazes, comprometendo o <strong>de</strong>senvolvimento da cidadania enquanto<br />
fim <strong>de</strong>mocrático. Mesmo na vigência do regime <strong>de</strong>mocrático representativo no Brasil,<br />
continua a se observar que nem todos têm seus direitos assegurados. Nessas<br />
circunstâncias, não surpreen<strong>de</strong> a continuação e fortalecimento <strong>de</strong> uma cultura<br />
política passiva, pouco participativa, on<strong>de</strong> as ações coletivas são substituídas por<br />
práticas que privilegiam o individualismo e os ganhos imediatos.<br />
Tentar introduzir medidas além das convencionais e formais para modificar<br />
essa situação tem se constituído o <strong>de</strong>safio dos cientistas no início do século XXI. Um<br />
dos temas que tem emergido para o <strong>de</strong>bate diz respeito a como <strong>de</strong>senhar uma boa<br />
socieda<strong>de</strong> com or<strong>de</strong>m <strong>social</strong>. Pontualmente, no caso brasileiro, a construção <strong>de</strong> uma<br />
boa socieda<strong>de</strong> é colocada como <strong>de</strong>safio aos gestores públicos, <strong>de</strong> tal forma que<br />
garanta o nível <strong>de</strong> bem estar dos cidadãos nos mesmos patamares que os países<br />
<strong>de</strong>senvolvidos. Trata-se, basicamente <strong>de</strong> produzir uma boa e equitativa socieda<strong>de</strong>.<br />
Nessa linha <strong>de</strong> análise, Etzioni (1989) se pergunta se uma boa socieda<strong>de</strong> é aquela<br />
que foge das concepções coletivas <strong>de</strong> virtu<strong>de</strong> e fomenta, em seu lugar, o<br />
individualismo e o pluralismo como as principais fontes da liberda<strong>de</strong>, ou se uma boa<br />
socieda<strong>de</strong> é aquela on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>senvolvem re<strong>de</strong>s sociais estreitamente entrelaçadas<br />
que assegurem o respeito das virtu<strong>de</strong>s com base nas quais uma socieda<strong>de</strong> se<br />
constitui uma boa socieda<strong>de</strong>. É possível combinar essas duas abordagens?<br />
Teóricos políticos normativos há muito tempo vêm discutindo sobre o<br />
significado <strong>de</strong> boa cidadania. De Aristóteles (2002) a Tocqueville (1987) virtu<strong>de</strong>s<br />
cívicas como racionalida<strong>de</strong>, uma obrigação moral em buscar o bem comum,<br />
engajamento <strong>social</strong> e ativismo político têm sido interpretados como pré-requisitos<br />
para uma boa socieda<strong>de</strong> e um eficiente Estado (ALMOND, 1980; WALZER, 1989).<br />
Esses <strong>de</strong>bates filosóficos e acadêmicos, no entanto, não tem conseguido i<strong>de</strong>ntificar<br />
um mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> boa cidadania que seja incontestável e amplamente aceito.<br />
O esforço <strong>de</strong> universalizar a igualda<strong>de</strong> e inclusão política torna imperativo<br />
problematizar sobre como po<strong>de</strong>ria ser viabilizado, no contexto contemporâneo, o<br />
bem comum. A tentativa <strong>de</strong> resgatar esse conceito numa dimensão <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong><br />
é diferente da forma normativa como era tratado antigamente. A esse respeito<br />
Vásquez (2000), sugere que duas perspectivas teóricas po<strong>de</strong>m ser i<strong>de</strong>ntificadas e<br />
que discutem como alcançar o bem comum. Uma <strong>de</strong>las se dá pelo exercício da<br />
virtu<strong>de</strong> cívica dos cidadãos e, a outra, por um <strong>de</strong>senho institucional (que será tratado<br />
adiante).
Na primeira perspectiva, o cidadão virtuoso é feliz somente quando age em<br />
nome da comunida<strong>de</strong>. Maquiavel (1979), por exemplo, argumentava não haver<br />
conflito entre a esfera pública e a esfera privada, pois os cidadãos eram conscientes<br />
da importância <strong>de</strong> viver coletivamente. Atribui-se a Maquiavel a recuperação do<br />
conceito do virtú (que significa energia, sendo utilizado para <strong>de</strong>screver o ethos<br />
patriótico dos guerreiros romanos), a <strong>de</strong>voção à coletivida<strong>de</strong>, o patriotismo e a<br />
autorida<strong>de</strong> do governo justo (MAQUIAVEL, 1999). Não por acaso que se credita a<br />
Maquiavel uma das maiores transformações científicas no estudo da política, cujas<br />
características essenciais eram: a superação do misticismo, da autorida<strong>de</strong> divina e<br />
do po<strong>de</strong>r eclesiástico celestial. Na sua formulação teórica do Estado, a dimensão<br />
das virtu<strong>de</strong>s cívicas era recurso essencial para o bom funcionamento da nação.<br />
Na mesma direção, num outro momento da história, Tocqueville (1987)<br />
apontava o sucesso da <strong>de</strong>mocracia na América como fruto da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
convivência comunitária. O autor argumentava que uma associação unifica as<br />
energias <strong>de</strong> pensamentos divergentes e os direciona para um objetivo claramente<br />
indicado. Esse processo facilita a colaboração <strong>social</strong> ou, como contemporaneamente<br />
se afirma, facilitaria a solução <strong>de</strong> problemas da ação coletiva. Igualmente uma vida<br />
associativa reduziria os perigos do individualismo que, em outras condições,<br />
po<strong>de</strong>riam <strong>de</strong>generar para privilegiar unicamente os interesses individuais em<br />
<strong>de</strong>trimento dos interesses coletivos. O envolvimento dos cidadãos na comunida<strong>de</strong>,<br />
segundo esses autores, levaria ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> situar os<br />
interesses coletivos acima dos interesses individuais. A prevalência dos interesses<br />
individuais seria danosa para o bom funcionamento da <strong>de</strong>mocracia e comprometeria<br />
os i<strong>de</strong>ais republicanos afetando, principalmente a coesão <strong>social</strong> dos cidadãos.<br />
A coesão <strong>social</strong> se refere ao nível e natureza da satisfação das necessida<strong>de</strong>s<br />
essenciais dos indivíduos juntamente com o senso <strong>de</strong> pertencer e solidarieda<strong>de</strong>,<br />
ambos gerados por um sistema estruturado para assegurar o bem estar <strong>de</strong> todos. A<br />
coesão <strong>social</strong> po<strong>de</strong> ser interpretada como um recurso para o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
econômico e a criação <strong>de</strong> bem estar, incidindo, também no <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong>mocrático. Uma socieda<strong>de</strong> coesa apresenta, por exemplo, melhores condições <strong>de</strong><br />
enfrentar os <strong>de</strong>safios <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento sustentável num contexto <strong>de</strong> globalização,<br />
na medida em que são mais flexíveis, compartilhando os custos <strong>de</strong> se ajustar às<br />
condições <strong>de</strong> mercado e sustentar a qualida<strong>de</strong> dos investimentos na infraestrutura,<br />
na educação e na força <strong>de</strong> trabalho. Socieda<strong>de</strong>s com elevados índices <strong>de</strong> coesão
<strong>social</strong> estão mais bem posicionadas para enfrentar esses <strong>de</strong>safios e são mais<br />
responsivas tanto no nível individual quanto em termos organizacionais.<br />
A reorientação da ciência política para o estudo da coesão <strong>social</strong>, do<br />
empo<strong>de</strong>ramento, capital <strong>social</strong> e da cultura política surge, portanto, em <strong>de</strong>corrência<br />
das promessas não materializadas pela <strong>de</strong>mocracia formal contemporânea que não<br />
tem proporcionado espaços suficientes para a participação do cidadão, nos mesmos<br />
mol<strong>de</strong>s que nas nações chamadas mo<strong>de</strong>rnas, além da participação no processo<br />
eleitoral. Esses déficits <strong>de</strong> participação popular tornam relevante e necessário<br />
examinar a questão da cidadania e o papel da socieda<strong>de</strong> civil numa dimensão <strong>de</strong><br />
mais participação e <strong>de</strong> fiscalização da coisa pública, sem que isso represente ou se<br />
constitua num constrangimento das estruturas formais <strong>de</strong> participação e<br />
representação política.<br />
Nessa direção, Glaeser et al. (2004) argumentam que o impacto da história <strong>de</strong><br />
uma socieda<strong>de</strong> no seu <strong>de</strong>senvolvimento atual é um reflexo do acúmulo <strong>de</strong> capital<br />
humano, o qual, por sua vez, influencia os resultados institucionais, e não o<br />
contrário. Nessa mesma linha <strong>de</strong> análise, Lipset (1969) consi<strong>de</strong>ra que a educação<br />
tem papel <strong>de</strong>cisivo na evolução das instituições. Especificamente, em relação à<br />
legitimida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um sistema político, Lipset (1969) consi<strong>de</strong>ra que os traços culturais e<br />
a educação <strong>de</strong>sempenham um papel <strong>de</strong>cisivo, pois para o autor, a <strong>de</strong>mocracia<br />
funciona bem quando os cidadãos a aceitam como instrumento legítimo <strong>de</strong><br />
resolução <strong>de</strong> conflitos.<br />
A segunda perspectiva <strong>de</strong> Vásquez (2000) acerca <strong>de</strong> alcançar o bem comum<br />
está relacionada, como apontado anteriormente, ao <strong>de</strong>senho institucionalista. Essa<br />
ênfase, geralmente, é caracterizada como uma perspectiva institucional, a qual tem<br />
por limite apontar, para a maioria das pessoas, as organizações formais (como os<br />
po<strong>de</strong>res executivos, os parlamentos, a justiça e outras instituições que tem uma<br />
estrutura e um reconhecimento jurídico) como meios que proporcionariam o bem<br />
coletivo. Mas, essa perspectiva negligencia os aspectos culturais – principalmente a<br />
cultura cívica – que inspira o funcionamento <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> através dos valores,<br />
das atitu<strong>de</strong>s, das instituições e das condutas compartilhadas <strong>de</strong> suas comunida<strong>de</strong>s.<br />
Com base no princípio <strong>de</strong> que as instituições são gerenciadas e controladas<br />
por pessoas, é necessário repensar o princípio <strong>de</strong> que somente as instituições<br />
importam para o processo <strong>de</strong>mocrático. Para O´Donnell (1994 e 2000) as<br />
instituições formais são somente um lado da moeda. Enquanto que as instituições
formais estão nas constituições ou leis, as instituições informais estruturam a vida<br />
<strong>social</strong> e política num sentido amplo. Para Waldmann (2006) existiria uma segunda<br />
dimensão oculta formada por instituições informais, tornando imperativa sua análise<br />
nas discussões <strong>de</strong> <strong>de</strong>senho institucional.<br />
Nesse sentido, toma corpo uma linha <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento teórico relativa ao<br />
papel das instituições informais. Essas instituições relacionam-se à prevalência <strong>de</strong><br />
valores culturais <strong>de</strong> comportamento <strong>de</strong> cooperação e <strong>de</strong> confiança mútua<br />
(TABELLINI, 2008), bem como a valores <strong>de</strong> honestida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> individualismo. Tais<br />
valores produzem um senso <strong>de</strong> autoconfiança nos atores econômicos promovendo o<br />
alcance <strong>de</strong> objetivos e <strong>de</strong> inovação na tradição weberiana.<br />
Embora, pelo menos na retórica, exista o reconhecimento da necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ssas duas vertentes (informal e formal) se comunicarem, na realida<strong>de</strong> pouco se<br />
tem avançado na promoção <strong>de</strong> um diálogo produtivo e construtivo. Tal<br />
distanciamento se atribui ao fato <strong>de</strong> que as normas culturais <strong>de</strong>moram a se<br />
modificar, agindo, em <strong>de</strong>terminados momentos, como elementos que constrangem o<br />
efetivo <strong>de</strong>senvolvimento das instituições formais (principalmente políticas e<br />
jurídicas). No entanto, não po<strong>de</strong> se negar, e isto fica claro no trabalho <strong>de</strong> Putnam<br />
(1996), que instituições formais <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m, para seu sucesso, <strong>de</strong> valores e crenças<br />
(informais) da socieda<strong>de</strong>. Em outras palavras, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m das tradições cívicas que<br />
prevalecem em cada região.<br />
No Brasil, o que se observa, atualmente, é perda da fé na capacida<strong>de</strong> dos<br />
gran<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>los para moldar nossa vida, através <strong>de</strong> diversas formas <strong>de</strong><br />
engenharias sociais, afetando a confiança e, consequentemente, a legitimida<strong>de</strong> dos<br />
governos <strong>de</strong>mocráticos eleitos. Já se sabe que elevados índices <strong>de</strong> confiança e<br />
valores cívicos contribuem para elevar os números <strong>de</strong> crescimento, por meio da<br />
redução dos custos <strong>de</strong> transação, aumentando a confiança no governo e os índices<br />
<strong>de</strong> investimento, tornando a governança mais eficiente, proporcionando serviços<br />
públicos e aumentando a transparência governamental. Quando os cidadãos<br />
confiam na lei e nas instituições estabelecidas, eles ficam predispostos a articular<br />
suas <strong>de</strong>mandas via instituições formais e a permitir que as instituições e a lei<br />
me<strong>de</strong>iem os conflitos. Também confiam nas instituições políticas para adotar<br />
soluções políticas para os problemas sociais.
II. Metodologia<br />
Os dados do presente estudo são oriundos da pesquisa <strong>de</strong> campo realizada<br />
com pessoas que foram remanejadas <strong>de</strong>vido à implementação dos<br />
empreendimentos hidroelétricos <strong>de</strong> Barra Gran<strong>de</strong>, Campos Novos, Machadinho, Itá<br />
e Foz do Chapecó, entre o norte do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul e o sul <strong>de</strong> Santa Catarina. Os<br />
questionários foram aplicados em 24 municípios 2 , totalizando 632 entrevistas.<br />
Foi elaborado um instrumento <strong>de</strong> pesquisa quantitativo, com perguntas<br />
abertas e fechadas. Para a análise dos dados provenientes do questionário, neste<br />
trabalho são utilizadas freqüências, além da realização <strong>de</strong> análise fatorial <strong>de</strong><br />
componentes principais. Segundo Pestana e Gageiro (2000, p. 389),<br />
III. Dados empíricos<br />
análise factorial é um instrumento que possibilita organizar a maneira como<br />
os sujeitos interpretam as coisas, indicando as que estão relacionadas entre<br />
si e as que não estão. Esta análise permite ver até que ponto diferentes<br />
variáveis têm subjacente o mesmo conceito (factor).<br />
A partir das premissas citadas anteriormente, buscamos reunir um conjunto<br />
<strong>de</strong> variáveis que pu<strong>de</strong>ssem explicitar relações <strong>de</strong> familiares e/ou vizinhos com o<br />
capital <strong>social</strong> e virtu<strong>de</strong>s cívicas <strong>de</strong>sses grupos. Para tanto, primeiramente foram<br />
selecionadas perguntas referentes a capital <strong>social</strong> e submetidas à análise fatorial<br />
com o objetivo <strong>de</strong> agrupá-las numa única dimensão, <strong>de</strong> forma que o seu conjunto<br />
medisse um mesmo conceito. As dimensões a serem tratadas adiante foram<br />
captadas por meio da técnica <strong>de</strong> análise fatorial <strong>de</strong> componentes principais (a qual<br />
<strong>de</strong>u origem aos índices a serem apresentados).<br />
Dessa forma, um grupo <strong>de</strong> variáveis po<strong>de</strong>ria ser agrupado transformando-se<br />
em um índice, para avaliar um <strong>de</strong>terminado conceito. De acordo com Pestana e<br />
Gageiro (2000, p. 424) os índices “sumarizam a informação dada pelos itens que os<br />
integram”.<br />
Assim, nessa análise busca-se avaliar a existência <strong>de</strong> variáveis capazes <strong>de</strong><br />
serem agrupadas <strong>de</strong> forma a medirem o que chamaríamos <strong>de</strong> “força familiar”. Essa<br />
dimensão <strong>de</strong> análise reuniria como indicadores, por exemplo, a confiança no<br />
conjunto familiar, normas <strong>de</strong> convivência, participação em eventos familiares, o<br />
estado civil do entrevistado. O objetivo <strong>de</strong> trabalharmos com a “força familiar” era<br />
2 Abdon Batista, Águas <strong>de</strong> Chapecó, Alpestre, Anita Garibaldi, Aratiba, Barracão, Campo Alto do Sul, Campo Belo do Sul,<br />
Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Chopinzinho, Itá, Machadinho, Mangueirinha, Maximiliano <strong>de</strong> Almeida, Paim Filho,<br />
Pinhal da Serra, Sananduva, São Carlos, São João da Urtiga, São João da Vitória, São José do Ouro e Três Barras.
avaliar o quanto a família implica em uma série <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong>s e comportamentos que<br />
são refletidas na vida <strong>social</strong> e política dos atingidos por barragens, e o quanto esta<br />
teria se modificado ou adaptado <strong>de</strong>vido ao remanejamento resultado da instalação<br />
<strong>de</strong> barragens.<br />
Contudo, a análise dos dados mostraram que em lugar <strong>de</strong>ssa dimensão que<br />
supomos existir, há duas outras que po<strong>de</strong>m nos auxiliar na compreensão do impacto<br />
do estabelecimento <strong>de</strong> empreendimentos hidrelétricos na construção <strong>de</strong> capital<br />
<strong>social</strong> e do empo<strong>de</strong>ramento das comunida<strong>de</strong>s estudadas. Ou seja: a “força familiar”<br />
não se apresentou como dimensão forte o suficiente para se atingir os objetivos<br />
<strong>de</strong>sse paper.<br />
As duas dimensões a que chegamos são o que <strong>de</strong>nominamos <strong>de</strong> “valoração<br />
<strong>de</strong> movimentos e/ou ativida<strong>de</strong>s comunitárias” e <strong>de</strong> “confiança comunitária”. Nesse<br />
sentido, questões relacionadas ao sentimento <strong>de</strong> pertencimento, à confiança e à<br />
participação <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s da comunida<strong>de</strong> nos dizem mais sobre as consequências<br />
dos reassentamentos do que a suposta “força familiar”. A seguir, apresentamos duas<br />
dimensões resultantes da análise fatorial.<br />
A primeira dimensão que trataremos é a “confiança comunitária”. Esta é<br />
composta das seguintes variáveis, que constituem o questionário quantitativo da<br />
pesquisa Avaliação dos resultados e proposição <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong><br />
programas <strong>de</strong> remanejamento da população atingida por empreendimentos<br />
hidrelétricos:<br />
De forma geral, o(a) Sr(a) diria que se po<strong>de</strong> confiar nas pessoas OU<br />
não se po<strong>de</strong> confiar nas pessoas?<br />
O(A) sr.(a) confia na Igreja?<br />
O(A) sr.(a) confia nas Associações <strong>de</strong> Moradores?<br />
A Tabela 1, apresentada abaixo, traz as informações acerca do índice <strong>de</strong><br />
confiança comunitária dos grupos atingidos por barragens, segundo a UHE <strong>de</strong><br />
origem. Nesse índice, compreen<strong>de</strong>-se que as questões acima citadas encontram-se<br />
em uma mesma dimensão <strong>de</strong> análise uma vez que falar sobre confiar nas pessoas é<br />
algo bastante generalizante, sendo compreensível que conste da mesma dimensão<br />
da confiança na Igreja e nas Associações Comunitárias. As pessoas “em geral”<br />
po<strong>de</strong>m ser vistas como aquelas que encontramos no cotidiano, no dia-a-dia <strong>social</strong> –<br />
assim, as que encontramos em locais como o templo religioso que se frequenta ou a<br />
associação <strong>de</strong> bairro.
Tabela 1 – Índice <strong>de</strong> confiança comunitária por UHE que o remanejou (%)<br />
Barra Gran<strong>de</strong> Campos Novos Machadinho Itá Foz do Chapecó<br />
Confia 70 69 64 71 64<br />
Não confia 30 31 36 29 36<br />
Total 100 100 100 100 100<br />
N 110 99 120 83 95<br />
Fonte: elaboração própria. p>0,05<br />
Pela Tabela 1, verificamos que a confiança comunitária apresenta-se <strong>de</strong><br />
maneira elevada e semelhante para toda a população estudada, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente<br />
da UHE que remanejou os respon<strong>de</strong>ntes da pesquisa. Ao mesmo tempo, percebe-se<br />
que o nível <strong>de</strong> confiança comunitária entre os remanejados por barragens é superior<br />
ao da população brasileira. Para uma comparação consi<strong>de</strong>rando dados do Índice <strong>de</strong><br />
Confiança Social 3 <strong>de</strong> 2009 a 2011 (IBOPE), os brasileiros confiam (em média nesse<br />
período), nas Igrejas cerca <strong>de</strong> 73 pontos em 100, nas pessoas em geral 59 pontos, e<br />
em organizações cerca <strong>de</strong> 60 pontos.<br />
Outra conclusão a que se chega a partir da Tabela 1 é que o índice <strong>de</strong><br />
confiança comunitária não está associado à Usina Hidrelétrica que <strong>de</strong>finiu o<br />
remanejamento dos entrevistados. Desta forma, outros elementos é que são<br />
<strong>de</strong>terminantes para compreen<strong>de</strong>r o nível <strong>de</strong> confiança comunitária apresentado.<br />
Nesse sentido, os objetivos <strong>de</strong> apresentar esses dados são <strong>de</strong> verificar o nível <strong>de</strong><br />
confiança comunitária e se haveria diferenças <strong>de</strong>le quando verificados por UHE.<br />
Uma vez constatado que as usinas em si não influenciam a confiança<br />
comunitária, passamos a tratar a outra dimensão que nos auxiliará na avaliação do<br />
impacto do estabelecimento <strong>de</strong> empreendimentos hidrelétricos na construção <strong>de</strong><br />
capital <strong>social</strong> e do empo<strong>de</strong>ramento das comunida<strong>de</strong>s estudadas.<br />
A segunda dimensão a ser abordada é a “valoração <strong>de</strong> movimentos e/ou<br />
ativida<strong>de</strong>s comunitárias”. Ela é formada das seguintes variáveis do questionário da<br />
já referida pesquisa:<br />
Se um projeto da comunida<strong>de</strong> não lhe beneficia diretamente, mas po<strong>de</strong><br />
beneficiar outras pessoas da sua comunida<strong>de</strong>, o(a) Sr(a) contribuiria?<br />
Depois do seu remanejamento, o(a) Sr(a) participou <strong>de</strong> mobilização <strong>de</strong><br />
apoio a outros atingidos?<br />
O(A) sr.(a) confia no MAB 4 ?<br />
3 O Índice <strong>de</strong> Confiança Social é um produto do IBOPE. Me<strong>de</strong> a confiança interpessoal dos cidadãos e sua confiança nas<br />
instituições. O índice varia em uma escala <strong>de</strong> zero a cem. A pesquisa foi aplicada em 2009, 2010 e em 2011.<br />
4 Movimento dos Atingidos por Barragens.
A explicação da construção <strong>de</strong>ssa dimensão, para além do amparo<br />
estatístico, teve por base que a instalação <strong>de</strong> hidrelétricas proporcionou o<br />
aparecimento do MAB. Este interveio <strong>de</strong> tal forma nas comunida<strong>de</strong>s que sofreram a<br />
ação das hidrelétricas que marcou a sua forma <strong>de</strong> agir e pensar. A população<br />
estudada, no momento em que percebeu no MAB um apoio em relação às suas<br />
<strong>de</strong>mandas, passou a confiar no movimento. Mesmo após terem se colocado em<br />
novos territórios e novas comunida<strong>de</strong>s, muitas pessoas continuaram a participar do<br />
MAB. A participação efetiva neste grupo mostra que, mesmo já tendo alcançado<br />
seus objetivos, ainda assim a população estudada consi<strong>de</strong>ra importante continuar<br />
participando <strong>de</strong>le. Nesse sentido, é <strong>de</strong> se esperar (como explicita a análise fatorial)<br />
que a questão que versa sobre participar <strong>de</strong> projetos que não beneficiam as pessoas<br />
diretamente, esteja presente nesta dimensão.<br />
A dimensão da valoração <strong>de</strong> movimentos e/ou ativida<strong>de</strong>s comunitárias é<br />
apresentada na Tabela 2, abaixo:<br />
Tabela 2 – Índice <strong>de</strong> valoração <strong>de</strong> movimentos e/ou ativida<strong>de</strong>s comunitárias<br />
por UHE que o remanejou (%)<br />
Barra Gran<strong>de</strong> Campos Novos Machadinho Itá Foz do Chapecó<br />
Valoração 71 47 67 62 58<br />
Não valoração 29 53 33 38 42<br />
Total 100 100 100 100 100<br />
N 119 118 159 99 102<br />
Fonte: elaboração própria. p
Valoração<br />
Não Valoração<br />
barragens e suas consequências às populações circunvizinhas ao empreendimento,<br />
instiga, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sua formação, a participação da população em ações para a<br />
população a ser remanejada ou já remanejada. É um círculo virtuoso a favor das<br />
pessoas que se encontram em uma situação semelhante. Com isso, é esse o índice<br />
que utilizaremos para verificar a confiança interpessoal, e suas mudanças, junto aos<br />
atingidos remanejados por barragens.<br />
Quadro 1 – Confiança interpessoal, avaliação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> vida e da vida comunitária segundo o índice <strong>de</strong><br />
valoração <strong>de</strong> movimentos/ativida<strong>de</strong>s comunitárias (%)<br />
Antes Depois<br />
movimentos/ativida<br />
<strong>de</strong>s comunitárias<br />
movimentos/ativida<br />
<strong>de</strong>s comunitárias<br />
Boa Regular Ruim N Boa Regular Ruim N<br />
Família 5 94,2 5,8 0,0 364 90,4 8,8 0,8 364<br />
Vizinhos 6 96,7 2,5 0,8 366 86,1 13,1 0,8 367<br />
Viajar 7 95,6 1,4 3,0 364 83,5 8,8 7,7 364<br />
Morar perto da<br />
família 8<br />
Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Vida 9<br />
Vida<br />
Comunitária 10<br />
81,7 - 18,3 361 59,3 - 40,7 364<br />
81,1 12,3 6,0 365 86,8 7,6 5,6 356<br />
45,6 40,4 13,9 366 70,2 23,6 6,3 352<br />
Família 93,0 5,3 1,8 227 90,0 8,3 1,7 229<br />
Vizinhos 96,5 2,6 0,9 229 86,5 11,3 2,2 230<br />
Viajar 91,6 3,1 5,3 226 82,5 10,5 7,0 228<br />
Morar perto da<br />
família<br />
73,2 - 26,8 228 52,8 - 47,2 229<br />
Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Vida<br />
77,0 17,0 6,1 230 82,3 10,5 7,3 220<br />
Vida<br />
Comunitária<br />
38,1 41,6 20,4 226 68,7 22,1 9,2 217<br />
Fonte: elaboração própria.<br />
O Quadro 1 nos mostra que o nível <strong>de</strong> confiança interpessoal dos<br />
entrevistados sofreu uma queda consi<strong>de</strong>rando o evento da instalação do<br />
empreendimento hidrelétrico. A confiança consi<strong>de</strong>rada boa em familiares e vizinhos<br />
era mais forte antes do remanejamento tanto entre aqueles que apresentam<br />
valoração das ativida<strong>de</strong>s comunitárias quanto entre aqueles que não confiam nos<br />
movimentos coletivos. A confiança nos vizinhos foi a mais afetada – cerca <strong>de</strong> 10% a<br />
menos nos dois grupos estudados.<br />
5<br />
Questão original: Como era a relação com a família? Boa/Regular/Ruim<br />
6<br />
Questão original: Como era a relação com vizinhos? Boa/Regular/Ruim<br />
7<br />
Questão original: Se precisasse viajar por um ou dois dias, o(a) sr(a) po<strong>de</strong>ria contar com vizinhos para cuidar da sua<br />
casa/filhos? Sim/Talvez/Não<br />
8<br />
Questão original: Você morava perto <strong>de</strong> seus familiares? Sim/Não<br />
9<br />
Questão original: Comparando sua situação antes e <strong>de</strong>pois do remanejamento, como consi<strong>de</strong>ra sua situação e <strong>de</strong> sua família<br />
hoje, quanto a: Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Vida? Melhor/Igual/Pior<br />
10<br />
Questão original: Comparando sua situação antes e <strong>de</strong>pois do remanejamento, como consi<strong>de</strong>ra sua situação e <strong>de</strong> sua<br />
família hoje, quanto a: Vida Comunitária? Melhor/Igual/Pior
Uma origem para a diferenciação entre valoração ou não <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s e<br />
movimentos comunitários po<strong>de</strong> ser as relações familiares. Po<strong>de</strong>-se notar no Quadro<br />
1 que a porcentagem <strong>de</strong> pessoas com familiares residindo perto antes do<br />
remanejamento é superior no grupo que apresenta valoração <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<br />
comunitárias. E <strong>de</strong>pois do remanejamento, a porcentagem <strong>de</strong>ssas pessoas que<br />
conseguiram manter-se unidas é superior àquelas que não apresentam a valoração<br />
<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s comunitárias. Provavelmente esse grupo <strong>de</strong> pessoas buscou, <strong>de</strong> forma<br />
mais cooperativa, o remanejamento <strong>de</strong> maneira que afetasse o menos possível a<br />
unida<strong>de</strong> familiar.<br />
Como entre aqueles que apresentam menor valoração <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<br />
comunitárias apresenta-se um número menor <strong>de</strong> pessoas que possuíam familiares<br />
residindo perto <strong>de</strong> suas casas, compreen<strong>de</strong>-se a problemática da (<strong>de</strong>s)confiança<br />
interpessoal nesta parte da população estudada. Assim, esse grupo já apresentava,<br />
também antes do remanejamento, maior sentimento <strong>de</strong> falta <strong>de</strong> cooperação em<br />
relação aos vizinhos em ocasiões excepcionais (como exemplificado, em caso <strong>de</strong> se<br />
precisar viajar). Como já apresentavam um número menor <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s familiares, esses<br />
entrevistados apresentaram ainda menos relações familiares após o<br />
remanejamento.<br />
Os dados mostram que mais <strong>de</strong> 20% dos entrevistados <strong>de</strong>ixaram <strong>de</strong> morar<br />
perto <strong>de</strong> familiares, enquanto caiu cerca <strong>de</strong> 12% (entre os que apresentam<br />
valoração comunitária) e 9% (entre os que não a apresentam) a certeza <strong>de</strong> contar<br />
com familiares e vizinhos para cuidar <strong>de</strong> sua casa e filhos em caso <strong>de</strong> precisar se<br />
ausentar. Esse perfil dos entrevistados coloca em xeque a colaboração das novas<br />
comunida<strong>de</strong>s. Segundo Moisés (2005, p. 85) “o fato das pessoas confiarem umas<br />
nas outras estimularia a cooperação e favoreceria o surgimento <strong>de</strong> virtu<strong>de</strong>s cívicas,<br />
reforçando a capacida<strong>de</strong> dos grupos envolvidos <strong>de</strong> obter benefícios comuns<br />
<strong>de</strong>sejados”. Havendo menos confiança, a tendência é <strong>de</strong> haver menos cooperação.<br />
A re<strong>de</strong> comunitária existente anteriormente sofreu certa transformação. Nesse<br />
sentido, compreen<strong>de</strong>m-se os dados quanto ao crescimento da má avaliação da<br />
confiança na família, vizinhos e sua (não) colaboração em caso <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>,<br />
sendo esse crescimento maior entre os entrevistados que não apresentam valoração<br />
das ativida<strong>de</strong>s comunitárias.<br />
Apesar <strong>de</strong>ssa análise, a opinião sobre a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida classificada como<br />
melhor é maior em torno <strong>de</strong> 5% após o remanejamento, nos dois grupos avaliados.
Esse aumento é compreendido pelo fato <strong>de</strong> que a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida envolve uma<br />
série <strong>de</strong> quesitos que passam não só pelas relações familiares e sociais, mas<br />
também por itens materiais e <strong>de</strong> acesso a serviços. Os dados da pesquisa mostram<br />
que após o remanejamento muitas pessoas passaram a ter mais acesso a bens e<br />
serviços, apesar <strong>de</strong> muitas terem sentido emocionalmente o afastamento da terra<br />
on<strong>de</strong> viveu e das relações pessoais que foram <strong>de</strong>sfeitas.<br />
Nesse sentido, há que se <strong>de</strong>stacar a avaliação dos entrevistados sobre a vida<br />
comunitária e suas diferenças temporais em cada grupo. Antes do remanejamento, a<br />
classificação da vida comunitária entre os que valorizam os movimentos/ativida<strong>de</strong>s<br />
comunitárias se <strong>de</strong>stacava como melhor para 45,6%. Já entre os entrevistados que<br />
não valorizam as ações coletivas, a vida comunitária se <strong>de</strong>stacava como regular<br />
(41,6%). Entre os que apresentam valoração das ativida<strong>de</strong>s e movimentos<br />
comunitários, 25% a mais apresentaram a opinião <strong>de</strong> que a vida comunitária<br />
melhorou. E, surpreen<strong>de</strong>ntemente, chegou a quase 31% o acréscimo <strong>de</strong><br />
classificação da vida comunitária como melhor entre os que não valorizam as<br />
ativida<strong>de</strong>s coletivas. Apesar disso, são os entrevistados que não valorizam as<br />
ativida<strong>de</strong>s coletivas os que mais indicam como pior a vida em comunida<strong>de</strong>.<br />
Conclusões<br />
Este paper buscou apresentar o impacto do estabelecimento <strong>de</strong><br />
empreendimentos hidrelétricos na construção <strong>de</strong> capital <strong>social</strong> em comunida<strong>de</strong>s<br />
atingidas por essas iniciativas.<br />
Primeiramente apresentamos a relevância do estudo da cultura política, do<br />
capital <strong>social</strong> e do empo<strong>de</strong>ramento. A partir da concepção <strong>de</strong> que comunida<strong>de</strong>s<br />
afetadas por empreendimentos hidrelétricos enfrentam transformações em relação à<br />
sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> coletiva, com mudanças nas relações familiares e sociais, o trabalho<br />
mostrou que as novas comunida<strong>de</strong>s também alteram as bases <strong>de</strong> sua confiança<br />
interpessoal e comunitária. Essas são consi<strong>de</strong>radas a base da promoção do capital<br />
<strong>social</strong> e do empo<strong>de</strong>ramento <strong>de</strong> coletivida<strong>de</strong>s.<br />
Com os dados apresentados, emergiu a importância <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar a<br />
valoração <strong>de</strong> iniciativas comunitárias na compreensão da confiança interpessoal e<br />
da avaliação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> vida e da vida comunitária da população sujeita a<br />
remanejamento resultado. Apesar do índice <strong>de</strong> confiança comunitária ter se
mostrado bastante alto em todas as UHE que remanejaram os entrevistados, este<br />
não apresentou associação estatística com as UHEs.<br />
Desta forma, optamos por analisar os dados <strong>de</strong> confiança e <strong>de</strong> avaliação da<br />
vida por meio <strong>de</strong> outro índice, que apresentou associação com as UHEs que<br />
originaram os remanejamentos. Este índice é o <strong>de</strong> valoração <strong>de</strong> movimentos e<br />
ativida<strong>de</strong>s comunitárias. Por meio <strong>de</strong>sse índice percebemos que os entrevistados<br />
que apresentam maior valoração das ativida<strong>de</strong>s e movimentos coletivos são os que<br />
mais apresentam confiança interpessoal e melhor avaliação da vida antes e <strong>de</strong>pois<br />
do remanejamento. Apesar disso, também ficou patente a diminuição <strong>de</strong>ssa<br />
confiança interpessoal <strong>de</strong>pois do remanejamento. Os dados analisados à luz da<br />
teoria, também revelam a importância das relações familiares, em função da variável<br />
que se refere a morar perto <strong>de</strong> familiares: as relações familiares e sociais ten<strong>de</strong>m a<br />
se reforçar, o que favorece a cooperação coletiva e o capital <strong>social</strong>.<br />
Apesar <strong>de</strong> se verificar uma melhor avaliação da vida (qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida e vida<br />
comunitária) após o remanejamento, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>mos que os responsáveis pelos<br />
empreendimentos realizem diagnósticos psicossociais junto às populações<br />
atingidas. Isso porque, apesar <strong>de</strong>ssa população classificar sua qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida<br />
como melhor, as transformações das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ação (familiar e <strong>social</strong>), que possuem<br />
base emocional e psicológica, acabam causando danos a esses grupos. Essas<br />
modificações são irreparáveis e inci<strong>de</strong>m na qualida<strong>de</strong> das relações das pessoas que<br />
foram obrigadas a refazerem suas vidas em outras comunida<strong>de</strong>s.<br />
Referências<br />
ALMOND, Gabriel. The intelectual history of the civic culture. In: ALMOND, Gabriel; VERBA,<br />
Sidney (Eds.). The civic culture revisited. Boston: Little, Brown and Company, 1980. Cap.<br />
1, p. 1-37.<br />
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2002.<br />
ETZIONI, Amitai. Organizações mo<strong>de</strong>rnas. São Paulo: Pioneira, 1989.<br />
GLAESER, Edward et al. Do institutions cause growth? Journal of Economic Growth, New<br />
York, v. 9, n. 3, p. 271-303, 2004.<br />
IBOPE. Índice <strong>de</strong> Confiança Social. Disponível em:<br />
http://www4.ibope.com.br/download/relatorio_ics_set.pdf. Acesso em: 01 out. 2012.<br />
LIPSET, Seymour Martin. Movilidad <strong>social</strong> en la sociedad industrial. Buenos Aires:<br />
Eu<strong>de</strong>ba, 1969.
MAQUIAVEL, Nicolau. Comentários sobre a primeira década <strong>de</strong> Tito Lívio: "Discorsi".<br />
Brasília: Ed. da UnB, 1979.<br />
_______. O Príncipe. São Paulo: Paz e Terra, 1999.<br />
MOISÉS, José Álvaro. Cidadania, confiança e instituições <strong>de</strong>mocráticas. Lua Nova, São<br />
Paulo, n. 65, p. 71-94, 2005.<br />
OEA; PNUD. Nuestra Democracia: Desafíos para el ejercicio <strong>de</strong>mocrático <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r. OEA,<br />
PNUD, 2010.<br />
O’DONNELL, Guillermo Delegative Democracy. Journal of Democracy, Baltimore, v. 5, n.<br />
1, p. 55-69, Jan. 1994.<br />
______. Accountability horizontal: la institucionalización legal <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sconfianza política.<br />
PostData, Buenos Aires, p. 1-15, mayo 2000.<br />
PASE, Hemerson L. As políticas públicas do setor elétrico. In: PASE, Hemerson L.;<br />
BAQUERO, Marcello (Orgs.). Estado, Democracia e Hidreletricida<strong>de</strong> no Brasil. Pelotas:<br />
UFPel, 2012. Cap. 4, p. 75-95.<br />
PASE, Hemerson L.; ROCHA, Humberto J. da. O Governo Lula e as Políticas Públicas do<br />
Setor Elétrico. Revista Debates, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 32-59, 2010.<br />
PESTANA, Maria Helena; GAGEIRO, João Nunes. Análise <strong>de</strong> dados para ciências<br />
sociais. A complementarida<strong>de</strong> do SPSS. Lisboa: Sílabo, 2000.<br />
PUTNAM, Robert. Comunida<strong>de</strong> e <strong>de</strong>mocracia. A experiência da Itália mo<strong>de</strong>rna. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.<br />
ROCHA, Humberto J. da. As modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> remanejamento. In: PASE, Hemerson L.;<br />
BAQUERO, Marcello (Orgs.). Estado, Democracia e Hidreletricida<strong>de</strong> no Brasil. Pelotas:<br />
UFPel, 2012a. Cap. 6, p. 113-134.<br />
______. A condição <strong>de</strong> atingido por barragem. In: PASE, Hemerson L.; BAQUERO, Marcello<br />
(Orgs.). Estado, Democracia e Hidreletricida<strong>de</strong> no Brasil. Pelotas: UFPel, 2012b. Cap. 7,<br />
p. 135-154.<br />
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre,<br />
ano 8, n. 16, p. 20-45, 2006.<br />
TABELLINI, Guido. The scope of cooperation. Values and incentives. Quaterly Journal of<br />
Economics, Oxford, v. 123, n. 3, p. 905-950, 2008.<br />
TOCQUEVILLE, Alexis. A <strong>de</strong>mocracia na América. São Paulo: Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo,<br />
1987.<br />
VÁSQUEZ, Francisco H. Social <strong>Capital</strong> and civic republicanism. Madrid: Instituto Ivan<br />
March, 2000. (Working Paper n. 149).<br />
WALDMANN, Peter. El Estado anómico: <strong>de</strong>recho, seguridad pública y vida cotidiana en<br />
América Latina. Madrid: Iberoamericana, 2006.<br />
WALZER, Michael. Citizenship. In: BALL, Terence; FARR, James; Hanson, Russell L. (Eds.).<br />
Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge: Cambridge University Press,<br />
1989. Cap. 10, p. 211–220.