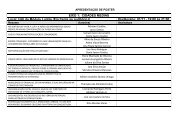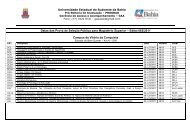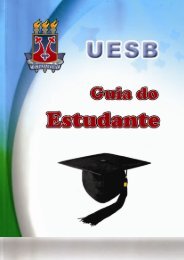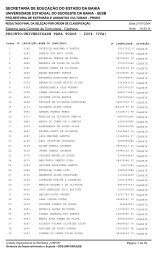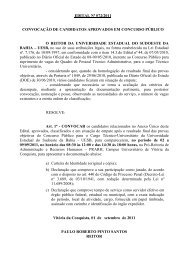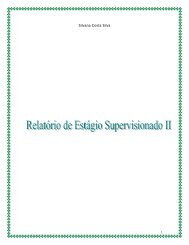Edilece Souza Couto - Uesb
Edilece Souza Couto - Uesb
Edilece Souza Couto - Uesb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FESTEJAR OS SANTOS EM SALVADOR: REGRAS<br />
ECLESIÁSTICAS E DESOBEDIÊNCIAS LEIGAS (1850-1930)<br />
CLÉRIGOS E LEIGOS NAS FESTAS RELIGIOSAS<br />
<strong>Edilece</strong> <strong>Souza</strong> <strong>Couto</strong><br />
edilece@ufba.br<br />
Universidade Federal da Bahia<br />
Nos primeiros séculos do catolicismo já havia uma distinção entre clérigos e leigos,<br />
principalmente no que se refere aos estatutos e funções dos membros da igreja, entendida como<br />
reunião de todos os cristãos. A idéia fundamental era reconhecer que existiam dois tipos de<br />
eleitos de Cristo: o clero, de missão evangelizadora, deve servir aos ofícios divinos, dedicar-se à<br />
contemplação e à oração, possuir apenas bens comuns, manter-se celibatário e casto; os leigos<br />
podem possuir bens e estão autorizados ao casamento. A hierarquia eclesiástica, a partir do<br />
século V, passou a diferenciar os que comandam (bispos e padres) dos que devem viver em<br />
contemplação (monges e leigos). 1<br />
No entanto, mesmo no período medieval, a distinção não deu origem à oposição. Sempre<br />
houve uma relação dinâmica entre clérigos e leigos; afinal, suas funções são complementares. O<br />
clero é o mediador entre Deus e os homens. Suas preces, missas e sacramentos são<br />
indispensáveis aos leigos. Estes mantêm os padres por meio do sustento, pagamento do dízimo,<br />
doações, encomendas de missas post mortem, etc. Não podemos negar que os padres, como<br />
“pastores”, tenham um papel mais ativo e considerem os leigos apenas como “ovelhas”,<br />
expectadoras das liturgias.<br />
Mas os leigos reivindicaram participação nos atos litúrgicos e desenvolveram suas<br />
próprias expressões religiosas. O culto aos santos é um exemplo da apropriação do campo<br />
religioso pelas “ovelhas”. A partir do século X a Igreja tentava impor a devoção aos seus<br />
patronos, membros das ordens religiosas. Porém, os fiéis continuaram cultuando crianças,<br />
virgens e pessoas comuns, figuras familiares e caridosas, nas quais identificavam exemplos de<br />
santidade, mesmo quando não tinham aprovação e reconhecimento do papado. 2<br />
O catolicismo baseado no culto aos santos, apego às relíquias e às cerimônias externas,<br />
como festas e procissões, além de atrair maior número de pessoas, possibilitou a participação dos<br />
1<br />
Cf. SCHMITT, Jean-Claude. Clérigos e leigos. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Coord.).<br />
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: Imprensa Oficial do Estado, v. 1,<br />
2002, p. 237-251.<br />
2<br />
VAUCHEZ, André. O santo. In: LE GOFF, Jacques (Dir.). O homem medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1989,<br />
p. 211-230.
leigos na vida religiosa. Os estudiosos 3<br />
da história da Igreja Católica consideram a religiosidade<br />
vivenciada no Brasil colonial plena de características ibéricas: medieval, leiga, social e familiar.<br />
Durante o século XIX a Igreja promoveu reformas na formação intelectual e na atuação do clero<br />
e nos costumes dos leigos. O objetivo era fazer com que a liturgia oficial prevalecesse sobre as<br />
exterioridades da fé.<br />
Regras eclesiásticas<br />
A partir do pontificado de Pio IX (1846 – 1878), Roma se tornou o centro de referência<br />
para o episcopado brasileiro. Dois fatores contribuíram para o fortalecimento da reforma: 1) a<br />
proclamação de dois dogmas: o da Imaculada Conceição (1854) e o da infalibilidade do papa,<br />
decidido no Concílio Vaticano I (1870). O primeiro dogma afirmava o culto mariano em<br />
detrimento dos santos tradicionais cultuados pelos leigos de forma espetacular, carnavalesca e<br />
com a inclusão de elementos de outras crenças religiosas. O segundo reafirmava o poder do<br />
pontífice, autoridade suprema em matéria de doutrina; 2) os bispos brasileiros, com formação<br />
educacional e eclesiástica na Europa, voltavam para o Brasil repletos de idéias de reformas e<br />
assumiam as dioceses com metas para modificar o catolicismo brasileiro.<br />
O clero brasileiro tinha consciência de que a implantação do catolicismo renovado:<br />
tridentino, clerical, individual e sacramental, só seria possível com uma reforma interna. A<br />
regeneração moral dos sacerdotes deveria anteceder a transformação dos costumes dos leigos. Os<br />
padres deveriam deixar as atividades políticas, usar o hábito eclesiástico e manter o celibato.<br />
Para os aspirantes à vida religiosa, seria imprescindível estudar nos seminários diocesanos.<br />
Quanto às mudanças na orientação espiritual dos católicos, a primeira providência seria<br />
reformar as antigas irmandades e suas devoções, ou mesmo substituí-las por novas associações.<br />
Nenhuma manifestação religiosa poderia ser realizada sem a autorização e a supervisão de um<br />
vigário. A especialização do culto desconsiderava as práticas populares – folias, festas,<br />
procissões e romarias – consideradas ignorância, superstição, sincretismo e fanatismo. 4<br />
O clero<br />
buscou o reforço das congregações européias. Capuchinhos italianos, lazaristas franceses e<br />
jesuítas chegavam ao Brasil com a missão de reformar o catolicismo. Realizavam missões no<br />
interior e dirigiam os seminários e os principais centros de peregrinações nas grandes cidades.<br />
Sob influência dos jesuítas, foram criadas as congregações marianas – Filhas de Maria – para as<br />
devoções no mês de maio e o Sagrado Coração de Jesus e o Apostolado da Oração para o mês de<br />
junho. As novas associações tentavam impor o culto mariano, inclusive instituindo novas festas,<br />
como a Coroação de Nossa Senhora. As irmandades foram perdendo força, realizaram fusões ou<br />
3<br />
HOORNAERT, Eduardo. O cristianismo moreno no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1991, p.172; AZZI, Riolando. A<br />
neocristandade: um projeto restaurador. São Paulo: Paulus, 1994, p.93-95.<br />
4<br />
AZZI, op. cit., p.93-95.
foram extintas.<br />
O clero reformador considerava que o catolicismo dos baianos, sobretudo da população<br />
negra e de baixa renda, restringia-se a um nível puramente exterior, sem atingir a alma.<br />
Freqüentemente misturava-se a fé católica com outras crenças religiosas. As festas dos santos<br />
costumavam se prolongar nos terreiros de candomblé. Na impossibilidade de serem extintas,<br />
deveriam ser aos poucos substituídas. O nosso principal agente reformador foi dom Romualdo<br />
Antônio de Seixas, diretor do arcebispado no período de 1827 a 1860. Por meio da seguinte<br />
portaria, publicada em 14 de fevereiro de 1839, o arcebispo fez duras às imagens de São<br />
Gonçalo distribuídas durante a festa na capela do Senhor do Bonfim:<br />
Tendo visto com a maior surpresa e assombro, em alguns dos Registros de São Gonçalo,<br />
que no dia 3 do corrente, durante a celebração dos santos mistérios na festividade do<br />
mesmo glorioso santo, se distribuíram na capela do Senhor do Bonfim, a sacrílega,<br />
blasfema, indecente e ridícula legenda ou inscrição, “São Gonçalo das moças”, que<br />
derivando-se de absurdos prejuízos ou crenças populares, deslustra a pureza do culto<br />
tributado àquele santo, e importa uma verdadeira superstição, que os teólogos chamam de<br />
culto indébito, injurioso aos progressos da civilização, e apenas própria desses desgraçados<br />
tempos, em que uma mal entendida piedade misturava nos atos mais santos o sagrado com o<br />
profano, a mitologia com o evangelho, e Babilônia com Sião, [...] profanando a efígie de um<br />
dos mais insignes heróis de perfeição evangélica, com seu título mal soante, ainda aos<br />
ouvidos menos delicados, e que decerto nenhum homem sério consentiria que se ajuntasse<br />
ao seu nome, ou se estampasse por baixo de seu retrato. 5<br />
Embora, nesse documento, D. Romualdo de Seixas só se refira aos festejos de São<br />
Gonçalo, o recado vale para todas as festas religiosas. O arcebispo afirmava ainda que era<br />
preciso “[...] remover e extirpar toda mistura de irreverência e superstição que, ou pela<br />
desgraça dos tempos, ou por incúria e malícia dos homens, se possa introduzir na demonstração<br />
de um culto fundado em espírito e verdade”. Para que o incidente não fosse repetido e que ele<br />
não precisasse usar do seu poder para proibir a festa, contava com o apoio e a ajuda da<br />
irmandade. 6<br />
Para evitar os “abusos” ocorridos nas festas dos santos de maior devoção popular, dom<br />
Romualdo de Seixas, por intermédio de portarias, procurou fortalecer o culto da Imaculada<br />
Conceição, afinal a proclamação do dogma aconteceu durante a sua atuação no Arcebispado da<br />
Bahia e a festa se realizava com a mais expressiva presença de autoridades eclesiásticas. Em 4 de<br />
dezembro de 1856, o arcebispo publicou uma portaria concedendo indulgência plena a todos que<br />
visitassem a igreja da Conceição da Praia no dia 8 de dezembro. Durante a missa solene, ele<br />
apresentou aos devotos a bula sobre o dogma. 7<br />
5<br />
COLEÇÃO de obras de D. Romualdo Antônio de Seixas. Pernambuco, 1839, v.1, p.331-332.<br />
6<br />
Ibid., p. 332.<br />
7<br />
Apud. BARBOSA, Manoel de Aquino. Efemérides da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia.<br />
Salvador: Beneditina, 1970, p.91.
O clero baiano continuou divulgando a importância do dogma, pois, em 8 de dezembro de<br />
1904, os padres e devotos reuniram-se na igreja da praia para as comemorações do dia da<br />
padroeira e as bodas de ouro da proclamação do dogma. O ponto alto da festividade foi a<br />
inauguração da nova coroa de N. Srª . da Conceição. Toda em ouro, a peça, confeccionada na<br />
cidade do Porto, em Portugal, tinha a letra M e era encimada por uma cruz. 8<br />
A intenção de dom Romualdo de Seixas de reformar a religiosidade dos baianos pode ser<br />
percebida também na tentativa de fazer ressurgir o culto de São Francisco Xavier, jesuíta,<br />
missionário no Oriente, apelidado de Apóstolo das Índias e do Japão. Em 1686, durante uma<br />
epidemia, a população de Salvador pediu a ajuda do santo e solicitou que ele fosse declarado<br />
padroeiro da cidade. Passado o perigo, o patrono foi esquecido e os devotos só voltaram a se<br />
lembrar dele em 1855 devido a epidemia do cólera. Diante dessa angustiante situação, o vice-<br />
presidente da Província, Álvaro Tibério de Morcovo e Lima, pediu licença ao arcebispo para<br />
fundar uma irmandade de São Francisco Xavier. A associação teve o próprio arcebispo como<br />
presidente, o presidente da Província como juiz e os vereadores como confrades. 9<br />
Após a morte de dom Romualdo de Seixas, ocorrida em 1860, o espírito reformador na<br />
Bahia foi perdendo força. Sua obra reformadora deveria ter continuidade com os seus<br />
sucessores 10<br />
. Tiveram períodos curtos de pastoral e tudo indica que não estavam muito motivados<br />
para implementar reformas. Mesmo assim, por vezes, encontramos algumas iniciativas. Em 7 de<br />
dezembro de 1889, dom Luís Antônio dos Santos ordenou que as portas da igreja do Senhor do<br />
Bonfim fossem fechadas no dia anterior da sua festa para que a lavagem do templo não fosse<br />
realizada. O arcebispo não teve força nem tempo suficiente para fazer valer a sua portaria, pois,<br />
só teve mais um ano de pastoral.<br />
DESOBEDIÊNCIAS LEIGAS<br />
As regras eclesiásticas visando a reforma da religiosidade popular não surtiram os efeitos<br />
desejados. Apesar da Igreja ter o apoio do poder público (responsável pelo estabelecimento de<br />
Posturas reguladoras das festas religiosas populares) e da polícia (que por meio da autoridade, e<br />
muitas vezes da força, controlava os cortejos públicos e realizava vistorias e destruição de casas<br />
de culto africano ou espírita) as ações não impediam as práticas proibidas.<br />
Também é preciso ressaltar que as regras não eram totalmente novas. Procissões noturnas,<br />
mascaradas e danças profanas sempre foram criticadas pelos clérigos. As Constituições<br />
8<br />
Ibid., p.152.<br />
9<br />
CAMPOS, João da Silva. Procissões tradicionais da Bahia. 2. ed. rev. Salvador: Secretaria de Cultura e Turismo /<br />
Conselho Estadual de Cultura, 2001., p. 318-326.<br />
10<br />
Dom Manoel Joaquim da Silveira (1861-1874), dom Joaquim Gonçalves de Azevedo (1877-1879) e dom Luis<br />
Antônio dos Santos (1881-1891).
Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, ainda em vigor no século XIX, foram baseadas nas<br />
normas do Concílio de Trento (1545-1563). Mas, apenas em meados dos oitocentos é que a<br />
Igreja brasileira tentou implementar a reforma. Os leigos habituados a viver a religiosidade sem a<br />
interferência dos padres, consideravam que o papel do representante de Deus era realizar os<br />
sacramentos. As homenagens aos santos, com foguetório, banquete, quermesses, romarias, jogos<br />
e bailes, faziam parte das responsabilidades dos devotos.<br />
A desobediência às normas eclesiásticas se dava quase sempre de forma inconsciente. Os<br />
católicos deixavam de participar das novas festas e associações de devoção simplesmente porque<br />
não encontravam nelas nenhum significado. Preferiam cultuar os santos que já faziam parte do<br />
imaginário coletivo. Festeja-los de forma espetacular era o mesmo que demonstrar gratidão,<br />
respeito e fé. As questões de ortodoxia faziam sentido apenas para os especialistas da Igreja.<br />
Voltemos aos exemplos das festas novas ou reinventadas sob o patrocínio do clero. A<br />
procissão anual realizada em maio para homenagear São Francisco Xavier não foi uma iniciativa<br />
popular e os soteropolitanos só participavam do cortejo em momentos de grandes dificuldades,<br />
como em 1896 (epidemia de febre amarela) e 1935 (estragos provocados pelas chuvas de abril).<br />
A criação da irmandade foi incentivada e apoiada por dom Romualdo de Seixas justamente no<br />
momento em que o arcebispo estava empenhado em reformar as irmandades dirigidas pelos<br />
leigos. Aos olhos da Igreja, o culto de São Francisco Xavier tinha a vantagem de ser promovido<br />
e controlado pelo clero e o fato desse santo não ser sincretizado com nenhum orixá. Os fiéis, no<br />
entanto, preferiam cultuar as entidades que os ajudassem a resolver os problemas cotidianos.<br />
Para combater o cólera, podiam pedir a intercessão dos santos antipestilentos: São Lázaro, São<br />
Roque e São Sebastião, cuja eficácia no combate as doenças contagiosas era conhecida desde o<br />
período colonial. E para evitar os estragos das chuvas, podiam recorrer a Santa Bárbara,<br />
protetora contra as tempestades. Os baianos ainda hoje acreditam que o padroeiro de Salvador é<br />
o Senhor do Bonfim, e não São Francisco Xavier.<br />
A tentativa de separar o culto católico dos rituais do candomblé na festa do Senhor do<br />
Bonfim também não teve sucesso. No dia 17 de janeiro de 1890, os fiéis resolveram desacatar a<br />
ordem do arcebispo. Quando as baianas chegaram na colina, munidas de vassouras e vasos de<br />
água de cheiro, a polícia já estava de prontidão. Os policiais apreenderam o material e repetiam a<br />
todo o momento: “Hoje, aqui não há lavagem”. 11<br />
A proibição não surtiu o efeito desejado, pois,<br />
mesmo com as portas do templo fechadas, as baianas ocuparam a escadaria e continuaram<br />
realizando a lavagem para obter as bênçãos do Senhor do Bonfim e Oxalá.<br />
Tudo leva a crer que as principais mudanças almejadas pelo clero ocorreram nas<br />
homenagens a Sant’Ana, no Rio Vermelho. Em data móvel entre janeiro e fevereiro, os<br />
11<br />
QUERINO, Manoel. A Bahia de outrora. Salvador: Progresso, 1946, p.145.
pescadores e veranistas realizavam novenas, procissões, quermesses, desfiles de carros<br />
alegóricos, bailes à fantasia, batalhas de confetes e lança-perfumes. O entrelaçamento entre o<br />
sagrado e o profano era combatido pelo clero, mas a maior ofensa à Igreja estava na entrega do<br />
presente à Iemanjá, realizado durante a festa católica.<br />
Ao lado do templo de Sant’Ana havia uma pequena casa, chamada de Peso, onde os<br />
pescadores guardavam os aviamentos de pescaria e uma balança para pesar os peixes. Nesse<br />
mesmo local realizavam a venda. Até 1919 os pescadores pagavam um dízimo à Igreja. Foram<br />
alertados pelo organizador da colônia, Comandante Pina, de que não deviam nada ao vigário A<br />
recusa do pagamento do dízimo gerou o primeiro conflito. Os associados resolveram, então,<br />
construir outra Casa do Peso no terreno doado pela marinha, na enseada do Rio Vermelho. 12<br />
Em 1924 aconteceu o segundo conflito. A pescaria não estava dando os resultados<br />
esperados. Os pescadores começaram a ouvir dos próprios compradores que eles deveriam<br />
oferecer um presente a Mãe d’Água. No primeiro momento, ficaram temerosos de realizar aquela<br />
“bruxaria” e desconfiados quanto à eficácia de tal ato. Resolveram mandar celebrar uma missa<br />
na igreja e, em seguida, partiram para alto mar a fim de oferecer o presente, composto de<br />
perfume e flores. Não demorou muito tempo para que surgissem comentários de que os<br />
pescadores não estavam realizando o ritual corretamente. Era preciso buscar ajuda de alguém<br />
que conhecesse bem o culto da Mãe d’Água. Os pescadores solicitaram os serviços de Júlia<br />
Bogun, mãe-de-santo do candomblé. Ela explicou como deveria ser um presente para Iemanjá,<br />
de acordo com o preceito africano. Pediu que fossem comprados um balaio grande, uma talha de<br />
barro, flores e fitas nas cores do Orixá: branco e azul. O presente foi levado para a Casa do Peso<br />
e depois encaminhado ao mar.<br />
Em 1930 o padre se recusou a celebrar a missa na igreja de Sant’Ana. Depois de muita<br />
discussão e tentativas de conciliação, a celebração aconteceu, mas os pescadores se sentiram<br />
ofendidos com o sermão, no qual o vigário afirmava ser ignorância oferecer presente a uma<br />
mulher com rabo de peixe. Os antigos moradores do Rio Vermelho deixaram de pedir a<br />
celebração da missa no dia da entrega do presente e assumiram o culto da Rainha do Mar. A<br />
partir da década de 30 houve, portanto, a ascensão do Presente da Mãe d’Água, que só recebeu a<br />
denominação de Festa de Iemanjá na década de 60, e a lenta decadência do culto a Sant’Ana. Os<br />
pescadores criaram uma nova identidade com o candomblé e voltaram a ter uma festividade<br />
própria, sem a interferência da Igreja.<br />
É difícil estabelecer precisamente os perdedores e os vitoriosos nessa “batalha” entre os<br />
clérigos e os leigos. Os bispos reformadores não venceram o embate, contabilizaram ganhos e<br />
perdas. Mantiveram o culto da Imaculada Conceição, mas não conseguiram extinguir as barracas<br />
12<br />
RIO Vermelho. Tribuna da Bahia, Salvador, 14 dez. 1970.
de comida e bebida, os jogos e os bailes nos adros das igrejas. Suas portarias proibitivas não<br />
foram suficientes para que os fiéis deixassem de lavar as escadas da igreja do Bonfim e misturar<br />
rituais do catolicismo e do candomblé. Vimos ainda que a tentativa de renovar o culto de São<br />
Francisco Xavier e substituir as festas dos santos tradicionais não surtiu o efeito desejado.<br />
Poderíamos dizer que a transferência da festa de Sant’Ana para o mês de julho e o fim do<br />
verão festivo do Rio Vermelho foi uma vitória da Igreja. É verdade que, dessa forma, o clero<br />
conseguiu separar o rito católico da lenda, das manifestações profanas e da interferência do culto<br />
africano, porém, perdeu adeptos – principalmente entre os pescadores – a renda e o antigo<br />
esplendor dos festejos. Os organizadores perderam a oportunidade de fazer do mês de janeiro um<br />
intenso carnaval. Nesse caso, o triunfo pertence à comunidade de pescadores, que aproveitou as<br />
brechas do ritual católico para oferecer presentes a Mãe d’Água e saiu vencedora ao reafirmar a<br />
herança africana, desenvolver o culto a Iemanjá e incorporar a sua festividade de 2 de fevereiro<br />
no calendário de festas da Bahia.