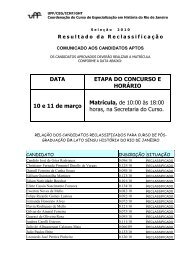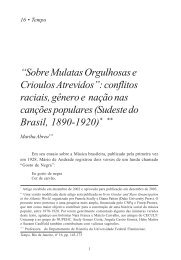vii conferência internacional de história dos conceitos diálogos ...
vii conferência internacional de história dos conceitos diálogos ...
vii conferência internacional de história dos conceitos diálogos ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA<br />
DOS CONCEITOS<br />
DIÁLOGOS TRANSATLÂNTICOS<br />
HPSCG – History of Political and Social Concepts Group *<br />
IUPERJ – Instituto Universitário <strong>de</strong> Pesquisas do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 7-9 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2004<br />
Auditório do Centro Cultural Petrônio Portela da Universida<strong>de</strong> Cândido Men<strong>de</strong>s<br />
PAINEL<br />
Organizado por:<br />
Lúcia Maria Bastos P. Neves (UERJ) & Guilherme Pereira das Neves (UFF)<br />
Apresentado no Workshop História <strong>dos</strong> Conceitos Brasileiros<br />
09/07/2004, 9h30<br />
CONTEÚDO:<br />
Guilherme Pereira das Neves (UFF) – Apresentação<br />
Rodrigo Elias C. Gomes (PPGH-UFF) – A Linguagem política absolutista na langue do<br />
séqüito pombalino – a “Divisão XII” da Dedução<br />
Cronológica<br />
Guilherme Pereira das Neves (UFF) – Pombalismo e constitucionalismo, linguagens<br />
políticas no ocaso do império<br />
William <strong>de</strong> Souza Martins (UGF/FIS) – A Oratória sagrada na corte joanina e na regência<br />
do príncipe D. Pedro (1808-1822)<br />
Lúcia Maria Bastos P. Neves (UERJ) – Revolução: em busca do conceito no império<br />
luso-brasileiro (1789-1822)<br />
Val<strong>de</strong>i Lopes <strong>de</strong> Araujo (UFOP) – A Constituição do conceito histórico <strong>de</strong> evolução<br />
no Brasil (1850-1880)<br />
Programação Geral do Evento<br />
* O trabalho do History of Political and Social Concepts Group po<strong>de</strong> ser acompanhado em<br />
www.jyu.fi/yhtfil/hpscg/in<strong>de</strong>x.html
APRESENTAÇÃO<br />
Em primeiro lugar, queremos expressar nossos agra<strong>de</strong>cimentos aos<br />
organizadores <strong>de</strong>sse encontro pela acolhida dispensada a esse conjunto <strong>de</strong> trabalhos –<br />
pois é disto que se trata. Certamente, eles ainda se encontram muito insuficientemente<br />
articula<strong>dos</strong> entre si e estão longe <strong>de</strong> explorar as temáticas escolhidas com o rigor e a<br />
consistência que se espera <strong>de</strong> uma <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> ou <strong>de</strong> uma <strong>história</strong> das<br />
linguagens políticas. Não obstante – assim esperamos que fique claro a seguir – eles<br />
constituem mais do que propostas <strong>de</strong> projetos, como foi anunciado no final da sessão <strong>de</strong><br />
ontem. Na realida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>correm <strong>de</strong> teses e dissertações <strong>de</strong>fendidas ou na iminência <strong>de</strong> sê-<br />
lo, e também <strong>de</strong> alguns artigos e <strong>de</strong> pelo menos um livro já publica<strong>dos</strong> há algum tempo.<br />
Quando Lúcia e eu fizemos a proposta que nos levou a esta mesa redonda, foram<br />
duas as preocupações que nos moveram. Em primeiro lugar, saudamos esta VII<br />
Conferência como uma oportunida<strong>de</strong> única que se abria para nós <strong>de</strong> fugir do isolamento<br />
em que temos até agora trabalhado com as concepções <strong>de</strong> uma <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> e<br />
das linguagens políticas, isolamento este que implica em riscos óbvios; e, ao mesmo<br />
tempo, como uma ocasião para quebrar, tanto quanto possível, fronteiras<br />
interdisciplinares, ensejando um diálogo não só com pesquisadores estrangeiros<br />
experientes, mas igualmente com colegas <strong>de</strong> outras áreas ou instituições no Brasil. Em<br />
segundo lugar, tivemos a intenção <strong>de</strong> chamar a atenção para o caráter necessariamente<br />
coletivo <strong>de</strong> um esforço <strong>de</strong>sse tipo; por isso, não quisemos apresentar propostas<br />
individuais e preferimos oferecer uma espécie <strong>de</strong> painel, agregando ex-alunos, colegas e<br />
/ ou orientan<strong>dos</strong>, ainda que, até hoje, não se tenha iniciado um efetivo trabalho em<br />
conjunto. De qualquer modo, foi como historiadores que trabalhamos, ou seja, como<br />
pesquisadores atentos ao risco do anacronismo, como salientou aqui, numa intervenção,<br />
Pim <strong>de</strong>n Boer, e que não sabem fazê-lo a não ser recorrendo a fontes – neste caso,<br />
textos, que <strong>de</strong>vem passar por um escrutínio minucioso.<br />
Na realida<strong>de</strong>, a <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> e das linguagens políticas nos chegou há<br />
muitos anos através <strong>de</strong> um maravilhoso artigo <strong>de</strong> Melvin Richter, publicado na History<br />
and Theory em 1990 – artigo que Lúcia e eu temos discutido quase a cada ano com<br />
nossos alunos <strong>de</strong> pós-graduação, valendo-se, inclusive, en faute <strong>de</strong> mieux, <strong>de</strong> uma<br />
precária tradução para o português. No momento <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>scoberta, Lúcia estava às<br />
voltas com a cultura política da In<strong>de</strong>pendência para sua tese <strong>de</strong> doutorado, <strong>de</strong>fendida na<br />
USP em 1992, e ainda pô<strong>de</strong> inspirar-se nessas démarches. Para mim, naquela época, era<br />
mais difícil aplicar os procedimentos ao estudo do clero e <strong>de</strong> suas instituições que se iria<br />
2
converter em minha tese, também <strong>de</strong>fendida na USP, em 1994. No entanto, o <strong>de</strong>safio<br />
estava lançado e, nos anos seguintes, ao <strong>de</strong>scobrir outros autores, até periféricos ao<br />
núcleo duro da <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> e linguagens políticas, como o prematuramente<br />
falecido François-Xavier Guerra, tanto ela quanto eu, continuamos a nos aproximar<br />
cada vez mais da questão, por meio <strong>de</strong> alguns artigos e da tese <strong>de</strong> titular que Lúcia<br />
apresentou à UERJ em 2002.<br />
Paralelamente, ao longo <strong>de</strong>sse período, nossas preocupações não <strong>de</strong>ixaram <strong>de</strong> ser<br />
transmitidas, mesmo que indiretamente, a nossos orientan<strong>dos</strong>, como é o caso <strong>de</strong> Rodrigo<br />
Elias, também presente nesta mesa, e <strong>de</strong> Patrícia Car<strong>dos</strong>o, que vem <strong>de</strong> <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r uma<br />
excelente dissertação na UFF sobre a polêmica <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ada em 1746 pela publicação<br />
<strong>de</strong> O verda<strong>de</strong>iro método <strong>de</strong> estudar <strong>de</strong> Luís Antônio Vernei, na qual a idéia das<br />
linguagens políticas – talvez ela nem saiba! – está presente em tudo, exceto no nome. Já<br />
William Martins e Val<strong>de</strong>i Araújo, igualmente participantes <strong>de</strong>sta mesa, embora ex-<br />
alunos, agora doutora<strong>dos</strong> por outras instituições, encontraram, em gran<strong>de</strong> medida, por<br />
conta própria o caminho da <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> e das linguagens políticas, mas<br />
relações <strong>de</strong> amiza<strong>de</strong> talvez não sejam estranhas a essa opção e, sem dúvida, permitiram<br />
que acompanhássemos os seus trabalhos, possibilitando igualmente sua inserção nesta<br />
mesa.<br />
Ao nosso ver, essa investigação, se secundada pelos esforços <strong>de</strong> outros<br />
pesquisadores, <strong>de</strong> modo a cobrir um campo relativamente extenso, como se está<br />
tentando fazer aqui, tem o potencial <strong>de</strong> <strong>de</strong>sentranhar <strong>de</strong> uma concepção muito genérica<br />
das Luzes no mundo luso-brasileiro – Luzes ora caracterizadas como mitigadas,<br />
católicas, mediterrânicas ou envergonhadas – uma perspectiva mais clara <strong>de</strong> quais são<br />
as linhas <strong>de</strong> força que fizeram sua especificida<strong>de</strong>, como são a forte presença <strong>de</strong>sse<br />
constitucionalismo antigo e também da própria religião. Isso não é sem conseqüências<br />
para o futuro <strong>de</strong>sse passado – e para o próprio presente! – se a investigação for<br />
conduzida <strong>de</strong> acordo com uma perspectiva histórica consistente e calçada pela erudição<br />
necessária.<br />
Feita, assim, essa apresentação geral, passemos agora a uma rápida exposição<br />
das temáticas <strong>de</strong> cada um, obe<strong>de</strong>cendo a uma or<strong>de</strong>m cronológica, como convém a<br />
historiadores.<br />
3
A LINGUAGEM POLÍTICA ABSOLUTISTA NA LANGUE DO SÉQÜITO<br />
POMBALINO – A “DIVISÃO XII” DA DEDUÇÃO CRONOLÓGICA<br />
Rodrigo Elias Caetano Gomes<br />
PPGH – Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense<br />
A espada da justiça, que o arma, não é para<br />
ficar ociosa.<br />
Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 13,<br />
escrevendo sobre o po<strong>de</strong>r do governante.<br />
O tema <strong>de</strong>ste trabalho é a linguagem política <strong>de</strong>senvolvida por um grupo<br />
específico <strong>de</strong> publicistas no século XVIII português, dando-se aqui ênfase à obra<br />
intitulada Dedução Cronológica e Analítica, <strong>de</strong> José <strong>de</strong> Seabra da Silva. 1 Este ato <strong>de</strong><br />
enunciação política, composto na década <strong>de</strong> 1760 como peça jurídica que incriminava a<br />
Companhia <strong>de</strong> Jesus por crimes <strong>de</strong> lesa-majesta<strong>de</strong>, pretendia legitimar – ou melhor, dar<br />
base para que se legitimasse – a supremacia da autorida<strong>de</strong> régia em terras lusitanas,<br />
rejeitando as teorias constitucionalistas, i<strong>de</strong>ntificadas na linguagem política absolutista<br />
como monarcômacas. Este termo entrara para terminologia política com a publicação,<br />
em 1600, do livro <strong>de</strong> William Barclay, Sobre a realeza e o po<strong>de</strong>r real, contra<br />
Buchanan, Brutus, Boucher e os outros Monarcômacos. No livro <strong>de</strong> Barclay, assim<br />
como nas outras obras <strong>de</strong> autores anticonstitucionalistas, o termo monarcômacos<br />
<strong>de</strong>signará autores tanto protestantes quanto católicos que, nos seus escritos, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m a<br />
supremacia do ‘povo’ no que concerne ao po<strong>de</strong>r político, ou seja, a idéia <strong>de</strong> contrato, o<br />
que limitava a autorida<strong>de</strong> do príncipe. 2<br />
No período consi<strong>de</strong>rado – a segunda meta<strong>de</strong> do século XVIII – <strong>de</strong>ve-se<br />
observar a consi<strong>de</strong>rável importância, para a <strong>de</strong>limitação espacial da qual presentemente<br />
1<br />
Jozeph <strong>de</strong> Seabra da Silva. Deducção Chronologica, e Analytica. Parte primeira, na qual se<br />
manifestão pela successiva serie <strong>de</strong> cada hum <strong>dos</strong> Reyna<strong>dos</strong> da Monarquia Portuguesa, que <strong>de</strong>correrão<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Governo do Senhor Rey D. João III até o presente, os horrorosos estragos, que a Companhia<br />
<strong>de</strong>nominada <strong>de</strong> Jesus fez em Portugal, e to<strong>dos</strong> seus Dominios, por hum Plano, e Systema por Ella<br />
inalteravelmente seguido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que entrou neste Reyno, até que foi <strong>de</strong>lle proscripta, e expulsa pela<br />
justa, sabia, e provi<strong>de</strong>nte Ley <strong>de</strong> 3 <strong>de</strong> Setembro <strong>de</strong> 1759. Dada á luz pelo Doutor ..., Desembargador<br />
da Casa da Supplicação, e Procurador da Coroa <strong>de</strong> S. Magesta<strong>de</strong>, para servir <strong>de</strong> instrucção, e fazer<br />
parte do recurso, que o mesmo Ministro interpoz, e se acha pen<strong>de</strong>nte na Real Presença do dito<br />
SENHOR, sobre a indispensável necessida<strong>de</strong>, que insta pela urgente Reparação <strong>de</strong> algumas das mais<br />
attendiveis entre as Ruinas, cuja existencia se acha <strong>de</strong>turpando a Authorida<strong>de</strong> Regia, e oprimindo o<br />
Publico Socego. Em Lisboa, anno <strong>de</strong> MDCCLXVII. Na Officina <strong>de</strong> Miguel Manescal da Costa por<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Sua Magesta<strong>de</strong>.<br />
2 Cf. Mario Turchetti. Tyrannie et tyrannici<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Antiquité à nos jours. Paris, Presses Universitaires<br />
<strong>de</strong> France, 2001, p. 418.<br />
4
me ocupo – Portugal e América portuguesa –, do chamado pombalismo, ou seja, a<br />
matriz teórica reformista / centralizadora que tem lugar no Império Português e cujo<br />
principal símbolo é, obviamente, Sebastião José <strong>de</strong> Carvalho e Mello, po<strong>de</strong>roso ministro<br />
do rei d. José (1750-1777). Persuado-me a crer, contudo, que esta matriz teórica<br />
necessitou <strong>de</strong> uma base jurídico-política que estivesse além do próprio Pombal, que só<br />
po<strong>de</strong>ria ser dada por setores intelectuais que estivessem diretamente liga<strong>dos</strong> à<br />
problemática da secularização ou da passagem da transcendência à imanência, processo<br />
intelectual em curso <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mea<strong>dos</strong> do século XVII no mundo europeu. Desta forma,<br />
resulta fundamental a apreciação <strong>de</strong> documentos que versem acerca <strong>dos</strong> papéis que a<br />
Igreja, os fiéis, a república (no sentido <strong>de</strong> res publica), o rei e os súditos teriam que<br />
<strong>de</strong>sempenhar no Imperium, misto <strong>de</strong> abstração e realida<strong>de</strong> que está sendo construído<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> finais do século XV e que, em mea<strong>dos</strong> do século XVIII, é favorecido no mundo<br />
português pela chamada “ditadura pombalina”. 3 Tocamos aqui na temática das<br />
linguagens políticas. Falemos um pouco mais sobre esta.<br />
J. G. A. Pocock, ao discorrer sobre o métier d’historien, nos dá algumas pistas<br />
acerca da consi<strong>de</strong>ração historiográfica <strong>dos</strong> discursos políticos. 4 Partindo da idéia mais<br />
geral <strong>de</strong> discurso, o historiador britânico alega que o conceito <strong>de</strong> uma linguagem<br />
política implica na asserção <strong>de</strong> que o que era comumente conhecido como <strong>história</strong> do<br />
pensamento político é agora conhecido como <strong>história</strong> do discurso político. Desta forma,<br />
argumenta Pocock, observa-se que os atores <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> <strong>história</strong> da qual ora nos<br />
ocupamos faziam parte <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada intelligentsia e eram treina<strong>dos</strong> em <strong>de</strong>terminada<br />
tradição, o que os levava a pensar politicamente <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada maneira. Entretanto,<br />
para que este pensar politicamente seja passível <strong>de</strong> ser historiado, é preciso que ele se<br />
concretize em ações e performances, ou seja, aquilo que o autor chama <strong>de</strong> atos <strong>de</strong><br />
discurso.<br />
Partindo <strong>de</strong>sta afirmação inicial – e, no fundo, idéia central <strong>de</strong> sua teoria –,<br />
este autor observa que um campo <strong>de</strong> estu<strong>dos</strong> que leve em consi<strong>de</strong>ração, ou tenha como<br />
foco central, este tipo <strong>de</strong> ato <strong>de</strong> discurso, <strong>de</strong>ve estar preocupado com o contexto<br />
semântico no qual estes são emiti<strong>dos</strong>. Desta forma, afirma Pocock, “um <strong>dos</strong> contextos<br />
3 Ver. Charles Ralph Boxer. O Império Colonial Português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1981.<br />
4 Ver. J. G. A. Pocock. “O conceito <strong>de</strong> linguagem e o métier d’historien”, in Linguagens do i<strong>de</strong>ário<br />
político. São Paulo, Edusp, 2003. (Clássicos, 25), pp. 63-82.<br />
5
primários em que um ato <strong>de</strong> enunciação é efetuado é aquele oferecido pelo modo <strong>de</strong><br />
discurso institucionalizado que o torna possível”, isto é, pela linguagem. 5<br />
Observei neste trabalho fragmentos <strong>dos</strong> discursos políticos na época<br />
mencionada através <strong>de</strong> uma perspectiva <strong>de</strong> longa duração. Para isto, recorri à concepção<br />
morfológica <strong>de</strong>fendida por Carlo Ginzburg em seu trabalho História Noturna, 6 on<strong>de</strong> o<br />
historiador italiano <strong>de</strong>monstra, através <strong>de</strong> um estudo <strong>de</strong> <strong>história</strong> cultural, a relação entre<br />
sincronia e diacronia na dinâmica histórica, estando esta imersa no binômio ruptura /<br />
permanência. Conjugada a esta noção, procurei utilizar também a noção <strong>de</strong> tradição, tal<br />
como foi tratada pelo filósofo alemão Hans-Georg Gadamer nas <strong>conferência</strong>s em que<br />
discutia a consciência histórica, 7 procurando assim associar indícios forneci<strong>dos</strong> pela<br />
morfologia às linguagens políticas pertencentes a <strong>de</strong>terminadas tradições.<br />
A obra <strong>de</strong> Seabra da Silva, publicada em Lisboa em 1767 “por or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Sua<br />
Majesta<strong>de</strong>” 8 , oferece ao público letrado lusitano a diacronia do sistema colocado em<br />
prática, segundo Seabra da Silva, pela Companhia <strong>de</strong> Jesus com o fim <strong>de</strong> minar a<br />
autorida<strong>de</strong> da monarquia lusitana <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1540.<br />
Trataremos, entretanto, <strong>de</strong> um capítulo que <strong>de</strong>monstra explicitamente as<br />
concepções políticas a partir das quais Seabra da Silva repudia o discurso político<br />
constitucionalista. É, conforme mencionei anteriormente, a “Divisão XII”. Tal divisão<br />
tem lugar especial na estrutura do livro. Ao contrário das outras 14 ‘divisões’, esta não<br />
se refere a um reinado. Destoando assim da rígida estrutura retórica seguida pelo autor,<br />
o próprio título da divisão oferece indícios do lugar que esta ocupa como base para a<br />
argumentação levada a cabo na obra. Ela trata especificamente do ‘absurdo’ político<br />
concretizado com as Cortes <strong>de</strong> 1668: a <strong>de</strong>posição <strong>de</strong> D. Afonso VI.<br />
Desta forma, José <strong>de</strong> Seabra da Silva inicia a “Divisão XII” classificando as<br />
referidas Cortes como “Sinédrio Jesuítico” (p. 350), o que já nos fornece bases para a<br />
constatação <strong>de</strong> que ocorre efetivamente uma confluência, no discurso do autor, <strong>de</strong><br />
tradições que vinham se separando nas linguagens políticas neste final do Antigo<br />
Regime. Ou seja, a assembléia política que <strong>de</strong>liberou pela <strong>de</strong>posição <strong>de</strong> um monarca é<br />
concebida em termos teológicos, como sinédrio, tribunal ju<strong>de</strong>u que, segundo a tradição<br />
cristã do Novo Testamento, con<strong>de</strong>nou Jesus Cristo à crucificação – cabe lembrar, a<br />
5 Cf. I<strong>de</strong>m, p. 64.<br />
6 Carlo Ginzburg. História Noturna: <strong>de</strong>cifrando o sabá. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.<br />
7 Hans-Georg Gadamer. O problema da consciência histórica. Rio <strong>de</strong> Janeiro, FGV, 1998.<br />
8 Cf. Joseph <strong>de</strong> Seabra da Silva. Op. cit., frontispício. Doravante, as indicações <strong>de</strong> páginas <strong>de</strong>sta obra<br />
seguem no texto, entre parênteses.<br />
6
partir <strong>de</strong> um erro jurídico, pois tal tribunal não teria jurisdição para con<strong>de</strong>nar à pena<br />
capital. Portanto, neste ‘simples’ jogo semântico, Seabra da Silva associa as Cortes<br />
(para Seabra, manipulada pelos inacianos) ao tribunal ju<strong>de</strong>u que extrapolara sua<br />
jurisdição, levando-nos a acreditar que o papel <strong>de</strong> Jesus Cristo caberia, obviamente, ao<br />
monarca <strong>de</strong>posto, D. Afonso VI.<br />
Após a apresentação geral do problema, Seabra da Silva passa a discorrer<br />
sobre o mesmo a partir <strong>de</strong> ângulos diversos, chama<strong>dos</strong> <strong>de</strong> fundamentos.<br />
O primeiro seria a própria <strong>história</strong> do Reino. Apelando para um princípio<br />
constitucionalista, o ‘pacto’, que no caso lusitano ter-se-ia firmado nas lendárias Cortes<br />
<strong>de</strong> Lamêgo, o autor afirma que as Cortes <strong>de</strong> 1668 não po<strong>de</strong>riam perverter, “em terra <strong>de</strong><br />
Cristãos”, a “Lei fundamental” ou “princípio da Socieda<strong>de</strong> Civil” portuguesa – “o mais<br />
inviolável Monumento da Civilida<strong>de</strong>, e do sossego público” (p. 355), as Atas das Cortes<br />
<strong>de</strong> Lamêgo. Este ponto é fundamental para a parole <strong>de</strong> Seabra da Silva e, por<br />
conseguinte, para a langue pombalina: ele se apropria <strong>de</strong> um princípio teórico<br />
originalmente constitucionalista – o pacto firmado no contrato social – como<br />
legitimador do po<strong>de</strong>r absoluto do monarca.<br />
O segundo fundamento a partir do qual Seabra da Silva <strong>de</strong>slegitima as Cortes<br />
<strong>de</strong> 1668 e, por conseguinte, a langue constitucionalista, é a própria concepção ortodoxa<br />
do Absolutismo monárquico. Para tanto, este autor firma-se em De Real. Segundo este,<br />
Portugal estaria, juntamente com França, Espanha, as Duas Sicílias e a Sar<strong>de</strong>nha, entre<br />
os governos monárquicos da Europa, os quais não reconheceriam “Superior na<br />
Temporalida<strong>de</strong>”, ou seja, seria uma monarquia in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, cujo monarca não seria<br />
vassalo <strong>de</strong> qualquer outro potentado político. (p. 357)<br />
Ainda seguindo o estilo retórico <strong>de</strong>liberativo aristotélico, tradição da qual a<br />
empreitada ‘ilustrada’ pombalina preten<strong>de</strong>ra expurgar o pensamento político lusitano,<br />
Seabra da Silva vai recolher exemplos na Roma imperial, afirmando assim a<br />
indivisibilida<strong>de</strong> da majesta<strong>de</strong>, ou seja, do po<strong>de</strong>r político monárquico. Seguindo<br />
posteriormente o que havia dito Loyseau no tratado Dos Senhorios, o ilustre membro do<br />
séqüito pombalino afirma, mais uma vez, que o governo monárquico não admite po<strong>de</strong>r<br />
igual ou superior que possa limitar o seu “Pleno Po<strong>de</strong>r” (p. 358) – ou seja, po<strong>de</strong>r<br />
absoluto.<br />
Os dois fundamentos seguintes sobre os quais este autor anti-monarcômaco<br />
constrói sua parole são <strong>de</strong> caráter estritamente teológico. O primeiro <strong>de</strong>les, que recebem<br />
títulos que por si só comprovam esta última afirmação, é por “serem os referi<strong>dos</strong><br />
7
Atenta<strong>dos</strong> das chamadas Cortes incompatíveis com a Lei Divina do Testamento Velho,<br />
e por ela <strong>de</strong>cisivamente reprova<strong>dos</strong>” (p. 359), título do terceiro fundamento da “Divisão<br />
XII”.<br />
Com o claro objetivo <strong>de</strong> conformar o centralismo pombalino à ortodoxia<br />
política cristã, Seabra da Silva passa a discorrer sobre o seu quarto fundamento para a<br />
<strong>de</strong>saprovação das Cortes <strong>de</strong> 1668. Trata-se agora <strong>de</strong> vê-las sob o prisma do Novo<br />
Testamento. E o teórico político escolhido para dar base às pretensões pombalinas não<br />
po<strong>de</strong>ria ser outro senão Ele. Jesus Cristo, segundo o evangelista João, afirmou que o<br />
próprio Pai o enviara à Terra – diz Seabra da Silva – sem “jurisdição Temporal nos<br />
Reinos <strong>de</strong>ste Mundo. E o mesmo nos <strong>de</strong>ixou outra vez igualmente <strong>de</strong>clarado pelo<br />
mesmo Evangelista S. João no outro Capítulo XII: Dizendo, que não viera ao Mundo<br />
para o julgar; mas sim para salvar o Mundo.” (p. 362) Assim, em um ambiente<br />
profundamente preso à ortodoxia religiosa cristã <strong>de</strong> matriz católica, este autor utiliza as<br />
palavras do próprio Messias para <strong>de</strong>slegitimar a interferência da Igreja em assuntos<br />
temporais.<br />
Saindo do campo <strong>de</strong> justificações que Seabra po<strong>de</strong>ria consi<strong>de</strong>rar – pela<br />
estrutura do texto – estritamente teológico, o autor passa a consi<strong>de</strong>rar, no Quinto<br />
fundamento, as razões que tocam a esfera <strong>dos</strong> direitos Divino e Natural. Para Seabra da<br />
Silva, tanto o Velho quanto o Novo Testamento não trariam leis novas quanto à<br />
obediência aos governantes e às prerrogativas <strong>dos</strong> mesmos. Ao contrário, só<br />
reafirmariam aquilo que já era sabido. Segundo o autor da Dedução Cronológica, Deus<br />
já teria infundido em to<strong>dos</strong> os homens, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início <strong>dos</strong> tempos, estas leis que diziam<br />
respeito ao po<strong>de</strong>r <strong>dos</strong> soberanos, na forma do Direito Divino e do Direito Natural.<br />
Segundo Seabra da Silva, foi por conta <strong>de</strong>stes que o po<strong>de</strong>r político <strong>dos</strong> governantes<br />
havia sido respeitado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a criação do mundo, com vistas a manter o sossego público.<br />
(p. 366)<br />
Concluindo seus argumentos contra a concepção contratualista <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r,<br />
afirma que a convocação <strong>de</strong> cortes só se fazia (como nas duas primeiras) pela vonta<strong>de</strong><br />
do rei <strong>de</strong> se aconselhar com muitos. Agora, não seria mais tão necessário, pois “ainda<br />
hoje se pratica justamente nas Leis pelas palavras = Tendo ouvido os do Meu Conselho,<br />
e muitos outros Ministros <strong>de</strong> Letras, e Virtu<strong>de</strong>s =: E não tinham para isso outros meios,<br />
enquanto careceram <strong>de</strong> Tribunais Superiores, e Ministros Territoriais, e Locais.” (p.<br />
409) A convocação das Cortes era, portanto, contingente. Agora, com o Estado<br />
<strong>de</strong>vidamente aparelhado, o recurso aos ministros era a única necessida<strong>de</strong> para o bom<br />
8
exercício do po<strong>de</strong>r por parte do monarca. Os jesuítas, por conseguinte, ao tramarem as<br />
Cortes <strong>de</strong> 1668 e a <strong>de</strong>posição <strong>de</strong> um rei, não fizeram outra coisa senão perturbar um<br />
sistema jurídico-político harmônico; seguindo os preceitos <strong>dos</strong> heresiarcas Buchanan e<br />
Rosseo, colocaram em risco a segurança do Estado e da comunida<strong>de</strong> cristã,<br />
posicionando-se contra a legitimida<strong>de</strong> divina e natural <strong>dos</strong> supremos governantes <strong>de</strong><br />
empunhar o gládio da justiça.<br />
9
POMBALISMO E CONSTITUCIONALISMO,<br />
LINGUAGENS POLÍTICAS NO OCASO DO IMPÉRIO<br />
Guilherme Pereira das Neves 9<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense<br />
No final <strong>de</strong> 1805, após os impasses a que tinha conduzido sua atuação entre<br />
1798 e 1802 como bispo em Pernambuco, J. J. da C. <strong>de</strong> Azeredo Coutinho (1742-1821),<br />
natural <strong>de</strong> Campos, solicitou licença à Real Mesa Censória para publicar em Portugal<br />
uma obra em que <strong>de</strong>fendia o tráfico <strong>de</strong> escravos. 10 O pedido recebeu um longo e<br />
minucioso parecer <strong>de</strong>sfavorável <strong>de</strong> Antônio Ribeiro <strong>dos</strong> Santos, clérigo como ele, lente<br />
em Coimbra, autor <strong>de</strong> diversas obras e conhecido pela participação em célebre polêmica<br />
com Pascoal <strong>de</strong> Mello Freire, a respeito do projeto <strong>de</strong> um novo código <strong>de</strong> leis, or<strong>de</strong>nado<br />
por d. Maria I (1777-1792). 11<br />
Na realida<strong>de</strong>, a obra, “o mais completo repositório das idéias políticas” <strong>de</strong><br />
Azeredo Coutinho, nas palavras <strong>de</strong> Sérgio Buarque <strong>de</strong> Holanda, <strong>de</strong>fendia a escravidão e<br />
o tráfico apenas como meio para atingir um outro alvo. 12 Como esclarece o bispo já na<br />
“Dedicatória”, o “objeto principal <strong>de</strong>sta Análise é o <strong>de</strong> <strong>de</strong>smascarar os insidiosos<br />
princípios da seita filosófica”, que tinham passado a circular liga<strong>dos</strong> à Revolução<br />
Francesa. 13 Isso porque, em sua concepção do po<strong>de</strong>r, “o homem, para viver em<br />
socieda<strong>de</strong>, não precisa fazer pactos; antes, pelo contrário, é necessário uma força para o<br />
apartar <strong>de</strong>la.” (p. 243-5) Tal força<br />
é uma obra totalmente da natureza para os seus fins, assim como a fome e a se<strong>de</strong><br />
para a existência <strong>dos</strong> homens; [...] logo, to<strong>dos</strong> os meios necessários para a<br />
existência das socieda<strong>de</strong>s, ainda que seja pela <strong>de</strong>struição <strong>de</strong> alguns <strong>dos</strong> membros<br />
<strong>de</strong>la, que as quiserem arruinar ou <strong>de</strong>struir, são concedi<strong>dos</strong> pela mesma natureza que<br />
criou as socieda<strong>de</strong>s; logo, só <strong>de</strong>sta necessida<strong>de</strong> da existência das socieda<strong>de</strong>s é que<br />
se <strong>de</strong>vem <strong>de</strong>duzir to<strong>dos</strong> os direitos das socieda<strong>de</strong>s, e, por conseguinte, daqueles que<br />
têm o direito <strong>de</strong> a governar, e não <strong>dos</strong> supostos pactos e convenções. (p. 245-6)<br />
Ao mesmo tempo,<br />
9 Este trabalho contou com o apoio do CNPq e da FAPERJ, por conta <strong>de</strong> uma bolsa <strong>de</strong> produtivida<strong>de</strong> e<br />
<strong>de</strong> um projeto PRONEX, coor<strong>de</strong>nado por Ronaldo Vainfas.<br />
10 “Análise sobre a justiça do comércio do resgate <strong>dos</strong> escravos da costa da África”. In: Rubens Borba <strong>de</strong><br />
Moraes (ed.). Obras econômicas <strong>de</strong> J. J. da Cunha <strong>de</strong> Azeredo Coutinho. São Paulo: Ed. Nacional,<br />
1966. p. 231-307.<br />
11 Para Ribeiro <strong>dos</strong> Santos, ver José Esteves Pereira. O pensamento político em Portugal no século<br />
XVIII: António Ribeiro <strong>dos</strong> Santos. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1983.<br />
12 Sérgio Buarque <strong>de</strong> Holanda. Apresentação. In: Rubens Borba <strong>de</strong> Moraes (ed.). Obras econômicas <strong>de</strong><br />
J. J. da Cunha <strong>de</strong> Azeredo Coutinho. São Paulo: Ed. Nacional, 1966. p. 13-53. p. 49.<br />
10
como uma gran<strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> [...] não po<strong>de</strong> ser governada e dirigida por toda ela ao<br />
mesmo tempo, porque tudo seria tumultuário, anárquico e sem or<strong>de</strong>m, [...] foi<br />
absolutamente necessário para o maior bem <strong>dos</strong> mesmos homens em socieda<strong>de</strong><br />
[...], autorizar certo po<strong>de</strong>r ou po<strong>de</strong>res para fazerem as leis, e por elas regularem o<br />
maior bem da socieda<strong>de</strong> [...] em tais ou tais circunstâncias; logo, os direitos <strong>dos</strong><br />
que estão autoriza<strong>dos</strong> para fazer o bem das socieda<strong>de</strong>s [...] são provenientes da<br />
necessida<strong>de</strong> da existência das mesmas socieda<strong>de</strong>s [...] <strong>de</strong> que eles estão<br />
encarrega<strong>dos</strong>. (p. 248, grifo no original)<br />
Assim, embora a or<strong>de</strong>m na multidão possa ter sido estabelecida por meio <strong>de</strong><br />
eleições, por uma proclamação ou qualquer outro meio, para evitar a <strong>de</strong>struição da<br />
socieda<strong>de</strong>, é necessário punir os transgressores, que ameaçam a existência da socieda<strong>de</strong>;<br />
o que exige, por sua vez, um juiz “imparcial e in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte”. Como, porém, “não se<br />
po<strong>de</strong> dizer in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte aquele cujas ações ou <strong>de</strong>cisões <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m do juízo e censura do<br />
outro, necessariamente se <strong>de</strong>ve confessar que o po<strong>de</strong>r ou po<strong>de</strong>res, quaisquer que eles<br />
sejam, [...] <strong>de</strong>vem absolutamente ser in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes do juízo e censura <strong>de</strong>ssa multidão<br />
[...]” (p. 298-9)<br />
Por isso, confessa “ingenuamente” o prelado, não ver outro juiz para os abusos<br />
do exercício do po<strong>de</strong>r pelas autorida<strong>de</strong>s constituídas senão Deus. E “esta é a razão<br />
porque até antes da seita <strong>dos</strong> novos filósofos era reconhecido como um princípio <strong>de</strong><br />
eterna verda<strong>de</strong> em política que a pessoa do soberano ou soberanos é um ente sagrado,<br />
acima do qual, neste mundo, não há juiz.” (p. 299-300) Como resultado, qualquer<br />
membro da socieda<strong>de</strong> “tem direito <strong>de</strong> propor ao soberano legislador [...] tudo o que lhe<br />
parecer ao bem do todo da socieda<strong>de</strong>, pois que o legislador, como homem, é sujeito ao<br />
erro e ao engano”. No entanto, “se o legislador não emendar a sua lei, [...] <strong>de</strong>ve este<br />
sujeitar-se à <strong>de</strong>cisão como fundada em justa razão <strong>de</strong> alguma circunstância que ele<br />
ignora; mas nunca <strong>de</strong>ve resistir, [...] porque seria arrogar-se um direito que lhe não<br />
compete [...].” (p. 253)<br />
Apesar <strong>de</strong> excessivamente sumário, esse resumo da concepção do po<strong>de</strong>r em<br />
Azeredo Coutinho permite estabelecer a distância que o separava <strong>de</strong> seu censor. Em seu<br />
parecer, Antônio Ribeiro <strong>dos</strong> Santos consi<strong>de</strong>ra que a obra do bispo contém certos<br />
princípios gerais que enten<strong>de</strong> “serem erra<strong>dos</strong>, ou mal seguros, e <strong>de</strong> mui temerosas<br />
conseqüências”. 14 São aqueles que estabelecem a<br />
13 “Análise...”, p. 233. Doravante, as páginas vão indicadas no texto.<br />
14 António Ribeiro <strong>dos</strong> Santos. Parecer (1806). Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Real<br />
Mesa Censória, Licença <strong>de</strong> Impressão, caixa 58, documento 115. p. 2. Doravante, as páginas vão<br />
indicadas no texto.<br />
11
total e absoluta <strong>de</strong>negação ou exclusão <strong>dos</strong> pactos sociais, e até [a] sua<br />
possibilida<strong>de</strong>, tanto expressos como tácitos; e a positiva asserção <strong>de</strong> que o sistema<br />
das convenções sociais é inteiramente contrário à natureza do homem e <strong>de</strong>struidor<br />
da or<strong>de</strong>m social, doutrina só própria <strong>de</strong> Hobbes, <strong>de</strong> Maquiavel ou <strong>de</strong> outro algum<br />
falso político; e doutrina que o autor <strong>de</strong>ste papel, por quão boas julgo as suas<br />
intenções, não teria jamais adotado, se se tivesse acautelado da confusão <strong>de</strong> idéias<br />
com que proce<strong>de</strong> neste Discurso [...]. (p. 2)<br />
Para Ribeiro <strong>dos</strong> Santos, Azeredo Coutinho confun<strong>de</strong> as noções <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong><br />
“menor simples ou <strong>de</strong> família, <strong>de</strong> que o homem necessita logo que ele nasce e que é<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> pacto positivo” e aquelas <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> “composta maior ou civil e<br />
política”; e disso seguem-se “ruinosas conseqüências”,<br />
por quanto, postos semelhantes princípios, vem a <strong>de</strong>struir-se inteiramente o único<br />
fundamento legítimo <strong>de</strong> to<strong>dos</strong> os impérios e a origem <strong>dos</strong> direitos <strong>dos</strong> príncipes e<br />
das obrigações <strong>dos</strong> vassalos, qual é o consenso geral <strong>dos</strong> povos, seja expresso seja<br />
tácito, seja anterior seja posterior e superveniente à ereção <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong>, sem o qual<br />
não po<strong>de</strong> haver império que não venha da força e da violência <strong>de</strong> um conquistador<br />
e usurpador, que nunca po<strong>de</strong> ter direito <strong>de</strong> reinar sobre homens livres pela natureza,<br />
enquanto não sobrevem o concurso do consentimento, ou expresso ou tácito, <strong>dos</strong><br />
povos que a posteriori o ratifique e consoli<strong>de</strong>. (p. 2-3)<br />
A sustentarem-se, portanto, os princípios <strong>de</strong> Azeredo,<br />
vem consequentemente a combater-se também as leis fundamentais positivas <strong>dos</strong><br />
impérios, sejam monárquicos, sejam aristocráticos, sejam ainda <strong>de</strong>mocráticos, que<br />
não são realmente outra coisa senão pactos e convenções sociais <strong>dos</strong> povos<br />
relativos à união e or<strong>de</strong>m civil, à forma do governo, à pessoa física ou moral do<br />
imperante e à maneira <strong>de</strong> sua administração e regimento e vem igualmente a<br />
combater-se as eleições <strong>dos</strong> povos nos absolutos interregnos e os juramentos<br />
recíprocos que os povos e os mesmos príncipes prestam na sua exaltação ao trono,<br />
que são outros tantos pactos e convenções sociais e civis. (p. 3)<br />
Recorrendo então à erudição histórica, insiste Ribeiro <strong>dos</strong> Santos que, ao<br />
argumentar <strong>de</strong>ssa forma, não seria possível sustentar em direito, como são sustenta<strong>dos</strong>,<br />
“os títulos augustos e soberanos da legítima origem e autorida<strong>de</strong> da coroa <strong>de</strong> nossos<br />
reis”, posto que se fundam “na cessão <strong>de</strong> direitos da coroa <strong>de</strong> Leão, que já os houvera da<br />
lei fundamental <strong>dos</strong> povos na eleição <strong>de</strong> Pelágio”. Assim como ocorreu “<strong>de</strong>pois na<br />
aclamação pelos povos do sr. d. Afonso Henriques”, naquela <strong>de</strong> d. João I e “na outra do<br />
sr. d. João IV, que foi um <strong>dos</strong> mais sóli<strong>dos</strong> títulos e padrões da elevação da real casa <strong>de</strong><br />
Bragança ao trono <strong>de</strong> Portugal.” E acrescenta:<br />
[d]o que fica pon<strong>de</strong>rado, se vê que semelhante doutrina, bem contra as mesmas<br />
intenções do autor <strong>de</strong>ste papel, como se <strong>de</strong>ve presumir, por si mesma e por suas<br />
conseqüências, <strong>de</strong>strói os fundamentos das legítimas socieda<strong>de</strong>s civis e se opõem<br />
aos verda<strong>de</strong>iros interesses, direitos e obrigações <strong>dos</strong> povos; e é mais perigosa e<br />
funesta aos mesmos príncipes do que a outra revolucionária e sediciosa <strong>dos</strong><br />
monarcômacos [atacada por Azeredo]. (p. 4)<br />
12
Contemporâneos no tempo, próximos pela condição comum <strong>de</strong> eclesiásticos e<br />
integrantes da mesma reduzida elite intelectual luso-brasileira ilustrada, o bispo e o<br />
censor pertenciam sem dúvida a universos mentais distintos, cuja configuração procedia<br />
<strong>de</strong> tradições diversas do pensamento político nos Tempos Mo<strong>de</strong>rnos. 15 No caso do<br />
primeiro, os fundamentos <strong>de</strong> sua argumentação, embora não o revele, encontram-se<br />
naqueles autores da segunda escolástica, como Vitória e Suárez, divulga<strong>dos</strong> pelos<br />
jesuítas, para os quais<br />
‘o po<strong>de</strong>r da comunida<strong>de</strong> é transferido absolutamente’ ao seu governante [...], <strong>de</strong><br />
modo que ‘ele jamais po<strong>de</strong> ser tomado como mantido <strong>de</strong> uma forma meramente<br />
<strong>de</strong>legada’ [...]. Segue-se que jamais po<strong>de</strong>mos falar da ação da comunida<strong>de</strong><br />
‘transferindo o po<strong>de</strong>r da comunida<strong>de</strong> ao príncipe’ como um ato <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação que<br />
<strong>de</strong>ixa a comunida<strong>de</strong> ela própria com o controle último. Ao contrário, <strong>de</strong>vemos<br />
concordar que ‘tal transferência não é um ato <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação, mas <strong>de</strong> preferência<br />
uma espécie <strong>de</strong> alienação’ [...], como resultado da qual ao governante ‘é atribuído<br />
po<strong>de</strong>r absoluto, para ser usado por si mesmo ou seus agentes <strong>de</strong> qualquer maneira<br />
que julgar conveniente’ [...]. 16<br />
Sob esse aspecto, mostrava-se perfeitamente afinado com Pascoal <strong>de</strong> Mello Freire, o<br />
autor do projeto do novo código, e com muitos outros, que eram her<strong>de</strong>iros da eclética<br />
ótica pombalina, tal como ela transparece, pelo menos, na famosa Dedução cronológica<br />
e analítica. 17 No entanto, por outro lado, essa linguagem do aristotelismo político 18 do<br />
pombalismo vê-se temperada, em sua obra, por um curioso historicismo, que o faz dizer<br />
que “a justiça das leis humanas não é, nem po<strong>de</strong> ser absoluta, mas sim relativa às<br />
circunstâncias” (p. 238). Afinal, para o bispo, se o direito natural é ditado pela razão<br />
natural, “o menino, o velho, o sábio, o ignorante, têm cada um sua razão particular, a<br />
que ele chama natural; logo, são tantos os direitos naturais quantas são as razões do<br />
menino, do velho, do sábio, do ignorante, etc.” (p. 242) Já o censor filiava-se, sem<br />
tergiversar, à tradição do direito natural que, <strong>de</strong> Grócio a Rousseau, valorizou cada vez<br />
mais a razão a-histórica, característica das Luzes, para estabelecer o método <strong>de</strong>dutivo e<br />
15<br />
Para a idéia <strong>de</strong> tradição, cf. Hans-Georg Gadamer. O problema da consciência histórica. Trad. <strong>de</strong> P.<br />
C. D. Estrada. Rio <strong>de</strong> Janeiro: FGV, 1998. Para maiores <strong>de</strong>talhes, cf. Guilherme P. Neves. Guardar<br />
mais silêncio do que falar: Azeredo Coutinho, Ribeiro <strong>dos</strong> Santos e a escravidão. In: José Luís<br />
Car<strong>dos</strong>o (org.). A economia política e os dilemas do império luso-brasileiro (1790-1822). Lisboa:<br />
Comissão Nacional para as Comemorações <strong>dos</strong> Descobrimentos Portugueses, 2001. p. 13-62.<br />
16<br />
Quentin Skinner. The Foundations of Mo<strong>de</strong>rn Political Thought. Cambridge: University Press, 1980.<br />
v. 2, p. 183.<br />
17<br />
Ver o capítulo 4, “A linguagem política absolutista na langue do séqüito pombalino”, da dissertação<br />
em elaboração <strong>de</strong> Rodrigo Elias Caetano Gomes, mestrando do PPGH-UFF.<br />
18<br />
Cf. Anthony Pag<strong>de</strong>n. Introduction. In: I<strong>de</strong>m (ed.). The Languages of Political Theory in Early-Mo<strong>de</strong>rn<br />
Europe. Cambridge: University Press, 1990. p. 1-17.<br />
13
abstrato no estudo do direito, em reação aos conflitos e instabilida<strong>de</strong>s <strong>dos</strong> séculos XVI e<br />
XVII e em oposição ao <strong>de</strong>safio cético lançado por autores como Montaigne e Bayle. 19<br />
Não obstante, essas diferenças não eram capazes <strong>de</strong> apagar um traço que os unia,<br />
aproximando-os <strong>de</strong> Edmund Burke, cujas idéias eram apreciadas no círculo do ministro<br />
Rodrigo <strong>de</strong> Souza Coutinho (1796-1803), afilhado <strong>de</strong> Pombal. 20 De fato, a perspectiva<br />
<strong>de</strong> Burke valorizava a common law e opunha-se à pretensão <strong>de</strong> ditar uma nova or<strong>de</strong>m<br />
social a partir da razão contida no direito natural, que viabilizara o sonho da Revolução<br />
Francesa. 21 Nesse sentido, embora tanto um quanto outro se voltassem, <strong>de</strong> maneiras<br />
diversas, para o passado como resultado <strong>de</strong> uma insatisfação com o presente, era, sem<br />
dúvida, Azeredo quem maior afinida<strong>de</strong> revelava com o autor irlandês, graças à sua<br />
preocupação <strong>de</strong> que se não introduzissem modificações abruptas, capazes <strong>de</strong> abalar a<br />
or<strong>de</strong>m estabelecida, em sua visão, suscetível, sim, <strong>de</strong> aperfeiçoamentos, mas impossível<br />
<strong>de</strong> superar. No caso do segundo, é verda<strong>de</strong>, o domínio da linguagem do direito natural<br />
afastava-o do historicismo <strong>de</strong> seu adversário e tornava-o menos antipático às propostas<br />
francesas <strong>de</strong> transformar o mundo a partir da razão; mas, na realida<strong>de</strong>, ele tampouco<br />
conseguia levar a lógica <strong>de</strong>ssa posição às últimas conseqüências. Na questão da<br />
escravidão, preferia “guardar mais silêncio do que falar” e, embora incomodassem-no<br />
os ranços absolutistas do pombalismo, que restringiam a liberda<strong>de</strong> do indivíduo e a<br />
ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma inscipiente esfera pública <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, revelava-se impotente para olhar<br />
em direção ao futuro e advinhar o liberalismo, pois era no passado da monarquia que<br />
buscava a solução do constitucionalismo.<br />
Nesse conservadorismo arraigado e nessa dificulda<strong>de</strong> para pensar a História<br />
como algo mais do que um acúmulo <strong>de</strong> benfeitorias materiais resi<strong>de</strong>m certamente traços<br />
importantes <strong>de</strong>ssas envergonhadas Luzes luso-brasileiras povoadas <strong>de</strong> clérigos. 22<br />
Contudo, produto <strong>de</strong> tradições muito mais <strong>de</strong>nsas e variadas, talvez, do que se supunha,<br />
19 M. E. Novak. Natural Law. In: John W. Yolton et al. The Blackwell Companion to the Enlightenment.<br />
Oxford: Blackwell, 1991. p. 351-2. Ver também John Dunn. “Contractualism”. In: The History of<br />
Political Theory and Other Essays. Cambridge: University Press, 1996. p. 39-65; Richard Tuck. The<br />
‘Mo<strong>de</strong>rn’ Theory of Natural Law. In: Pag<strong>de</strong>n (ed.). The Languages ..., p. 99-119; Robert Derathé.<br />
Jean-Jacques Rousseau et la science politique <strong>de</strong> son temps. Paris: Vrin, 1979; Georges Gusdorf. La<br />
Révolution galiléenne. Paris: Payot, 1969. v. 2, p. 480-3.<br />
20 José da Silva Lisboa. Prefácio. In: I<strong>de</strong>m (org.). Extratos das obras políticas e econômicas <strong>de</strong> Edmund<br />
Burke. Rio <strong>de</strong> Janeiro: na Imprensão Régia, 1812.<br />
21 J. G. A. Pocock. “Burke’s Analysis of the French Revolution”. In: Virtue, Commerce, and History:<br />
Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century. Cambridge: University<br />
Press, 1988. p. 193-212 e “Burke and the Ancient Constitution: A Problem in the History of I<strong>de</strong>as”.<br />
In: Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History. New York: Atheneum,<br />
1971. p. 202-32.<br />
22 O adjetivo “envergonhadas” é <strong>de</strong> Evaldo Cabral <strong>de</strong> Mello.<br />
14
como esse encontro 23 entre Azeredo Coutinho e Ribeiro <strong>dos</strong> Santos permite entrever,<br />
elas exigem uma pesquisa bem mais ampla do que aquela ao alcance <strong>de</strong> um pesquisador<br />
isolado e justificam iniciativas como a <strong>de</strong>sta mesa.<br />
23 Peter Burke. Varieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>história</strong> cultural. Trad. <strong>de</strong> A. Porto. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira,<br />
2000. p. 255-60<br />
15
A ORATÓRIA SAGRADA NA CORTE JOANINA<br />
E NA REGÊNCIA DO PRÍNCIPE D. PEDRO (1808-1822)<br />
William <strong>de</strong> Souza Martins<br />
Universida<strong>de</strong> Gama Filho<br />
Faculda<strong>de</strong>s Integradas Simonsen<br />
Por meio da análise da temática proposta, a comunicação em pauta preten<strong>de</strong><br />
aproximar dois campos <strong>de</strong> estu<strong>dos</strong>, à primeira vista bem distintos entre si: o exame das<br />
representações da socieda<strong>de</strong> cristã e da monarquia presentes nos sermões; e a pesquisa<br />
das idéias políticas e religiosas do clero atuante na época imediatamente anterior à<br />
emancipação política brasileira. No primeiro <strong>dos</strong> campos <strong>de</strong> estu<strong>dos</strong> referi<strong>dos</strong>, as<br />
análises mais importantes priorizam o século XVII e, sobretudo, a excepcional produção<br />
oratória do pe. Antônio Vieira 24 . Essa concentração <strong>de</strong> trabalhos historiográficos na<br />
época seiscentista <strong>de</strong>ixa praticamente <strong>de</strong> lado outras conjunturas da socieda<strong>de</strong> lusitana<br />
em que a eloqüência sagrada católica exerceu um papel <strong>de</strong> peso na produção e na<br />
divulgação <strong>de</strong> imagens relativas ao corpo social e à realeza. Por outro lado, o estudo das<br />
idéias do clero nas três décadas iniciais do século XIX leva em conta, acima <strong>de</strong> tudo, a<br />
participação do mesmo em movimentos <strong>de</strong> caráter liberal, como a revolução <strong>de</strong> 1817 e a<br />
Confe<strong>de</strong>ração do Equador (1824), ambos ocorri<strong>dos</strong> em Pernambuco 25 . Não obstante, é<br />
intrigante perceber que, no mesmo momento em que parte <strong>dos</strong> sacerdotes<br />
pernambucanos <strong>de</strong>safiava a autorida<strong>de</strong> monárquica, diversos representantes do clero<br />
fluminense faziam do púlpito um instrumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa da monarquia e da socieda<strong>de</strong> do<br />
Antigo Regime 26 .<br />
Uma das conjunturas que não recebeu a <strong>de</strong>vida atenção <strong>dos</strong> estudiosos da<br />
parenética luso-brasileira foi o período <strong>de</strong> permanência da corte joanina no Brasil.<br />
24 Vi<strong>de</strong>, por exemplo: Alcir Pécora. Teatro do sacramento. A Unida<strong>de</strong> Teológico-retórico-política <strong>dos</strong><br />
Sermões <strong>de</strong> Antônio Vieira. Campinas: Ed. da UNICAMP, São Paulo: Edusp, 1994; Luiz Felipe Baêta<br />
Neves. Vieira e a Imaginação Social Jesuítica. Maranhão e Grão-Pará no século XVII. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Topbooks, 1997.<br />
25 Ver, por exemplo: Fr. Venâncio Willeke, O.F.M. Os Franciscanos e a In<strong>de</strong>pendência do Brasil. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro-Brasília: IHGB, 1981; Gilberto Vilar <strong>de</strong> Carvalho. A Li<strong>de</strong>rança do Clero nas Revoluções<br />
Republicanas (1817 a 1824). Petrópolis: Vozes, 1980; e Marco Morel. Frei Caneca: entre Marília e a<br />
Pátria. Rio <strong>de</strong> Janeiro: FGV, 2000.<br />
26 Antônio Carlos Villaça aponta que, tal como o Seminário <strong>de</strong> Olinda, cujos estatutos tinham sido<br />
reforma<strong>dos</strong> <strong>de</strong> acordo com as diretrizes da ilustração ibérica, os estatutos da província franciscana do<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro haviam sido atualiza<strong>dos</strong> segundo as mesmas diretrizes, em 1776. Como explicar, então,<br />
a diferença na atuação <strong>dos</strong> sacerdotes das duas regiões, na década que antece<strong>de</strong>u a in<strong>de</strong>pendência?<br />
Vi<strong>de</strong> O Pensamento Católico no Brasil. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Zahar, 1975, p. 30.<br />
16
Somente os testemunhos <strong>de</strong> época e as análises <strong>de</strong> alguns poucos autores salientaram a<br />
importância da eloqüência sagrada naquele contexto, quando os fastos da monarquia<br />
eram infalivelmente acompanha<strong>dos</strong> pelas exibições <strong>dos</strong> pregadores nos numerosos<br />
templos da cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro e em outras localida<strong>de</strong>s da América portuguesa 27 .<br />
No que tange ao volume da produção oratória, talvez apenas os <strong>de</strong>cênios imediatamente<br />
posteriores à restauração monárquica, ocorrida em 1640, rivalizem com o período<br />
joanino. Entretanto, somente uma pequena parcela do avultado número <strong>de</strong> sermões<br />
prega<strong>dos</strong> neste último período logrou ser preservada. No interior <strong>de</strong>sse subconjunto, o<br />
trabalho em questão irá se <strong>de</strong>bruçar sobre as peças oratórias publicadas pela Impressão<br />
Régia entre os anos <strong>de</strong> 1808 e 1822. De acordo com o inventário mais completo <strong>dos</strong><br />
livros que vieram à lume com o selo da referida oficina, constam 53 peças <strong>de</strong> oratória<br />
sagrada, pregadas em diferentes partes do Brasil 28 . Em uma etapa mais adiantada da<br />
pesquisa, a análise <strong>de</strong>sses sermões impressos po<strong>de</strong>rá ser completada com o exame da<br />
produção oratória que permaneceu inédita, <strong>de</strong>positada na Biblioteca Nacional do Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro e nas livrarias conventuais, ou que foi mais tar<strong>de</strong> coligida em outras<br />
publicações.<br />
Tendo em vista a predominância, nas socieda<strong>de</strong>s do Antigo Regime, da difusão<br />
oral da cultura em relação à transmissão escrita da mesma, a oratória sagrada adquiria<br />
uma repercussão muito mais ampla do que os trata<strong>dos</strong> políticos que tinham também<br />
como objeto a <strong>de</strong>fesa da realeza 29 . Enquanto estes últimos confinavam-se à esfera muito<br />
reduzida <strong>dos</strong> letra<strong>dos</strong>, as peças oratórias eram apresentadas aos súditos portugueses nos<br />
lugares on<strong>de</strong> costumavam freqüentar o culto divino, em diversas ocasiões ao longo do<br />
ano. A primeira tarefa que se impõe à análise <strong>de</strong>sses sermões é o estabelecimento <strong>de</strong><br />
critérios que os dividam <strong>de</strong> acordo com: a temática enfocada, que podia ser o elogio<br />
fúnebre, o panegírico, a oração em ação <strong>de</strong> graças, etc.; o lugar on<strong>de</strong> haviam sido<br />
prega<strong>dos</strong>, se na corte do Rio <strong>de</strong> Janeiro ou em qualquer outra localida<strong>de</strong> do Brasil; e,<br />
27 Ver, por exemplo: pe. Luiz Gonçalves <strong>dos</strong> Santos. Memórias para servir à História do Reino do<br />
Brasil (1825). Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1981, 2 v; Oliveira Lima. D. João VI no<br />
Brasil. 3 a ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Topbooks, 1996, p. 621; e Riolando Azzi. A Crise da Cristanda<strong>de</strong> e o<br />
Projeto Liberal (História do Pensamento Católico no Brasil, v. 2). São Paulo: Paulinas, 1991, pp. 147-<br />
160.<br />
28 Ana Maria <strong>de</strong> Almeida Camargo e Rubens Borba <strong>de</strong> Moraes. Bibliografia da Impressão Régia do Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro (1808-1822). São Paulo: Edusp-Kosmos, 1993, 2 v.<br />
29 Sobre os referi<strong>dos</strong> trata<strong>dos</strong> políticos, no número <strong>dos</strong> quais se <strong>de</strong>stacam os “espelhos <strong>de</strong> príncipes”,<br />
vi<strong>de</strong>: Ana Isabel Buescu. Imagens do Príncipe. Discurso normativo e Representação (1525-1549).<br />
Lisboa, Cosmos, 1996; Marcos Antônio Lopes. O I<strong>de</strong>al Ético da Realeza nos Espelhos <strong>de</strong> Príncipes<br />
da Ida<strong>de</strong> Clássica (1640-1700). Dissertação <strong>de</strong> Mestrado apresentada à USP. São Paulo: mimeo.,<br />
17
por fim, o autor da peça oratória. Com relação a este último aspecto, torna-se logo<br />
evi<strong>de</strong>nte a importância <strong>dos</strong> pregadores pertencentes às or<strong>de</strong>ns regulares, particularmente<br />
à Or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> São Francisco. A <strong>de</strong>fesa do regime monárquico empreendida na produção<br />
oratória <strong>de</strong>sses religiosos constituía uma garantia para a existência <strong>dos</strong> próprios<br />
institutos em que haviam professado, numa época marcada pela generalizada hostilida<strong>de</strong><br />
da opinião pública ilustrada em relação ao clero regular. Assim, é significativo asinalar<br />
que muitos <strong>dos</strong> religiosos em questão − entre os quais po<strong>de</strong>m-se citar Fr. Antônio <strong>de</strong><br />
Santa Úrsula Rodovalho, Fr. Francisco <strong>de</strong> Sampaio e Fr. Francisco <strong>de</strong> São Carlos, to<strong>dos</strong><br />
da província franciscana da Imaculada Conceição do Rio <strong>de</strong> Janeiro − eram,<br />
simultaneamente, pregadores régios. De modo complementar, a sacralização da realeza<br />
efetuada por intermédio <strong>dos</strong> sermões representava uma barreira aos letra<strong>dos</strong> <strong>de</strong>fensores<br />
da soberania popular.<br />
Sob o aspecto teórico-metodológico, a comunicação em pauta baseia-se nos<br />
pontos <strong>de</strong> vista que João Francisco Marques apresentou na introdução <strong>de</strong> sua maior<br />
obra 30 . Segundo o referido autor, o sermão propriamente dito constitui uma peça<br />
oratória apresentada em ocasiões extraordinárias, distinguindo-se das admoestações <strong>de</strong><br />
caráter catequético ou didático ditas pelos sacerdotes no trabalho <strong>de</strong> cura das almas.<br />
Também é <strong>de</strong> suma importância o fato <strong>de</strong> que os textos em análise possuem,<br />
simultaneamente, características da linguagem oral e da linguagem escrita. O primeiro<br />
aspecto tornava os sermões um <strong>dos</strong> mais importantes veículos <strong>de</strong> comunicação do<br />
Antigo Regime, colocando ao alcance <strong>de</strong> um vasto público analfabeto ou semi-letrado<br />
doutrinas religiosas e políticas que, <strong>de</strong> outro modo, não po<strong>de</strong>riam conhecer. Tais<br />
doutrinas são apresentadas numa roupagem específica, constituída, entre outros<br />
elementos, por uma <strong>de</strong>terminada escolha <strong>de</strong> idéias (inventio) e por um estilo a<strong>de</strong>quado à<br />
apresentação da matéria exposta (elocutio) 31 . Não obstante, seria ina<strong>de</strong>quado sublinhar<br />
apenas os aspectos técnicos do sermão. Como peça oratória que é, o sermão <strong>de</strong>stina-se<br />
sempre a convencer e a <strong>de</strong>mover o público ao qual se <strong>de</strong>stina <strong>de</strong> uma certa verda<strong>de</strong>. 32<br />
Fiel suas às origens greco-latinas, é um discurso voltado para a ação prática,<br />
1995; e Iara Lis Carvalho Souza. Pátria Coroada. O Brasil como Corpo Político Autônomo (1780-<br />
1831). São Paulo, Ed. da UNESP, 1999, pp. 13-38.<br />
30<br />
João Francisco Marques. A Parenética Portuguesa e a Restauração (1640-1668). Porto: INIC, 1989,<br />
v. 1, pp. 1-22.<br />
31<br />
A respeito da retórica da época, ver também o tratado do pe. Inácio Felizardo Fortes, intitulado Breve<br />
Exame <strong>de</strong> Pregadores, analisado por Maria Beatriz Nizza da Silva. Cf. Cultura e Socieda<strong>de</strong> no Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro (1808-1821). 2 a . ed. São Paulo: Nacional, 1978, pp. 172-179.<br />
32<br />
Renato Barilli. Retórica. Lisboa: Presença, 1985, pp. 13-117.<br />
18
constituindo uma linguagem transversal que, ao utilizar as doutrinas neo-tomistas e<br />
certas passagens da Bíblia consagradas pela tradição da Igreja, procura tornar-se<br />
acessível a parcelas mais amplas <strong>de</strong> ouvintes. Assim, o engenho revelado pelo orador no<br />
uso apropriado das figuras discursivas constitui apenas um instrumento para, através do<br />
espanto, obter o convencimento da audiência. No que tange ao suporte escrito do<br />
sermão, a preocupação principal <strong>de</strong>ve ser a <strong>de</strong> situar os 53 textos publica<strong>dos</strong> pela<br />
Impressão Régia em relação ao conjunto da oratória sagrada do período. O referido<br />
conjunto po<strong>de</strong>rá ser reconstituído a partir da consulta às crônicas da época − em cujo<br />
âmbito se <strong>de</strong>stacam as Memórias do pe. Luiz Gonçalves <strong>dos</strong> Santos − ou à Gazeta do<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, publicada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1808.<br />
Ao se enfatizar acima a relação entre os sermões e a política, é necessário estar<br />
atento aos elementos <strong>de</strong> discurso por meio <strong>dos</strong> quais a referida relação se apresenta na<br />
oratória sagrada. Assim, as técnicas hermenêuticas utilizadas pelos teólogos estão<br />
presentes nos sermões, tanto a tipologia, segundo a qual as passagens do Velho<br />
Testamento <strong>de</strong>vem ser lidas como prefiguração do Novo, quanto o esquema, fixado<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Ida<strong>de</strong> Média, <strong>dos</strong> quatro níveis <strong>de</strong> significação do texto bíblico (literal,<br />
alegórico, moral e escatológico) 33 . Na oratória sagrada, tais procedimentos analíticos<br />
são adapta<strong>dos</strong> à interpretação da realeza lusitana e do lugar por ela ocupado na<br />
socieda<strong>de</strong> cristã. Assim, o príncipe regente D. João aparece, por exemplo, equiparado ao<br />
sábio rei Salomão no sermão pregado em 1793 no Rio <strong>de</strong> Janeiro por Fr. Antônio <strong>de</strong><br />
Santa Úrsula Rodovalho, que seria <strong>de</strong>pois publicado pela Impressão Régia 34 . Já a<br />
representação da socieda<strong>de</strong> segundo as diferentes partes do corpo humano − tópico que,<br />
carente <strong>de</strong> bases na Bíblia, encontrava-se assentado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Baixa Ida<strong>de</strong> Média − acha-<br />
se presente, por exemplo, no sermão que Fr. Francisco <strong>de</strong> São Carlos pregou na mesma<br />
cida<strong>de</strong> em 1819: “o Estado é um corpo vivo e animado cujo coração, que é o rei, leva<br />
até às extremida<strong>de</strong>s a sístole e a diástole do sangue vital da socieda<strong>de</strong>” 35 . Por sua vez, a<br />
interpretação moral da natureza figura no panegírico fúnebre que São Carlos <strong>de</strong>dicara<br />
três anos antes à rainha D. Maria I, que é evocada sob os epítetos <strong>de</strong> “mística palmeira”,<br />
33<br />
João Adolfo Hansen. Alegoria. Construção e Interpretação da Metáfora. São Paulo: Atual, 1987, p. 43.<br />
Ver também William <strong>de</strong> Souza Martins. Membros do Corpo Místico: Or<strong>de</strong>ns Terceiras no Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro (c. 1700-1822). Tese <strong>de</strong> Doutorado apresentada à USP. São Paulo:mimeo, 2001, v. 1, pp. 48-<br />
64.<br />
34<br />
José Luiz Alves. Os Claustros e o Clero no Brasil. Revista do IHGB. Rio <strong>de</strong> Janeiro, LVII (parte II):<br />
1-257, 1895, pp. 131-2.<br />
35<br />
Benjamin Franklin Ramiz Galvão. O Púlpito no Brasil. Revista do IHGB. Rio <strong>de</strong> Janeiro, 92 (146): 7-<br />
160, 1922, p. 88.<br />
19
“nova rosa”, “augusta raiz bragantina”, entre outros 36 . Por fim, completando os quatro<br />
níveis <strong>de</strong> significação fixa<strong>dos</strong> pela tradição patrística, a realeza lusitana cumpria<br />
também um papel escatológico. Nos sermões já referi<strong>dos</strong> <strong>de</strong> Fr. São Carlos, o caráter<br />
provi<strong>de</strong>ncial da monarquia lusitana é lembrado por intermédio <strong>de</strong> uma imagem<br />
tradicional, a aparição <strong>de</strong> Cristo a D. Afonso Henriques, em Ourique. A esse propósito,<br />
é interessante lembrar que tal imagem surgira também com força em outro período<br />
crítico para a existência da monarquia lusitana, isto é, a conjuntura da restauração 37 . A<br />
alusão ao mito fundador do reino <strong>de</strong> Portugal revela que a oratória sagrada se inscrevia<br />
num tempo cíclico, a<strong>de</strong>quado aos fins que esperava alcançar, quais sejam, a sacralização<br />
da monarquia e da socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong>ns.<br />
De acordo com o que foi visto acima, é possível referir que os diferentes agentes<br />
discursivos falam uma mesma linguagem política, para empregar a terminologia<br />
consagrada por J. G. A. Pocock 38 . Assim, os diferentes atos <strong>de</strong> enunciação referi<strong>dos</strong><br />
apelam para tópicos discursivos semelhantes, para lugares-comuns retóricos familiares<br />
tanto aos oradores como à audiência que os escuta. A base comum discursiva é<br />
constituída pela doutrina da Segunda Escolástica que, ao combater as teses occamistas e<br />
conciliaristas, segundo as quais a concordância <strong>dos</strong> súditos era essencial para dar<br />
legitimida<strong>de</strong> ao governo do Imperador, advogava o po<strong>de</strong>r absoluto do papa sobre o<br />
corpo visível da Igreja, cuja diretriz tornou-se particularmente visível no Concílio <strong>de</strong><br />
Trento 39 .<br />
Ainda que seja possível discernir um tempo cíclico na produção oratória,<br />
coerente, segundo João Francisco Marques, com o caráter provi<strong>de</strong>ncial e messiânico da<br />
monarquia lusitana, os sermões produzi<strong>dos</strong> no período joanino aten<strong>de</strong>m, na maior parte<br />
<strong>dos</strong> casos, a <strong>de</strong>mandas específicas do momento, marcado pelas ameaças à integrida<strong>de</strong> da<br />
monarquia lusitana e pelo <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong>sta <strong>de</strong> firmar-se no Novo Mundo. Tais elementos<br />
conferem certa peculiarida<strong>de</strong> ao período em foco, ainda inserido em um contexto<br />
marcado pela presença da monarquia absoluta. A partir do ano <strong>de</strong> 1821 e, sobretudo, do<br />
ano seguinte, é possível verificar a influência das idéias constitucionalistas nas obras <strong>de</strong><br />
oratória sagrada. Isso constitui uma mudança importante na cultura política tradicional,<br />
36<br />
Ibid., pp. 80-81.<br />
37<br />
João Francisco Marques. A Parenética Portuguesa e a Restauração (1640-1668). Porto: INIC, 1989,<br />
v. 2, p. 20.<br />
38<br />
J. G. A. Pocock. O Conceito <strong>de</strong> Linguagem e o Metier d’Historien. In: Linguagens do I<strong>de</strong>ário<br />
Político. São Paulo: Edusp: 2003, pp. 63-82.<br />
39<br />
Quentin Skinner. As Fundações do Pensamento Político Mo<strong>de</strong>rno. São Paulo: Cia das Letras, 1996,<br />
pp. 394-425.<br />
20
marcada pela sacralização da monarquia através da pregação religiosa, que se<br />
transforma, aos poucos, na cultura política mo<strong>de</strong>rna, caracterizada pela livre discussão<br />
<strong>de</strong> idéias em uma esfera pública. Assim, seguindo, uma vez mais, os passos <strong>de</strong> João<br />
Francisco Marques, este trabalho preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver uma análise sincrônica <strong>dos</strong><br />
sermões, isto é, estudar os seus conteú<strong>dos</strong> temáticos mais importantes, indissociáveis<br />
das formas consagradas pela oratória católica e, ao lado disso, estudá-los segundo uma<br />
perspectiva diacrônica, sensível às alterações introduzidas pelos eventos no panorama<br />
político da monarquia portuguesa. Sob o ponto <strong>de</strong> vista metodológico, o período em que<br />
está circunscrita a pesquisa presta-se bem à abordagem das linguagens políticas<br />
<strong>de</strong>finidas por Pocock, que as situa na média duração. 40<br />
40 J. G. A. Pocock, op. cit., pp. 66-67.<br />
21
REVOLUÇÃO: EM BUSCA DO CONCEITO<br />
NO IMPÉRIO LUSO-BRASILEIRO (1789-1822)<br />
Lúcia Maria Bastos P. Neves 41<br />
Professora Titular <strong>de</strong> História Mo<strong>de</strong>rna<br />
Universida<strong>de</strong> do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
No início do oitocentos, embora ainda refletisse “a instabilida<strong>de</strong> das coisas<br />
humanas”, a idéia <strong>de</strong> revolução já <strong>de</strong>scera, <strong>de</strong> um modo geral, <strong>dos</strong> céus à terra. 42 Apesar<br />
disso, o conceito assumia significa<strong>dos</strong> múltiplos, que iam do movimento <strong>dos</strong> astros às<br />
mutações da natureza, <strong>dos</strong> governos e das socieda<strong>de</strong>s. Em alguns casos, ainda adquiria<br />
um sentido catastrófico <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência, <strong>de</strong>struição da or<strong>de</strong>m divina ou <strong>de</strong>sorganização<br />
universal; em outros, já indicava crises políticas e rupturas, como a Revolução Inglesa<br />
<strong>de</strong> 1688, a In<strong>de</strong>pendência das colônias inglesas da América e a própria Revolução<br />
Francesa. Tomando como fontes dicionários, mas também panfletos, periódicos e a<br />
documentação oficial – analisada, tanto quanto possível, <strong>de</strong> acordo com uma<br />
perspectiva das linguagens políticas e da <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> em minha tese <strong>de</strong><br />
doutorado, <strong>de</strong>fendida na USP em 1992 – esta exposição preten<strong>de</strong> então explorar a<br />
trajetória do significado <strong>de</strong> revolução junto às elites políticas e culturais do império<br />
luso-brasileiro ao longo do período que antece<strong>de</strong> a In<strong>de</strong>pendência <strong>de</strong> 1822. 43<br />
Um tanto quanto surpreen<strong>de</strong>ntemente, no início do século XVIII, em seu<br />
Vocabulário português, o padre Rafael Bluteau indicava vários senti<strong>dos</strong> para o termo<br />
revolução. Inicialmente, sua <strong>de</strong>finição voltava-se para a idéia <strong>de</strong> “tempos revoltosos,<br />
revoltas e perturbações na república”. Em seguida, <strong>de</strong>screvia os outros senti<strong>dos</strong>:<br />
“revolução <strong>dos</strong> astros”; “revolução na astronomia”; “revolução na astrologia”;<br />
“revolução no Estado, mudança, nova forma <strong>de</strong> governo”; “revolução <strong>de</strong> humores no<br />
corpo”; “revolução nos cabelos”; “revolução das almas”. 44 Situado entre as influências<br />
41 Este trabalho contou com o apoio do CNPq e da FAPERJ, por conta <strong>de</strong> uma bolsa <strong>de</strong> produtivida<strong>de</strong> e<br />
<strong>de</strong> um projeto PRONEX, coor<strong>de</strong>nado por José Murilo <strong>de</strong> Carvalho.<br />
42 Para a <strong>história</strong> do conceito <strong>de</strong> revolução, ver Alain Rey. Révolution, histoire d’un mot. Paris:<br />
Gallimard, 1989. expressão em <strong>de</strong>staque, cf. p. 58.<br />
43 Ver Corcundas e constitucionais: a cultura política da In<strong>de</strong>pendência (1820-1823). Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Revan, 2003. Na época, foram importantes, entre outros, os seguintes textos: Melvin Ritcher.<br />
Reconstructing the History of Political Languages: Pocock, Skinner and the Geschichtliche<br />
Grundbegriffe. History and Theory. Middletowmn, 29 (1): 38-70, 1990. Q. Skinner. As fundações do<br />
pensamento político mo<strong>de</strong>rno. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. J. G. A. Pocock. Politcs,<br />
Languag and Time. Essays on Political Thought and History. New York: Atheneum, 1971.<br />
44 Vocabulario Portuguez e Latino ... pelo padre D Raphael Bluteau. Coimbra: Officina <strong>de</strong> Pascoal da<br />
Silva, 1720. v. 7, p. 319-320.<br />
22
do classicismo e <strong>de</strong> uma pré-ilustração, Bluteau emprestava ao termo não só o sentido<br />
<strong>de</strong> um ciclo completo <strong>de</strong> mudança, mas também, sob a possível inspiração do francês<br />
Furetière, o <strong>de</strong> um acontecimento extraordinário que ocorre no mundo. Sem dúvida,<br />
como exemplos, recorria aos escritos da Antiguida<strong>de</strong> Clássica, principalmente Cícero e<br />
ainda não era capaz <strong>de</strong> usar o termo como os ingleses, relacionando revolução a um<br />
acontecimento político preciso e nacional, como a Revolução Gloriosa <strong>de</strong> 1688. 45<br />
Quase cem anos mais tar<strong>de</strong>, Antônio <strong>de</strong> Moraes Silva, na segunda edição <strong>de</strong> sua<br />
recompilação <strong>de</strong>sse Vocabulário, em 1813, mantinha os diversos senti<strong>dos</strong> para a<br />
palavra, <strong>de</strong>monstrando que muitos usos antigos continuavam vivos – revolução<br />
astronômica, revolução <strong>dos</strong> valores morais, revolução nas ciências naturais, mas<br />
mostrava-se bem mais superficial quanto ao emprego relacionado à política. Falta-lhe<br />
uma idéia explícita e precisa <strong>de</strong> revolução e era ao termo revolta que atribuía o sentido<br />
<strong>de</strong> “levantamento, perturbação da or<strong>de</strong>m doméstica, política”. Desconhecimento ou<br />
cautela, em função <strong>dos</strong> tempos que vivia? 46<br />
De fato, no mundo luso-brasileiro, ainda que os acontecimentos <strong>de</strong> 1789 tenham<br />
emprestado um sentido mais preciso ao conceito, passando a i<strong>de</strong>ntificar uma agitação<br />
violenta, que irrompia <strong>de</strong> forma surpreen<strong>de</strong>nte, semelhante à idéia <strong>de</strong> guerra civil, o<br />
termo revolução apresentava-se sempre qualificado. Na Gazeta <strong>de</strong> Lisboa <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong><br />
agosto, algumas semanas após a tomada da Bastilha, por exemplo, o movimento ainda<br />
era chamado <strong>de</strong> “famosa revolução <strong>de</strong> Paris”. Mais adiante, porém, à medida que o<br />
processo revolucionário se <strong>de</strong>senrolava, com a ascensão <strong>dos</strong> jacobinos, a proclamação<br />
da República em 1792 e a execução <strong>de</strong> Luís XVI, em janeiro <strong>de</strong> 1793, não houve mais<br />
dúvidas quanto a essa “extraordinária e temível revolução literária e doutrinal”, que<br />
propagava “novos, inauditos e horrorosos [...] sentimentos políticos”, cujos abomináveis<br />
princípios, fatais aos soberanos e aos povos, não podiam <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar a<br />
preocupação das autorida<strong>de</strong>s. 47<br />
Nessa conjuntura, a revolução chegou a ser concebida como uma “tríplice<br />
conspiração”, urdida contra o altar, o trono e a socieda<strong>de</strong> civil pela “pestilencial<br />
45<br />
Alain Rey. Révolution, histoire ... p. 54-55.<br />
46<br />
Antonio <strong>de</strong> Morais Silva. Diccionario da Lingua Portuguesa. Lisboa: Tip. Lacerdina, 1813. v. 2, p.<br />
629.<br />
47<br />
Carta <strong>de</strong> Lei <strong>de</strong> 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1794. Apud Antonio Delgado da Silva. Colleção da Legislação<br />
Portuguesa. (legislação <strong>de</strong> 1791 a 1801). Lisboa: Tipografria Maigrense, 1828. p. 194. Para a<br />
expressão em itálico <strong>de</strong> Rodrigo <strong>de</strong> Souza Coutinho, ver A. Mansuy-Dinis Silva. Portrait d’un homme<br />
d’État: D. Rodrigo <strong>de</strong> Souza Coutinho, Comte <strong>de</strong> Linhares, 1755-1812. Lisboa/Paris: Commission<br />
Nationale pour les commémorations <strong>de</strong>s Découvertes Portugaises/Centre Culturel Calouste<br />
Gulbenkian, 2002. p. 298.<br />
23
irmanda<strong>de</strong>” <strong>dos</strong> jacobinos, formada a partir <strong>de</strong> seitas há muito tempo escondidas nas<br />
lojas maçônicas, como fez o abbé Barruel, cujas idéias não tardaram a circular em<br />
Portugal e cuja principal obra teve trechos traduzi<strong>dos</strong> em português, no momento das<br />
invasões napoleônicas. Não é <strong>de</strong> surpreen<strong>de</strong>r, por conseguinte, que essa perspectiva da<br />
Revolução Francesa como “a peste da Europa e o terror das potências” continuasse a<br />
povoar o imaginário político das elites luso-brasileiras, nos anos seguintes. 48<br />
Não obstante, em seu periódico Correio Braziliense, publicado em Londres, foi<br />
Hipólito da Costa um <strong>dos</strong> primeiros luso-brasileiros a pensar revolução no sentido mais<br />
mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> ruptura, aplicado ao contexto político. Demonstrava, com certeza, horror à<br />
Revolução Francesa, já que esta teria levado os franceses e o mundo ao caos, e trazia a<br />
marca da influência <strong>de</strong> Edmund Burke, que assimilara no ambiente inglês. Conservava a<br />
distinção entre revoluções físicas e morais, mas entendia estas últimas como “a<br />
mudança repentina, em qualquer país, da forma <strong>de</strong> governo, da religião, das leis ou <strong>dos</strong><br />
costumes”, que <strong>de</strong>viam ser evitadas. No entanto, julgava digno <strong>de</strong>sejarem-se “aquelas<br />
mudanças graduais e melhoramentos nas leis, que se fazem necessários pelos progressos<br />
da civilização e que são dita<strong>dos</strong> pelas circunstâncias <strong>dos</strong> tempos”. 49 Portanto, <strong>de</strong> Burke,<br />
assimilara a idéia <strong>de</strong> uma perfeita continuida<strong>de</strong> entre o passado e o presente, mas<br />
almejando “reformas úteis”, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que não fossem “feitas pelo povo”, das quais sempre<br />
<strong>de</strong>corriam “más conseqüências”. 50<br />
Por outro lado, a partir <strong>de</strong> 1821, valendo-se da nova conjuntura, foram os escritos<br />
constitucionais, ao circularem nos dois la<strong>dos</strong> do Atlântico, que colocaram, sem dúvida,<br />
a palavra revolução no vocabulário político luso-brasileiro. Ainda que <strong>de</strong> utilização<br />
mais restrita, o termo não <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> ser empregado para <strong>de</strong>finir o movimento político<br />
que sacudiu o mundo ibérico entre 1820 e 1821. Na opinião do Revérbero<br />
Constitucional Fluminense, a “Revolução <strong>de</strong> Portugal, se é que assim se <strong>de</strong>va chamar a<br />
luta da justiça contra o <strong>de</strong>spotismo”, tinha viabilizado o estabelecimento do sistema<br />
48 Entre 1795 e 1797, apareceram em Portugal os três volumes da História abreviada da perseguição,<br />
assassinato e do <strong>de</strong>sterro do clero francês durante a revolução (Porto, Oficina <strong>de</strong> A. Alvarez Ribeiro)<br />
<strong>de</strong> M. l’Abbé Barruel. Trechos das Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme. [1797/1798].<br />
Hambourg, P. Fauche, Libraire, 1803 surgiram traduzi<strong>dos</strong> por José Agostinho <strong>de</strong> Macedo em O<br />
segredo revelado ou a manifestação do systema <strong>dos</strong> Pedreiros-Livres e Illumina<strong>dos</strong> e sua influencia<br />
na fatal revolução francesa. Obra extraída das Memórias para a <strong>história</strong> do Jacobinismo do aba<strong>de</strong><br />
Barruel e publicada em portuguez, etc. Parte I. Lisboa: Imp. Régia, 1809. Ver também Os Pedreiros<br />
Livres, e os Ilumina<strong>dos</strong>, que mais propriamente se <strong>de</strong>veriam <strong>de</strong>nominar TENEBROSOS, <strong>de</strong> cujas<br />
seitas se tem formado a pestilencial Irmanda<strong>de</strong>, a que hoje se chama Jacobinismo. Reimpresso no Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro, Impressão Régia, 1809.<br />
49 Correio Braziliense. Londres. nº 93, v. 16, fevereiro <strong>de</strong> 1816. p. 187.<br />
50 Correio Braziliense.Londres. nº 36, v. 6, maio <strong>de</strong> 1811, p. 573 e nº 15, v. 3, agosto <strong>de</strong> 1809, p. 153<br />
24
epresentativo. Apesar disso, herança do vocabulário político francês, que fazia lembrar<br />
o estigma da Revolução Francesa, o uso do termo exigia uma justificação. Afinal, se<br />
a palavra revolução é sempre terrível aos ouvi<strong>dos</strong> <strong>dos</strong> tiranos; também o <strong>de</strong>ve ser<br />
aos ouvi<strong>dos</strong> do povo, porque toda a revolução traz consigo inconvenientes. Mas há<br />
casos em que ela é indispensável e então sofrem-se alguns males para conseguir<br />
muito maior soma <strong>de</strong> bens. Um inverno rijo é uma revolução; mas sem o inverno<br />
não po<strong>de</strong> medrar a primavera e o verão. 51<br />
Na realida<strong>de</strong>, essa curiosa revolução não implicava obrigatoriamente uma<br />
transformação nas estruturas vigentes. O Manifesto da Nação portuguesa aos soberanos<br />
e povos da Europa, lançado em 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1820, recorreu a um tom mo<strong>de</strong>rado<br />
para afastar a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma intervenção da Santa Aliança e não empregou a<br />
palavra, chegando a afirmar que o nome <strong>de</strong> rebelião tem sido usado para “se manchar a<br />
glória <strong>dos</strong> portugueses, para se fazerem odiosos os seus patrióticos movimentos”. 52<br />
Por isso, mais do que revolução, predominava na época o conceito <strong>de</strong><br />
regeneração, que acabou por i<strong>de</strong>ntificar o próprio movimento vintista e o conjunto do<br />
movimento liberal, que se iniciara em Portugal no “sempre memorável” 24 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong><br />
1820, dia em “que a aurora política raiou no berço da monarquia portuguesa”. Ao<br />
repercutir no Brasil em 1821, os objetivos <strong>dos</strong> dois reinos passavam a coincidir: fazer<br />
tremer o <strong>de</strong>spotismo e regenerar-se a Nação. Assim, era possível saudar a a<strong>de</strong>são do Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro ao movimento como o “Dia 26 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1821! Dia <strong>de</strong> salvação e <strong>de</strong><br />
Regeneração do Reino do Brasil!” 53 Da mesma forma, o jornal O Bem da Or<strong>de</strong>m<br />
felicitava toda a Nação lusa que, “reaquistando [sic] seus direitos, [tomara] sobre si a<br />
árdua tarefa da sua Regeneração política, mediante uma Constituição ou Lei<br />
fundamental”. 54 Filha das mitigadas Luzes ibéricas, a idéia <strong>de</strong> regeneração política<br />
previa “uma reforma <strong>de</strong> abusos e uma nova or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> coisas”, capazes <strong>de</strong> empreen<strong>de</strong>r<br />
uma ação salvadora e restituir os antigos direitos que a Nação lusa havia perdido,<br />
<strong>de</strong>vido ao <strong>de</strong>spotismo, que grassava por todo o Império, incluindo o Brasil. 55 No<br />
51 Citações, respectivamente, em Revérbero Constitucional Fluminense nº 11, 22 janeiro 1822. Bahia.<br />
Ida<strong>de</strong> d’Ouro do Brasil. nº 20, 22 fevereiro 1821.<br />
52 Citações, respectivamente, em Manifesto da Nação portugueza aos soberanos e povos da Europa.<br />
Reimpresso no Rio <strong>de</strong> Janeiro: Real Typographia. 1821, p. 7.<br />
53 Cf. Maria Cândida Proença. A Primeira Regeneração: o conceito e a experiência nacional (1820-<br />
1823). Lisboa: Livros Horizonte, 1990. Ver ainda Telmo <strong>dos</strong> S. Ver<strong>de</strong>lho. As palavras e as idéias na<br />
revolução <strong>de</strong> 1820. Coimbra: Instituto Nacional <strong>de</strong> Investigação Científica, 1981, p. 289-292. Para a<br />
primeira citação ver Des<strong>de</strong> que a Aurora Política raiou no berço da Monarchia Portugueza. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Tip. Regia, 1821, [p. 1]; para a segunda Conciliador do Reino Unido. nº 1, 1 março 1821.<br />
54 O Bem da Or<strong>de</strong>m. nº 4, 1821.<br />
55 A Regeneração constitucional ou guerra e disputa entre os carcundas e os constitucionais: origem<br />
<strong>de</strong>stes nomes, e capitulação <strong>dos</strong> corcundas escrita pela constitucional europeu ao constitucional<br />
brasileiro e oferecida a to<strong>dos</strong> os verda<strong>de</strong>iros constitucionais. [Rio <strong>de</strong> Janeiro: Imp. Régia], 1821, p. 3.<br />
25
entanto, <strong>de</strong>sejando-se as reformas úteis, repudiavam-se as revoluções violentas, o que<br />
evi<strong>de</strong>nciava que o conceito <strong>de</strong> revolução ainda estava próximo do sentido astronômico,<br />
fundamentado numa concepção <strong>de</strong> retorno a uma situação anterior.<br />
Além disso, é preciso não esquecer que essa mudança, embora natural,<br />
continuava a ser resultado da mão toda-po<strong>de</strong>rosa <strong>de</strong> Deus. Em discurso que antece<strong>de</strong>u<br />
às eleições <strong>dos</strong> <strong>de</strong>puta<strong>dos</strong> às Cortes <strong>de</strong> Lisboa, o bispo do Pará, d. Romualdo <strong>de</strong> Souza<br />
Coelho, achava indispensável afirmar que “nossa Regeneração política” tivera êxito<br />
porque era “um efeito da Divina Providência”. 56 De fato, embora já revestido <strong>de</strong><br />
implicações políticas, o conceito <strong>de</strong> revolução ainda guardava no universo luso-<br />
brasileiro uma conotação <strong>de</strong>gradante, sob a inspiração do pensamento religioso. Nessa<br />
perspectiva, para José da Silva Lisboa, em 1822, revolução era uma “praga”, que<br />
<strong>de</strong>struía a felicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> toda uma geração e produzia a “anarquia e a guerra civil”. 57 E,<br />
no Roteiro Brasílico, chegou a afirmar: “As obscenas harpias da Revolução da França<br />
surgiram da anarquia, do caos, que gerou tantas coisas monstruosas e prodigiosas; e<br />
voando sobre nossas cabeças, casas, e mesas, nada <strong>de</strong>ixaram impoluto, e não<br />
contaminado”. 58 Nessa ótica, posteriormente à criação do mundo, mesmo o dilúvio,<br />
conforme constava da Bíblia, constituía a primeira crise do mundo natural e assumia as<br />
proporções <strong>de</strong> uma revolução inaugural. 59<br />
Por conseguinte, as revoluções continuavam, na mentalida<strong>de</strong> do período, a<br />
constituir um fator cíclico, que resultavam em mudanças maiores ou menores, violentas<br />
ou não, que quebravam o tempo físico e perturbavam a natureza das coisas, sendo<br />
<strong>de</strong>stinadas pela providência divina para flagelos <strong>dos</strong> povos. Nesses termos, ainda que o<br />
mundo luso-brasileiro, graças à irradiação das Luzes ao longo do século XVIII,<br />
começasse a discutir o sentido mais mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> revolução – recorrendo à idéia <strong>de</strong><br />
Montesquieu, que a entendia como a modificação da estrutura política e não como uma<br />
agitação violenta e sangrenta – e incorporasse novos valores jurídicos e institucionais ao<br />
conceito, uma parcela consi<strong>de</strong>rável das elites intelectuais, ainda em princípios do século<br />
XIX, <strong>de</strong> um lado, continuava a ver na revolução a dimensão divina e provi<strong>de</strong>ncial,<br />
caracterizando-a como fatal e terrível. De outro, o daquela minoria que procurava<br />
56<br />
Discurso que recitou o Bispo do Pará, D. Romualdo <strong>de</strong> Souza Coelho, no dia do mez <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
1821, em que se proce<strong>de</strong>o a eleição <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong> das Cortes. Maranhão: Tip. Nacional, 1822, p. 3.<br />
57<br />
Para a citação, ver José da Silva Lisboa. Reclamação do Brasil. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Tip. Nacional,. Parte<br />
XII, 1822.<br />
58<br />
Roteiro Brazilico ou coleção <strong>de</strong> princípios e documentos <strong>de</strong> direito político em série <strong>de</strong> números. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro: Tip. Nacional, 1822, parte II, p. 24.<br />
59<br />
Alain Rey. Révolution, histoire ... p. 32-53.<br />
26
superar a visão litúrgica do conceito e reconhecia o potencial <strong>dos</strong> homens para interferir<br />
na vida pública em seu próprio proveito, no entanto, a interpretação da idéia <strong>de</strong><br />
revolução não conseguia se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>r <strong>de</strong> uma perspectiva <strong>de</strong> reforma. Talvez, resida<br />
aí, nesse caráter conservador e religioso, um <strong>dos</strong> traços mais importantes das<br />
“envergonhadas Luzes ibéricas”. 60<br />
60 A expressão é <strong>de</strong> Evaldo Cabral <strong>de</strong> Mello.<br />
27
A CONSTITUIÇÃO DO CONCEITO HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO<br />
NO BRASIL (1850-1880)<br />
Val<strong>de</strong>i Lopes <strong>de</strong> Araujo<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Ouro Preto<br />
Para a consciência histórica contemporânea parece quase impossível conceber<br />
qualquer relação com o passado sem o recurso, em maior ou menor grau, ao conceito <strong>de</strong><br />
evolução. Não é preciso ser um historiador para “saber” que o mundo em que vivemos é<br />
produto <strong>de</strong> uma evolução histórica, que to<strong>dos</strong> os aspectos da nossa realida<strong>de</strong> humana<br />
possuem uma <strong>história</strong> que po<strong>de</strong> ser narrada como o acúmulo <strong>de</strong> momentos sucessivos.<br />
Mas nem sempre essa forma quase intuitiva <strong>de</strong> pensar esteve disponível. O conceito<br />
histórico <strong>de</strong> evolução, talvez o conceito central da historiografia mo<strong>de</strong>rna, é uma<br />
invenção relativamente recente. Esta pesquisa visa estudar a <strong>história</strong> da constituição<br />
<strong>de</strong>sse conceito no contexto intelectual brasileiro entre 1850 e 1880.<br />
Embora a historiografia tenha muito contribuído para o entendimento do<br />
chamado “bando <strong>de</strong> idéias novas” da geração <strong>de</strong> 1870, não existe ainda um estudo<br />
<strong>de</strong>talhado <strong>de</strong> um <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> centrais <strong>de</strong>ssa geração, ou seja, o conceito <strong>de</strong> evolução.<br />
Mesmo os trabalhos que compararam a geração romântica com a geração cientificista,<br />
pouco <strong>de</strong>staque confeririam a esse aspecto da questão. 61 Enquanto <strong>conceitos</strong> como<br />
progresso, civilização e or<strong>de</strong>m foram razoavelmente estuda<strong>dos</strong>, o conceito <strong>de</strong> evolução,<br />
em suas especificida<strong>de</strong>s, permaneceu à sombra.<br />
A escolha <strong>de</strong>sse recorte cronológico não é aci<strong>de</strong>ntal. A década <strong>de</strong> 1850 é<br />
caracterizada pela historiografia como o momento <strong>de</strong> consolidação do mo<strong>de</strong>lo político e<br />
social do Império. Do ponto <strong>de</strong> vista da <strong>história</strong> intelectual, essa década é o momento<br />
em que o romantismo e o ecletismo espiritualista se tornam hegemônicos. Tal<br />
hegemonia estava fundada em uma concepção teleológica e provi<strong>de</strong>ncial da <strong>história</strong>,<br />
mas não evolucionista. O otimismo quanto ao futuro do Império era limitado pela<br />
permanência <strong>de</strong> uma compreensão cíclica do tempo histórico, que imaginava as<br />
civilizações realizando um périplo eterno <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e <strong>de</strong>cadência.<br />
61 Para um exemplo mais recente no campo da <strong>história</strong> da historiografia, ver Arno Wehling. De<br />
Varnhagen a Capistrano. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, Tese <strong>de</strong> Titularida<strong>de</strong>, 1997, mimeo. Exemplos do<br />
tratamento da questão, fora do campo da <strong>história</strong> da historiografia, são os trabalhos <strong>de</strong> Terezinha<br />
28
No continente europeu, ao longo da década <strong>de</strong> 1850, eram <strong>de</strong>senvolvi<strong>dos</strong><br />
instrumentos epistemológicos que prometiam totalizar a nova experiência, aberta pela<br />
autoconsciência da mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> um tempo histórico linear e processual. A idéia <strong>de</strong><br />
que as “<strong>história</strong>s” da humanida<strong>de</strong> po<strong>de</strong>riam ser entendidas como formando apenas uma<br />
gran<strong>de</strong> <strong>história</strong> progressiva era alimentada e alimentava um conjunto <strong>de</strong> novos discursos<br />
culturais e científicos. Com autores como Spencer e Darwin, a idéia <strong>de</strong> evolução<br />
progressiva e linear se autonomizava, na medida em que o motor <strong>dos</strong> processos<br />
evolutivos era buscado em fenômenos aleatórios, não necessariamente teleológicos,<br />
inscritos na própria realida<strong>de</strong>. 62 Se para boa parte do pensamento romântico o progresso<br />
era apenas uma possibilida<strong>de</strong> quando garantido por uma inteligência superior — cuja<br />
existência era difícil comprovar empiricamente —, para o discurso evolucionista, a<br />
linearida<strong>de</strong> da marcha evolutiva estava assentada na própria natureza das coisas.<br />
No contexto brasileiro, o choque entre essas duas concepções marca igualmente<br />
um choque geracional. O “bando <strong>de</strong> idéias novas” <strong>de</strong> que nos fala Silvio Romero trazia<br />
também um bando <strong>de</strong> novos homens ansiosos por ocupar posições <strong>de</strong> prestígio social.<br />
Pela baixa institucionalização do sistema intelectual brasileiro no século XIX, o<br />
caminho para esse embate era, naturalmente, a polêmica pessoal. Um <strong>dos</strong> embates mais<br />
significativos foi a que opôs o jovem Joaquim Nabuco ao “monumento” José <strong>de</strong><br />
Alencar. Não apenas pelo peso <strong>dos</strong> nomes envolvi<strong>dos</strong>, mas pelo conteúdo e pela<br />
dimensão, a polêmica Alencar-Nabuco é um evento central na <strong>história</strong> do conceito <strong>de</strong><br />
evolução no Brasil. 63<br />
A recepção do conceito <strong>de</strong> evolução é uma das marcas distintivas entre a geração<br />
<strong>de</strong> 1870 e a geração romântica. Para Alencar, o conceito não adquirira ainda a<br />
centralida<strong>de</strong> para o discurso histórico que assumiria para a geração <strong>de</strong> 1870. Suas<br />
referências estavam mais ligadas às teorias da geração espontânea do século XVIII do<br />
Collichio. Miranda <strong>de</strong> Azevedo e o darwinismo no Brasil, e <strong>de</strong> Angela Alonso. Idéias em movimento:<br />
a geração <strong>de</strong> 1870 na crise do Brasil-Império.<br />
62 Para uma <strong>de</strong>nsa e minuciosa análise do embate entre uma biologia teleológica e outra “mecanicista”<br />
no contexto germânico do XIX, ver Timothy Lenoir. The strategy of life: teleology and mechanics in<br />
nineteenth-century German biology. Em especial, o capítulo 6, “Teleomechamism and Darwins’s<br />
theory”, pp. 246-75.<br />
63 Em um trecho no mínimo curioso, Nabuco critica o fato <strong>de</strong> Alencar ter criado um episódio em “O<br />
Guarani” em que uma índia pe<strong>de</strong> um beijo a Peri. Ora, argumenta Nabuco, Darwin havia provado em<br />
seu livro “A expressão das emoções nos homens e animais” que o beijo como forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstração<br />
<strong>de</strong> afeto não existiria em os indígenas. Cf. Coutinho, Afrânio (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco, p.<br />
91. O leitor cuida<strong>dos</strong>o po<strong>de</strong>rá verificar o uso pragmático que Nabuco faz do livro <strong>de</strong> Darwin, pois o<br />
29
que ao novo mo<strong>de</strong>lo que teve em Darwin e Spencer suas principais referências nesse<br />
momento inicial. 64<br />
Em posição igualmente crítica estava outro “monumento” da geração romântica.<br />
Em 1880, Gonçalves <strong>de</strong> Magalhães publicou seus “Comentários e pensamentos” sobre o<br />
evolucionismo. O livro está entre as críticas mais conscientes e bem <strong>de</strong>senvolvidas à<br />
Teoria da Evolução produzidas no século XIX brasileiro. Magalhães não só acusava os<br />
novos homens <strong>de</strong> ciência <strong>de</strong> burlarem os limites empíricos com suas especulações e<br />
hipóteses vazias <strong>de</strong> comprovação, como também apontava para a questão mais <strong>de</strong>licada<br />
para a sua geração, i.e., a afirmação <strong>de</strong> que o processo histórico é cego, ou seja, sua<br />
força seria o resultado <strong>de</strong> movimentos aleatórios e aci<strong>de</strong>ntais. A ausência <strong>de</strong> “causas<br />
finais”, <strong>de</strong> uma força vital ou providência, dissolvia a crença no progresso da civilização<br />
garantido por uma força superior cujos <strong>de</strong>sígnios seriam imperscrutáveis. Magalhães é<br />
bastante claro em sua crítica quando aponta a questão fundamental que separava a<br />
geração espiritualista do novo “materialismo”:<br />
As disposições teleológicas, ou causas finais [...] prestaram sempre valiosos<br />
argumentos para nos fazer crer que o universo é obra intencional <strong>de</strong> uma sabedoria<br />
divina, e não o resultado do acaso.<br />
É quanto basta para que os materialistas não só suprimam a consi<strong>de</strong>ração da<br />
finalida<strong>de</strong> no estudo <strong>dos</strong> fatos e das causas imediatas, mas ousem mesmo negar a priori<br />
que haja plano, or<strong>de</strong>m e fim em cousa alguma do universo [...]. 65<br />
Na ausência <strong>de</strong> um conceito histórico <strong>de</strong> evolução fundado em convicções<br />
“científicas”, a historiografia da geração romântica esteve sempre <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da<br />
existência <strong>de</strong> uma providência divina ou “força vital” orientadora da História. O novo<br />
conceito <strong>de</strong> evolução, com todo o peso <strong>de</strong> legitimação científica com o qual emergia,<br />
oferecia a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> encontrar, no movimento mesmo da realida<strong>de</strong>, o “motor” da<br />
<strong>história</strong>. É na busca <strong>de</strong>ssas leis históricas fundadas na natureza biológica, social e<br />
psicológica do ser humano que a geração <strong>de</strong> 1870 tentará substituir a Providência. A<br />
historiografia romântica, na medida em que não po<strong>de</strong>ria avançar os <strong>de</strong>sígnios divinos,<br />
parecia ter sua capacida<strong>de</strong> explicativa limitada.<br />
único trecho em que trata da questão, o célebre naturalista não menciona os indígenas do Brasil. Cf.<br />
Charles Darwin. The expressions of emotions in man and animals, pp. 439-40.<br />
64 Cf. Coutinho, Afrânio (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco, passim.<br />
65 Cf. Domingos José Gonçalves <strong>de</strong> Magalhães. Comentários e pensamentos, p. 31. Grifo meu.<br />
30
No Brasil, até 1850, a recepção das gran<strong>de</strong>s sínteses histórico-filosóficas, que<br />
estão assentando a autoconsciência da mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> na Europa, é fragmentada e<br />
eclética. 66 O conceito <strong>de</strong> evolução se formava lentamente ao longo <strong>de</strong>ssas décadas, mas<br />
não estava completamente disponível. Uma análise <strong>dos</strong> dicionários publica<strong>dos</strong> ao longo<br />
da primeira meta<strong>de</strong> do século é revelador <strong>de</strong>sse fenômeno. No mais influentes <strong>de</strong>les, o<br />
<strong>de</strong> Moraes, durante várias edições o verbete permanecerá surpreen<strong>de</strong>ntemente pobre:<br />
“Evoluções, s. m. pl. Os movimentos, e figuras, que se mandam fazer aos Batalhões, e<br />
Esquadrões: v. g. evolução difícil, bem, ou mal feita, etc”. 67 Associado aos exercícios<br />
bélicos, a palavra indicava, metaforicamente, outros tipos <strong>de</strong> movimentos, mas nunca a<br />
noção <strong>de</strong> acumulação progressiva. Por isso, era muito comum aparecer na forma plural.<br />
Na edição, publicada entre 1850-53, do “novo dicionário da língua portuguesa”, <strong>de</strong><br />
Eduardo Faria, já era possível i<strong>de</strong>ntificar as <strong>de</strong>rivações orgânicas do conceito, mas<br />
nenhum vestígio <strong>de</strong> seu uso histórico. Após a <strong>de</strong>scrição “bélica”, como no Moraes, o<br />
dicionarista registra: “Evolução orgânica, (fisiol.) <strong>de</strong>senvolvimento das partes pelo<br />
crescimento. Evolução <strong>dos</strong> germens”. 68<br />
Entretanto, no mesmo Faria, é possível perceber, pela leitura <strong>de</strong> verbetes<br />
relaciona<strong>dos</strong>, como ainda se estava distante <strong>de</strong> uma concepção histórica <strong>de</strong> evolução.<br />
No verbete <strong>de</strong>dicado a Hegel, por exemplo, nada se fala sobre sua filosofia da <strong>história</strong>,<br />
resumindo assim a questão central <strong>de</strong> sua filosofia: “[...] Hegel parte da idéia, e preten<strong>de</strong><br />
só pela força da dialética fazer emanar tudo da idéia [...]”. 69 Quando se verifica o que o<br />
dicionarista entendia por dialética, a construção enviesada da frase se esclarece:<br />
“Dialética, s. f. (v. dialético) arte <strong>de</strong> raciocinar com exatidão, parte da filosofia que<br />
ensina as regras do raciocínio. V. Lógica, que é o termo mais usado”. 70 Portanto, o<br />
elemento da filosofia <strong>de</strong> Hegel que estaria mais próximo do conceito histórico <strong>de</strong><br />
evolução é ainda entendido em sua acepção retórica, como simples argumentação. É<br />
apenas na edição do Moraes <strong>de</strong> 1877-1878, portanto, após o bando <strong>de</strong> idéias novas da<br />
geração <strong>de</strong> 1870, que o conceito <strong>de</strong> evolução receberá um <strong>de</strong>senvolvimento plenamente<br />
histórico, social e político:<br />
66 Sobre o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong> históricos na representação do tempo no Brasil na primeira<br />
meta<strong>de</strong> do século XIX, ver Val<strong>de</strong>i Lopes <strong>de</strong> Araujo. A experiência do tempo: mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> e<br />
historicização no Império do Brasil, passim.<br />
67 Antônio <strong>de</strong> Moraes Silva. Dicionário da língua portuguesa [1813]. O verbete é praticamente o mesmo<br />
nas edições anteriores <strong>de</strong> 1789, 1813, 1823, 1831 e 1844.<br />
68 Eduardo Faria. Novo dicionário da língua portuguesa, vol. II.<br />
69<br />
70<br />
Ibi<strong>de</strong>m, vol. III, p. 626. Grifo meu.<br />
Ibi<strong>de</strong>m, vol. II, p. 875.<br />
31
Evolução [...] § (fig.) Desenvolvimento <strong>de</strong> uma idéia, <strong>de</strong> um sistema, <strong>de</strong> uma ciência, <strong>de</strong><br />
uma arte, etc. § (tir. fisiol.) O <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um órgão até a sua completa formação.<br />
[...] Evolução Histórica, ou simplesmente evolução, <strong>de</strong>senvolvimento e aperfeiçoamento<br />
progressivo das socieda<strong>de</strong>s e sua civilização numa or<strong>de</strong>m <strong>de</strong>terminada. § Evolução<br />
orgânica; sistema fisiológico cujos partidários supõem, que o novo ser que resulta do ata<br />
da geração preexistia a esse ato. § Evolução política; - social; <strong>de</strong>senvolvimento<br />
progressivo no espírito público <strong>de</strong> idéias políticas, ou sociais, <strong>de</strong> modo a conseguir-se o<br />
seu triunfo sem a violência das revoluções [...]. 71<br />
Embora possuíssem uma série <strong>de</strong> instrumentos conceituais para lidar com os<br />
fenômenos históricos — que mais tar<strong>de</strong> seriam reorganiza<strong>dos</strong> em torno do conceito<br />
histórico <strong>de</strong> evolução —, a geração “romântica” estava distante do entendimento<br />
orgânico, imanente e acumulativo do <strong>de</strong>senvolvimento das socieda<strong>de</strong>s humanas. É<br />
apenas pelo conceito histórico <strong>de</strong> evolução que os vestígios <strong>de</strong> um tempo cíclico<br />
po<strong>de</strong>rão ser substituí<strong>dos</strong> por uma compreensão progressiva e linear da <strong>história</strong> das<br />
civilizações. A ausência do conceito <strong>de</strong> evolução tornou a escrita da <strong>história</strong> uma<br />
operação ambígua e complexa, pois apenas por ele seria possível juntar passado,<br />
presente e futuro em um processo linear e sem ruptura, ou, como expresso no verbete do<br />
Moraes, sem revoluções. 72 Assim, ao lado das tentativas parciais <strong>de</strong> narrar a <strong>história</strong> do<br />
Brasil, encontram-se estratégias variadas <strong>de</strong> enfrentamento <strong>de</strong> um tempo crescentemente<br />
historicizado. 73<br />
É na conjuntura <strong>de</strong> embate entre a concepção romântica e as novas idéias da<br />
geração <strong>de</strong> 1870 que esta pesquisa preten<strong>de</strong> mapear a constituição do conceito <strong>de</strong><br />
evolução como categoria do discurso histórico. A ênfase no embate <strong>de</strong>verá ser<br />
relativizada pela atenção aos elementos <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong> entre os dois momentos, ou<br />
seja, em que medida o conceito <strong>de</strong> evolução vai se constituído no interior do<br />
pensamento “romântico”. Para encaminhar essas questões, algumas perguntas <strong>de</strong>verão<br />
ser respondidas: Como se escrevia <strong>história</strong> na ausência <strong>de</strong>sse conceito <strong>de</strong> evolução? De<br />
que maneira o processo histórico era narrado? Quais os <strong>conceitos</strong> alternativos para a<br />
idéia <strong>de</strong> evolução? De que modo a introdução <strong>de</strong>sse novo conceito transforma o<br />
discurso historiográfico em seu conjunto? Quais as rupturas e continuida<strong>de</strong>s que po<strong>de</strong>m<br />
ser apontadas na constituição <strong>de</strong>sse conceito?<br />
71 Antônio <strong>de</strong> Moraes Silva. Dicionário da língua portuguesa, vol. I, p. 867. [1877-8]. Grifos meus.<br />
72 Cf. Reinhart Koselleck. “Le concept d’histoire”. In ____. L’expérience <strong>de</strong> l’histoire, p. 82.<br />
73 Sobre a modalização do tempo na mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>, ver Hans Ulrich Gumbrecht. “Cascatas <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>” In ____. Mo<strong>de</strong>rnização <strong>dos</strong> senti<strong>dos</strong>, p. 15-7.<br />
32
PROGRAMA<br />
VII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS CONCEITOS<br />
DIÁLOGOS TRANSATLÂNTICOS<br />
4ª feira, 07/07/2004<br />
11:00 – Palestra Inaugural<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 7-9 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2004<br />
Melvin Richter (City University of New York - EUA) – Mais que uma rua <strong>de</strong> mão<br />
dupla: análise, tradução e comparação <strong>de</strong> <strong>conceitos</strong> <strong>de</strong> culturas diferentes da nossa<br />
14:30 – História <strong>dos</strong> Conceitos na Europa: Projetos nacionais<br />
Javier Fernán<strong>de</strong>z Sebastián (Universidad <strong>de</strong>l País Vasco - Espanha) – De la historia <strong>de</strong>l<br />
pensamiento a la semántica histórica <strong>de</strong>l léxico político: Una experiencia española<br />
en historia conceptual<br />
Wyger Velema (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Amsterdã - Holanda) – Historia conceitual:<br />
perspectivas holan<strong>de</strong>sas<br />
Henrik Stenius (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Helsinki - Finlândia) – A recepção da <strong>história</strong> <strong>dos</strong><br />
<strong>conceitos</strong> na Finlândia<br />
16:00 – The History of Concepts in the New World: National Projects<br />
Elias Palti (Universidad Nacional <strong>de</strong> Quilmes - Argentina) – Sobre la tesis <strong>de</strong> la<br />
refutabilidad esencial <strong>de</strong> los conceptos y la historia intelectual latinoamericana: <strong>de</strong><br />
la historia <strong>de</strong> los conceptos políticos a la historia <strong>de</strong> los lenguajes políticos<br />
Martin Burke (City University of New York - EUA) – História conceitual nos Esta<strong>dos</strong><br />
Uni<strong>dos</strong>: o projeto nacional que está faltando<br />
João Feres Júnior (IUPERJ - Brasil) – Para uma <strong>história</strong> conceitual crítica do Brasil:<br />
recebendo Begriffsgeschichte<br />
5ª feira, 08/07/2004<br />
9:30 – O conceito <strong>de</strong> civilização<br />
Pim <strong>de</strong>n Boer (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Amsterdã - Holanda) – Civilização; comparando<br />
<strong>conceitos</strong> e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
Bernardo Ricupero (USP - Brasil) – A ambígua relação entre romantismo e<br />
“civilização” no Brasil e na Argentina (1830 – 1870)<br />
Ilkka Liikanen (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Joensuu – Finlândia) – A fronteira entre Finlândia e<br />
Rússia: uma trincheira do conflito entre civilizações?<br />
Carolina Rodríguez-Alcalá (Unicamp - Brasil) – Cultura e civilização nos discursos<br />
sobre o Novo Mundo<br />
11:00 –O conceito <strong>de</strong> nação/nacionalismo<br />
Ephraim Nimni (University of New South Wales - Austrália) – O conceito <strong>de</strong><br />
autonomia nacional-cultural e seu significado para as teorias do nacionalismo<br />
contemporâneas<br />
33
Temístocles Cezar (UFRGS - Brasil) – Varnhagen: um historiador entre a Europa e o<br />
Novo Mundo: ensaio sobre o conceito <strong>de</strong> <strong>história</strong> no Brasil do século XIX<br />
Norma Côrtes (UERJ - Brasil) – O ser da nação é o tempo: os <strong>conceitos</strong> <strong>de</strong> nação e<br />
nacionalismo na filosofia <strong>de</strong> Álvaro Vieira Pinto<br />
Fernando Lattman-Weltman (PUC-RJ - Brasil) – Aventuras do liberalismo no Brasil: A<br />
positivação da negativida<strong>de</strong> política, ou a vitória final do conceito<br />
14:30 – Encontros Transatlânticos e Mudança Conceitual<br />
Ricardo Benzaquen <strong>de</strong> Araújo (IUPERJ/PUC-Rio - Brasil) – Através do espelho:<br />
presença da Europa e elaboração da subjetivida<strong>de</strong> em minha formação, <strong>de</strong><br />
Joaquim Nabuco<br />
José Eisenberg (IUPERJ - Brasil) – Mudança Conceitual e Práticas Institucionais: a<br />
teologia moral <strong>dos</strong> jesuítas da segunda escolástica<br />
Luciana Villas Boas (Columbia University - EUA) – Selvagens <strong>história</strong>s <strong>de</strong> um pio<br />
autor: exemplarieda<strong>de</strong>, diferença e contexto no livro <strong>de</strong> Hans Sta<strong>de</strong>n<br />
16:00 - Europe in the New World<br />
Jan Ifversen (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Aarhus - Dinamarca) – Quem são os oci<strong>de</strong>ntais?<br />
Rafael <strong>de</strong> Bivar Marquese (USP - Brasil) – Escravidão e po<strong>de</strong>r patriarcal nos escritos<br />
sobre o governo <strong>dos</strong> escravos nas Américas, c.1660-1720<br />
Christiane Laidler (UERJ - Brasil) – Liberalismo e escravidão no século XIX: idéias e<br />
historiografia.<br />
6ª feira, 09/07/2004<br />
9:30 – Workshop: História <strong>dos</strong> Conceitos Brasileiros (Sessão com apresentações<br />
curtas <strong>de</strong> pesquisas sobre <strong>história</strong> conceitual do Brasil)<br />
Lúcia Maria Bastos P. Neves (UERJ - Brasil); Guilherme Pereira das Neves (UFF<br />
- Brasil); William <strong>de</strong> Souza Martins (UGF/FIS - Brasil); Val<strong>de</strong>i Lopes <strong>de</strong> Araujo<br />
(UFOP - Brasil); Rodrigo Elias Caetano Gomes (UFF - Brasil); Thamy<br />
Pogrebinschi (IUPERJ - Brasil); Pedro Villas Boas (IUPERJ - Brasil); Helga<br />
Gahyva (IUPERJ - Brasil)<br />
11:00 – Encontros Transatlânticos e Mudança Conceitual<br />
Leopoldo Waizbort (USP - Brasil) – “dargestellte Wirklichkeit” e “sentimento da<br />
realida<strong>de</strong>”: um <strong>de</strong>slocamento transatlântico [no campo <strong>dos</strong> estu<strong>dos</strong> literários]<br />
João Adolfo Hansen (USP - Brasil) – Categorias retórico-teológicas da representação na<br />
política católica luso-brasileira (Séculos XVI, XVII, XVIII)<br />
Janete Flor <strong>de</strong> Maio Fonseca (UFMG - Brasil) – Correspondências <strong>de</strong> brasileiros na<br />
Europa oitocentista<br />
Christian Lynch (IUPERJ - Brasil) – A mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> como critério <strong>de</strong> uma historia do<br />
conceito na periferia<br />
14:30 – O conceito <strong>de</strong> cidadão/cidadania<br />
Patricia Springborg (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sydney - Austrália) – O mo<strong>de</strong>lamento clássico e a<br />
circulação do conceito <strong>de</strong> cidadania<br />
34
Vicente Oieni (Iberoamerikanska institutet - Suécia) – La invención <strong>de</strong>l ciudadano<br />
ilustrado en el proceso <strong>de</strong> emancipación en el Río <strong>de</strong> la Plata<br />
Uffe Jakobsen (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Copenhagen - Dinamarca) – O conceito <strong>de</strong> cidadania<br />
no discurso público dinamarquês<br />
Maria Alice <strong>de</strong> Carvalho (IUPERJ) – O conceito <strong>de</strong> cidadania no Brasil: construção e<br />
<strong>de</strong>safios<br />
16:00 – Mesa Redonda: Aspectos metodológicos da <strong>história</strong> <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong><br />
Kari Palonen (Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Jyväskylä - Finlândia) – A temporalização <strong>dos</strong> <strong>conceitos</strong><br />
e a temporalização da política<br />
Marcelo Jasmin (IUPERJ/PUC-Rio - Brasil) – Contextos e <strong>conceitos</strong>: comparando<br />
ontologias e metodologias<br />
Rubén Darío Salas (Universidad <strong>de</strong> Buenos Aires - Argentina) – Método retóricohermeneutico<br />
y discurso histórico-político<br />
35