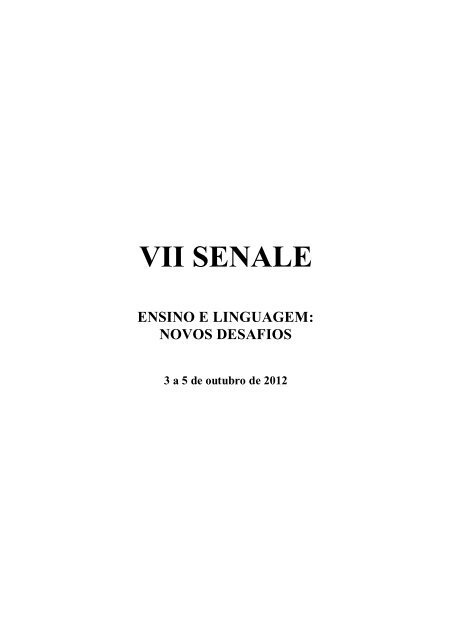acesse aqui - Faculdade de Educação - UFPel - Universidade ...
acesse aqui - Faculdade de Educação - UFPel - Universidade ...
acesse aqui - Faculdade de Educação - UFPel - Universidade ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VII SENALE<br />
ENSINO E LINGUAGEM:<br />
NOVOS DESAFIOS<br />
3 a 5 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2012
2<br />
Universida<strong>de</strong> Católica <strong>de</strong> Pelotas – UCPEL<br />
Pró-Reitoria Acadêmica<br />
Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em Letras –<br />
Mestrado/Doutorado<br />
VII SENALE<br />
ENSINO E LINGUAGEM:<br />
NOVOS DESAFIOS<br />
3 a 5 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2012
PROGRAMAÇÃO E RESUMO DOS TRABALHOS<br />
UCPEL<br />
Pelotas - 2012<br />
3
Comissão Organizadora<br />
Adail Sobral<br />
Aracy Ernst<br />
Vilson Leffa<br />
Comissão Científica<br />
Adail Sobral<br />
Adriana Fischer<br />
Andréia Rauber<br />
Aracy Ernst<br />
Carmen Matzenauer<br />
Eliane Campello<br />
Ercília Cazarin<br />
Fabiane Marroni<br />
Hilário Bohn<br />
Raquel Recuero<br />
Vilson Leffa<br />
Secretaria<br />
Caroline Ratto Vieira<br />
Daiana Elisa Silveira Me<strong>de</strong>iros<br />
Juliana M. Thomaz<br />
Rosangela F. Pereira<br />
En<strong>de</strong>reço<br />
Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em Letras<br />
Mestrado/Doutorado – VII SENALE<br />
Rua: Félix da Cunha, 425 - Pelotas/RS<br />
CEP: 96010-000<br />
Telefone: (53) 2128-8242<br />
E-mail: senale@ucpel.tche.br<br />
Site: http://www.ucpel.tche.br/senale<br />
Organização <strong>de</strong>sta obra<br />
Adail Sobral<br />
Comissão <strong>de</strong> Apoio<br />
Assessoria <strong>de</strong> Comunicação e Marketing<br />
Setor <strong>de</strong> Informática - Julimeri Budó<br />
Maria Waleska Siga Peil<br />
Capa<br />
Assessoria <strong>de</strong> Comunicação e Marketing - Danielle Gonzales<br />
Editoração Eletrônica<br />
Educat - Ana Gertru<strong>de</strong>s G. Cardoso<br />
4
APRESENTAÇÃO<br />
O VII Seminário Nacional sobre Linguagem e Ensino <strong>de</strong> Línguas<br />
(VII SENALE), cujo tema é “Ensino e linguagem: novos <strong>de</strong>safios”,<br />
se realiza <strong>de</strong> 3 a 5 outubro <strong>de</strong> 2012, numa promoção do Programa<br />
<strong>de</strong> Pós-Graduação em Letras da Universida<strong>de</strong> Católica <strong>de</strong><br />
Pelotas. Em sua sétima edição, ele passa a ter alcance internacional,<br />
no âmbito do Mercosul.<br />
A proposta é dar continuida<strong>de</strong> ao trabalho que tem norteado historicamente<br />
a sua realização, qual seja o <strong>de</strong> proporcionar, além<br />
da maior interação possível entre professores dos diferentes níveis<br />
<strong>de</strong> ensino e pesquisadores <strong>de</strong> instituições universitárias, uma<br />
reflexão sobre problemas ligados ao ensino <strong>de</strong> língua materna e<br />
<strong>de</strong> língua estrangeira.<br />
Sua direção é essencialmente pragmática, propondo-se a criar<br />
condições para o <strong>de</strong>bate sobre a intervenção das diferentes teorias<br />
linguísticas no processo ensino-aprendizagem <strong>de</strong> línguas, enfrentando,<br />
nesta nova edição, os novos <strong>de</strong>safios <strong>de</strong>correntes das<br />
mudanças operadas pela contemporaneida<strong>de</strong> na língua(gem).<br />
Confrontar os avanços científicos e tecnológicos com a realida<strong>de</strong><br />
da sala <strong>de</strong> aula po<strong>de</strong>rá servir para inovar, mas também para relativizar<br />
posições e concepções acerca da viabilida<strong>de</strong> e aplicabilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sses conhecimentos para o <strong>de</strong>senvolvimento das aulas <strong>de</strong><br />
língua materna e <strong>de</strong> línguas estrangeiras.<br />
As estratégias previstas na organização do evento preveem o<br />
entrecruzamento da produção científica com as práticas pedagógicas<br />
e <strong>de</strong>verão se constituir numa intervenção benéfica no campo<br />
das práticas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> línguas, seja propondo novas formas,<br />
questionando-as ou comparando-as com as já estabelecidas.<br />
Para isso, propõe-se uma programação que contemple a dimensão<br />
pragmática das atuais e principais concepções linguísticas,<br />
suas possibilida<strong>de</strong>s e limites <strong>de</strong> aplicação no que diz respeito ao<br />
processo ensino-aprendizagem <strong>de</strong> línguas. Haverá palestras, mesas-redondas,<br />
conferências, simpósios e comunicações individuais,<br />
bem como minicursos a serem <strong>de</strong>senvolvidos por pesquisadores<br />
<strong>de</strong> diferentes instituições universitárias do país e do exterior.<br />
5
SUMÁRIO<br />
PROGRAMAÇÃO .................................................................. ....3<br />
MINICURSOS ........................................................................ ..13<br />
LINHAS TEMÁTICAS DO VII SENALE ............................... ..15<br />
COMUNICAÇÕES E SIMPÓSIOS.......................................... ..17<br />
RESUMO DOS TRABALHOS ................................................ 119<br />
Aquisição <strong>de</strong> linguagem, variação e ensino: um balanço ........... 121<br />
Dialogismo, gêneros e ensino: perspectivas .............................. 161<br />
Discurso, enunciação e ensino: rumos ...................................... 202<br />
Ensino e novos perfis dos professores: propostas ...................... 247<br />
Gênero social, linguagens e ensino: um panorama .................... 314<br />
Linguagem, cognição e ensino: novos espaços .......................... 327<br />
Linguagens e letramentos: questões .......................................... 356<br />
Linguagem, semiótica e ensino: interfaces ................................ 365<br />
Tecnologias e ensino: novas perspectivas ................................. 421<br />
Variação linguística, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e ensino: reflexões ................. 480<br />
EMENTAS DOS MINICURSOS ............................................. 518<br />
7
PROGRAMAÇÃO<br />
DIA 3 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA<br />
Manhã<br />
8h – Inscrições e cre<strong>de</strong>nciamento<br />
9h – Abertura do evento<br />
9h30min – Conferência <strong>de</strong> Abertura<br />
Discurso e ensino: possibilida<strong>de</strong>s<br />
Conferencista: Eni Orlandi (UNICAMP/UNIVÁS)<br />
10h30min – Intervalo<br />
11h às 13h – Simpósios e Comunicações Individuais<br />
Tar<strong>de</strong><br />
14h – Mesa-Redonda<br />
Sujeito e linguagem na contemporaneida<strong>de</strong><br />
Coor<strong>de</strong>nação: Aracy Ernst<br />
Participantes:<br />
Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS)<br />
Sandra Torossian (UFRGS)<br />
Castor Ruiz (UNISINOS)<br />
15h30min – Intervalo<br />
16h às 17h30min – Simpósios e Comunicações individuais<br />
17h30 às 19h15min – Minicursos<br />
DIA 4 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA<br />
Manhã<br />
8h30min – Palestra<br />
O ensino <strong>de</strong> língua(s) na contemporaneida<strong>de</strong><br />
Palestrante: Maria Helena <strong>de</strong> Moura Neves (UNESP/Mackenzie)<br />
9h30min – Intervalo<br />
9
10h – Mesa-Redonda<br />
Consi<strong>de</strong>rações acerca do ensino: aspectos variacionistas e fonológicos<br />
Coor<strong>de</strong>nação: Carmen Lúcia Barreto Matzenauer<br />
Participantes:<br />
Dermeval da Hora Oliveira (UFP)<br />
Izabel Christine Seara (UFSC)<br />
Gisela Collischonn (UFRGS)<br />
11h30 às 13h – Simpósios e Comunicações Individuais<br />
Tar<strong>de</strong><br />
14h – Palestra<br />
Entre a mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> e a pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>: discurso e ensino<br />
Palestrante: Maria José Coracini (UNICAMP)<br />
15h30min – Intervalo<br />
16h às 17h30min – Simpósios e Comunicações Individuais<br />
17h30min às 19h15 – Minicursos<br />
19h30min – Lançamento <strong>de</strong> livros<br />
DIA 5 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA<br />
Manhã<br />
8h30min – Palestra<br />
Procesos y prácticas <strong>de</strong> lectura y escritura académicas: fundamentos<br />
e implicaciones pedagógicas<br />
Palestrante: Constanza Padilla <strong>de</strong> Zérdan (CONICET – Universidad<br />
Nacional <strong>de</strong> Tucumán)<br />
9h30min – Intervalo<br />
10h – Mesa-Redonda<br />
Texto e discurso: questões e perspectivas no ensino<br />
Coor<strong>de</strong>nador: Adail Sobral<br />
Participantes:<br />
José Luiz Fiorin (USP)<br />
Ana Cláudia Lodi (USP)<br />
Maria da Glória di Fanti (PUCRS)<br />
11h30min às 13h – Simpósios e Comunicações Individuais<br />
10
Tar<strong>de</strong><br />
14h – Mesa-Redonda:<br />
Ensino <strong>de</strong> Literatura na Contemporaneida<strong>de</strong><br />
Coor<strong>de</strong>nação: Eliane Amaral Campello<br />
Participantes:<br />
Luciana Paiva Coronel (FURG)<br />
Tania Ramos (UFSC)<br />
João Luís Ourique (UFPEL)<br />
16h – Intervalo<br />
16h30min – Conferência <strong>de</strong> Encerramento<br />
Desafios atuais <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
Conferencista: José Luiz Fiorin (USP)<br />
17h30min às 19h – Simpósios e Comunicações Individuais<br />
11
MINICURSOS<br />
Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais: compreen<strong>de</strong>ndo suas especificida<strong>de</strong>s<br />
linguísticas a partir <strong>de</strong> práticas <strong>de</strong> interlocução na língua<br />
Ana Cláudia Balieiro Lodi (USP) e Elomena Barboza Almeida (UFS-<br />
Car) – Sala: 302B<br />
Projetos didáticos <strong>de</strong> gênero num processo cooperativo <strong>de</strong> formação<br />
continuada<br />
Ana Mattos Guimarães; Dorotea Frank Kersch; An<strong>de</strong>rson Carnin;<br />
Vanessa Dagostim Pires (UNISINOS) – Sala: 213B<br />
Lectura, escritura y argumentación académicas: aportes teóricos y<br />
propuestas didácticas<br />
Constanza Padilla <strong>de</strong> Zérdan (Universidad Nacional <strong>de</strong> Tucumán) –<br />
Sala: 215B<br />
Variação Linguística e Estilo<br />
Dermeval da Hora Oliveira (UFP) – Sala: 408B<br />
Cartografia Geopoética Simoneana<br />
Gilnei Oleiro Corrêa (IFSUL) – Sala: 206B<br />
A sílaba, unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> organização melódica da fonologia<br />
Gisela Collischonn (UFRGS) – Sala: 405B<br />
Segmentos Vocálicos e Consonantais no PB: Características Acústicas<br />
Izabel Christine Seara (FONAPLI/UFSC) – Sala: 407B<br />
Introdução à Linguística Cognitiva<br />
Liliane Prestes (UCPEL) e Luiz Fernando Matos Rocha (UFJF) – Sala:<br />
403B<br />
Análise do discurso: resistência e rupturas<br />
Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS) – Sala: 404B<br />
Gêneros do discurso: questões teóricas e práticas<br />
Maria da Glória di Fanti (PUCRS) – Sala: 402B<br />
13
Discurso (<strong>de</strong>/sobre a pobreza) e ensino<br />
Maria José Coracini (UNICAMP) – Sala: 306B<br />
Estudo <strong>de</strong> língua na vivência da linguageM<br />
Maria Helena <strong>de</strong> Moura Neves (UNESP/Mackenzie) – Sala: 208B<br />
O funcionamento discursivo do social em filmes e documentários<br />
Suzy Lagazzi (DL/IEL/UNICAMP) – Sala: 409B<br />
A poética das memórias e suas re(a)presentações – Sala: 304B<br />
Tânia Ramos (UFSC)<br />
14
16<br />
LINHAS TEMÁTICAS DO VII SENALE<br />
Aquisição <strong>de</strong> linguagem, variação e ensino: um balanço<br />
Dialogismo, gêneros e ensino: perspectivas<br />
Discurso, enunciação e ensino: rumos<br />
Ensino e novos perfis dos professores: propostas<br />
Gênero social, linguagens e ensino: um panorama<br />
Linguagem, cognição e ensino: novos espaços<br />
Linguagens e letramentos: questões<br />
Linguagem, semiótica e ensino: interfaces<br />
Tecnologias e ensino: novas perspectivas<br />
Variação linguística, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e ensino: reflexões
18<br />
COMUNICAÇÕES E SIMPÓSIOS<br />
LOCALIZAÇÃO DAS SALAS<br />
UCPEL - CAMPUS I<br />
PRÉDIO B (ENTRADA PELA RUA DOM PEDRO II – Escadaria<br />
à direita)<br />
PRÉDIO C (ENTRADA PELA RUA GONÇALVES CHAVES –<br />
Escadaria à esquerda)<br />
DIA 3 DE OUTUBRO - (QUARTA-FEIRA) - 11 H<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 1 – SALA 204B<br />
ENSINO DE GRAMÁTICA: DAS POLÊMICAS ÀS PROPOSIÇÕES<br />
ADRIANA DICKEL<br />
FORMANDO LEITORES PROFICIENTES<br />
MILLAINE DE SOUZA CARVALHO<br />
SANTIAGO BRETANHA FREITAS<br />
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PROJETADO EM TEX-<br />
TOS DE APRESENTAÇÃO DE MANUAIS DIDÁTICOS DE 1960-<br />
1970<br />
NINA ROSA LICHT RODRIGUES<br />
A CONTRIBUIÇÃO DA POESIA E DA NARRATIVA PARA O<br />
ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA<br />
PABLO RAMOS SILVEIRA<br />
TRATAMENTO ATRIBUÍDO À ORALIDADE NO LIVRO DIDÁ-<br />
TICO DE PORTUGUÊS: ALGUNS APONTAMENTOS<br />
PAULA GAIDA WINCH<br />
A IDENTIDADE DOS (IN)DOCUMENTADOS: O CASO DOS MI-<br />
GRANTES MEXICANOS NO FILME "UMA VIDA MELHOR"<br />
REGINA ZAUK LEIVAS
COMUNICAÇÕES 2 – SALA 206B<br />
ENSINO DE LIBRAS COMO L2 NA UFPEL: EXPERIÊNCIA DA<br />
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA ABOR-<br />
DAGEM COMUNICATIVA<br />
ANGELA NEDIANE DOS SANTOS<br />
IVANA GOMES DA SILVA<br />
A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DOS SINAIS DE LIBRAS (LÍN-<br />
GUA DE SINAIS BRASILEIRA) DA ÁREA DE PSICOLOGIA<br />
ANTONIELLE CANTARELLI MARTINS<br />
EXPRESSÃO FACIO-CORPORAL NA LIBRAS: APRENDIZAGEM,<br />
USO E COMPREENSÃO<br />
BIANCA RIBEIRO PONTIN<br />
EMILIANA FARIA ROSA<br />
POR QUE O DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA NÃO É<br />
USADO PELA MAIORIA DOS SURDOS?<br />
DIOGO SOUZA MADEIRA<br />
JANIE CRISTINE DO AMARAL GONÇALVES (ORIENTADOR)<br />
É A TEIA QUE PRODUZ A VIDA OU A VIDA QUE PRODUZ A<br />
TEIA?<br />
EMILIANA FARIA ROSA<br />
BIANCA RIBEIRO PONTIN<br />
ENSINO DE LIBRAS NA UFPEL: MEMÓRIAS DA EXPERIÊNCIA<br />
DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM INTERFACE<br />
DIGITAL INTERATIVA<br />
FABIANO SOUTO ROSA<br />
TATIANA BOLIVAR LEBEDEFF<br />
A MULHER SURDA HOJE: NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR O<br />
MOVIMENTO SURDO<br />
IVANA GOMES DA SILVA<br />
19
COMUNICAÇÕES 3 – SALA 208B<br />
AS SEGMENTAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS DA ESCRITA INI-<br />
CIAL: O TROQUEU SILÁBICO E SUA RELAÇÃO COM O RITMO<br />
LINGUÍSTICO DO PB E DO PE<br />
ANA PAULA NOBRE DA CUNHA<br />
INDÍCIOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CONHECIMENTO DA<br />
LÍNGUA EM DADOS DE REPARO NA ESCRITA INICIAL<br />
ANA RUTH MORESCO MIRANDA<br />
ANA PAULA NOBRE DA CUNHA<br />
A PRODUÇÃO VARIÁVEL DE EPÊNTESE EM CODA FINAL POR<br />
APRENDIZES DE INGLÊS COMO L2<br />
ATHANY GUTIERRES<br />
NATÁLIA BRAMBATTI GUZZO<br />
O CASO DA CONSOANTE PALATAL E AS DERIVAÇÕES EM –<br />
INHO<br />
CÍNTIA DA COSTA ALCÂNTARA<br />
OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EXTENSÃO E NA<br />
VARIEDADE DO VOCABULÁRIO DE CRIANÇAS EM FASE INI-<br />
CIAL DE ALFABETIZAÇÃO<br />
CRISTIANE DE ÁVILA LOPES<br />
ANA RUTH MORESCO MIRANDA (ORIENTADOR)<br />
COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO DE /S/ NAS VOZES DE MA-<br />
CAPÁ-AP<br />
RENATA CONCEIÇÃO NEVES MONTEIRO<br />
COMUNICAÇÕES 4 – SALA 213B<br />
O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA ALUNOS COM DIS-<br />
LEXIA<br />
CARLA ALVES LIMA<br />
O LÉXICO NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA CRI-<br />
ANÇAS<br />
CRISTINA PUREZA DUARTE BOÉSSIO<br />
NARA REJANE PINTO AQUINO<br />
20
UM ESTUDO SOBRE OS ERROS ORTOGRÁFICOS NO ENSINO<br />
MÉDIO<br />
DAIANI DE JESUS GARCIA<br />
CLAUDIA REGINA MINOSSI ROMBALDI<br />
DA CARTA DE CAMINHA ÀS MENSAGENS DE TEXTO: FOR-<br />
MAS ABREVIADAS E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO<br />
DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
MARIA LUCI DE MESQUITA PRESTES<br />
O USO DAS FÁBULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O<br />
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA<br />
RENAN DE MOURA RODRIGUES LIMA<br />
COMUNICAÇÕES 5 – SALA 215B<br />
O DESENVOLVIMENTO DA INTERLÍNGUA COMO UM SISTE-<br />
MA ADAPTATIVO COMPLEXO: UM CRUZAMENTO DE PERS-<br />
PECTIVAS<br />
GISELE MEDINA NUNES<br />
DIÁLOGO ENTRE KRASHEN, LARSEN-FREEMAN E WILLIS:<br />
IDEIAS COMUNS SOBRE AQUISIÇÃO DE L2<br />
JUAREZ A. LOPES JR.<br />
REPENSANDO A CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA E A RELAÇÃO<br />
ENTRE OS SUBSISTEMAS FONOLÓGICO E MORFOLÓGICO DA<br />
LÍNGUA<br />
JULIANA TATSCH MENEZES<br />
LIANE SILVA BARRETO<br />
"ESSE SEU CURSINHO DE INGLÊS ONLINE!": ANÁLISE DE<br />
DISCURSOS SOBRE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LE PRE-<br />
SENTES EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS.<br />
MATHEUS TRINDADE VELASQUES<br />
A INSERÇÃO DE A GENTE NA LINGUAGEM JORNALÍSTICA<br />
DE ZERO HORA<br />
MORGANA PAIVA DA SILVA<br />
21
COMUNICAÇÕES 6 – SALA 302B<br />
DIACRONIA E SINCRONIA: UMA ANÁLISE DE FENÔMENOS<br />
FONOLÓGICOS<br />
CLARISSSA DE MENEZES AMARIZ<br />
INTERFERÊNCIAS DO PORTUGUES NA APRENDIZAGEM DE<br />
ESPANHOL COMO LE<br />
JULIANE WOJCIECHOWSKI SILVA<br />
ESPAÑOL PARA NIÑOS: RELATO DE PRÁCTICAS EN AMBIEN-<br />
TES ESCOLARES<br />
LARISSA DA SILVA RAMOS<br />
THAIS PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA<br />
O MODELO DE REDESCRIÇÃO REPRESENTACIONAL E A<br />
CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA: ANALISANDO OS SUBSISTE-<br />
MAS FONOLÓGICO E MORFOLÓGICO DA LÍNGUA<br />
LIANE BARRETO SILVA<br />
ALINE LORANDI<br />
UMA QUESTÃO ENTRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E EDU-<br />
CAÇÃO ESPECIAL: SOBRE A SUBJETIVIDADE NO CONTEXTO<br />
ESCOLAR<br />
LUIZ CARLOS SOUZA BEZERRA<br />
COMUNICAÇÕES 7 – SALA 304B<br />
AQUISIÇÃO E REFERÊNCIA EM TEXTOS NARRATIVOS PRO-<br />
DUZIDOS POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL<br />
BRUNA SANTANA DIAS<br />
KATIANE TEIXEIRA BARCELOS CASEIRO<br />
FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DA LÍNGUA ES-<br />
TRANGEIRA NA PROVA DO ENEM DE ALUNOS DO COLÉGIO<br />
MUNICIPAL PELOTENSE<br />
JANAÍNA BUCHWEITZ E SILVA<br />
A AQUISIÇÃO DA ESCRITA DO PORTUGUÊS POR CRIANÇAS<br />
BILÍNGUES (POMERANO /PORTUGUÊS): ASPECTOS FONÉTI-<br />
COS E FONOLÓGICOS<br />
MARCELI TESSMER BLANK<br />
ANA RUTH MORESCO MIRANDA (ORIENTADOR)<br />
22
A GRAFIA DO GLIDE [W] EM DADOS DO PB E DO PE: UM O-<br />
LHAR SOBRE AS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS<br />
DOIS SISTEMAS<br />
MILENA MEDEIROS DE MATTOS<br />
ANA RUTH MORESCO MIRANDA<br />
UMA DISCUSSÃO SOBRE AS VOGAIS MÉDIAS DO ESPANHOL<br />
DA FRONTEIRA<br />
MÍRIAM CRISTINA CARNIATO<br />
DESNASALIZAÇÃO NO CONTEXTO FONÉTICO-FONOLÓGICO<br />
EM AQUISIÇÃO DA ESCRITA<br />
NATÁLIA LECTZOW DE OLIVEIRA<br />
ANA RUTH MIRANDA (ORIENTADOR)<br />
COMUNICAÇÕES 8 – SALA 306B<br />
PIBID LETRAS – ESPANHOL: UNA OPORTUNIDAD DE VALO-<br />
RIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN LA FRONTE-<br />
RA<br />
MARIA ELIA GONÇALVES MARTINS<br />
MARA BELÉM<br />
APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO SEGUNDA LÍNGUA<br />
NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE SAN-<br />
TA MARIA<br />
NARA SOARES TORRES<br />
FRANCIELE FARIAS SEPEL<br />
O PORTUGUÊS BRASILEIRO E O EUROPEU: UM COMPARATI-<br />
VO SOBRE A AQUISIÇÃO DA GRAFIA DAS VOGAIS ÁTONAS<br />
NATÁLIA DUMMER ZACHER REINKE<br />
ALEXANDRA ALVES BRANDT<br />
INTERFERÊNCIA DO PORTUGUÊS LÍNGUA MATERNA VS SU-<br />
PERGENERALIZAÇÃO NA ESCRITA EM FRANCÊS<br />
PABLO DIEGO NIEDERAUER BERNARDI<br />
ISABELLA MOZZILLO<br />
23
SÂNDI EXTERNO E DADOS DE FALA DO SUL DO BRASIL<br />
PAULA PENTEADO DE DAVID<br />
CÍNTIA DA COSTA ALCÂNTARA<br />
A FALA PELOTENSE: UM ESTUDO PRELIMINAR DE VARIA-<br />
ÇÃO LINGUÍSTICA BASEADO NA TEORIA LABOVIANA.<br />
TALITA DE CÁSSIA SIGALES GONÇALVES<br />
MÁRCIA HELENA SAUAIA GUIMARÃES ROSTAS<br />
COMUNICAÇÕES 9 – SALA 402B<br />
VARIAÇÃO ENTRE FALA ESPONTÂNEA E NÃO-ESPONTÂNEA<br />
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB): PRELIMINARES DE ANÁ-<br />
LISE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DISCURSO JURÍDICO<br />
JAEL SÂNERA SIGALES GONÇALVES<br />
CARMEN LÚCIA BARRETO MATZENAUER<br />
A PERCEPÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS NOS PROCESSOS DE<br />
HARMONIA E DE ALÇAMENTO VOCÁLICO: DADOS DE UM<br />
ESTUDO PILOTO<br />
JONES NEUENFELD SCHÜLLER<br />
GABRIELA TORNQUIST<br />
A ANÁLISE DE DESVIO FONOLÓGICO À LUZ DE SEGMENTOS<br />
E TRAÇOS<br />
RICHELE DE OLIVEIRA PIRES<br />
TAMIRES PEREIRA DUARTE GOULART<br />
O COMPORTAMENTO DAS RESTRIÇÕES UNIVERSAIS NA TE-<br />
ORIA DA OTIMIDADE ESTOCÁSTICA E NA GRAMÁTICA<br />
HARMÔNICA FRENTE AO FENÔMENO DA EPÊNTE<br />
ROBERTA QUINTANILHA AZEVEDO<br />
CARMEN LUCIA MATZENAUER (ORIENTADORA)<br />
UBIRATÃ KICKHOFEL ALVES (ORIENTADOR)<br />
A PRODUTIVIDADE DA HARMONIA VOCÁLICA DURANTE O<br />
DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO<br />
TAMIRES PEREIRA DUARTE GOULART<br />
VIVIANE PERES DE JESUS LINO<br />
24
COMUNICAÇÕES 10 – SALA 403B<br />
AS TEORIAS LINGUÍSTICAS SUBJACENTES ÀS PROVAS DO<br />
PAVE<br />
CLEIDE MARTINEZ DA SILVA<br />
MARINA CABREIRA ROCHA DE MORAES<br />
PADRÕES DE COOCORRÊNCIA CV EM DADOS DO PORTU-<br />
GUÊS BRASILEIRO DE CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS<br />
MÁRCIA ZIMMER<br />
ROSANE GARCIA SILVA<br />
AQUISIÇÃO DA ESCRITA: UM ESTUDO SOBRE OS ERROS OR-<br />
TOGRÁFICOS EM TEXTOS DE CRIANÇAS BILÍNGUES (POR-<br />
TUGUÊS-ESPANHOL)<br />
ROSIANI TERESINHA SOARES MACHADO<br />
ESPAÑOL PARA NIÑOS: LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA A<br />
TRAVÉS DE CANCIONES Y JUEGOS<br />
THAIS PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA<br />
CRISTINA PUREZA DUARTE BOÉSSIO<br />
A AQUISIÇÃO DOS DITONGOS [AJ] E [EJ] NA ESCRITA DE<br />
ALUNOS DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS<br />
VERONICA SANTOS DO AMARAL<br />
GIOVANA FERREIRA GONÇALVES<br />
COMUNICAÇÕES 11 - SALA 404B<br />
GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE GRAMÁTICA: OS PREFI-<br />
XOS DE NEGAÇÃO EM BULAS<br />
ADRIANA NASCIMENTO BODOLAY<br />
ALINE MOURA DOMINGUES<br />
FYAMA MEDEIROS<br />
HÁ VÁRIOS E MUITO POUCOS... (IN)ADEQUAÇÃO DE EXEM-<br />
PLARES DE GÊNERO EM LIVROS DIDÁTICOS PARA UM CUR-<br />
SO DE INGLÊS<br />
ALESSANDRA BALDO<br />
CLEIDE INÊS WITTKE<br />
25
A NOMINALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS FÓRMULAS DIS-<br />
CURSIVAS: UM ESTUDO DAS EMENTAS<br />
ANDRÉ LIMA CORDEIRO<br />
A CARACTERIZAÇÃO DA REVISÃO TEXTUAL DOCENTE DO<br />
GÊNERO BIOGRAFIA<br />
DÉBORA SODRÉ ESPER<br />
A LINGUAGEM JORNALÍSTICA NO TWITTER<br />
MABEL OLIVEIRA TEIXEIRA<br />
NOTÍCIAS E EDITORIAIS NO ENSINO DE PORTUGUÊS<br />
MÁRCIA DRESCH<br />
KELEN PEREIRA FARIAS<br />
O DISCURSO OPINATIVO: O PAPEL DO ADJETIVO<br />
MISAEL KRÜGER LEMES<br />
ANTONIO SANTANA PADILHA<br />
COMUNICAÇÕES 12 – SALA 405B<br />
O PAPEL DO DIÁRIO REFLEXIVO NO PIBID/LETRAS<br />
FABIANA GIOVANI<br />
ISAPHI MARLENE JARDIM ALVAREZ<br />
O GÊNERO DISCURSIVO RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTER-<br />
NA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: REFLEXÕES E<br />
ANÁLISES<br />
FERNANDA PIZARRO DE MAGALHÃES<br />
O GÊNERO HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO ENSINO DE LEI-<br />
TURA E ESCRITA NAS AULAS DE ELE.<br />
FYAMA DA SILVA MEDEIROS<br />
GÊNERO DISCURSIVO REPORTAGEM: UMA PROPOSTA DE<br />
INTERVENÇÃO DIDÁTICA<br />
GEANINE RAMBO<br />
THAÍS PAZ CALLEGARO<br />
A FORMAÇÃO DE LEITORES NO ENSINO FUNDAMENTAL<br />
LEONARDO BARROS MEDEIROS<br />
26
SAMPESCREVE<br />
LIA CRISTINA CERON<br />
AMANDA LOPES MORENO<br />
COMUNICAÇÕES 11- SALA 406B<br />
O AVESSO DA HISTÓRIA EM HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO<br />
EVELINE ROSA PERES<br />
PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A PRÁTICA TEATRAL:<br />
PERSPECTIVA DIALÓGICA NA DIMENSÃO VERBO-VISUAL<br />
JEAN CARLOS GONÇALVES<br />
LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONFIGURA-<br />
ÇÃO GRÁFICA E ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO<br />
JOCELI CARGNELUTTI<br />
O TRABALHO COM O GÊNERO NO LIVRO DIDÁTICO: UM E-<br />
XEMPLO DA DIFICULDADE DO TRATAMENTO DISCURSIVO<br />
DA LINGUAGEM.<br />
KARINA GIACOMELLI<br />
O EXCESSO, A FALTA E O ESTRANHAMENTO – PISTAS DO<br />
HORROR QUE REFLETEM NO CALADO DE “SHOES ON THE<br />
DANUBE PROMENADE”<br />
MARCHIORI QUADRADO DE QUEVEDO<br />
A CONTRIBUIÇÃO DA POESIA E DA NARRATIVA PARA O<br />
ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA<br />
PABLO RAMOS SILVEIRA<br />
COMUNICAÇÕES 12 – SALA 407B<br />
TRABALHO DOCENTE: SUA REPRESENTAÇÃO PARA ALUNOS<br />
DE LICENCIATURA EM LETRAS<br />
KAROLINE RODRIGUES DE MELO<br />
VANESSA BIANCHI GATTO<br />
REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE: QUAL A CONSTRU-<br />
ÇÃO PRESENTE NO DISCURSO DO FUTURO PROFESSOR?<br />
LOUISE CERVO SPENCER<br />
27
O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR DOS<br />
GÊNEROS DO DISCURSO<br />
MARIA EDUARDA MOTTA DOS SANTOS<br />
THAÍS PAZ BARBOSA<br />
COMO ARTICULAR ATIVIDADES DE LEITURA, ESCRITA E<br />
ANÁLISE LINGUÍSTICA?<br />
MICHELE FREITAS GOMES<br />
COMUNICAÇÕES 13 - SALA 408B<br />
A SIGNIFICÂNCIA EM LINGUAGEM POÉTICA: UM ESTUDO<br />
ENUNCIATIVO EM CANÇÕES DE CHICO BUARQUE<br />
LUANA MÜLLER DE MELLO<br />
FORMANDO LEITORES PROFICIENTES<br />
MILLAINE DE SOUZA CARVALHO<br />
SANTIAGO BRETANHA FREITAS<br />
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PROJETADO EM TEX-<br />
TOS DE APRESENTAÇÃO DE MANUAIS DIDÁTICOS DE 1960-<br />
1970<br />
NINA ROSA LICHT RODRIGUES<br />
TRATAMENTO ATRIBUÍDO À ORALIDADE NO LIVRO DIDÁ-<br />
TICO DE PORTUGUÊS: ALGUNS APONTAMENTOS<br />
PAULA GAIDA WINCH<br />
A IDENTIDADE DOS (IN)DOCUMENTADOS: O CASO DOS MI-<br />
GRANTES MEXICANOS NO FILME "UMA VIDA MELHOR"<br />
REGINA ZAUK LEIVAS<br />
O USO DAS FÁBULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O<br />
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA<br />
RENAN DE MOURA RODRIGUES LIMA<br />
COMUNICAÇÕES 14 - SALA409B<br />
UMA AQUARELA DE SAINT-EXUPÉRY: UMA ABORDAGEM<br />
DESCRITIVO-ANALÍTICA DO VERBAL E DO NÃO-VERBAL EM<br />
O PEQUENO PRÍNCIPE<br />
SANDRA REGINA KLAFKE<br />
28
PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO: ALGUMAS POSSI-<br />
BILIDADES<br />
STEFANIA MARIN DA SILVA<br />
VAIMA REGINA ALVES MOTTA<br />
O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR DOS<br />
GÊNEROS DO DISCURSO<br />
THAÍS PAZ BARBOSA<br />
MARIA EDUARDA MOTTA DOS SANTOS<br />
GÊNERO RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM ESPANHOL: UMA<br />
PERSPECTIVA A PARTIR DA ANÁLISE DE ERROS<br />
TRICIANE RABELO DOS SANTOS<br />
O DIÁRIO DE AGRICULTORES COMO GÊNERO DO “DIA A<br />
DIA”<br />
VANIA GRIM THIES<br />
COMUNICAÇÕES 15 - SALA 207C<br />
A IMAGEM DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA CONS-<br />
TRUÍDA PELA VOZ OFICIAL: CAMINHOS E DESCAMINHOS<br />
DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS.<br />
ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA<br />
UMA PERSPECTIVA BIBLIOGRÁFICA SOBRE A TEORIA DA<br />
ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA E DA POLIFONIA<br />
ALESSANDRA DA SILVEIRA BEZ<br />
ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE A MULHER MATERIALIZADO<br />
EM COMERCIAIS TELEVISIVOS<br />
ALINE DE LIMA BAZERQUE<br />
SOBRE OS “NÃOS” DO EX-PRESIDENTE LULA: UM ESTUDO<br />
SOBRE A CONTRAÇÃO DIALÓGICA<br />
MARIANA LOURAL CORADINI<br />
ERICK KADER CALLEGARO CORREA<br />
PROJETOS DIDÁTICOS E O ENSINO DE PORTUGUÊS: TECEN-<br />
DO INTERLOCUÇÕES, FORMANDO AUTORIAS<br />
WILLIAM KIRSCH<br />
29
COMUNICAÇÕES 16 - SALA 212C<br />
GESTOS DE INTERPRETAÇÃO, LEITURA E AUTORIA NO FA-<br />
CEBOOK: CURTIR OU COMPARTILHAR?<br />
ANA CRISTINA FRANZ RODRIGUES<br />
INSTÂNCIAS DISCURSIVAS DE REGULAMENTAÇÃO DE PRO-<br />
FISSIONAIS DE LETRAS E DE DIREITO: UMA RELAÇÃO EN-<br />
TRE PROFISSÕES NÃO-REGULAMENTADAS E REGULAMEN-<br />
TADAS<br />
ANA LUCIA CHELOTI PROCHNOW<br />
ADRIANA SILVEIRA BONUMÁ<br />
A “LÍNGUA” E A CORRELAÇÃO DE FORÇAS QUE ATRAVES-<br />
SAM O DISCURSO DOCENTE<br />
ANDRÉA PESSÔA DOS SANTOS<br />
CRÔNICA "SIMPLICIDADE": UMA PROPOSTA DE ANÁLISE<br />
ENUNCIATIVA<br />
ANNA CERVO<br />
APLICANDO A SUSTENTABILIDADE NA MODA DE PELOTAS<br />
FRANTIESKA HUSZAR SCHNEID<br />
COMUNICAÇÕES 17 - SALA213C<br />
CORPO E RESISTÊNCIA(S) NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: O<br />
DISCURSO DO CORPO NA MARCHA DAS VADIAS<br />
AUGUSTO CESAR RADDE DA SILVA<br />
O DISCURSO CONTRADITÓRIO. UMA ANÁLISE SOBRE OS<br />
PROCESSOS DISCURSIVOS PRESENTES EM PERFIS NEONA-<br />
ZISTAS NO ORKUT<br />
FELIPE ALVES PEREIRA AVILA<br />
AS CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DE DISCURSO PARA O USO<br />
DO DICIONÁRIO NO ENSINO DE LÍNGUAS<br />
CAMILLA BALDICERA BIAZUS<br />
DIANTE DA LEI... AFLIÇÃO E APRISIONAMENTO AO PRO-<br />
CESSO<br />
CARME REGINA SCHONS<br />
30
LUCAS FREDERICO ANDRADE DE PAULA<br />
A INTERSUBJETIVIDADE PELA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO<br />
NA LÍNGUA: UMA INFLUÊNCIA BENVENISTIANA<br />
CHRISTIÊ DUARTE LINHARES<br />
COMUNICAÇÕES 18 - SALA 216C<br />
EFEITOS DE SENTIDO NO DISCURSO DE PROFESSORES DE<br />
LÍNGUA PORTUGUESA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO<br />
INTERIOR DE MATO GROSSO<br />
CLÁUDIA LANDIN NEGREIROS<br />
REGINA MARIA VARINI MUTTI<br />
A LEITURA DE CHARGES: UMA CONCEPÇÃO DISCURSIVA<br />
CLÓRIS MARIA FREIRE DOROW<br />
A ALTERIDADE CONSTITUTIVA DA LINGUAGEM<br />
CRISTINA RORIG<br />
JOSELINE TATIANA BOTH<br />
A PRESENÇA DE SAUSSURE E BENVENISTE NA TEORIA DO<br />
RITMO DE HENRI MESCHONNIC<br />
DAIANE NEUMANN<br />
IMAGENS QUE ENUNCIAM: O VERBAL E O NÃO-VERBAL NOS<br />
PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM<br />
ÉDERSON LUÍS DA SILVEIRA<br />
COMUNICAÇÕES 19 - SALA 221C<br />
AUTOMÓVEL E ADESIVO: A EVIDÊNCIA DE UMA NOVA SUB-<br />
JETIVIDADE<br />
ELISANE PINTO DA SILVA MACHADO DE LIMA<br />
A IMAGEM DO ALOCUTÁRIO CONSTRUÍDA LINGUISTICA-<br />
MENTE PELO LOCUTOR<br />
ÉRICA KRACHEFSKI NUNES<br />
O DISCURSO CITADO E AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO<br />
EM PUBLICIDADES DE BRINQUEDOS<br />
GENI VANDERLÉIA MOURA DA COSTA<br />
31
LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: A PARTICIPAÇÃO DO<br />
LINGUISTA<br />
GRAZIELA LUCCI DE ANGELO<br />
O DISCURSO MACHISTA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DE<br />
FAMÍLIA<br />
GUSTAVO KRATZ GAZALLE<br />
O FALAR DE SI EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZA-<br />
GEM: DISCURSO, SUJEITO E CORPO<br />
JANAINA CARDOSO BRUM<br />
COMUNICAÇÕES 20 - SALA 230C<br />
A CARACTERÍSTICA EMANCIPATÓRIA DA EDUCAÇÃO EXIGE<br />
A PESQUISA COMO MÉTODO FORMATIVO, PELA RAZÃO<br />
PRINCIPAL DE QUE SOMENTE UM AMBIENTE<br />
JOSELINE TATIANA BOTH<br />
CRISTINA RORIG<br />
ENTRE FORMA E SENTIDO: A RELAÇÃO ENTRE AS ORAÇÕES<br />
SUBORDINADAS ADVERBIAIS E OS TIPOS DE ARGUMENTOS<br />
HELOÍSA NEUHAUS<br />
UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA SOBRE A IMAGEM DO SU-<br />
JEITO-PROFESSOR CONSTITUTIVA NO PROCESSO DE DISCI-<br />
PLINARIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO<br />
IEDA MÁRCIA DONATI LINCK<br />
O DISCURSO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO<br />
IVANETE TERESINHA FERNANDES PEDROSO<br />
CONECTORES E EFEITOS DE SENTIDO: UMA PERSPECTIVA A<br />
PARTIR DA LINGUÍSTICA DA ENUNCIAÇÃO PARA O TRABA-<br />
LHO COM TEXTOS DE DIMENSÃO ARGUMENTATIVA<br />
IVANI CRISTINA SILVA FERNANDES<br />
O CONCEITO DE DEBILIDADE E A HISTÓRIA DAS IDEIAS<br />
LINGUÍSTICAS<br />
MARCELO DA ROCHA GARCEZ<br />
32
DIA 3 DE OUTUBRO - (QUARTA-FEIRA) - 16 H<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 21 - SALA 207C<br />
EDITORIAIS - ADVÉRBIOS EM EVIDÊNCIA<br />
ANTONIO SANTANA PADILHA<br />
MISAEL KRÜGER LEMES<br />
PROFESSORES OU APRENDIZES DE INGLÊS EM FORMAÇÃO?<br />
A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE ESTUDANTES DE LICEN-<br />
CIATURA EM LETRAS<br />
GABRIELA BOHLMANN DUARTE<br />
A CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DO GÊNERO<br />
NOTICIA<br />
ILMA SOUZA DE ÁVILA<br />
CARLA ALVES LIMA<br />
A DIDATIZAÇÃO/PEDAGOGIZAÇÃO DE SABERES NA FOR-<br />
MAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
MARY NEIVA SURDI DA LUZ<br />
ESCOLA: ESPAÇO PERMEADO DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA<br />
ROSEMERI VASCONCELLOS SOARES<br />
GLECE VALÉRIO KERCHINER<br />
COMUNICAÇÕES 22 - SALA 212C<br />
A PALATALIZAÇÃO NA DIACRONIA DO PB: CONTRIBUIÇÕES<br />
PARA O ENSINO<br />
ALINE NEUSCHRANK<br />
VOGAIS MÉDIAS – UM BALANÇO DO COMPORTAMENTO NA<br />
AQUISIÇÃO E EM TIPOLOGIAS DE LÍNGUAS<br />
GABRIELA TORNQUIST<br />
JONES NEUENFELD SCHÜLLER<br />
33
LA VARIACIÓN FONÉTICA EN LA CLASE DE ESPAÑOL COMO<br />
LENGUA ADICIONAL: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA<br />
SANDIA BARAÑANO VIANA<br />
ANA PAULA FERREIRA SEIXA<br />
A AQUISIÇÃO DO MORFEMA DE PLURAL: CASO DE INTER-<br />
FACE FONOLOGIA/MORFOLOGIA<br />
VERIDIANA P. BORGES<br />
CARMEN LÚCIA BARRETO MATZENAUER<br />
O FENÔMENO DO TRUNCAMENTO PROSÓDICO: DADOS DA<br />
DIACRONIA, SINCRONIA E AQUISIÇÃO<br />
VIVIANE PERES DE JESUS LINO<br />
RICHELE DE OLIVEIRA PIRES<br />
COMUNICAÇÕES 23 - SALA 213C<br />
O GÊNERO TEXTUAL LENDA E O ENSINO DE LEITURA E ES-<br />
CRITA<br />
ADIANE FOGALI MARINELLO<br />
VANILDA SALTON KÖCHE<br />
RELEITURA DOS PCNS DE LÍNGUA PORTUGUESA À LUZ DA<br />
TEORIA DA ENUNCIAÇÃO BENVENISTIANA<br />
MÁRCIA ELISA VANZIN BOABAID<br />
A POESIA EM SALA DE AULA DE FLE<br />
MARISTELA GONÇALVES SOUSA MACHADO<br />
MARIZA PEREIRA ZANINI<br />
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM DISCURSO: COM A PALA-<br />
VRA, OS PROFESSORES DE BIOLOGIA<br />
MICHELLE BOCCHI GONÇALVES<br />
CONTO POPULAR: UM GÊNERO TEXTUAL A SERVIÇO DO<br />
ENSINO DA LEITURA E ESCRITA<br />
VANILDA SALTON KÖCHE<br />
ADIANE FOGALI MARINELLO<br />
34
COMUNICAÇÕES 24 - SALA 216C<br />
RETRATOS DIGITAIS: O DISCURSO DA AUTO-AGRESSÃO<br />
NAIARA SOUZA DA SILVA<br />
“NÃO ESQUEÇA A MINHA CALOI”: ANÁLISE DISCURSIVA DE<br />
PROPAGANDA INFANTIL<br />
NATHALIA MADEIRA ARAUJO<br />
A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NOS TEXTOS PUBLICITÁRIOS<br />
PATRÍCIA NYSTROM FERNANDEZ<br />
EDITORIAL VS. PONTO DE VISTA: ANÁLISE DE TEXTOS À<br />
LUZ DA TEORIA DA AVALIATIVIDADE<br />
REJANE FLOR MACHADO<br />
ANGELA CORRÊA PAPAIANI<br />
GEDEON ELOENO RODRIGUES MESSA<br />
GISELE MARQUES VARGAS<br />
RODA-VIVA, DE CHICO BUARQUE, EM “INDIRETAS JÁ”, DO<br />
COMÉDIA MTV: DA CENSURA AO DISCURSO DA MÍDIA QUE<br />
RI DO SEU EXCESSO DE DIZER<br />
RENATA SILVEIRA DA SILVA<br />
COMUNICAÇÕES 25 - SALA 221C<br />
UMA ANÁLISE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PNLD 2011<br />
DE LE A PARTIR DA HETEROGENEIDADE DISCURSIVA.<br />
RENATO PAZOS VAZQUEZ<br />
A (INTER)SUBJETIVIDADE NA GESTÃO ESCOLAR: UM ESTU-<br />
DO A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE A LINGUÍSTICA DA E-<br />
NUNCIAÇÃO E A ERGOLOGIA<br />
ROSÂNGELA MARKMANN MESSA<br />
BRASIGUAIOS: UMA POSIÇÃO-SUJEITO NA LUTA PELA TER-<br />
RA<br />
ROSEMERE DE ALMEIDA AGUERO<br />
35
DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA POR-<br />
TUGUESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: ANÁLISE<br />
DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO<br />
SILVANA SCHWAB DO NASCIMENTO<br />
ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ANÁLISE DE ERROS EM<br />
REDAÇÕES DE ESPANHOL COM LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
VERA PINTO VIGIL<br />
COMUNICAÇÕES 26 - SALA 230C<br />
DA LEGISLAÇÃO AO INSTRUMENTO LINGUÍSTICO: O FUN-<br />
CIONAMENTO DA MEMÓRIA DISCURSIVA.<br />
VALERIA DE CASSIA SILVEIRA SCHWUCHOW<br />
HÁ ESPAÇO PARA A AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA NA<br />
ENUNCIAÇÃO?<br />
VERONICA PASQUALIN MACHADO<br />
DISCURSO IRÔNICO NO “JORNAL SENSACIONALISTA”: TE-<br />
CENDO RELAÇÕES ENTRE HUMOR E MERCADORIA<br />
VIRGÍNIA LUCENA CAETANO<br />
LEITURA E FORMAÇÃO DOCENTE<br />
ADRIANA KEMP<br />
CONTATO LINGUÍSTICO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
SANIMAR BUSSE<br />
COMUNICAÇÕES 27 - SALA 414C<br />
PRATICANDO SEMINÁRIOS NO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E<br />
POSSIBILIDADES<br />
ALÍCIA ENDRES SOARES<br />
AS DIRETRIZES ESTADUAIS E O ENSINO DE INGLÊS NO PA-<br />
RANÁ: DESVENDANDO DIFERENTES PERFIS DE PROFESSO-<br />
RES<br />
ANA AMÉLIA CALAZANS DA ROSA<br />
36
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: O QUE (RE)VELA O DISCUR-<br />
SO DO ESTÁGIO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS EM FORMA-<br />
ÇÃO<br />
ANA PEDERZOLLI CAVALHEIRO<br />
PROJETO BIBLIOTECA VIVA: DANDO ASAS AOS SONHOS<br />
ANGÉLICA MARGARET JARDIM ALVAREZ<br />
FERNANDA CAVALHEIRO GRANATO<br />
COMUNICAÇÕES 28 - SALA 415C<br />
OFICINAS DE LITERATURA REGIONALISTA NO ENSINO MÉ-<br />
DIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA<br />
BÁRBARA VARGAS ABOTT<br />
VALESCA BRASIL IRALA (ORIENTADORA)<br />
RELATO ACERCA DOS DESAFIOS DA PROFISSÃO: UM ESTU-<br />
DO DE CASO QUE TRANSPASSA BARREIRAS<br />
CAMILA QUEVEDO OPPELT<br />
PROFISSIONAIS DA ACADEMIA VERSUS PROFISSIONAIS DE<br />
MERCADO: ASSIMETRIA INTERNA AOS SISTEMAS ALOPOIÉ-<br />
TICOS NA ÁREA DE LETRAS<br />
CARLA CALLEGARO CORRÊA KADER<br />
MARCOS GUSTAVO RICHTER<br />
ESCRILEITURAS E FORMAÇÃO DOCENTE: TRAVESSIAS DE<br />
UM MODO DE “LER-ESCREVER” EM MEIO À VIDA<br />
CARLA GONÇALVES RODRIGUES<br />
JOSIMARA SILVA WIKBOLDT<br />
37
DIA 3 DE OUTUBRO - (QUARTA-FEIRA) - 16 H<br />
SIMPÓSIOS<br />
SIMPÓSIO 1 – SALA 204B<br />
QUEM É O PROFESSOR? MÚLTIPLAS PERSPECTIVAS DE<br />
FORMAÇÃO DOCENTE<br />
RAFAELA FETZNER DREY (COORDENADORA)<br />
Inserido na linha temática “Ensino e novos perfis <strong>de</strong> professores: propostas”,<br />
este simpósio tem como principal objetivo discutir perspectivas<br />
teórico-metodológicas <strong>de</strong> formação docente a partir da apresentação <strong>de</strong><br />
estudos com diferentes aportes, porém com o mesmo foco: compreen<strong>de</strong>r,<br />
mais além, como se “forma” um professor e <strong>de</strong> que maneira a linguagem<br />
é inerente a este processo, no sentido <strong>de</strong> <strong>de</strong>svelar os elementos<br />
interpretativos que possibilitam a “observação” da emergência da profissionalida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> um trabalhador do ensino. Nesse sentido, serão apresentados<br />
os resultados <strong>de</strong> dois trabalhos que analisaram a formação<br />
inicial <strong>de</strong> docentes; e dois trabalhos em curso que preconizam os meandros<br />
da formação continuada <strong>de</strong> docentes que já atuam em sala <strong>de</strong> aula.<br />
Os diferentes focos <strong>de</strong> análise dos trabalhos componentes do simpósio<br />
po<strong>de</strong>m oportunizar o estabelecimento <strong>de</strong> um diálogo profícuo, com o<br />
intuito <strong>de</strong> expandir, cada vez mais, nossa compreensão acerca da profissão<br />
“professor”.<br />
Palavras-chave: Trabalho docente. Formação <strong>de</strong> professores. Narrativas.<br />
Competência docente.<br />
O QUE AS FIGURAS DE AÇÃO REVELAM SOBRE O AGIR DO-<br />
CENTE<br />
ALESSANDRA PREUSSLER DE ALMEIDA<br />
PROFISSIONALIDADE E TRABALHO DOCENTE NA FORMA-<br />
ÇÃO CONTINUADA COOPERATIVA<br />
ANDERSON CARNIN<br />
A ESCRITA NA FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL:<br />
PESQUISA IMPULSIONADA EM RODAS DE FORMAÇÃO<br />
FERNANDA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE<br />
38
A COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE EM UMA PERS-<br />
PECTIVA MULTIMODAL DE ANÁLISE DO TRABALHO RE-<br />
AL/CONCRETIZADO<br />
RAFAELA FETZNER DREY<br />
SIMPÓSIO 2 – SALA 206B<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LIBRAS: PERSPECTIVAS<br />
OUVINTES E SURDAS<br />
CÁTIA DE AZEVEDO FRONZA (COORDENADORA)<br />
Neste simpósio, preten<strong>de</strong>mos refletir sobre aspectos relacionados ao<br />
acesso à Libras por ouvintes e por surdos, consi<strong>de</strong>rando diferentes contextos<br />
<strong>de</strong> estudo. Inicialmente, serão focadas discussões que remetem à<br />
aprendizagem <strong>de</strong> Libras por ouvintes. O primeiro trabalho apresenta<br />
uma proposta <strong>de</strong> pesquisa, baseada na experiência do autor, professor e<br />
pesquisador surdo, que, ao invés <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar a lógica ouvinte <strong>de</strong> aprendizagem,<br />
que se vale da modalida<strong>de</strong> oral da língua portuguesa,<br />
toma uma abordagem visuolingual, justificando-a a partir <strong>de</strong> suas vivências<br />
como professor <strong>de</strong> língua <strong>de</strong> Libras para aprendizes ouvintes. O<br />
segundo estudo visa refletir sobre a apropriação da Libras, também por<br />
aprendizes ouvintes, consi<strong>de</strong>rando, neste caso, seu <strong>de</strong>sempenho em<br />
busca do domínio da marcação não-manual. Em fase inicial da investigação,<br />
serão apontadas as reflexões preliminares sobre esta especificida<strong>de</strong><br />
da língua, indicando as metas previstas. Por fim, o último trabalho<br />
<strong>de</strong>sta sessão, olha para o cotidiano escolar do aluno surdo, refletindo<br />
sobre o ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos, consi<strong>de</strong>rando<br />
o perfil do profissional da área, as tecnologias e recursos para as práticas<br />
em sala <strong>de</strong> aula, o planejamento e a avaliação constantes em busca<br />
da real aprendizagem <strong>de</strong>sse aluno. Enten<strong>de</strong>mos que as discussões permitidas<br />
por esses estudos possibilitarão contribuições bastante ricas<br />
sobre a aprendizagem da Libras, da Língua Portuguesa e da relação<br />
entre ambas em contextos partilhados por surdos e ouvintes que merecem<br />
atenção e estudo.<br />
O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS SUR-<br />
DOS: OS DESAFIOS DE CADA PROPOSTA<br />
ANDRÉIA GULIELMIN DIDÓ<br />
39
A APRENDIZAGEM DA MARCAÇÃO NÃO-MANUAL DA LI-<br />
BRAS POR OUVINTES<br />
DIEGO TEIXEIRA DE SOUZA<br />
AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM POR SURDOCEGO PRÉ-<br />
SIMBÓLICO: COMO OCORRE ESSE PROCESSO?<br />
FERNANDA CRISTINA FALKOSKI<br />
A LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: PRO-<br />
BLEMATIZANDO LEITURA, ESCRITA E MEDIAÇÃO<br />
MOEMA KARLA OLIVEIRA SANTANNA<br />
EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS: UM DESAFIO EM TEM-<br />
POS DE INCLUSÃO<br />
VÂNIA ELIZABETH CHIELLA<br />
SIMPÓSIO 3 – SALA 208B<br />
GEBAP (GRUPO DE ESTUDOS BAKHTINIANOS DO PAMPA):<br />
RELAÇÕES COM ENSINO DA LÍNGUA/LITERATURA<br />
MOACIR LOPES DE CAMARGOS (COORDENADOR)<br />
Este simpósio tem por objetivo trazer reflexões produzidas pelo grupo<br />
<strong>de</strong> pesquisa GEBAP (Grupo <strong>de</strong> Estudos Bakhtinianos do Pampa) a<br />
partir do diálogo entre os estudos realizados pelo pensador russo Bakhtin<br />
e suas relações com o ensino <strong>de</strong> língua e literatura. As pesquisas em<br />
pauta, vinculadas à Unipampa, estão sendo <strong>de</strong>senvolvidas em algumas<br />
escolas da re<strong>de</strong> pública <strong>de</strong> ensino da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé/RS e tematizam a<br />
questão do dialogismo nas relações professor/aluno, dos gêneros do<br />
discurso na escrita escolar, no espaço virtual e da polifonia na obra<br />
literária do escritor mexicano Juan Rulfo. No momento, estão sendo<br />
gerados os dados a partir <strong>de</strong> observações e entrevistas, além <strong>de</strong> uma<br />
revisão bibliográfica e <strong>de</strong> algumas análises preliminares. Po<strong>de</strong>mos<br />
apontar, como conclusões provisórias que não se po<strong>de</strong> <strong>de</strong>svincular o<br />
ensino <strong>de</strong> língua da literatura, uma vez que ambas tem como condição<br />
sine qua non a linguagem como foco <strong>de</strong> interesse, ou seja, elas estão em<br />
constante diálogo.<br />
OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E AS PRÁTI-<br />
CAS DOCENTES<br />
CÁSSIA RODRIGUES GONÇALVES<br />
40
AS NOVAS FACES DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NA INTER-<br />
NET<br />
FERNANDO VARGAS VIEIRA<br />
A VOZ DO CAMPESINO NA OBRA DE JUAN RULFO<br />
JÉSSICA VAZ DE MATTOS<br />
UM OLHAR PARA A CULTURA DO OUTRO: A FRONTEIRA<br />
RETRATADA PELA LITERATURA<br />
MOACIR LOPES DE CAMARGOS<br />
A INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO E AS CONDIÇÕES DE<br />
PRODUÇÃO TEXTUAL<br />
VERIDIANA FERREIRA MORAES<br />
SIMPÓSIO 4 – SALA 213B<br />
DIÁLOGOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA: TEORIA E PRÁTICA<br />
LUCIA ROTTAVA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio se constitui uma reflexão a respeito do processo <strong>de</strong> formação<br />
<strong>de</strong> sujeitos na graduação, professores na área <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
A importância <strong>de</strong>sse processo <strong>de</strong> formação está na articulação <strong>de</strong><br />
teoria e prática mesmo antes <strong>de</strong> atuar em sala <strong>de</strong> aula. Essa articulação é<br />
necessária <strong>de</strong>vido a vários fatores, por exemplo: a) predominância no<br />
enfoque aos conteúdos, <strong>de</strong>ixando para segundo plano a prática; b) frágil<br />
relação entre o ensino e a formação <strong>de</strong> leitores e suas implicações referentes<br />
à teoria adotada; c) carência <strong>de</strong> pesquisas que tenham investigado<br />
a leitura em contexto acadêmico e sua relação com a formação <strong>de</strong> leitores.<br />
Para tanto, este simpósio busca compartilhar experiências <strong>de</strong> ensino<br />
relativas a atuações mais efetivas em sala <strong>de</strong> aula ainda durante a graduação;<br />
a práticas efetivas que supõem o envolvimento do sujeito-leitor<br />
em um processo que é altamente subjetivo, pois, cada leitor, fixa sua<br />
singularida<strong>de</strong> no ato <strong>de</strong> leitura; a práticas que levam em conta o processo<br />
<strong>de</strong> leitura <strong>de</strong> sujeitos no início da formação acadêmica.<br />
PLANEJANDO O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: A EXPE-<br />
RIÊNCIA PIBID/LETRAS/UFRGS/CAPES<br />
INGRID NANCY STURM<br />
41
LEITURA EM PERSPECTIVA ENUNCIATIVA<br />
ANE DA COSTA NAUJORKS<br />
LEITURA DE GÊNEROS ACADÊMICOS: O PROCESSO DE<br />
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DE ALUNOS DE LETRAS<br />
LUCIA ROTTAVA<br />
SIMPÓSIO 5 – SALA 215B<br />
LINGUAGEM, GÊNEROS DISCURSIVOS E A CONSTRUÇÃO<br />
DO SENTIDO<br />
ADRIANA DANIELSKI BATISTA (COORDENADORA)<br />
O simpósio comporta estudos direcionados para análise <strong>de</strong> diferentes<br />
gêneros do discurso, consi<strong>de</strong>rando o ensino <strong>de</strong> língua materna e/ou<br />
estrangeira, tendo como base a teoria <strong>de</strong>senvolvida pelos estudiosos do<br />
Círculo <strong>de</strong> Bakhtin.<br />
PIADA: UM GÊNERO QUE SUBVERTE A PALAVRA<br />
ADRIANA DANIELSKI BATISTA<br />
A IMPORTÂNCIA DA VOZ NAS INTERAÇÕES EM SALA DE<br />
AULA<br />
FLÁVIA FIALHO CRONEMBERGER<br />
RELAÇÕES DIALÓGICAS E DISCURSO CITADO: TECENDO<br />
UMA HISTÓRIA COM BAKHTIN E JOÃO CABRAL DE MELO<br />
NETO.<br />
NILZETE CRUZ SILVA<br />
MANUAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONS-<br />
TITUIÇÃO DO GÊNERO E REFLEXOS NO ENSINO<br />
PATRÍCIA RIBEIRO DE ANDRADE<br />
42
SIMPÓSIO 6 – SALA 302B<br />
DISCURSO E MÍDIA<br />
KELLI DA ROSA RIBEIRO (COORDENADORA)<br />
CRISTHIANE FERREGUETT (COORDENADORA)<br />
O presente Simpósio, “Discurso e Mídia”, apresenta pesquisas que<br />
discutem diferentes materialida<strong>de</strong>s discursivas na esfera midiática no<br />
contexto atual. A teoria enunciativa do Círculo <strong>de</strong> Bakhtin norteia as<br />
reflexões sobre produção, circulação e recepção <strong>de</strong> diversos gêneros<br />
midiáticos que se engendram na socieda<strong>de</strong> contemporânea.<br />
RELAÇÕES DIALÓGICAS EM REVISTA INFANTIL: EROTIZA-<br />
ÇÃO PRECOCE DE MENINAS<br />
CRISTHIANE FERREGUETT<br />
MIDIATIZAÇÃO DO CÂNCER: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS<br />
EM REVISTAS SEMANAIS<br />
ÉLIDA LIMA<br />
A SENSUALIDADE MASCULINA EM ANÚNCIOS DE SERVIÇOS<br />
SEXUAIS: ABORDAGEM DIALÓGICA DO DISCURSO<br />
KELLI DA ROSA RIBEIRO<br />
POLÍTICA BRASILEIRA: ENTRE DUAS DECLARAÇÕES<br />
VERIDIANA CAETANO<br />
SIMPÓSIO 7 – SALA 304B<br />
AS DERIVAS DO SENTIDO E SUAS MATERIALIZAÇÕES NAS<br />
PRÁTICAS DISCURSIVAS<br />
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio tem o sentido, assim como é concebido na Análise <strong>de</strong><br />
Discurso francesa, como eixo aglutinador; os trabalhos nele inscritos<br />
preten<strong>de</strong>m pontuar como os sentidos constituem-se <strong>de</strong> modo heterogêneo<br />
nas diferentes formas discursivas, sejam elas orais, pictóricas ou<br />
textuais. O sentido na AD não é único, literal, nem ao menos linear. Ele<br />
não se origina no momento da fala, tão pouco po<strong>de</strong> ser visto como conteúdo<br />
específico <strong>de</strong> uma palavra ou proposição. Pois este sentido é<br />
somente mais ou menos estável, porque é tido como <strong>de</strong>slizamentos que<br />
43
se constituem na relação <strong>de</strong>terminada do sujeito com a história. Nessa<br />
perspectiva, então, o sentido ganha mobilida<strong>de</strong>, po<strong>de</strong>ndo transformar-se<br />
e multiplicar-se. Entretanto, isso não significa que o sentido possa ser<br />
qualquer um, pois eles, sempre no plural, são <strong>de</strong>terminados pelas posições<br />
i<strong>de</strong>ológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico em que<br />
são produzidos. E é isso que os trabalhos <strong>de</strong>ste simpósio preten<strong>de</strong>m<br />
analisar: os processos <strong>de</strong> significação a partir <strong>de</strong> silenciamentos, <strong>de</strong><br />
diferentes formas <strong>de</strong> representação e <strong>de</strong> atribuição, assim como os modos<br />
<strong>de</strong> constituição das múltiplas formas <strong>de</strong> significação. Inserimo-nos,<br />
portanto, como proposta <strong>de</strong> trabalho, sob a perspectiva do sentido como<br />
prática do sujeito e da história, sempre sob a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sestabilização<br />
e <strong>de</strong>slizamentos, na qual o sentido não é uma verda<strong>de</strong> 'calçada'<br />
ao discurso, e sua interpretação, consequentemente, não será o <strong>de</strong>scolamento<br />
da significação.<br />
Palavras-chave: Sentido, Práticas Discursivas, Condições <strong>de</strong> Produção.<br />
OS DIFERENTES SILENCIAMENTOS NO DISCURSO POLÍTICO<br />
DENISE MACHADO PINTO<br />
SACI SEM-CACHIMBO: ENTRE A CONTENÇÃO E O DESLIZA-<br />
MENTO DE SENTIDOS<br />
LUANA DE GUSMÃO SILVEIRA<br />
UMA REFLEXÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DOS UNIVERSI-<br />
TÁRIOS BRASILEIROS NA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DO<br />
TERMO SOCIEDADE<br />
PATRÍCIA PETER DOS SANTOS ZACHIA ALAN<br />
O RECURSO À SEGURANÇA COMO CONDIÇÃO DE PRODU-<br />
ÇÃO PARA A PERDA DE DIREITOS<br />
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA<br />
SIMPÓSIO 8 – SALA 306B<br />
SUJEITO, SENTIDO E PRÁTICAS DISCURSIVAS: REFLE-<br />
XÕES E ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA AD<br />
DARLENE ARLETE WEBLER (COORDENADORA)<br />
A presente proposta <strong>de</strong> Simpósio tem como objetivo central a apresentação<br />
<strong>de</strong> reflexões e análises <strong>de</strong>senvolvidas no Grupo <strong>de</strong> Estudos e<br />
Pesquisas em Análise do Discurso (GEAD/FURG), ao longo <strong>de</strong> 2011 e<br />
44
2012, sobre a questão dos sujeitos, dos sentidos e das práticas discursivas,<br />
na perspectiva dos Estudos Discursivos, a partir <strong>de</strong> Michel Pêcheux.<br />
Tal opção teórica significa direcionar o foco dos estudos para as<br />
análises sobre as condições históricas e sociais <strong>de</strong> produção do discurso,<br />
enten<strong>de</strong>ndo a instância i<strong>de</strong>ológica como constitutiva <strong>de</strong>sse processo e<br />
<strong>de</strong>terminante dos discursos, dos sujeitos e dos sentidos. As comunicações<br />
<strong>de</strong>ste Simpósio apresentam questões como: (a) a subjetivida<strong>de</strong> no<br />
processo ensino-aprendizagem, a partir da posição <strong>de</strong> professor e <strong>de</strong><br />
estudante universitário, bem como dos discursos sobre a prática docente;<br />
(b) os discursos acerca do feminino e do masculino como posição<br />
social em narrativas produzidas por meninos e meninas das Casas Lares<br />
<strong>de</strong> Pelotas; (c) a relação entre sujeito, imagem e interpretação na materialida<strong>de</strong><br />
discursiva da charge; (d) as leituras possíveis sobre comportamentos<br />
femininos socialmente esperados, a partir da análise <strong>de</strong> propagandas;<br />
e (e) as condições <strong>de</strong> produção dos discursos <strong>de</strong> sujeitos inseridos<br />
em empreendimentos sócio-inclusivos sobre inclusão social. Nesse<br />
sentido, o <strong>de</strong>sdobramento <strong>de</strong> questões envolvidas na subjetivida<strong>de</strong>, na<br />
produção <strong>de</strong> sentidos e nos discursos, permite pensar nos aspectos fundadores<br />
da teoria pecheuxtiana e <strong>de</strong>sdobrar análises <strong>de</strong> práticas discursivas<br />
que circulam na contemporaneida<strong>de</strong>, contribuindo com pesquisas<br />
em andamento e instigando novas pesquisas nesta temática.<br />
GESTOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DISCURSOS DE<br />
ADOLESCENTES<br />
CINTIA VICTÓRIA DE AZAMBUJA<br />
DA ASSISTÊNCIA À INCLUSÃO SOCIAL: REFLEXÕES ACERCA<br />
DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DISCURSIVA NO EMPREEN-<br />
DIMENTO VILLAGET<br />
DARLENE ARLETE WEBLER<br />
“NEM TODAS AS PRINCESAS TÊM QUE VESTIR ROSA OU SO-<br />
NHAR COM UM PRÍNCIPE ENCANTADO QUE NUNCA CHEGA”:<br />
REFLEXÕES E ANÁLISE<br />
LUCIANA ZARDO PADOVANI<br />
ENTRECRUZANDO DIZERES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE:<br />
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DOS PORTFÓLIOS DO PIBID DE<br />
LÍNGUA PORTUGUESA/FURG<br />
ROSELY DINIZ DA SILVA MACHADO<br />
45
SIMPÓSIO 9 – SALA 402B<br />
PENSANDO O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
DULCE CASSOL TAGLIANI (COORDENADORA)<br />
Este simpósio preten<strong>de</strong> refletir sobre questões relacionadas ao ensino <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa. Ao fazê-lo, parte <strong>de</strong> alguns questionamentos: por<br />
que as práticas <strong>de</strong> linguagem carecem <strong>de</strong> resultados produtivos e/ou<br />
positivos em termos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s que levem o<br />
indivíduo a exercer plenamente a cidadania? Por que as orientações<br />
curriculares não encontram eco na maioria das escolas brasileiras? Por<br />
que os agentes escolares parecem <strong>de</strong>smotivados no contexto escolar?<br />
Os questionamentos apresentados, entre tantos outros que po<strong>de</strong>riam ser<br />
elencados, constituem o pano <strong>de</strong> fundo <strong>de</strong> boa parte dos cursos <strong>de</strong> formação<br />
<strong>de</strong> professores do país. Difícil encontrar respostas que <strong>de</strong>em<br />
conta <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>manda? Talvez. Por essa razão, o grupo <strong>de</strong> professores<br />
do Curso <strong>de</strong> Especialização em Linguística e Ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa,<br />
da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong> (FURG – Rio Gran<strong>de</strong>/RS),<br />
que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2006, tem como foco ampliar as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
“leitura” das aulas <strong>de</strong> Língua Portuguesa, apresenta, neste simpósio, e a<br />
partir <strong>de</strong> diferentes concepções teóricas, reflexões acerca da linguagem<br />
enquanto processo <strong>de</strong> interação, <strong>de</strong>screvendo e explicando fenômenos<br />
linguísticos que possam (re)orientar professores em suas práticas pedagógicas.<br />
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA,LIVRO DIDÁTICO E GÊ-<br />
NEROS DO DISCURSO<br />
DULCE TAGLIANI<br />
ANALISANDO A EXPRESSÃO EM FUNÇÃO DO CONTEÚDO:<br />
UM PERCURSO PARA UMA LEITURA PRODUTIVA<br />
MARIA CRISTINA FREITAS BRISOLARA<br />
PELOS CAMINHOS DA LÍNGUA<br />
MARILEI RESMINI GRANTHAM<br />
A SIMPLIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS SILÁBICAS NA ESCRITA<br />
DE ALUNOS DO CURSO FUNDAMENTAL E DO CURSO MÉDIO<br />
MARISA PORTO DO AMARAL<br />
46
SIMPÓSIO 10 – SALA 403B<br />
LETRAMENTO E COMPETÊNCIA EM LEITURA<br />
LUCIANE BARETTA (COORDENADORA)<br />
CLAUDIA FINGER-KRATOCHVIL (COORDENADORA)<br />
Des<strong>de</strong> o surgimento do termo letramento na década <strong>de</strong> 1980 (BAR-<br />
TON, 1994), como consequência da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>signar práticas<br />
sociais <strong>de</strong> leitura e escrita que vão além das ativida<strong>de</strong>s resultantes da<br />
aprendizagem do sistema <strong>de</strong> escrita, inúmeros estudos nas áreas da<br />
educação e das ciências linguísticas têm voltado sua atenção para análise<br />
e discussão das diversas facetas que envolvem esse fenômeno. A<br />
busca por retratar e compreen<strong>de</strong>r o processo <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> leitores<br />
proficientes e eficazes nas escolas do contexto educacional brasileiro<br />
tem, infelizmente, apontado resultados não muito animadores. Diferentes<br />
indicativos, apontados por exames nacionais como a Prova Brasil, o<br />
ENEM e o ENADE, aliados a pesquisas <strong>de</strong>senvolvidas com estudantes<br />
e adultos, revelam que a maior parcela da população brasileira, apesar<br />
<strong>de</strong> ter ampliado seu acesso à educação formal nas últimas décadas, não<br />
<strong>de</strong>senvolve as capacida<strong>de</strong>s leitoras necessárias para ser consi<strong>de</strong>rada<br />
‘letrada’ e para lidar satisfatoriamente frente às necessida<strong>de</strong>s impostas<br />
pelo mercado <strong>de</strong> trabalho e para o exercício da cidadania (INAF, 2011).<br />
Tendo-se em vista que, aparentemente, as práticas didáticas <strong>de</strong> leitura<br />
no letramento escolar não estão dando conta <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver as capacida<strong>de</strong>s<br />
requeridas nas práticas letradas exigidas pela socieda<strong>de</strong> atual, a<br />
proposta <strong>de</strong>sse simpósio é a discussão dos diversos aspectos envolvidos<br />
nas práticas <strong>de</strong> leitura para o letramento do estudante brasileiro. O foco<br />
da nossa discussão se <strong>de</strong>sdobra na revisão teórica referente ao letramento<br />
e na discussão <strong>de</strong> resultados focados no <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> estudantes e<br />
/ou análise <strong>de</strong> materiais didáticos em língua materna e/ou estrangeira<br />
que contribuem para construção do letramento.<br />
O PAPEL DE ESTRATÉGIAS DE CONHECIMENTO LEXICAL NO<br />
PROCESSO DA LEITURA: A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO<br />
CLAUDIA FINGER-KRATOCHVIL<br />
A FORMAÇÃO DO LEITOR E O LIVRO DIDÁTICO<br />
LUCIANE BARETTA<br />
PRÁTICAS DE LEITURA NAS AULAS DE PORTUGUÊS: VIVÊN-<br />
CIAS DE DOCÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LÍN-<br />
GUA PORTUGUESA<br />
47
MARIA IZABEL DE BORTOLI HENTZ<br />
LEITURA E EDUCAÇÃO – OUTRAS VIAS POSSÍVEIS<br />
MARÍLIA MARQUES LOPES<br />
CADÊ O LIVRO QUE ESTAVA AQUI?<br />
VERA WANNMACHER PEREIRA<br />
SIMPÓSIO 11 – SALA 404B<br />
GÊNEROS E RELAÇÕES ENUNCIATIVAS: REFLEXÕES TE-<br />
ÓRICO-PRÁTICAS<br />
OLGA MARIA LIMA PEREIRA (COORDENADORA)<br />
No âmbito do conceito <strong>de</strong> gênero <strong>de</strong> Bakhtin, o texto é objeto da ativida<strong>de</strong><br />
autoral <strong>de</strong> mobilização <strong>de</strong> recursos para a realização <strong>de</strong> projetos<br />
enunciativos a partir das relações locutor-interlocutor; trata-se <strong>de</strong> uma<br />
materialida<strong>de</strong> que traz potenciais <strong>de</strong> sentido realizáveis em situações<br />
enunciativas. Todo gênero é “en<strong>de</strong>reçado” por um locutor a um interlocutor,<br />
apresenta um tom avaliativo e remete a uma compreensão responsiva<br />
ativa, segundo sua esfera e mobilizando uma materialida<strong>de</strong><br />
textual. Para o conceito <strong>de</strong> gênero converge a base da teoria do Círculo:<br />
a concepção dialógica <strong>de</strong> interação, que se concentra na questão do<br />
projeto enunciativo, das relações enunciativas, que constituem o elemento<br />
<strong>de</strong>finidor do gênero, uma unida<strong>de</strong> do intercâmbio verbal, e não<br />
da língua como sistema nem <strong>de</strong> uma concepção textual <strong>de</strong> discurso e<br />
que não se restringe à situação imediata <strong>de</strong> interação. As relações enunciativas,<br />
que tornam possíveis <strong>de</strong>terminados projetos enunciativos, ou<br />
“projetos <strong>de</strong> dizer”, constituem a base da escolha do gênero, incluindo,<br />
portanto, o estilo, a forma <strong>de</strong> composição e o tema, que são, ao lado das<br />
linguagens, os materiais com que se realizam em texto os exemplares<br />
dos gêneros. Este simpósio apresenta propostas <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong> gêneros<br />
que se concentram na questão das relações enunciativas, oferecendo<br />
tanto resultados <strong>de</strong> pesquisas recém-concluídas como discussões teóricas<br />
e práticas acerca <strong>de</strong> questões <strong>de</strong> gênero.<br />
Palavras-chave: Gênero discursivo, projeto enunciativo, relações enunciativas,<br />
“Intergenericida<strong>de</strong>”, “en<strong>de</strong>reçamento”<br />
GÊNEROS E INTERGENERICIDADE: RELATO DE PESQUISA<br />
COM EDITORIAIS NÃO ASSINADOS DE JORNAL<br />
ADAIL UBIRAJARA SOBRAL<br />
48
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE GÊNE-<br />
ROS DE DIVERSAS ESFERAS EM EDITORIAIS NÃO ASSINA-<br />
DOS DE JORNAL<br />
ALINE LAZARI DE OLIVEIRA<br />
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE GÊNE-<br />
ROS DA ESFERA ECONÔMICA EM EDITORIAIS NÃO ASSINA-<br />
DOS DE JORNAL: RELATO DE PESQUISA<br />
FERNANDA CABREIRA DA SILVA<br />
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE GÊNE-<br />
RO DE ESFERA POLÍTICA EM EDITORIAIS NÃO ASSINADOS<br />
DE JORNAL: LEVANTAMENTO FINAL<br />
FERNANDA PEREIRA DA SILVA<br />
FAN PAGE CRIANDO NOVAS FORMAS DE INTERAÇÃO ENTRE<br />
OS FÃS DO CLICRBS<br />
PRICILLA FARINA SOARES<br />
SIMPÓSIO 12 – SALA 405B<br />
VARIAÇÃO, IDENTIDADE E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA<br />
TAÍSE SIMIONI (COORDENADORA)<br />
A divulgação <strong>de</strong> pesquisas que versam sobre a variação linguística po<strong>de</strong><br />
trazer consequências importantes para a socieda<strong>de</strong>, constituindo-se,<br />
assim, em um instrumento valioso no combate aos mitos sobre a linguagem,<br />
que afetam o ensino da língua e que geram muitas vezes o<br />
preconceito linguístico. Como alerta Scherre (2005, p. 112), “nós, falantes-linguistas<br />
e linguistas nem sempre muito falantes, não po<strong>de</strong>mos<br />
nos omitir. Temos, todos nós, o <strong>de</strong>ver <strong>de</strong> participar do <strong>de</strong>bate público<br />
contra o preconceito linguístico”. Uma vez que se torne explícito que a<br />
variação linguística é inerente a qualquer língua e que se po<strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r<br />
as motivações por trás <strong>de</strong>sta variação, isto po<strong>de</strong> auxiliar a se<br />
<strong>de</strong>sfazer os mitos <strong>de</strong> que o português brasileiro é uma língua homogênea,<br />
<strong>de</strong> que existe um padrão que é a língua portuguesa (e não uma<br />
varieda<strong>de</strong> da língua portuguesa tomada como exemplar) e <strong>de</strong> que tudo<br />
que se distancie <strong>de</strong>ste padrão <strong>de</strong>ve ser eliminado por ser um <strong>de</strong>svio que<br />
<strong>de</strong>strói a língua. Mostra-se, <strong>de</strong>sta maneira, que qualquer julgamento <strong>de</strong><br />
um fato linguístico como “certo” e “errado” está assentado em bases<br />
49
extralinguísticas. Julga-se, assim, o falante, e não seu modo <strong>de</strong> falar. O<br />
presente simpósio tem como proposta o <strong>de</strong>bate <strong>de</strong> temas que constituem<br />
ponto <strong>de</strong> partida para a melhoria da qualida<strong>de</strong> do ensino <strong>de</strong> língua materna:<br />
a <strong>de</strong>scrição do português falado no Brasil, os esforços para a<br />
consolidação <strong>de</strong> bancos <strong>de</strong> dados, questões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e o necessário<br />
diálogo entre ensino e pesquisa.<br />
A REALIZAÇÃO DA PREPOSIÇÃO "DE" NA VARIEDADE DIA-<br />
LETAL DA CIDADE DE BAGÉ/RS<br />
BRUNA RIBEIRO VIRAQUÃ<br />
A OCORRÊNCIA DE HAPLOLOGIA NA CIDADE DE BAGÉ<br />
FABIANA URRUTIA AMARAL<br />
ENTRE O DESCRITIVISMO E O PRESCRITIVISMO: O PAPEL DA<br />
SOCIOLINGUÍSTICA NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA<br />
TAÍS BOPP DA SILVA<br />
BANCO DE DADOS DE LÍNGUA FALADA DE BAGÉ: RELA-<br />
ÇÕES ENTRE PESQUISA E ENSINO<br />
TAÍSE SIMIONI<br />
VARIAÇÃO E IDENTIDADE NAS COMUNIDADES KATUKINA E<br />
KANAMARI: ELABORAÇÃO DO SISTEMA ORTOGRÁFICO<br />
ZORAIDE DOS ANJOS GONÇALVES DA SILVA<br />
DIA 4 DE OUTUBRO - (QUINTA-FEIRA) - 11H30M<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 29 - SALA 207C<br />
O PROFESSOR REFLEXIVO E O PROCESSO DE INOVAÇÃO:<br />
APROXIMAÇÕES DO ALUNO DE ENSINO TÉCNICO E A PES-<br />
QUISA<br />
CAROLINA MENDONÇA FERNANDES DE BARROS<br />
50
AULA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS:<br />
BUSCANDO A INTERDISCIPLINARIDADE NO GRUPO DE ES-<br />
TUDOS PAIDÉIA EM RIO GRANDE<br />
CECÍLIA DE SOUZA BORBA<br />
O ENSINO E APRENDIZAGEM DA ESCRITA NA FORMAÇÃO<br />
DE PROFESSORES<br />
CLARICE VAZ PERES ALVES<br />
MARION RODRIGUES DARIZ<br />
ARTIGO DE OPINIÃO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTU-<br />
GUESA<br />
DAIANE ARAUJO MARINHO<br />
DESAFIO DE PROGREDIR NA APRENDIZAGEM DE LE NA ES-<br />
COLA PÚBLICA: DANDO VOZ AOS ALUNOS DO ENSINO FUN-<br />
DAMENTAL II<br />
ELIANE FERNANDES AZZARI<br />
COMUNICAÇÕES 30 - SALA 212C<br />
NOVOS DESAFIOS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS: A POSSI-<br />
BILIDADE DO LÚDICO EM SALA DE AULA<br />
DIENIFFER DE SOUZA SILVA<br />
PIBID E O ENSINO POLITÉCNICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA<br />
ELENYR CAVADAS<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESPANHOLA DU-<br />
RANTE A MOBILIDADE ACADÊMICA POR ALUNOS DO CUR-<br />
SO DE LETRAS/ESPANHOL DA UFSM<br />
EMANUELE BITENCOURT NEVES CAMANI<br />
CURTIR, COMENTAR E COMPARTILHAR: O USO DOS TRÊS<br />
C’S NA PRODUÇÃO DE TEXTOS NAS TURMAS DE ENSINO<br />
MÉDIO<br />
ERYCK DIEB SOUZA<br />
RAIANNY LIMA SOARES<br />
PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE NO ENTEN-<br />
DIMENTO DA TEORIA HOLÍSTICA DA ATIVIDADE<br />
51
FABRICIA CAVICHIOLI BRAIDA<br />
ANA LÚCIA CHELOTTI PROCHNOW<br />
COMUNICAÇÕES 31 - SALA 213C<br />
BIBLIOTECA VIVA: DANDO ASAS AOS SONHOS<br />
FERNANDA CAVALHEIRO GRANATO<br />
ANGÉLICA MARGARET JARDIM ALVAREZ<br />
O ENEM E A LÍNGUA PORTUGUESA: UMA CONTRIBUIÇÃO<br />
PARA A TRANSFORMAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA NA EDU-<br />
CAÇÃO BÁSICA<br />
FERNANDA PEREIRA TEIXEIRA DE MELLO<br />
JAEL SÂNERA SIGALES GONÇALVES<br />
A PEDAGOGIA DE UMA TELENOVELA: JOVENS REBELDES E<br />
PROFESSORES AFETIVOS<br />
FERNANDO DA ROSA ROSADO<br />
ANGELA DILLMANN NUNES BICCA<br />
A LEITURA PROTOCOLADA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA<br />
NA SALA DE AULA<br />
FRANCINE ARAÚJO FARIAS<br />
ADRIANA NASCIMENTO BODOLAY<br />
GÊNEROS DISCURSIVOS E AUTENTICIDADE TEXTUAL NO<br />
ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ANÁLISE DE LI-<br />
VROS DIDÁTICOS<br />
GISLAINE MACHADO JERÔNIMO<br />
LETÍCIA DA SILVA BARBOZA<br />
KELLI DA ROSA RIBEIRO<br />
COMUNICAÇÕES 32 - SALA 216C<br />
A INTERVENÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA ATIVIDADE DO<br />
COORDENADOR PEDAGÓGICO<br />
JOSIANE RICHTER<br />
O FUNCIONAMENTO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DA LÍNGUA<br />
ESPANHOLA NAS TIRAS DO TAPEJARA<br />
JULIANE TATSCH<br />
52
A DICIONARIZAÇÃO DOS SÍMBOLOS DO GAÚCHO<br />
KELLY FERNANDA GUASSO DA SILVA<br />
O DISCURSO HOMOFÓBICO NO AMBIENTE VIRTUAL<br />
LAURA NUNES PINTO<br />
LOBO MAU E CHAPEUZINHO VERMELHO EM TEMPOS DE<br />
FACEBOOK: ANÁLISE DISCURSIVA DE UMA CHARGE<br />
LEONARDO TERRA MESSIAS<br />
COMUNICAÇÕES 33 - SALA 221C<br />
UMA DISCUSSÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES NAS AU-<br />
LAS DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I<br />
LIANE RÉGIO LUCAS<br />
APRENDENDO A ENSINAR A HABILIDADE DE ARGUMENTAR<br />
LISIANE RAUPP DA COSTA<br />
SABRINA FORATI LINHAR<br />
NOVOS PERFIS DE PROFESSORES: O MODELO DE TUTORIA<br />
DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DAFACED/UFC<br />
LOURENA MARIA DOMINGOS DA SILVA<br />
ANTONIA LIS DE MARIA MARTINS TORRES<br />
DA RAZÃO À EMOÇÃO: A EXPRESSÃO HUMANA ATRAVÉS<br />
DAS LINGUAGENS<br />
LUCIANA DE CARVALHO MEDEIROS<br />
COMUNICAÇÕES 34 – SALA 230C<br />
ENTRE A CONCEPÇÃO E A ATIVIDADE: “EU PROFESSOR DE<br />
PORTUGUÊS”<br />
MAGNUN ROCHEL MADRUGA<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO<br />
REPRESENTAÇÕES CONSTRUÍDAS POR DOCENTES DE UM<br />
CONTEXTO ESCOLAR PÚBLICO ACERCA DOS PROCESSOS DE<br />
ENSINAR E APRENDER<br />
MAÍSA HELENA BRUM<br />
LUCIANE KIRCHHOF TICKS<br />
53
UMA PRÁTICA DIALOGADA NA FORMAÇÃO DE UM PROFES-<br />
SOR ECOLÓGICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM ESTUDO DE<br />
CASO<br />
MARIA DA GRAÇA CARVALHO DO AMARAL<br />
ROSSANA DE FELIPPE BÖHLKE<br />
PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO: TEORIA LINGUÍSTICA E<br />
PRÁTICA ESCOLAR<br />
MARINA CABREIRA ROCHA DE MORAES<br />
CLEIDE MARTINEZ DA SILVA<br />
COMUNICAÇÕES 35 – SALA 414C<br />
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E<br />
AS IMPLICAÇÕES NA SUA PRÁTICA DOCENTE<br />
MURIEL SILVEIRA DA SILVA<br />
GÊNEROS TEXTUAIS NA ESCOLA: A PRODUÇÃO DE UMA<br />
REVISTA<br />
NARA REJANE PINTO AQUINO<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO (ORIENTADOR)<br />
ARQUITETÔNICAS DE UMA CORPOGRAFIA ESCRILEITORA<br />
PATRÍCIA GOULART CAVALHEIRO<br />
CARLA GONÇALVES RODRIGUES<br />
PROFESSORES DE ESPANHOL EM FORMAÇÃO INICIAL: IMA-<br />
GENS DA LÍNGUA E CULTURAS HISPÂNICAS NOS DISCURSOS<br />
MIDIÁTICOS E SUAS RELAÇÕES NO P<br />
ROBERTA KOLLING ESCALANTE<br />
COMUNICAÇÕES 36 – SALA 415C<br />
QUESTÕES SOCIAIS EM TORNO DO LETRAMENTO DOCENTE:<br />
TECNOLOGIA E INTERAÇÃO<br />
SILVANE APARECIDA GOMES<br />
CONTEXTUALIZANDO A ARTE ATRAVÉS DO DESENHO DE<br />
MODA<br />
TEREZA CRISTINA BARBOSA DUARTE<br />
54
INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL<br />
VINÍCIUS NIZOLI BECKER<br />
DIANA ELISA PENHA DA SILVA<br />
CARMEM LÚCIA LASCANO PINTO<br />
"GINCOPEIES": UMA PROPOSTA, UM DESAFIO, UMA AÇÃO<br />
VIVIANE TERESINHA BIACCHI BRUST<br />
COMUNICAÇÕES 37 – SALA 204B<br />
CRÔNICA: DESENVOLVENDO O GOSTO PELA LEITURA<br />
YANNA KARLLA H. G. CUNHA<br />
PROF. DR. LUÍS MAROZO<br />
GÊNEROS SOCIAIS EM SALA DE AULA: UMA RELAÇÃO DE<br />
INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM<br />
CAMILA LACERDA PINTO<br />
ALINE EUGÊNIA CAMPOS DA SILVA<br />
LEITURA E ESCRITA DE GÊNEROS DISCURSIVOS NAS AULAS<br />
DE LÍNGUA ESPANHOLA;<br />
CINIRA CONTERATTO FURTADO<br />
ANDERSON PIMENTEL HERNANDEZ<br />
AS FORMAS POPULARES DO CONTAR E SUA ATUALIZAÇÃO<br />
EM GUIMARÃES ROSA<br />
CLÁUDIA LORENA VOUTO DA FONSECA<br />
COMUNICAÇÕES 38 – SALA 206B<br />
A PROPAGANDA TELEVISIVA COMO DESENCADEADORA<br />
DO TRABALHO COM GÊNEROS DO DISCURSO<br />
DÉBORA DE MACEDO CORTEZ BOSCO<br />
EDITORIAL E AVALIATIVIDADE: UMA CONFLUÊNCIA NE-<br />
CESSÁRIA<br />
GLIVIA GUIMARÃES NUNES<br />
55
O QUE OS DISCURSOS SOBRE SINTOMATOLOGIA DE DOEN-<br />
ÇAS CARDÍACAS NOS REVELAM SOBRE O MASCULINO E O<br />
FEMININO<br />
JENICE TASQUETO DE MELLO<br />
COMUNICAÇÕES 39 – SALA 208B<br />
O ENSINO DA CULTURA ATRAVÉS DOS LIVROS DIDÁTICOS<br />
DE ELE. QUE CULTURA ENSINAMOS?<br />
LUCIANA CONTREIRA DOMINGO<br />
AS TEORIAS LINGUÍSTICAS CITADAS NO MANUAL DO PRO-<br />
FESSOR NO LIVRO DIDÁTICO E O TRABALHO COM A LÍNGUA<br />
NO MANUAL: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA<br />
LUCIANA ROLDÃO RAMOS<br />
PROCESSOS VERBAIS EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SOBRE<br />
CRIMES DE CALÚNIA: UMA INVESTIGAÇÃO NA PERSPECTI-<br />
VA SISTÊMICO-FUNCIONAL<br />
MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO<br />
O USO DO TRADUTOR ELETRÔNICO PARA O ENSINO DE IN-<br />
GLÊS INSTRUMENTAL<br />
ADRIANA RIESS KARNAL<br />
COMUNICAÇÕES 40 – SALA 213B<br />
INTERSUBJETIVIDADE REFERENCIAL, CONSTRUÇÃO DE<br />
SIGNIFICADOS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA<br />
PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS PLOSIVOS DO INGLÊS (L2)<br />
POR APRENDIZES BRASILEIROS: EFEITOS DE DIFERENTES<br />
PADRÕES DE VOICE ONSET TIME<br />
BRUNO MORAES SCHWARTZHAUPT<br />
ANA HEMMONS BARATZ<br />
CAMILA SAVICZKI MOTTA<br />
UBIRATÃ KICKHÖFEL ALVES<br />
56
PANORAMA GERAL DOS ERROS ORTOGRÁFICOS ENCON-<br />
TRADOS EM TEXTOS NARRATIVOS DE ALUNOS DE ENSINO<br />
MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DO IFSUL/CAV<br />
CRISTIANE SILVEIRA DOS SANTOS<br />
COMUNICAÇÕES 41 – SALA 215B<br />
O PAPEL DA IMERSÃO NO DESEMPENHO DE MULTILÍNGUES<br />
EM TAREFA DE PRIMING GRAFO-FÔNICO-FONOLÓGICO<br />
CINTIA AVILA BLANK<br />
MÁRCIA CRISTINA ZIMMER (ORIENTADORA)<br />
A NASALIDADE DISTINTIVA NO INÍCIO DA AQUISIÇÃO DA<br />
LÍNGUA ESCRITA<br />
CLARA SIMONE IGNÁCIO DE MENDONÇA<br />
A DISTÂNCIA LINGUÍSTICA INFLUI NA AQUISIÇÃO DOS HE-<br />
TEROSSEMÂNTICOS?<br />
DANIA PINTO GONÇALVES<br />
CHARGE ANIMADA: A ATENÇÃO, A PERCEPÇÃO E A MEMÓ-<br />
RIA NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO<br />
DOUGLAS MORAES MACHADO<br />
ELENICE ANDERSEN<br />
DIA 4 DE OUTUBRO - (QUINTA-FEIRA) - 11H30M<br />
SIMPÓSIOS<br />
SIMPÓSIO 13 – SALA 302B<br />
ENSINO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: A RELAÇÃO<br />
ENTRE PERCEPÇÃO E PRODUÇÃO<br />
ANDREIA SCHURT RAUBER (COORDENADORA)<br />
Vários estudos (ex.: FLEGE, 1995; FLEGE et al., 1997, 1999;<br />
KOERICH, 2006) têm observado a relação existente entre a percepção<br />
e a produção <strong>de</strong> sons <strong>de</strong> uma língua estrangeira (LE). Muitos relatam<br />
que os sons mais bem percebidos são também os pronunciados <strong>de</strong><br />
57
forma mais inteligível ou semelhante aos <strong>de</strong> falantes nativos, enquanto<br />
que os sons percebidos com mais dificulda<strong>de</strong> são os pronunciados <strong>de</strong><br />
forma menos inteligível. O objetivo <strong>de</strong>ste simpósio é apresentar e discutir<br />
estudos sobre percepção e produção <strong>de</strong> sons <strong>de</strong> LE, dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pronúncia e suas implicações pedagógicas, procedimentos metodológicos<br />
<strong>de</strong> coleta <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> produção e percepção da fala, treinamentos<br />
perceptual e <strong>de</strong> pronúncia e inteligibilida<strong>de</strong>. O simpósio <strong>de</strong>baterá sobre<br />
os aspectos <strong>de</strong> pronúncia que <strong>de</strong>vem ser priorizados no ensino <strong>de</strong> inglês-LE,<br />
já que, como a atual língua franca, o número <strong>de</strong> falantes não<br />
nativos supera o <strong>de</strong> falantes nativos e o foco <strong>de</strong> um professor <strong>de</strong> LE<br />
<strong>de</strong>veria ser a inteligibilida<strong>de</strong>.<br />
Palavras-chave: ensino <strong>de</strong> sons <strong>de</strong> língua estrangeira; percepção;<br />
produção<br />
PESQUISA E ENSINO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:<br />
APRESENTANDO O SOFTWARE LIVRE TP<br />
ANDREIA SCHURT RAUBER<br />
O BENEFÍCIO AUDIOVISUAL NA PERCEPÇÃO DE SONS DE<br />
LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
DENISE CRISTINA KLUGE<br />
A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE VOGAIS<br />
DO INGLÊS POR FALANTES NATIVOS DO PORTUGUÊS PARA<br />
MELHOR INTELIGIBILIDADE<br />
LETÍCIA PISKE SOARES<br />
A PRONÚNCIA DE PALAVRAS PRÉ-PROPAROXÍTONAS DO<br />
INGLÊS: UM DESAFIO PARA BRASILEIROS E PORTUGUESES<br />
MAICON LOPES SIMÕES<br />
INTELIGIBILIDADE E A PERCEPÇÃO DE SONS DO INGLÊS<br />
COMO LÍNGUA FRANCA<br />
MÁRCIA REGINA BECKER<br />
58
SIMPÓSIO 14 - SALA 304B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
LINGUAGEM, COGNIÇÃO E ENSINO<br />
LILIANE DA SILVA PRESTES-RODRIGUES (COORDENADORA)<br />
LUIZ FERNANDO MATOS ROCHA (COORDENADOR)<br />
A história recente da Linguística é fortemente marcada por uma consi<strong>de</strong>rável<br />
diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> visões acerca do fenômeno linguístico, do que<br />
<strong>de</strong>corre a coexistência <strong>de</strong> muitas teorias, bem como uma profusão terminológica<br />
e metodológica que parece distanciar os pesquisadores entre<br />
si. Para muitos, isso se <strong>de</strong>ve ao fato <strong>de</strong> a linguagem ser “um objeto <strong>de</strong><br />
tal complexida<strong>de</strong> que todas as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abordagem serão sempre<br />
parciais” (BORGES NETO, 2004, p. 68). Para o caminho contrário,<br />
muitos pesquisadores têm <strong>de</strong>senvolvido visões integradoras <strong>de</strong> áreas da<br />
linguística através <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong> interface. Nesse contexto, este simpósio<br />
congrega investigadores preocupados com os limites e possibilida<strong>de</strong>s<br />
que se colocam, tanto em termos teóricos quanto analíticos, na<br />
relação entre estudos sobre cognição e o ensino <strong>de</strong> língua materna e<br />
língua estrangeira. A razão precípua para esse movimento é o entendimento<br />
<strong>de</strong> que os avanços em Linguística Cognitiva têm muito a contribuir<br />
em relação a diferentes questões ligadas ao processo ensinoaprendizagem,<br />
possibilitando o entrecruzamento <strong>de</strong> produções científicas<br />
e práticas pedagógicas. Quanto à metodologia, o simpósio está<br />
aberto a pesquisas <strong>de</strong> base empírica, focadas nos registros orais e escritos<br />
da linguagem, e suas implicações no ensino. Este simpósio constitui-se,<br />
portanto, em um espaço acadêmico e científico amplo e instigador<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>bates. Desta maneira, estar-se-á incentivando a construção <strong>de</strong><br />
alternativas para práticas em sala <strong>de</strong> aula, visando a uma maior inclusão<br />
e participação dos alunos no processo.<br />
Palavras-chave: cognição, ensino, teorias linguísticas.<br />
CONSTRUÇÕES DE MOVIMENTO FICTIVO EM PORTUGUÊS<br />
DO BRASIL<br />
ALINE BISOTTI DORNELAS<br />
A CONSTRUÇÃO CONCESSIVA PERSPECTIVIZADORA “PARA<br />
X Y” NO ÂMBITO DA ESCRITA E DA FALA EM PB: LEVANTA-<br />
MENTOS INICIAIS<br />
GABRIELA DA SILVA PIRES<br />
59
SEMÂNTICA DE FRAMES E O COMPORTAMENTO DE ADVÉR-<br />
BIOS ASPECTUALIZADORES DE REITERAÇÃO<br />
LILIANE DA SILVA PRESTES-RODRIGUES<br />
AUTOCITAÇÃO FICTIVA: COGNIÇÃO E CORPUS<br />
LUIZ FERNANDO MATOS ROCHA<br />
O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E GANHOS COGNITI-<br />
VOS<br />
MARTA HELENA TESSMANN BANDEIRA<br />
FRAMES, DISCURSO E CIDADANIA<br />
NEUSA SALIM MIRANDA<br />
TENDÊNCIAS ENTOACIONAIS DE CONSTRUÇÕES DE DIS-<br />
CURSO REPORTADO<br />
PATRÍCIA RIBEIRO DO VALLE COUTINHO<br />
CIÊNCIAS COGNITIVAS E A EDUCAÇÃO PARA A LEITURA<br />
ROSANGELA GABRIEL<br />
SIMPÓSIO 15 – SALA 306B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
(MULTI)LETRAMENTOS: PRÁTICAS E LINGUAGENS SOCI-<br />
AIS EM CONTEXTOS ESCOLARES E ACADÊMICOS<br />
ADRIANA FISCHER (COORDENADORA)<br />
Os objetivos <strong>de</strong>ste Simpósio, inserido na linha temática “linguagens e<br />
letramentos: questões”, são: a) discutir e (re)configurar o que está se<br />
enten<strong>de</strong>ndo por (multi)letramentos em contextos escolares e acadêmicos<br />
no Brasil; b) caracterizar quais as implicações das diferentes práticas<br />
<strong>de</strong> oralida<strong>de</strong>, leitura (verbal e imagética) e escrita, nesses contextos,<br />
para os sujeitos e para suas comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prática. Esses objetivos<br />
visam oferecer contribuições, advindas <strong>de</strong> pesquisas em torno <strong>de</strong> práticas<br />
e linguagens sociais, para a atuação pedagógica/linguística em escolas<br />
e universida<strong>de</strong>s, bem como para (re)dimensionar os sentidos na<br />
Linguística Aplicada, a partir <strong>de</strong> estudos sobre (multi)letramentos na<br />
perspectiva sociocultural (Gee, 1999, 2001, 2005; Barton e Hamilton,<br />
2000; Zavala, 2010, Kleiman, 2010, Rojo, 2012). Nessa direção, os<br />
estudos sobre os (multi)letramentos (Mills, 2006; New London Group,<br />
2000; Rojo, 2008, 2012; Lemke, 2010), na <strong>Educação</strong> Básica e no Ensi-<br />
60
no Superior, vêm privilegiar os sentidos, os diversos modos <strong>de</strong> interação,<br />
as questões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, a diversida<strong>de</strong> cultural e linguística, os<br />
textos associados a informações e tecnologias multimídias, as vozes, os<br />
posicionamentos críticos dos sujeitos e as relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. Dados<br />
advindos <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong> caso e/ou <strong>de</strong> pesquisas do tipo etnográfico têm<br />
contribuído para que resultados sejam <strong>de</strong>batidos, em âmbito brasileiro,<br />
os quais discutem, polemizam e encaminham propostas capazes <strong>de</strong><br />
conceber e posicionar os estudantes como participantes engajados em<br />
práticas escolares e acadêmicas <strong>de</strong> letramento. Nesse sentido, o presente<br />
Simpósio tem o intuito <strong>de</strong> colocar em contato resultados <strong>de</strong> pesquisas<br />
nessa vertente sociocultural dos (multi)letramentos, consi<strong>de</strong>rando os<br />
objetivos inicialmente apresentados nesta proposta.<br />
RELAÇÕES DE PODER EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACA-<br />
DÊMICO EM CURSOS DE ENGENHARIA (PORTUGAL): O CASO<br />
DO GÊNERO RELATÓRIO DE PROJETO<br />
ADRIANA FISCHER<br />
(MULTI) LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFIS-<br />
SIONAL DE LETRAS<br />
CIBELE DA SILVA TRINDADE<br />
“O PODER INTEGRADOR DOS PROJETOS VIVENCIAIS E SEUS<br />
EFEITOS NO LETRAMENTO ESCOLAR”<br />
FRANCELI RODRIGUES DE SOUZA<br />
ANÁLISE TEXTUAL DE PRODUÇÕES AUTORREFLEXIVAS DE<br />
ALUNOS DE PEDAGOGIA: INTERFACE SOCIOCOGNITIVA DOS<br />
LETRAMENTOS ACADÊMICOS<br />
MÁRCIA MILLER GOMES DE PINHO<br />
“NÓS PEGA O PEIXE”: UMA ANÁLISE VISUAL DA CIÊNCIA<br />
LINGUÍSTICA NA MÍDIA<br />
RAQUEL BEVILAQUA<br />
O USO DA LINGUAGEM VERBAL NA INTERAÇÃO ENTRE OS<br />
PROFISSIONAIS E OS USUÁRIOS DE UMA BIBLIOTECA.<br />
RAQUEL DO PRADO FONTOURA PRIETSCH<br />
61
PRÁTICAS DE LETRAMENTO PEDAGÓGICO NO PIBID: ANÁ-<br />
LISE DA TRAVESSIA DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO<br />
SILVANIA FACCIN COLAÇO<br />
LETRAMENTOS VISUAIS EM PROPOSTAS DE LEITURA DE UM<br />
LIVRO DIDÁTICO DO 1O ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:<br />
UMA ANÁLISE, MUITAS POSSIBILIDADES<br />
TRÍCIA TAMARA BOEIRA DO AMARAL<br />
AS PRÁTICAS LEITORAS DE ACADÊMICAS DE PEDAGOGIA<br />
VERONICE CAMARGO DA SILVA<br />
SIMPÓSIO 16 – SALA 402B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
O DISCURSO NO CRUZAMENTO DA HISTÓRIA COM A<br />
LÍNGUA: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE<br />
GLAUCIA DA SILVA HENGE (COORDENADORA)<br />
Neste simpósio propomos a discussão <strong>de</strong> diferentes perspectivas <strong>de</strong><br />
análise a partir <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong>s discursivas também distintas, permitindo<br />
assim a problematização do cruzamento da história com a língua<br />
no que é constitutivo dos processos discursivos. Esta aproximação<br />
teórico-metodológica promove a discussão acerca da textualida<strong>de</strong> enquanto<br />
materialida<strong>de</strong> significante e contribui <strong>de</strong> forma relevante para a<br />
formação docente, bem como para a dinamização das reflexões sobre as<br />
práticas sócio-históricas que permeiam o ambiente escolar. As comunicações<br />
que integram este simpósio são, portanto, duplamente afetadas<br />
pelo fazer téorico-analítico e pela sua relação com o ensino, apontando,<br />
pelo viés discursivo, possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> (re)pensar as práticas <strong>de</strong> ensino<br />
voltadas ao trabalho da/sobre a língua. Enriquecidas pela gama <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong>s<br />
em análise, as propostas selecionadas para este simpósio<br />
abordam diferentes modos em que língua e história constituem-se mutuamente,<br />
marcadas nos discursos sobre o corpo e sobre violência, nos<br />
discursos sobre a língua estrangeira e a mídia na escola e também nos<br />
discursos sobre a privacida<strong>de</strong> no espaço virtual. Ou seja, na re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
sentidos que emerge da relação fundante entre história e língua, abarcamos<br />
<strong>aqui</strong>, dadas as condições <strong>de</strong> produção, perspectivas analíticas <strong>de</strong><br />
aspectos importantes da contemporaneida<strong>de</strong>.<br />
62
DISCURSO E PRÁTICAS NO APARELHO ESCOLAR: MODOS<br />
DISTINTOS DE ASSUJEITAMENTO?<br />
ANGELA PLATH DA COSTA<br />
O IMAGINÁRIO DA LÍNGUA IDEAL E O "DIFERENTE" NA A-<br />
PRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
CAROLINE FOPPA SALVAGNI<br />
ARQUIVO, MEMÓRIA E AUTORIA: DISCURSOS SOBRE PRI-<br />
VACIDADE NA WEB<br />
GLAUCIA DA SILVA HENGE<br />
O TEXTO MIDIÁTICO EM SALA DE AULA: POSSIBILIDADES E<br />
LIMITES NO TRABALHO DE INTERPRETAÇÃO<br />
MAGDA REGINA LOURENÇO CYRRE<br />
“INGLÊS DA ESCOLA”: O IMAGINÁRIO DE LÍNGUA ESTRAN-<br />
GEIRA NO DISCURSO DE ALUNOS-PROFESSORES<br />
MICHELE TEIXEIRA PASSINI<br />
CORPO E SENTIDO: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NO DISCUR-<br />
SO TRANSEXUAL<br />
MÔNICA FERREIRA CASSANA<br />
AS LABUTAS PELO SENTIDO: ENTRE FALTAS E EXCESSOS,<br />
FECHAMENTOS E ABERTURAS<br />
PAULA DANIELE PAVAN<br />
OTRA VEZ #SOPA? O VERBAL E O VISUAL NA PRODUÇÃO DE<br />
SENTIDOS<br />
RENATA ADRIANA DE SOUZA<br />
MULHERES E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: SUJEITOS<br />
(RE)IDENTIFICANDO-SE PELA ESCRITA DE SI NA INTERNET<br />
VERÔNICA RODRIGUES TIMES<br />
63
SIMPÓSIO 17 – SALA 403B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
LEITURA E ESCRITA NO ÂMBITO DO DISCURSO<br />
CAROLINA FERNANDES (COORDENADORA)<br />
A linguagem, ao ser compreendida não como instrumento <strong>de</strong> comunicação,<br />
mas como materialida<strong>de</strong> do discurso, po<strong>de</strong> ancorar a prática<br />
pedagógica do professor tanto <strong>de</strong> língua materna quanto <strong>de</strong> língua estrangeira.<br />
Essa concepção é calcada na Análise do Discurso <strong>de</strong> tradição<br />
francesa, a qual enten<strong>de</strong> a linguagem enquanto política e i<strong>de</strong>ológica,<br />
opaca, cujos sentidos por ela colocados em circulação constituirão os<br />
sujeitos. Os sujeitos são colocados em posição ativa, pois interferem no<br />
processo <strong>de</strong> transformação dos sentidos em posição dominante, e, também,<br />
<strong>de</strong> submissão a eles. Sendo assim, o presente simpósio, ao ter<br />
como base a concepção <strong>de</strong> linguagem referida, preten<strong>de</strong> levantar reflexões<br />
no que tange à relação entre discurso (enquanto materialização da<br />
i<strong>de</strong>ologia) e as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e produção textual (enquanto práticas<br />
pedagógicas engajadas i<strong>de</strong>ologicamente). Os efeitos na constituição<br />
do sujeito po<strong>de</strong>m levá-lo a práticas engajadas com a i<strong>de</strong>ologia dominante,<br />
bem como questionadoras e contrárias a ela. Po<strong>de</strong>-se dizer que esse<br />
processo <strong>de</strong>termina a constituição <strong>de</strong> suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. Com essa reterritorialização<br />
do campo <strong>de</strong> estudo da linguagem, a Análise do Discurso<br />
<strong>de</strong> linha francesa reformula conceitos como os <strong>de</strong> sujeito, memória,<br />
interpretação e texto, proponho <strong>de</strong>safios teórico-metodológicos para o<br />
ensino <strong>de</strong> língua seja materna ou estrangeira.<br />
ANÁLISE DO PROCESSO DISCURSIVO DA ESCRITA POR IMA-<br />
GENS<br />
CAROLINA FERNANDES<br />
INTERAÇÃO NO ESPAÇO EDUCATIVO BINACIONAL: ‘USAN-<br />
DO A LÍNGUA DO OUTRO’<br />
CRISTINA ZANELLA RODRIGUES<br />
A POSSE DE DILMA ROUSSEFF NA PRESIDÊNCIA DO PAÍS:<br />
UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO OU ENUNCIATIVO?<br />
ERCILIA ANA CAZARIN<br />
ESCRITA ESTRANHA: INTERFERÊNCIA E REVERBERAÇÃO<br />
GIOVANI FORGIARINI AIUB<br />
64
PROFICIÊNCIA: LEITURA TÉCNICA OU LUGAR DE INTERPRE-<br />
TAÇÃO?<br />
INGRID GONÇALVES CASEIRA<br />
A PRÁTICA DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS<br />
NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM ESCOLAS<br />
DO SUDOESTE DO PARANÁ<br />
LUCIANA IOST VINHAS<br />
IMAGEM(NS) DE LÍNGUA(S) NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRON-<br />
TEIRA<br />
MARILENE APARECIDA LEMOS<br />
DA PINTURA VERBAL À PINTURA IMAGÉTICA: OU SOBRE O<br />
FUNCIONAMENTO DA AUTORIA NA TRADUÇÃO INTERSE-<br />
MIÓTICA<br />
PRISCILA CAVALCANTE DO AMARAL<br />
SIMPÓSIO 18 – SALA 404B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
REFLEXÕES SOBRE TEXTOS PERTINENTES AO TRABA-<br />
LHO DOCENTE<br />
MARCIA CRISTINA CORRÊA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio tem por objetivo reunir pesquisadores, cujos trabalhos<br />
estejam em andamento ou já tenham sido concluídos, que tomem como<br />
objeto <strong>de</strong> suas investigações textos pertinentes ao trabalho docente<br />
(texto <strong>de</strong> professores e <strong>de</strong> alunos; documentos oficiais, material/livro<br />
didático, textos que circulam na mídia, etc). As pesquisas <strong>de</strong>vem estar<br />
ancoradas nos pressupostos interacionistas da linguagem, principalmente<br />
a partir <strong>de</strong> Bakhitn, Vygotsky, Bronckart e Machado. Nessa perspectiva,<br />
a linguagem é vista como lugar <strong>de</strong> interação e, em função disso, os<br />
papéis <strong>de</strong> sujeito e <strong>de</strong> outro adquirem relevância e passam a interessar<br />
os indivíduos que ocupam esses papéis discursivos em situações reais<br />
<strong>de</strong> interlocução historicamente situadas. A relevância da proposta <strong>de</strong>ste<br />
simpósio <strong>de</strong>ve-se ao fato da necessida<strong>de</strong> do estudo do papel da prática<br />
<strong>de</strong> linguagem (agir discursivo) em situações <strong>de</strong> trabalho, no caso, trabalho<br />
docente. Muitas pesquisas na área da Linguística Aplicada têm sido<br />
<strong>de</strong>senvolvidas no Brasil investigando as características dos diversos<br />
65
textos produzidos no e sobre o trabalho docente e discutindo as representações<br />
e avaliações sobre esse trabalho. Para isso, tem-se tomado<br />
como objeto <strong>de</strong> estudo textos orais e escritos produzidos no e sobre o<br />
trabalho docente. Este simpósio preten<strong>de</strong> acolher trabalhos pertinentes a<br />
essa perspectiva e estabelecer um espaço <strong>de</strong> discussão sobre o assunto.<br />
Palavras-chave: trabalho docente – interacionismo - representações<br />
REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NO SISTEMA<br />
DE ENSINO MILITAR A PARTIR DA PERSPECTIVA DO INTE-<br />
RACIONISMO SOCIODISCURSIVO<br />
ADRIANA SILVEIRA BONUMÁ<br />
REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ATIVIDADE DO<br />
PROFESSOR<br />
ANA CECILIA TEIXEIRA GONÇALVES<br />
REPRESENTAÇÕES DO “SER PROFESSOR” POR PROFESSORES<br />
DE LP EM FORMAÇÃO: APROXIMAÇÕES INICIAIS<br />
CRISTIANO EGGER VEÇOSSI<br />
PONTO DE PARTIDA: O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR DE<br />
LÍNGUA MATERNA?<br />
FABIANA VELOSO DE MELO DAMETTO<br />
PARA O ALUNO DE LETRAS, SER PROFESSOR É...<br />
MARCIA CRISTINA CORRÊA<br />
O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E O TRABALHO DO-<br />
CENTE: UMA ANÁLISE DO PROJETO LIçõES DO RIO<br />
GRANDE<br />
MICHELE MENDES ROCHA<br />
OS GÊNEROS E O ENSINO: REFLEXÕES ACERCA DO LIVRO<br />
DIDÁTICO;<br />
RAQUEL DA SILVA GOULARTE<br />
TRABALHO DOCENTE E O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS<br />
ROSAURA MARIA ALBUQUERQUE LEÃO<br />
66
PORTFÓLIO: UM INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA PRODU-<br />
ÇÃO ESCRITA<br />
VAIMA REGINA ALVES MOTTA<br />
REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE DE PROFESSORES DE<br />
LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO NUMA PERSPECTIVA<br />
INTERACIONISTA<br />
WENDEL DOS SANTOS LIMA<br />
SIMPÓSIO 19 – SALA 406B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
ENSINO E PESQUISA EM REGIÕES DE FRONTEIRA: PRÁ-<br />
TICAS DISCURSIVAS E SOCIAIS<br />
VALESCA BRASIL IRALA (COORDENADORA)<br />
ELIANA ROSA STURZA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio tem como objetivo reunir trabalhos que versem sobre o<br />
que Sturza (2006, 2009) <strong>de</strong>nominou “espaço <strong>de</strong> enunciação fronteiriço”,<br />
um lugar tanto simbólico quanto material que interpela diferentes<br />
pesquisadores a discutirem, entre outros aspectos, os seguintes: as manifestações<br />
linguísticas, tanto <strong>de</strong> tradição oral quanto escrita, próprias<br />
do“entre-línguas-entre-culturas” fronteiriço (cf. CORACINI, 2007); os<br />
registros fronteiriços que revelam uma historicida<strong>de</strong> singular(cf. MO-<br />
TA, 2010; STURZA, 2010); as práticas educacionais fronteiriças, levando<br />
em conta questões como a do biletramento, do ensino <strong>de</strong> segundas<br />
línguas e da <strong>aqui</strong>sição da escrita. Com esse simpósio, objetivamos<br />
marcar e consolidar um vasto campo <strong>de</strong> investigação que vem se <strong>de</strong>senvolvendo<br />
no país e em países vizinhos, levando em conta especialmente<br />
a condição <strong>de</strong> “inesgotabilida<strong>de</strong>” (cf. ELIZAINCÍN, 2008, p.65) convocada<br />
pelo tema fronteiriço, notadamente <strong>de</strong> caráter político, simbólico<br />
e social. Se tradicionalmente falar <strong>de</strong> “fronteira” significava marcar<br />
uma inevitável assimetria <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>lo “centro” versus o“resto” (em<br />
que a fronteira ocuparia esse segundo pólo), hoje é possível vislumbrar(bem<br />
como dar visibilida<strong>de</strong> a um processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sdicotomização em<br />
curso, o qual é capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong> re-situar à(s) fronteira(s) em uma dinâmica<br />
própria, que re<strong>de</strong>senha instâncias <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r com estratégias estéticas,<br />
políticas e cotidianas diversas e, ao mesmo tempo, ocupar no meio<br />
acadêmico um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque antes inexistente.<br />
67
ZONA RURAL FRONTEIRIÇA CERRILLADA/SERRILHADA: UM<br />
OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS<br />
BRUNA SUSEL GULART ANTUNES<br />
VALESCA BRASIL IRALA<br />
A FRONTEIRA PELA PERSPECTIVA DO ENSINO: IMAGINÁ-<br />
RIOS, CURRÍCULO E ATITUDES<br />
DOUGLAS LEMOS DE QUADROS<br />
VALESCA BRASIL IRALA<br />
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA NA<br />
FRONTEIRA: CONSIDERAÇÕES<br />
ISAPHI MARLENE JARDIM ALVAREZ<br />
SER OU NÃO SER BILÍNGUE: ATITUDES LINGUÍSTICAS DE<br />
ESTUDANTES DE ACEGUÁ BRASIL/URUGUAI<br />
JOCIELE CORRÊA<br />
ESCREVER EM LÍNGUA ADICIONAL: UMA OPÇÃO RETÓRICA<br />
KATIA VIEIRA MORAIS<br />
“EN EL RECREO SÍ, EN LAS CLASES NO”: SERÁ A ESCOLA<br />
UMA FRONTEIRA ENTRE AS LÍNGUAS?<br />
LUCIANA VARGAS RONSANI<br />
DA FRONTEIRA-LIMITE A SITUAÇÕES SOCIAIS DE FRONTEI-<br />
RA: UMA REFLEXÃO CONCEITUAL<br />
SARA DOS SANTOS MOTA<br />
POESIA DA FRONTEIRA<br />
URUGUAY CORTAZZO<br />
O SUJEITO FRONTEIRIÇO E SUA RELAÇÃO COM A ESCRITA:<br />
UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA<br />
VALESCA BRASIL IRALA<br />
68
SIMPÓSIO 20 – SALA 407B<br />
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E DESENVOLVIMENTO:<br />
FORMAÇÃO DE QUADROS E PRÁTICAS EDUCATIVAS<br />
ANA MARIA DE MATTOS GUIMARÃES (COORDENADORA)<br />
Os trabalhos a seguir fazem parte <strong>de</strong> projeto apoiado pela CAPES e<br />
CNPq, <strong>de</strong>ntro do Programa PROCAD. O projeto se propõe a produzir<br />
conhecimento e interagir em processos educativos <strong>de</strong> leitura e produção<br />
escrita no sistema público <strong>de</strong> ensino. Para isso, ocorre uma confluência<br />
<strong>de</strong> ações <strong>de</strong> dois Programas <strong>de</strong> Pós-Graduação: Linguística Aplicada da<br />
UNISINOS e Letras: Estudos Linguísticos da UFMG. Aproximados por<br />
suas linhas <strong>de</strong> pesquisa: Linguagem e Práticas Escolares do primeiro e<br />
Ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa do segundo, e amparados pela Linguística<br />
Aplicada como eixo comum <strong>de</strong> saber, preten<strong>de</strong>m reforçar a importância<br />
<strong>de</strong> o letramento acadêmico dos formadores entrar em interação com a<br />
prática social dos professores e seus alunos, com vistas ao <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> propostas didático-pedagógicas que formem um novo educador<br />
apto ao manejo crítico do conhecimento, capaz <strong>de</strong> estar à frente dos<br />
<strong>de</strong>safios educacionais do terceiro milênio. Para que esse <strong>de</strong>senvolvimento<br />
ocorra, relacionamos práticas sociais <strong>de</strong> linguagem mediadas por<br />
tecnologia e mídia e práticas presenciais, em projetos <strong>de</strong> pesquisa que<br />
tenham como preocupação básica a reflexão sobre o fazer profissional<br />
<strong>de</strong> docentes <strong>de</strong> Língua Portuguesa. Três <strong>de</strong>sses projetos são apresentados<br />
no presente simpósio.<br />
APRENDER E ENSINAR: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE<br />
PROFESSORES<br />
ADRIANE TERESINHA SARTORI<br />
UM PROCESSO COOPERATIVO DE FORMAÇÃO CONTINUADA:<br />
O ETERNO DESAFIO DA DIDATIZAÇÃO DE GÊNEROS<br />
ANA MARIA DE MATTOS GUIMARÃES<br />
LEITURA NA TELA E ENSINO DE LEITURA<br />
DELAINE CAFIERO<br />
SIMPÓSIO 21 – SALA 405B<br />
LINGUAGEM E PRÁTICAS CULTURAIS<br />
IVETE BELLOMO MACHADO (COORDENADORA)<br />
LÍVIA DE CARVALHO MENDONÇA (COORDENADORA)<br />
69
Neste simpósio, ocorre o encontro <strong>de</strong> doutorandas com pesquisas distintas<br />
e resultados <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong>senvolvidos em cumprimento aos créditos<br />
do doutorado, mas que compartilham <strong>de</strong> um referencial comum: a perspectiva<br />
discursiva dialógica <strong>de</strong> orientação bakhtiniana (Bakhtin,<br />
2003[1979]; Bakhtin/Volochínov, 2006[1929]). Nesse sentido, a linguagem<br />
em diálogo com a vida nos contextos escolares e usos cotidianos<br />
<strong>de</strong> comunida<strong>de</strong> afro<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte (Chartier, 1985, 1991, 1994, 2004;<br />
De Certeau, 2009; Burke, 2005; as lexias, os símbolos e os gestos que<br />
permeiam as benzeduras; a ativida<strong>de</strong> laboral <strong>de</strong> trabalhadores <strong>de</strong> uma<br />
empresa (Schwartz, 2002, 2006, 2007) e <strong>de</strong> docentes <strong>de</strong> língua portuguesa,<br />
quer na educação presencial (Schwartz, 2006, 2007, 2012; Faïta,<br />
2005; Clot & Faïta, 2000); quer a distância (Litto e Formiga, 2009;<br />
Belloni , 2003), constituem-se os objetos <strong>de</strong> investigação estudados em<br />
diferentes esferas <strong>de</strong> produção e recepção da enunciação, tendo como<br />
eixo central a linguagem e as práticas culturais.<br />
DISCURSO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: O LUGAR DO PRO-<br />
FESSOR NA EAD<br />
ANDREA AD REGINATTO<br />
BENZEDURAS: TRADIÇÃO POPULAR CUJOS SENTIDOS EN-<br />
TRELAÇAM SIGNOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS<br />
DEIJE MACHADO DE MOURA<br />
RENORMALIZAR É PRECISO... COMO LIDAR COM AS NOR-<br />
MAS EM AMBIENTE LABORAL.<br />
IVETE BELLOMO MACHADO<br />
A RELAÇÃO ENTRE SABERES NO DESENVOLVIMENTO DA<br />
ATIVIDADE LABORAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTU-<br />
GUESA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA<br />
JOSIANE REDMER HINZ<br />
ESCREVIVENDO EM PERSPECTIVA DIALÓGICA: MANIFES-<br />
TAÇÕES SOCIAIS DA ESCRITA AFRODESCENDENTE, PRÁTI-<br />
CAS ESCOLARES E USOS COTIDIANOS<br />
LÍVIA DE CARVALHO MENDONÇA<br />
70
SIMPÓSIO 22 – SALA 408B<br />
QUESTÕES DE LETRAMENTOS SURDOS<br />
VANESSA DE OLIVEIRA DAGOSTIM PIRES (COORDENADO-<br />
RA)<br />
O presente simpósio, intitulado “Questões <strong>de</strong> letramentos surdos”, reúne<br />
trabalhos <strong>de</strong> diferentes áreas, <strong>de</strong>senvolvidos em diversas regiões do<br />
país, com o objetivo <strong>de</strong> refletir a respeito do ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
para Surdos. O simpósio propõe um olhar amplo sobre a questão,<br />
compreen<strong>de</strong>ndo que ela começa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as orientações curriculares <strong>de</strong><br />
ensino, passa pela formação docente do professor <strong>de</strong> surdos até as práticas<br />
<strong>de</strong> ensino e letramento em sala <strong>de</strong> aula, seja esta presencial ou em<br />
um ambiente digital <strong>de</strong> aprendizagem. Deu-se priorida<strong>de</strong>, na seleção<br />
dos resumos, a trabalhos que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m o ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
como L2 (segunda língua) ou LA (língua adicional) para os surdos, e a<br />
Língua <strong>de</strong> Sinais como a L1 (primeira língua), <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma perspectiva<br />
<strong>de</strong> educação bilíngue, tanto em contextos <strong>de</strong> educação exclusiva para<br />
surdos ou em contextos inclusivos. Que Língua Portuguesa preten<strong>de</strong>-se<br />
ensinar a surdos? De que maneira, professores <strong>de</strong> surdos em formação,<br />
veem o bilinguismo no momento <strong>de</strong> seu planejamento e prática docente?<br />
Quais são as estratégias e mecanismos utilizados pelos surdos no<br />
momento da produção textual em Língua Portuguesa? De que maneira a<br />
Língua <strong>de</strong> Sinais po<strong>de</strong> promover o letramento acadêmicos <strong>de</strong> surdos?<br />
Essas e outras questões serão discutidas neste simpósio.<br />
Palavras-chave: educação bilíngue; educação <strong>de</strong> surdos; letramento<br />
AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LP PARA SURDOS: A<br />
GOVERNAMENTALIZAÇÃO DA ESCRITA ESCOLAR COMO<br />
DISPOSITIVO DE NORMALIZAÇÃO<br />
DANIELA TAKARA<br />
ASPECTOS DE COESÃO E COERÊNCIA NA ESCRITA DE ALU-<br />
NOS SURDOS BILÍNGUES<br />
MÁRCIO ARTHUR MOURA MACHADO PINHEIRO<br />
O LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE SURDOS U-<br />
NIVERSITÁRIOS: REFLEXÕES A PARTIR DE UM CURSO EM<br />
AMBIENTE DIGITAL<br />
VANESSA DE OLIVEIRA DAGOSTIM PIRES<br />
71
PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE SURDOS NA<br />
PERSPECTIVA BILÍNGUE.<br />
VINICIUS MARTINS FLORES<br />
DIA 4 DE OUTUBRO - (QUINTA-FEIRA) – 16H<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 42 – SALA 207C<br />
O PAPEL DA INSTRUÇÃO EXPLÍCITA E DA MEMÓRIA DE<br />
TRABALHO NA LEITURA EM L2<br />
EREN MELO MORAES PASQUALI<br />
O QUE A LINGUÍSTICA COGNITIVA TEM A NOS DIZER SOBRE<br />
O ENSINO DE PRONÚNCIA NO BRASIL: UM BALBUCIO TEÓ-<br />
RICO<br />
FELIPE FLORES KUPSKE<br />
ERROS ORTOGRÁFICOS E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: RE-<br />
LAÇÕES APRESENTADAS POR ESCOLARES ALFABÉTICOS<br />
LIZA GUTIERREZ<br />
GABRIELE DONICHT<br />
FÓRUM PERMANENTE: A CONSTRUÇÃO DE SABERES COLE-<br />
TIVOS POR MEIO DA LINGUAGEM<br />
RAIANNY LIMA SOARES<br />
LOURENA MARIA DOMINGOS DA SILVA<br />
COMUNICAÇÕES 43 – SALA 212C<br />
CINE CUICA: OUTRA LINGUAGEM PARA INCLUSÃO NA CUL-<br />
TURA<br />
GUILHERME BIZZI GUERRA<br />
PALAVRA E IMAGEM: A LEITURA NOS SUPORTES TECNOLÓ-<br />
GICOS<br />
JOÃO PEDRO RODRIGUES SANTOS<br />
72
ELENICE MARIA LARROZA ANDERSEIN (ORIENTADOR)<br />
APRENDIZAGEM PRECOCE DE L2 E DESENVOLVIMENTO<br />
COGNITIVO<br />
KATIELE NAIARA HIRSCH<br />
AUTONOMIA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DESTA<br />
PRÁTICA PELO ALUNO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)<br />
LAÍS AMÉLIA RIBEIRO DE SIQUEIRA<br />
COMUNICAÇÕES 44 – SALA 213C<br />
ACESSO LEXICAL NA PRODUÇÃO DE FALA BILÍNGUE EM<br />
REGIÃO DE FRONTEIRA - BRASIL/URUGUAI<br />
LEANDRA FAGUNDES<br />
MÁRCIA ZIMMER<br />
A REVISTA LETRAS/UFSM E O ENSINO DE LÍNGUA PORTU-<br />
GUESA<br />
LETÍCIA SCHULER GONÇALVES<br />
CONTROLE INIBITÓRIO E REDES DE ATENÇÃO: AS DIFEREN-<br />
ÇAS ENTRE CÉREBROS BILÍNGUES E MONOLÍNGUES<br />
LISANDRA RUTKOSKI RODRIGUES<br />
O SENTIDO DA LINGUAGEM ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE<br />
AUTONARRATIVAS (RELATOS)<br />
MARA LUIZA MACHADO IDALENCIO ABATTI<br />
COMUNICAÇÕES 45 – SALA 216C<br />
O PAPEL DA AUTOAVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-<br />
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA<br />
MARIANA DE MELLO PEREIRA<br />
SIMONE SILVA PIRES DE ASSUMPÇÃO<br />
A ARGUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÕES METAFÓRI-<br />
CAS EM FOLDERES TURISTICOS<br />
NATALIA DE SOUSA ALDRIGUE<br />
LUCIENNE ESPINDOLA<br />
FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA PRAGMÁTICA: REFLEXÃO<br />
E AÇÃO NO ENSINO DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEX-<br />
TOS EM INGLÊS INSTRUMENTAL<br />
73
RITA ANGÉLICA DE OLIVEIRA LUZ<br />
MÚSICA E COGNIÇÃO: INTERFACES CULTURAIS, SOCIAIS E<br />
INTERTEXTUAIS<br />
SIMONE CONTI DE OLIVEIRA<br />
COMUNICAÇÕES 46 - SALA 221C<br />
COMPREENSÃO DE TEXTOS EM L1 E L2: DIFERENÇAS, SEME-<br />
LHANÇAS E O PAPEL DA MEMÓRIA<br />
TALITA DOS SANTOS GONÇALVES<br />
A ABORDAGEM COMUNICATIVA DE LÍNGUAS NA FORMA-<br />
ÇÃO DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA<br />
TÁSSIA AVILA SILVA<br />
GRACIELE URRUTIA DIAS SILVEIRA<br />
TEACHING ENGLISH THROUGH PRACTICAL EXPERIENCE<br />
VIRGINIA PONCHE BARBOSA<br />
O PROCESSO DE LETRAMENTO DIGITAL DOS GESTORES NO<br />
PROJETO @NAVE<br />
ZAYRA BARBOSA COSTA<br />
BRENA SAMYLY SAMPAIO DE PAULA<br />
COMUNICAÇÕES 47 – SALA 230C<br />
MEMÓRIA, LINGUAGEM E TRADUÇÃO EM PEDRO PÁRAMO:<br />
UM ESTUDO COMPARATIVO A PARTIR DA ANÁLISE DO DIS-<br />
CURSO<br />
CAMILA DE CARLI<br />
VIOLÊNCIA NA INTERNET: UMA PERSPECTIVA DO CYBER-<br />
BULLYING NO FACEBOOK<br />
CAROLINA CAMPOS RODEGHIERO<br />
PROVÉRBIOS - A LEITURA,A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E O<br />
PROCESSO INFERENCIAL<br />
CÉSAR COSTA VITORINO<br />
74
PROJETO INTERFACE – VIVENCIAR É PRECISO, EM CONTEX-<br />
TO DIGITAL: ANÁLISE SOBRE A USABILIDADE DO SITE OFI-<br />
CIAL DA UNIPAMPA<br />
JOSÉ RICARDO DA COSTA<br />
COMUNICAÇÕES 48 – SALA 414C<br />
A POSIÇÃO-SUJEITO EM TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA: ELI-<br />
TE DA TROPA 2 E TROPA DE ELITE 2 - O INIMIGO AGORA É<br />
OUTRO<br />
FRANCIELE CASAGRANDA METZ<br />
A ALTERIADE E A SEMIÓTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA:<br />
UMA ANÁLISE DO LIVRO A CONQUISTA DA AMÉRICA, A<br />
QUESTÃO DO OUTRO, DE T. TODOROV<br />
JEAN PIERRE TEIXEIRA DA SILVA<br />
O PÔSTER ACADÊMICO SOB DIFERENTES ÓTICAS<br />
LUZIANE BOEMO MOZZAQUATRO<br />
GRACIELA RABUSKE HENDGES<br />
INTRODUÇÃO AO USO DE ADAPTAÇÕES LITERARIAS NA<br />
ESCOLA<br />
MARCOS VIEIRA<br />
COMUNICAÇÕES 49 – SALA 415C<br />
DISCURSO E LINGUAGEM PICTÓRICA: (IM)POSSIBILIDADES<br />
ANALÍTICAS?<br />
MARIA THEREZA VELOSO<br />
O GÊNERO NOTÍCIA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA: UM O-<br />
LHAR PARA ALÉM DO VERBAL<br />
PÂMELA MARIEL MARQUES<br />
GRACIELA RABUSKE HENDGES (ORIENTADOR)<br />
O TEXTO NO ESTRUTURALISMO E NO PÓS ESTRUTURALIS-<br />
MO: O PENSAMENTO DE ROLAND BARTHES E JONATHAN<br />
CULLER<br />
75
TÂNIA REGINA BARBOSA DE SOUSA<br />
IMAGENS E AVALIAÇÃO: COMO SÃO REPRESENTADOS PE-<br />
LOS DISCENTES OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DE LÍN-<br />
GUA INGLESA<br />
VITÓRIA MARIA AVELINO DA SILVA PAIVA<br />
COMUNICAÇÕES 50 – SALA 204B<br />
BILINGUISMO E APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS POR INDÍ-<br />
GENAS DE DOURADOS, MS<br />
ADILSON CREPALDE<br />
LETRAMENTO DIGITAL E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA IN-<br />
GLESA: EXPLORANDO O RECURSO PODCAST<br />
ADILSON FERNANDES GOMES<br />
SUSANA CRISTINA DOS REIS<br />
A LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO SUPERIOR EM CURSOS<br />
QUE NÃO DE LETRAS<br />
AMANDA CANTERLE BOCHETT<br />
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA<br />
ENSINO DE LIBRAS COMO L2 NA UFPEL: EXPERIÊNCIA DA<br />
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA ABOR-<br />
DAGEM COMUNICATIVA<br />
ANGELA NEDIANE DOS SANTOS<br />
IVANA GOMES DA SILVA<br />
COMUNICAÇÕES 51 – SALA 206B<br />
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DOCUMENTO OFICIAL DE EDU-<br />
CAÇÃO LINGUÍSTICA<br />
BETYNA FACCIN PREISCHARDT<br />
DÉSIRÉE MOTTA ROTH (ORIENTADORA)<br />
A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL NAS SÉRIES INICIAIS:<br />
UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA<br />
CARINE MARIA ANGST<br />
FRANCIELI HEINECK<br />
76
CARTA-RESPOSTA COMO GÊNERO CATALISADOR DA FOR-<br />
MAÇÃO DOCENTE: TECENDO LINHAS ENTRE TEORIA E PRÁ-<br />
TICA<br />
CLARA DORNELLES<br />
MARA LUIZA MACHADO IDALENCIO ABATTI<br />
UM LETRAMENTO ESPECIAL: O DOS PORTADORES DE SÍN-<br />
DROME DE DOWN<br />
CLÁUDIA MADALENA FEISTAUER<br />
COMUNICAÇÕES 52 – SALA 208B<br />
UM BILHETE PARA MIM? ESCRITA DE BILHETES POR JOVENS<br />
COM SÍNDROME DE DOWN<br />
CLAUDIA MORAES DAL MOLIN<br />
THAIANY D'AVILA ROSA<br />
GILSENIRA DE ALCINO RANGEL<br />
O IMPORTANTE PAPEL DA LEITURA NA PRÁTICA DOCENTE<br />
CLEIDE INÊS WITTKE<br />
ALESSANDRA BALDO<br />
AUTORES, TÍTULOS E GÊNEROS DA LEITURA NA ESCOLA<br />
CRISTINA MARIA ROSA<br />
COMUNICAÇÕES 53 – SALA 213B<br />
REPRESENTAÇÕES DE LETRAMENTO NO CONTEXTO ESCO-<br />
LAR: PRIMEIRAS IMPRESSÕES<br />
ELISEU ALVES DA SILVA<br />
ENTROU NUMA PERNA DE PATO E SAIU NUMA DE PINTO,<br />
QUEM QUISER QUE CONTE CINCO: A CONSTRUÇÃO DO PRO-<br />
CESSO DE ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS<br />
ELZILANE DA PAIXÃO NASCIMENTO<br />
PROPOSTA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS COM BASE NAS<br />
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DE ENSINO E APRENDI-<br />
ZAGEM DE ILE<br />
FERNANDA LOPES SILVA ZIEGLER<br />
77
DÉSIRÉE MOTTA ROTH (ORIENTADORA)<br />
UM OLHAR SOBRE A INTERAÇÃO ESCRITA ENTRE PROFES-<br />
SORA E ALUNOS NA AULA DE PORTUGUÊS<br />
FERNANDA TAÍS BRIGNOL GUIMARÃES<br />
COMUNICAÇÕES 54 – SALA 215B<br />
A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL NAS SÉRIES INICIAIS:<br />
UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA<br />
FRANCIELI HEINECK<br />
CARINE MARIA ANGST<br />
A REESCRITA DE BILHETES ORIENTADORES NA FORMAÇÃO<br />
INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: RELA-<br />
ÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA<br />
FRANCIELI MATZENBACHER PINTON<br />
A TRAGÉDIA GREGA E A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO EM SALA<br />
DE AULA<br />
GABRIELA ROCHA RODRIGUES<br />
O LETRAMENTO DIGITAL DO DOCENTE DE LÍNGUA MATER-<br />
NA: REPRESENTAÇÕES NAS ATIVIDADES DE LINGUAGEM<br />
NUMA ESCOLA CONTEMPLADA COM O PROUCA<br />
GISELE DOS SANTOS RODRIGUES<br />
78
DIA 4 DE OUTUBRO - (QUINTA-FEIRA) – 16H<br />
SIMPÓSIOS (Continuação)<br />
SIMPÓSIO 14 - SALA 304B<br />
LINGUAGEM, COGNIÇÃO E ENSINO<br />
LILIANE DA SILVA PRESTES-RODRIGUES (COORDENADORA)<br />
LUIZ FERNANDO MATOS ROCHA (COORDENADOR)<br />
A história recente da Linguística é fortemente marcada por uma consi<strong>de</strong>rável<br />
diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> visões acerca do fenômeno linguístico, do que<br />
<strong>de</strong>corre a coexistência <strong>de</strong> muitas teorias, bem como uma profusão terminológica<br />
e metodológica que parece distanciar os pesquisadores entre<br />
si. Para muitos, isso se <strong>de</strong>ve ao fato <strong>de</strong> a linguagem ser “um objeto <strong>de</strong><br />
tal complexida<strong>de</strong> que todas as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abordagem serão sempre<br />
parciais” (BORGES NETO, 2004, p. 68). Para o caminho contrário,<br />
muitos pesquisadores têm <strong>de</strong>senvolvido visões integradoras <strong>de</strong> áreas da<br />
linguística através <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong> interface. Nesse contexto, este simpósio<br />
congrega investigadores preocupados com os limites e possibilida<strong>de</strong>s<br />
que se colocam, tanto em termos teóricos quanto analíticos, na<br />
relação entre estudos sobre cognição e o ensino <strong>de</strong> língua materna e<br />
língua estrangeira. A razão precípua para esse movimento é o entendimento<br />
<strong>de</strong> que os avanços em Linguística Cognitiva têm muito a contribuir<br />
em relação a diferentes questões ligadas ao processo ensinoaprendizagem,<br />
possibilitando o entrecruzamento <strong>de</strong> produções científicas<br />
e práticas pedagógicas. Quanto à metodologia, o simpósio está<br />
aberto a pesquisas <strong>de</strong> base empírica, focadas nos registros orais e escritos<br />
da linguagem, e suas implicações no ensino. Este simpósio constitui-se,<br />
portanto, em um espaço acadêmico e científico amplo e instigador<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>bates. Desta maneira, estar-se-á incentivando a construção <strong>de</strong><br />
alternativas para práticas em sala <strong>de</strong> aula, visando a uma maior inclusão<br />
e participação dos alunos no processo.<br />
79
Palavras-chave: COGNIÇÃO, ENSINO, TEORIAS LINGUÍSTICAS.<br />
CONSTRUÇÕES DE MOVIMENTO FICTIVO EM PORTUGUÊS<br />
DO BRASIL<br />
ALINE BISOTTI DORNELAS<br />
A CONSTRUÇÃO CONCESSIVA PERSPECTIVIZADORA “PARA<br />
X Y” NO ÂMBITO DA ESCRITA E DA FALA EM PB: LEVANTA-<br />
MENTOS INICIAIS<br />
GABRIELA DA SILVA PIRES<br />
SEMÂNTICA DE FRAMES E O COMPORTAMENTO DE ADVÉR-<br />
BIOS ASPECTUALIZADORES DE REITERAÇÃO<br />
LILIANE DA SILVA PRESTES-RODRIGUES<br />
AUTOCITAÇÃO FICTIVA: COGNIÇÃO E CORPUS<br />
LUIZ FERNANDO MATOS ROCHA<br />
O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E GANHOS COGNITI-<br />
VOS<br />
MARTA HELENA TESSMANN BANDEIRA<br />
FRAMES, DISCURSO E CIDADANIA<br />
NEUSA SALIM MIRANDA<br />
TENDÊNCIAS ENTOACIONAIS DE CONSTRUÇÕES DE DIS-<br />
CURSO REPORTADO<br />
PATRÍCIA RIBEIRO DO VALLE COUTINHO<br />
CIÊNCIAS COGNITIVAS E A EDUCAÇÃO PARA A LEITURA<br />
ROSANGELA GABRIEL<br />
SIMPÓSIO 15 – SALA 306B<br />
(MULTI)LETRAMENTOS: PRÁTICAS E LINGUAGENS SOCI-<br />
AIS EM CONTEXTOS ESCOLARES E ACADÊMICOS<br />
ADRIANA FISCHER (COORDENADORA)<br />
Os objetivos <strong>de</strong>ste Simpósio, inserido na linha temática “linguagens e<br />
letramentos: questões”, são: a) discutir e (re)configurar o que está se<br />
80
enten<strong>de</strong>ndo por (multi)letramentos em contextos escolares e acadêmicos<br />
no Brasil; b) caracterizar quais as implicações das diferentes práticas<br />
<strong>de</strong> oralida<strong>de</strong>, leitura (verbal e imagética) e escrita, nesses contextos,<br />
para os sujeitos e para suas comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prática. Esses objetivos<br />
visam oferecer contribuições, advindas <strong>de</strong> pesquisas em torno <strong>de</strong> práticas<br />
e linguagens sociais, para a atuação pedagógica/linguística em escolas<br />
e universida<strong>de</strong>s, bem como para (re)dimensionar os sentidos na<br />
Linguística Aplicada, a partir <strong>de</strong> estudos sobre (multi)letramentos na<br />
perspectiva sociocultural (Gee, 1999, 2001, 2005; Barton e Hamilton,<br />
2000; Zavala, 2010, Kleiman, 2010, Rojo, 2012). Nessa direção, os<br />
estudos sobre os (multi)letramentos (Mills, 2006; New London Group,<br />
2000; Rojo, 2008, 2012; Lemke, 2010), na <strong>Educação</strong> Básica e no Ensino<br />
Superior, vêm privilegiar os sentidos, os diversos modos <strong>de</strong> interação,<br />
as questões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, a diversida<strong>de</strong> cultural e linguística, os<br />
textos associados a informações e tecnologias multimídias, as vozes, os<br />
posicionamentos críticos dos sujeitos e as relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. Dados<br />
advindos <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong> caso e/ou <strong>de</strong> pesquisas do tipo etnográfico têm<br />
contribuído para que resultados sejam <strong>de</strong>batidos, em âmbito brasileiro,<br />
os quais discutem, polemizam e encaminham propostas capazes <strong>de</strong><br />
conceber e posicionar os estudantes como participantes engajados em<br />
práticas escolares e acadêmicas <strong>de</strong> letramento. Nesse sentido, o presente<br />
Simpósio tem o intuito <strong>de</strong> colocar em contato resultados <strong>de</strong> pesquisas<br />
nessa vertente sociocultural dos (multi)letramentos, consi<strong>de</strong>rando os<br />
objetivos inicialmente apresentados nesta proposta.<br />
RELAÇÕES DE PODER EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACA-<br />
DÊMICO EM CURSOS DE ENGENHARIA (PORTUGAL): O CASO<br />
DO GÊNERO RELATÓRIO DE PROJETO<br />
ADRIANA FISCHER<br />
(MULTI) LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFIS-<br />
SIONAL DE LETRAS<br />
CIBELE DA SILVA TRINDADE<br />
“O PODER INTEGRADOR DOS PROJETOS VIVENCIAIS E SEUS<br />
EFEITOS NO LETRAMENTO ESCOLAR”<br />
FRANCELI RODRIGUES DE SOUZA<br />
ANÁLISE TEXTUAL DE PRODUÇÕES AUTORREFLEXIVAS DE<br />
ALUNOS DE PEDAGOGIA: INTERFACE SOCIOCOGNITIVA DOS<br />
LETRAMENTOS ACADÊMICOS<br />
81
MÁRCIA MILLER GOMES DE PINHO<br />
“NÓS PEGA O PEIXE”: UMA ANÁLISE VISUAL DA CIÊNCIA<br />
LINGUÍSTICA NA MÍDIA<br />
RAQUEL BEVILAQUA<br />
O USO DA LINGUAGEM VERBAL NA INTERAÇÃO ENTRE OS<br />
PROFISSIONAIS E OS USUÁRIOS DE UMA BIBLIOTECA.<br />
RAQUEL DO PRADO FONTOURA PRIETSCH<br />
PRÁTICAS DE LETRAMENTO PEDAGÓGICO NO PIBID: ANÁ-<br />
LISE DA TRAVESSIA DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO<br />
SILVANIA FACCIN COLAÇO<br />
LETRAMENTOS VISUAIS EM PROPOSTAS DE LEITURA DE UM<br />
LIVRO DIDÁTICO DO 1O ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:<br />
UMA ANÁLISE, MUITAS POSSIBILIDADES<br />
TRÍCIA TAMARA BOEIRA DO AMARAL<br />
AS PRÁTICAS LEITORAS DE ACADÊMICAS DE PEDAGOGIA<br />
VERONICE CAMARGO DA SILVA<br />
SIMPÓSIO 16 – SALA 402B<br />
O DISCURSO NO CRUZAMENTO DA HISTÓRIA COM A<br />
LÍNGUA: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE<br />
GLAUCIA DA SILVA HENGE (COORDENADORA)<br />
Neste simpósio propomos a discussão <strong>de</strong> diferentes perspectivas <strong>de</strong><br />
análise a partir <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong>s discursivas também distintas, permitindo<br />
assim a problematização do cruzamento da história com a língua<br />
no que é constitutivo dos processos discursivos. Esta aproximação<br />
teórico-metodológica promove a discussão acerca da textualida<strong>de</strong> enquanto<br />
materialida<strong>de</strong> significante e contribui <strong>de</strong> forma relevante para a<br />
formação docente, bem como para a dinamização das reflexões sobre as<br />
práticas sócio-históricas que permeiam o ambiente escolar. As comunicações<br />
que integram este simpósio são, portanto, duplamente afetadas<br />
pelo fazer téorico-analítico e pela sua relação com o ensino, apontando,<br />
pelo viés discursivo, possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> (re)pensar as práticas <strong>de</strong> ensino<br />
82
voltadas ao trabalho da/sobre a língua. Enriquecidas pela gama <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong>s<br />
em análise, as propostas selecionadas para este simpósio<br />
abordam diferentes modos em que língua e história constituem-se mutuamente,<br />
marcadas nos discursos sobre o corpo e sobre violência, nos<br />
discursos sobre a língua estrangeira e a mídia na escola e também nos<br />
discursos sobre a privacida<strong>de</strong> no espaço virtual. Ou seja, na re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
sentidos que emerge da relação fundante entre história e língua, abarcamos<br />
<strong>aqui</strong>, dadas as condições <strong>de</strong> produção, perspectivas analíticas <strong>de</strong><br />
aspectos importantes da contemporaneida<strong>de</strong>.<br />
DISCURSO E PRÁTICAS NO APARELHO ESCOLAR: MODOS<br />
DISTINTOS DE ASSUJEITAMENTO?<br />
ANGELA PLATH DA COSTA<br />
O IMAGINÁRIO DA LÍNGUA IDEAL E O "DIFERENTE" NA A-<br />
PRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
CAROLINE FOPPA SALVAGNI<br />
ARQUIVO, MEMÓRIA E AUTORIA: DISCURSOS SOBRE PRI-<br />
VACIDADE NA WEB<br />
GLAUCIA DA SILVA HENGE<br />
O TEXTO MIDIÁTICO EM SALA DE AULA: POSSIBILIDADES E<br />
LIMITES NO TRABALHO DE INTERPRETAÇÃO<br />
MAGDA REGINA LOURENÇO CYRRE<br />
“INGLÊS DA ESCOLA”: O IMAGINÁRIO DE LÍNGUA ESTRAN-<br />
GEIRA NO DISCURSO DE ALUNOS-PROFESSORES<br />
MICHELE TEIXEIRA PASSINI<br />
CORPO E SENTIDO: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NO DISCUR-<br />
SO TRANSEXUAL<br />
MÔNICA FERREIRA CASSANA<br />
AS LABUTAS PELO SENTIDO: ENTRE FALTAS E EXCESSOS,<br />
FECHAMENTOS E ABERTURAS<br />
PAULA DANIELE PAVAN<br />
OTRA VEZ #SOPA? O VERBAL E O VISUAL NA PRODUÇÃO DE<br />
SENTIDOS<br />
RENATA ADRIANA DE SOUZA<br />
83
MULHERES E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: SUJEITOS<br />
(RE)IDENTIFICANDO-SE PELA ESCRITA DE SI NA INTERNET<br />
VERÔNICA RODRIGUES TIMES<br />
SIMPÓSIO 17 – SALA 403B<br />
LEITURA E ESCRITA NO ÂMBITO DO DISCURSO<br />
CAROLINA FERNANDES (COORDENADORA)<br />
A linguagem, ao ser compreendida não como instrumento <strong>de</strong> comunicação,<br />
mas como materialida<strong>de</strong> do discurso, po<strong>de</strong> ancorar a prática<br />
pedagógica do professor tanto <strong>de</strong> língua materna quanto <strong>de</strong> língua estrangeira.<br />
Essa concepção é calcada na Análise do Discurso <strong>de</strong> tradição<br />
francesa, a qual enten<strong>de</strong> a linguagem enquanto política e i<strong>de</strong>ológica,<br />
opaca, cujos sentidos por ela colocados em circulação constituirão os<br />
sujeitos. Os sujeitos são colocados em posição ativa, pois interferem no<br />
processo <strong>de</strong> transformação dos sentidos em posição dominante, e, também,<br />
<strong>de</strong> submissão a eles. Sendo assim, o presente simpósio, ao ter<br />
como base a concepção <strong>de</strong> linguagem referida, preten<strong>de</strong> levantar reflexões<br />
no que tange à relação entre discurso (enquanto materialização da<br />
i<strong>de</strong>ologia) e as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e produção textual (enquanto práticas<br />
pedagógicas engajadas i<strong>de</strong>ologicamente). Os efeitos na constituição<br />
do sujeito po<strong>de</strong>m levá-lo a práticas engajadas com a i<strong>de</strong>ologia dominante,<br />
bem como questionadoras e contrárias a ela. Po<strong>de</strong>-se dizer que esse<br />
processo <strong>de</strong>termina a constituição <strong>de</strong> suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. Com essa reterritorialização<br />
do campo <strong>de</strong> estudo da linguagem, a Análise do Discurso<br />
<strong>de</strong> linha francesa reformula conceitos como os <strong>de</strong> sujeito, memória,<br />
interpretação e texto, proponho <strong>de</strong>safios teórico-metodológicos para o<br />
ensino <strong>de</strong> língua seja materna ou estrangeira.<br />
ANÁLISE DO PROCESSO DISCURSIVO DA ESCRITA POR IMA-<br />
GENS<br />
CAROLINA FERNANDES<br />
INTERAÇÃO NO ESPAÇO EDUCATIVO BINACIONAL: ‘USAN-<br />
DO A LÍNGUA DO OUTRO’<br />
CRISTINA ZANELLA RODRIGUES<br />
A POSSE DE DILMA ROUSSEFF NA PRESIDÊNCIA DO PAÍS:<br />
UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO OU ENUNCIATIVO?<br />
84
ERCILIA ANA CAZARIN<br />
ESCRITA ESTRANHA: INTERFERÊNCIA E REVERBERAÇÃO<br />
GIOVANI FORGIARINI AIUB<br />
PROFICIÊNCIA: LEITURA TÉCNICA OU LUGAR DE INTERPRE-<br />
TAÇÃO?<br />
INGRID GONÇALVES CASEIRA<br />
A PRÁTICA DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS<br />
NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM ESCOLAS<br />
DO SUDOESTE DO PARANÁ<br />
LUCIANA IOST VINHAS<br />
IMAGEM(NS) DE LÍNGUA(S) NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRON-<br />
TEIRA<br />
MARILENE APARECIDA LEMOS<br />
DA PINTURA VERBAL À PINTURA IMAGÉTICA: OU SOBRE O<br />
FUNCIONAMENTO DA AUTORIA NA TRADUÇÃO INTERSE-<br />
MIÓTICA<br />
PRISCILA CAVALCANTE DO AMARAL<br />
SIMPÓSIO 18 – SALA 404B<br />
REFLEXÕES SOBRE TEXTOS PERTINENTES AO TRABA-<br />
LHO DOCENTE<br />
MARCIA CRISTINA CORRÊA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio tem por objetivo reunir pesquisadores, cujos trabalhos<br />
estejam em andamento ou já tenham sido concluídos, que tomem como<br />
objeto <strong>de</strong> suas investigações textos pertinentes ao trabalho docente<br />
(texto <strong>de</strong> professores e <strong>de</strong> alunos; documentos oficiais, material/livro<br />
didático, textos que circulam na mídia, etc). As pesquisas <strong>de</strong>vem estar<br />
ancoradas nos pressupostos interacionistas da linguagem, principalmente<br />
a partir <strong>de</strong> Bakhitn, Vygotsky, Bronckart e Machado. Nessa perspectiva,<br />
a linguagem é vista como lugar <strong>de</strong> interação e, em função disso, os<br />
papéis <strong>de</strong> sujeito e <strong>de</strong> outro adquirem relevância e passam a interessar<br />
os indivíduos que ocupam esses papéis discursivos em situações reais<br />
<strong>de</strong> interlocução historicamente situadas. A relevância da proposta <strong>de</strong>ste<br />
85
simpósio <strong>de</strong>ve-se ao fato da necessida<strong>de</strong> do estudo do papel da prática<br />
<strong>de</strong> linguagem (agir discursivo) em situações <strong>de</strong> trabalho, no caso, trabalho<br />
docente. Muitas pesquisas na área da Linguística Aplicada têm sido<br />
<strong>de</strong>senvolvidas no Brasil investigando as características dos diversos<br />
textos produzidos no e sobre o trabalho docente e discutindo as representações<br />
e avaliações sobre esse trabalho. Para isso, tem-se tomado<br />
como objeto <strong>de</strong> estudo textos orais e escritos produzidos no e sobre o<br />
trabalho docente. Este simpósio preten<strong>de</strong> acolher trabalhos pertinentes a<br />
essa perspectiva e estabelecer um espaço <strong>de</strong> discussão sobre o assunto.<br />
Palavras-chave: trabalho docente – interacionismo - representações<br />
REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NO SISTEMA<br />
DE ENSINO MILITAR A PARTIR DA PERSPECTIVA DO INTE-<br />
RACIONISMO SOCIODISCURSIVO<br />
ADRIANA SILVEIRA BONUMÁ<br />
REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ATIVIDADE DO<br />
PROFESSOR<br />
ANA CECILIA TEIXEIRA GONÇALVES<br />
REPRESENTAÇÕES DO “SER PROFESSOR” POR PROFESSORES<br />
DE LP EM FORMAÇÃO: APROXIMAÇÕES INICIAIS<br />
CRISTIANO EGGER VEÇOSSI<br />
PONTO DE PARTIDA: O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR DE<br />
LÍNGUA MATERNA?<br />
FABIANA VELOSO DE MELO DAMETTO<br />
PARA O ALUNO DE LETRAS, SER PROFESSOR É...<br />
MARCIA CRISTINA CORRÊA<br />
O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E O TRABALHO DO-<br />
CENTE: UMA ANáLISE DO PROJETO LIçõES DO RIO<br />
GRANDE<br />
MICHELE MENDES ROCHA<br />
OS GÊNEROS E O ENSINO: REFLEXÕES ACERCA DO LIVRO<br />
DIDÁTICO;<br />
RAQUEL DA SILVA GOULARTE<br />
TRABALHO DOCENTE E O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS<br />
86
ROSAURA MARIA ALBUQUERQUE LEÃO<br />
PORTFÓLIO: UM INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA PRODU-<br />
ÇÃO ESCRITA<br />
VAIMA REGINA ALVES MOTTA<br />
REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE DE PROFESSORES DE<br />
LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO NUMA PERSPECTIVA<br />
INTERACIONISTA<br />
WENDEL DOS SANTOS LIMA<br />
SIMPÓSIO 19 – SALA 406B<br />
ENSINO E PESQUISA EM REGIÕES DE FRONTEIRA: PRÁ-<br />
TICAS DISCURSIVAS E SOCIAIS<br />
VALESCA BRASIL IRALA (COORDENADORA)<br />
ELIANA ROSA STURZA (COORDENADORA)<br />
Este simpósio tem como objetivo reunir trabalhos que versem sobre o<br />
que Sturza (2006, 2009)<strong>de</strong>nominou “espaço <strong>de</strong> enunciação fronteiriço”,<br />
um lugar tanto simbólico quanto material que interpela diferentes pesquisadores<br />
a discutirem, entre outros aspectos, os seguintes: as manifestações<br />
linguísticas, tanto <strong>de</strong> tradição oral quanto escrita, próprias<br />
do“entre-línguas-entre-culturas” fronteiriço (cf. CORACINI, 2007); os<br />
registros fronteiriços que revelam uma historicida<strong>de</strong> singular(cf. MO-<br />
TA, 2010; STURZA, 2010); as práticas educacionais fronteiriças, levando<br />
em conta questões como a do biletramento, do ensino <strong>de</strong> segundas<br />
línguas e da <strong>aqui</strong>sição da escrita. Com esse simpósio, objetivamos<br />
marcar e consolidar um vasto campo <strong>de</strong> investigação que vem se <strong>de</strong>senvolvendo<br />
no país e em países vizinhos, levando em conta especialmente<br />
a condição <strong>de</strong> “inesgotabilida<strong>de</strong>” (cf. ELIZAINCÍN, 2008, p.65) convocada<br />
pelo tema fronteiriço, notadamente <strong>de</strong> caráter político, simbólico<br />
e social. Se tradicionalmente falar <strong>de</strong> “fronteira” significava marcar<br />
uma inevitável assimetria <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>lo “centro” versus o“resto” (em<br />
que a fronteira ocuparia esse segundo pólo), hoje é possível vislumbrar(bem<br />
como dar visibilida<strong>de</strong> a um processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sdicotomização em<br />
curso, o qual é capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong> re-situar à(s) fronteira(s) em uma dinâmica<br />
própria, que re<strong>de</strong>senha instâncias <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r com estratégias estéticas,<br />
políticas e cotidianas diversas e, ao mesmo tempo, ocupar no meio<br />
acadêmico um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque antes inexistente.<br />
87
ZONA RURAL FRONTEIRIÇA CERRILLADA/SERRILHADA: UM<br />
OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS<br />
BRUNA SUSEL GULART ANTUNES<br />
A FRONTEIRA PELA PERSPECTIVA DO ENSINO: IMAGINÁ-<br />
RIOS, CURRÍCULO E ATITUDES<br />
DOUGLAS LEMOS DE QUADROS<br />
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA NA<br />
FRONTEIRA: CONSIDERAÇÕES<br />
ISAPHI MARLENE JARDIM ALVAREZ<br />
SER OU NÃO SER BILÍNGUE: ATITUDES LINGUÍSTICAS DE<br />
ESTUDANTES DE ACEGUÁ BRASIL/URUGUAI<br />
JOCIELE CORRÊA<br />
ESCREVER EM LÍNGUA ADICIONAL: UMA OPÇÃO RETÓRICA<br />
KATIA VIEIRA MORAIS<br />
“EN EL RECREO SÍ, EN LAS CLASES NO”: SERÁ A ESCOLA<br />
UMA FRONTEIRA ENTRE AS LÍNGUAS?<br />
LUCIANA VARGAS RONSANI<br />
DA FRONTEIRA-LIMITE A SITUAÇÕES SOCIAIS DE FRONTEI-<br />
RA: UMA REFLEXÃO CONCEITUAL<br />
SARA DOS SANTOS MOTA<br />
POESIA DA FRONTEIRA<br />
URUGUAY CORTAZZO<br />
O SUJEITO FRONTEIRIÇO E SUA RELAÇÃO COM A ESCRITA:<br />
UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA<br />
VALESCA BRASIL IRALA<br />
88
DIA 5 DE OUTUBRO - (SEXTA-FEIRA) – 11H30M<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 55 – SALA 207C<br />
ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DO ARTIGO AUDIOVISUAL<br />
GRACIELA RABUSKE HENDGES<br />
A FORMACAO DE LEITORES CRÍTICOS NA ESCOLA<br />
GRACIELE URRUTIA DIAS SILVEIRA<br />
O CINEMA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
HEVERTON SCHIMITZ LOPES<br />
LILIANA PANICK FERREIRA MOREIRA<br />
QUESTÕES DE LEITURA: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS LI-<br />
VROS DIDÁTICOS<br />
JONAS DOS SANTOS (BOLSISTA PIBID)<br />
ADRIANA NASCIMENTO BODOLAY<br />
COMUNICAÇÕES 56 – SALA 212C<br />
LETRAMENTO MULTIMODAL NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍN-<br />
GUA INGLESA<br />
JOSÉ FERREIRA MACHADO JUNIOR<br />
GRACIELA RABUSKE HENDGES (ORIENTADOR)<br />
LETRAMENTO LITERÁRIO: CRIANÇAS, LIVROS, DIÁLOGOS<br />
LARISSA QUINTANA DE OLIVEIRA<br />
O CINEMA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
LILIANA PANICK FERREIRA MOREIRA<br />
HEVERTON SCHIMITIZ<br />
LETRAMENTO LITERÁRIO: POESIA NA EDUCAÇÃO DE JO-<br />
VENS E ADULTOS<br />
LUCIENE FONTÃO<br />
89
COMUNICAÇÕES 57 – SALA 213C<br />
A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA MATERNA NA SALA DE AULA<br />
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
MÁRCIA TAVARES CHICO<br />
SÍLVIA COSTA KURTZ DOS SANTOS<br />
OFICINAS DE LETRAMENTOS DIGITAIS: ELABORAÇÃO DE<br />
HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO INSTRUMENTO DE ENSI-<br />
NO-PRENDIZAGEM<br />
MARIA CAMILA BARROS ALCÂNTARA<br />
JÚLIO CÉSAR DE ROSA ARAÚJO<br />
A ESCRITA E A PALAVRA NO MUNDO DA INFÂNCIA: PRO-<br />
POSTAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL<br />
MARIA CRISTINA MADEIRA<br />
RITA DE CÁSSIA TAVARES MEDEIROS<br />
MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-<br />
TOS<br />
MARIA IDERLANDIA FERREIRA LIMA<br />
LUIZ CARLOS SOUZA BEZERRA<br />
COMUNICAÇÕES 58 – SALA 216C<br />
LITERATURA: UM INSTRUMENTO PARA O LETRAMENTO E<br />
PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS<br />
MARIANA JANTSCH DE SOUZA<br />
GABRIELA ROCHA RODRIGUES<br />
A APROPRIAÇÃO DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS EM UM<br />
PROJETO DE LETRAMENTO<br />
MARIANE PEREIRA ROCHA<br />
A DIMENSÃO IDEACIONAL EM ARTIGOS ACADÊMICOS AU-<br />
DIOVISUAIS<br />
MAUREN MATA DE SOUZA<br />
GRACIELA RABUSKE HENDGES (ORIENTADOR)<br />
90
LEITURA DE IMAGENS: O LIVRO INFANTIL E O LETRAMEN-<br />
TO LITERÁRIO<br />
MITIZI GOMES<br />
COMUNICAÇÕES 59 – SALA 221C<br />
LETRAMENTO E EMANCIPAÇÃO HUMANA: A PROPOSTA<br />
CONTRA-HEGEMÔNICA DA EDUCAÇÃO POPULAR<br />
PRISCILA MONTEIRO CHAVES<br />
CRISTIANO GUEDES PINHEIRO<br />
PRÁTICAS SOCIAIS DE LETRAMENTO NUM ESPAÇO MULTI-<br />
LINGUE- UMA RESERVA INDÍGENA E TRÊS LÍNGUAS<br />
SANDRA ESPINDOLA<br />
COGNISFERA, ENSINO E APRENDIZAGEM: LETRAMENTOS<br />
NA ERA COMPUTACIONAL<br />
SILVIA REGINA GOMES MIHO (UFGD)<br />
SURDOS E LÍNGUA PORTUGUESA: CONCEITOS E DESAFIOS<br />
DESTA RELAÇÃO EM CONSTRUÇÃO<br />
VIANA, JOSEANE MACIEL<br />
COMUNICAÇÕES 60 – SALA 230C<br />
CINEMA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O PROCESSO ENSINO<br />
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA LINGUAGEM MIDIÁTICA<br />
ADRIANA AIRES PEREIRA<br />
MARIA CRISTINA RIGÃO IOP<br />
COMUNIDADE VIRTUAL DE PRÁTICA E COMUNIDADE VIR-<br />
TUAL DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS E DIFERENÇAS<br />
ADRIANE RODRIGUES CORRÊA<br />
JOSÉ EDUARDO NUNES DE VARGAS<br />
LUCIANE SENNA FERREIRA<br />
IMAGEM, SOM E MOVIMENTO: FERRAMENTAS DA INTERNET<br />
COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA<br />
ALEXANDRE ALVES SANTOS<br />
JESIEL SOARES SILVA<br />
91
TECNOLOGIA E IDENTIDADE DOCENTE: O PROFESSOR DE<br />
LÍNGUA MATERNA NA ERA DA CIBERCULTURA<br />
ANA PAULA DE ARAUJO CUNHA<br />
JULIO MARIO DA SILVEIRA MARCHAND<br />
COMUNICAÇÕES 61 – SALA 414C<br />
PRATICANDO RESENHA POR MEIO DA CRIAÇÃO DE SLIDES<br />
INTERATIVOS COM OS LAPTOPS DO PROJETO UM COMPU-<br />
TADOR POR ALUNO.<br />
ANA PAULA DE DEUS MESCK<br />
LITERATURA “ALWAYS ON” NA PLATAFORMA TWITTER:<br />
ANÁLISE DE MINI CONTOS<br />
ÂNDERSON MARTINS PEREIRA<br />
A PRODUÇÃO DE OAS NA WEB: ANALISANDO REPOSITÓRIOS<br />
VIRTUAIS<br />
ANDRÉ FIRPO BEVILÁQUA<br />
ALAN RICARDO COSTA<br />
REFLEXÕES SOBRE CRENÇAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:<br />
PONTOS A CONSIDERAR<br />
ANGÉLICA ILHA GONÇALVES<br />
MARIA TEREZA NUNES MARCHESAN (ORIENTADOR)<br />
COMUNICAÇÕES 62 – SALA 415C<br />
RESSIGNIFICANDO A ESCRITA: A INTERAÇÃO NA CONSTRU-<br />
ÇÃO DO TEXTO COMO IMAGEM NA TELA<br />
ANGÉLICA PREDIGER<br />
VOCES - REPOSITORIO DE VARIANTES GEOGRÁFICAS DEL<br />
ESPAÑOL<br />
ANGELISE FAGUNDES<br />
MARCUS VINICIUS LIESSEM FONTANA<br />
O TWITTER COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM EM<br />
SALA DE AULA<br />
ANTONIA ZAGO (FAABA)<br />
GABRIELA DA SILVA ZAGO (UFRGS)<br />
92
COMUNICAÇÕES 63 – SALA 204B<br />
OS NÓS DA EDUCAÇÃO NO MUNDO EM REDE<br />
ANTÔNIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLÊ<br />
MATHEUS LOKSCHIN HEBERLÊ<br />
BLOG: CONTEXTO HISTÓRICO E POTENCIALIDADES DE USO<br />
NA EDUCAÇÃO<br />
BRENA SAMYLY SAMPAIO DE PAULA<br />
ZAYRA BARBOSA COSTA<br />
FILMES CULT E INTERPETAÇÃO DE TEXTOS<br />
CLAUDETE MORENO GHIRALDELO<br />
PROFESSOR/TUTOR – A IMPORTÂNCIA DO SEU PAPEL NO<br />
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA MODALIDADE<br />
EAD<br />
CLAUDIA FUMACO<br />
COMUNICAÇÕES 64 – SALA 206B<br />
AUDIOTECA VIRTUAL HISPANICA: ESPAÇO DE LITERATURA<br />
INCLUSIVA<br />
CRISTIANE MARIA ALVES<br />
ANGELISE FAGUNDES<br />
O POTENCIAL DA LEITURA DE HIPERTEXTOS NAS AULAS DE<br />
LITERATURA BRASILEIRA<br />
DANIELLI BROONDANI SEVERO<br />
FABIANE SARMENTO OLIVEIRA FRUET (ORIENTADORA)<br />
TICS E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
DESIRÊ MENEZES LEAL GOULART<br />
ELIANA ROSA<br />
AS TICS NO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO/RS<br />
ELENICE PACHECO TERRA<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO (ORIENTADOR)<br />
93
COMUNICAÇÕES 65 – SALA 208B<br />
AS TICS E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
ELIANA SILVEIRA ROSA<br />
DESIRÊ MENEZES LEAL GOULART<br />
WEBSITES EDUCACIONAIS: UMA POSSIBILIDADE<br />
ELVANDIR GUEDES GUIMARÃES<br />
FABIANE SARMENTO OLIVEIRA FRUET (ORIENTADORA)<br />
TRABALHANDO COM FOTOLIVROS PARA DESENVOLVER A<br />
COMPREENSÃO E O EMPREGO DE TEMPOS VERBAIS NO<br />
PRESENTE E NO PASSADO<br />
FABIANA SOARES DA SILVA<br />
ELENICE ANDERSEIN (ORIENTADOR)<br />
COMUNICAÇÕES 66 – SALA 213B<br />
REFLEXÕES SOBRE O PAPEL PEDAGÓGICO NO CONTEXTO<br />
DAS NOVAS TECNOLOGIAS<br />
FELIPE BONOW SOARES<br />
ANTÔNIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLÊ<br />
A INVESTIGAÇÃO DE ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS EM<br />
ATIVIDADES DE LEITURA DISPONIBILIZADAS EM PORTAIS<br />
EDUCACIONAIS PARA PROFESSORES<br />
FLÁVIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA<br />
PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM COMUNIDADE VIRTUAL:<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS<br />
GERSON BRUNO FORGIARINI DE QUADROS<br />
COMUNICAÇÕES 67 – SALA 215B<br />
TICS E APRENDIZAGEM COLABORATIVA: A CONTRIBUIÇÃO<br />
DA WEBQUEST NO ENSINO<br />
GLÊNIS MACHADO FERREIRA<br />
O JOGO DE LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN COMO EXERCÍ-<br />
CIO PARA OLHAR A INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO A<br />
DISTÂNCIA, APOIADA PELAS TECNOLOGIAS<br />
HELOISA HELENA DUVAL DE AZEVEDO<br />
94
LUCIANE SENNA FERREIRA<br />
ADRIANE RODRIGUES CORREA<br />
A UTILIZAÇÃO DA WEBQUEST COMO PROPOSTA INTERDIS-<br />
CIPLINAR NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: POSSIBILIDA-<br />
DES DE LETRAMENTO DIGITAL<br />
ILANNA MARIA IZAIAS DO NASCIMENTO<br />
DIA 5 DE OUTUBRO - (SEXTA-FEIRA) – 11H30M<br />
SIMPÓSIO 23 – SALA 306B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
PERSPECTIVAS NO ENSINO DE LÍNGUAS MEDIADO PELAS<br />
TECNOLOGIAS DIGITAIS<br />
VILSON JOSÉ LEFFA (COORDENADOR)<br />
O ensino mediado pelas tecnologias digitais po<strong>de</strong> ser caracterizado por<br />
associar diferentes objetos a diferentes instrumentos, na medida em que<br />
se preocupa não apenas com o fim a que se quer chegar, mas também<br />
com a análise dos meios disponíveis e mais a<strong>de</strong>quados para se chegar a<br />
esse fim. O simpósio proposto trata <strong>de</strong>sses dois eixos. Entre os fins,<br />
<strong>de</strong>stacam-se a leitura em ambiente digital, a produção <strong>de</strong> textos pelo<br />
aluno, a aprendizagem <strong>de</strong> línguas estrangeiras, a questão da autoria em<br />
dimensão global. Já, em relação aos meios, temos trabalhos sobre o uso<br />
da telefonia móvel, as sequências didáticas, os objetos <strong>de</strong> aprendizagem<br />
e a gestão dos acervos digitais. Trata-se, enfim <strong>de</strong> um tema complexo,<br />
das instâncias locais às globais, incluindo o papel da tecnologia na<br />
<strong>aqui</strong>sição do conhecimento, suas promessas <strong>de</strong> potencialização do ser<br />
humano e também seus perigos e ameaças.<br />
FERMENTAR IDEIAS E ARGUMENTOS ATRAVÉS DE SE-<br />
QUÊNCIAS DIDÁTICAS: APRENDER EM ANDAIMES VIA EAD<br />
ANA CLÁUDIA PEREIRA DE ALMEIDA<br />
APRENDENDO INGLÊS NA ERA DA MOBILIDADE: UMA ANÁ-<br />
LISE DO APLICATIVO “VOXY”<br />
LUCÍA SILVEIRA ALDA<br />
95
HAL 9000 MATOU A TRIPULAÇÃO OU DA IMPORTÂNCIA DO<br />
FATOR HUMANO NA EAD<br />
MARCUS VINICIUS LIESSEM FONTANA<br />
REFLEXÕES SOBRE LEITURA DIGITAL<br />
MARTINA CAMACHO BLAAS<br />
INTERAÇÃO E REDES NEURO-SOCIAIS: A COMPLEXIDADE<br />
NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS COM TECNOLOGIAS DIGI-<br />
TAIS<br />
RAFAEL VETROMILLE-CASTRO<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM: FOCO NA LINGUAGEM ESCRI-<br />
TA<br />
SIMONE CARBONI GARCIA<br />
CONTRIBUIÇÃO DOS FRACTAIS PARA A EDUCAÇÃO A DIS-<br />
TÂNCIA: UMA PERSPECTIVA BASEADA NOS SISTEMAS COM-<br />
PLEXOS<br />
VANESSA RIBAS FIALHO<br />
DO ALMOXARIFADO AO SHOWROOM: A MONTAGEM DOS<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM<br />
VILSON J. LEFFA<br />
SIMPÓSIO 24 – SALA 402B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
CORPOS FEMININOS E GÊNERO EM DISCURSO: REFLE-<br />
XÕES EM SALA DE AULA<br />
RENATA KABKE PINHEIRO (COORDENADORA)<br />
ELIANE TEREZINHA AMARAL CAMPELLO (COORDENADO-<br />
RA)<br />
O corpo feminino tem sido <strong>de</strong>scrito, representado e moldado por diferentes<br />
discursos e a mídia <strong>de</strong>sempenha papel inquestionável na chamada<br />
produção e normatização do corpo ao criar, reproduzir e fazer circular<br />
a noção do corpo i<strong>de</strong>al. Esse mo<strong>de</strong>lo i<strong>de</strong>al po<strong>de</strong> se alterar <strong>de</strong>vido à<br />
mudança <strong>de</strong> padrões estéticos, históricos e culturais. O discurso sobre o<br />
corpo é permanente, por isso, é necessário discuti-lo, questioná-lo e até<br />
mesmo buscar mudá-lo. As mulheres, quando representam o corpo<br />
96
feminino, constroem um espaço textual, para permitir que seus corpos<br />
sejam vistos/ouvidos. Essas representações trazem inscrições “gendradas”,<br />
<strong>de</strong> raça, classe e <strong>de</strong> diferenças sexuais. Abordaremos neste Simpósio<br />
discursos do corpo feminino, na autoria feminina, e suas respostas<br />
ao ambiente físico e às normas sociais. Essas representações encontram-se<br />
presentes em distintas esferas discursivas ─ literatura, cinema,<br />
história, teatro, revistas, jornais, mídia em geral ─, entre outras. Nosso<br />
objetivo é estabelecer um <strong>de</strong>bate em torno <strong>de</strong> questões <strong>de</strong> gênero acerca<br />
do corpo, a partir <strong>de</strong> fundamentos teóricos diversos, bem como das<br />
possibilida<strong>de</strong>s interpretativas e consequências, no âmbito da i<strong>de</strong>ologia,<br />
ao veicular esta representação em salas <strong>de</strong> aula.<br />
"ONDA DE CALOR" AFETANDO CORPOS MASCULINOS E FE-<br />
MININOS – ANÁLISE DE GÊNERO EM UMA FANFICTION DO<br />
FANDOM HARRY POTTER<br />
CATARINA MAITÊ MACEDO MACHADO BARBOZA<br />
“GORDAS, SIM, POR QUE NÃO?”: O DISCURSO DE MULHERES<br />
GORDAS NO BLOG MULHERÃO<br />
DANIELA SILVA AGENDES<br />
O CORPO ADOLESCENTE NO FILME: THE PRIME OF MISS<br />
JEAN BRODIE<br />
DANIELA VIEIRA PALAZZO<br />
CORPOS MARCADOS, EM BECOS DA MEMÓRIA, DE CONCEI-<br />
ÇÃO EVARISTO<br />
ELIANE TEREZINHA DO AMARAL CAMPELLO<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NO QUADRO A<br />
NEGRA DE TARSILA DO AMARAL<br />
LENITA VARGAS<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA DANÇA DO<br />
VENTRE, EM AMRIK, DE ANA MIRANDA<br />
LUISA KLUG GUEDES<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA ESCULTURA<br />
VERTUMNE ET POMONE, DE CAMILLE CLAUDEL<br />
NARA ELIANE PEREIRA LEAL<br />
97
"PRECIOSIDADE" DE CLARICE LISPECTOR: UMA LEITURA<br />
SOB O VIÉS DA ACD E DA CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA<br />
RENATA KABKE PINHEIRO<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO EM "EL VENDO<br />
HERIDO"<br />
RITA DE LIMA NÓBREGA<br />
SIMPÓSIO 25 – SALA 404B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
O LETRAMENTO DIGITAL E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO<br />
CÂNDIDA MARTINS PINTO (COORDENADORA)<br />
GABRIELA QUATRIN MARZARI (COORDENADORA)<br />
Socieda<strong>de</strong>s letradas cada vez mais complexas, sobretudo <strong>de</strong>vido às<br />
inúmeras possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> utilização da linguagem, são reflexo das<br />
mudanças tecnológicas emergentes no atual contexto sócio-histórico,<br />
consi<strong>de</strong>rando-se, principalmente, a presença maciça das tecnologias da<br />
informação e comunicação (TIC) na vida das pessoas e das instituições.<br />
Esse novo sistema <strong>de</strong> inter-ação é parte da revolução tecnológica que<br />
está remo<strong>de</strong>lando práticas sociais pré-concebidas, <strong>de</strong>sse modo, alterando<br />
as relações entre os indivíduos. Em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa nova or<strong>de</strong>m comunicativa<br />
(SNYDER, 2001), é preciso que os educadores atentem para as<br />
múltiplas linguagens e, por conseguinte, para os múltiplos letramentos a<br />
serem <strong>de</strong>senvolvidos, necessários à interação dos indivíduos em uma<br />
socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>finida como multicultural, a fim <strong>de</strong> que a educação assuma<br />
um papel significativo diante das <strong>de</strong>mandas comunicativas atuais. Parece<br />
fundamental, portanto, verificar qual é o impacto dos novos meios <strong>de</strong><br />
comunicação na escrita e nas práticas <strong>de</strong> letramento <strong>de</strong> aprendizes em<br />
geral. Para tanto, este simpósio tem por objetivo: a) discutir sobre o que<br />
se enten<strong>de</strong> por letramento digital em contextos escolares; b) refletir<br />
sobre o impacto das tecnologias na educação e como isso está afetando<br />
os letramentos dos aprendizes; c) i<strong>de</strong>ntificar práticas <strong>de</strong> letramento<br />
digital recorrentes na vida <strong>de</strong>sses indivíduos, estimuladas ou ignoradas<br />
pela escola; d) refletir sobre novas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e escrita,<br />
consi<strong>de</strong>rando as novas mídias e suas implicações na socieda<strong>de</strong> atual; e,<br />
por fim, e) vislumbrar possibilida<strong>de</strong>s futuras <strong>de</strong> ensino e aprendizagem<br />
em contextos diferenciados. Espera-se esclarecer conceitos relacionados<br />
à noção <strong>de</strong> letramento e, acima <strong>de</strong> tudo, repensar práticas e posturas<br />
adotadas por educadores e educandos como consequência <strong>de</strong>ssa nova<br />
98
or<strong>de</strong>m comunicativa, resultante <strong>de</strong> transformações associadas ao uso<br />
das TIC.<br />
Palavras-chave: Letramento digital; <strong>Educação</strong>; Comunicação; Impacto.<br />
UTILIZANDO O FACEBOOK COMO FERRAMENTA ALIADA NO<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DO INGLÊS<br />
CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS<br />
ESTADO DA ARTE DO LETRAMENTO DIGITAL: METANÁLISE<br />
QUALITATIVA DA INVESTIGAÇÃO BRASILEIRA<br />
CÂNDIDA MARTINS PINTO<br />
APRENDIZAGEM EM ORGANIZAÇÕES: COMUNIDADES DE<br />
PRÁTICA E LETRAMENTO DIGITAL<br />
CHRISTIANE HEEMANN<br />
O USO DO VÍDEO NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ES-<br />
TRANGEIRAS<br />
DAIANE WINTER<br />
HOME PAGE: UMA EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO DIGITAL<br />
ERICK KADER CALLEGARO CORRÊA<br />
CARLA CALLEGARO CORRÊA KADER<br />
IMPLICAÇÕES DO LETRAMENTO DIGITAL PARA A FORMA-<br />
ÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRAN-<br />
GEIRA<br />
GABRIELA QUATRIN MARZARI<br />
LETRAMENTO DIGITAL: BLOG EDUCACIONAL COMO SU-<br />
PORTE PARA MATERIALIZAÇÃO DE DIFERENTES GÊNEROS<br />
TEXTUAIS.<br />
JOSIANE DAVID MACKEDANZ<br />
LETRAMENTO DIGITAL E ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM<br />
MODALIDADE DE EAD<br />
JOSSEMAR DE MATOS THEISEN<br />
MÍDIA E EDUCAÇÃO: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM<br />
SALA DE AULA.<br />
99
SABRINE DENARDI DE MENEZES DA SILVA<br />
OS DESAFIOS DO LETRAMENTO DIGITAL NA FORMAÇÃO DE<br />
PROFESSORES DE LINGUAGENS<br />
VALERIA IENSEN BORTOLUZZI<br />
SIMPÓSIO 26 – SALA 406B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
IDEN(EN)TITATIS: O LOCUS NA DIFFÉRANCE<br />
HILARIO INACIO BOHN (COORDENADOR)<br />
O presente simpósio se propõe a refletir (re-flexo) sobre um tema tão<br />
antigo na história da Humanida<strong>de</strong> e, ao mesmo tempo, tão atual e <strong>de</strong>sconcertante<br />
na Pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> líquida: i<strong>de</strong>m + entida<strong>de</strong>, ser. É possível<br />
ser constante, igual, num mundo movido por transformações/metamorfoses?<br />
Você cria sua própria i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, não mais a herda,<br />
nos diz Bauman. Ela não é mais <strong>de</strong>finida pela nação (espaço geográfico<br />
e língua) a que se pertence, nem pelos outros ‘constrangimentos’ comandados<br />
pelas hierarquias sociais e-ou políticas. Isto, principalmente,<br />
tendo em vista que as questões coletivas enquanto nação i<strong>de</strong>ntitária, ou<br />
grupo social, per<strong>de</strong>ram seu espaço para as questões no mundo globalizado.<br />
Integrar é a palavra <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m para a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> hodierna. Com<br />
diferentes formas e estratégias <strong>de</strong> se constituir vive-se o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> criála<br />
na transição, na différance, no hiato, no vazio entre o i<strong>de</strong>m e o estranho<br />
que a cada momento se apresenta ao ser humano. Portanto, esta é a<br />
proposta da coor<strong>de</strong>nada, viver o vazio da reflexão (re-novamente, flexão-flexibilizar)<br />
co-construindo no <strong>aqui</strong> e agora do instante, outros<br />
espaços para um pensamento grupal e i<strong>de</strong>ntitário <strong>de</strong> colegas que, movidos<br />
pela pulsão do conhecimento, se propõem ao <strong>de</strong>safio das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
re-criadas/metamorfoseadas em diferentes lócus, inclusive as que se<br />
movem em torno do processo educacional.<br />
Palavras-chave: I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s), diversida<strong>de</strong>, grupo social, différance<br />
O (DES)ENCONTRO DE VOZES SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DA<br />
IRMANDADE NA FRONTEIRA JAGUARÃO/RIO BRANCO<br />
ALESSANDRA AVILA MARTINS<br />
A LINGUAGEM “INSINUA” AS INCOMPLETUDES PROFISSIO-<br />
NAIS DE SER ALUNO E FORMAR-SE PROFESSOR<br />
100
ELAINE NOGUEIRA DA SILVA<br />
AS IDENTIDADES RESSIGNIFICADAS DE ALUNOS PROEJA<br />
EVANIR PICCOLO CARVALHO<br />
AS IDENTIDADES DE PROFESSOR “DISCURSADAS” PELA IM-<br />
PRENSA BRASILEIRA<br />
HILÁRIO I. BOHN<br />
RE-PENSANDO O PENSAMENTO IDENTITÁRIO NA PÓS-<br />
MODERNIDADE<br />
LUCIA GRIGOLETTI<br />
LOS GÉNEROS DISCURSIVOS SON EL LOCUS DE LA IDENTI-<br />
DAD LINGÜÍSTICA<br />
MATILDE CONTRERAS<br />
A VIDA DE NELSON MANDELA NA CONCEPÇÃO DE SUJEITO<br />
SOCIOLÓGICO DE STUART HALL<br />
OLGA MARIA LIMA PEREIRA<br />
AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNO, ESCOLA E PROFESSORES<br />
NA ERA TECNOLÓGICA PELOS ATORES DA SALA DE AULA<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO<br />
SOBRE O “ESTRANGEIRO” NA LÍNGUA MATERNA: APRESEN-<br />
TAÇÕES IDENTITÁRIAS EM SALA DE AULA DE LEITURA EM<br />
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PRÓXIMAS<br />
VIRGINIA ORLANDO<br />
SIMPÓSIO 27 – SALA 408B<br />
(Continua à tar<strong>de</strong>)<br />
REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E AU-<br />
TORIA EM DIFERENTES AMBIENTES<br />
ADAIL UBIRAJARA SOBRAL (COORDENADOR)<br />
A partir do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> numerosas propostas teóricas e práticas<br />
<strong>de</strong> trabalho no campo das ciências humanas que lançam mão do conceito<br />
<strong>de</strong> sujeito, tanto em sua dimensão enunciativa (ligada à enunciação)<br />
como no plano enuncivo (ligado ao enunciado), as questões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>,<br />
subjetivida<strong>de</strong> e autoria vêm assumindo crescente importância nos<br />
101
estudos da linguagem, que parecem formar a cada dia novas interfaces<br />
com diversas outras áreas. Merece <strong>de</strong>staque o reconhecimento, a partir<br />
do conceito <strong>de</strong> sujeito, da existência <strong>de</strong> integração entre enunciados e<br />
situações <strong>de</strong> enunciação como instâncias em mútua pressuposição.<br />
Percebe-se assim um movimento <strong>de</strong> ampliação que faz essas propostas<br />
incorporarem a materialida<strong>de</strong> textual e ir além <strong>de</strong>la, Observa-se nesse<br />
sentido a presença constante <strong>de</strong> trabalhos que exibem não apenas diferentes<br />
perspectivas teóricas <strong>de</strong> abordar i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, subjetivida<strong>de</strong> e autoria<br />
-- num espectro que vai do mais estritamente linguístico ao quaseetnográfico,<br />
envolvendo ainda combinações <strong>de</strong> perspectivas -- como<br />
distintas metodologias e objetivos <strong>de</strong> pesquisa. Estes últimos tanto<br />
po<strong>de</strong>m ver em separado alguma <strong>de</strong>ssas questões como buscar integrálas<br />
a partir <strong>de</strong> um ou <strong>de</strong> um arcabouço teórico. Este simpósio propõe, a<br />
partir <strong>de</strong> um “mosaico” <strong>de</strong> algumas <strong>de</strong>ssas possibilida<strong>de</strong>s, uma discussão<br />
<strong>de</strong>ssas questões no âmbito <strong>de</strong> distintas perspectivas, e a partir <strong>de</strong><br />
diferentes objetos, com vistas a apresentar um mapeamento interdisciplinar<br />
provisório.<br />
Palavras-chave: Sujeito, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, subjetivida<strong>de</strong>, autoria, enunciação<br />
VILMAR TAVARES. UM LINGUISTA DE IMAGENS?<br />
CARLOS LEONARDO COELHO RECUERO<br />
MARCAS DISTINTIVAS E EXPLÍCITAS DE SUBJETIVIDADE NO<br />
APRENDIZADO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL<br />
EDOARDO PLETSCH<br />
VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO COMO TENTATIVA DE DE-<br />
MONIZAR IDENTIDADES EM UM SITE REDE SOCIAL<br />
LETÍCIA SCHINESTSCK<br />
INFLUENCIA DAS MARCAS DE SUBJETIVIDADE PARA A<br />
CONSTRUÇÃO E EXPRESSÃO DE IDENTIDADES EM UM AM-<br />
BIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM<br />
LÍGIA MARIA SAYÃO LOBATO DE COPPETTI<br />
A IMPORTÂNCIA DO PODER DE ENCANTAMENTO E DAS RE-<br />
LAÇÕES VINCULARES NA CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES<br />
APRENDENTES ENTRE PROFESSORES-ALUNO<br />
MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CUNHA NEVES<br />
102
FRONTEIRA JAGUARÃO- RIO BRANCO:ESPANHOL FALADO E<br />
IDENTIDADES “CONSTRUÍDAS”<br />
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA FARIAS-MARQUES<br />
“SER” E “ESTAR” PROFESSOR DE INGLÊS NA PÓS-<br />
MODERNIDADE: DICOTOMIA OU DIVERSIDADE?<br />
MARIA WALESKA SIGA PEIL<br />
DO TRABALHO COM O GÊNERO “NARRATIVA PESSOAL” À<br />
AUTORIA<br />
ROSANE CONCEIÇÃO LEFEBVRE<br />
SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE: INTERSECÇÕES EM BAKH-<br />
TIN<br />
VERA LÚCIA PIRES<br />
SIMPÓSIO 28 – SALA 403B<br />
O DISCURSO DA VIOLÊNCIA EM SITES DE REDES SOCIAIS:<br />
IMBRICAÇÕES E APONTAMENTOS<br />
RAQUEL DA CUNHA RECUERO (COORDENADORA)<br />
O surgimento dos sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong> social (boyd e Ellison, 2007) - SRSs,<br />
tais como o Facebook, Orkut e Twitter, impactou profundamente as<br />
relações entre os sujeitos na contemporaneida<strong>de</strong>. Mais do que reinscrever<br />
essas relações no ciberespaço, esses sites tornaram-se também veículos<br />
para a publicação dos discursos <strong>de</strong>sses atores, cuja manifestação é<br />
gravada, reverberada e replicada pelas re<strong>de</strong>s sociais. Neste ambiente as<br />
mais diversas formas <strong>de</strong> violência também se propagam pelos discursos<br />
que "navegam" na re<strong>de</strong>, seja através das conversações, seja através das<br />
próprias ferramentas e trazem impacto para o cotidiano da socieda<strong>de</strong>.<br />
Assim, imagens agressivas, mensagens preconceituosas e piadas violentas<br />
são comumente replicadas e espalhadas nessas ferramentas. Entretanto,<br />
por espalharem-se nos SRSs, esses discursos adquirem características<br />
especiais, como aquelas dos chamados "públicos em re<strong>de</strong>" (boyd,<br />
2008), tais como a replicabilida<strong>de</strong>, a buscabilida<strong>de</strong>, a presença <strong>de</strong> audiências<br />
invisíveis e, principalmente, a permanência. São, assim, formas<br />
<strong>de</strong> propagação <strong>de</strong> idéias que ficam gravadas, são reprodutíveis, buscáveis<br />
e atingem sujeitos que não estão diretamente conectados. E o impacto<br />
<strong>de</strong>sses discursos replicados e repassados a exaustão tem crescido<br />
e aparecido tanto em sala <strong>de</strong> aula quanto na própria mídia e trazido<br />
103
efeitos mais diretos para o cotidiano da socieda<strong>de</strong>. Este painel busca,<br />
assim, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>ste contexto, discutir as imbricações e os <strong>de</strong>safios gerados<br />
pela apropriação dos SRSs também como espaços discursivos e<br />
capazes <strong>de</strong> produzir atos <strong>de</strong> violência. A partir <strong>de</strong> uma perspectiva multidisciplinar,<br />
focando Análise do Discurso, Psicologia, <strong>Educação</strong> e<br />
Linguística Aplicada, o painel traz uma série <strong>de</strong> pesquisas que focam as<br />
questões do discurso e essa violência; o impacto <strong>de</strong>ssa violência no<br />
cotidiano da sala <strong>de</strong> aula; as formas <strong>de</strong> violência que aparecem e se<br />
espalham em nesses sites; e ainda, a violência na cultura da imagem e<br />
os jovens.<br />
CORPO E LINGUAGEM: PROCESSOS DISCURSIVOS DE AUTO-<br />
AGRESSÃO<br />
ARACY ERNST-PEREIRA<br />
JUVENTUDES: A VIOLÊNCIA DO VAZIO NA CULTURA DA<br />
IMAGEM<br />
CLEBER GIBBON RATTO<br />
O ESPALHAMENTO DA VIOLÊNCIA EM CONVERSAÇÕES NO<br />
FACEBOOK E SEU IMPACTO NO COTIDIANO DOS ATORES<br />
SOCIAIS<br />
RAQUEL DA CUNHA RECUERO<br />
ESPETACULARIZANDO A VIDA NOS SITES DE REDES SOCIAIS<br />
ROSÁRIA ILGENFRITZ SPEROTTO<br />
DIA 5 DE OUTUBRO - (SEXTA-FEIRA) – 17H30M<br />
COMUNICAÇÕES<br />
COMUNICAÇÕES 68 – SALA 204B<br />
A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS EM AMBIENTES<br />
DIGITAIS<br />
JAEL SCOTO MEIRELLES<br />
PAULA DA COSTA<br />
104
A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE INGLÊS ME-<br />
DIANTE AS NOVAS TIC: AÇÃO, REFLEXÃO E COLABORAÇÃO<br />
JESIEL SOARES SILVA<br />
PROGRAMA PIXTON: PROMOVENDO O LETRAMENTO MUL-<br />
TISSEMIÓTICO POR MEIO DA PRODUÇÃO DE TIRAS EM<br />
QUADRINHOS ONLINE<br />
JOANA D'ARC CAMARGO BORGES ACOSTA<br />
ANTÔNIA NILDA DE SOUZA<br />
ENTRE E A MÍDIA E A ESCOLA: NOVAS ABORDAGENS EDU-<br />
CACIONAIS PELO VIÉS CINEMATOGRÁFICO<br />
JOICE DO PRADO ALVES<br />
COMUNICAÇÕES 69 – SALA 206B<br />
CURSOS SUPERIORES EAD: ACESSIBILIDADE PARA QUEM?<br />
JULIANA ILHA CULAU<br />
FLE E AS NOVAS TECNOLOGIAS: O USO DO BUREAU VIRTU-<br />
AL NAS AULAS DE FRANCÊS<br />
KIZY DOS SANTOS DUTRA<br />
OS SLIDES INTERATIVOS NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUE-<br />
SA<br />
LUCAS HORNER FEIJÓ<br />
O ESTADO DA ARTE SOBRE OBJETOS DE APRENDIZAGEM -<br />
MAPEAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES<br />
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS<br />
ADILSON FERNANDES GOMES<br />
VANESSA RIBAS FIALHO (ORIENTADORA)<br />
COMUNICAÇÕES 70 – SALA 208B<br />
NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: O LIVRO DIDÁTI-<br />
CO, OS NOVOS GÊNEROS E A PRÁTICA ESCOLAR<br />
MAÍRA FERNANDES LAURENTINO<br />
105
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM TECNOLOGIAS EDU-<br />
CACIONAIS INOVADORAS PARA FLEXIBILIZAR E POTENCIA-<br />
LIZAR A APRENDIZAGEM<br />
MARIA CRISTINA RIGÃO IOP (EMEF PADRE NÓBREGA)<br />
LIZIANY MULLER (UFSM)<br />
O USO DA INTERNET NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEI-<br />
RAS: REFLEXÕES NECESSÁRIAS<br />
MARIA JOSÉ LAIÑO<br />
CAMILA TEIXEIRA SALDANHA<br />
A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO EDUCATIVO-INTERATIVO À LUZ<br />
DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL<br />
MARION RODRIGUES DARIZ<br />
MAGDA FLORIANA DAMIANI<br />
COMUNICAÇÕES 71 – SALA 213B<br />
EAD: REFLEXÕES SOBRE O TEMPO<br />
MARLY JOVITA LISBOA GARCIA<br />
A EDIÇÃO NA ESCRITA COLABORATIVA EM LÍNGUA INGLE-<br />
SA EM FERRAMENTA DIGITAL<br />
MILENA SCHNEID EICH<br />
FACEBOOK & LITERATURA: A REDE SOCIAL COMO FERRA-<br />
MENTA NA INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS<br />
OTÁVIO BOTELHO ROSA<br />
RENAN CARDOZO GOMES DA SILVA<br />
REFLETINDO SOBRE AS CRENÇAS DE ALUNOS-<br />
PROFESSORES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E<br />
ENSINO-APRENDIZAGEM EM CONTEXTO DE EAD<br />
PATRÍCIA DUARTE GARCIA<br />
ANA PAULA DE ARAUJO CUNHA<br />
COMUNICAÇÕES 72 – SALA 215B<br />
A ESCALA COMUM DE VALORES E A FORMAÇÃO DE GRU-<br />
POS DE APRENDIZAGEM NOS FÓRUNS DE UM CURSO DE<br />
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE E/LE EM EAD<br />
106
PATRICIA MUSSI ESCOBAR<br />
DO PAPEL AO ECRÃ: AS MEDIAÇÕES TECNOLÓGICAS NO<br />
APRENDIZADO<br />
PEDRO BARCELLOS FERREIRA<br />
JOÃO PEDRO RODRIGUES SANTOS<br />
OS DESAFIOS DO LETRAMENTO DIGITAL NA FORMAÇÃO DE<br />
PROFESSORES DE LINGUAGENS<br />
PROF. DR. VALERIA IENSEN BORTOLUZZI<br />
PROF. MS. ADRIANA MACEDO NADAL MACIEL<br />
COMUNICAÇÕES 73 – SALA 302B<br />
APRENDIZADO E APROPRIAÇÕES EM SOCIAL NETWORK<br />
GAMES<br />
REBECA RECUERO REBS<br />
O BLOG DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA ABORDAGEM<br />
INTERDISCIPLINAR<br />
REJANE RICARDO FERREIRA<br />
HASHTAG NA SALA DE AULA<br />
RENAN CARDOZO GOMES DA SILVA<br />
OTÁVIO BOTELHO ROSA<br />
SITES DE REDES SOCIAIS COMO POSSIBILIDADE DE PESQUI-<br />
SA EM EDUCAÇÃO<br />
RODRIGO INACIO DE CASTRO<br />
ROSÁRIA IIGENFRITZ SPEROTTO<br />
COMUNICAÇÕES 74 – SALA 304B<br />
INGLÊS E INFORMÁTICA ALIADOS AO DESENVOLVIMENTO<br />
SOCIOCULTURAL DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA EM SI-<br />
TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br />
SABRINA HAX DURO ROSA<br />
ONORATO JONAS FAGHERAZZI<br />
107
ESTRATÉGIAS DE LEITURA APLICADAS AO CIBERESPAÇO<br />
SANTIAGO BRETANHA FREITAS<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO (ORIENTADOR)<br />
OS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA INTERNET E O ENSINO DE<br />
ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE)<br />
SUELEN FERREIRA HAYGERT<br />
MARIA TEREZA NUNES MARCHESAN (ORIENTADOR)<br />
AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA ONLINE DE FUTUROS PROFES-<br />
SORES: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM COLABORATI-<br />
VA<br />
SUELY LENORE CAPUTO AYMONE<br />
COMUNICAÇÕES 75 – SALA 207C<br />
DO DISCURSO Á PRÁTICA: ANÁLISE DE PESQUISAS SOBRE O<br />
ENSINO DE INGLÊS MEDIADO POR COMPUTADOR<br />
SUSANA CRISTINA DOS REIS<br />
OS MODELOS PEDAGÓGICOS E A EDUCAÇÃO PELA PESQUI-<br />
SA APOIADA PELAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E CO-<br />
MUNICAÇÃO<br />
TAÍS FEIJÓ VIANA<br />
CAROLINA MENDONÇA FERNANDES DE BARROS<br />
O MÉTODO DE FREINET NA REALIDADE TECNOLÓGICA<br />
TAMIRES GUEDES DOS SANTOS<br />
A LEITURA DE MACHADO DE ASSIS NO CIBERESPAÇO<br />
VANESSA DAVID ACOSTA<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO (ORIENTADOR)<br />
A LINGUAGEM ESCRITA EM TEMPOS E ESPAÇOS VIRTUAUS<br />
VANESSA DOS SANTOS NOGUEIRA<br />
TRABALHANDO COM O LÚDICO: A MOTIVAÇÃO NAS AULAS<br />
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS<br />
DEISE ANNE TERRA MELGAR<br />
VANESSA DAVID ACOSTA<br />
108
COMUNICAÇÕES 76 – SALA 212C<br />
A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO FUTURO NO ENSINO MÉDIO:<br />
O USO DA PERÍFRASE IR + INFINITIVO NA LITERATURA<br />
ADRIANA DE OLIVEIRA GIBBON<br />
VARIAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA NO CONTEXTO ESCOLAR.<br />
ALESSANDRA GOULART D'AVILA<br />
NATHAN BASTOS DE SOUZA<br />
AS VOGAIS MÉDIAS DO PORTUGUÊS DO URUGUAI FALADO<br />
POR CRIANÇAS DOS ANOS ESCOLARES INICIAIS DA CIDADE<br />
DE TRANQUERAS<br />
ALEXANDER SEVERO CÓRDOBA<br />
CARMEN LÚCIA BARRETO MATZENAUER (ORIENTADORA)<br />
ESTUDO DA REALIZAÇÃO DOS FONEMAS /d/ e /t/ ACOMPA-<br />
NHADOS DA VOGAL /i/ E DO FONEMA / ř / NA AQUISIÇÃO DA<br />
LÍNGUA ESPANHOLA POR ALUNOS DA TRÍPLICE FRONTEIRA<br />
ENTRE BRASIL E ARGENTINA<br />
ANA MARIA BONK MASSAROLLO<br />
SANIMAR BUSSE<br />
COMUNICAÇÕES 77 – SALA 213C<br />
LA VARIACIÓN FONÉTICA EN LA CLASE DE ESPAÑOL COMO<br />
LENGUA ADICIONAL: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA<br />
ANA PAULA FERREIRA SEIXA<br />
SANDIA BARAÑANO VIANA<br />
EM BUSCA DE SUBSÍDIOS PARA UMA PEDAGOGIA DA VARI-<br />
AÇÃO LINGUÍSTICA NOS DOCUMENTOS CURRICULARES<br />
NACIONAIS<br />
CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ<br />
JORAMA DE QUADROS STEIN<br />
AS NARRATIVAS QUE CIRCULAM SOBRE O CURSO DE LE-<br />
TRAS: MEMÓRIAS RECONTADAS POR QUEM DEIXOU SEU<br />
LAR PARA ESTUDAR.<br />
CLÁUDIA RAQUEL LUTZ<br />
109
LÍNGUA E REPRODUÇÃO CULTURAL: FORMAÇÃO DOCENTE<br />
PARA A EQUIDADE SOCIAL<br />
CRISTIANO GUEDES PINHEIRO<br />
PRISCILA MONTEIRO CHAVES<br />
COMUNICAÇÕES 78 – SALA 216C<br />
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRESTÍGIO E O DESPRESTÍGIO EM<br />
CONTATO NO CONTEXTO ESCOLAR DÉBORA RODRIGUES<br />
SARAIVA<br />
ANÁLISE SOBRE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO EDUCACIO-<br />
NAL FRONTEIRIÇA<br />
ELISANGELA VASCONCELLOS GOMES<br />
ANÁLISE SINTÁTICA NO MANUAL DIDÁTICO E SUAS IMPLI-<br />
CAÇÕES<br />
GISELE RODEGHEIRO DE MORAES ANTHONISEN<br />
BÁRBARA VARGAS ABOTT<br />
ESCOLA: ESPAÇO PERMEADO DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA<br />
GLECE VALÉRIO KERCHINER<br />
ROSEMERI VASCONCELLOS SOARES<br />
COMUNICAÇÕES 79 – SALA 221C<br />
PROJETO FRONTEIRAS INTEGRADAS: ESPAÇOS EDUCATI-<br />
VOS, PRÁTICAS SOCIAIS E CULTURAIS<br />
GRAZIELLE DA SILVA DOS SANTOS<br />
NÉDILÃ ESPINDOLA CHAGAS<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA ESCOLA: ANÁLISE DE UMA<br />
EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO<br />
GREICE KELLY OLIVEIRA JORGE<br />
CLARA DORNELLES<br />
EM BUSCA DE SUBSÍDIOS PARA UMA PEDAGOGIA DA VARI-<br />
AÇÃO LINGUÍSTICA NOS DOCUMENTOS CURRICULARES<br />
NACIONAIS<br />
JORAMA DE QUADROS STEIN<br />
GISELE BENCK DE MORAES<br />
110
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SI-<br />
NAIS-LIBRAS EM ESCOLAS DE SURDOS<br />
KARINA ÁVILA PEREIRA<br />
COMUNICAÇÕES 80 – SALA 230C<br />
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA EM LIVROS DIDÁTICOS DE<br />
ENSINO MÉDIO<br />
MÁRCIA FROEHLICH<br />
A LATERAL PÓS-VOCÁLICA /L/: UMA ABORDAGEM COM<br />
BASE NO PORTUGUÊS FALADO NA CIDADE DE PELOTAS<br />
MÁRCIA HELENA SAUAIA GUIMARÃES ROSTAS<br />
O COMPORTAMENTO DA VOGAL /E/ EM CLÍTICOS PRONO-<br />
MINAIS E NÃO PRONOMINAIS<br />
MARIA JOSÉ BLASKOVSKI VIEIRA<br />
A PROPOSTA DAS ESCOLAS INTERCULTURAIS BILÍNGUES<br />
DE FRONTEIRA NO CHUÍ-CHUY<br />
MARÍA JOSEFINA ISRAEL SEMINO<br />
DIA 5 DE OUTUBRO - (SEXTA-FEIRA) – 17H30M<br />
SIMPÓSIOS (Continuação)<br />
SIMPÓSIO 23 – SALA 306B<br />
PERSPECTIVAS NO ENSINO DE LÍNGUAS MEDIADO PELAS<br />
TECNOLOGIAS DIGITAIS<br />
VILSON JOSÉ LEFFA (COORDENADOR)<br />
O ensino mediado pelas tecnologias digitais po<strong>de</strong> ser caracterizado por<br />
associar diferentes objetos a diferentes instrumentos, na medida em que<br />
se preocupa não apenas com o fim a que se quer chegar, mas também<br />
com a análise dos meios disponíveis e mais a<strong>de</strong>quados para se chegar a<br />
esse fim. O simpósio proposto trata <strong>de</strong>sses dois eixos. Entre os fins,<br />
111
<strong>de</strong>stacam-se a leitura em ambiente digital, a produção <strong>de</strong> textos pelo<br />
aluno, a aprendizagem <strong>de</strong> línguas estrangeiras, a questão da autoria em<br />
dimensão global. Já, em relação aos meios, temos trabalhos sobre o uso<br />
da telefonia móvel, as sequências didáticas, os objetos <strong>de</strong> aprendizagem<br />
e a gestão dos acervos digitais. Trata-se, enfim <strong>de</strong> um tema complexo,<br />
das instâncias locais às globais, incluindo o papel da tecnologia na<br />
<strong>aqui</strong>sição do conhecimento, suas promessas <strong>de</strong> potencialização do ser<br />
humano e também seus perigos e ameaças.<br />
FERMENTAR IDEIAS E ARGUMENTOS ATRAVÉS DE SE-<br />
QUÊNCIAS DIDÁTICAS: APRENDER EM ANDAIMES VIA EAD<br />
ANA CLÁUDIA PEREIRA DE ALMEIDA<br />
APRENDENDO INGLÊS NA ERA DA MOBILIDADE: UMA ANÁ-<br />
LISE DO APLICATIVO “VOXY”<br />
LUCÍA SILVEIRA ALDA<br />
HAL 9000 MATOU A TRIPULAÇÃO OU DA IMPORTÂNCIA DO<br />
FATOR HUMANO NA EAD<br />
MARCUS VINICIUS LIESSEM FONTANA<br />
REFLEXÕES SOBRE LEITURA DIGITAL<br />
MARTINA CAMACHO BLAAS<br />
INTERAÇÃO E REDES NEURO-SOCIAIS: A COMPLEXIDADE<br />
NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS COM TECNOLOGIAS DIGI-<br />
TAIS<br />
RAFAEL VETROMILLE-CASTRO<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM: FOCO NA LINGUAGEM ESCRI-<br />
TA<br />
SIMONE CARBONI GARCIA<br />
CONTRIBUIÇÃO DOS FRACTAIS PARA A EDUCAÇÃO A DIS-<br />
TÂNCIA: UMA PERSPECTIVA BASEADA NOS SISTEMAS COM-<br />
PLEXOS<br />
VANESSA RIBAS FIALHO<br />
DO ALMOXARIFADO AO SHOWROOM: A MONTAGEM DOS<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM<br />
VILSON J. LEFFA<br />
112
SIMPÓSIO 24 – SALA 402B<br />
CORPOS FEMININOS E GÊNERO EM DISCURSO: REFLE-<br />
XÕES EM SALA DE AULA<br />
RENATA KABKE PINHEIRO (COORDENADORA)<br />
ELIANE TEREZINHA AMARAL CAMPELLO (COORDENADO-<br />
RA)<br />
O corpo feminino tem sido <strong>de</strong>scrito, representado e moldado por diferentes<br />
discursos e a mídia <strong>de</strong>sempenha papel inquestionável na chamada<br />
produção e normatização do corpo ao criar, reproduzir e fazer circular<br />
a noção do corpo i<strong>de</strong>al. Esse mo<strong>de</strong>lo i<strong>de</strong>al po<strong>de</strong> se alterar <strong>de</strong>vido à<br />
mudança <strong>de</strong> padrões estéticos, históricos e culturais. O discurso sobre o<br />
corpo é permanente, por isso, é necessário discuti-lo, questioná-lo e até<br />
mesmo buscar mudá-lo. As mulheres, quando representam o corpo<br />
feminino, constroem um espaço textual, para permitir que seus corpos<br />
sejam vistos/ouvidos. Essas representações trazem inscrições “gendradas”,<br />
<strong>de</strong> raça, classe e <strong>de</strong> diferenças sexuais. Abordaremos neste Simpósio<br />
discursos do corpo feminino, na autoria feminina, e suas respostas<br />
ao ambiente físico e às normas sociais. Essas representações encontram-se<br />
presentes em distintas esferas discursivas ─ literatura, cinema,<br />
história, teatro, revistas, jornais, mídia em geral ─, entre outras. Nosso<br />
objetivo é estabelecer um <strong>de</strong>bate em torno <strong>de</strong> questões <strong>de</strong> gênero acerca<br />
do corpo, a partir <strong>de</strong> fundamentos teóricos diversos, bem como das<br />
possibilida<strong>de</strong>s interpretativas e consequências, no âmbito da i<strong>de</strong>ologia,<br />
ao veicular esta representação em salas <strong>de</strong> aula.<br />
"ONDA DE CALOR" AFETANDO CORPOS MASCULINOS E FE-<br />
MININOS – ANÁLISE DE GÊNERO EM UMA FANFICTION DO<br />
FANDOM HARRY POTTER<br />
CATARINA MAITÊ MACEDO MACHADO BARBOZA<br />
“GORDAS, SIM, POR QUE NÃO?”: O DISCURSO DE MULHERES<br />
GORDAS NO BLOG MULHERÃO<br />
DANIELA SILVA AGENDES<br />
O CORPO ADOLESCENTE NO FILME: THE PRIME OF MISS<br />
JEAN BRODIE<br />
DANIELA VIEIRA PALAZZO<br />
113
CORPOS MARCADOS, EM BECOS DA MEMÓRIA, DE CONCEI-<br />
ÇÃO EVARISTO<br />
ELIANE TEREZINHA DO AMARAL CAMPELLO<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NO QUADRO A<br />
NEGRA DE TARSILA DO AMARAL<br />
LENITA VARGAS<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA DANÇA DO<br />
VENTRE, EM AMRIK, DE ANA MIRANDA<br />
LUISA KLUG GUEDES<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA ESCULTURA<br />
VERTUMNE ET POMONE, DE CAMILLE CLAUDEL<br />
NARA ELIANE PEREIRA LEAL<br />
"PRECIOSIDADE" DE CLARICE LISPECTOR: UMA LEITURA<br />
SOB O VIÉS DA ACD E DA CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA<br />
RENATA KABKE PINHEIRO<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO EM "EL VENDO<br />
HERIDO"<br />
RITA DE LIMA NÓBREGA<br />
SIMPÓSIO 25 – SALA 404B<br />
O LETRAMENTO DIGITAL E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO<br />
CÂNDIDA MARTINS PINTO (COORDENADORA)<br />
GABRIELA QUATRIN MARZARI (COORDENADORA)<br />
Socieda<strong>de</strong>s letradas cada vez mais complexas, sobretudo <strong>de</strong>vido às<br />
inúmeras possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> utilização da linguagem, são reflexo das<br />
mudanças tecnológicas emergentes no atual contexto sócio-histórico,<br />
consi<strong>de</strong>rando-se, principalmente, a presença maciça das tecnologias da<br />
informação e comunicação (TIC) na vida das pessoas e das instituições.<br />
Esse novo sistema <strong>de</strong> inter-ação é parte da revolução tecnológica que<br />
está remo<strong>de</strong>lando práticas sociais pré-concebidas, <strong>de</strong>sse modo, alterando<br />
as relações entre os indivíduos. Em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa nova or<strong>de</strong>m comunicativa<br />
(SNYDER, 2001), é preciso que os educadores atentem para as<br />
114
múltiplas linguagens e, por conseguinte, para os múltiplos letramentos a<br />
serem <strong>de</strong>senvolvidos, necessários à interação dos indivíduos em uma<br />
socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>finida como multicultural, a fim <strong>de</strong> que a educação assuma<br />
um papel significativo diante das <strong>de</strong>mandas comunicativas atuais. Parece<br />
fundamental, portanto, verificar qual é o impacto dos novos meios <strong>de</strong><br />
comunicação na escrita e nas práticas <strong>de</strong> letramento <strong>de</strong> aprendizes em<br />
geral. Para tanto, este simpósio tem por objetivo: a) discutir sobre o que<br />
se enten<strong>de</strong> por letramento digital em contextos escolares; b) refletir<br />
sobre o impacto das tecnologias na educação e como isso está afetando<br />
os letramentos dos aprendizes; c) i<strong>de</strong>ntificar práticas <strong>de</strong> letramento<br />
digital recorrentes na vida <strong>de</strong>sses indivíduos, estimuladas ou ignoradas<br />
pela escola; d) refletir sobre novas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e escrita,<br />
consi<strong>de</strong>rando as novas mídias e suas implicações na socieda<strong>de</strong> atual; e,<br />
por fim, e) vislumbrar possibilida<strong>de</strong>s futuras <strong>de</strong> ensino e aprendizagem<br />
em contextos diferenciados. Espera-se esclarecer conceitos relacionados<br />
à noção <strong>de</strong> letramento e, acima <strong>de</strong> tudo, repensar práticas e posturas<br />
adotadas por educadores e educandos como consequência <strong>de</strong>ssa nova<br />
or<strong>de</strong>m comunicativa, resultante <strong>de</strong> transformações associadas ao uso<br />
das TIC.<br />
Palavras-chave: Letramento digital; <strong>Educação</strong>; Comunicação; Impacto.<br />
UTILIZANDO O FACEBOOK COMO FERRAMENTA ALIADA NO<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DO INGLÊS<br />
CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS<br />
ESTADO DA ARTE DO LETRAMENTO DIGITAL: METANÁLISE<br />
QUALITATIVA DA INVESTIGAÇÃO BRASILEIRA<br />
CÂNDIDA MARTINS PINTO<br />
APRENDIZAGEM EM ORGANIZAÇÕES: COMUNIDADES DE<br />
PRÁTICA E LETRAMENTO DIGITAL<br />
CHRISTIANE HEEMANN<br />
O USO DO VÍDEO NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ES-<br />
TRANGEIRAS<br />
DAIANE WINTER<br />
HOME PAGE: UMA EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO DIGITAL<br />
ERICK KADER CALLEGARO CORRÊA<br />
CARLA CALLEGARO CORRÊA KADER<br />
115
IMPLICAÇÕES DO LETRAMENTO DIGITAL PARA A FORMA-<br />
ÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRAN-<br />
GEIRA<br />
GABRIELA QUATRIN MARZARI<br />
LETRAMENTO DIGITAL: BLOG EDUCACIONAL COMO SU-<br />
PORTE PARA MATERIALIZAÇÃO DE DIFERENTES GÊNEROS<br />
TEXTUAIS.<br />
JOSIANE DAVID MACKEDANZ<br />
LETRAMENTO DIGITAL E ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM<br />
MODALIDADE DE EAD<br />
JOSSEMAR DE MATOS THEISEN<br />
MÍDIA E EDUCAÇÃO: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM<br />
SALA DE AULA.<br />
SABRINE DENARDI DE MENEZES DA SILVA<br />
OS DESAFIOS DO LETRAMENTO DIGITAL NA FORMAÇÃO DE<br />
PROFESSORES DE LINGUAGENS<br />
VALERIA IENSEN BORTOLUZZI<br />
SIMPÓSIO 26 – SALA 406B<br />
IDEN(EN)TITATIS: O LOCUS NA DIFFÉRANCE<br />
HILARIO INACIO BOHN (COORDENADOR)<br />
O presente simpósio se propõe a refletir (re-flexo) sobre um tema tão<br />
antigo na história da Humanida<strong>de</strong> e, ao mesmo tempo, tão atual e <strong>de</strong>sconcertante<br />
na Pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> líquida: i<strong>de</strong>m + entida<strong>de</strong>, ser. É possível<br />
ser constante, igual, num mundo movido por transformações/metamorfoses?<br />
Você cria sua própria i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, não mais a herda,<br />
nos diz Bauman. Ela não é mais <strong>de</strong>finida pela nação (espaço geográfico<br />
e língua) a que se pertence, nem pelos outros ‘constrangimentos’ co-<br />
116
mandados pelas hierarquias sociais e-ou políticas. Isto, principalmente,<br />
tendo em vista que as questões coletivas enquanto nação i<strong>de</strong>ntitária, ou<br />
grupo social, per<strong>de</strong>ram seu espaço para as questões no mundo globalizado.<br />
Integrar é a palavra <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m para a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> hodierna. Com<br />
diferentes formas e estratégias <strong>de</strong> se constituir vive-se o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> criála<br />
na transição, na différance, no hiato, no vazio entre o i<strong>de</strong>m e o estranho<br />
que a cada momento se apresenta ao ser humano. Portanto, esta é a<br />
proposta da coor<strong>de</strong>nada, viver o vazio da reflexão (re-novamente, flexão-flexibilizar)<br />
co-construindo no <strong>aqui</strong> e agora do instante, outros<br />
espaços para um pensamento grupal e i<strong>de</strong>ntitário <strong>de</strong> colegas que, movidos<br />
pela pulsão do conhecimento, se propõem ao <strong>de</strong>safio das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
re-criadas/metamorfoseadas em diferentes lócus, inclusive as que se<br />
movem em torno do processo educacional.<br />
Palavras-chave: I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s), diversida<strong>de</strong>, grupo social, différance<br />
O (DES)ENCONTRO DE VOZES SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DA<br />
IRMANDADE NA FRONTEIRA JAGUARÃO/RIO BRANCO<br />
ALESSANDRA AVILA MARTINS<br />
A LINGUAGEM “INSINUA” AS INCOMPLETUDES PROFISSIO-<br />
NAIS DE SER ALUNO E FORMAR-SE PROFESSOR<br />
ELAINE NOGUEIRA DA SILVA<br />
AS IDENTIDADES RESSIGNIFICADAS DE ALUNOS PROEJA<br />
EVANIR PICCOLO CARVALHO<br />
AS IDENTIDADES DE PROFESSOR “DISCURSADAS” PELA IM-<br />
PRENSA BRASILEIRA<br />
HILÁRIO I. BOHN<br />
RE-PENSANDO O PENSAMENTO IDENTITÁRIO NA PÓS-<br />
MODERNIDADE<br />
LUCIA GRIGOLETTI<br />
LOS GÉNEROS DISCURSIVOS SON EL LOCUS DE LA IDENTI-<br />
DAD LINGÜÍSTICA<br />
MATILDE CONTRERAS<br />
A VIDA DE NELSON MANDELA NA CONCEPÇÃO DE SUJEITO<br />
SOCIOLÓGICO DE STUART HALL<br />
OLGA MARIA LIMA PEREIRA<br />
117
AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNO, ESCOLA E PROFESSORES<br />
NA ERA TECNOLÓGICA PELOS ATORES DA SALA DE AULA<br />
VANESSA DOUMID DAMASCENO<br />
SOBRE O “ESTRANGEIRO” NA LÍNGUA MATERNA: APRESEN-<br />
TAÇÕES IDENTITÁRIAS EM SALA DE AULA DE LEITURA EM<br />
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PRÓXIMAS<br />
VIRGINIA ORLANDO<br />
SIMPÓSIO 27 – SALA 408B<br />
REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E AU-<br />
TORIA EM DIFERENTES AMBIENTES<br />
ADAIL UBIRAJARA SOBRAL (COORDENADOR)<br />
A partir do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> numerosas propostas teóricas e práticas<br />
<strong>de</strong> trabalho no campo das ciências humanas que lançam mão do conceito<br />
<strong>de</strong> sujeito, tanto em sua dimensão enunciativa (ligada à enunciação)<br />
como no plano enuncivo (ligado ao enunciado), as questões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>,<br />
subjetivida<strong>de</strong> e autoria vêm assumindo crescente importância nos<br />
estudos da linguagem, que parecem formar a cada dia novas interfaces<br />
com diversas outras áreas. Merece <strong>de</strong>staque o reconhecimento, a partir<br />
do conceito <strong>de</strong> sujeito, da existência <strong>de</strong> integração entre enunciados e<br />
situações <strong>de</strong> enunciação como instâncias em mútua pressuposição.<br />
Percebe-se assim um movimento <strong>de</strong> ampliação que faz essas propostas<br />
incorporarem a materialida<strong>de</strong> textual e ir além <strong>de</strong>la, Observa-se nesse<br />
sentido a presença constante <strong>de</strong> trabalhos que exibem não apenas diferentes<br />
perspectivas teóricas <strong>de</strong> abordar i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, subjetivida<strong>de</strong> e autoria<br />
-- num espectro que vai do mais estritamente linguístico ao quaseetnográfico,<br />
envolvendo ainda combinações <strong>de</strong> perspectivas -- como<br />
distintas metodologias e objetivos <strong>de</strong> pesquisa. Estes últimos tanto<br />
po<strong>de</strong>m ver em separado alguma <strong>de</strong>ssas questões como buscar integrálas<br />
a partir <strong>de</strong> um ou <strong>de</strong> um arcabouço teórico. Este simpósio propõe, a<br />
partir <strong>de</strong> um “mosaico” <strong>de</strong> algumas <strong>de</strong>ssas possibilida<strong>de</strong>s, uma discussão<br />
<strong>de</strong>ssas questões no âmbito <strong>de</strong> distintas perspectivas, e a partir <strong>de</strong><br />
diferentes objetos, com vistas a apresentar um mapeamento interdisciplinar<br />
provisório.<br />
Palavras-chave: Sujeito, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, subjetivida<strong>de</strong>, autoria, enunciação<br />
118
VILMAR TAVARES. UM LINGUISTA DE IMAGENS?<br />
CARLOS LEONARDO COELHO RECUERO<br />
MARCAS DISTINTIVAS E EXPLÍCITAS DE SUBJETIVIDADE NO<br />
APRENDIZADO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL<br />
EDOARDO PLETSCH<br />
VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO COMO TENTATIVA DE DE-<br />
MONIZAR IDENTIDADES EM UM SITE REDE SOCIAL<br />
LETÍCIA SCHINESTSCK<br />
INFLUENCIA DAS MARCAS DE SUBJETIVIDADE PARA A<br />
CONSTRUÇÃO E EXPRESSÃO DE IDENTIDADES EM UM AM-<br />
BIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM<br />
LÍGIA MARIA SAYÃO LOBATO DE COPPETTI<br />
A IMPORTÂNCIA DO PODER DE ENCANTAMENTO E DAS RE-<br />
LAÇÕES VINCULARES NA CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES<br />
APRENDENTES ENTRE PROFESSORES-ALUNO<br />
MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CUNHA NEVES<br />
FRONTEIRA JAGUARÃO- RIO BRANCO:ESPANHOL FALADO E<br />
IDENTIDADES “CONSTRUÍDAS”<br />
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA FARIAS-MARQUES<br />
“SER” E “ESTAR” PROFESSOR DE INGLÊS NA PÓS-<br />
MODERNIDADE: DICOTOMIA OU DIVERSIDADE?<br />
MARIA WALESKA SIGA PEIL<br />
DO TRABALHO COM O GÊNERO “NARRATIVA PESSOAL” À<br />
AUTORIA<br />
ROSANE CONCEIÇÃO LEFEBVRE<br />
SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE: INTERSECÇÕES EM BAKH-<br />
TIN<br />
VERA LÚCIA PIRES<br />
119
120<br />
RESUMO DOS TRABALHOS
LINHA TEMÁTICA: AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM,<br />
VARIAÇÃO E ENSINO: UM BALANÇO<br />
ENSINO DE GRAMÁTICA: DAS POLÊMICAS ÀS<br />
PROPOSIÇÕES<br />
Adriana Dickel<br />
Na década <strong>de</strong> 1980, no Brasil, instaura-se uma polêmica que se esten<strong>de</strong><br />
em boa medida até os dias atuais: <strong>de</strong>ve-se ou não ensinar gramática na<br />
escola? Tal pergunta emerge <strong>de</strong> uma crítica profunda, proveniente<br />
fundamentalmente dos setores acadêmicos da área da Linguística, ao<br />
ensino tradicional da gramática, pautado exclusivamente em uma<br />
abordagem normativa. Juntamente com a <strong>de</strong>sconstrução <strong>de</strong>sse mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> ensino, surgem algumas propostas <strong>de</strong> manutenção do ensino <strong>de</strong><br />
gramática articulado a uma abordagem sócio-interacionista e<br />
funcionalista da linguagem e, ainda, à teoria da enunciação bakhtiniana.<br />
Essas perspectivas encontram-se materializadas nos Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) e são reconstruídas no presente<br />
trabalho por meio <strong>de</strong> estudo bibliográfico que abarca trabalhos sobre o<br />
ensino da gramática na escola, produzidos nas últimas três décadas, no<br />
Brasil. Objetiva-se com uma digressão pela história do ensino da língua<br />
portuguesa, em especial <strong>de</strong> sua gramática, e pelas contribuições<br />
didático-metodológicas oferecidas pelas pesquisas atuais acenar para a<br />
complexida<strong>de</strong> dos <strong>de</strong>safios a serem enfrentados e das tensões a serem<br />
superadas por quem se <strong>de</strong>dica a esse campo no Brasil. Problematizar e<br />
produzir conhecimentos a respeito do encontro entre a produção<br />
científica sobre a língua e a didática, o currículo, os conhecimentos dos<br />
alunos e <strong>de</strong> seus professores e as práticas pedagógicas ainda são tarefas<br />
à disposição <strong>de</strong> um amplo setor <strong>de</strong> pesquisadores tanto do campo da<br />
Linguística Aplicada como do campo da <strong>Educação</strong>.<br />
A PALATALIZAÇÃO NA DIACRONIA DO PB:<br />
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO<br />
Aline Neuschrank<br />
Palavras-chave: palatalização, diacronia, português do Brasil.<br />
Estudos diacrônicos comprovam a importância <strong>de</strong> se conhecer a história<br />
das línguas analisadas. Pesquisas sobre evolução da língua portuguesa,<br />
121
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
além <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nciarem a presença do latim em seu uso diário, permitem<br />
a compreensão <strong>de</strong> muitas regras gramaticais a partir <strong>de</strong> um olhar<br />
voltado à origem das palavras, contribuindo assim para uma melhor<br />
abordagem <strong>de</strong>stas questões no contexto <strong>de</strong> ensino. Logo, este trabalho<br />
objetiva apresentar alguns resultados <strong>de</strong> um estudo maior que analisa e<br />
<strong>de</strong>screve fenômenos fonológicos ocorridos na evolução do sistema<br />
consonantal do latim ao português do Brasil (PB), à luz <strong>de</strong> teorias<br />
fonológicas não lineares. Com suporte da Teoria Autossegmental e da<br />
escala <strong>de</strong> sonorida<strong>de</strong>, o trabalho foca o processo <strong>de</strong> palatalização na<br />
constituição do sistema consonantal do PB, <strong>de</strong>vido a sua gran<strong>de</strong><br />
recorrência na composição do referido sistema, verificada através <strong>de</strong><br />
pesquisa realizada com o intuito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar o comportamento dos<br />
traços hierarquicamente dispostos, constituintes do sistema consonantal<br />
do latim, e ainda mantidos no PB, além <strong>de</strong> verificar as regras presentes<br />
na composição do sistema do português. Através da análise, po<strong>de</strong>m-se<br />
visualizar contextos motivadores ainda responsáveis, na sincronia, por<br />
variações do PB que po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>radas marcas <strong>de</strong>sta língua, em<br />
se comparando com o PE (palatalização <strong>de</strong> /t/ e /d/ antes <strong>de</strong> /i/). Por<br />
haver poucos trabalhos que apresentem por meio <strong>de</strong> teoria fonológica<br />
os processos estruturais constituintes da língua, espera-se que esta<br />
pesquisa cumpra o papel <strong>de</strong> fomentar outros estudos, já que contribui<br />
para a explicitação das etapas envolvidas em um dos processos<br />
fonológicos que motivaram mudanças, trazendo novos subsídios para<br />
um melhor conhecimento da história da língua portuguesa.<br />
AS SEGMENTAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS DA ESCRITA<br />
INICIAL: O TROQUEU SILÁBICO E SUA RELAÇÃO COM O<br />
RITMO LINGUÍSTICO DO PB E DO PE<br />
Ana Paula Nobre Da Cunha<br />
O número <strong>de</strong> pesquisas que abordam a estreita relação entre a escrita<br />
inicial, produzida <strong>de</strong> forma espontânea, e aspectos do conhecimento<br />
linguístico infantil tem aumentado nos últimos anos, haja vista<br />
trabalhos como os <strong>de</strong> Abaurre (1990), Chacon (2004), Cunha (2010),<br />
Miranda (2005) e Tenani (2004), <strong>de</strong>ntre outros. Nosso estudo insere-se<br />
nessa linha <strong>de</strong> pesquisa, pois parte <strong>de</strong> dois pressupostos básicos: i) as<br />
segmentações não convencionais da escrita inicial po<strong>de</strong>m ser<br />
motivadas, <strong>de</strong>ntre outros fatores, pela formação <strong>de</strong> constituintes<br />
prosódicos, e ii) as segmentações não convencionais da escrita inicial<br />
po<strong>de</strong>m apresentar evidências do ritmo linguístico. O objetivo <strong>de</strong>ste<br />
122
Resumo dos Trabalhos<br />
trabalho é <strong>de</strong>monstrar a relevância do troqueu silábico tanto na inserção<br />
<strong>de</strong> espaço <strong>de</strong>ntro dos limites da palavra (hipersegmentação) quanto na<br />
supressão <strong>de</strong> espaço entre fronteiras vocabulares (hipossegmentação),<br />
bem como a sua relação com o ritmo linguístico do português brasileiro<br />
(PB) e do português europeu (PE). Os dados <strong>aqui</strong> analisados foram<br />
extraídos <strong>de</strong> textos produzidos, <strong>de</strong> forma espontânea, por crianças<br />
brasileiras e portuguesas, em fase <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da escrita. As análises,<br />
fundamentadas na proposta <strong>de</strong> Bisol (2000), apontam para o fato <strong>de</strong> que<br />
as segmentações não convencionais das palavras, tanto no PB como no<br />
PE, apresentam resultados semelhantes quanto à relevância do troqueu<br />
silábico como importante motivador <strong>de</strong> hiper e hipossegmentações. A<br />
principal diferença entre essas duas varieda<strong>de</strong>s do português está<br />
relacionada a evidências <strong>de</strong> ritmo linguístico na escrita, <strong>de</strong>vido à<br />
direcionalida<strong>de</strong> com que o clítico se associa a uma palavra <strong>de</strong> conteúdo:<br />
proclítico no PB e enclítico no PE. Essa análise, em particular,<br />
fundamenta-se em Abaurre e Galves (1998).<br />
INDÍCIOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CONHECIMENTO DA<br />
LÍNGUA EM DADOS DE REPARO NA ESCRITA INICIAL<br />
Ana Ruth Moresco Miranda<br />
Ana Paula Nobre Da Cunha<br />
A <strong>aqui</strong>sição da escrita é um processo complexo, pois exige da criança a<br />
construção <strong>de</strong> um novo conhecimento que envolve tanto sua capacida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> abstração como <strong>de</strong> reflexão. Muitas vezes, ela terá <strong>de</strong> trazer para o<br />
nível da consciência, os conhecimentos internalizados que já possui<br />
sobre a língua e sua estrutura. Acreditamos que a escrita espontânea<br />
propicia um espaço para a reflexão e a ação da criança sobre a<br />
linguagem e constitui-se em lugar privilegiado ao pesquisador que tem<br />
a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acessar as dúvidas e as hipóteses com as quais ela<br />
opera nesse percurso. Neste estudo, temos como objetivo analisar os<br />
reparos feitos espontaneamente pelas crianças em suas escritas, a fim <strong>de</strong><br />
que possamos buscar indícios <strong>de</strong> atualização do conhecimento<br />
linguístico – em especial, do conhecimento fonológico. O foco do<br />
estudo inci<strong>de</strong> em dados <strong>de</strong> reparo que consi<strong>de</strong>ramos estarem<br />
relacionados a dificulda<strong>de</strong>s representacionais, a saber, dados referentes<br />
às grafias <strong>de</strong> nasais pós-vocálicas (MIRANDA, 2007) e às<br />
segmentações não convencionais (CUNHA, 2004). Mesmo que os<br />
processos reorganizacionais ocorram internamente e, por isso, não<br />
sejam diretamente observáveis, dados <strong>de</strong> reparo como os referidos nos<br />
123
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
permitem realizar inferências, por meio da sequência comportamental<br />
expressa no ajuste feito pela criança em sua escrita, a respeito da<br />
relação entre meta-processos inconscientes e aqueles que po<strong>de</strong>m estar<br />
disponíveis ao acesso consciente, ainda que sem a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
explicitação verbal. O Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>scrição Representacional, <strong>de</strong><br />
Karmiloff-Smith (1986), segundo o qual, o conhecimento po<strong>de</strong> ir<br />
assumindo diferentes formatos que ficam disponíveis ao sistema<br />
cognitivo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> um nível implícito (procedimental) a outros mais<br />
explícitos (E1, E2 e E3), dá sustentação teórica a análise <strong>de</strong> dados<br />
realizada.<br />
PESQUISA E ENSINO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:<br />
APRESENTANDO O SOFTWARE LIVRE TP<br />
Andreia Schurt Rauber<br />
A relação entre a percepção e a produção <strong>de</strong> sons tem inspirado um<br />
número crescente <strong>de</strong> estudos na área <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Segunda Língua.<br />
Esses estudos objetivam i<strong>de</strong>ntificar e compreen<strong>de</strong>r as dificulda<strong>de</strong>s que<br />
aprendizes <strong>de</strong> uma língua estrangeira (L2) possuem para perceber e<br />
produzir sons <strong>de</strong>ssa L2. Os resultados <strong>de</strong> pesquisas sobre <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong><br />
L2 têm revelado, em sua maioria, que os sons mais bem percebidos são<br />
também os mais bem produzidos, já os sons que são percebidos <strong>de</strong><br />
forma incorreta ou com alta percentagem <strong>de</strong> trocas são também os<br />
produzidos <strong>de</strong> forma menos semelhante aos da língua alvo. Além das<br />
contribuições teóricas <strong>de</strong>sses estudos, os seus resultados têm sido<br />
relevantes para a criação <strong>de</strong> ferramentas e materiais pedagógicos que<br />
po<strong>de</strong>m auxiliar aprendizes <strong>de</strong> L2 a superar as suas dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pronúncia. Consi<strong>de</strong>rando-se esse cenário, esta comunicação objetiva<br />
apresentar o TP (Testes/Treinamentos <strong>de</strong> Percepção -<br />
http://www.worken.com.br/tp_regfree.php), que é um software livre<br />
que po<strong>de</strong> ser utilizado tanto para testes <strong>de</strong> percepção como para<br />
treinamento perceptual. O software, com uma interface amigável,<br />
também permite a elaboração <strong>de</strong> exercícios <strong>de</strong> percepção que po<strong>de</strong>m ser<br />
usados em aulas <strong>de</strong> qualquer língua estrangeira.<br />
124
Resumo dos Trabalhos<br />
A PRODUÇÃO VARIÁVEL DE EPÊNTESE EM CODA FINAL<br />
POR APRENDIZES DE INGLÊS COMO L2<br />
Athany Gutierres<br />
Natália Brambatti Guzzo<br />
Palavras-chave: epêntese final, inglês como L2, variação linguística.<br />
A produção variável <strong>de</strong> epêntese em coda final por aprendizes<br />
brasileiros <strong>de</strong> inglês como L2, como em [nejm]~[‘neymi] e [leg]~[legi],<br />
tem sido objeto <strong>de</strong> diversos estudos (CARDOSO, 2005; PEREYRON,<br />
2008; HORA, LUCENA e PEDROSA, 2009; LUCENA e ALVES,<br />
2010). Consi<strong>de</strong>ra-se que a transferência do mol<strong>de</strong> silábico da L1 à L2 é<br />
um fator que influencia a produção do fenômeno. Os objetivos <strong>de</strong>ste<br />
estudo são (i) observar a frequência <strong>de</strong> epêntese em coda final em dados<br />
<strong>de</strong> L2 produzidos por aprendizes <strong>de</strong> Caxias do Sul (RS) divididos em<br />
dois níveis distintos <strong>de</strong> proficiência e (ii) verificar que variáveis<br />
linguísticas e extralinguísticas condicionam o fenômeno. Os dados<br />
serão obtidos a partir da leitura <strong>de</strong> passagens e <strong>de</strong> diálogos<br />
semicontrolados realizados por aprendizes do Programa <strong>de</strong> Línguas<br />
Estrangeiras da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Caxias do Sul e serão submetidos ao<br />
programa <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> regra variável Goldvarb X. As variáveis<br />
extralinguísticas controladas serão nível <strong>de</strong> proficiência (básico e<br />
intermediário) e estilo (leitura e diálogo), e as variáveis lingüísticas<br />
consi<strong>de</strong>radas serão qualida<strong>de</strong> da consoante (nasal, obstruinte coronal,<br />
obstruinte dorsal, obstruinte labial, líquida), contexto seguinte<br />
(consoante, vogal, pausa), número <strong>de</strong> sílabas na palavra (uma sílaba,<br />
duas ou mais sílabas) e tonicida<strong>de</strong> da sílaba (tônica, átona). Prevê-se<br />
que a produção <strong>de</strong> epêntese seja condicionada pelos fatores básico,<br />
diálogo, obstruintes e palavras com uma sílaba, conforme averiguado na<br />
literatura.<br />
AQUISIÇÃO E REFERÊNCIA EM TEXTOS NARRATIVOS<br />
PRODUZIDOS POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL<br />
Bruna Santana Dias<br />
Katiane Teixeira Barcelos Caseiro<br />
Mirian Rose Brum-<strong>de</strong>-Paula (orientadora)<br />
Palavras chaves: <strong>aqui</strong>sição da linguagem, narrativa e quebra da<br />
linearida<strong>de</strong>.<br />
Para produzir um texto narrativo, é preciso reportar eventos alinhados<br />
<strong>de</strong> modo cronológico, ou seja, o locutor necessita construir uma trama,<br />
125
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
uma estrutura principal. Porém, o texto narrativo não é apenas<br />
constituído <strong>de</strong> trama. Quando uma nova personagem é introduzida, por<br />
exemplo, a unida<strong>de</strong> temática do texto fica comprometida. Surgem,<br />
então, ações, estados ou proprieda<strong>de</strong>s na estrutura secundária, ou seja,<br />
emergem processos que ocorrem <strong>de</strong> modo simultâneo, anterior ou<br />
posterior aos eventos reportados na trama narrativa. Esses movimentos<br />
do referente tempo requerem uma ativida<strong>de</strong> complexa do ponto <strong>de</strong> vista<br />
cognitivo. O objetivo <strong>de</strong>ssa pesquisa é analisar os mecanismos<br />
utilizados para resolver o problema da quebra da linearida<strong>de</strong> do<br />
discurso, no que se refere ao tempo. Para tanto, analisamos narrativas<br />
produzidas por <strong>de</strong>z crianças, com ida<strong>de</strong>s entre 8 e 13 anos, e por quatro<br />
adultos, com ida<strong>de</strong>s entre 20 e 25 anos. Duas coletas compõem os<br />
dados. A primeira coleta é constituída <strong>de</strong> produções <strong>de</strong> crianças que<br />
cursavam as 2ª, 4ª e 6ª séries do ensino fundamental. A segunda coleta é<br />
composta <strong>de</strong> produções das mesmas crianças que, um ano <strong>de</strong>pois,<br />
cursavam as 3ª, 5ª e 7ª séries. O livro Frog, where are you? (Mayer,<br />
1969), sem legendas, foi empregado durante as gravações. Após<br />
folhearem o livro, as crianças respondiam oralmente à questão O que<br />
aconteceu com o p (personagem)? Em outro momento, o mesmo grupo<br />
realizou uma versão escrita da mesma história. Cada informante<br />
produziu quatro narrativas. A mesma metodologia <strong>de</strong> coleta foi<br />
utilizada com os adultos. Os textos produzidos pelas crianças foram<br />
comparados, nas diferentes etapas da coleta e nas diferentes<br />
modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> linguagem. Os textos produzidos pelos adultos serviram<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> língua <strong>de</strong>senvolvida e estabilizada. Adotamos, para esta<br />
pesquisa, uma abordagem funcionalista e emergentista (BATES et al.,<br />
1997; BASSANO et al., 2001; VON STUTTERHEIM e KLEIN, 2007).<br />
O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA ALUNOS COM<br />
DISLEXIA<br />
Carla Alves Lima<br />
Nos semestres finais da graduação <strong>de</strong> letras tem-se uma das etapas mais<br />
importantes na formação do futuro professor, ou seja, os estágios <strong>de</strong><br />
docência, on<strong>de</strong> se po<strong>de</strong> aplicar na prática a teoria que se apren<strong>de</strong>u<br />
durante muitos semestres <strong>de</strong> curso. Porem, nem sempre a teoria se<br />
aplica a prática e no estágio, o graduando se <strong>de</strong>para com as mais<br />
diversas situações, a realida<strong>de</strong> nua e crua do ensino público no<br />
Brasil.Como exemplo disso, vamos observar e refletir sobre o estágio<br />
obrigatório <strong>de</strong> língua estrangeira, no caso a língua espanhola , na escola<br />
126
Resumo dos Trabalhos<br />
Municipal Padre Pagliani, em Jaguarão, RS, em um 6° ano noturno,que<br />
possui um aluno com dislexia. Sobre estes aspectos, nosso trabalho tem<br />
como objetivo reflexionar e observar a cerca do ensino <strong>de</strong> língua<br />
espanhola para alunos que possuam dislexia.<br />
O CASO DA CONSOANTE PALATAL /ɲ/ E AS<br />
DERIVAÇÕES EM -INHO<br />
Cíntia Da Costa Alcântara<br />
Palavras-chave: vocábulo não-verbal; segmento consonântico nasal;<br />
teoria fonológica<br />
O presente estudo atém-se aos vocábulos não verbais do português que<br />
carregam a consoante nasal /ɲ/ (cf. tamanho, medonho, aranha,<br />
manha) – bem como às suas formas <strong>de</strong>rivadas em -inho(a) (e.g.,<br />
tamanhinho (~ tamanhozinho), medonhinho (~ medonhozinho),<br />
aranhinha (~ aranhazinha), as quais variam com formas tais que<br />
tama[i]nho (~ tamaninho), medo[i]nho (medoninho?), ara[i]nha<br />
(araninha?), ma[i]nha (maninha?). Em onset silábico no português, os<br />
segmentos palatais são a nasal /ɲ/ e a líquida lateral /ʎ/,<br />
ambas majoritariamente encontradas em posição medial no vocábulo. A<br />
consoante nasal, /ɲ/, constitui uma classe natural junto <strong>de</strong> /m/ e<br />
/n/, e a lateral palatal, /ʎ/, outra classe natural, ao lado <strong>de</strong> /l/.<br />
Esperar-se-ia que a mencionada nasal palatal, nessas formas, pu<strong>de</strong>sse<br />
sofrer uma simplificação – <strong>de</strong> [ɲ] para [n], tal a lateral palatal<br />
nessa posição, quando em vocábulo <strong>de</strong>rivado (cf. pa[ʎ]a ><br />
pa[l]inha). Não obstante, diferentemente <strong>de</strong>sta, poucos são os casos em<br />
que figura [n], a exemplo <strong>de</strong> tamaninho; nos <strong>de</strong>mais vocábulos<br />
<strong>de</strong>rivados, do tipo ma[i]nha, a posição <strong>de</strong> onset silábico não é<br />
preenchida. É com base na teoria autossegmental (Clements e Hume,<br />
1995) que é abordado tal fenômeno; assim se proce<strong>de</strong> pelo fato <strong>de</strong> esse<br />
mo<strong>de</strong>lo teórico permitir explicar <strong>de</strong> forma econômica os processos que<br />
subjazem a formas atestadas na língua. Os dados da pesquisa,<br />
analisados qualitativamente, foram coletados a partir da produção <strong>de</strong><br />
falantes do português, assim como <strong>de</strong> dicionários eletrônicos.<br />
127
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
DIACRONIA E SINCRONIA: UMA ANÁLISE DE FENÔMENOS<br />
FONOLÓGICOS<br />
Clarisssa De Menezes Amariz<br />
Palavras-chave: sincronia; diacronia; teoria fonológica<br />
A análise <strong>de</strong> uma língua do ponto <strong>de</strong> vista sincrônico, assim como<br />
diacrônico é capaz <strong>de</strong> trazer evidências para confirmar ou refutar teorias<br />
linguísticas. Na diacronia, recuperam-se evidências <strong>de</strong> que mudanças<br />
fonológicas são consi<strong>de</strong>radas naturais em relação às mudanças ditas não<br />
naturais. Na sincronia, a <strong>aqui</strong>sição da linguagem recupera dados<br />
importantes a partir da produção das crianças com respeito aos<br />
processos fonológicos, todos eles <strong>de</strong> cunho natural. Muitos processos<br />
linguísticos, atestados nos dados <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição, são também observados<br />
nos dados históricos. Isso posto, torna-se relevante analisar fenômenos<br />
fonológicos a partir <strong>de</strong>ssas duas realida<strong>de</strong>s linguísticas sob o aparato<br />
teórico da Geometria <strong>de</strong> Traços (Clements e Hume 1995). O trabalho<br />
ora proposto faz uma análise <strong>de</strong> fenômenos <strong>de</strong> metátese e epêntese<br />
verificados seja na diacronia, seja na sincronia do português.<br />
OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EXTENSÃO E NA<br />
VARIEDADE DO VOCABULÁRIO DE CRIANÇAS EM FASE<br />
INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO<br />
Cristiane De Ávila Lopes<br />
Ana Ruth Moresco Miranda (Orientador)<br />
A <strong>Educação</strong> Infantil baseada na metodologia montessoriana<br />
proporciona às crianças experiências diárias sistemáticas com práticas<br />
<strong>de</strong> leitura e escrita. Neste estudo, tem-se o objetivo <strong>de</strong> investigar o<br />
efeito <strong>de</strong>ssas práticas sobre a extensão e a varieda<strong>de</strong> do vocabulário <strong>de</strong><br />
crianças que cursam a primeira série do ensino fundamental. Para isto,<br />
dois grupos <strong>de</strong> escolares são investigados: o primeiro é formado por<br />
crianças que experienciaram, na <strong>Educação</strong> Infantil, a metodologia<br />
montessoriana e o segundo, por crianças que não vivenciaram tal<br />
metodologia e que, <strong>de</strong> modo geral, não foram expostas a ativida<strong>de</strong>s<br />
voltadas à prática da linguagem oral e escrita. A coleta <strong>de</strong> dados<br />
realizou-se a partir da aplicação <strong>de</strong> um teste <strong>de</strong> vocabulário elaborado<br />
especificamente para a pesquisa, o qual abrange diferentes campos<br />
semânticos, a saber: animais, vestuário, brinquedos, alimentos<br />
(refeições), frutas & verduras, meios <strong>de</strong> transportes, elementos da<br />
natureza e móveis & utensílios. Os dados obtidos foram submetidos a<br />
128
Resumo dos Trabalhos<br />
uma análise quantitativa e, no cômputo geral, os resultados apontaram<br />
para um <strong>de</strong>sempenho significativamente melhor no primeiro grupo,<br />
tanto em relação à extensão quanto no que diz respeito à varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
vocabulário. Em uma análise qualitativa dos dados, pô<strong>de</strong>-se observar<br />
que as diferenças em favor do primeiro grupo concentraram-se nos<br />
campos semânticos referentes a Alimentos, Animais e Móveis &<br />
Utensílios, diferença esta que po<strong>de</strong>rá ser mais bem compreendida na<br />
continuida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste estudo.<br />
PANORAMA GERAL DOS ERROS ORTOGRÁFICOS<br />
ENCONTRADOS EM TEXTOS NARRATIVOS DE ALUNOS DE<br />
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DO IFSUL/CAV<br />
Cristiane Silveira Dos Santos<br />
Palavras-chaves: Aquisição da Escrita, Ortografia, Ensino médio.<br />
Este trabalho tem como objetivo inicial mapear os tipos <strong>de</strong> erros<br />
ortográficos encontrados em textos narrativos <strong>de</strong> alunos ingressantes no<br />
ensino médio em 2011, no IFSUL/ CAVG. O levantamento realizado<br />
ocorreu a partir da coleta <strong>de</strong> 161 textos, produzidos por sete turmas do<br />
projeto – piloto realizado entre abril/maio daquele ano. Os resultados<br />
foram: total <strong>de</strong> erros encontrados: 874, mas para esse trabalho<br />
aproveitamos 770. Erros <strong>de</strong> motivação fonética: 143, tais como redução<br />
<strong>de</strong> ditongo como em fico para ficou. Erros <strong>de</strong> motivação fonológica:<br />
122, tais como trocas <strong>de</strong> pares distintivos como em farinha para<br />
varinha. Erros contextuais: 65, que envolviam a utilização do /s/ e do /r/<br />
como em: aniverssário para aniversário e <strong>de</strong>rubaram para <strong>de</strong>rrubaram.<br />
Erros arbitrários: 291, tais como a utilização do H inicial como em avia<br />
para havia. Hiper-segmentação e hipossegmentação: 94, como na hipersegmentação<br />
em amigas para amigas e na hipossegmentação <strong>de</strong><br />
terminoutudo para terminou tudo. Híbridos: 55, quando dois ou mais<br />
tipos <strong>de</strong> erros acima <strong>de</strong>scritos aparecem conjuntamente na grafia das<br />
palavras, como em come sou para começou As conclusões preliminares<br />
indicam que são os erros <strong>de</strong> natureza arbitrária, ou seja, aqueles em que<br />
não há uma regra que <strong>de</strong>fina a utilização <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada letras num<br />
dado contexto os que apresentam maiores dificulda<strong>de</strong>s para os sujeitos<br />
e que ainda no ensino médio é necessário um trabalho sistematizado<br />
com ortografia, a fim <strong>de</strong> que sejam sanadas tais dificulda<strong>de</strong>s.<br />
129
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O LÉXICO NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA<br />
CRIANÇAS<br />
Cristina Pureza Duarte Boéssio<br />
Nara Rejane Pinto Aquino<br />
Palavras-chave: língua espanhola, léxico, crianças.<br />
Os estudos encontrados sobre <strong>aqui</strong>sição do léxico em língua<br />
estrangeira, na maioria das vezes tratam do Inglês, que é discutido em<br />
uma perspectiva <strong>de</strong> compreensão e produção escrita, portanto este<br />
trabalho busca ser original já que trata <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> Língua Espanhola<br />
para crianças brasileiras em contexto escolar, sem utilizar a leitura ou a<br />
escrita. Este trabalho se originou a partir <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> Espanhol<br />
para crianças, envolvendo alunos <strong>de</strong> uma escola da re<strong>de</strong> pública <strong>de</strong><br />
Jaguarão. Essa experiência <strong>de</strong>spertou nosso interesse em refletir sobre o<br />
ensino <strong>de</strong> língua espanhola a crianças brasileiras em fase <strong>de</strong><br />
alfabetização em sua língua materna, com foco sobre o ensino do<br />
léxico. As práticas são relatadas através das experiências realizadas na<br />
escola, utilizando como recursos, materiais lúdicos como ví<strong>de</strong>os,<br />
histórias infantis, canções e jogos em sala <strong>de</strong> aula, apresentando temas<br />
<strong>de</strong> suas realida<strong>de</strong>s cotidianas que lhes interessassem. Busca refletir<br />
sobre como se <strong>de</strong>u esse ensinamento nas aulas e como essa prática foi<br />
recebida pelos alunos sem utilização da escrita, somente através da<br />
oralida<strong>de</strong> e audição. Para isso foi utilizado a língua em todo momento<br />
nas aulas para que se acostumassem e percebessem a nova língua como<br />
um instrumento <strong>de</strong> interação, e não somente para nomear coisas em<br />
outra língua. O resultado <strong>de</strong>ste trabalho nos mostrou que o ensino <strong>de</strong><br />
espanhol para crianças <strong>de</strong>ve ser dado como a <strong>aqui</strong>sição da língua<br />
materna em suas casas. Começam produzindo palavras soltas <strong>de</strong> coisas<br />
que os ro<strong>de</strong>iam, para somente <strong>de</strong>pois com o tempo usar a língua em sua<br />
totalida<strong>de</strong>, e a utilização do léxico nas aulas para futuras investigações<br />
contribuindo assim para o crescimento do trabalho <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> LEC<br />
para crianças ainda em fase <strong>de</strong> alfabetização.<br />
130
Resumo dos Trabalhos<br />
UM ESTUDO SOBRE OS ERROS ORTOGRÁFICOS NO<br />
ENSINO MÉDIO<br />
Daiani De Jesus Garcia<br />
Claudia Regina Minossi Rombaldi<br />
Palavras-chave: erro ortográfico, Ensino Médio, <strong>aqui</strong>sição da escrita.<br />
Um estudo sobre os erros ortográficos no Ensino Médio Claudia Regina<br />
Minossi Rombaldi (IFSul-CaVG)Daiani <strong>de</strong> Jesus Garcia (IFSul-<br />
CaVG)A área da <strong>aqui</strong>sição da escrita vem <strong>de</strong>senvolvendo estudos que<br />
procuram esclarecer<strong>de</strong> que modo as representações ortográficas são<br />
construídas pelos escreventes.<br />
Baseado em pesquisas, tais como as <strong>de</strong>senvolvidas por Abaurre (1988,<br />
1991, 1999), Chacon (2004, 2005, 2006) e Miranda (2006, 2008, 2009),<br />
originou-se o projeto “Relação entre conhecimento linguístico <strong>de</strong><br />
alunos do Ensino Médio e grafias não convencionais extraídas <strong>de</strong> textos<br />
narrativos e dissertativos”, no IFSul – CaVG. O referido projeto tem<br />
por objetivo <strong>de</strong>screver e analisar os erros ortográficos produzidos no<br />
Ensino Médio característicos do processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da escrita. A<br />
partir <strong>de</strong> uma análise preliminar <strong>de</strong> narrativas motivadas por histórias<br />
em quadrinhos, pô<strong>de</strong>-se observar que há dados característicos <strong>de</strong> um<br />
processo ainda inicial <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição: os motivados fonologicamente –<br />
‘estantes’ em vez <strong>de</strong> ‘instantes’, os motivados foneticamente – ‘abrio’<br />
em vez <strong>de</strong> ‘abriu’, os <strong>de</strong> influência prosódica – ‘enseguida’ em vez <strong>de</strong><br />
‘em seguida’, e os característicos do sistema ortográfico – ‘pusseram’<br />
em vez <strong>de</strong> ‘puseram’. Percebeu-se, ainda, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> adaptação<br />
do tipo <strong>de</strong> coleta. As próximas etapas buscarão obter dados por meio <strong>de</strong><br />
textos dissertativos e <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> controle.<br />
TRABALHANDO COM O LÚDICO: A MOTIVAÇÃO NAS<br />
AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS<br />
Deise Anne Terra Melgar<br />
Vanessa David Acosta<br />
Palavras-chave: motivação; crianças; língua estrangeira.<br />
Certamente a maioria das pessoas já ouviu dizer que apren<strong>de</strong>r uma<br />
língua estrangeira ainda criança é mais fácil, ou que as crianças<br />
apren<strong>de</strong>m melhor ou mais rápido uma língua estrangeira que os adultos.<br />
A veracida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas afirmações até po<strong>de</strong> ser discutida, mas ao<br />
participar <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> extensão da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa<br />
– campus Jaguarão, que trabalha com o ensino <strong>de</strong> Espanhol para<br />
131
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
crianças, percebemos que, quando uma abordagem a<strong>de</strong>quada, que<br />
motive os alunos, o ensino é muito mais significativo. O referido<br />
projeto, “Español Básico para Niños”, tem o objetivo <strong>de</strong> ensinar essa<br />
língua estrangeira a crianças das séries iniciais do ensino fundamental,<br />
com o uso <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s lúdicas ancoradas na oralida<strong>de</strong>, em um<br />
ambiente <strong>de</strong> imersão na língua alvo, pois acreditamos que uma criança<br />
nesta faixa etária, que ainda não está totalmente alfabetizada em sua<br />
língua materna, terá maior dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r a língua estrangeira.<br />
Por isso trabalhamos na perspectiva <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da língua estrangeira<br />
(KRASHEN, 1998), semelhante ao que acontece com a língua materna<br />
no ambiente familiar, antes <strong>de</strong> a criança ingressar na escola. Portanto, a<br />
partir <strong>de</strong> observações realizadas nas aulas do projeto e <strong>de</strong> leituras<br />
teóricas sobre a temática, preten<strong>de</strong>mos analisar <strong>de</strong> que forma a<br />
abordagem utilizada nas aulas <strong>de</strong> língua estrangeira influencia a<br />
motivação das crianças.<br />
O BENEFÍCIO AUDIOVISUAL NA PERCEPÇÃO DE SONS DE<br />
LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
Denise Cristina Kluge<br />
Está cada vez mais claro que a fala humana é uma função multimodal<br />
que po<strong>de</strong> serapreendida tanto por meio visual (leitura labial), como por<br />
meio auditivo. A expressão “benefício Audiovisual”, <strong>de</strong>finida como a<br />
quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> beneficio resultante da combinação das pistas visual e<br />
auditiva (GRANT; SEITZ, 1998), tem sido usada para <strong>de</strong>screver as<br />
vantagens da apresentação audiovisual sobre a apresentação somente<br />
auditiva, tanto na língua materna como na língua estrangeira.<br />
Consi<strong>de</strong>rando a importância da percepção dos sons da língua<br />
estrangeira no aprendizado <strong>de</strong> sua pronúncia, esta apresentação revisa e<br />
discute estudos sobre o benefício audiovisual na percepção da fala, em<br />
geral, e <strong>de</strong> seu papel na percepção <strong>de</strong> língua estrangeira. Além disso,<br />
esta apresentação revisa e discute estudos que investigaram o papel das<br />
pistas visuais na percepção das consoantes nasais em final <strong>de</strong> palavras<br />
por brasileiros aprendizes <strong>de</strong> inglês. De forma geral, os resultados das<br />
pesquisas apontam o benefício das pistas visuais na i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong>sses<br />
contrastes visualmente distintivos.<br />
132
Resumo dos Trabalhos<br />
VOGAIS MÉDIAS - UM BALANÇO DO COMPORTAMENTO<br />
NA AQUISIÇÃO E EM TIPOLOGIAS DE LÍNGUAS<br />
Gabriela Tornquist<br />
Jones Neuenfeld Schüller<br />
Palavras-chave: vogais médias, <strong>aqui</strong>sição da linguagem, tipologias <strong>de</strong><br />
línguas.<br />
O comportamento das vogais médias do Português - /e, o, E, O/ - tem<br />
suscitado diferentes pesquisas, consi<strong>de</strong>rando-se a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
processos <strong>de</strong> que tais segmentos são alvo na língua. A partir <strong>de</strong>ssa<br />
constatação, o presente trabalho tem o foco nas vogais médias,<br />
abarcando dois eixos: sua <strong>aqui</strong>sição e seu comportamento em<br />
diferentes tipologias <strong>de</strong> línguas. Assim, este trabalho vem aliar-se aos<br />
ainda restritos estudos sobre a <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> sistemas vocálicos,<br />
chamando a noção <strong>de</strong> marcação e introduzindo o uso da i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
robustez, proposta por Clements para dar conta dos contrastes nos<br />
sistemas consonantais, para o âmbito dos inventários vocálicos.<br />
Constatando a emergência tardia das vogais médias em crianças<br />
falantes nativas do português brasileiro (PB) (RANGEL, 2002;<br />
MATZENAUER & MIRANDA, 2007; VOGELEY, 2011), este<br />
trabalho discute o comportamento dos traços que compõem sua<br />
estrutura e que opõem essas vogais no sistema, estabelecendo uma<br />
escala <strong>de</strong> robustez <strong>de</strong> contrastes. A robustez dos traços que implicam<br />
oposição entre as vogais médias entre si e com os outros segmentos<br />
vocálicos que integram os sistemas é discutida não apenas com o<br />
suporte <strong>de</strong> dados da <strong>aqui</strong>sição da fonologia por crianças falantes <strong>de</strong> PB,<br />
mas também com a observação <strong>de</strong> inventários <strong>de</strong> vogais em diferentes<br />
tipologias <strong>de</strong> línguas. A análise das oposições que envolvem as vogais<br />
médias em sistemas linguísticos leva em consi<strong>de</strong>ração as lacunas que<br />
tais sistemas apresentam. O tratamento dado aos traços, no presente<br />
estudo, tem o fundamento teórico em Clements (2009), em Dresher<br />
(2009) e em Calabrese (2005).<br />
O DESENVOLVIMENTO DA INTERLÍNGUA COMO UM<br />
SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO: UM CRUZAMENTO<br />
DE PERSPECTIVAS<br />
Gisele Medina Nunes<br />
Na busca por uma abordagem que abarcasse a aprendizagem <strong>de</strong> línguas<br />
<strong>de</strong> uma forma mais global e dinâmica, linguistas aplicados como<br />
133
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
LARSEN-FREEMAN (1997) recorreram à teoria do<br />
Caos/Complexida<strong>de</strong> como metáfora para tratar <strong>de</strong>sse processo. Nesta<br />
perspectiva, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>-se que apren<strong>de</strong>r uma língua é um sistema<br />
complexo, pois possui todas as suas características: é aberto, sensível a<br />
fatores externos e a condições iniciais, imprevisível, não-linear, regido<br />
por regras <strong>de</strong> baixo nível e auto-organizável. Este trabalho aponta que a<br />
interlíngua po<strong>de</strong> ser um sistema adaptativo complexo (SAC), sendo<br />
<strong>de</strong>senvolvida por meio <strong>de</strong> um blog por alunas <strong>de</strong> uma turma <strong>de</strong> Língua<br />
Inglesa <strong>de</strong> 6º e 7º semestre do curso <strong>de</strong> Letras da <strong>UFPel</strong>, uma vez que<br />
os cinco processos centrais apontados pro Selinker (1972) que regem<br />
seu <strong>de</strong>senvolvimento se aproximam das características dos SAC. Dito<br />
isto, este trabalho objetivou analisar o <strong>de</strong>senvolvimento da interlíngua<br />
durante os dois semestres <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos em um<br />
blog, verificando se houve aprimoramento da habilida<strong>de</strong> escrita das<br />
alunas sob a ótica da teoria do Caos/Complexida<strong>de</strong>. Foram analisados<br />
textos <strong>de</strong> duas alunas e as correções dos colegas a esses textos por<br />
método quantitativo e qualitativo a fim <strong>de</strong> observar os elementos<br />
corrigidos e a evolução dos textos em termos estruturais. Verificou-se,<br />
preliminarmente, uma diminuição na incidência <strong>de</strong> erros ortográficos e<br />
<strong>de</strong> regência verbal. Concluiu-se, assim, que a interlíngua das alunas<br />
evoluiu e comportou-se como um SAC ao longo <strong>de</strong> dois semestres <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>s, uma vez que foi possível relacionar as características dos<br />
SAC aos processos centrais citados por Selinker (1972).<br />
VARIAÇÃO ENTRE FALA ESPONTÂNEA E NÃO-<br />
ESPONTÂNEA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB):<br />
PRELIMINARES DE ANÁLISE PARA A CARACTERIZAÇÃO<br />
DO DISCURSO JURÍDICO<br />
Jael Sânera Sigales Gonçalves<br />
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer<br />
Segundo Beckman (1997), classificam-se como sendo <strong>de</strong> fala<br />
espontânea as produções linguísticas dos falantes sem que haja<br />
intervenção do pesquisador; se produzidas mediante eliciação do<br />
investigador, com leitura ou outro tipo <strong>de</strong> controle, diz-se fala <strong>de</strong><br />
laboratório. Em estudos recentes sobre fenômenos prosódicos das<br />
línguas do mundo, tem-se <strong>de</strong>batido acerca das diferentes contribuições<br />
que dados <strong>de</strong> fala espontânea e <strong>de</strong> laboratório oferecem às análises (Xu,<br />
2010). Especificamente na literatura do Português Brasileiro (PB), há<br />
pesquisas sobre fenômenos suprassegmentais com dados <strong>de</strong> fala<br />
134
Resumo dos Trabalhos<br />
espontânea (Lucente; Barbosa, 2010) e com dados <strong>de</strong> leitura (Tenani,<br />
2002). O presente trabalho, inserido em pesquisa que busca<br />
características entoacionais <strong>de</strong> um discurso jurídico específico, objetiva<br />
i<strong>de</strong>ntificar se as características <strong>de</strong> tal discurso permitem reconhecê-lo<br />
como fala espontânea ou lida. Para tanto, foram coletadas produções<br />
linguísticas em votos proferidos pelos ministros do Supremo Tribunal<br />
Fe<strong>de</strong>ral (STF), que se apresentam como sujeitos do estudo.<br />
Primeiramente, fez-se a transcrição da fala <strong>de</strong> cada um dos 10 sujeitos<br />
que proferiram voto na Arguição <strong>de</strong> Descumprimento <strong>de</strong> Preceito<br />
Fundamental 186, julgada pelo STF. Em seguida, realizou-se a<br />
categorização das sentenças em fala espontânea e fala não-espontânea,<br />
<strong>de</strong> acordo com Beckman (1997). Com o uso do software Praat, fez-se<br />
um teste <strong>de</strong> percepção das sentenças, para que sujeitos falantes nativos<br />
<strong>de</strong> PB, com formação universitária, as i<strong>de</strong>ntificassem como (a)<br />
espontânea ou (b) não-espontânea. Os resultados do teste evi<strong>de</strong>nciam<br />
que, no discurso jurídico analisado, a i<strong>de</strong>ntificação feita pelos sujeitos<br />
não correspon<strong>de</strong> necessariamente à categorização preliminar realizada<br />
com o critério apresentado na literatura, motivando uma discussão<br />
sobre o estabelecimento <strong>de</strong>ssas categorias.<br />
FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DA LÍNGUA<br />
ESTRANGEIRA NA PROVA DO ENEM DE ALUNOS DO<br />
COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE<br />
Janaína Buchweitz E Silva<br />
Serão relatados os dados apurados em uma pesquisa com as turmas <strong>de</strong><br />
terceiro ano do ensino médio do Colégio Municipal Pelotense, realizada<br />
no ano letivo <strong>de</strong> 2012. Os alunos respon<strong>de</strong>ram espontaneamente a um<br />
questionário contendo perguntas sobre quais fatores influenciaram na<br />
escolha <strong>de</strong> idioma (inglês ou espanhol) para a prova <strong>de</strong> língua<br />
estrangeira do ENEM 2012. Serão apresentados dados como:<br />
quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alunos que farão a prova do ENEM, quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
alunos que optaram por inglês e espanhol, e, principalmente, os fatores,<br />
listados por eles próprios, que foram <strong>de</strong>terminantes no momento <strong>de</strong><br />
escolha da língua. Também serão apresentados fatores listados que<br />
influenciaram na não escolha da outra língua oferecida.<br />
135
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
DIÁLOGO ENTRE KRASHEN, LARSEN-FREEMAN E WILLIS:<br />
IDEIAS COMUNS SOBRE AQUISIÇÃO DE L2.<br />
Juarez A. Lopes Jr.<br />
Palavras-chave: Teoria do Caos/Complexida<strong>de</strong>, Aprendizagem baseada<br />
em Tarefas, Aquisição <strong>de</strong> segunda língua.<br />
Em 1997, a autora Diane Larsen-Freeman publicou um inquietante<br />
artigo chamado “Ciência do Caos/Complexida<strong>de</strong> e Aquisição <strong>de</strong><br />
Segunda Língua” (LARSEN-FREEMAN, 1997). Nesse trabalho, a<br />
linguista argumenta que há muitas semelhanças entre a nova ciência do<br />
caos/complexida<strong>de</strong> e a <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> segunda língua. Diante <strong>de</strong> tais<br />
reflexões, preten<strong>de</strong>-se analisar, por um viés teórico, a estrutura e a<br />
teoria da aprendizagem baseada em tarefas (Task Based Learning) e<br />
estabelecer pontos <strong>de</strong> contato entre essa metodologia <strong>de</strong> ensino, a teoria<br />
da complexida<strong>de</strong> e as cinco hipóteses <strong>de</strong> Krashen (1982) sobre<br />
<strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> uma segunda língua.De acordo com Willis, J (1996), essa<br />
abordagem comunicativa apresenta seis etapas, a saber: pré-tarefa,<br />
tarefa, planejamento, relatório, análise e prática. Como recorte em um<br />
universo tão amplo, tem-se a relação da teoria do caos/complexida<strong>de</strong> e<br />
das cinco hipótese <strong>de</strong> Krashen com o ciclo da tarefa – tarefa,<br />
planejamento e relatório (task-planning-report), enunciado por Willis, J<br />
(1996). Assim, com esse trabalho, busca-se mostrar que o ciclo da<br />
tarefa po<strong>de</strong> ser caracterizado como um sistema adaptativo complexo,<br />
uma vez que satisfaz suas regras <strong>de</strong> baixo nível, já que se trata <strong>de</strong> um<br />
sistema que é dinâmico, complexo, não linear, imprevisível, sensível às<br />
condições iniciais, aberto, auto-organizável, sensível ao feedback e<br />
adaptável. De acordo com Larsen Freeman e Cameron (2008), uma<br />
abordagem complexa não se traduz em um método <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> L2<br />
complexo. Esta apresentação visa aproximar o trabalho seminal da<br />
linguista Diane Larsen – Freeman sobre a Teoria do<br />
Caos/Complexida<strong>de</strong> e Aquisição <strong>de</strong> Segunda Língua (1997) e as cinco<br />
hipóteses <strong>de</strong> Krashen (1982) à Aprendizagem Baseada em Tarefas<br />
proposta por Willis, J and Willis, D. (1988).<br />
REPENSANDO A CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA E A<br />
RELAÇÃO ENTRE OS SUBSISTEMAS FONOLÓGICO E<br />
MORFOLÓGICO DA LÍNGUA<br />
Juliana Tatsch Menezes<br />
Liane Silva Barreto<br />
Aline Lorandi (Orientadora)<br />
136
Resumo dos Trabalhos<br />
Palavras-chave: Consciência Linguística, Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>scrição<br />
Representacional, Consciência Morfológica e fonológica.<br />
Os estudos sobre consciência linguística evoluem junto com a<br />
neurociência para enten<strong>de</strong>r como a mente funciona e como se<br />
<strong>de</strong>senvolve o conhecimento. Acreditando que a mente <strong>de</strong>senvolve-se<br />
em um processo <strong>de</strong> gradual modularização e que as estruturas tornamse<br />
especializadas com o tempo em <strong>de</strong>terminada função cognitiva,<br />
tomamos consciência linguística como o alcance <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados<br />
níveis <strong>de</strong> representação mental no qual é possível acessar/expressar o<br />
conhecimento por meio da sensibilida<strong>de</strong> aos recursos da língua e <strong>de</strong> sua<br />
verbalização. Sob a luz do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> re<strong>de</strong>scrição representacional <strong>de</strong><br />
Karmiloff-Smith (1986, 1992), este trabalho tem como proposta<br />
apresentar a pesquisa sobre consciência linguística, discutindo a questão<br />
<strong>de</strong> que consciência fonológica e consciência morfológica possam<br />
constituir microdomínios diferentes da mente. O Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
Re<strong>de</strong>scrição Representacional sugere como uma informação implícita<br />
na mente passa a explícita para a mente humana por meio <strong>de</strong> quatro<br />
níveis em que o conhecimento é re<strong>de</strong>scrito para enten<strong>de</strong>r o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento cognitivo a partir <strong>de</strong> uma abordagem<br />
<strong>de</strong>senvolvimental. A presente pesquisa busca trazer algumas evidências<br />
para mostrar que os subsistemas referentes à consciência fonológica e a<br />
consciência morfológica encontram-se em microdomínios diferentes, <strong>de</strong><br />
acordo com a teoria <strong>de</strong> Karmiloff-Smith, po<strong>de</strong>ndo se <strong>de</strong>senvolver <strong>de</strong><br />
forma in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e em momentos distintos.<br />
INTERFERÊNCIAS DO PORTUGUES NA APRENDIZAGEM<br />
DE ESPANHOL COM LE<br />
Juliane Wojciechowski Silva<br />
Um dos maiores problemas que professores encontram no ensino <strong>de</strong><br />
E/LE para brasileiros é a semelhança da língua objeto com a língua<br />
materna - nesse caso <strong>aqui</strong>, o português - em alguns aspectos<br />
linguísticos. A partir disso, surgem dificulda<strong>de</strong>s na aprendizagem <strong>de</strong>sse<br />
idioma como língua estrangeira. Ainda que o brasileiro não tenha<br />
dificulda<strong>de</strong> em comunicar-se frente a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fala com um<br />
nativo num primeiro contato, surgem muitas formas que não se<br />
configuram na língua objeto, nas quais frequentemente configuram<br />
transferência <strong>de</strong> sua língua materna, ou uma espécie <strong>de</strong> mescla das duas<br />
línguas. Para isso, analisou-se a produção textual e oral <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong><br />
E/LE <strong>de</strong> nível básico e intermediário do curso "Espanhol para o<br />
137
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Turismo", parte <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> extensão <strong>de</strong>stinado à comunida<strong>de</strong><br />
acadêmica da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong>. O objetivo é<br />
verificar as principais dificulda<strong>de</strong>s encontradas na fala e na escrita dos<br />
estudantes do projeto, e estudá-las a partir do ponto <strong>de</strong> vista linguístico-<br />
morfológico.<br />
ESPAÑOL PARA NIÑOS: RELATO DE PRÁCTICAS EN<br />
AMBIENTES ESCOLARES<br />
Larissa Da Silva Ramos<br />
Thais Priscila Silva De Oliveira<br />
Palabras-clave: Español, ambiente escolar, niños.<br />
La importancia <strong>de</strong>l español en el mundo viene creciendo y nosotras,<br />
estudiantes y profesora <strong>de</strong>l Curso <strong>de</strong> Letras <strong>de</strong> la “Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
do Pampa – UNIPAMPA”, situada en una zona <strong>de</strong> frontera nos<br />
preocupamos, principalmente, en <strong>de</strong>spertar el gusto en el alumno por la<br />
aprendizaje <strong>de</strong>l idioma extranjero. Nuestro trabajo se originó <strong>de</strong><br />
prácticas <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> español para niños en dos escuelas <strong>de</strong> la red<br />
la municipal <strong>de</strong> educación <strong>de</strong> Jaguarão, Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, Brasil, con<br />
niños <strong>de</strong>l segundo y cuarto año <strong>de</strong> la enseñanza básica – algo que no es<br />
común en las escuelas brasileñas – y tiene el objetivo <strong>de</strong> relatar esas<br />
prácticas, reflexionando sobre la importancia <strong>de</strong> enseñar español a<br />
niños y <strong>de</strong> cómo hacerlo en una región <strong>de</strong> frontera, dando énfasis a la<br />
oralidad. En las clases trabajamos a través <strong>de</strong> temáticas como<br />
presentaciones, buenos modales, los numerales, los colores, las<br />
vestimentas, animales entre otras, pues creemos que por hacer parte <strong>de</strong>l<br />
cotidiano <strong>de</strong> los alumnos se tornan más significativas y así <strong>de</strong>spiertan el<br />
gusto por la lengua española. A<strong>de</strong>más, en la elaboración <strong>de</strong> las clases<br />
siempre tenemos el cuidado <strong>de</strong> enlazar las temáticas para que hagan<br />
sentido. A partir <strong>de</strong> nuestras experiencias percibimos que prácticas<br />
como esas son importantes para motivar a los alumnos a querer conocer<br />
más la lengua española.<br />
138
Resumo dos Trabalhos<br />
A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE<br />
VOGAIS DO INGLÊS POR FALANTES NATIVOS DO<br />
PORTUGUÊS PARA MELHOR INTELIGIBILIDADE<br />
Letícia Piske Soares<br />
Conforme o Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Aprendizagem <strong>de</strong> fala <strong>de</strong> Flege (1995), ao<br />
apren<strong>de</strong>r uma língua estrangeira (L2), as categorias fonéticas da língua<br />
materna (L1) do aprendiz ten<strong>de</strong>rão a impedir a formação <strong>de</strong> categorias<br />
da L2, visto que o sistema fonológico da L1 funciona como um filtro<br />
que impe<strong>de</strong> a produção e percepção da diferenças acústicas dos sons da<br />
L2. Estudos (FLEGE, 1987; BION et al., 2006) têm mostrado que,<br />
quanto mais sutis as diferenças fonéticas entre sons da L2 e da L1 (sons<br />
“semelhantes”), maiores serão as dificulda<strong>de</strong>s para perceber as<br />
diferenças entre eles e produzi-los satisfatoriamente (FLEGE, 1995).<br />
Com o objetivo <strong>de</strong> conscientizar professores e alunos aprendizes <strong>de</strong><br />
inglês sobre a importância da diferenciação <strong>de</strong> pares vocálicos para a<br />
pronúncia e percepção compreensível <strong>de</strong> palavras do inglês, este estudo<br />
investigou a percepção e produção das vogais anteriores /, I,<br />
E, ae/ do inglês por um grupo <strong>de</strong> vinte portugueses. Para testar a<br />
percepção das vogais-alvo, os informantes fizeram um teste <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação elaborado com estímulos naturais. Quanto à produção, a<br />
coleta <strong>de</strong> dados foi feita através da leitura da frase-veículo “Say CVC<br />
now.”, on<strong>de</strong> C eram consoantes plosivas ou fricativas surdas e V, as<br />
vogais inglesas /i, I, E, ae/. Os resultados revelam que os informantes<br />
ten<strong>de</strong>m a consi<strong>de</strong>rar as duas categorias vocálicas <strong>de</strong> cada par como uma<br />
só. Os resultados também indicam que as vogais mais bem percebidas<br />
(i-I) foram as produzidas com maior distinção.<br />
ESTUDO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS E SEUS<br />
SENTIDOS METAFÓRICOS: ANÁLISE CONTRASTIVA<br />
Liana Marcia Gonçalves Mafra<br />
Uma expressão idiomática ou expressão popular é um conjunto <strong>de</strong><br />
palavras que se caracteriza por não ser possível i<strong>de</strong>ntificar seu<br />
significado mediante o sentido literal dos termos analisados<br />
individualmente. Desta forma, em geral, é muito difícil ou até mesmo<br />
impossível traduzi-las para outras línguas, como é o caso do Português<br />
e o do Espanhol. As expressões idiomáticas estão frequentemente<br />
presentes na nossa comunicação rotineira e são rapidamente aceitas,<br />
inseridas e compreendidas por indivíduos <strong>de</strong> diferentes faixas etárias e<br />
139
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
também <strong>de</strong> diferentes nacionalida<strong>de</strong>s. Alguns exemplos tais como:<br />
chutar o bal<strong>de</strong> po<strong>de</strong> soar <strong>de</strong> maneira estranha na primeira vez em que<br />
ouvimos, no entanto, rapidamente são incorporadas no nosso<br />
vocabulário. As expressões idiomáticas muitas vezes estão associadas a<br />
gírias, jargões ou contextos culturais específicos a certos grupos <strong>de</strong><br />
pessoas que se distinguem pela classe, ida<strong>de</strong>, região, profissão ou outro<br />
tipo <strong>de</strong> afinida<strong>de</strong>. Muitas <strong>de</strong>stas expressões têm existência curta ou<br />
ficam restritas ao grupo on<strong>de</strong> surgiram, enquanto algumas outras<br />
resistem ao tempo e acabam sendo usadas <strong>de</strong> forma mais abrangente,<br />
extrapolando o contexto original. Neste último caso, a origem histórica<br />
do seu significado muitas vezes se per<strong>de</strong> <strong>de</strong> todo ou fica limitada a um<br />
relativamente pequeno grupo <strong>de</strong> usuários da língua.<br />
O MODELO DE REDESCRIÇÃO REPRESENTACIONAL E A<br />
CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA: ANALISANDO OS<br />
SUBSISTEMAS FONOLÓGICO E MORFOLÓGICO DA<br />
LÍNGUA<br />
Liane Barreto Silva<br />
Aline Lorandi<br />
Nos dias atuais, os estudos da psicolinguística ganham novas<br />
proporções e nos beneficiam com questionamentos sobre a mente<br />
humana, refletindo sobre como se <strong>de</strong>senvolve a <strong>aqui</strong>sição da linguagem,<br />
levando em consi<strong>de</strong>ração a neurociência. Com isso, a consciência<br />
linguística ganha um espaço importante e relevante nesses estudos,<br />
pois, acreditando que mente humana se <strong>de</strong>senvolve num processo <strong>de</strong><br />
gradual modularização, tornando-se especializada, com o tempo, em<br />
uma <strong>de</strong>terminada função cognitiva, a consciência se daria exatamente<br />
através do alcance <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados níveis <strong>de</strong> representação mental, no<br />
qual é possível acessar/expressar o conhecimento por meio da<br />
sensibilida<strong>de</strong> aos recursos da língua e <strong>de</strong> sua verbalização( Karmiloss-<br />
Smit, 1986,1992). Este trabalho tem como objetivo apresentar a<br />
pesquisa sobre consciência lingüística, mais necessariamente sobre a<br />
disparida<strong>de</strong> entre consciência fonológica e morfológica, sugerindo que<br />
possam se <strong>de</strong>senvolver como microdomínios distintos. Para<br />
compreen<strong>de</strong>r esse processo, utilizamos como referencial teórico a teoria<br />
<strong>de</strong> Karmiloff-Smit e o seu Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>scrição Representacional,<br />
que nos possibilita enten<strong>de</strong>r o <strong>de</strong>senvolvimento cognitivo por meio <strong>de</strong><br />
uma abordagem <strong>de</strong>senvolvimental que nos explica, com um mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
quatro níveis <strong>de</strong> representação menta l- 1 implícito e 3 explícitos -<br />
140
Resumo dos Trabalhos<br />
como a informação passa <strong>de</strong> implícita na mente a explícita para a mente<br />
humana. O trabalho, ainda em andamento, busca trazer algumas<br />
evidências para <strong>de</strong>mostrar que consciênciafonológia e morfológica<br />
po<strong>de</strong>m se <strong>de</strong>senvolver me microdomínios distintos <strong>de</strong> forma<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e em momentos distintos.<br />
UMA QUESTÃO ENTRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E<br />
EDUCAÇÃO ESPECIAL: SOBRE A SUBJETIVIDADE NO<br />
CONTEXTO ESCOLAR<br />
Luiz Carlos Souza Bezerra<br />
Este trabalho centra em discutir a questão da subjetivida<strong>de</strong> no contexto<br />
escolar bem como, acerca <strong>de</strong> uma proposta alternativa na teorização <strong>de</strong><br />
práticas escolares da educação especial ancorada em uma concepção <strong>de</strong><br />
linguagem que inclua o corpo e o sujeito. A pesquisa foi movida por<br />
duas questões fundamentais: a) qual a concepção <strong>de</strong> linguagem, corpo e<br />
sujeito adotada pela educação especial e; b) os construtos teóricos que<br />
fundamentam esta proposta propiciam funcionamento <strong>de</strong> linguagem.<br />
Portanto, assumimos que a prática pedagógica é uma prática <strong>de</strong><br />
linguagem, e a escola é lugar <strong>de</strong> constituição subjetiva e <strong>de</strong><br />
funcionamento linguístico-discursivo (BEZERRA, 2010, 2011, 2012).<br />
Para esclarecer as questões suscitadas, temos recorrido, por um lado, a<br />
perspectiva teórica <strong>de</strong>senvolvida por Cláudia <strong>de</strong> Lemos (2006, 2009) e<br />
ao Grupo <strong>de</strong> Pesquisa em Aquisição, Patologias e Clínica <strong>de</strong><br />
Linguagem, do LAEL-PUCSP, coor<strong>de</strong>nador por Francisca Lier-DeVitto<br />
(2005, 2006, 2009) e, por outro lado, a Psicanálise. Destarte,<br />
preten<strong>de</strong>mos, neste trabalho, investigar a partir da interseção Aquisição<br />
da linguagem, <strong>Educação</strong> especial e Psicanálise a questão da<br />
subjetivida<strong>de</strong> nas práticas escolares. O material <strong>de</strong> análise consiste em<br />
relatos <strong>de</strong> experiências em cursos <strong>de</strong> formação docente, discurso <strong>de</strong><br />
professores e observação <strong>de</strong> práticas escolares.<br />
Os resultados apontam que é preciso ressignificar as concepções <strong>de</strong><br />
linguagem, <strong>de</strong> corpo e sujeito, pois na educação especial a linguagem é<br />
reduzida a instrumento <strong>de</strong> comunicação.<br />
141
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A PRONÚNCIA DE PALAVRAS PRÉ-PROPAROXÍTONAS DO<br />
INGLÊS: UM DESAFIO PARA BRASILEIROS E<br />
PORTUGUESES<br />
Maicon Lopes Simões<br />
Andreia Schurt Rauber<br />
No inglês, são comuns as palavras polissilábicas cujo acento primário<br />
recaia na quarta sílaba a partir do fim. Esse padrão acentual é<br />
encontrado em palavras morfologicamente complexas, quando um<br />
sufixo é adicionado à raiz <strong>de</strong> uma palavra proparoxítona; por exemplo:<br />
maTErialize, com a raiz maTErial, e inVEStigator, com a raiz<br />
inVEStigate. Nesses casos, geralmente há um acento secundário na<br />
sílaba final da raiz, que se torna a penúltima sílaba quando o sufixo é<br />
adicionado. Na língua portuguesa, não há padrão <strong>de</strong> acentuação<br />
semelhante e estudos que investigaram a produção <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong><br />
palavras por brasileiros revelam uma alta tendência a acentuar a última<br />
ou penúltima sílaba, produzindo, por exemplo, materialize e<br />
investigator (BRAWERMAN, 2006; WATKINS; ALBINI;<br />
BERTOCHI, 2010). Este trabalho objetivou replicar a pesquisa <strong>de</strong><br />
Watkins et al. (2010) com falantes portugueses, utilizando as mesmas<br />
50 palavras para a coleta <strong>de</strong> dados. Reportaremos os dados da produção<br />
<strong>de</strong> vinte falantes nativos do português europeu (10 homens e 10<br />
mulheres), com ida<strong>de</strong>s entre os 19 e 28 anos, alunos do segundo<br />
semestre do curso <strong>de</strong> Licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias<br />
<strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> portuguesa. Os informantes leram palavras<br />
projetadas isoladamente na tela <strong>de</strong> um computador. Os resultados<br />
revelam que os falantes portugueses seguem a mesma tendência dos<br />
brasileiros: acentuar a última ou a penúltima sílaba das palavras-alvo.<br />
A AQUISIÇÃO DA ESCRITA DO PORTUGUÊS POR<br />
CRIANÇAS BILÍNGUES (POMERANO /PORTUGUÊS):<br />
ASPECTOS FONÉTICOS E FONOLÓGICOS<br />
Marceli Tessmer Blank<br />
Ana Ruth Moresco Miranda (Orientadora)<br />
Palavras-chave: <strong>aqui</strong>sição da escrita; fenômenos fonético-fonológicos;<br />
fonemas surdo/sonoros.<br />
No Brasil, ainda hoje, existem comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
imigrantes que vieram para o país durante o século XIX. No RS, o<br />
pomerano - um dos dialetos do alemão padrão - ainda é utilizado como<br />
142
Resumo dos Trabalhos<br />
língua materna <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s germânicas. Por essa razão, as crianças<br />
<strong>de</strong>stas localida<strong>de</strong>s possuem o português como segunda língua, a qual,<br />
muitas vezes, é falada somente na escola ou com nativos do português.<br />
Estudos como os <strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>rman (2006); Schnei<strong>de</strong>r (2008); Gewehr-<br />
Borella (2010), entre outros, apontam para possíveis interferências da<br />
língua materna na escrita em português <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes. Em vista<br />
disso, este trabalho objetiva analisar as interferências fonéticas e<br />
fonológicas na <strong>aqui</strong>sição da escrita do português por crianças bilíngues<br />
(pomerano/PB), especificamente, fenômenos referentes à troca <strong>de</strong><br />
fonemas surdo/sonoro, substituição do ‘r-forte’ pelo r-fraco; troca <strong>de</strong><br />
ditongo ‘am’ por ‘on’, a fim <strong>de</strong> que se possa refletir sobre as relações<br />
entre a fala e escrita. Para tal, dados <strong>de</strong> escrita <strong>de</strong> doze crianças<br />
bilíngues são analisados e comparados com resultados referentes à<br />
escrita <strong>de</strong> crianças monolíngues, falantes do português brasileiro.<br />
Também dados <strong>de</strong> produção oral e <strong>de</strong> percepção dos bilíngues são<br />
consi<strong>de</strong>rados na análise. Os resultados encontrados nas produções orais<br />
e nos dados <strong>de</strong> percepção apontam para uma interferência da língua<br />
materna no português dos bilíngues. No que se refere aos dados <strong>de</strong><br />
produção escrita, as análises indicam que os bilíngues cometeram um<br />
maior número <strong>de</strong> erros relacionados à troca <strong>de</strong> fonemas surdo/sonoro,<br />
em se comparando aos monolíngues, as diferenças entre os grupos,<br />
porém, são pequenas, o que não acontece com os <strong>de</strong>mais fenômenos<br />
analisados, os quais apresentam diferenças significativas entre os<br />
grupos.<br />
INTELIGIBILIDADE E A PERCEPÇÃO DE SONS DO INGLÊS<br />
COMO LÍNGUA FRANCA<br />
Márcia Regina Becker<br />
Denise Cristina Kluge<br />
Hoje já é um fato concreto o <strong>de</strong> que a língua inglesa se tornou a língua<br />
da globalização, sendo usada como meio <strong>de</strong> comunicação entre pessoas<br />
<strong>de</strong> diversas línguas maternas (L1s). O básico, portanto, é que essas<br />
pessoas usuárias da língua inglesa se comuniquem sem a preocupação –<br />
comum tempos atrás – <strong>de</strong> soar como falantes nativos, mesmo porque a<br />
própria concepção do que seria um falante nativo hoje é bastante<br />
questionada. A inteligibilida<strong>de</strong>, referindo-se à extensão na qual uma<br />
produção é entendida <strong>de</strong> fato, é, portanto, a dimensão da pronúncia que<br />
assoma como a mais importante no contexto atual <strong>de</strong> inglês enquanto<br />
língua franca. O objetivo <strong>de</strong>sta comunicação é mostrar resultados <strong>de</strong><br />
143
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
algumas pesquisas voltadas à inteligibilida<strong>de</strong> da língua inglesa sob esse<br />
novo paradigma, através <strong>de</strong> experimentos <strong>de</strong> percepção, por parte <strong>de</strong><br />
falantes <strong>de</strong> português brasileiro, <strong>de</strong> discursos <strong>de</strong> falantes <strong>de</strong> inglês, que<br />
não têm, no entanto, o inglês como sua L1.<br />
Além disso, serão abordados alguns aspectos <strong>de</strong>sse construto complexo<br />
que é a inteligibilida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a própria questão terminológica, até<br />
fatores que a afetam e como po<strong>de</strong> ser avaliada.<br />
PIBID LETRAS - ESPANHOL: UMA OPORTUNIDAD DE<br />
VALORIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EM LA<br />
FRONTERA<br />
Maria Elia Gonçalves Martins<br />
Mara Belém<br />
Palabras clave: Enseñanza <strong>de</strong> español, formación docente, PIBID.<br />
Por medio <strong>de</strong>l sub proyecto Letras-Espanhol <strong>de</strong> la Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
do Pampa – Campus Jaguarão, que pertenece al Programa Institucional<br />
<strong>de</strong> Bolsa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID), vinculado a Coor<strong>de</strong>nação<br />
<strong>de</strong> Aperfeiçoamento <strong>de</strong> Pessoal <strong>de</strong> Nível Superior (CAPES),<br />
empezamos un trabajo en la enseñanza fundamental nocturna <strong>de</strong> la<br />
“Escola Municipal <strong>de</strong> Ensino Fundamental Padre Pagliani” que está<br />
ubicada en Jaguarão, ciudad que hace frontera con Río Branco<br />
(Uruguay), con el objetivo primero <strong>de</strong> valorizar la enseñanza <strong>de</strong> la<br />
Lengua Española, calificar nuestra formación docente y posibilitar La<br />
formación continuada. Basadas en una perspectiva socio interaccionista<br />
(Vigotsky, 1998) y enfocando en un proceso <strong>de</strong> adquisición (Carioni,<br />
1988) a través <strong>de</strong> inmersión en la lengua y su cultura, observamos la<br />
realidad <strong>de</strong> los grupos que participarían <strong>de</strong>l proyecto y planeamos<br />
pequeños talleres motivacionales para <strong>de</strong>spertar el gusto por el<br />
aprendizaje <strong>de</strong> la lengua Española. Nuestro trabajo tiene el objetivo <strong>de</strong><br />
reflexionar y relatar la construcción y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esos talleres,<br />
investigando los errores y los éxitos logrados.<br />
A GRAFIA DO GLIDE [W] EM DADOS DO PB E DO PE: UM<br />
OLHAR SOBRE AS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE<br />
OS DOIS SISTEMAS<br />
Milena Me<strong>de</strong>iros De Mattos<br />
Ana Ruth Moresco Miranda<br />
144
Resumo dos Trabalhos<br />
O presente trabalho ocupa-se da <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da<br />
escrita do Português Brasileiro e do Português Europeu referentes à<br />
grafia do gli<strong>de</strong> [w] nos finais <strong>de</strong> verbos flexionados na terceira pessoa<br />
do pretérito perfeito do indicativo. Os dois sistemas, o brasileiro e o<br />
europeu, têm características comuns, mas também apresentam<br />
distinções que, conforme Mateus (2006), po<strong>de</strong>m ser observadas nos<br />
níveis fonético, morfológico e sintático. As grafias incorretas<br />
encontradas nos dados dos dois sistemas são motivadas pela forma<br />
fonética ou por efeito <strong>de</strong> supergeneralização <strong>de</strong> regras ortográficas. No<br />
primeiro caso, observa-se o apagamento da vogal assilábica ‘u’,<br />
enquanto no segundo, a substituição <strong>de</strong> ‘u’ por ‘l’ ou ‘o’. Neste estudo,<br />
tem-se o objetivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>screver dados referentes à grafia do gli<strong>de</strong> [w]<br />
dos ditongos morfológicos resultantes da flexão verbal, na terceira<br />
pessoa do pretérito perfeito do indicativo, confrontando os resultados<br />
encontrados nos dados do Português Brasileiro com aqueles do<br />
Português Europeu. Os dados analisados pertencem ao BATALE<br />
(Banco <strong>de</strong> Textos <strong>de</strong> Aquisição da Linguagem Escrita) e provêm <strong>de</strong><br />
escrita espontânea produzida no ano <strong>de</strong> 2009 por alunos <strong>de</strong> 1ª a 4ª séries<br />
<strong>de</strong> escolas <strong>de</strong> Pelotas (Brasil) e do Porto (Portugal). No total, foram<br />
analisados 463 textos do PB e 176 do PE. A análise dos dados mostrou<br />
que uma das semelhanças entre o PB e o PE é o pequeno percentual <strong>de</strong><br />
grafias incorretas, a ocorrência <strong>de</strong> erros <strong>de</strong> substituição por ‘o’ em<br />
verbos <strong>de</strong> 2ª e 3ª conjugação, além do apagamento do grafema ‘u’ em<br />
verbos <strong>de</strong> 1ª conjugação. Em relação às diferenças, <strong>de</strong>staca-se a não<br />
ocorrência <strong>de</strong> erros <strong>de</strong> substituição por ‘l’ em dados do PE e a<br />
ocorrência <strong>de</strong> grafias inusitadas também no PE, diferentes daquelas<br />
esperadas para o contexto analisado.<br />
UMA DISCUSSÃO SOBRE AS VOGAIS MÉDIAS DO<br />
ESPANHOL DA FRONTEIRA<br />
Míriam Cristina Carniato<br />
Palavras-chave: sistemas fonológicos em contato, vogais médias,<br />
Fonologia Autossegmental.<br />
Estudos sobre sistemas vocálicos <strong>de</strong> diferentes línguas têm apontado a<br />
prevalente presença do triângulo /i/, /u/, /a/, com a oposição entre<br />
vogais altas e baixa, evi<strong>de</strong>nciando as vogais médias não apenas como<br />
menos frequentes, mas também como mais sujeitas a processos<br />
fonológicos. É exatamente essa a realida<strong>de</strong> da fonologia sincrônica do<br />
Português (CÂMARA JR., 1972; BISOL, 2005) e, também, do<br />
145
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da língua por crianças (MATZENAUER &<br />
MIRANDA, 2007). A partir <strong>de</strong>ssa realida<strong>de</strong>, foi proposto o presente<br />
trabalho, reunindo Português e Espanhol, levando em consi<strong>de</strong>ração<br />
mais três fatos linguísticos relevantes: (a) o número <strong>de</strong> vogais médias<br />
nos dois sistemas: a fonologia do Português integra sete vogais,<br />
incluindo quatro vogais médias (/e/, /E, /o/, /O/), e a fonologia do<br />
Espanhol apresenta cinco vogais, contendo apenas duas vogais médias<br />
(/e/, /o/); (b) o emprego das vogais médias baixas, no Espanhol, como<br />
formas variantes; (c) o contato entre Português e Espanhol na fronteira<br />
entre Brasil e Uruguai. O foco da pesquisa foi uma análise sobre o<br />
comportamento das vogais médias no uso da língua espanhola por<br />
falantes uruguaios, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rio Branco, que faz fronteira com a<br />
cida<strong>de</strong> brasileira <strong>de</strong> Jaguarão. Em uma primeira etapa, o estudo <strong>de</strong>tevese<br />
em resultados <strong>de</strong> pesquisas já realizadas sobre o comportamento das<br />
vogais médias nos dois sistemas, tendo sido confirmado o emprego das<br />
vogais médias baixas no Espanhol na condição <strong>de</strong> alofones, em<br />
contextos <strong>de</strong>terminados. Tal fenômeno é importante na discussão, uma<br />
vez que <strong>de</strong>le resulta que, no nível fonético, os dois sistemas em contato<br />
mostram a presença <strong>de</strong> quatro vogais médias. Os resultados obtidos até<br />
o momento, a partir da compilação <strong>de</strong> estudos, foram reanalisados à luz<br />
da Fonologia Autossegmental, seguindo Clements & Hume (1995) e<br />
Wetzels (2009).<br />
APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO SEGUNDA LÍNGUA<br />
NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE<br />
SANTA MARIA<br />
Nara Soares Torres<br />
Franciele Farias Sepel<br />
Observando o dinamismo <strong>de</strong> nossa socieda<strong>de</strong>, em que a globalização<br />
proporciona a troca <strong>de</strong> informações com frenética rapi<strong>de</strong>z, e estando<br />
Santa Maria a poucos quilômetros das fronteiras divisórias com<br />
Uruguai e Argentina, países hispano-falantes, é necessário dominar o<br />
idioma espanhol.<br />
Assim, o projeto “Inserção e Sensibilização <strong>de</strong> Ensino – Aprendizagem<br />
<strong>de</strong> Espanhol como segunda língua nas escolas <strong>de</strong> ensino fundamental e<br />
médio <strong>de</strong> Santa Maria”, do curso <strong>de</strong> Letras Espanhol da UFSM, oferece<br />
o ensino <strong>de</strong>ste idioma nas escolas “Pão dos Pobres”, para 90 crianças,<br />
pertencentes à 4ª série, e “Colégio Nossa Senhora do Perpétuo<br />
Socorro”, aten<strong>de</strong>ndo 110 alunos, estudantes da 6ª e 7ª séries. Justifica-<br />
146
Resumo dos Trabalhos<br />
se, também por aprimorar a competência linguística dos acadêmicos<br />
envolvidos e <strong>de</strong>senvolver eficiente planejamento em suas futuras<br />
ativida<strong>de</strong>s didáticas, além <strong>de</strong> instigar a interpretação do trinômio: aluno<br />
–professor – conhecimento.<br />
O PORTUGUÊS BRASILEIRO E O EUROPEU: UM<br />
COMPARATIVO SOBRE A AQUISIÇÃO DA GRAFIA DAS<br />
VOGAIS ÁTONAS<br />
Natália Dummer Zacher Reinke<br />
Alexandra Alves Brandt<br />
Palavras-Chave: Aquisição da escrita, vogais pretônicas, português<br />
brasileiro e europeu.<br />
Os sistemas vocálicos do Português Brasileiro (PB) e do Português<br />
Europeu (PE) são constituídos por sete fonemas vocálicos em posição<br />
tônica. Na posição pretônica, por efeito <strong>de</strong> neutralização, o PB<br />
apresenta cinco vogais e o PE quatro (MATZENAUER e MIRANDA,<br />
2009). O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é i<strong>de</strong>ntificar semelhanças e/ou<br />
diferenças que existem na grafia das vogais átonas em textos<br />
produzidos por crianças falantes <strong>de</strong> PB e <strong>de</strong> PE que cursam as primeiras<br />
séries do EF, tendo como base as diferenças entre seus sistemas<br />
vocálicos. Os dados analisados são erros ortográficos extraídos <strong>de</strong><br />
textos que compõem o BATALE da <strong>Faculda<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> da <strong>UFPel</strong>.<br />
Os erros foram classificados <strong>de</strong> acordo com as categorias propostas por<br />
Miranda (2011), às quais foram acrescidas outras, a saber: redução<br />
vocálica; inserção <strong>de</strong> átona; apagamento <strong>de</strong> átona. Acrescentou-se ainda<br />
uma categoria capaz <strong>de</strong> acomodar erros <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong><br />
supergeneralização. No montante <strong>de</strong> 195 erros, 73% foram grafados por<br />
crianças portuguesas. Nos dados brasileiros, os casos <strong>de</strong> alçamento da<br />
pretônica correspon<strong>de</strong>ram a cerca <strong>de</strong> 80%, consi<strong>de</strong>rando-se o total <strong>de</strong><br />
erros. No PE, a maioria dos erros aparece nos casos em que há inserção<br />
<strong>de</strong> vogais átonas ao final <strong>de</strong> palavras terminadas em rótica. Os<br />
resultados encontrados revelam a influência da fonologia e da fonética<br />
na escrita <strong>de</strong> crianças falantes <strong>de</strong> uma mesma língua, porém com<br />
variações em seus sistemas.<br />
147
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
DESNASALIZAÇÃO NO CONTEXTO FONÉTICO-<br />
FONOLÓGICO EM AQUISIÇÃO DA ESCRITA<br />
Natália Lectzow De Oliveira<br />
Ana Ruth Miranda (Orientadora)<br />
Os fenômenos fonético-fonológicos apresentam relação direta com o<br />
processo <strong>de</strong> escrita dos usuários do português brasileiro. Observa-se,<br />
com isso, que, <strong>de</strong>ntre os fenômenos existentes, os ditongos nasais em<br />
posição final <strong>de</strong> sílaba po<strong>de</strong>m se concretizar com ou sem nasalida<strong>de</strong>.<br />
Assim, a partir <strong>de</strong> um levantamento teórico acerca do processo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>snasalização em posição átona final, dá-se a realização <strong>de</strong>ste trabalho,<br />
já que, a partir do observado na literatura sobre o fenômeno, este<br />
encontra-se, também, em dados <strong>de</strong> escrita espontânea <strong>de</strong> crianças <strong>de</strong><br />
primeira a quarta série do ensino fundamental. Dessa forma, este estudo<br />
relaciona a literatura com os dados escritos obtidos até o presente<br />
momento. O processo <strong>de</strong> redução <strong>de</strong> ditongo nasal átono final é<br />
apresentado como um fenômeno variável cujo aparecimento está<br />
condicionado, na fala, por fatores linguísticos e extralinguísticos<br />
(Battisti, 2002, 2007; Bopp da Silva, 2005; Schwindt & Bopp da Silva,<br />
2009). Nesta pesquisa, ao enfocar a escrita, será observado o contexto<br />
fonético-fonológico em que ocorre o processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>snasalização, não<br />
sendo enfocadas, em primeira instância, as variáveis extralinguísticas<br />
que po<strong>de</strong>m propiciar o fenômeno. Para tal, foram analisadas produções<br />
escritas que compõem o Banco <strong>de</strong> Textos <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Linguagem<br />
Escrita (BATALE – FaE/<strong>UFPel</strong>), as quais são <strong>de</strong> crianças <strong>de</strong> primeira a<br />
quarta série <strong>de</strong> duas escolas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas. Os resultados<br />
encontrados mostram que, embora haja variação em posição átona final<br />
quando esta, por regularida<strong>de</strong>, manteria um ditongo nasal, a redução do<br />
ditongo nasal átono final em vocábulos verbais do tipo jogaram<br />
(jogar[u]), voltaram (voltar[u]), partiram (partir[u]) são predominantes.<br />
INTERFERÊNCIA DO PORTUGUÊS LÍNGUA MATERNA VS<br />
SUPERGENERALIZAÇÃO NA ESCRITA EM FRANCÊS<br />
Pablo Diego Nie<strong>de</strong>rauer Bernardi<br />
Isabella Mozzillo<br />
Palavras-chave: interlíngua, análise <strong>de</strong> erros, estratégias comunicativas.<br />
Apren<strong>de</strong>r línguas pressupõe o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um sistema<br />
linguístico particular: interlíngua (SELINKER, 1972). Trata-se do<br />
sistema mental híbrido que engloba o conhecimento linguístico prévio<br />
148
Resumo dos Trabalhos<br />
que possuímos advindo do contato entre línguas, <strong>de</strong>senvolvendo-se<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início da aprendizagem no momento da tentativa <strong>de</strong><br />
comunicação na língua-alvo, portanto, ocorrendo em todos os níveis <strong>de</strong><br />
competência. A língua materna do aprendiz constitui a maior parte<br />
<strong>de</strong>sse repertório prévio, sendo a base sobre a qual ele <strong>de</strong>senvolverá sua<br />
interlíngua.<br />
Na tentativa <strong>de</strong> comunicação é normal e inevitável a ocorrência <strong>de</strong><br />
erros, consi<strong>de</strong>rada como estratégia comunicativa, sendo a manifestação<br />
natural da aprendizagem, não um indício <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiência e ou<br />
incapacida<strong>de</strong> cognitiva. Com base nas teorias da análise <strong>de</strong> erros, <strong>de</strong><br />
interlíngua e <strong>de</strong> erro (CORDER, 1967) este trabalho busca apresentar<br />
uma análise e comparação da ocorrência dos fenômenos <strong>de</strong><br />
transferência da língua materna e da supergeneralização na escrita em<br />
língua francesa por nativos do português, mostrando que essas<br />
transferências ocorrem em abundância nos níveis iniciais, mas ten<strong>de</strong>m a<br />
permanecer até mesmo em níveis avançados, já que a língua materna é<br />
a base linguística que serve <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo para a aprendizagem <strong>de</strong> línguas,<br />
ao passo que os casos <strong>de</strong> supergeneralização, por estarem mais ligados<br />
com a proficiência na língua-alvo, ocorrem pouco nos níveis iniciais,<br />
ten<strong>de</strong>ndo a <strong>de</strong>saparecer da interlíngua dos aprendizes nos níveis<br />
avançados.<br />
SÂNDI EXTERNO E DADOS DE FALA DO SUL DO BRASIL<br />
Paula Penteado De David<br />
Cíntia Da Costa Alcântara<br />
Palavras-chave: sândi; variação linguística; fonologia.<br />
Os fenômenos <strong>de</strong> sândi externo no português brasileiro são tema <strong>de</strong><br />
importantes estudos na área <strong>de</strong> fonologia e variação linguística (cf.<br />
Bisol, 2002; 2003). Tais fenômenos, em contexto frasal são em número<br />
<strong>de</strong> três – ditongação, <strong>de</strong>geminação e elisão. Enquanto os dois primeiros<br />
têm um contexto mais amplo <strong>de</strong> aplicação, o terceiro – a elisão –<br />
apresenta um contexto bastante restrito, no qual necessariamente há<br />
uma vogal átona /a/, que <strong>de</strong>ve sofrer apagamento. Outrossim, os<br />
trabalhos <strong>de</strong> Bisol (1996; 2002; 2003) trazem evidências <strong>de</strong> que a<br />
ditongação apresenta gran<strong>de</strong> índice <strong>de</strong> aplicação, comparativamente aos<br />
dois outros processos. Consi<strong>de</strong>rando, pois, a relevância <strong>de</strong> estudos<br />
<strong>de</strong>ssa or<strong>de</strong>m para a compreensão <strong>de</strong> processos fonológicos variáveis,<br />
vigentes no português, este trabalho tem por objetivo analisar fatores <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>m linguística e extralinguística possíveis <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>adores dos<br />
149
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
processos <strong>de</strong> ditongação, <strong>de</strong>geminação e elisão atestados no extremo sul<br />
do Brasil, a partir <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> fala <strong>de</strong> usuários do PB como língua<br />
materna, que pertencem à comunida<strong>de</strong> pelotense.<br />
A ANÁLISE DE DESVIO FONOLÓGICO À LUZ DE<br />
SEGMENTOS E TRAÇOS<br />
Richele De Oliveira Pires<br />
Tamires Pereira Duarte Goulart<br />
Palavras-chave: <strong>aqui</strong>sição da linguagem, <strong>de</strong>svios fonológicos,<br />
segmentos e traços, Mo<strong>de</strong>lo Implicacional <strong>de</strong> Complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Traços,<br />
Teoria Autossegmental.<br />
Teorias fonológicas e fonoaudiologia são áreas do conhecimento que se<br />
têm integrado na busca <strong>de</strong> respostas mais efetivas sobre a natureza <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>svios <strong>de</strong> fala e sobre o funcionamento do processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da<br />
linguagem. Nessa interface, as teorias linguísticas têm oferecido<br />
subsídios relevantes para o diagnóstico e a terapia <strong>de</strong> <strong>de</strong>svios<br />
fonológicos. É nesse contexto que se situa a presente pesquisa,<br />
conceituando <strong>de</strong>svio fonológico, durante o processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da<br />
linguagem, como o funcionamento <strong>de</strong> uma gramática fonológica<br />
diferente daquela mostrada por seus pares, o que ocorre<br />
fundamentalmente por um sistema <strong>de</strong> contrastes dos segmentos que lhe<br />
é particular. Tais diferenças entre os sistemas <strong>de</strong>vem apresentar<br />
<strong>de</strong>terminadas proprieda<strong>de</strong>s, já i<strong>de</strong>ntificadas na literatura (por exemplo:<br />
Grunwell, 1985): erros resultantes <strong>de</strong> <strong>de</strong>svios especialmente<br />
consonantais, estagnação do sistema em estágios iniciais, <strong>de</strong>sencontro<br />
cronológico, gran<strong>de</strong> variabilida<strong>de</strong> fonética e/ou preferência sistemática<br />
por um som. Consi<strong>de</strong>rando-se que tais características têm sua base no<br />
comportamento <strong>de</strong> segmentos e traços distintivos, que são unida<strong>de</strong>s<br />
fundamentais no funcionamento das gramáticas fonológicas das<br />
línguas, e seguindo-se o entendimento <strong>de</strong> que as teorias linguísticas<br />
contêm o aparato indispensável para o diagnóstico <strong>de</strong> <strong>de</strong>svios<br />
fonológicos, realizou-se pesquisa com o objetivo <strong>de</strong> utilizar um mo<strong>de</strong>lo<br />
teórico cujo alicerce está em “traços distintivos” a fim <strong>de</strong> caracterizar e<br />
diferençar sistemas com <strong>de</strong>svios fonológicos, avaliando o grau <strong>de</strong><br />
severida<strong>de</strong> dos <strong>de</strong>svios. O estudo foi feito com duas crianças, um<br />
menino e uma menina, portadoras <strong>de</strong> <strong>de</strong>svios fonológicos – MC e MV ,<br />
respectivamente com as ida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 8:6 e 7:0 (anos: meses). Os dados<br />
linguísticos foram obtidos por meio <strong>de</strong> gravação, em entrevistas<br />
individuais que registraram fala espontânea e eliciada por instrumento.<br />
150
Resumo dos Trabalhos<br />
Depois <strong>de</strong> os dados terem sido transcritos foneticamente, foram<br />
i<strong>de</strong>ntificados o inventário fonético e o sistema fonológico dos sujeitos<br />
da pesquisa. O corpus do estudo foi analisado à luz do Mo<strong>de</strong>lo<br />
Implicacional <strong>de</strong> Complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Traços (MICT), proposto por Mota<br />
(1996), cujos fundamentos estão na Teoria Autossegmental (Clements<br />
& Hume, 1995) e na Teoria <strong>de</strong> Complexida<strong>de</strong> Fonológica (Calabrese,<br />
1995). Os dois casos <strong>de</strong> <strong>de</strong>svios fonológicos mostraram características<br />
diferentes, as quais foram captadas e formalizadas com a<strong>de</strong>quação pelo<br />
MICT, que também foi pertinente para a atribuição <strong>de</strong> diferentes graus<br />
<strong>de</strong> severida<strong>de</strong>. A análise permitiu, portanto, não apenas a i<strong>de</strong>ntificação<br />
da natureza <strong>de</strong> cada caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>svio linguístico, como também ofereceu<br />
indicações para possíveis caminhos para a terapia.<br />
O COMPORTAMENTO DAS RESTRIÇÕES UNIVERSAIS NA<br />
TEORIA DA OTIMIDADE ESTOCÁSTICA E NA GRAMÁTICA<br />
HARMÔNICA FRENTE AO FENÔMENO DA EPÊNTE<br />
Roberta Quintanilha Azevedo<br />
Carmen Lucia Matzenauer (Orientadora)<br />
Ubiratã Kickhofel Alves (Orientador)<br />
O trabalho em questão preten<strong>de</strong> uma discussão teórica sobre a<br />
representação da Gramática na <strong>aqui</strong>sição do Português Brasileiro (PB)<br />
como língua estrangeira, no mo<strong>de</strong>lo teórico da Gramática Harmônica -<br />
HG (LEGENDRE, MIYATA & SMOLENSKY, 1990; SMOLENSKY<br />
& LEGENDRE, 2006) em comparação ao mo<strong>de</strong>lo da Teoria da<br />
Otimida<strong>de</strong> Estocástica - OT (BOERSMA & HAYES, 2001), pois tais<br />
mo<strong>de</strong>los operam <strong>de</strong> forma distinta, especialmente no que concerne à<br />
avaliação do candidato ótimo. O fenômeno fonológico analisado é a<br />
ocorrência da epêntese após segmentos plosivos, em codas mediais <strong>de</strong><br />
palavras, contexto passível <strong>de</strong> motivação <strong>de</strong> inserção vocálica no PB<br />
(et[i]nia). Os sujeitos estudados, que estão em processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição do<br />
PB como LE, são falantes nativos do Espanhol Colombiano, os quais,<br />
em sua língua materna, têm licença para a produção <strong>de</strong> segmentos<br />
plosivos em final <strong>de</strong> sílaba, em oposição à evitação <strong>de</strong> tal estrutura<br />
silábica por falantes do PB. Para a constituição do corpus, foi proposto<br />
um instrumento composto <strong>de</strong> palavras cognatas do Português e<br />
Espanhol para a leitura em frases veículo. Foram escolhidos, estudantes<br />
colombianos, com o cuidado <strong>de</strong> serem homogeneizados fatores<br />
extralinguísticos, como sexo, ida<strong>de</strong> e nível <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong>. Os dados<br />
foram submetidos a uma análise acústica com o uso do software<br />
151
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PRAAT. O diferente tratamento dado às plosivas em coda, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo<br />
do sistema linguístico que está sendo utilizado – Português Brasileiro<br />
ou Espanhol Colombiano – foi captado, à luz dos mo<strong>de</strong>los, via<br />
Restrições Universais, convergindo para as hipóteses propostas. Indo<br />
além da expressão formal dos resultados na HG e na OT Estocástica, o<br />
presente trabalho discute os pressupostos subjacentes às representações<br />
que cada um dos mo<strong>de</strong>los teóricos oferece.<br />
PADRÕES DE COOCORRÊNCIA CV EM DADOS DO<br />
PORTUGUÊS BRASILEIRO DE CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS<br />
Rosane Garcia Silva<br />
Márcia Zimmer<br />
Estudos <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da linguagem a partir <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> balbucio e<br />
primeiras palavras em muitas línguas indicam certas preferências <strong>de</strong><br />
padrões <strong>de</strong> coocorrência entre consoantes (C) e vogais (V)<br />
(MACNEILAGE; DAVIS, 2000) previstas como universais: C labiais<br />
com V centrais, <strong>de</strong> C coronais com V anteriores e <strong>de</strong> C dorsais com V<br />
posteriores. A razão teria origens biológicas explicadas pela teoria<br />
Mol<strong>de</strong>/Conteúdo (M/C), que postula ser a inércia biomecânica a base<br />
dos padrões citados motivados pela regularida<strong>de</strong> mandibular prece<strong>de</strong>nte<br />
ao conteúdo fônico. Estudos orientados pela visão da Fonologia<br />
Gestual, <strong>de</strong> Browman e Goldstein (1986, 1992) investigam o fenômeno<br />
a partir da premissa <strong>de</strong> que a coor<strong>de</strong>nação entre os gestos <strong>de</strong><br />
articuladores é in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início do processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da<br />
linguagem. Com base nessas propostas, investigamos se as<br />
combinações <strong>de</strong>scritas são observadas em dados <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição do<br />
Português Brasileiro. A hipótese é a <strong>de</strong> que a gramática e o léxico são<br />
inseparáveis durante a <strong>aqui</strong>sição da linguagem e <strong>de</strong> que os processos<br />
fônicos são sensíveis a efeitos <strong>de</strong> frequência da língua ambiente. O<br />
corpus do estudo foi constituído <strong>de</strong> fala espontânea infantil e <strong>de</strong> seus<br />
cuidadores envolvendo 10 crianças, com ida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1 a 3 anos. Os dados<br />
foram submetidos à análise estatística <strong>de</strong> associação entre os pares CV<br />
com observância <strong>de</strong> frequências <strong>de</strong> tipos e ocorrências. Os resultados<br />
indicaram que há gran<strong>de</strong> versatilida<strong>de</strong> nas produções infantis, oque<br />
redunda numa replicação limitada dos resultados exibidos pela M/C. A<br />
abordagem dinâmica permite interpretar os resultados levando em conta<br />
a sensibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> exposição ao ambiente linguístico, representativo da<br />
gramática da língua, bem como a diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vocalizações infantis<br />
observadas no estudo.<br />
152
Resumo dos Trabalhos<br />
AQUISIÇÃO DA ESCRITA: UM ESTUDO SOBRE OS ERROS<br />
ORTOGRÁFICOS EM TEXTOS DE CRIANÇAS BILÍNGUES<br />
(PORTUGUÊS-ESPANHOL)<br />
Rosiani Teresinha Soares Machado<br />
A extensa fronteira entre o Uruguai e o Rio Gran<strong>de</strong> do Sul proporciona<br />
um significativo intercâmbio linguístico, conforme se observa, por<br />
exemplo, nas cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rio Branco e Jaguarão. Tal aproximação tem,<br />
muitas vezes, efeito sobre o processo <strong>de</strong> escolarização dos habitantes<br />
das cida<strong>de</strong>s fronteiriças, uma vez que a algumas crianças é dada a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estudar no país vizinho. Partindo-se da i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que o<br />
processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da escrita por falantes bilíngues – espanholportuguês<br />
– em território brasileiro po<strong>de</strong> ser mais complexo do que se<br />
imagina, este estudo busca investigar a escrita inicial <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong><br />
crianças, cuja língua materna é o espanhol, e está sendo alfabetizado em<br />
escolas brasileiras. O objetivo principal é o <strong>de</strong> <strong>de</strong>screver e analisar os<br />
erros ortográficos presentes em suas escritas, especialmente aqueles que<br />
apresentam relações com a fonética e a fonologia das línguas em<br />
questão. Os resultados encontrados serão comparados àqueles já obtidos<br />
em relação à escrita <strong>de</strong> crianças brasileiras monolíngues. Consi<strong>de</strong>randose<br />
estudos já realizados pelo GEALE (Grupo <strong>de</strong> Estudos sobre<br />
Aquisição da Linguagem Escrita), como os <strong>de</strong> Cunha (2004), Adamoli<br />
(2006) e Miranda (2009 e 2010), entre outros, os quais mostram que as<br />
crianças, em suas escritas iniciais, apresentam erros motivados pela<br />
fonética e pela fonologia <strong>de</strong> sua língua materna, trabalha-se com a<br />
hipótese <strong>de</strong> que o grupo bilíngue apresentará indícios <strong>de</strong> seu sistema<br />
fonológico materno.<br />
AQUISIÇÃO DA ORDEM VERBO-SUJEITO DAS<br />
INTERROGATIVAS QU- DO ESPANHOL POR FALANTES<br />
ADULTOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO<br />
Samara Ruas<br />
As estruturas interrogativas Qu- do Espanhol e do PB apresentam<br />
diferenças no que se refere à or<strong>de</strong>m dos constituintes. Em Espanhol<br />
(padrão), nas interrogativas com Qu- <strong>de</strong>slocado para a esquerda, <strong>de</strong>ve<br />
haver a inversão da or<strong>de</strong>m sujeito-verbo: (1) ¿Qué compró Juan? Em<br />
PB, contudo, a inversão sujeito-verbo não é necessária. Quando ocorre,<br />
parece tratar-se <strong>de</strong> uma estrutura mais marcada e, muitas vezes, gera<br />
agramaticalida<strong>de</strong>. Chomsky (1995), no Programa Minimalista (MP),<br />
153
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
assume que o movimento <strong>de</strong> constituintes se dá para a checagem <strong>de</strong><br />
traços morfológicos dos núcleos funcionais. No caso <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong><br />
interrogativas Qu-, o núcleo funcional C apresenta os traços Q e Wh.<br />
Quando Q é forte, <strong>de</strong>ve haver necessariamente um núcleo lexical<br />
(complementizador ou verbo) em C para checá-lo. Quando o traço Wh<br />
é forte, <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia o <strong>de</strong>slocamento do sintagma interrogativo para<br />
[Spec, CP]. Assumindo que esses traços sejam fortes em Espanhol, a<br />
inversão sujeito-verbo <strong>de</strong>ve ocorrer para que sejam checados em sintaxe<br />
visível. Sendo assim, o verbo <strong>de</strong>sloca-se para C e a palavra<br />
interrogativa para [Spec, CP], conforme mostra a <strong>de</strong>rivação: (2) [CP<br />
Quéi [C comprój [IP Juan tj ti]]] . Em PB, no entanto, o traço Q <strong>de</strong> C é<br />
consi<strong>de</strong>rado fraco, motivo pelo qual não é necessário que um item<br />
lexical mova-se para C. Essa diferença na força dos traços Q <strong>de</strong> C<br />
explica as diferentes or<strong>de</strong>nações dos constituintes nas construções<br />
interrogativas das duas línguas. Várias hipóteses têm sido aventadas na<br />
literatura a respeito do papel da L1 e da GU no processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição<br />
<strong>de</strong> L2. A partir <strong>de</strong> dados coletados junto a falantes brasileiros<br />
aprendizes <strong>de</strong> Espanhol como L2, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é mostrar os<br />
resultados obtidos por meio <strong>de</strong> experimentos e discutir as hipóteses<br />
existentes na literatura sobre o papel da L1 e da Gramática Universal<br />
(GU) no processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da L2. Há transferência das<br />
proprieda<strong>de</strong>s dos núcleos funcionais envolvidos no sistema<br />
complementizador da L1 para a L2? Em quais estágios ocorreria a<br />
remarcação paramétrica (mudanças das proprieda<strong>de</strong>s dos traços <strong>de</strong> C)?<br />
.<br />
A PERCEPÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS NOS PROCESSOS DE<br />
HARMONIA E DE ALÇAMENTO VOCÁLICO: DADOS DE UM<br />
ESTUDO PILOTO<br />
Jones Neuenfeld Schüller<br />
Gabriela Tornquist<br />
Palavras-chave: percepção; vogais médias pretônicas; processos<br />
fonológicos.<br />
O presente trabalho tem o objetivo <strong>de</strong> investigar a percepção que os<br />
falantes nativos têm das vogais médias do Português Brasileiro /e/ e /o/<br />
em posição pretônica nos processos <strong>de</strong> harmonia e <strong>de</strong> alçamento<br />
vocálico. Os arquivos <strong>de</strong> áudio foram editados e normalizados no<br />
software Praat (BOERSMA; WEENINK, 2012) e apresentados aos<br />
informantes em forma <strong>de</strong> testes <strong>de</strong> percepção (um <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e um<br />
<strong>de</strong> discriminação) no software TP (RAUBER; RATO; KLUGE;<br />
154
Resumo dos Trabalhos<br />
SANTOS; FIGUEIREDO, 2012). Após a aplicação dos testes <strong>de</strong><br />
percepção, os resultados, componentes <strong>de</strong> um estudo piloto, foram<br />
analisados estatisticamente no software IBM SPSS. Participaram <strong>de</strong>sse<br />
estudo piloto quatro informantes, dois do sexo feminino e dois do sexo<br />
masculino, com ida<strong>de</strong>s entre 20 e 30 anos, com ensino superior<br />
completo ou em andamento e nascidos no estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul.<br />
Os estímulos utilizados para tais testes foram 60 palavras que sofrem os<br />
referidos processos, organizados <strong>de</strong> acordo com o número <strong>de</strong> sílabas<br />
(apenas trissílabas) e com o contexto fonológico, previamente<br />
<strong>de</strong>terminado. Além das palavras-alvo, foram inseridas nos testes 20<br />
palavras distratoras para <strong>de</strong>sviar a atenção do foco da pesquisa.<br />
Consi<strong>de</strong>rando-se uma possível relação entre a percepção <strong>de</strong> vogais e o<br />
emprego dos processos fonológicos, este trabalho vincula fonética e<br />
fonologia, tendo como fundamento teórico o Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Processamento<br />
<strong>de</strong> L1 (BOERSMA, 2007), que também se constitui em um mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
gramática.<br />
A PRODUTIVIDADE DA HARMONIA VOCÁLICA DURANTE<br />
O DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO<br />
Tamires Pereira Duarte Goulart<br />
Viviane De Jesus Peres Lino<br />
Palavras-chave: Harmonia Vocálica, representação fonológica, vogais<br />
do Português, Fonologia Autossegmental<br />
Os estudos sobre a <strong>aqui</strong>sição da linguagem salientam a existência <strong>de</strong><br />
fases <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento, que implicam o gradual incremento, na<br />
gramática da criança, do funcionamento da fonologia da língua-alvo.<br />
Nesse processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento, integra-se a questão da construção<br />
das representações fonológicas, a partir do input linguístico que a<br />
criança recebe. Aliando-se aos estudos que indagam sobre<br />
representações e aplicação <strong>de</strong> regras variáveis, o presente trabalho vem<br />
discutir a representação das vogais médias em contexto da regra<br />
variável <strong>de</strong> Harmonia Vocálica (HV) durante o processo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento linguístico pelas crianças. Consi<strong>de</strong>rando-se que, nos<br />
nomes da língua, a HV mostra caráter variável e tem, como alvo, as<br />
vogais médias /e/ e /o/ em posição pretônica e, como gatilho, as vogais<br />
altas /i/ e /u/ na sílaba seguinte, buscou-se testar as representações das<br />
vogais médias pretônicas e, assim, a produtivida<strong>de</strong> da regra <strong>de</strong> HV. O<br />
corpus da pesquisa foi constituído a partir <strong>de</strong> instrumento com palavras<br />
inventadas, que nomeavam imagens/formas inusitadas, tendo sido<br />
155
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
aplicado a seis crianças com ida<strong>de</strong> entre 4 e 6 anos, sendo três<br />
alfabetizadas. As palavras, todas trissílabas, paroxítonas e com apenas<br />
sílabas CV, continham sequências com as vogais médias altas e a vogal<br />
alta [i], como [e C i] e [o C i]. Os resultados, analisados e formalizados<br />
com o suporte da Fonologia Autossegmental, apontaram a influência da<br />
<strong>aqui</strong>sição do código escrito na representação fonológica das vogais<br />
médias altas em posição pretônica, do que resulta ser a alfabetização<br />
fator condicionante <strong>de</strong> representações fonológicas e, assim, da<br />
produtivida<strong>de</strong> da regra <strong>de</strong> Harmonia Vocálica no processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição<br />
fonológica por crianças brasileiras.<br />
ESPAÑOL PARA NIÑOS: LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA<br />
A TRAVÉS DE CANCIONES Y JUEGOS.<br />
Thais Priscila Silva De Oliveira<br />
Cristina Pureza Duarte Boéssio<br />
Palabras-clave: Lengua, canciones, juegos.<br />
Este trabajo se originó a partir <strong>de</strong> la práctica <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> español<br />
para niños en una escuela <strong>de</strong> la red municipal <strong>de</strong> educación <strong>de</strong> Jaguarão,<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, Brasil, con niños <strong>de</strong>l segundo año <strong>de</strong> la enseñanza<br />
básica – algo que no es común en las escuelas brasileñas – y tiene el<br />
objetivo <strong>de</strong> reflexionar sobre la importancia <strong>de</strong> la utilización <strong>de</strong><br />
canciones y juegos en la adquisición <strong>de</strong> una segunda lengua. La ciudad<br />
en que las clases fueron ministradas hace frontera con la ciudad Rio<br />
Branco/ Uruguay, lo que nos permite tener en clase alumnos que<br />
conocen un poco <strong>de</strong> la lengua porque, algunas veces, tienen familia<br />
uruguaya o parientes que trabajan en el país vecino. Nuestra<br />
preocupación nació en el año 2007 con un Proyecto <strong>de</strong> investigación<br />
sobre la Enseñanza <strong>de</strong> Español para niños y también un curso <strong>de</strong><br />
extensión ministrado por los discentes en la “Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do<br />
Pampa/UNIPAMPA”. A partir estos estudios se observó que el trabajo<br />
con niños <strong>de</strong>be tener su foco en la oralidad aproximando a lo que ocurre<br />
en la adquisición <strong>de</strong> la lengua materna, teniendo contacto con el mundo<br />
que está a su alre<strong>de</strong>dor, para <strong>de</strong>spués sistematizar la lengua y así se<br />
eligió el componente lúdico como la mejor manera <strong>de</strong> presentar la<br />
lengua a los niños. Con esta práctica consi<strong>de</strong>ramos que el trabajo con<br />
canciones y juegos es importante, pues <strong>de</strong>spierta la motivación para que<br />
los alumnos adquieran la lengua <strong>de</strong> manera placentera."<br />
156
Resumo dos Trabalhos<br />
A AQUISIÇÃO DO MORFEMA DE PLURAL: CASO DE<br />
INTERFACE FONOLOGIA/MORFOLOGIA<br />
Veridiana P. Borges<br />
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer<br />
A <strong>aqui</strong>sição do morfema <strong>de</strong> plural, cuja manifestação não-marcada, no<br />
Português, é a forma -s no final da palavra, exige que a gramática<br />
fonológica da criança já integre sílabas com a presença <strong>de</strong> coda,<br />
particularmente constituída por consoante fricativa – é um caso típico<br />
<strong>de</strong> interface Fonologia/Morfologia, que implica aumento <strong>de</strong><br />
complexida<strong>de</strong> para o processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição. Consi<strong>de</strong>rando-se tal fato,<br />
bem como o reduzido número <strong>de</strong> pesquisas sobre o processo <strong>de</strong><br />
<strong>aqui</strong>sição da Morfologia, realizou-se um estudo sobre o emprego do<br />
morfema <strong>de</strong> plural -s e <strong>de</strong> três <strong>de</strong> seus alomorfes (-es, -is, -ões), com<br />
cinco crianças falantes nativas <strong>de</strong> Português Brasileiro (PB), com ida<strong>de</strong><br />
entre 3:0 e 7:3 (anos: meses). Para a constituição do corpus da<br />
investigação, formulou-se instrumento com o uso <strong>de</strong> imagens <strong>de</strong> objetos<br />
conhecidos por crianças, apresentadas em tela <strong>de</strong> computador, opondo<br />
número singular e plural. Os dados do presente estudo apontaram,<br />
<strong>de</strong>ntre os resultados, uma hierarquia no emprego dos alomorfes <strong>de</strong><br />
plural <strong>aqui</strong> analisados, reiterando ser a emergência <strong>de</strong> alomorfias<br />
subsequente à forma não marcada -s. A frequência dos morfemas na<br />
língua e a complexida<strong>de</strong> fonológica que implica seu emprego são<br />
fatores que parecem condicionar o uso das marcas <strong>de</strong> plural durante o<br />
processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da linguagem por crianças brasileiras. Os<br />
resultados da pesquisa foram analisados com o suporte teórico da<br />
Fonologia Lexical.<br />
A AQUISIÇÃO DOS DITONGOS [AJ] E [EJ] NA ESCRITA DE<br />
ALUNOS DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS<br />
Veronica Santos Do Amaral<br />
Giovana Ferreira Gonçalves<br />
Palavras-chave: <strong>aqui</strong>sição da escrita, ditongos <strong>de</strong>crescentes, fonologia.<br />
Os ditongos [aj] e [ej] po<strong>de</strong>m ser vistos como resultantes da inserção <strong>de</strong><br />
um gli<strong>de</strong> à forma subjacente (BISOL, 1989) ou, ainda, como a<br />
sequência <strong>de</strong> dois elementos vocálicos que po<strong>de</strong>m sofrer um processo<br />
<strong>de</strong> apagamento (CABREIRA, 1996). Conforme Adamoli (2006), em<br />
estudo sobre a <strong>aqui</strong>sição gráfica dos ditongos [aj], [ej] e [ow], esses<br />
constituintes apresentam apenas uma vogal na subjacência. O presente<br />
157
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
trabalho tem por objetivo investigar o processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição da escrita<br />
dos ditongos orais [aj] e [ej] na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São José do Norte/RS. Além<br />
disso, preten<strong>de</strong>-se pesquisar a possível relação entre a língua falada e a<br />
língua escrita nesse processo. Os alunos pertencem a turmas <strong>de</strong> 1ª, 2ª, 3ª<br />
e 6ª série <strong>de</strong> duas escolas públicas, sendo uma da zona urbana e a outra<br />
da zona rural. Foram elaborados três instrumentos para a coleta <strong>de</strong><br />
dados, um para a coleta oral e dois para a coleta escrita. O instrumento<br />
referente à coleta oral continha 62 figuras, apresentadas a cada aluno,<br />
por meio <strong>de</strong> um computador, para que fossem produzidas frases com<br />
cada uma das palavras. As gravações ocorreram com a utilização <strong>de</strong> um<br />
gravador digital, mo<strong>de</strong>lo Zoom H4N, nas <strong>de</strong>pendências das escolas.<br />
Quanto aos instrumentos da coleta escrita, o primeiro continha as<br />
imagens das figuras mostradas na coleta oral, para que os alunos<br />
escrevessem palavras <strong>de</strong> forma a nomear as figuras apresentadas. O<br />
segundo instrumento apresentava frases com espaços em branco, para<br />
que, então, fosse completado o sentido <strong>de</strong> cada uma. As palavras<br />
apresentadas na coleta escrita foram, portanto, as mesmas trabalhadas<br />
na oralida<strong>de</strong>. Os resultados apontam para a existência <strong>de</strong> apenas uma<br />
vogal na representação subjacente dos aprendizes, <strong>de</strong>vido às inúmeras<br />
reduções constatadas nas coletas oral e escrita.<br />
O FENÔMENO DO TRUNCAMENTO PROSÓDICO: DADOS<br />
DA DIACRONIA, SINCRONIA E AQUISIÇÃO<br />
Viviane Peres De Jesus Lino<br />
Richele De Oliveira Pires<br />
Palavras-chave: truncamento; Fonologia Métrica; <strong>aqui</strong>sição, sincronia e<br />
diacronia; interface fonologia/morfologia.<br />
Na linha <strong>de</strong> estudos que estabelecem relação entre unida<strong>de</strong>s prosódicas<br />
e melódicas da língua, o presente trabalho focaliza o fenômeno do<br />
truncamento, o qual implica o apagamento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s do sistema<br />
linguístico (segmentos e sílabas, por exemplo), presente no<br />
funcionamento do Português do Brasil (PB), tanto em seu percurso<br />
histórico, como em seu comportamento sincrônico. Em se tratando da<br />
diacronia do PB, os estudos apontam o truncamento como processo<br />
frequente, tanto em se examinando sílabas (Latim > Português: pe<strong>de</strong> ><br />
pé), como segmentos (corona > coroa), sendo o acento tônico fator que<br />
influencia sua ocorrência: a atonicida<strong>de</strong> mostra-se o contexto favorável<br />
para a aplicação do processo. Consi<strong>de</strong>rando-se tal realida<strong>de</strong>, propôs-se<br />
pesquisa, cujo objeto foi a verificação do comportamento do processo<br />
158
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> truncamento na sincronia do PB, bem como na <strong>aqui</strong>sição da<br />
fonologia por crianças falantes nativas da língua, estabelecendo-se<br />
comparações com o funcionamento do sistema em sua evolução<br />
histórica. Para o estudo do truncamento como fenômeno sincrônico na<br />
fala <strong>de</strong> adultos, tomaram-se dados já registrados na literatura sobre a<br />
fonologia do PB, bem como se aplicou instrumento, com palavras<br />
inventadas, a 10 falantes nativos; para a investigação do truncamento no<br />
processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição fonológica, analisou-se os corpora <strong>de</strong> 10 crianças,<br />
do banco <strong>de</strong> dados AQUIFONO (UCPEL); os dados da diacronia da<br />
língua foram tomados <strong>de</strong> gramáticas históricas. A análise dos resultados<br />
mostrou a prevalente motivação prosódica para a ocorrência do<br />
truncamento em todos os corpora examinados. Pelo relevante papel que,<br />
nesse processo, <strong>de</strong>sempenha o acento, os dados foram analisados à luz<br />
da Fonologia Métrica (HALLE & VEGNAUD, 1987; HAYES, 1991).<br />
159
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
160
LINHA TEMÁTICA: ENSINO E NOVOS PERFIS DOS<br />
PROFESSORES: PROPOSTAS<br />
LEITURA E FORMAÇÃO DOCENTE<br />
Adriana Kemp<br />
Palavras-chave: Formação <strong>de</strong> Professores, Leitura, Subjetivação.<br />
Esta pesquisa investiga a leitura na formação <strong>de</strong> professores,<br />
discutindo-a do ponto <strong>de</strong> vista da subjetivação <strong>de</strong>sses sujeitos.<br />
Problematiza o que é ser professor, a partir <strong>de</strong> noções da legislação<br />
brasileira, do <strong>de</strong>poimento <strong>de</strong> professoras egressas <strong>de</strong> um curso normal<br />
<strong>de</strong> nível médio e pós-médio existente em Ijuí-RS e <strong>de</strong> Paulo Freire<br />
(1996). A formação docente como formação da subjetivida<strong>de</strong> sustentase<br />
em Tardif (2002), Bakhtin (1981) Foucault (1972, 1995 e 2004) e<br />
Larrosa (1994), trazendo também contribuições teóricas <strong>de</strong> Bréal (1992)<br />
e Benveniste (1995). A formação docente assim entendida aponta para a<br />
linguagem como condição <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong> do humano e para o diálogo<br />
como fundante da educação e da própria subjetivida<strong>de</strong>, perpassado<br />
também por relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. A leitura, tal como é promovida na<br />
maioria das escolas, funciona como uma técnica <strong>de</strong> disciplinamento, <strong>de</strong><br />
“formatação” <strong>de</strong> sujeitos. No entanto, esta pesquisa aponta para a<br />
leitura como campo <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong> para o exercício intersubjetivo,<br />
como experiência, encontro entre dois horizontes alargados. Instiga-se a<br />
pensar outro lugar para a leitura na formação <strong>de</strong> professores: um lugar<br />
central e, ao mesmo tempo, <strong>de</strong> abertura; como prática que não se<br />
restringe à dimensão epistemológica como fonte <strong>de</strong> informações ou<br />
conhecimentos. A perspectiva apontada é a <strong>de</strong> conceber a leitura como<br />
espaço-tempo <strong>de</strong> construção contínua da subjetivida<strong>de</strong> dos sujeitosleitores-professores,<br />
potencializadora do <strong>de</strong>senvolvimento integrado das<br />
dimensões epistemológica, social e pessoal, concebidas como fundantes<br />
da docência, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um contexto sócio-histórico e cultural amplo e<br />
complexo.<br />
APRENDER E ENSINAR: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE<br />
PROFESSORES<br />
Adriane Teresinha Sartori<br />
O projeto “Professor universitário e <strong>de</strong> educação básica, aluno <strong>de</strong><br />
graduação e <strong>de</strong> escola: um encontro necessário”, coor<strong>de</strong>nado pela<br />
FaLe/UFMG, é uma tentativa <strong>de</strong> construir alternativas para a formação<br />
161
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
inicial e continuada <strong>de</strong> professores, exigência colocada às instituições<br />
<strong>de</strong> ensino superior que têm clareza da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estreitamento das<br />
relações universida<strong>de</strong> e escola, visando contribuir para a melhoria da<br />
qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino da educação básica e também da educação<br />
superior. Ancorado em pressupostos enunciativos <strong>de</strong> linguagem<br />
(BAKHTIN, 1986, 2003), vistos através <strong>de</strong> perspectiva transdisciplinar<br />
da Linguística Aplicada, e em abordagens metodológicas qualitativointerpretativistas,<br />
este trabalho apresenta dados <strong>de</strong> diários <strong>de</strong> campo<br />
produzidos durante os encontros realizados entre um professor<br />
universitário, um docente <strong>de</strong> língua portuguesa <strong>de</strong> ensino médio,<br />
estudantes <strong>de</strong> graduação em Letras e alunos <strong>de</strong> ensino médio, estes<br />
últimos representados por seus textos e trabalhos feitos em sala <strong>de</strong> aula.<br />
Tendo uma escola pública <strong>de</strong> Belo Horizonte como locus, os eixos <strong>de</strong><br />
leitura e escrita são privilegiados nas discussões realizadas nesses<br />
encontros, procurando, a partir do diagnóstico das principais<br />
dificulda<strong>de</strong>s dos estudantes, elaborar ativida<strong>de</strong>s para superá-las. A<br />
análise <strong>de</strong>sses diários parece revelar que a formação profissional (inicial<br />
e continuada) enfrenta inúmeros <strong>de</strong>safios, quando confrontados os<br />
saberes produzidos na universida<strong>de</strong> e os produzidos na escola, exigindo<br />
a construção não só <strong>de</strong> novos conhecimentos, mas também <strong>de</strong> novos<br />
olhares sobre o que seja ensinar e o que seja apren<strong>de</strong>r.<br />
O QUE AS FIGURAS DE AÇÃO REVELAM SOBRE O AGIR<br />
DOCENTE<br />
Alessandra Preussler De Almeida<br />
Esta é uma análise parcial da pesquisa a respeito da atuação docente no<br />
ensino fundamental <strong>de</strong> escolas públicas <strong>de</strong> uma cida<strong>de</strong> do Vale do Rio<br />
dos Sinos, RS, que faz parte <strong>de</strong> um projeto bem mais amplo <strong>de</strong><br />
formação continuada e cooperativa para professores <strong>de</strong> língua materna.<br />
A partir do suporte teórico-metodológico do Interacionismo<br />
Sociodiscursivo, que trata <strong>de</strong> questões pertinentes ao agir em situação<br />
<strong>de</strong> trabalho, enten<strong>de</strong>mos que o trabalho <strong>de</strong> ensinar requer a<br />
incorporação, por parte dos professores, dos atributos, do preparo e do<br />
esforço necessários para que eles sejam atores no contexto escolar. O<br />
termo ator (Bronckart, 2008) expressa aquele que possui capacida<strong>de</strong>s,<br />
motivos e intenções, enquanto o termo agente se refere àquele que é<br />
<strong>de</strong>sprovido <strong>de</strong> tais requisitos. Neste estudo, abordamos a terceira<br />
dimensão do plano geral <strong>de</strong> pesquisa bronckartiano, o trabalho<br />
representado pelos actantes, que é a avaliação do trabalho feita pelos<br />
162
Resumo dos Trabalhos<br />
próprios profissionais, através <strong>de</strong> uma entrevista respondida antes e<br />
após a aplicação do projeto pedagógico nas suas salas <strong>de</strong> aula. A<br />
entrevista aborda temas como concepção <strong>de</strong> língua e <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong><br />
língua materna, currículo escolar, metodologia <strong>de</strong> ensino, avaliação<br />
discente, entre outras questões pertinentes ao cotidiano da escola. Nos<br />
dados levantados, é possível i<strong>de</strong>ntificar figuras <strong>de</strong> ação interna e figuras<br />
<strong>de</strong> ação externa (Bulea, 2007), as quais revelam peculiarida<strong>de</strong>s a<br />
respeito do agir docente.<br />
PRATICANDO SEMINÁRIOS NO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS<br />
E POSSIBILIDADES<br />
Alícia Endres Soares<br />
Palavras-chave: seminário, ensino-médio, oralida<strong>de</strong>.<br />
O gênero seminário não é novo no universo escolar, porém no presente<br />
ano, com a proposta <strong>de</strong> reestruturação do ensino médio do Estado do<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, tal gênero merece ganhar novos olhares bem como<br />
gerar discussões que possam auxiliar o trabalho docente. Compreen<strong>de</strong>se<br />
o seminário não só como um gênero discursivo, mas também sua<br />
produção como prática <strong>de</strong> letramento que mobiliza diversas habilida<strong>de</strong>s.<br />
Conforme Souza (2012, p. 97) o seminário tem a função essencial <strong>de</strong><br />
disseminar os conhecimentos produzidos (...), colocando o estudante<br />
como sujeito da aprendizagem e até do ensino em relação aos colegas.<br />
Esta comunicação tem por objetivo discutir a prática <strong>de</strong> seminários no<br />
contexto do ensino médio tomando como objeto experiências realizadas<br />
ao longo do ano <strong>de</strong> 2012 na E.E.E.M. Dr. Edmar Fetter, <strong>de</strong> Pelotas. O<br />
<strong>de</strong>senrolar das ativida<strong>de</strong>s realizadas apontam <strong>de</strong>safios e possibilida<strong>de</strong>s<br />
no que tange ao trabalho coletivo (grupo <strong>de</strong> estudantes/grupo <strong>de</strong><br />
professores), às práticas <strong>de</strong> oralida<strong>de</strong> e, sobretudo ao trabalho<br />
interdisciplinar.<br />
AS DIRETRIZES ESTADUAIS E O ENSINO DE INGLÊS NO<br />
PARANÁ: DESVENDANDO DIFERENTES PERFIS DE<br />
PROFESSORES<br />
Ana Amélia Calazans Da Rosa<br />
Palavras-chave: metodologia Q; valorações; escola pública.<br />
Discutiremos os resultados <strong>de</strong> uma pesquisa realizada com professores<br />
<strong>de</strong> inglês da re<strong>de</strong> estadual <strong>de</strong> ensino regular do Paraná. Investigamos<br />
163
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
suas percepções acerca das Diretrizes Curriculares Estaduais para o<br />
Ensino <strong>de</strong> Língua Estrangeira Mo<strong>de</strong>rna e também sobre outras<br />
variáveis envolvendo a prática <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> inglês na escola pública.<br />
Adotamos a Metodologia “Q” para coleta, seleção e análise estatística<br />
e fatorial dos dados. Estatisticamente, foram gerados quatro perfis<br />
distintos <strong>de</strong> professores com percepções e valorações que os<br />
diferenciaram e/ou aproximaram. Para a análise qualitativa <strong>de</strong>sses<br />
perfis utilizamos a teoria enunciativa bakhtiniana e confrontamos as<br />
valorações com outros discursos, como as próprias diretrizes. Dentre os<br />
quatro perfis encontrados, constatamos resultados muito distintos: o<br />
perfil 1 é a<strong>de</strong>pto do ensino por meio <strong>de</strong> gêneros textuais; o perfil 2<br />
valoriza o ensino <strong>de</strong> gramática; o perfil 3 elege o texto com principal<br />
objeto <strong>de</strong> ensino, porém, enfatiza a preocupação com o sistema <strong>de</strong><br />
ensino que insiste em avaliações apenas quantitativas e o perfil 4<br />
questiona o lugar e a importância da gramática na sala <strong>de</strong> aula e<br />
também a formação dos professores. Nossa apresentação também<br />
preten<strong>de</strong> discutir outros resultados, como alguns consensos entre os<br />
perfis: a não valorização <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produção escrita, a rejeição<br />
<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tradução e a indiferença quanto a ativida<strong>de</strong>s que<br />
envolvam o uso <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>os.<br />
UM PROCESSO COOPERATIVO DE FORMAÇÃO<br />
CONTINUADA: O ETERNO DESAFIO DA DIDATIZAÇÃO DE<br />
GÊNEROS<br />
Ana Maria De Mattos Guimarães<br />
A didatização do gênero como possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fazer evoluir a leitura e<br />
a produção textual <strong>de</strong> alunos do Ensino Fundamental é uma forma já<br />
bastante provada (cf. SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, GUIMARAES,<br />
2006; por exemplo). Entretanto, ainda não faz parte do planejamento<br />
<strong>de</strong> nossas turmas <strong>de</strong> EF. Acompanhando diferentes professores e suas<br />
turmas, observa-se o uso esporádico <strong>de</strong> trabalhos com gêneros, mas<br />
não se vê um currículo proposto a partir <strong>de</strong>sse trabalho. O gran<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>safio <strong>de</strong> nosso grupo <strong>de</strong> pesquisa é atingir essa possibilida<strong>de</strong>. Como<br />
parte <strong>de</strong> projeto que <strong>de</strong>senvolvemos há quase 2 anos, com apoio<br />
CAPES/Programa Observatório da <strong>Educação</strong>, junto à re<strong>de</strong> municipal<br />
<strong>de</strong> Novo Hamburgo, cida<strong>de</strong> gaúcha <strong>de</strong> porte médio, com 257.746<br />
habitantes, planejou-se um processo <strong>de</strong> formação continuada<br />
cooperativa, em que o letramento acadêmico dos formadores interage<br />
com a prática social dos professores e seus alunos, com vistas a<br />
164
Resumo dos Trabalhos<br />
propostas didático-pedagógicas que formem um educador apto ao<br />
manejo crítico do conhecimento, capaz <strong>de</strong> estar à frente dos <strong>de</strong>safios<br />
educacionais do terceiro milênio. O processo está respaldado em uma<br />
concepção interativa <strong>de</strong> linguagem, a partir da qual se introduz a noção<br />
<strong>de</strong> gênero (VOLOSHINOV, 2006, BRONCKART,1999), que serve<br />
como âncora para a co-construção <strong>de</strong> propostas didáticas. O conceito <strong>de</strong><br />
sequência didática (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, 2004) foi ampliado<br />
para colocar a produção <strong>de</strong> leitura lado a lado com a produção textual e<br />
tomá-las como práticas sociais efetivas, centradas em tema gerado em<br />
conjunto por alunos e professor. Essas características constituem o que<br />
estamos chamando <strong>de</strong> projetos didáticos <strong>de</strong> gêneros. A experiência do<br />
primeiro ano <strong>de</strong> trabalho mostrou o acerto da escolha <strong>de</strong>sta noção para<br />
alavancar o ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa.<br />
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: O QUE (RE)VELA O<br />
DISCURSO DO ESTÁGIO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS<br />
EM FORMAÇÃO<br />
Ana Pe<strong>de</strong>rzolli Cavalheiro<br />
O presente trabalho constitui-se em um Projeto Piloto que objetiva<br />
discutir e compreen<strong>de</strong>r alguns aspectos relacionados à formação <strong>de</strong><br />
professores <strong>de</strong> línguas estrangeiras, especificamente sobre o papel que<br />
ocupa – ou <strong>de</strong>veria ocupar – a teoria e a prática neste processo. Para<br />
tanto, por um lado, mapeia e compara, na composição do currículo <strong>de</strong><br />
formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> um Curso <strong>de</strong> Letras, as disciplinas <strong>de</strong><br />
natureza teórica e prática e as áreas científicas às quais pertencem. Por<br />
outro lado, analisa o discurso dos professores em formação,<br />
materializado em seus relatórios <strong>de</strong> estágios sobre a formação<br />
acadêmica e a experiência vivenciada nas práticas <strong>de</strong> estágio. O que se<br />
(re)vela é a falta e o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> que a teoria houvesse podido dar conta<br />
da prática. Neste sentido, a primeira experiência do professor – pelo<br />
menos para a maioria – é marcada por uma relativa <strong>de</strong>sconexão ou um<br />
abismo caótico entre a teoria e a prática, possivelmente legitimado por<br />
pré-construídos que as dicotomiza ou pelas forma disciplinada como o<br />
currículo encontra-se organizado. A partir <strong>de</strong>stas questões norteadoras,<br />
o Projeto se propõe a problematizar as funções que cumprem – ou<br />
<strong>de</strong>veriam cumprir – cada disciplina ou área científica na formação do<br />
professor <strong>de</strong> línguas estrangeiras e as relações/conexões que se<br />
esperaria que os professores em formação pu<strong>de</strong>ssem estabelecer entre<br />
elas e sua prática, e entre a teoria e a prática.<br />
165
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PROFISSIONALIDADE E TRABALHO DOCENTE NA<br />
FORMAÇÃO CONTINUADA COOPERATIVA<br />
An<strong>de</strong>rson Carnin<br />
A presente comunicação visa a discutir a questão da transposição<br />
didática como elemento integrante da formação continuada e do<br />
trabalho docente <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua materna. Partindo <strong>de</strong> uma<br />
compreensão cooperativa <strong>de</strong> formação continuada, na qual (co)constróise<br />
uma forma <strong>de</strong> trabalho docente como uma ponte entre dois mundos:<br />
o acadêmico e o da práxis, tem-se uma cultura <strong>de</strong> trabalho em que o<br />
professor realmente tem espaço para <strong>de</strong>senvolver sua formação. Nesse<br />
espaço é que o professor encontra um campo fértil para a materialização<br />
das autoprescrições que ele constrói em seu trabalho – ou seja, <strong>de</strong> como<br />
ele vai transformar suas vonta<strong>de</strong>s, seus anseios, em um trabalho que<br />
será didática e interacionalmente concretizado em sala <strong>de</strong> aula. Dizendo<br />
<strong>de</strong> outro modo: a formação continuada, enquanto elemento integrante<br />
do trabalho docente, no que tange ao âmbito das prescrições, do que é<br />
dito ao professor sobre o que <strong>de</strong>ve ser feito, é elemento basilar, na<br />
contemporaneida<strong>de</strong>, do trabalho concretizado do professor. Nesse<br />
trabalho é que a didática e as práticas <strong>de</strong> ensino também merecem um<br />
espaço <strong>de</strong> reflexão e <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque. A pesquisa em <strong>de</strong>senvolvimento e<br />
que sustenta este trabalho preten<strong>de</strong> apresentar alguns elementos iniciais<br />
sobre essa realida<strong>de</strong>. A comunicação preten<strong>de</strong> discutir, também, o<br />
alargamento da noção <strong>de</strong> trabalho prescrito, <strong>de</strong> forma a incluir<br />
ativida<strong>de</strong>s em cursos <strong>de</strong> formação continuada que po<strong>de</strong>m ser<br />
internalizadas pelo professor e relacionadas ao <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
profissionalida<strong>de</strong> docente.<br />
PROJETO BIBLIOTECA VIVA: DANDO ASAS AOS SONHOS<br />
Angélica Margaret Jardim Alvarez<br />
Fernanda Cavalheiro Granato<br />
Palavras-chave: biblioteca escolar, leitura, projetos.<br />
Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto “Biblioteca Viva”,<br />
pensado <strong>de</strong>ntro do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID), na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA), o qual<br />
preten<strong>de</strong> ampliar não só a estrutura física do espaço da biblioteca na<br />
escola estadual Silveira Martins, localizada no município <strong>de</strong> Bagé/RS,<br />
como também incentivar os alunos a ler mais, envolvendo toda a<br />
comunida<strong>de</strong> escolar nesse processo. A proposta surgiu com o intuito<br />
166
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> transformar o espaço da biblioteca em um lugar confortável,<br />
aconchegante, atraente, ou seja, um espaço em que os alunos se sintam<br />
à vonta<strong>de</strong> para visitar, <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> ser o local on<strong>de</strong> ficam <strong>de</strong>positados<br />
os livros e outros materiais <strong>de</strong> leitura, mas passando a ter<br />
funcionalida<strong>de</strong> e ampliando inclusive as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pesquisa. A i<strong>de</strong>ia<br />
surgiu a partir do diagnóstico resultante <strong>de</strong> um questionário respondido<br />
pelos alunos, no qual se <strong>de</strong>tectou a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> haver melhorias na<br />
biblioteca, lugar on<strong>de</strong> há inúmeras obras sem a <strong>de</strong>vida i<strong>de</strong>ntificação e<br />
catalogação, o que impossibilita o uso. Nesse sentido, com base em<br />
autores como Souza (2004), Fragoso (1996), Faqueti (2002), pensou-se<br />
na dinamização <strong>de</strong>sse espaço escolar o que possibilita a mobilização e<br />
a inserção <strong>de</strong> toda a comunida<strong>de</strong> escolar. A partir da ampliação do<br />
espaço serão <strong>de</strong>senvolvidos microprojetos no espaço da biblioteca com<br />
a participação dos alunos, como “Hora do Conto” (os bolsistas contam<br />
histórias), “Teatro” e a “Cinemoteca” (filmes associados a obras do<br />
acervo).<br />
OFICINAS DE LITERATURA REGIONALISTA NO ENSINO<br />
MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA<br />
Bárbara Vargas Abott<br />
Valesca Brasil Irala (Orientadora)<br />
Este trabalho abordará os resultados e aspectos relevantes <strong>de</strong> uma<br />
“oficina”, oferecida pelo Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsa <strong>de</strong> Iniciação à<br />
Docência - PIBID, financiado pela Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Aperfeiçoamento<br />
<strong>de</strong> Pessoal <strong>de</strong> Nível Superior – CAPES, vinculado a Universida<strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral do Pampa – UNIPAMPA, em uma Escola Estadual do<br />
Município <strong>de</strong> Bagé/RS, em um 1º ano do Ensino Médio, na disciplina<br />
<strong>de</strong> Literatura, a partir da literatura regionalista. A mesma teve duração<br />
<strong>de</strong> 20 horas/aulas. A partir do trabalho da leitura <strong>de</strong> obras literárias<br />
regionalistas, foi possível, além <strong>de</strong> mapear as dificulda<strong>de</strong>s dos alunos<br />
enquanto leitores, também intervir no processo <strong>de</strong> produção escrita. No<br />
entanto, a partir <strong>de</strong>ste estudo, iremos tratar sobre como intervir para<br />
superar as dificulda<strong>de</strong>s que foram aparecendo no <strong>de</strong>correr da oficina em<br />
relação à leitura e produção textual. Além disso, também iremos<br />
discutir como está sendo realizado, atualmente, o trabalho com<br />
produções textuais diante <strong>de</strong> tantas mudanças e novas tecnologias; além<br />
<strong>de</strong> estimular o aluno a interagir com os textos literários regionalistas em<br />
sala <strong>de</strong> aula. O contato dos alunos com as obras literárias se dá a partir<br />
<strong>de</strong> pequenos trechos, os quais são proporcionados, muitas vezes, fora do<br />
167
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
contexto real da obra original. Por isso, esse fato acaba não<br />
incentivando o aluno pelo gosto da leitura <strong>de</strong>sses textos e, somente, ler<br />
os livros que são solicitados pelos professores, como sendo obras <strong>de</strong><br />
leitura obrigatória e, que muitas vezes, os alunos buscam apenas os<br />
resumos para ler. Sabemos que a Literatura é extremamente importante<br />
para a formação dos estudantes, porém a forma como vem sendo<br />
trabalhada nas escolas acaba <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> ser proveitosa para eles, uma<br />
vez que não escolhem suas leituras, lendo somente, como já foi<br />
mencionado, o que é oferecido pelo professor. A Literatura “abre<br />
muitas portas” para o aluno, pois com ela o discente adquire uma<br />
bagagem <strong>de</strong> leitura que possibilita além <strong>de</strong> uma boa produção textual,<br />
uma prática que instiga a formação <strong>de</strong> leitores críticos, reflexivos, que<br />
consigam posicionar-se diante dos mais variados assuntos. Diante da<br />
realida<strong>de</strong> dos alunos da Escola Luís Maria Ferraz- CIEP, esta oficina<br />
proporcionou, por meio <strong>de</strong> inúmeras ativida<strong>de</strong>s, um contato mais<br />
prazeroso com as obras literárias, especialmente com as obras<br />
regionalistas, a partir do momento que os alunos passaram a conhecer<br />
aspectos <strong>de</strong> sua região que, agora, começam a lhes interessar, o que<br />
antes não era nem conhecido por todos, ou alguns nem tinham acesso à<br />
esse acervo.<br />
RELATO ACERCA DOS DESAFIOS DA PROFISSÃO: UM<br />
ESTUDO DE CASO QUE TRANSPASSA BARREIRAS<br />
Camila Quevedo Oppelt<br />
A preocupação que cerca a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>smistificar e dialogar o<br />
relacionamento entre alunos e professores traz a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> refletir<br />
certas particularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sta relação. A autoconfiança, motivação e o<br />
interesse dos alunos, bem como as expectativas e atitu<strong>de</strong>s dos<br />
professores estão <strong>de</strong>ntre os mais importantes aspectos <strong>de</strong> uma relação<br />
que po<strong>de</strong> resultar no melhor <strong>de</strong>senvolvimento educacional dos alunos.<br />
Com este objetivo, o presente estudo <strong>de</strong>u-se à luz da Análise Crítica do<br />
Discurso (Fairclough 2005, 1994, 1991) e <strong>de</strong> visões educacionais acerca<br />
das expectativas dos professores (EGYED & Short, 2006; Jussim &<br />
Harber, 2005; Muller, 2001; Hoy, 2000; Muller, Katz & Dance, 1999).<br />
As relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, representações sociais e a responsabilida<strong>de</strong> e o<br />
comprometimento do autor foram alguns dos tópicos analisados. O<br />
corpus foi igualmente submetido à análise do posicionamento do autor<br />
referente a seu papel como professor segundo as teorias educacionais. O<br />
corpus <strong>de</strong>ste estudo <strong>de</strong> caso é composto pelas respostas <strong>de</strong> um<br />
168
Resumo dos Trabalhos<br />
questionário aplicado a uma professora do ensino médio <strong>de</strong> uma escola<br />
<strong>de</strong> periferia da Califórnia/EUA. O questionário foi elaborado para<br />
esclarecer, principalmente, as expectativas dos professores em relação<br />
aos seus alunos. As respostas da professora apontam sua vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
engajar em um bom relacionamento com os alunos e a importância <strong>de</strong><br />
prestar maior atenção àqueles que apresentam problemas acadêmicos<br />
e/ou pessoais, conforme esperado. Entretanto, houve ocorrências<br />
inesperadas: atitu<strong>de</strong> predominantemente dominante sobre a solução <strong>de</strong><br />
problemas; heterogeneida<strong>de</strong> na divisão <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s; constante<br />
menção ao respeito próprio, professor-aluno e entre os alunos; e citação<br />
explícita sobre a luta <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res em sala <strong>de</strong> aula.<br />
PROFISSIONAIS DA ACADEMIA VERSUS PROFISSIONAIS<br />
DE MERCADO: ASSIMETRIA INTERNA AOS SISTEMAS<br />
ALOPOIÉTICOS NA ÁREA DE LETRAS<br />
Carla Callegaro Corrêa Ka<strong>de</strong>r<br />
Marcos Gustavo Richter<br />
Palavras-chave: Teoria Holística da Ativida<strong>de</strong> (THA); Educador<br />
linguístico; Análise do discurso (AD).<br />
Este trabalho tem por objetivo analisar discursivamente dois corpora,<br />
formados por teses e dissertações, trabalhos finais <strong>de</strong> graduação e<br />
monografias lato sensu da Área <strong>de</strong> Letras, observando a assimetria<br />
interna ao sistema alopoiético ao qual pertencem. Trazemos para a<br />
discussão, a partir <strong>de</strong> tais consi<strong>de</strong>rações, o conceito <strong>de</strong> trabalho<br />
parametrizado, <strong>de</strong>nominado por Aguirre et al (2000) <strong>de</strong> enquadramento,<br />
utilizado também pela Teoria Holística da Ativida<strong>de</strong> (THA), nas<br />
práticas constitutivas <strong>de</strong> um sistema social auto-organizado. Para tanto,<br />
aplicamos os recursos computacionais do programa WordSmith Tools<br />
6.0 para seleção das Keywords, Wordlist e Concord Lines, a fim <strong>de</strong><br />
darmos início a análise do discurso (AD). Como resultado, observamos<br />
que os profissionais <strong>de</strong> mercado se horizontalizam em divisões <strong>de</strong><br />
trabalho e/ou subsistemas que se integram, remetendo a um conjunto<br />
básico <strong>de</strong> obrigações, que <strong>de</strong>notam sua aparência opaca <strong>de</strong>vido à<br />
interferência do entorno, reforçando a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> emancipação<br />
jurídica e constituição <strong>de</strong> um discurso mais endógeno.<br />
169
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ESCRILEITURAS E FORMAÇÃO DOCENTE: TRAVESSIAS<br />
DE UM MODO DE “LER-ESCREVER” EM MEIO À VIDA<br />
Carla Gonçalves Rodrigues<br />
Josimara Silva Wikboldt<br />
Palavras-chave: Linguagens, escrileituras, formação docente.<br />
Em concordância com o INEP acerca da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> elevação <strong>de</strong> seu<br />
Índice <strong>de</strong> Desenvolvimento da <strong>Educação</strong> Básica, a pesquisa cartográfica<br />
<strong>de</strong>nominada Escrileituras: um modo <strong>de</strong> “ler-escrever” em meio à vida<br />
traz como principal meta a criação <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> intervenção<br />
empenhadas na alfabetização por meio da articulação <strong>de</strong> variadas<br />
linguagens. Agenciando conceitos filosóficos e expressões estéticas, são<br />
oferecidos Ateliês <strong>de</strong> escrileituras em quatro universida<strong>de</strong>s brasileiras:<br />
UFRGS, <strong>UFPel</strong>, UFMT e Unioeste. O trabalho visa, preferencialmente,<br />
aten<strong>de</strong>r docentes em formação inicial e/ou continuada, adotando como<br />
suporte teórico i<strong>de</strong>ias da filosofia <strong>de</strong> Gilles Deleuze e estudos literários<br />
<strong>de</strong> Roland Barthes. Opera, assim, com leituras férteis e escrituras<br />
inspiradoras, agitadoras <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ias e impulsionadoras <strong>de</strong><br />
experimentações na escrita. Aposta na força <strong>de</strong> fazer variar o uso <strong>de</strong><br />
uma língua tida no seu caráter significante em que diferenças são<br />
liberadas no pensamento no que tange às subjetivida<strong>de</strong>s professorais<br />
em composições, amparadas pelas visões e audições inventadas a partir<br />
do vivido no ato <strong>de</strong> ler e escrever. Para tal, cabe a cada professor<br />
escrileitor <strong>de</strong>senvolver uma postura <strong>de</strong> catador, um estado <strong>de</strong> manter-se<br />
à espreita d<strong>aqui</strong>lo que lhe põe a pensar, dos signos emitidos por uma<br />
exteriorida<strong>de</strong> passando a escrileiturar formas <strong>de</strong> uma vida em meio à<br />
Arte, à Literatura e à Filosofia.<br />
O PROFESSOR REFLEXIVO E O PROCESSO DE INOVAÇÃO:<br />
APROXIMAÇÕES DO ALUNO DE ENSINO TÉCNICO E A<br />
PESQUISA<br />
Carolina Mendonça Fernan<strong>de</strong>s De Barros<br />
É preciso apreen<strong>de</strong>r com rapi<strong>de</strong>z, em um mundo frenético, on<strong>de</strong> o<br />
ensino necessita <strong>de</strong> múltiplos contextos. Roubemos então, parte <strong>de</strong> uma<br />
conversa <strong>de</strong>leuziana, on<strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r é pensar, e o professor reflexivo<br />
procura <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar, arrolar e romper o pensamento. À ruptura feita<br />
pela inovação em sala <strong>de</strong> aula, só restava, Cartografar. Era que se podia<br />
esperar, o paradigma tradicional <strong>aqui</strong> rompe... Necessitando novas<br />
conexões para seguir. Nos dias atuais, metodologias inovadoras se<br />
170
Resumo dos Trabalhos<br />
fazem necessárias para a formação docente, com vivências da<br />
contemporaneida<strong>de</strong>. Essa pesquisa parte da narração <strong>de</strong> uma nova<br />
prática ocorrida em uma disciplina do Curso <strong>de</strong> Edificações do Instituto<br />
Fe<strong>de</strong>ral Sul-Riogran<strong>de</strong>nse. A inovação presente na disciplina<br />
<strong>de</strong>monstra que o interesse dos alunos é proporcional a curiosida<strong>de</strong> que a<br />
disciplina, ou as ativida<strong>de</strong>s po<strong>de</strong>m propiciar. Um saber <strong>de</strong>svinculado<br />
como apenas ir para o laboratório <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> construção para<br />
realizar análises hipotéticas é <strong>de</strong>vastado pela vonta<strong>de</strong> maior dos alunos<br />
em analisar um produto que eles mesmos criaram. Tal processo é a<br />
busca por metodologias que avancem junto a contemporaneida<strong>de</strong><br />
quebrando paradigmas. Professores buscam aproximar-se e propiciar o<br />
“contagio”. O semestre é repartido e o rompimento do tradicional (aula<br />
expositiva, provas, etc...) realiza- se ao prover uma aula mais interativa<br />
e não linear, on<strong>de</strong> os alunos são provocados a produzir junto ao<br />
conteúdo, na forma <strong>de</strong> um texto científico. Com isso os alunos tem a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> começar a iniciação científica e perdurar nela durante<br />
o semestre inteiro. O projeto segue para o laboratório no momento em<br />
que os alunos testam o produto que eles propuseram-se a criar. O<br />
resultado é um pôster, simulando a exposição em um congresso.<br />
AULA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS:<br />
BUSCANDO A INTERDISCIPLINARIDADE NO GRUPO DE<br />
ESTUDOS PAIDÉIA EM RIO GRANDE<br />
Cecília De Souza Borba<br />
Palavras chave: interdisciplinarida<strong>de</strong>, ensino, língua portuguesa<br />
O Grupo <strong>de</strong> Estudos Paidéia situado na ala acadêmica do Hospital<br />
Universitário <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> é um dos oito cursos <strong>de</strong> apoio educacional,<br />
que faz parte do Programa <strong>de</strong> Auxilio ao Ingresso nos Ensinos Técnico<br />
e Superior (PAIETS), criado em 2007 através da Pró - Reitoria <strong>de</strong><br />
Extensão e Cultura (PROEXC), da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio<br />
Gran<strong>de</strong>( FURG). O Paidéia, assim, como os outros seis cursos<br />
preparatórios <strong>de</strong>senvolvidos nos bairros da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> e um<br />
na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São José do Norte, conta com a colaboração <strong>de</strong><br />
graduandos, pós-graduandos e graduados da FURG, os quais ministram<br />
as aulas nas diversas áreas do conhecimento, com o objetivo <strong>de</strong><br />
propiciar as pessoas que querem ingressar nos Ensino Técnico e<br />
Superior a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estudo gratuito e <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>. Em<br />
<strong>de</strong>corrência da inserção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)<br />
como sistema avaliativo para o acesso à Universida<strong>de</strong>, este ano foi dado<br />
171
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
início a uma experiência inovadora no Paidéia, as aulas<br />
interdisciplinares, que acontecem uma vez por mês para cada área do<br />
conhecimento. Neste trabalho daremos ênfase, então, ao relato <strong>de</strong><br />
experiências interdisciplinares na área <strong>de</strong> Linguagens, códigos e suas<br />
tecnologias, ou seja, para as disciplinas <strong>de</strong> língua portuguesa, língua<br />
estrangeira e literatura, em que foram <strong>de</strong>senvolvidas ativida<strong>de</strong>s<br />
integradoras em sala <strong>de</strong> aula, propiciando aos alunos um aprendizado<br />
mais a<strong>de</strong>quado ao que é exigido atualmente para o ingresso aos<br />
Ensinos Técnico e Superior.<br />
O ENSINO E APRENDIZAGEM DA ESCRITA NA FORMAÇÃO<br />
DE PROFESSORES<br />
Clarice Vaz Peres Alves<br />
Marion Rodrigues Dariz<br />
Palavras-chave: escrita contexto acadêmico, processos<br />
interpsicológicos, formação <strong>de</strong> professores<br />
Acreditamos que a formação <strong>de</strong> escritores competentes apresenta-se<br />
como um dos maiores <strong>de</strong>safios aos educadores. Dessa forma, este<br />
trabalho, baseado nas i<strong>de</strong>ias <strong>de</strong> Vygotski e <strong>de</strong> Bakhtin, se propõe a<br />
discutir a influência dos processos interpsicológicos no<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da consciência e do controle sobre a escrita nos cursos<br />
<strong>de</strong> formação <strong>de</strong> professores. Defen<strong>de</strong>mos que a tomada <strong>de</strong> consciência e<br />
a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> controle acerca da escrita po<strong>de</strong>m ser maximizadas por<br />
meio <strong>de</strong> práticas coletivas, mediadas pela linguagem e pelos processos<br />
interpsicológicos. Enten<strong>de</strong>mos que os processos interpsicológicos<br />
contribuem significativamente com a qualificação <strong>de</strong> um texto, já que<br />
este, como afirma Koch & Elias (2010, p.13) “é um evento<br />
sociocomunicativo que ganha existência <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um processo<br />
interacional. Todo o texto é resultado <strong>de</strong> uma coprodução entre<br />
interlocutores [...].” Para Vygotski (2000), é por meio <strong>de</strong> um<br />
movimento dialético do social para o individual que o indivíduo se<br />
constitui, internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais,<br />
formando a própria consciência. Bakhtin também afirma que (2006), a<br />
consciência só se constrói por meio do processo <strong>de</strong> interação social.<br />
Afirmamos que o ensino da escrita no contexto acadêmico precisa ser<br />
repensado. Compartilhamos com Faraco (2009) quando argumenta que<br />
precisamos fazer as pazes com a escrita, precisamos apren<strong>de</strong>r a escrever<br />
e precisamos apren<strong>de</strong>r a ensinar a escrever.<br />
172
Resumo dos Trabalhos<br />
ARTIGO DE OPINIÃO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA<br />
Daiane Araujo Marinho<br />
Palavras-chave: artigo <strong>de</strong> opinião; sequência didática; prática docente<br />
Pensando o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa em uma perspectiva<br />
enunciativa como nos orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais -<br />
PCN’s (1998) e percebendo a tendência crescente <strong>de</strong> encontrarmos na<br />
mídia notícias sobre temas polêmicos, os quais exigem do leitor um<br />
posicionamento crítico; os alunos do curso <strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral do Pampa/Jaguarão, na disciplina <strong>de</strong> Linguística Aplicada ao<br />
Ensino do Português, apostaram em uma prática <strong>de</strong> intervenção<br />
pedagógica em escolas da re<strong>de</strong> da cida<strong>de</strong>. Esta intervenção teve por<br />
propósito aplicar a proposta das Sequências Didáticas (SDs)<br />
apresentadas pelo grupo <strong>de</strong> Genebra, a partir também, dos fundamentos<br />
da teoria dos gêneros em Bakhtin. Consi<strong>de</strong>rando que o artigo <strong>de</strong><br />
opinião é um gênero que circula cada vez mais na socieda<strong>de</strong> atual e<br />
que tem a função social <strong>de</strong> persuadir, formar ou até mesmo mudar a<br />
opinião dos leitores, enten<strong>de</strong>u-se interessante propor um trabalho em<br />
que os alunos <strong>de</strong>senvolvessem uma visão crítica do gênero artigo <strong>de</strong><br />
opinião, reconhecendo suas características, explorando-as, seguindo as<br />
orientações das SDs. A intervenção foi aplicada em uma turma <strong>de</strong> 4°<br />
etapa da <strong>Educação</strong> <strong>de</strong> Jovens e Adultos (EJA) em uma escola da cida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Jaguarão e o presente trabalho preten<strong>de</strong> relatar tal prática docente,<br />
refletindo como se <strong>de</strong>u o processo pedagógico assim como discutir o<br />
significado <strong>de</strong>sta ativida<strong>de</strong> na nossa formação, enquanto futuros<br />
professores <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
LEITURA NA TELA E ENSINO DE LEITURA<br />
Delaine Cafiero<br />
Carla Viana Coscarelli<br />
Participar, pois, do ‘admirável mundo digital’, sem abrir mão da<br />
experiência da leitura, sobretudo a que estimula a imaginação e<br />
inaugura novos caminhos para a fantasia, talvez seja o melhor que se<br />
po<strong>de</strong> fazer, para quem atua no âmbito da educação”. Este é o último<br />
parágrafo do texto A tela e o jogo: on<strong>de</strong> está o livro, <strong>de</strong> Regina<br />
Zilberman, publicado em Livros & telas (org. MARTINS,<br />
MACHADO, PAULINO, BELMIRO, 2011), que provoca, nesta<br />
pesquisa, uma reflexão sobre como tem se concretizado o ensino <strong>de</strong><br />
173
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
leitura nesses tempos em que ler na tela é uma das habilida<strong>de</strong>s cada vez<br />
mais exigida. O professor se vê hoje confrontado com os diferentes<br />
aparatos tecnológicos que inva<strong>de</strong>m a sala <strong>de</strong> aula na mochila dos<br />
alunos. É muito comum observar como esses usam a todo tempo seus<br />
celulares, numa troca frenética <strong>de</strong> mensagens com os amigos. Além dos<br />
mo<strong>de</strong>rnos telefones, netbooks, e-books, tablets e tantos outros<br />
dispositivos digitais concorrem para distrair a atenção dos alunos<br />
<strong>de</strong>ntro e fora da escola. Até que ponto os professores estão preparados<br />
para lidar com esses novos suportes, fazendo <strong>de</strong>les po<strong>de</strong>rosos aliados<br />
no processo <strong>de</strong> formação do leitor?A experiência com a tela não<br />
po<strong>de</strong>ria ser utilizada para estimular a leitura? Nesta pesquisa, ainda em<br />
andamento, investigamos a relação que o professor tem com o mundo<br />
digital e como tem utilizado a tela em suas aulas. Interessa-nos<br />
observar, <strong>de</strong>screver e analisar práticas em diferentes suportes digitais<br />
que po<strong>de</strong>m aproximar crianças e adolescentes do universo da leitura.<br />
Usamos como metodologia a análise <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s postadas no Portal<br />
do Professor que lidam com gêneros e ambientes digitais, a fim <strong>de</strong><br />
verificar que concepções <strong>de</strong> língua e aprendizagem fundamentam essas<br />
propostas.<br />
NOVOS DESAFIOS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS: A<br />
POSSIBILIDADE DO LÚDICO EM SALA DE AULA<br />
Dieniffer De Souza Silva<br />
Palavras-chave: Metodologias <strong>de</strong> ensino. <strong>Educação</strong> Lúdica. Ensino <strong>de</strong><br />
Português.<br />
No Brasil, a educação básica está garantida para todas as crianças e<br />
adolescentes no plano da lei, que reafirma o compromisso do Estado, da<br />
escola e da família em efetivar este direito. Conforme Macedo (2000),<br />
trata-se <strong>de</strong> uma conquista social e política muito importante, pois<br />
retirou da marginalida<strong>de</strong> e da exclusão aqueles que, antes <strong>de</strong> a lei<br />
existir, não tinham acesso ao ensino fundamental. Para o autor, o<br />
próximo <strong>de</strong>safio da educação no Brasil é a promoção <strong>de</strong> uma educação<br />
<strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, que <strong>de</strong>senvolva as competências e habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> forma<br />
significativa e duradoura. Porém, evi<strong>de</strong>ncia-se que, na atualida<strong>de</strong>, a<br />
maioria das escolas está distante <strong>de</strong> cumprir esse <strong>de</strong>safio, pois, possui<br />
uma metodologia tradicional, na qual o professor impõe saberes; o<br />
aluno recepta e os repete. A escola não se caracteriza por ser um<br />
ambiente <strong>de</strong> alegria e prazer intelectual, no qual o aluno é motivado a<br />
ser protagonista da construção do seu saber e a ter uma prática coletiva.<br />
174
Resumo dos Trabalhos<br />
Trabalhar para que uma mudança se efetive e transforme essa realida<strong>de</strong><br />
significa fazer da sala <strong>de</strong> aula um espaço com metodologia<br />
diferenciada, on<strong>de</strong> os alunos são estimulados em suas competências,<br />
para que participem <strong>de</strong> forma espontânea e com prazer do processo <strong>de</strong><br />
aprendizagem. Nesse contexto, aponta-se a educação lúdica como uma<br />
aliada para o cumprimento <strong>de</strong>sse <strong>de</strong>safio. Com uma proposta inovadora,<br />
ela traz consigo uma profunda teoria e uma prática atuante, capaz <strong>de</strong><br />
transformar a sala <strong>de</strong> aula em um espaço privilegiado <strong>de</strong> estudo,<br />
brinca<strong>de</strong>ira, lazer, trabalho, convívio e troca com o outro. Sabemos que<br />
há uma barreira cultural a ser superada − existe uma<br />
metodologia comumente aplicada, inserida no cotidiano escolar <strong>de</strong> tal<br />
forma que tanto o aluno quanto o docente estão habituados com o modo<br />
que ela acontece e, o uso do ca<strong>de</strong>rno, do quadro negro, livros e recursos<br />
tradicionais fazem o aluno crer que a aula efetivamente aconteceu,<br />
quando, na verda<strong>de</strong>, o uso <strong>de</strong>sses recursos não significa que o<br />
aprendizado se tenha concretizado; e a conformida<strong>de</strong> com a<br />
metodologia tradicional não proclama que ela seja suficiente para suprir<br />
as necessida<strong>de</strong>s da atual socieda<strong>de</strong>. Tendo em vista este panorama da<br />
educação atual, preten<strong>de</strong>mos reexaminar o conceito <strong>de</strong> educação lúdica,<br />
apontando meios para colocá-la em uso na sala <strong>de</strong> aula, especialmente,<br />
na disciplina <strong>de</strong> português.<br />
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LIVRO DIDÁTICO E<br />
GÊNEROS DO DISCURSO<br />
Dulce Tagliani<br />
Neste trabalho discutimos questões relacionadas ao uso do livro<br />
didático <strong>de</strong> íngua portuguesa e, em certa medida, procuramos relacionar<br />
ensino <strong>de</strong> língua portuguesa, livro didático e gêneros do discurso, no<br />
sentido <strong>de</strong> impulsionar as discussões que preten<strong>de</strong>m refletir a<br />
problemática do ensino e suas implicações na sala <strong>de</strong> aula. Num<br />
primeiro momento, apresentamos algumas consi<strong>de</strong>rações sobre gêneros<br />
do discurso, na perspectiva bakhtiniana. Na sequência, estabelecemos<br />
uma relação entre livro didático e gênero do discurso e, por fim,<br />
lançamos algumas consi<strong>de</strong>rações que recuperam a questão do ensino <strong>de</strong><br />
língua materna associado aos gêneros e ao livro didático, no sentido <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stacar a importância <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem que<br />
esteja voltado para a formação <strong>de</strong> cidadãos atuantes e críticos.<br />
175
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PIBID E O ENSINO POLITÉCNICO: RELATO DE<br />
EXPERIÊNCIA<br />
Elenyr Cavadas<br />
Karina Giacomelli (Orientadora)<br />
Palavras-chave: ensino/aprendizagem, ensino politécnico, PIBID.<br />
Este trabalho tem por objetivo apresentar um relato <strong>de</strong> experiência<br />
como bolsista no Projeto Institucional <strong>de</strong> Bolsa <strong>de</strong> Iniciação à<br />
Docência – PIBID II Humanida<strong>de</strong>s - Letras, da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
<strong>de</strong> Pelotas, na Escola Estadual <strong>de</strong> Ensino Médio Nossa Senhora <strong>de</strong><br />
Lour<strong>de</strong>s. Consi<strong>de</strong>rando que a escola começou este ano a trabalhar com<br />
a metodologia <strong>de</strong> projetos, prevista no novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Ensino Médio,<br />
<strong>de</strong>nominado Ensino Politécnico, foi necessária a atuação dos alunosbolsistas<br />
no auxílio da organização <strong>de</strong>sse trabalho. Assim, junto a uma<br />
turma <strong>de</strong> estudantes do primeiro ano do ensino médio, foi realizado o<br />
trabalho <strong>de</strong> apoio e orientação aos grupos que realizam projetos <strong>de</strong><br />
pesquisa, quanto aos procedimentos e a<strong>de</strong>quações no que se refere ao<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da pesquisa, principalmente na busca dos<br />
fundamentos teóricos necessários. Desse modo, procura-se direcionar<br />
os estudantes para os locais em que po<strong>de</strong>riam encontrar materiais<br />
relacionados às suas pesquisas, sendo estes: revistas, livros, artigos e<br />
sites idôneos, como também os auxiliar nas <strong>de</strong>mais dificulda<strong>de</strong>s<br />
encontradas nessa busca, uma vez que o aluno recebe,<br />
tradicionalmente, o conteúdo pronto, seja via livro didático, seja pelo<br />
professor. Salienta-se que cabe ao próprio grupo encontrar, avaliar e<br />
selecionar o material mais a<strong>de</strong>quado para ser utilizado em seu trabalho.<br />
Este relato <strong>de</strong> experiência <strong>de</strong>monstra um dos trabalhos que vêm sendo<br />
realizados pelos pibidianos junto às escolas, evi<strong>de</strong>nciando a dinâmica<br />
que envolve o ambiente escolar, professores e estudantes da re<strong>de</strong><br />
púbica <strong>de</strong> ensino e acadêmicos e professores da <strong>UFPel</strong>, na<br />
implementação <strong>de</strong> um novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> ensino/aprendizagem.<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESPANHOLA<br />
DURANTE A MOBILIDADE ACADÊMICA POR ALUNOS DO<br />
CURSO DE LETRAS/ESPANHOL DA UFSM<br />
Emanuele Bitencourt Neves Camani<br />
Sabe-se que a comunicação e o uso da língua é fundamental na<br />
formação do professor <strong>de</strong> língua estrangeira. Uma das possibilida<strong>de</strong>s<br />
para otimizar essa prática é um estágio por meio <strong>de</strong> um programa <strong>de</strong><br />
176
Resumo dos Trabalhos<br />
mobilida<strong>de</strong>. Este texto objetiva apresentar algumas reflexões sobre a<br />
contribuição dos programas <strong>de</strong> mobilida<strong>de</strong> acadêmica para a formação<br />
<strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua espanhola no curso <strong>de</strong> graduação em Letras da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria – (UFSM). No âmbito dos<br />
estudos das políticas linguísticas, o ensino <strong>de</strong> uma língua estrangeira<br />
po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>finida como uma política explícita, no momento em que<br />
“um programa <strong>de</strong> difusão se materializaria por ações que introduzissem,<br />
consolidassem e ampliassem sistematicamente o ensino <strong>de</strong> línguas e das<br />
culturas a elas vinculadas” (ALMEIDA FILHO, 1993, p.11). Destacase<br />
o programa <strong>de</strong> intercâmbio da AUGM (Associação <strong>de</strong><br />
Universida<strong>de</strong>s do Grupo Montevidéu) que promove a interação entre<br />
os estudantes e professores das universida<strong>de</strong>s associadas da AUGM.<br />
Por meio <strong>de</strong>sse programa, a formação <strong>de</strong> professores é mobilizada ao<br />
<strong>de</strong>senvolver o ensino e aprendizagem da língua estrangeira durante a<br />
mobilida<strong>de</strong> educacional e acadêmica através da integração entre<br />
universida<strong>de</strong>s do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Ressalta-se a<br />
aplicação da Política Linguística segundo os paradigmas teóricos <strong>de</strong><br />
Calvet (2007) em relação ao pluralismo e ao multilinguismo para a<br />
formação <strong>de</strong> professores. Desse modo, é possível estabelecer as re<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> pesquisa e comunicação interinstitucionais. Esta pesquisa, em<br />
<strong>de</strong>senvolvimento, busca refletir sobre a prática e a formação do<br />
professor <strong>de</strong> língua estrangeira, especificamente, dos alunos que<br />
participaram do programa <strong>de</strong> mobilida<strong>de</strong> da AUGM. Verificou-se,<br />
nesta investigação como se constitui a formação do profissional <strong>de</strong><br />
línguas em relação ao ensino <strong>de</strong> língua estrangeira a partir das<br />
competências e habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas durante o intercâmbio<br />
acadêmico.<br />
PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE NO<br />
ENTENDIMENTO DA TEORIA HOLÍSTICA DA ATIVIDADE<br />
Fabricia Cavichioli Braida<br />
Ana Lúcia Chelotti Prochnow<br />
Esta comunicação tem por finalida<strong>de</strong> apresentar a Teoria Holística da<br />
Ativida<strong>de</strong> (abreviatura THA), proposta por Richter (2004/2011). Esta<br />
teoria foi criada com o propósito <strong>de</strong> discutir questões ligadas à<br />
formação e profissionalização docente. A THA enten<strong>de</strong> que o professor<br />
é visto como um outsi<strong>de</strong>r do sistema, pois cabe a ele “obe<strong>de</strong>cer” a<br />
sistemas <strong>de</strong> ensino, recebendo or<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> instâncias <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />
superiores. A ele é vedado o direito <strong>de</strong> criar, construir, modificar tais<br />
177
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
prescrições – muitas vezes opacas e contraditórias. O discurso vem <strong>de</strong><br />
fora, pronto, como algo a ser aceito e cumprido (AROUCA, 2003).<br />
Dessa forma, tendo como base esse cenário, Richter (2008) afirma que<br />
falta ao professor, como grupo, um discurso endógeno e normatizante<br />
que organize e manifeste seu <strong>de</strong>ver-ser. É a presença da exogenia que<br />
prejudica a autoimagem do professor, haja vista, como salienta o<br />
mesmo autor, estejam prejudicados os efeitos <strong>de</strong> prestígio, verda<strong>de</strong> e<br />
legitimida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua ação.<br />
BIBLIOTECA VIVA: DANDO ASAS AOS SONHOS<br />
Fernanda Cavalheiro Granato<br />
Angélica Margaret Jardim Alvarez<br />
Palavras-chave: biblioteca escolar, leitura, projetos.<br />
Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto “Biblioteca Viva”,<br />
pensado <strong>de</strong>ntro do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID), na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA), o qual<br />
preten<strong>de</strong> ampliar não só a estrutura física do espaço da biblioteca na<br />
escola estadual Silveira Martins, localizada no município <strong>de</strong> Bagé/RS,<br />
como também incentivar os alunos a ler mais, envolvendo toda a<br />
comunida<strong>de</strong> escolar nesse processo. A proposta surgiu com o intuito<br />
<strong>de</strong> transformar o espaço da biblioteca em um lugar confortável,<br />
aconchegante, atraente, ou seja, um espaço em que os alunos se sintam<br />
à vonta<strong>de</strong> para visitar, <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> ser o local on<strong>de</strong> ficam <strong>de</strong>positados<br />
os livros e outros materiais <strong>de</strong> leitura, mas passando a ter<br />
funcionalida<strong>de</strong> e ampliando inclusive as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pesquisa. A i<strong>de</strong>ia<br />
surgiu a partir do diagnóstico resultante <strong>de</strong> um questionário respondido<br />
pelos alunos, no qual se <strong>de</strong>tectou a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> haver melhorias na<br />
biblioteca, lugar on<strong>de</strong> há inúmeras obras sem a <strong>de</strong>vida i<strong>de</strong>ntificação e<br />
catalogação, o que impossibilita o uso. Nesse sentido, com base em<br />
autores como Souza (2004), Fragoso (1996), Faqueti (2002), pensou-se<br />
na dinamização <strong>de</strong>sse espaço escolar o que possibilita a mobilização e<br />
a inserção <strong>de</strong> toda a comunida<strong>de</strong> escolar. A partir da ampliação do<br />
espaço serão <strong>de</strong>senvolvidos microprojetos no espaço da biblioteca com<br />
a participação dos alunos, como “Hora do Conto” (os bolsistas contam<br />
histórias), “Teatro” e a “Cinemoteca” (filmes associados a obras do<br />
acervo).<br />
178
Resumo dos Trabalhos<br />
A ESCRITA NA FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL:<br />
PESQUISA IMPULSIONADA EM RODAS DE FORMAÇÃO<br />
Fernanda Me<strong>de</strong>iros De Albuquerque<br />
Palavras-chave: Professor pesquisador, Escrita, Roda <strong>de</strong> Formação<br />
Argumenta-se sobre a importância da formação <strong>de</strong> professores<br />
pesquisadores por meio do registro <strong>de</strong> suas práticas como possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> melhorar a compreensão e a qualida<strong>de</strong> do trabalho docente. O<br />
trabalho com a escrita da prática docente <strong>de</strong>senvolvido ao longo do<br />
processo <strong>de</strong> formação acadêmico-profissional favorece que os<br />
professores se percebam como pesquisadores <strong>de</strong> suas práticas. Por meio<br />
da pesquisa eles terão possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver o hábito <strong>de</strong> refletir,<br />
<strong>de</strong> questionar, <strong>de</strong> buscar respostas, <strong>de</strong> construir argumentos críticos, <strong>de</strong><br />
se comunicarem e <strong>de</strong> se enten<strong>de</strong>rem como sujeitos incompletos<br />
(GALIAZZI, 2003). Defen<strong>de</strong>-se as Rodas <strong>de</strong> Formação como espaços<br />
que retirem os professores do isolamento e impulsione o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> sujeitos pesquisadores da sua prática, contribuindo<br />
para a sua formação e para a formação dos seus pares<br />
(ALBUQUERQUE e GALIAZZI, 2011). Nessas Rodas são dadas<br />
oportunida<strong>de</strong>s para a partilha <strong>de</strong> experiências e com essas o surgimento<br />
<strong>de</strong> questionamentos que incentivem a busca <strong>de</strong> novos argumentos que<br />
possam ser divulgados na própria Roda. Quando se forma um grupo <strong>de</strong><br />
formação em Rodas a presença <strong>de</strong> diferentes pontos <strong>de</strong> vista<br />
impulsiona as aprendizagens. O trabalho coletivo e mediado permite<br />
uma intervenção <strong>de</strong>sejada por sujeitos que querem mudar a sua ação.<br />
Essa intervenção permite às pessoas internalizar <strong>de</strong> maneira mais<br />
intensa os novos conceitos, e com isso, passar para novos níveis <strong>de</strong><br />
entendimento da sua prática. As discussões <strong>de</strong> experiências, juntamente<br />
com o estudo <strong>de</strong> textos teóricos, possibilitam uma reflexão entre a<br />
teoria e a prática, possibilitando a partilha das experiências entre<br />
sujeitos em diferentes estágios <strong>de</strong> aprendizagem, oportunizando que<br />
problemas não resolvidos individualmente possam ser resolvidos com<br />
o auxilio da discussão coletiva.<br />
179
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O ENEM E A LÍNGUA PORTUGUESA: UMA CONTRIBUIÇÃO<br />
PARA A TRANSFORAMAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA NA<br />
EDUCAÇÃO BÁSICA<br />
Fernanda Pereira Teixeira De Mello<br />
Jael Sânera Sigales Gonçalves<br />
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Ensino, ENEM<br />
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 pelo<br />
Instituto Nacional <strong>de</strong> Estudos e Pesquisas Estatísticas Anísio Teixeira<br />
(INEP), é, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2009, a prova atualmente utilizada pela maioria das<br />
instituições <strong>de</strong> ensino brasileiras para o ingresso nos cursos da<br />
<strong>Educação</strong> Superior. Uma das cinco áreas <strong>de</strong> conhecimentos cujas<br />
habilida<strong>de</strong>s são exigidas é a <strong>de</strong> Linguagens e Códigos, em que estão os<br />
conteúdos <strong>de</strong> Língua Portuguesa. É necessário entendimento, então,<br />
acerca <strong>de</strong> como a Língua Portuguesa é abordada nessa prova avaliativa,<br />
já que esta é utilizada não apenas como forma <strong>de</strong> acesso ao Ensino<br />
Superior, mas também como modo <strong>de</strong> aferir conhecimentos da<br />
<strong>Educação</strong> Básica. Especificamente, busca-se (i) verificar as matrizes <strong>de</strong><br />
referência que guiaram a elaboração do ENEM, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua criação; (ii)<br />
i<strong>de</strong>ntificar, nas matrizes <strong>de</strong> referência, a abordagem feita dos conteúdos<br />
<strong>de</strong> Língua Portuguesa; (iii) i<strong>de</strong>ntificar, nas provas aplicadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
criação do Exame, as questões referentes aos conteúdos <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa tratados nas matrizes; (iv) analisar como esses conteúdos<br />
têm sido abordados pelo ENEM <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a criação do teste. Para tanto,<br />
fez-se pesquisa documental, baseada nos textos oficiais <strong>de</strong> criação do<br />
Exame e também nas provas aplicadas no período 1998-2011. Em<br />
seguida, no que diz respeito à análise das questões, propôs-se a<br />
distinção entre duas abordagens: gramatical e não-gramatical. A<br />
análise dos dados evi<strong>de</strong>ncia que o Exame Nacional do Ensino Médio,<br />
no que diz respeito à Língua Portuguesa, ten<strong>de</strong> a uma abordagem nãogramatical<br />
dos conteúdos da disciplina; constatou-se predileção pela<br />
aferição <strong>de</strong> conhecimentos relacionados à habilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interpretação<br />
textual. Os resultados da pesquisa, portanto, po<strong>de</strong>m contribuir para o<br />
redirecionamento da prática docente no ensino da língua portuguesa na<br />
sala <strong>de</strong> aula da <strong>Educação</strong> Básica.<br />
180
Resumo dos Trabalhos<br />
A PEDAGOGIA DE UMA TELENOVELA: JOVENS REBELDES<br />
E PROFESSORES AFETIVOS<br />
Fernando Da Rosa Rosado<br />
Angela Dillmann Nunes Bicca<br />
Palavras-chave: Pedagogias Culturais, Docência, Telenovela.<br />
Buscamos, nesta pesquisa, compreen<strong>de</strong>r o que se apren<strong>de</strong> sobre o<br />
trabalho docente voltado para adolescentes “rebel<strong>de</strong>s” na novela da<br />
Re<strong>de</strong> Record <strong>de</strong> Televisão (com início em 2011) intitulada Rebel<strong>de</strong>,<br />
focando os seus primeiros 30 capítulos, exibidos na TV aberta entre<br />
21/03/2011e 29/04/2011. Desenvolvemos as análises a partir dos<br />
Estudos Culturais, na sua vertente pós-mo<strong>de</strong>rna e pós-estruturalista,<br />
consi<strong>de</strong>rando-a um texto cultural que coloca em circulação, produz e<br />
reproduz, importantes representações dos/as professores/as bem como<br />
<strong>de</strong> jovens alunos/as “rebel<strong>de</strong>s”. Ao fazer isso a novela estaria<br />
colocando em ação uma forma <strong>de</strong> Pedagogia Cultural (KELLNER,<br />
2001; STEINBERG, 1997; FABRIS, 1999) que ensina aos/às<br />
professores/as e estudantes como <strong>de</strong>vem se comportar, com o que<br />
<strong>de</strong>vem sonhar, o que <strong>de</strong>vem almejar ou <strong>de</strong>vem repudiar. Sob a ótica<br />
teórica <strong>aqui</strong> assumida, valemo-nos do conceito <strong>de</strong> representação<br />
cultural, tal como foi enunciado por Hall (1997), para compreen<strong>de</strong>r<br />
como a novela contribui para constituir discursivamente o bom<br />
professor <strong>de</strong> jovens estudantes do nível médio como aquele<br />
profissional que confere centralida<strong>de</strong> à socialização e à afetivida<strong>de</strong> dos<br />
seus alunos/as.<br />
A LEITURA PROTOCOLADA COMO ESTRATÉGIA<br />
DIDÁTICA NA SALA DE AULA<br />
Francine Araújo Farias<br />
Adriana Nascimento Bodolay (Coord. Pibid)<br />
Palavras-chave: Ensino, leitura, gêneros textuais.<br />
É fato que o ensino <strong>de</strong> gramática tradicional não auxilia efetivamente na<br />
formação <strong>de</strong> bons leitores e consequentemente, escritores. Nas últimas<br />
décadas (90,2000), notamos uma gama <strong>de</strong> trabalhos com os gêneros<br />
textuais, <strong>de</strong> forma integrada ao conhecimento gramatical. No contexto<br />
da sala <strong>de</strong> aula, muitos alunos, ao terminarem <strong>de</strong> ler um texto, afirmam<br />
que não o compreen<strong>de</strong>ram. Tal situação ocorre, ao nosso ver, em<br />
função da falta <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> leitura (Solé, 1998). Partindo do<br />
pressuposto <strong>de</strong> que ao lermos interagimos com o texto (Leffa, 1996),<br />
181
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
construindo sentidos a partir <strong>de</strong> nossos conhecimentos prévios<br />
(Liberato e Fulgêncio, 2007), utilizando-nos <strong>de</strong> estratégias individuais,<br />
verificamos que o papel do professor é orientar o aluno na busca <strong>de</strong><br />
compreensão <strong>de</strong> um texto, ajudando-o no acionamento dos<br />
conhecimentos prévios. Neste trabalho, focaremos no uso da técnica da<br />
leitura protocolada (Coscarelli, 2007) como estratégia didática. O<br />
trabalho será <strong>de</strong>senvolvido com alunos das séries finais <strong>de</strong> uma escola<br />
municipal da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Jaguarão. Ressaltamos que o presente trabalho<br />
vincula-se ao Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsa <strong>de</strong> Iniciação à docência –<br />
PIBID, promovido pela CAPES, com o subprojeto <strong>de</strong> Letras Língua<br />
Materna, da UNIPAMPA – campus Jaguarão/RS.<br />
APLICANDO A SUSTENTABILIDADE NA MODA DE<br />
PELOTAS<br />
Frantieska Huszar Schneid<br />
Nesse resumo é apresentada a metodologia <strong>de</strong> trabalho do projeto <strong>de</strong><br />
pesquisa em andamento “Aplicando a Sustentabilida<strong>de</strong> na Moda <strong>de</strong><br />
Pelotas”. É abordado a sua importância em meio a aca<strong>de</strong>mia,<br />
comunida<strong>de</strong> e instituições que usam da sustentabilida<strong>de</strong> como<br />
ferramenta educacional <strong>de</strong> transformação social No contexto em que a<br />
socieda<strong>de</strong> contemporânea se encontra, <strong>de</strong> consumismo <strong>de</strong>senfreado, é<br />
difícil imaginar como estarão os recursos naturais do planeta d<strong>aqui</strong> a<br />
algumas décadas. A indústria da moda gera terríveis impactos ao meio<br />
ambiente e ao ser humano. Mas algumas empresas e estilistas já<br />
<strong>de</strong>spertaram para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma produção mais sustentável e<br />
ética tendo uma consciência ecológica e integrida<strong>de</strong> social. A moda,<br />
então, <strong>de</strong> vilã da sustentabilida<strong>de</strong> ambiental, po<strong>de</strong> tornar-se uma aliada.<br />
Se a princípio era apenas um discurso, agora a conscientização já<br />
perpassa as tendências e cria uma tensão permanente no campo do<br />
consumo. Neste contexto, é <strong>de</strong> fundamental importância a criação <strong>de</strong><br />
novas propostas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sign do vestuário <strong>de</strong> moda, visando a reutilização<br />
<strong>de</strong> produtos que seriam <strong>de</strong>scartados e <strong>de</strong> resíduos têxteis gerados pelas<br />
indústrias da cida<strong>de</strong>. Os objetivos do presente trabalho visam a criação<br />
<strong>de</strong> um núcleo <strong>de</strong> moda sustentável em Pelotas, reduzindo o <strong>de</strong>scarte <strong>de</strong><br />
resíduos têxteis, conscientizando a socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> que é possível<br />
reutilizar roupas ao invés <strong>de</strong> <strong>de</strong>scartá-las. Através das experiências<br />
geradas pelo projeto, reforçar a reflexão sobre a sustentabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro<br />
do meio docente, discente e comunida<strong>de</strong>, influenciando a socieda<strong>de</strong><br />
para a colaboração nas políticas públicas que visam a organização<br />
182
Resumo dos Trabalhos<br />
social <strong>de</strong>ntro da esfera ambiental <strong>de</strong> Pelotas, bem como a sua<br />
preservação e crescimento, se tornando referência, visto que será uma<br />
inovação na cida<strong>de</strong>.<br />
PROFESSORES OU APRENDIZES DE INGLÊS EM<br />
FORMAÇÃO? A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE<br />
ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM LETRAS<br />
Gabriela Bohlmann Duarte<br />
A formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua estrangeira é um processo nem<br />
sempre claro aos estudantes, pois o professor em formação também é<br />
um aprendiz em formação e a distinção entre ambas as posições po<strong>de</strong><br />
não ser perceptível aos graduandos. O fato <strong>de</strong> o aprendiz se reconhecer<br />
apenas como aprendiz ou também como um professor em formação<br />
está relacionado à <strong>de</strong>finição da sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> profissional. Segundo<br />
Silva (2000), o conceito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> implica o conceito <strong>de</strong> diferença,<br />
pois se é algo porque não se é algo mais. Sa<strong>de</strong> (2009) aponta relações<br />
entre a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e as teorias do Caos e da Complexida<strong>de</strong>, pois a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> apresenta características <strong>de</strong>sses sistemas e, assim, permite a<br />
compreensão da construção i<strong>de</strong>ntitária em interação com o contexto dos<br />
indivíduos. A partir <strong>de</strong>ssa perspectiva, investiga-se, neste trabalho, um<br />
grupo <strong>de</strong> professores em formação <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> Licenciatura em<br />
Letras, habilitação em Português e Inglês, interagindo por meio <strong>de</strong> um<br />
blog educacional para averiguar os valores presentes na sua escala<br />
comum <strong>de</strong> valores (PIAGET, 1973) e, por conseguinte, a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
assumida pelo grupo no 3º semestre do curso. Consi<strong>de</strong>ra-se o grupo <strong>de</strong><br />
alunos um sistema complexo e os valores e a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> manifestandose<br />
nas interações entre os alunos, permitindo, necessariamente, a<br />
ocorrência <strong>de</strong> benefício recíproco (PIAGET, 1973) e, possivelmente, <strong>de</strong><br />
sustentação solidária (ESTRÁZULAS, 2004). Um dos objetivos do<br />
blog era a atuação dos alunos como professores. Esperava-se que eles<br />
compartilhassem os valores autonomia (HOLEC, 1981) e colaboração<br />
(PAAS, 2005), pois quando um professor ensina, está colaborando com<br />
a aprendizagem do aluno e quando <strong>de</strong>staca ou aponta alguma<br />
ina<strong>de</strong>quação, mostra-se como conhecedor dos aspectos formais e<br />
contextuais que exigem <strong>de</strong>terminada correção. Contudo, tais valores<br />
não foram encontrados <strong>de</strong>ssa forma e, assim, verifica-se apenas a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aprendizes <strong>de</strong> inglês no grupo <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> inglês<br />
em formação.<br />
183
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A CARACTERÍSTICA EMANCIPATÓRIA DA EDUCAÇÃO<br />
EXIGE A PESQUISA COMO MÉTODO FORMATIVO, PELA<br />
RAZÃO PRINCIPAL DE QUE SOMENTE UM AMBIENTE<br />
Joseline Tatiana Both<br />
Cristina Rorig<br />
Palavras-chave: linguagem; sentido; ensino; pesquisa.<br />
Um trabalho <strong>de</strong> ensino-aprendizagem da língua materna significativo e<br />
consistente é objeto <strong>de</strong> muitas reflexões e pesquisas tendo em vista os<br />
muitos problemas apresentados por alunos que saem da <strong>Educação</strong><br />
Básica e até mesmo da universida<strong>de</strong>. As <strong>de</strong>ficiências são comprovadas<br />
por diversos sistemas <strong>de</strong> avaliação, que evi<strong>de</strong>nciam níveis muito baixos<br />
no que diz respeito à compreensão leitora, por exemplo. Por meio <strong>de</strong>ste<br />
trabalho, objetivamos propor um olhar para o ensino que parte da<br />
necessida<strong>de</strong> da pesquisa, que pressupõe efetivo comprometimento do<br />
professor e do aluno, para que se <strong>de</strong>senvolva <strong>de</strong> fato a aprendizagem<br />
dos elementos constitutivos do sentido da linguagem, sua análise e<br />
compreensão. Acreditamos ser este um caminho possível para o<br />
trabalho com a linguagem em sala <strong>de</strong> aula e, também, para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> indivíduos autônomos, capazes <strong>de</strong> construir e<br />
reconstruir seu conhecimento. De acordo com Demo (2008), a<br />
característica emancipatória da educação exige a pesquisa como método<br />
formativo, pela razão principal <strong>de</strong> que somente um ambiente <strong>de</strong><br />
sujeitos gesta sujeitos. O autor também propõe a educação como<br />
processo <strong>de</strong> formação da competência humana, a partir disso pensamos<br />
na perspectiva <strong>de</strong> uma formação integral dos sujeitos, na qual a<br />
linguagem tem papel fundamental porque lhes é constitutiva. A<br />
abordagem teórica que adotamos é a enunciativa, fundamentada nos<br />
autores Émile Benveniste e Oswald Ducrot.<br />
A FORMAÇÃO DE LEITORES NO ENSINO FUNDAMENTAL<br />
Leonardo Barros Me<strong>de</strong>iros<br />
Este trabalho trata da apresentação <strong>de</strong> um projeto realizado numa escola<br />
particular no município <strong>de</strong> Petrópolis em que foi <strong>de</strong>senvolvida a<br />
conscientização pelo cuidado com o livro e, subsequente, o prazer pela<br />
leitura. Um relato sobre como o prazer pela leitura po<strong>de</strong> foi transmitido<br />
na escola a partir do papel mediador do professor. Preten<strong>de</strong>mos relatar<br />
um acompanhamento, numa escola da re<strong>de</strong> particular <strong>de</strong> ensino do<br />
Município <strong>de</strong> Petrópolis - RJ, sobre os <strong>de</strong>sdobramentos práticos da<br />
184
Resumo dos Trabalhos<br />
formação <strong>de</strong> leitores e discutir o papel <strong>de</strong>sempenhado pela escola no<br />
processo <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> indivíduos letrados. Escolhemos uma escola,<br />
com uma proposta pedagógica <strong>de</strong> orientação sócio-interacionista,<br />
preocupada com a formação do gosto pela leitura nas crianças para<br />
po<strong>de</strong>rmos relatar um projeto inovador, prático e funcional em que<br />
procurou <strong>de</strong>senvolver o prazer pela leitura e o cuidado com os livros. O<br />
apren<strong>de</strong>r a ler e o prazer <strong>de</strong> ler, nessa escola é ensinado já na <strong>Educação</strong><br />
Infantil <strong>de</strong> tal forma que muitas crianças ao entrarem no Ensino<br />
Fundamental sabem escrever e ler palavras, frases e até mesmo<br />
pequenos textos. O trabalho da escola possui a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> formar<br />
leitores e escritores competentes e capazes <strong>de</strong> produzir variados textos.<br />
No <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma tarefa <strong>de</strong> leitura, a escrita é aprimorada e,<br />
além disso, o aluno tece contato com diversos gêneros textuais.<br />
Acreditamos que a partir do projeto <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong>senvolvida pela escola<br />
as crianças se tornarão leitoras interessadas e divulgadoras <strong>de</strong>ste prazer,<br />
pois elas <strong>de</strong>spertaram em si uma postura mais crítica e reflexiva em<br />
relação à produção <strong>de</strong> textos e aos cuidados com os livros.<br />
UMA DISCUSSÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES NAS<br />
AULAS DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO<br />
FUNDAMENTAL I<br />
Liane Régio Lucas<br />
Palavras-chave: ensino <strong>de</strong> língua inglesa, rotina, ensino fundamental I<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é <strong>de</strong>screver e refletir sobre a sequência <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>s semanais utilizada pela professora nas aulas <strong>de</strong> língua inglesa<br />
para estudantes <strong>de</strong> pré-escola à quinto ano. As experiências foram<br />
vivenciadas em uma escola particular da região <strong>de</strong> Pelotas/RS no<br />
período <strong>de</strong> três anos, com duração <strong>de</strong> quarenta e cinco minutos por<br />
semana para cada série. De acordo com o Referencial Curricular<br />
Nacional para a <strong>Educação</strong> Infantil, a rotina, ou a sequência <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>s semanais, é consi<strong>de</strong>rada um instrumento <strong>de</strong> dinamização da<br />
aprendizagem <strong>de</strong> caráter facilitador das percepções infantis sobre o<br />
tempo e espaço. Essa prática é <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importância no ensino <strong>de</strong><br />
inglês para estudantes <strong>de</strong> quatro a onze anos, pois ajuda os professores<br />
a prever situações inusitadas em sala <strong>de</strong> aula e dá mais segurança e<br />
confiança aos alunos. Assim, as aulas iniciam com uma música <strong>de</strong><br />
saudação, seguida pela apresentação da data, clima e estação do ano.<br />
Na sequência, os estudantes são introduzidos ao conteúdo<br />
programático do dia baseado no livro utilizado pela escola. Essa parte<br />
185
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
po<strong>de</strong> incluir músicas, pinturas, dramatizações, <strong>de</strong>senhos e/ou jogos.<br />
Para finalizar as aulas, os alunos cantam uma música <strong>de</strong> <strong>de</strong>spedida,<br />
sabendo que nesse momento é hora <strong>de</strong> guardar o material e se preparar<br />
para a próxima aula. Através <strong>de</strong>ssas ativida<strong>de</strong>s foi observada uma<br />
melhora no aprendizado, no <strong>de</strong>sempenho, no interesse e na<br />
participação dos alunos nas aulas, além <strong>de</strong> uma diminuição do grau <strong>de</strong><br />
frustração por parte dos mesmos no aprendizado <strong>de</strong> uma língua<br />
estrangeira. A partir da introdução da rotina nas aulas <strong>de</strong> inglês verificase<br />
a importância da investigação acerca dos benefícios da implantação<br />
<strong>de</strong> tal prática para a melhoria dos resultados da aprendizagem <strong>de</strong> inglês.<br />
APRENDENDO A ENSINAR A HABILIDADE DE<br />
ARGUMENTAR<br />
Lisiane Raupp Da Costa<br />
Sabrina Forati Linhar<br />
Palavras-chave: projetos <strong>de</strong> ensino, gêneros textuais, domínio do<br />
argumentar.<br />
Inserido em um projeto que visa a cooperação dos professores na<br />
construção do próprio conhecimento e na reflexão <strong>de</strong> suas práticas <strong>de</strong><br />
ensino, <strong>de</strong>nominado “Por uma formação continuada cooperativa para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento do processo educativo <strong>de</strong> leitura e produção textual<br />
escrita no Ensino Fundamental”, do Programa Observatório da<br />
<strong>Educação</strong>/Capes, coor<strong>de</strong>nado por Ana Maria Mattos Guimarães, do<br />
PPGLA Unisinos, este trabalho propõe-se a refletir sobre a prática <strong>de</strong><br />
ensino que vise a leitura e produção <strong>de</strong> gêneros textuais do domínio do<br />
argumentar, procurando i<strong>de</strong>ntificar os benefícios e dificulda<strong>de</strong>s<br />
encontradas na construção <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong> ensino com o foco nessa<br />
proposta. A partir da teoria sociointeracionista (BRONCKART, 2009),<br />
e <strong>de</strong> teorias que embasam o ensino da língua materna a partir dos<br />
gêneros textuais (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004; DOLZ, DECÂNDIO<br />
e GAGNON, 2011; GUIMARÃES, 2006; LOPES, 2007), as discussões<br />
do grupo <strong>de</strong> pesquisa em que este trabalho está inserido trabalhou na<br />
elaboração conjunta <strong>de</strong> projeto <strong>de</strong> ensino que tem os gêneros textuais no<br />
domínio do argumentar como articuladores das ativida<strong>de</strong>s. Por meio <strong>de</strong><br />
observação participante, a construção das ativida<strong>de</strong>s propostas foi<br />
gravada em áudio e realizaram-se entrevistas semi-padronizadas com os<br />
professores participantes <strong>de</strong>sse processo. Na fase em que a pesquisa se<br />
encontra, é possível perceber que os gêneros pertencentes ao domínio<br />
do argumentar parecem oferecer maior complexida<strong>de</strong> que diferenciam o<br />
186
Resumo dos Trabalhos<br />
trabalho dos professores <strong>de</strong> língua materna na construção <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong><br />
ensino em que gêneros <strong>de</strong>sse domínio são o foco.<br />
NOVOS PERFIS DE PROFESSORES: O MODELO DE<br />
TUTORIA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA<br />
DAFACED/UFC.<br />
Lourena Maria Domingos Da Silva<br />
Antonia Lis De Maria Martins Torres<br />
O contexto educacional vigente apresenta-se repleto <strong>de</strong> <strong>de</strong>safios, no que<br />
se refere à <strong>Educação</strong> a Distância, <strong>de</strong>ntre os quais se <strong>de</strong>staca a figura do<br />
tutor. Partindo <strong>de</strong>sse pressuposto, este trabalho apresenta o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
tutoria utilizado na disciplina <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> a Distância, do curso<br />
presencial <strong>de</strong> Pedagogia, FACED/UFC, a partir da experiência <strong>de</strong><br />
monitoria nesta disciplina. A atuação das formadoras é compreendida,<br />
a partir das consi<strong>de</strong>rações apresentadas por Masetto (2000); Mattar<br />
(2009); Vygotsky (1988); Borges Neto et alli (2009), em uma<br />
participação diária nos ambientes virtuais, acompanhado, dando<br />
feedback aos alunos, respon<strong>de</strong>ndo a solicitações ou possíveis dúvidas e<br />
ainda se reúnem semanalmente para discutir o andamento da disciplina.<br />
Este relato contou com a participação <strong>de</strong> dois professores e sete<br />
formadoras, todos vinculados à UFC. Os dados foram verificados a<br />
partir da <strong>de</strong>scrição do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> organização no qual esta equipe<br />
trabalha. Desta forma, a equipe tem mais acesso a necessida<strong>de</strong> dos<br />
alunos e ao seu <strong>de</strong>senvolvimento. A partir <strong>de</strong>ste trabalho, constata-se a<br />
importância do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> tutoria adotado pelo Laboratório <strong>de</strong> Pesquisa<br />
Multimeios, para uma atuação eficaz no processo <strong>de</strong> mediação<br />
pedagógica, que ocorre com intuito <strong>de</strong> promover aprendizagens<br />
colaborativas, na construção do conhecimento em grupo, <strong>de</strong> forma<br />
coletiva. Verificou-se, ainda, durante esse relato a importância no papel<br />
do tutor a distância que atua como sujeito ativo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma prática<br />
pedagógica, participando da organização da disciplina, junto com os<br />
docentes da disciplina.<br />
DA RAZÃO À EMOÇÃO: A EXPRESSÃO HUMANA ATRAVÉS<br />
DAS LINGUAGENS<br />
Luciana De Carvalho Me<strong>de</strong>iros<br />
Com o objetivo <strong>de</strong> se trabalhar, no ambiente escolar as formas <strong>de</strong><br />
expressão da nossa socieda<strong>de</strong>, através das linguagens, o presente<br />
187
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
trabalho teve como proposta realizar uma exposição das mais diversas<br />
formas <strong>de</strong> comunicação <strong>de</strong>smistificando o conceito <strong>de</strong> que os estudos<br />
<strong>de</strong> linguagens são restritos as aulas <strong>de</strong> língua portuguesa. Tendo em<br />
vista a utilização das inúmeras linguagens existentes, coube a nós<br />
trabalharmos com algumas <strong>de</strong>las com os alunos do 2º ano do ensino<br />
médio da Escola Estadual Raul <strong>de</strong> Leoni na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Viçosa Minas<br />
Gerais. A ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida foi através da exposição <strong>de</strong> cartazes<br />
feita pelos próprios alunos em que a comunida<strong>de</strong> estudantil refletiu<br />
sobre a criação e o aprendizado das novas linguagens,além <strong>de</strong><br />
compreen<strong>de</strong>r a importância histórica e cultural <strong>de</strong>ssas para a inserção<br />
social, dando aos alunos a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interagir e apren<strong>de</strong>r com as<br />
novas linguagens que estão presentes tanto na escola quanto fora <strong>de</strong>la.<br />
Po<strong>de</strong>mos citar <strong>aqui</strong> a linguagem em Braile, a Libras que é uma forma<br />
<strong>de</strong> inserir os <strong>de</strong>ficientes visuais e auditivos na socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> hoje.<br />
Através da participação dos alunos, foi possível realizar um trabalho<br />
multidisciplinar, uma vez que professores <strong>de</strong> áreas como educação<br />
física, matemática, história e biologia contribuíram para o<br />
enriquecimento <strong>de</strong> saberes, tanto dos alunos quanto dos professores<br />
que participaram <strong>de</strong>sta ativida<strong>de</strong>. Este trabalho convida a socieda<strong>de</strong><br />
acadêmica, bem como o público docente em geral, a refletir sobre o<br />
conceito <strong>de</strong> linguagens através da ótica da interdisciplinarida<strong>de</strong>.<br />
ENTRE A CONCEPÇÃO E A ATIVIDADE: “EU PROFESSOR<br />
DE PORTUGUÊS”<br />
Magnun Rochel Madruga<br />
Vanessa Domiud Damasceno<br />
O presente trabalho tem como objetivo analisar o modo como os<br />
sujeitos da pesquisa concebem a sua ativida<strong>de</strong> como professores <strong>de</strong><br />
português e o que as concepções <strong>de</strong>correntes da sua profissão dizem<br />
sobre a ativida<strong>de</strong> da sala <strong>de</strong> aula. Para isso, foram analisados textos <strong>de</strong><br />
quatro professores <strong>de</strong> português. A análise utilizou-se dos pressupostos<br />
da Teoria Bakhtiniana e também da Clínica da Ativida<strong>de</strong>. Os<br />
resultados indicam que os sujeitos utilizam-se <strong>de</strong> estratégias no seu<br />
dizer que, muitas vezes, refletem a sua prática e outras apenas a sua<br />
concepção <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>. Esse resultado é analisado através dos<br />
conceitos <strong>de</strong> ‘real da ativida<strong>de</strong>’ e ‘ativida<strong>de</strong> realizada’.<br />
188
Resumo dos Trabalhos<br />
REPRESENTAÇÕES CONSTRUÍDAS POR DOCENTES DE UM<br />
CONTEXTO ESCOLAR PÚBLICO ACERCA DOS PROCESSOS<br />
DE ENSINAR E APRENDER<br />
Maísa Helena Brum<br />
Luciane Kirchhof Ticks<br />
Palavras-chave: pesquisa colaborativa; formação continuada;<br />
representações <strong>de</strong> ensino-aprendizagem.<br />
O <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> formação continuada e<br />
colaborativa possibilita aos professores e pesquisadores “a investigação,<br />
reflexão e crítica <strong>de</strong> suas próprias práticas em sala <strong>de</strong> aula e sua relação<br />
com contextos sociais mais amplos” (MAGALHÃES, 2002). Dentro<br />
<strong>de</strong>ssa perspectiva, este trabalho foi configurado em um contexto escolar<br />
público na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santa Maria/RS e buscou discutir as<br />
representações <strong>de</strong> aprendizagem produzidas por participantes <strong>de</strong>sse<br />
contexto, com base em leitura e discussões acerca das concepções<br />
behaviorista, cognitivista e sociocultural. Na medida em que<br />
investigamos as representações <strong>de</strong> aprendizagem, po<strong>de</strong>mos conhecer a<br />
maneira como um grupo constrói saberes que constituem suas práticas<br />
profissionais e sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Para dar conta da análise <strong>de</strong>ssas<br />
representações, lançamos mão da Análise Crítica do Discurso<br />
(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999). Os resultados apontam<br />
para representações que evi<strong>de</strong>nciam as três perspectivas <strong>de</strong><br />
aprendizagem e contribuíram para a reflexão acerca das práticas sociais<br />
vivenciadas <strong>de</strong>ntro e fora da sala <strong>de</strong> aula. Em última instância, esta<br />
investigação contribuiu para fomentar ações colaborativas – entre<br />
participantes da escola e pesquisadores – a partir da reflexão como<br />
reconstrução da experiência (GIMENEZ, ARRUDA & LUVUZARI,<br />
2004).<br />
ANALISANDO A EXPRESSÃO EM FUNÇÃO DO CONTEÚDO:<br />
UM PERCURSO PARA UMA LEITURA PRODUTIVA<br />
Maria Cristina Freitas Brisolara<br />
Consi<strong>de</strong>rando que as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e interpretação na prática<br />
pedagógica são sempre alvo <strong>de</strong> reflexões e questionamentos, este<br />
trabalho preten<strong>de</strong> mostrar como a compreensão <strong>de</strong> um texto po<strong>de</strong> ser<br />
trabalhada, a partir da concepção <strong>de</strong> signo <strong>de</strong> Louis Hjelmslev. Essa<br />
concepção oferece um instrumental que possibilita atingir-se um nível<br />
muito produtivo <strong>de</strong> leitura. Para o linguista dinamarquês, um texto é<br />
189
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
um signo, assim, é o produto da união entre um plano <strong>de</strong> expressão e<br />
um plano <strong>de</strong> conteúdo, ou seja, entre aparência e imanência. O plano<br />
<strong>de</strong> expressão constitui-se das partes sensíveis do texto, a materialida<strong>de</strong>.<br />
O plano <strong>de</strong> conteúdo é a parte inteligível, on<strong>de</strong> nasce a significação.<br />
Segundo a visão estruturalista, um texto po<strong>de</strong> ser segmentado até seus<br />
componentes mínimos. O processo analítico consiste em reagrupar<br />
esses elementos em classes, conforme suas possibilida<strong>de</strong>s<br />
combinatórias. Analisa-se o conto “Embora sem náusea”, <strong>de</strong> Marina<br />
Colasanti nos dois planos. Quanto ao plano <strong>de</strong> expressão, no nível<br />
fonológico, são analisados os aspectos que se impõem na construção<br />
das sonorida<strong>de</strong>s; no nível morfológico, verificam-se os elementos<br />
lexicais, o vocabulário, as categorias gramaticais mais relevantes; no<br />
nível sintático, observam-se a combinação das palavras na construção<br />
<strong>de</strong> frases, orações, períodos, as repetições, as omissões e as inversões,<br />
enfim, as articulações que se sobressaem na sintaxe. No plano <strong>de</strong><br />
conteúdo são salientados, em nível semântico, os aspectos que<br />
estiveram sempre presentes nos níveis do plano <strong>de</strong> expressão. Cada<br />
nível está sempre relacionado aos <strong>de</strong>mais e todos os aspectos são<br />
analisados tendo-se em vista o sentido global do texto, pois, na<br />
concepção <strong>de</strong> Hjelmslev, o texto é a totalida<strong>de</strong> na qual se manifestam<br />
as estruturas do sistema semiótico. O estruturalismo linguístico<br />
hjelmsleviano sustenta que o texto é organizado pelo autor, <strong>de</strong> tal modo<br />
que possa ter diferentes possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> significado, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo da<br />
cultura e sensibilida<strong>de</strong> do leitor.<br />
UMA PRÁTICA DIALOGADA NA FORMAÇÃO DE UM<br />
PROFESSOR ECOLÓGICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM<br />
ESTUDO DE CASO<br />
Maria da Graça Carvalho do Amaral<br />
Rossana <strong>de</strong> Felippe Böhlke<br />
Palavras-chave: estágio, ecolinguística, inovação<br />
Tradicionalmente os estágios supervisionados (ES) ou práticas em<br />
Língua Estrangeira pelas quais os graduandos <strong>de</strong> Licenciatura têm a<br />
cumprir, muitas vezes tornam-se algo muito formalístico.<br />
Consi<strong>de</strong>rando o exposto acima, este trabalho tem como objetivo<br />
<strong>de</strong>screver o processo <strong>de</strong> um estágio supervisionado em Língua Inglesa,<br />
pré-requisitos para a conclusão do curso <strong>de</strong> Licenciatura em Letras da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong>, que inova por inaugurar na<br />
prática uma modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vivenciar o ensino ecológico. Essa nova<br />
190
Resumo dos Trabalhos<br />
modalida<strong>de</strong> a que nos referimos consiste na articulação entre teoria e<br />
prática com enfoque ecolinguístico através da formação <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong><br />
estudos, leituras dirigidas, diários <strong>de</strong> classe e oficinas pedagógicas que<br />
ocorreram simultaneamente ao estágio exigido no curso <strong>de</strong> Letras<br />
Licenciatura Português/Inglês que serão <strong>de</strong>scritas ao longo <strong>de</strong>sse<br />
trabalho. Os pressupostos teóricos da Abordagem Ecológica que foi<br />
escolhida para ser <strong>de</strong>senvolvida no processo <strong>de</strong> estágio inclui estudos<br />
<strong>de</strong> Vygotsky(1991), Van Lier(2000,2004) e Baktin (1988). Como<br />
resultado, po<strong>de</strong>mos apontar uma prática reflexiva e inovadora, na qual o<br />
professor estagiário conseguiu articular teoria e prática no cotidiano da<br />
sua sala <strong>de</strong> aula. Além disso, haverá <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> uma das lições<br />
elaboradas e aplicadas segundo a perspectiva mencionada.<br />
PELOS CAMINHOS DA LÍNGUA<br />
Marilei Resmini Grantham<br />
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre língua, leitura, texto e<br />
discurso, relacionando todos essas noções a questões ligadas ao ensino<br />
<strong>de</strong> língua portuguesa. Desejo realizar tal investigação a partir <strong>de</strong> um<br />
arcabouço teórico que me permita ir além dos limites do linguístico e,<br />
para tanto, filio- me ao campo epistemológico da Análise do Discurso<br />
<strong>de</strong> linha pecheutiana (AD). Tendo como referência noções como as <strong>de</strong><br />
sujeito, condições <strong>de</strong> produção e história, <strong>de</strong>sejo pensar sobre a<br />
repetição dos discursos na socieda<strong>de</strong>, observando, nestes, relações <strong>de</strong><br />
manutenção, <strong>de</strong>slocamentos ou rupturas <strong>de</strong> sentidos. Parto do<br />
pressuposto <strong>de</strong> que os discursos, ao circularem e serem lidos e<br />
interpretados, em diferentes épocas e sob distintas condições,<br />
promovem a produção <strong>de</strong> diferentes efeitos <strong>de</strong> sentidos. E <strong>de</strong>sejo refletir<br />
sobre o modo como essas repetições e esses diferentes sentidos po<strong>de</strong>m<br />
ser trabalhados e explorados nas aulas <strong>de</strong> língua. Como corpus <strong>de</strong><br />
análise, examino a repetição e a circulação <strong>de</strong> textos em diferentes<br />
momentos da história e sob distintas condições <strong>de</strong> produção.<br />
191
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO: TEORIA LINGUÍSTICA<br />
E PRÁTICA ESCOLAR<br />
Marina Cabreira Rocha De Moraes<br />
Clei<strong>de</strong> Martinez Da Silva<br />
Karina Giacomelli (Orientadora)<br />
Palavras-chave: linguística textual, ensino <strong>de</strong> língua, provas <strong>de</strong><br />
concurso.<br />
Este trabalho preten<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar teorias linguísticas subjacentes a<br />
provas <strong>de</strong> língua portuguesa <strong>de</strong> concursos fe<strong>de</strong>rais elaboradas por<br />
renomadas instituições como Fundação Carlos Chagas e Cesgranrio e<br />
relacioná-las à prática escolar. Adotando esse viés, foram avaliadas<br />
cinco provas <strong>de</strong> cada instituto, que exigiam escolarida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nível<br />
médio do candidato. Observou-se a predominância <strong>de</strong> questões com<br />
base na abordagem da linguística textual (percentual <strong>de</strong> 70%),<br />
organizadas em dois eixos temáticos: o primeiro é a compreensão<br />
global sobre o assunto discutido no texto pelo autor e, o segundo, o que<br />
exige do candidato analisar a estrutura e organização textual, levando<br />
em consi<strong>de</strong>ração os elementos coesivos do texto. Entretanto, o contexto<br />
brasileiro <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua materna continua marcado por exercícios<br />
<strong>de</strong> análise <strong>de</strong> gramática normativa, o que tem por consequência a<br />
<strong>de</strong>smotivação e <strong>de</strong>sinteresse da disciplina por parte dos alunos. Como o<br />
<strong>de</strong>sempenho dos candidatos em provas <strong>de</strong> concursos públicos se <strong>de</strong>ve,<br />
em parte, à transposição teórica adotada na prática escolar, se o<br />
professor adotasse a perspectiva <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua da linguística<br />
textual direcionaria o aluno à reflexão dos mecanismos formais e<br />
estruturais <strong>de</strong> um texto e à interpretação textual, propiciando ao<br />
educando a (re)construir os seus conhecimentos discursivos <strong>de</strong> língua.<br />
Assim, a investigação das questões das provas <strong>de</strong> língua portuguesa das<br />
instituições <strong>aqui</strong> citadas (re)força o (re)pensar e o (re)dimensionamento<br />
da práxis escolar direcionada para o ensino <strong>de</strong> língua pautado no texto.<br />
A SIMPLIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS SILÁBICAS NA<br />
ESCRITA DE ALUNOS DO CURSO FUNDAMENTAL E DO<br />
CURSO MÉDIO<br />
Marisa Porto Do Amaral<br />
A simplificação <strong>de</strong> estruturas silábicas na escrita <strong>de</strong> alunos do ensino<br />
fundamental e do ensino médio Marisa Porto do Amaral (FURG)<br />
Palavras-chave: simplificação – estrutura silábica – escrita Nos<br />
192
Resumo dos Trabalhos<br />
estudos que se ocupam da fala e da escrita, a perspectiva variacionista<br />
faz propostas específicas quanto ao tratamento da variação linguística<br />
nos contextos <strong>de</strong> ensino formal. Problemas <strong>de</strong> natureza fônico-gráfica<br />
que diferem da norma viabilizam novas hipóteses teóricas e levam à<br />
reflexão sobre a norma padrão, o uso efetivo e o processo <strong>de</strong> ensinoaprendizagem.<br />
Neste texto preten<strong>de</strong>-se discutir a interferência na<br />
língua escrita <strong>de</strong> alguns processos fonológicos simplificadores próprios<br />
da modalida<strong>de</strong> oral da língua – apagamento do /r/ em final <strong>de</strong> palavra<br />
(escrever > escreve), assimilação do /d/ em formas do<br />
gerúndio (per<strong>de</strong>ndo > per<strong>de</strong>no), <strong>de</strong>snasalização (coragem > corage),<br />
epêntese (ritmo > ritimo) e monotongação (peixe >pexe). A literatura<br />
mostra que há uma tendência <strong>de</strong> simplificação <strong>de</strong> estruturas silábicas<br />
por falantes, a<strong>de</strong>quando tal estrutura ao padrão universal das línguas –<br />
o padrão CV. Tal interferência foi observada na produção escrita <strong>de</strong><br />
alunos tanto do curso fundamental quanto do curso médio. Por isso,<br />
consi<strong>de</strong>ra-se fundamental, por parte dos professores <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa, um trabalho atento a esses usos, com essa diversida<strong>de</strong>, no<br />
sentido <strong>de</strong> oportunizar um ensino <strong>de</strong> língua mais eficaz, em que o aluno<br />
possa apropriar-se das estruturas da língua e usá-las com mais<br />
facilida<strong>de</strong> no seu <strong>de</strong>sempenho linguístico.<br />
A DIDATIZAÇÃO/PEDAGOGIZAÇÃO DE SABERES NA<br />
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA<br />
Mary Neiva Surdi Da Luz<br />
Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais <strong>de</strong> nossa tese <strong>de</strong><br />
doutoramento em Letras. Ancoramo-nos na perspectiva teóricometodológica<br />
da Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa (AD) em<br />
diálogo com a História das I<strong>de</strong>ias Linguísticas (HIL). Nosso percurso<br />
<strong>de</strong> análise se fez a partir <strong>de</strong> um arquivo documental-institucional em<br />
que tomamos como corpus <strong>de</strong> análise o discurso sobre o curso <strong>de</strong><br />
Letras da UNOCHAPECÓ-SC. Neste texto, apresentamos a análise<br />
<strong>de</strong>senvolvida em relação à didatização/pedagogização <strong>de</strong> saberes, em<br />
que observamos como a (pre)ocupação em relação ao ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa e à aplicação dos saberes vinculados à ciência linguística no<br />
ensino <strong>de</strong> língua portuguesa estão marcadas na constituição/formulação<br />
disciplinar <strong>de</strong> componentes curriculares <strong>de</strong>signados <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa, Leitura e Produção <strong>de</strong> Textos, Linguística e Estudos<br />
193
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Linguísticos; e como essa (pre)ocupação se faz sob efeito da relação<br />
entre a teoria e a prática nos cursos <strong>de</strong> formação inicial <strong>de</strong> professores.<br />
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
E AS IMPLICAÇÕES NA SUA PRÁTICA DOCENTE<br />
Muriel Silveira Da Silva<br />
Palavras-chave: formação docente, prática docente, língua estrangeira<br />
O número crescente <strong>de</strong> estudos sobre a formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong><br />
línguas salienta a inquietação <strong>de</strong> pesquisadores da área em enten<strong>de</strong>r<br />
como os futuros profissionais estão sendo preparados no meio<br />
acadêmico. O presente trabalho, situado na área que pesquisa a<br />
formação <strong>de</strong> professores, preten<strong>de</strong> investigar a opinião dos acadêmicos<br />
sobre o seu processo <strong>de</strong> formação. O corpus <strong>de</strong>sta pesquisa consiste em<br />
questionários respondidos por alunos do oitavo semestre do Curso <strong>de</strong><br />
Letras Habilitação em Português e Inglês e Respectivas Literaturas, da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> terem cursado a disciplina<br />
<strong>de</strong> estágio orientado em Língua Inglesa. A pesquisa foi dividida em<br />
dois momentos: o primeiro <strong>de</strong> revisão teórica e o segundo <strong>de</strong> uma<br />
pesquisa <strong>de</strong> campo. A revisão teórica tem como objetivo <strong>de</strong>stacar<br />
aspectos do atual quadro da formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua inglesa<br />
no Brasil. Já a pesquisa <strong>de</strong> campo buscou investigar a realida<strong>de</strong> da<br />
formação do professor <strong>de</strong> língua inglesa nessa universida<strong>de</strong> através da<br />
perspectiva dos próprios alunos-professores Os resultados apontam para<br />
a excelência da formação linguística, ainda que tenha sido <strong>de</strong>stacada<br />
uma dificulda<strong>de</strong> dos alunos em relacionar teoria e prática, bem como a<br />
insatisfação da maioria dos formandos em relação à insuficiência <strong>de</strong><br />
prática <strong>de</strong> ensino ao longo do curso.<br />
GÊNEROS TEXTUAIS NA ESCOLA: A PRODUÇÃO DE UMA<br />
REVISTA<br />
Nara Rejane Pinto Aquino<br />
Vanessa Doumid Damasceno (Orientadora)<br />
Palavras chave: gêneros textuais; ensino-aprendizagem, Língua<br />
Portuguesa.<br />
Os estudos encontrados sobre gêneros textuais utilizados nas salas <strong>de</strong><br />
aula pela maioria dos professores que trabalham com a língua são<br />
discutidos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma perspectiva <strong>de</strong> função comunicativa. Este<br />
194
Resumo dos Trabalhos<br />
trabalho trata do uso <strong>de</strong> uma ativida<strong>de</strong> com os gêneros em sala <strong>de</strong> aula<br />
como um motivador <strong>de</strong> aprendizagem. Essa pesquisa foi <strong>de</strong>senvolvida<br />
após o estágio supervisionado <strong>de</strong> língua portuguesa para adolescentes,<br />
envolvendo os alunos <strong>de</strong> uma escola do Município <strong>de</strong> Jaguarão/RS.<br />
Essa experiência com os alunos <strong>de</strong>spertou o interesse em refletir sobre<br />
como o trabalho com os gêneros po<strong>de</strong> ser causador <strong>de</strong> bom<br />
<strong>de</strong>sempenho a alunos consi<strong>de</strong>rados como “turma difícil”, ou<br />
<strong>de</strong>smotivados. Para cumprirmos essa meta, apoiamo-nos em alguns<br />
teóricos que abordam o tema, como Bentes (2006), Koch (1997; 2006),<br />
PCN (1998), Schneuwly e Dolz (2004) e Oliveira (2008). As práticas<br />
são relatadas por meio das experiências realizadas na sala <strong>de</strong> aula<br />
utilizando como recursos materiais lúdicos através <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>os, músicas e<br />
gêneros textuais que aparecem em revistas. Foram utilizadas ativida<strong>de</strong>s<br />
lúdicas abordando gêneros textuais atuais e polêmicos com o objetivo<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar a atenção dos alunos criando interesse e também para<br />
<strong>de</strong>senvolver o gosto pela leitura e escrita. O método utilizado foi a<br />
criação <strong>de</strong> uma revista na qual foi possível verificar a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
cada aluno <strong>de</strong> forma prazerosa com que trabalhavam e participavam<br />
fazendo com que eles próprios criassem suas histórias <strong>de</strong> vida. O<br />
resultado foi positivo e mostrou como o trabalho com gêneros é <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> importância para criações na hora da montagem da revista, qual<br />
ajudou no resgate <strong>de</strong> suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s.<br />
ARQUITETÔNICAS DE UMA CORPOGRAFIA<br />
ESCRILEITORA<br />
Patrícia Goulart Cavalheiro<br />
Carla Gonçalves Rodrigues<br />
Palavras-chave: <strong>Educação</strong>, escrileituras, corpo escrileitor.<br />
isparador <strong>de</strong> cenários que pensa a <strong>Educação</strong> com e na vida, encontrando<br />
força no ato da criação textual, o Projeto <strong>de</strong> pesquisa Escrileituras: um<br />
modo <strong>de</strong> ler- escrever em meio à vida busca alternativas relacionadas à<br />
superação dos baixos índices educacionais brasileiros, tornando-se<br />
corpo e produzindo matéria <strong>de</strong> pesquisa na prática operatória por meio<br />
<strong>de</strong> ateliês <strong>de</strong> escrileituras. Proposto pelo Núcleo <strong>UFPel</strong> durante o ano<br />
<strong>de</strong> 2012 na <strong>Faculda<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>Educação</strong>, o ateliê A pesquisa enquanto<br />
corpografia: palimpsestos, arquitetônicas objetivou construir<br />
possibilida<strong>de</strong>s e modos <strong>de</strong> potencializar leitores-escritores, além <strong>de</strong><br />
convocar a ação do pensamento por meio <strong>de</strong> instrumentos e processos<br />
capazes <strong>de</strong> criar uma escrita-vida ao experimentar a invenção <strong>de</strong> outras<br />
linguagens. O método utilizado para a produção e análise <strong>de</strong> dados foi<br />
195
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
do tipo qualitativo, com abordagem cartográfica. Como procedimentos<br />
<strong>de</strong> trabalho, foram reunidos fragmentos <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> Roland Barthes e<br />
da tese O corpo em obras: palimpsestos, arquitetônicas (COSTA,<br />
2011). Tomando a <strong>Educação</strong> como experimentação <strong>de</strong> um corpo em<br />
obra – uma anatomia palimpséstica – incessantemente reescrito, com<br />
rasuras em meio às caói<strong>de</strong>s do pensamento: arte, ciência e filosofia. A<br />
escrita <strong>de</strong> um texto configura-se na tecitura <strong>de</strong> um véu epidérmico <strong>de</strong><br />
entrelaçamento contínuo, no qual o escritor se <strong>de</strong>sfaz ao mesmo tempo<br />
em que se constitui em sua teia, no seu território, na sua própria<br />
corporaneida<strong>de</strong>. Corpos palimpsestos e arquitetônicos foram se<br />
pensando e repensando em meio à perceptos e afectos, atravessados<br />
pela multiplicida<strong>de</strong> contemporânea, na inscrição <strong>de</strong> um escritor-vida.<br />
Assim, a <strong>Educação</strong> se faz e se sente com todo o corpo, ou seja, um<br />
corpo que escreve – e é inscrito – em meio à vida.<br />
A COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE EM UMA<br />
PERSPECTIVA MULTIMODAL DE ANÁLISE DO TRABALHO<br />
REAL/CONCRETIZADO<br />
Rafaela Fetzner Drey<br />
Palavras-chave: Multimodalida<strong>de</strong>. Competência docente. Trabalho<br />
docente.<br />
A partir da concepção <strong>de</strong> ensino como trabalho, este trabalho analisa<br />
quais elementos interacionais, vistos sob uma perspectiva multimodal,<br />
permitem <strong>de</strong>screver o trabalho real/concretizado <strong>de</strong> alunas- professoras,<br />
<strong>de</strong> forma a observar a emergência <strong>de</strong> uma competência profissional<br />
docente. Para isso, foram filmadas aulas <strong>de</strong> produção textual <strong>de</strong> duas<br />
alunas-professoras do curso <strong>de</strong> Letras <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> da região<br />
Sul, no momento da realização <strong>de</strong> seu Estágio Curricular<br />
Supervisionado. As filmagens foram transcritas, para que se<br />
analisassem os momentos <strong>de</strong> interação entre professora e alunos, nos<br />
eventos <strong>de</strong> formulação <strong>de</strong> tarefa e <strong>de</strong> exposição <strong>de</strong> conteúdo. Com este<br />
fim, foi realizada uma análise que integra elementos discursivos<br />
gestuais e sequenciais, da fala-em-interação, consubstanciando uma<br />
análise multimodal. Os resultados mais importantes <strong>de</strong>ste estudo se<br />
concentram em três aspectos: (i) na apresentação <strong>de</strong> uma metodologia<br />
inicial <strong>de</strong> análise do trabalho real/concretizado sob a perspectiva<br />
multimodal; (ii) na reflexão sobre um conceito dinâmico <strong>de</strong><br />
competência profissional docente, esta vista como um processo em<br />
constante (re)construção; e (iii) na motivação para repensar o estágio<br />
196
Resumo dos Trabalhos<br />
como prática <strong>de</strong> ensino nos mol<strong>de</strong>s que os cursos <strong>de</strong> licenciatura<br />
apresentam atualmente. Foi possível concluir que a análise do trabalho<br />
real/concretizado sob a perspectiva multimodal po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>cisiva no<br />
sentido <strong>de</strong> revelar uma gama maior <strong>de</strong> elementos interacionais que<br />
permitem inferir uma competência profissional docente qualificada<br />
como um processo em constante (re)construção, alavanca <strong>de</strong> reflexões<br />
necessárias às mudanças nas práticas <strong>de</strong> ensino propostas, atualmente,<br />
nos cursos <strong>de</strong> licenciatura.<br />
PROFESSORES DE ESPANHOL EM FORMAÇÃO INICIAL:<br />
IMAGENS DA LÍNGUA E CULTURAS HISPÂNICAS NOS<br />
DISCURSOS MIDIÁTICOS E SUAS RELAÇÕES NO P<br />
Roberta Kolling Escalante<br />
Palavras-chave: Língua espanhola; discurso midiático; formação inicial<br />
<strong>de</strong> professores<br />
Partindo do pressuposto <strong>de</strong> que existe uma estreita relação entre língua,<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s culturais, discursos midiáticos e modos <strong>de</strong> subjetivação,<br />
busca-se compreen<strong>de</strong>r melhor a memória discursiva que constitui aos<br />
aprendizes brasileiros em formação inicial <strong>de</strong> professores em língua<br />
espanhola no que condiz seu imaginário da língua e culturas hispânicas<br />
e indagar sobre o lugar que essas últimas ocupam entre as outras<br />
línguas e culturas e quais são as consequências disso na construção da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> docente. Sendo assim, busca-se refletir acerca da influência<br />
dos discursos midiáticos, em especial, da televisão, na construção <strong>de</strong><br />
imagens da língua e culturas hispânicas e suas implicações no processo<br />
<strong>de</strong> aprendizagem e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> dos futuros professores <strong>de</strong> Espanhol<br />
como Língua Estrangeira (E/LE). Desta maneira, analisam-se as<br />
antecipações imaginárias dos aprendizes/professores em formação<br />
inicial referente “ao mundo em espanhol” retratado em suportes<br />
midiáticos tais como telejornais e publicida<strong>de</strong>s veiculados na televisão<br />
e suas relações em aspectos motivacionais, conhecimento e<br />
i<strong>de</strong>ntificação com a língua e culturas estrangeiras no ensinoaprendizagem<br />
do idioma e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> docente.<br />
197
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
QUESTÕES SOCIAIS EM TORNO DO LETRAMENTO<br />
DOCENTE: TECNOLOGIA E INTERAÇÃO<br />
Silvane Aparecida Gomes<br />
Este artigo trata do estudo a respeito <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong> professores <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa que utilizaram o e-mail (e-group) como ferramenta<br />
para discutirem os critérios <strong>de</strong> correção <strong>de</strong> avaliação <strong>de</strong> redações em<br />
um dos processos <strong>de</strong> avaliação sistêmica nacional. As interações entre<br />
esse grupo tornaram evi<strong>de</strong>nte que o uso <strong>de</strong> e-group além <strong>de</strong> contribuir<br />
para a construção <strong>de</strong> uma comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> prática (Wenger, 1998),<br />
transformaram o trabalho <strong>de</strong> avaliação. Mas que linguagens e<br />
letramentos requer do docente para exercer essa e outras ativida<strong>de</strong>s<br />
pedagógicas em nossos dias, já que cada vez mais, se expõem ao<br />
ensino e aprendizagens à distância? Essas inquietações, nos direcionam<br />
para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> revisão do sistema escolar, no que trata da<br />
a<strong>de</strong>quação da escola às novas condições sociais consi<strong>de</strong>rando o<br />
advento das novas tecnologias da informação e da comunicação<br />
(TDIC), na atenção que se <strong>de</strong>ve dar à formação <strong>de</strong> professores com<br />
<strong>de</strong>staque para sua representação social, sem esquecer-se da<br />
continuida<strong>de</strong> que tal formaçao requer, e das nuances do campo do<br />
currículo (não apenas como documentos e propostas curriculares ou<br />
sua concepção e seus <strong>de</strong>sdobramentos mas, como prática discursiva<br />
que privilegia as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s sociais e/ou estabelece suas<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s, refletindo a/na i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> social), do campo da<br />
linguagem ( mesmo sabendo que muitas discussões permanecem<br />
apenas no campo discursivo), que inci<strong>de</strong> sobre a prática docente,<br />
pensando a relação entre linguagem e realida<strong>de</strong> embora, a realida<strong>de</strong><br />
nacional <strong>de</strong>spreze a memória (histórica e essencial) <strong>de</strong>sse sujeito<br />
formador social, que <strong>de</strong>ve, entre outras competências ter letramento<br />
digital para o uso dos recursos tecnológicos para execução <strong>de</strong> trabalho<br />
essencialmente virtual.<br />
CONTEXTUALIZANDO A ARTE ATRAVÉS DO DESENHO DE<br />
MODA<br />
Tereza Cristina Barbosa Duarte<br />
Palavras-chave: <strong>Educação</strong>; Artes Visuais; Moda.<br />
O presente trabalho trata <strong>de</strong> uma proposta pedagógica <strong>de</strong>senvolvida em<br />
2011, no Instituto Fe<strong>de</strong>ral Sul-Rio-Gran<strong>de</strong>nse (IFSUL), na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Pelotas-RS, tendo como público-alvo uma turma do primeiro ano do<br />
198
Resumo dos Trabalhos<br />
curso Técnico em Vestuário, modalida<strong>de</strong> Integrada. A partir dos<br />
conteúdos <strong>de</strong>senvolvidos na disciplina <strong>de</strong> Artes Visuais, os alunos<br />
a<strong>de</strong>quaram e relacionaram os temas abordados a criação e ao Desenho<br />
<strong>de</strong> Moda, apropriando-se dos conceitos trabalhados e do seu repertório<br />
<strong>de</strong> elementos da linguagem visual. A dinâmica ocorreu <strong>de</strong> maneira que<br />
os alunos fizessem relação com o conteúdo abordado em aula e a<br />
simulação <strong>de</strong> uma situação vivida no ambiente <strong>de</strong> trabalho, ou seja, a<br />
criação a partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas específicas. Sendo assim a construção do<br />
conhecimento se <strong>de</strong>u <strong>de</strong> forma integrada e contextualizada, culminando<br />
na socialização das propostas em uma apresentação final. A<br />
experiência com essa ativida<strong>de</strong> trouxe uma reflexão sobre os diversos<br />
caminhos para se <strong>de</strong>senvolver a prática pedagógica, com a crença <strong>de</strong><br />
que a aprendizagem <strong>de</strong> fato, só acontece quando o aluno consegue agir<br />
com autonomia sobre o seu saber, obtendo segurança para utilizá-lo e<br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r as suas i<strong>de</strong>ias.<br />
INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL<br />
Vinícius Nizoli Becker<br />
Diana Elisa Penha Da Silva<br />
Carmem Lúcia Lascano Pinto<br />
Palavras-chave: Inovação pedagógica; <strong>Educação</strong> profissional;<br />
Formação Inicial e Continuada <strong>de</strong> Professores<br />
O presente estudo é realizado por um Grupo <strong>de</strong> pesquisas, voltado para<br />
a formação Inicial e Continuada <strong>de</strong> professores tendo como objetivo<br />
i<strong>de</strong>ntificar a existência, ou não, <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s rupturantes com o<br />
paradigma tradicional <strong>de</strong> ensino, no âmbito da educação profissional<br />
Técnica <strong>de</strong> Nível Médio. Balizados em Souza Santos (1993)<br />
consi<strong>de</strong>ramos inovação a ocorrência <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s, atitu<strong>de</strong>s e posturas<br />
em que ocorra a reconfiguração <strong>de</strong> saberes, po<strong>de</strong>res e conhecimentos.<br />
Para a metodologia optamos pela abordagem qualitativa <strong>de</strong> pesquisa<br />
(BOGDAN& BIKLEN, 1994; Minayo, 1994). O levantamento <strong>de</strong><br />
dados ocorreu no espaço <strong>de</strong> uma oficina <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> Pós-graduação<br />
Latu Sensu em que os alunos indicaram professores que estão<br />
atualmente exercendo a docência, para apresentarem experiências com<br />
algum diferencial em relação às práticas tradicionais. Seis<br />
apresentações foram registradas e analisadas à luz do referencial teórico<br />
<strong>de</strong> Souza Santos (1993, 2000), Carbonell (2002), Demo (1997) e<br />
Cunha (2006). Para a análise <strong>de</strong> dados utilizou-se a Análise <strong>de</strong><br />
Conteúdo (Bardin, 1977). Alguns indicadores <strong>de</strong> inovação foram<br />
199
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
encontrados nas experiências analisadas que farão parte <strong>de</strong> um banco<br />
<strong>de</strong> dados da instituição, tais como: ruptura com a forma tradicional <strong>de</strong><br />
apren<strong>de</strong>r, protagonismo discente, reorganização da relação<br />
teoria/prática e melhorias dos resultados com os alunos, como<br />
participação e rendimento. Constata-se no <strong>de</strong>poimento dos professores<br />
que eles se <strong>de</strong>dicaram integralmente aos processos <strong>de</strong> inovação, tendo<br />
na maior parte das vezes bastante <strong>de</strong>dicação por parte dos alunos.<br />
"GINCOPEIES": UMA PROPOSTA, UM DESAFIO, UMA<br />
AÇÃO<br />
Viviane Teresinha Biacchi Brust<br />
O presente trabalho tem como objetivo relatar uma proposta pensada,<br />
<strong>de</strong>senvolvida e executada por uma equipe <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> uma escola<br />
pública, a Escola Estadual <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Básica Dom Antônio Reis, <strong>de</strong><br />
Faxinal do Soturno, RS, tendo como apoio a COPERVES, da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria, nos anos em que se aplicaram as<br />
provas do PEIES – Programa Experimental <strong>de</strong> Ingresso ao Ensino<br />
Superior – <strong>de</strong>senvolvido e implantado pela referida instituição. A<br />
EEBDAR organizou uma gincana estudantil, em suas <strong>de</strong>pendências,<br />
envolvendo outras escolas públicas da região, com o objetivo <strong>de</strong><br />
motivar os alunos para o estudo dos conteúdos programáticos previstos<br />
para a referida prova <strong>de</strong> seleção ao ensino superior. Para a prova, em<br />
que cada escola participava com uma equipe <strong>de</strong> <strong>de</strong>z alunos para cada<br />
série, contou-se com a organização da COPERVES. Além disso, houve<br />
também a tarefa <strong>de</strong>nominada “Tarefa-show” em que cada escola trazia<br />
uma apresentação artística que abordasse temas <strong>de</strong> caráter<br />
interdisciplinar. Tal ativida<strong>de</strong> sempre foi realizada aos sábados e<br />
contou com a participação <strong>de</strong> alunos, professores, direções <strong>de</strong> escola,<br />
funcionários e integrantes da COPERVES/UFSM. Depois disso,<br />
algumas das apresentações artísticas vencedoras da "GincoPEIES"<br />
também participaram da Feira das Disciplinas na UFSM. Do ponto <strong>de</strong><br />
vista da escola, esta foi uma das formas encontradas não só para<br />
motivar os alunos ao estudo, como também para interagir a<br />
comunida<strong>de</strong> escolar <strong>de</strong> ensino médio com uma instituição <strong>de</strong> ensino<br />
superior, mostrando que tal ensino po<strong>de</strong> ser acessado por aqueles que a<br />
ele se propõe.<br />
200
Resumo dos Trabalhos<br />
CRÔNICA: DESENVOLVENDO O GOSTO PELA LEITURA<br />
Yanna Karlla H. G. Cunha<br />
Luís Marozo<br />
Palavras-Chave: Ensino; Leitura; Crônica.<br />
Este trabalho busca relacionar a análise <strong>de</strong> um projeto no qual o<br />
objetivo era articular as propostas curriculares no ensino da leitura, em<br />
períodos históricos distintos, tendo por base alguns documentos oficiais<br />
que regem ou regeram a educação no Brasil e a prática <strong>de</strong>senvolvida<br />
para a disciplina “Linguística Aplicada ao Português II” cujo intuito foi<br />
a elaboração <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa nas quais<br />
houvesse interação entre professor/aluno, propiciando o prazer pela<br />
leitura. O público alvo foi os alunos do 6º ano da Escola Municipal<br />
Fernando Corrêa Ribas, localizada no Município <strong>de</strong> Jaguarão. O que<br />
direcionou nosso pensamento foi a perspectiva enunciativa da<br />
linguagem que parte da noção <strong>de</strong> gênero discursivo como unida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
análise, e não mais fragmentos e/ou textos tratados <strong>de</strong> maneira isolada.<br />
O aporte teórico que sustenta os questionamentos <strong>aqui</strong> <strong>de</strong>scritos foram<br />
os estudos empreendidos pelo grupo <strong>de</strong> Genebra no que diz respeito às<br />
Sequências Didáticas, as discussões sobre o gênero crônica e alguns<br />
documentos oficiais que tratam sobre o ensino <strong>de</strong> língua.<br />
201
LINHA TEMÁTICA: DIALOGISMO, GÊNEROS E<br />
ENSINO: PERSPECTIVAS<br />
GÊNEROS E INTERGENERICIDADE: RELATO DE PESQUISA<br />
COM EDITORIAIS NÃO ASSINADOS DE JORNAL<br />
Adail Ubirajara Sobral<br />
Palavras-chave: Intergenericida<strong>de</strong>; Bakhtin; gêneros; editoriais não<br />
assinados <strong>de</strong> jornal.<br />
Apresentamos <strong>aqui</strong> o relato da pesquisa que teve como objeto textos <strong>de</strong><br />
editoriais não assinados <strong>de</strong> jornais nacionais e regionais (Folha <strong>de</strong><br />
S.Paulo, Zero Hora, Diário Popular) investigados tantro em termos<br />
textuais-discursivos como em termos da esfera <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> do gênero,<br />
consi<strong>de</strong>rando a concepção <strong>de</strong> intergenericida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida pelo<br />
responsável pela pesquisa (SOBRAL, 2006), que preconiza que, não<br />
estando a esfera jornalística vinculada com tópicos específicos (ao<br />
contrário, por exemplo, da esfera médica, voltada para tópicos<br />
vinculados com saú<strong>de</strong>, prevenção e tratamento <strong>de</strong> doenças etc.), as<br />
maneiras <strong>de</strong> abordar tópicos econômicos, políticos etc. envolvem a<br />
incorporação <strong>de</strong> modos <strong>de</strong> dizer dos gêneros <strong>de</strong>ssas esferas. Percebeuse<br />
que, para verificar isso, era preciso enfocar a i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong><br />
estratégias <strong>de</strong> incorporação <strong>de</strong> gêneros <strong>de</strong> outras esferas a esses<br />
editoriais da esfera midiática em sua vertente jornalística, <strong>de</strong>finida<br />
como voltada para a informação, seja na forma <strong>de</strong> matérias, <strong>de</strong><br />
reportagens ou <strong>de</strong> opiniões em nome do enunciador jornal (como o são<br />
os editoriais enfocados) ou assinadas por colunistas. Fez-se um<br />
levantamento <strong>de</strong> 400 editoriais, buscando-se verificar se se mantinha a<br />
relação enunciativa prevista (a saber, a posição <strong>de</strong> porta-voz <strong>de</strong> um<br />
<strong>de</strong>ver-ser em nome da chamada opinião pública, sendo essa posição<br />
consi<strong>de</strong>rada o tema dos editoriais, no sentido bakhtiniano, manifesta em<br />
todo e qualquer tópico, ou assunto, abordado.<br />
O GÊNERO TEXTUAL LENDA E O ENSINO DE LEITURA E<br />
ESCRITA<br />
Adiane Fogali Marinello<br />
Vanilda Salton Köche<br />
Palavras-chave: lenda, gênero textual, ensino.<br />
Este trabalho apresenta o gênero textual lenda, sua <strong>de</strong>finição,<br />
características e estrutura. Faz também uma análise ilustrativa e propõe<br />
202
Resumo dos Trabalhos<br />
ativida<strong>de</strong>s voltadas para a leitura, escrita e prática <strong>de</strong> análise linguística.<br />
A lenda é um gênero textual originalmente literário calcado numa<br />
figura ou evento supostamente histórico. Geralmente é breve e po<strong>de</strong> ser<br />
escrita em verso ou prosa. Trata <strong>de</strong> elementos ou temáticas originárias<br />
<strong>de</strong> uma narrativa mítica transmitida através da oralida<strong>de</strong>. A finalida<strong>de</strong><br />
comunicativa do gênero é explicar a origem <strong>de</strong> algo no universo;<br />
normatizar, ensinar e fixar costumes e crenças <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada região.<br />
Esta comunicação faz parte da pesquisa-ensino <strong>de</strong>nominada Leitura,<br />
produção textual e prática <strong>de</strong> análise linguística a partir <strong>de</strong> gêneros<br />
textuais, <strong>de</strong>senvolvida na Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Caxias do Sul/CARVI. É um<br />
estudo que visa investigar os gêneros textuais e buscar estratégias para<br />
o ensino <strong>de</strong> leitura, produção textual e prática <strong>de</strong> análise linguística a<br />
partir dos gêneros, <strong>de</strong> modo a contribuir para a reflexão sobre o ensino<br />
<strong>de</strong> língua no nível médio e superior. A pesquisa adota uma perspectiva<br />
qualitativa-interpretativa e <strong>de</strong> aplicação didático-pedagógica.<br />
Fundamentam esta comunicação os autores Bakthin (1997), Cascudo<br />
(1962; 1967), Jesualdo (1982), Machado (1994), Coelho (2003),<br />
Bronckart (1999), Marquesi (2004) e Willis (2007).<br />
PIADA: UM GÊNERO QUE SUBVERTE A PALAVRA.<br />
Adriana Danielski Batista<br />
Palavras-chave: Palavra; Plurivocalida<strong>de</strong>; Compreensão.<br />
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise sobre piada<br />
<strong>de</strong> modo a compreen<strong>de</strong>r como ocorre a construção <strong>de</strong> sentidos nesse<br />
gênero discursivo. Para tanto, parte-se dos conceitos postulados por<br />
Bakhtin e seu Círculo (Bakhtin/Volochinov, 1929/2004; Bakhtin,<br />
1979/2003, 1975/1998), que enten<strong>de</strong>m a palavra como sendo um<br />
elemento polissêmico e plurivocal da língua. As piadas exigem o<br />
entendimento da plurivocalida<strong>de</strong> das palavras para que a compreensão<br />
se efetive. É a dinamicida<strong>de</strong> da palavra que será estudada e analisada<br />
nas piadas apresentadas, uma vez que é ela a responsável pelo<br />
<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>amento do sentido do texto, através da produção <strong>de</strong> diferentes<br />
sentidos (construídos a partir da duplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sentido e/ou da quebra<br />
<strong>de</strong> expectativa, por exemplo) e do consequente efeito <strong>de</strong> humor.<br />
Registra-se, ainda, que a apreensão da orientação conferida à palavra<br />
está diretamente vinculada a um contexto e a uma situação precisos, o<br />
que implica necessariamente uma i<strong>de</strong>ologia precisa e faz da palavra um<br />
signo i<strong>de</strong>ológico: “A palavra está sempre carregada <strong>de</strong> um conteúdo ou<br />
<strong>de</strong> um sentido i<strong>de</strong>ológico ou vivencial” (Bakhtin/Volochinov,<br />
203
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
1929/2004, p.95). Para tanto, a compreensão <strong>de</strong> uma piada está<br />
submetida ao entendimento <strong>de</strong> fatores linguísticos e extralinguísticos,<br />
como o reconhecimento <strong>de</strong> traços culturais que permeiam e <strong>de</strong>terminam<br />
o sentido da piada. Os sujeitos (locutor e interlocutor) <strong>de</strong>vem estar<br />
socialmente sintonizados para que a compreensão se dê <strong>de</strong> maneira<br />
ativa e responsiva num processo em que “compreen<strong>de</strong>r é opor à palavra<br />
do locutor uma contrapalavra”, conforme coloca Bakhtin/Volochinov<br />
(1929/2004, p.132).<br />
GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE GRAMÁTICA: OS<br />
PREFIXOS DE NEGAÇÃO EM BULAS<br />
Adriana Nascimento Bodolay<br />
Aline Moura Domingues<br />
Fyama Me<strong>de</strong>iros<br />
Este trabalho apresenta uma análise dos prefixos <strong>de</strong> negação<br />
encontrados na bula <strong>de</strong> remédio a fim <strong>de</strong> mostrar a função <strong>de</strong>sses<br />
prefixos neste gênero, com o objetivo <strong>de</strong> relacionar o ensino <strong>de</strong><br />
gramática e gêneros texutais. Segundo Bakhtin (2003), gêneros textuais<br />
são “tipos relativamente estáveis <strong>de</strong> enunciados”, com função e<br />
características estruturais específicas. Enten<strong>de</strong>mos a relevância do<br />
estudo <strong>de</strong>sse gênero em sala <strong>de</strong> aula, sobretudo pelo seu caráter <strong>de</strong><br />
inserção do cotidiano dos cidadãos. Um dos aspectos gramaticais mais<br />
evi<strong>de</strong>ntes nesse gênero é o nível morfológico, principalmente no que<br />
tange a formação <strong>de</strong> palavras <strong>de</strong>rivadas por prefixação. Os prefixos vêm<br />
antes da base, mudando o significado da raiz, mas não mudando a<br />
categoria lexical (MARGOTTI, 2008), assim, ao se unirem a uma base,<br />
mudam totalmente o significado da palavra, fazendo uma contraposição<br />
ao significado da base. Este é o caso dos prefixos in, anti, contra, <strong>de</strong>s,<br />
não- recorrentes nas bulas. Vale ressaltar que, neste trabalho, buscamos<br />
evi<strong>de</strong>nciar a importância dos aspectos gramaticais, mais<br />
especificamente o nível morfológico, que compõem o gênero bula,<br />
assunto para o qual o professor <strong>de</strong> língua portuguesa <strong>de</strong>ve estar atento<br />
<strong>de</strong>ntro da sala <strong>de</strong> aula, mostrando a relevância <strong>de</strong>sses prefixos para a<br />
construção <strong>de</strong> sentidos nesse gênero.<br />
204
Resumo dos Trabalhos<br />
REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NO SISTEMA<br />
DE ENSINO MILITAR A PARTIR DA PERSPECTIVA DO<br />
INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO<br />
Adriana Silveira Bonumá<br />
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto <strong>de</strong> tese que<br />
versa sobre as representações do trabalho do professor no sistema <strong>de</strong><br />
ensino militar no Brasil, a partir do escopo teórico que constitui o<br />
quadro do interacionismo sociodiscursivo, <strong>de</strong> Jean-Paul Bronckart.<br />
Compreen<strong>de</strong>r as representações dos trabalhadores e das ativida<strong>de</strong>s que<br />
realizam vem sendo um <strong>de</strong>safio para os pesquisadores, motivo pelo qual<br />
o foco sobre o trabalho <strong>de</strong>sperta o interesse dos estudos linguísticos que<br />
tratam <strong>de</strong> linguagem e interação. Proce<strong>de</strong>remos a uma análise das<br />
representações do trabalho docente no sistema <strong>de</strong> ensino básico militar,<br />
em um estabelecimento <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong>nominado Colégio Militar.<br />
Acredita-se que o real da ativida<strong>de</strong> docente nesse sistema está<br />
diretamente ligado ao trabalho prescrito, <strong>de</strong>vido às suas especificida<strong>de</strong>s<br />
formais e normativas. Preten<strong>de</strong>-se evi<strong>de</strong>nciar tal hipótese pela análise<br />
da fala <strong>de</strong> professores do Colégio Militar, recolhida pelo método <strong>de</strong><br />
entrevista <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> instrução ao sósia, proposto pela Clínica da<br />
Ativida<strong>de</strong>. A análise adotará os procedimentos <strong>de</strong>lineados por<br />
Bronckart a partir do contexto e condições <strong>de</strong> produção do texto, bem<br />
como dos níveis organizacional, enunciativo e semântico. Assim, nosso<br />
suporte teórico estará embasado principalmente em Bronckart (1999,<br />
2006, 2008) e Machado (2004, 2007, 2009), além das contribuições da<br />
Ergonomia do Trabalho e da Clínica da Ativida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Clot (2006, 2010,<br />
2011) e Amigues (2004).<br />
HÁ VÁRIOS E MUITO POUCOS... (IN)ADEQUAÇÃO DE<br />
EXEMPLARES DE GÊNERO EM LIVROS DIDÁTICOS PARA<br />
UM CURSO DE INGLÊS<br />
Alessandra Baldo<br />
Clei<strong>de</strong> Inês Wittke<br />
Palavras-chave: livros e materiais didáticos; exemplares <strong>de</strong> gênero;<br />
curso <strong>de</strong> inglês para crianças e adolescentes.<br />
O papel do livro didático na aula <strong>de</strong> língua estrangeira (L2) como<br />
auxiliar no processo bem-sucedido <strong>de</strong> ensino-aprendizagem inclui,<br />
entre outras funções, servir <strong>de</strong> fonte <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s para a prática e<br />
interação comunicativa a partir <strong>de</strong> tarefas que estejam relacionadas à<br />
205
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
realida<strong>de</strong> do aluno. Essa função, entretanto, mostrou-se<br />
insatisfatoriamente contemplada nos livros avaliados para um curso <strong>de</strong><br />
extensão <strong>de</strong> inglês gratuito, dirigido a crianças e adolescentes<br />
socioenomicamente <strong>de</strong>sfavorecidos da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas, RS, o qual<br />
vem sendo oferecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o segundo semestre <strong>de</strong> 2010. Enten<strong>de</strong>mos<br />
que isso tem relação direta com os exemplares <strong>de</strong> gênero selecionados<br />
nesses materiais didáticos, e, nesta comunicação, buscaremos uma<br />
explicação para tal fato através das relações entre os conceitos <strong>de</strong><br />
comunida<strong>de</strong>s nacionais, comunida<strong>de</strong>s locais e globalização (HALL,<br />
1992; KUMARAVADIVELU, 2004). Além disso, apresentaremos as<br />
alternativas didáticas encontradas para minimizar o problema e oferecer<br />
um curso menos “estrangeiro” aos alunos. Esperamos que este trabalho<br />
contribua tanto para enfatizar a importância da seleção criteriosa <strong>de</strong><br />
recursos didáticos no ensino <strong>de</strong> L2 como para mostrar que é possível<br />
atenuar as falhas dos livros didáticos atualmente disponíveis para o<br />
ensino <strong>de</strong> L2.com alternativas simples mas, no nosso enten<strong>de</strong>r,<br />
eficientes.<br />
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE<br />
GÊNEROS DE DIVERSAS ESFERAS EM EDITORIAIS NÃO<br />
ASSINADOS DE JORNAL<br />
Aline Lazari De Oliveira<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste projeto foi o levantamento <strong>de</strong> enunciados e/ou termos<br />
típicos <strong>de</strong> diversas esferas em editoriais não assinados <strong>de</strong> jornal, a fim<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar estratégias <strong>de</strong> incorporação <strong>de</strong> relações enunciativas, por<br />
esse gênero do discurso, <strong>de</strong> gêneros <strong>de</strong> várias esferas. As relações<br />
enunciativas, ou relações entre locutores e interlocutores, são para o<br />
Círculo <strong>de</strong> Bakhtin a base dos gêneros em suas esferas <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>. O<br />
projeto segue os princípios do Circulo <strong>de</strong> Bakhtin, e a proposta <strong>de</strong><br />
intergenericida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sobral (2009), que <strong>de</strong>screve “a instância<br />
constitutiva da formação dos gêneros” a partir <strong>de</strong> gêneros existentes.<br />
Segundo Sobral, o tema do editorial não assinado <strong>de</strong> jornal é um <strong>de</strong>verser<br />
social apresentado como consensual, mas o tópico varia, mesmo que<br />
alguns sejam bem mais comuns. O projeto se insere no projeto do<br />
orientador, que aborda diretamente a intergenericida<strong>de</strong>. O levantamento<br />
feito pelo projeto liga-se à i<strong>de</strong>ntificação das formas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
do tema do editorial com tópicos típicos <strong>de</strong> outras esferas, o que cria<br />
relações entre gêneros. A metodologia seguida foi:<br />
206
Resumo dos Trabalhos<br />
1. Levantamento dos princípios da proposta <strong>de</strong> gênero do Círculo <strong>de</strong><br />
Bakthin e da proposta <strong>de</strong> intergenericida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sobral.<br />
2. Levantamento <strong>de</strong> editoriais não assinados <strong>de</strong> jornais regionais e<br />
nacionais para seleção dos que têm diversos tópicos.<br />
3. Seleção <strong>de</strong> editoriais não assinados <strong>de</strong> jornais regionais e nacionais<br />
com diversos tópicos. 4. Levantamento <strong>de</strong> termos, expressões e<br />
enunciados típicos <strong>de</strong> várias esferas. Através <strong>de</strong>sta metodologia foi<br />
possível concluir o levantamento mostra diferentes maneiras como os<br />
editoriais usam essas formas típicas tentando induzir o leitor a aceitar<br />
como suas as opiniões que dá, buscando assim levar o leitor a aceitá-lo<br />
como porta-voz do <strong>de</strong>ver-ser, como veiculo da opinião pública."<br />
REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ATIVIDADE DO<br />
PROFESSOR<br />
Ana Cecilia Teixeira Gonçalves<br />
Francieli Matzenbacher Pinton<br />
O presente trabalho tem como objeto <strong>de</strong> investigação um tipo <strong>de</strong> agir<br />
humano específico – agir comunicativo – focalizado a partir da<br />
perspectiva do trabalho: as representações discursivas <strong>de</strong> professores a<br />
respeito <strong>de</strong> sua formação e ativida<strong>de</strong> docente. Como é possível<br />
observar, a reflexão sobre a ativida<strong>de</strong> docente traz, sem dúvida, muitos<br />
pontos interessantes que contribuem para uma análise crítica do ato <strong>de</strong><br />
ensinar e do papel do professor. Tendo como base algumas pesquisas,<br />
como, por exemplo, Bronckart (2006), Guimarães et al (2007),<br />
Machado (2004), Machado et al (2009), Souza-e-Silva (2004),<br />
preten<strong>de</strong>mos propiciar uma reflexão por parte dos próprios professores<br />
sobre questões que façam parte do <strong>de</strong>senvolvimento profissional<br />
docente, assim como sobre sua ativida<strong>de</strong> em sala <strong>de</strong> aula. Buscamos<br />
ainda observar como a análise dos textos (escritos) produzidos pelos<br />
professores sobre o trabalho educacional po<strong>de</strong> nos auxiliar a<br />
compreen<strong>de</strong>r essa ativida<strong>de</strong>, assim como enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> que forma essas<br />
representações discursivas estão presentes na configuração <strong>de</strong> seu<br />
trabalho, constituindo, assim, a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sses profissionais e<br />
influenciando seu agir. O conjunto <strong>de</strong> procedimentos aplicados até o<br />
momento permitiu traçar um perfil dos docentes envolvidos na pesquisa<br />
e explicitou as representações <strong>de</strong>sses profissionais acerca da ativida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvida.<br />
207
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A NOMINALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS FÓRMULAS<br />
DISCURSIVAS: UM ESTUDO DA EMENTAS<br />
André Lima Cor<strong>de</strong>iro<br />
Este trabalho integra ativida<strong>de</strong>s do projeto <strong>de</strong> pesquisa intitulado<br />
“Práticas <strong>de</strong> linguagem, memória discursiva e formação para o trabalho<br />
<strong>de</strong> professor <strong>de</strong> línguas: reformas, percursos, traços i<strong>de</strong>ntitários”,<br />
coor<strong>de</strong>nado pela professora Vera L. A. Sant’Anna, e objetiva analisar<br />
ementas <strong>de</strong> disciplinas <strong>de</strong> graduação da habilitação em Português-<br />
Espanhol, com o propósito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar interdiscursivida<strong>de</strong>s e seus<br />
efeitos <strong>de</strong> sentido no que se enten<strong>de</strong> como formação para o trabalho <strong>de</strong><br />
professor <strong>de</strong> línguas. Tal análise foi segmentada em áreas <strong>de</strong><br />
convergência em que cada bolsista se responsabilizou por um grupo <strong>de</strong><br />
disciplinas. Esta apresentação consi<strong>de</strong>ra as ementas <strong>de</strong> Língua<br />
Espanhola I, II, III e IV. Como entrada lingüística e metodologia para<br />
este trabalho, optamos por estudar a nominalização (PACHI FILHO,<br />
2008; REZENDE, 207) como elemento composicional caracterizador<br />
<strong>de</strong>sse gênero discursivo (BAKHTIN, 1992). Como efeitos produzidos<br />
por essa nominalização, <strong>de</strong>stacamos (a) o apagamento dos agentes,<br />
principalmente o enunciador, construindo uma voz <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong><br />
institucional para a ementa, conferindo ao enunciado status <strong>de</strong> verda<strong>de</strong><br />
absoluta; e (b) o processo <strong>de</strong> retomada a partir da referenciação <strong>de</strong>ssa<br />
forma nominal, ancorada na memória discursiva (PECHEUX, 1999),<br />
supostamente partilhada pelos sujeitos envolvidos. Para reconstruir e<br />
i<strong>de</strong>ntificar os discursos retomados pela ementa, trazemos o conceito <strong>de</strong><br />
fórmula (KRIEG-PLANQUE, 2011) em que a nominalização seguida<br />
<strong>de</strong> um conteúdo a ser abordado por <strong>de</strong>terminada disciplina formaria<br />
essa estrutura fixa que possui ocorrência em todas as ementas e é<br />
resignificada <strong>de</strong> acordo com a situação enunciativa na qual está<br />
inserida. Ainda relacionados a esse contexto, do que caracteriza a<br />
apresentação <strong>de</strong> uma disciplina, trataremos dos objetivos e bibliografia,<br />
relacionando-os com a ementa à luz do histórico das teorias curriculares<br />
(SILVA, 2005; LOPES, 2011) que influenciaram os estudos da<br />
educação no Brasil. Nossos resultados iniciais apontam para questões<br />
<strong>de</strong> heterogeneida<strong>de</strong> discursiva (AUTHIER-REVUZ, 1998) que <strong>de</strong>vem<br />
auxiliar nossas conclusões sobre os modos <strong>de</strong> articular <strong>aqui</strong>lo que se<br />
apaga na e pela nominalização, no sentido <strong>de</strong> que memórias discursivas<br />
i<strong>de</strong>ntificadas no enunciado <strong>de</strong>vem apontar traços <strong>de</strong> perfil (is)<br />
profissional (ais) <strong>de</strong> professor que se está(ão) construindo.<br />
208
Resumo dos Trabalhos<br />
OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E AS<br />
PRÁTICAS DOCENTES<br />
Cássia Rodrigues Gonçalves<br />
A formação em Letras <strong>de</strong>ixou evi<strong>de</strong>nte que muitos aspectos<br />
relacionados ao ensino <strong>de</strong> Português não são facilmente aplicáveis à<br />
prática escolar: a formação <strong>de</strong> leitores foi um <strong>de</strong>stes aspectos. Surgiu,<br />
assim, o questionamento: “Qual a relação dos professores com os<br />
documentos oficiais (PCNs), especificamente no que se refere à<br />
formação <strong>de</strong> leitores?”, visto que estes documentos foram elaborados<br />
com o intuito <strong>de</strong> guiar as práticas <strong>de</strong> ensino. Assim, este trabalho<br />
propõe-se a estudar o diálogo estabelecido entre professores - atuantes<br />
em escolas públicas do Ensino Fundamental em Bagé/RS - com os<br />
PCNs em suas práticas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> Português, no que se refere ao<br />
trabalho com a formação <strong>de</strong> leitores. Esta pesquisa está pautada nos<br />
estudos bakhtinianos, principalmente, no que se refere à dialogia e aos<br />
gêneros do discurso. Analisamos os conceitos <strong>de</strong> língua propostos pelos<br />
PCNs e os relacionamos com os conceitos <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> leitores.<br />
Após, investigamos, por meio <strong>de</strong> questionários aplicados com os<br />
professores e analisados através do paradigma indiciário, <strong>de</strong> Ginzburg,<br />
quais aproximações e distanciamentos existem entre as teorias e as<br />
práticas. Uma das constatações foi a <strong>de</strong> que, embora os professores<br />
afirmem apreciar trabalhar com textos nas aulas, a tradição gramatical<br />
possui ainda muita relevância nas suas práticas, <strong>de</strong>monstrando que,<br />
assim como nas relações entre trabalho e prazer, a educação também<br />
parece ser improdutiva aos nossos olhos quando vista como uma<br />
ativida<strong>de</strong> prazerosa.<br />
AS TEORIAS LINGUÍSTICAS SUBJACENTE ÀS PROVAS DO<br />
PAVE<br />
Clei<strong>de</strong> Martinez Da Silva<br />
Marina Cabreira Rocha De Moraes<br />
Karina Giacomelli (Orientadora)<br />
Palavras chaves: Linguística textual, provas PAVE, ensino.<br />
Este trabalho tem como objetivo i<strong>de</strong>ntificar as teorias linguísticas<br />
utilizadas na elaboração das questões <strong>de</strong> português nas três etapas do<br />
Programa <strong>de</strong> Avaliação da vida escolar (PAVE) – subprograma 2009-<br />
2011, elaboradas pela Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas. Essas provas<br />
foram analisadas por fazerem parte <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> avaliação aplicado<br />
209
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ao término <strong>de</strong> cada ano escolar do Ensino Médio, tendo como base os<br />
conteúdos programáticos escolares.<br />
Foi observada uma maior predominância <strong>de</strong> questões elaboradas com<br />
base na teoria relacionada à Linguística textual, ficando as <strong>de</strong>mais<br />
questões divididas entre as teorias tradicionais, estruturais e<br />
interacionais.<br />
Desta maneira, conclui-se que a Linguística textual está mais evi<strong>de</strong>nte<br />
por dar ênfase ao estudo da língua voltada para o texto, sendo<br />
instrumento <strong>de</strong> reflexão e <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> sentidos. E esse é um dos<br />
objetivos do ensino <strong>de</strong> português, conforme <strong>de</strong>scrito nos Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais, tanto <strong>de</strong> Ensino Fundamental quanto Médio.<br />
Entretanto, o contexto escolar continua marcado pela elaboração <strong>de</strong><br />
exercícios tradicionais, relativos ao trabalho com a gramática. Isso<br />
<strong>de</strong>smotiva o aluno, pois ele, na maioria das vezes, precisa <strong>de</strong>corar<br />
regras simplesmente para passar na prova.<br />
E, como o <strong>de</strong>sempenho dos alunos se dá a partir dos conteúdos<br />
trabalhados em sala <strong>de</strong> aula, este trabalho aponta que é preciso (re)<br />
pensar o trabalho <strong>de</strong> língua nas escolas, possibilitando que o educando<br />
atribua significado ao que está apren<strong>de</strong>ndo.<br />
REPRESENTAÇÕES DO “SER PROFESSOR” POR<br />
PROFESSORES DE LP EM FORMAÇÃO: APROXIMAÇÕES<br />
INICIAIS<br />
Cristiano Egger Veçossi<br />
Neste trabalho, preten<strong>de</strong>mos apresentar o projeto <strong>de</strong> tese<br />
Representações do “ser professor” por professores em formação nas<br />
modalida<strong>de</strong>s presencial e a distância. O projeto tem como principal<br />
objetivo investigar as representações em torno do “ser professor” a<br />
partir <strong>de</strong> textos produzidos por graduandos do Curso <strong>de</strong> Letras –<br />
Licenciatura – Português e Literaturas <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
(presencial); Licenciatura em Letras – Português e Literaturas <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa (a distância) – antes e <strong>de</strong>pois da realização do<br />
Estágio Curricular Supervisionado.<br />
A pesquisa proposta se fundamenta, em termos teórico-metodológicos,<br />
no Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006;<br />
BRONCKART e MACHADO, 2004; MACHADO e BRONCKART,<br />
2009). Para a coleta <strong>de</strong> dados, está prevista a realização <strong>de</strong> oficinas <strong>de</strong><br />
produção textual em torno do gênero Memorial <strong>de</strong> Formação (Cf.<br />
SARTORI, 2008) Nesta comunicação, concentramo-nos na<br />
210
Resumo dos Trabalhos<br />
apresentação das questões centrais do projeto, especialmente na<br />
metodologia prevista para coleta e análise <strong>de</strong> dados.<br />
A CARACTERIZAÇÃO DA REVISÃO TEXTUAL DOCENTE<br />
DO GÊNERO BIOGRAFIA<br />
Débora Sodré Esper<br />
Palavras chaves: Revisão textual; gêneros; biografia.<br />
Este trabalho, vinculado ao Grupo <strong>de</strong> Pesquisa “Interação e escrita”<br />
(UEM/CNPq), e apoiado na teoria interacionista, tem o objetivo <strong>de</strong><br />
verificar como se caracteriza a revisão textual do professor do gênero<br />
biografia, levando em consi<strong>de</strong>ração os seus elementos caracterizadores,<br />
assim como seu contexto <strong>de</strong> produção. Para tanto, foram analisados<br />
<strong>de</strong>zenove textos <strong>de</strong> uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental I, dos<br />
quais se observou as produções dos alunos e as intervenções do revisor<br />
realizadas nesse material. Os resultados <strong>de</strong>monstram que, embora a<br />
revisão docente apresente apontamentos ligados aos elementos da<br />
biografia, a maior parte <strong>de</strong>les está relacionada apenas com questões<br />
metalinguísticas. Além disso, em muitos casos, essa revisão se mostra<br />
resolutiva, não oferecendo ao aluno a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> refletir sobre os<br />
problemas presentes em seu texto.<br />
É A TEIA QUE PRODUZ A VIDA OU A VIDA QUE PRODUZ A<br />
TEIA?<br />
Emiliana Faria Rosa<br />
Bianca Ribeiro Pontin<br />
Palavras-chave: Língua; linguagem; sur<strong>de</strong>z; educação; i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>;<br />
alterida<strong>de</strong>.<br />
O presente artigo preten<strong>de</strong> mostrar o sujeito, seja ele surdo ou ouvinte,<br />
necessita <strong>de</strong> um língua, vinda e selecionada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma linguagem,<br />
para se transformar em um sujeito social dotado <strong>de</strong> valores e conceitos<br />
na socieda<strong>de</strong> em que é membro. Apesar das línguas terem o mesmo<br />
caráter formador, enunciativo e polifônico, a diversida<strong>de</strong> é observada.<br />
A língua, a linguagem, é imprescindível ao sujeito. Este trabalho <strong>de</strong>seja<br />
introduzir o leitor na língua <strong>de</strong> sinais enquanto meio <strong>de</strong> comunicação e<br />
língua capaz <strong>de</strong> ativar um discurso dialógico entre seus usuários. O ser<br />
humano é dual e dialógico por natureza; a ele nada se compara. Po<strong>de</strong>mse<br />
tentar comparações com outros espécimes viventes na teia, mas não<br />
211
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
há igual. Tal qual a máxima <strong>de</strong> que todos somos iguais, mas também,<br />
ao mesmo tempo, diferentes. Cada ser humano tem sua característica <strong>de</strong><br />
individualida<strong>de</strong> e multiplicida<strong>de</strong> estampada em seu cotidiano e nas<br />
escolhas que faz. Isso nos leva a pensar: será que, apesar <strong>de</strong> vivermos<br />
na mesma teia - lingüística e social - teríamos teias paralelas à teia<br />
principal? Sim, elaboramos teias secundares <strong>de</strong> acordo com nossas<br />
experiências diárias das informações que recebemos e <strong>de</strong> nossas<br />
necessida<strong>de</strong>s. Se a linguagem é imprescindível para o surgimento da<br />
língua e esta é essencial ao ser humano, como o surdo se comunica? O<br />
surdo utiliza a LIBRAS, a Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais. Percebe-se, com<br />
isso, a existência <strong>de</strong> contextos, teias e abordagens lingüísticas<br />
diferentes, relacionáveis ou não. E o que nos faz tão próximos e tão<br />
distantes? A linguagem nos une e nos separa. Afirmativa estranha?<br />
Nem tanto, afinal o que faz da socieda<strong>de</strong> ser o que é a unida<strong>de</strong><br />
lingüística que apresenta. Tentando <strong>de</strong>sembaraçar a teia em que nos<br />
situamos, percebemos que sem linguagem o homem não é nada e tornase<br />
muito parecido com os outros seres viventes por causa da<br />
característica que o diferencia: a capacida<strong>de</strong> da linguagem.<br />
SOBRE OS “NÃOS” DO EX-PRESIDENTE LULA: UM ESTUDO<br />
SOBRE A CONTRAÇÃO DIALÓGICA<br />
Mariana Loural Coradini<br />
Erick Ka<strong>de</strong>r Callegaro Correa<br />
Palavras-chave: avaliativida<strong>de</strong>, contração dialógica, Lula<br />
Ao inserirmos alguns discursos do ex-presi<strong>de</strong>nte Luiz Inácio Lula da<br />
Silva na ferramenta computacional WordSmith 6.0, o programa acusa<br />
em gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s a presença do item lexical "não" e da<br />
conjunção "mas". Segundo a Teoria da Avaliativida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Martin e<br />
White (2005), tais itens se encaixam em categorias avaliativas que<br />
contraem dialogicamente o discurso do escritor/falante. Este,<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo <strong>de</strong> seu objetivo, ao avaliar o que está em jogo na interação,<br />
contrai o escopo <strong>de</strong> alternativas dialógicas com o seu leitor/ouvinte,<br />
criando ou não laços <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong> e comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crenças<br />
compartilhadas. A teoria supracitada tem por objetivo sistematizar<br />
como os significados interpessoais são construídos quando um<br />
escritor/falante toma para si uma posição i<strong>de</strong>ológica e a usa em sua<br />
interação com seu leitor/ouvinte, ou seja, como são formadas<br />
comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crenças e sentimentos e como estas se constroem <strong>de</strong><br />
forma a fazer com que seus leitores/ouvintes compartilhem suas<br />
212
Resumo dos Trabalhos<br />
emoções, seus julgamentos e gostos. Com o presente trabalho,<br />
analisamos como se configura a contração dialógica que o ex-presi<strong>de</strong>nte<br />
tanto se apropria ao discursar. Como metodologia, inicialmente,<br />
analisaremos as ocorrências <strong>de</strong> negação (não) e contraposição (mas) nos<br />
quinze primeiros discursos que Lula fez no primeiro bimestre <strong>de</strong> seu<br />
primeiro mandato no ano <strong>de</strong> 2003. Logo após, buscamos avaliar os<br />
efeitos do recurso a tantos elementos lexicogramaticais que contraem<br />
qualquer alternativa dialógica com seus leitores/ouvintes. O trabalho<br />
está em fase inicial <strong>de</strong> execução e ainda não apresenta resultados<br />
conclusivos.<br />
O AVESSO DA HISTÓRIA EM HISTÓRIA MEIO AO<br />
CONTRÁRIO<br />
Eveline Rosa Peres<br />
Palavras-Chave: Literatura Infantil; Carnavalização; Dialogismo.<br />
Neste trabalho buscamos verificar na obra História meio ao Contrário<br />
(1977), da escritora Ana Maria Machado, elementos da paródia<br />
carnavalesca, a partir da teoria <strong>de</strong>senvolvida pelo linguista russo<br />
Mikhail Bakhtin. Essa escolha teórica <strong>de</strong>veu-se à percepção <strong>de</strong> que os<br />
elementos <strong>de</strong> comicida<strong>de</strong> presentes na obra, além da subversão da<br />
tradicional estrutura narrativa dos contos <strong>de</strong> fadas, estabeleciam vínculo<br />
com o momento histórico no qual esta foi produzida. Assim, a narrativa<br />
configura-se como paródia <strong>de</strong>sse gênero discursivo, utilizando-se, para<br />
isso, <strong>de</strong> inversões na estrutura narrativa e nas atitu<strong>de</strong>s costumeiramente<br />
adotadas pelas personagens convencionais do gênero. Na análise,<br />
verificou-se que a mudança <strong>de</strong> personagens focais também funciona<br />
como estratégia carnavalesca para questionar as estruturas do po<strong>de</strong>r.<br />
Por fim, foi possível perceber que o emprego <strong>de</strong> certos mecanismos<br />
dialógicos e intertextuais reforçam a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que o espaço e os eventos<br />
da narrativa evocam explicitamente o contexto histórico do Brasil da<br />
época em que a obra foi produzida.<br />
O PAPEL DO DIÁRIO REFLEXIVO NO PIBID/LETRAS<br />
Fabiana Giovani<br />
Isaphi Marlene Jardim Alvarez<br />
Palavras-chave: formação <strong>de</strong> professor, diário reflexivo, PIBID<br />
A presente comunicação tem por objetivo apresentar uma reflexão a<br />
partir do uso do diário reflexivo no Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência<br />
213
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
(PIBID) na área <strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa<br />
(UNIPAMPA). Este diário é elaborado por todos os sujeitos envolvidos<br />
no processo, a saber: coor<strong>de</strong>nadores do subprojeto (professores da<br />
graduação), bolsistas <strong>de</strong> iniciação a docência (alunos do curso <strong>de</strong><br />
Letras) e supervisores (professores da educação básica). Neste contexto,<br />
o diário consolida-se em um espaço em que os envolvidos anotam,<br />
periodicamente, aspectos consi<strong>de</strong>rados relevantes da ação docente e até<br />
mesmo das reflexões possibilitadas. A prática <strong>de</strong> escrita em diários<br />
pauta-se nos estudos <strong>de</strong> Zabalza (1994) ao <strong>de</strong>stacar que ao escrever<br />
sobre a própria prática, o professor é levado a apren<strong>de</strong>r por meio da<br />
narração e, ao narrar a experiência, não apenas a reconstrói<br />
linguisticamente, mas também no nível do discurso prático e da<br />
ativida<strong>de</strong> profissional. Fundamenta-se também nos estudos <strong>de</strong> Larrosa<br />
(1998) ao expor que é na experiência que as pessoas se encontram a si<br />
mesmas e, às vezes, se surpreen<strong>de</strong>m pelo que encontram e não se<br />
reconhecem. Através <strong>de</strong> uma análise qualitativa a partir das leituras dos<br />
diários, pu<strong>de</strong>mos notar que este recurso tem propiciado a socialização<br />
das práticas vivenciadas, o diálogo sobre o que foi percebido e permite<br />
traçar um plano <strong>de</strong> ações <strong>de</strong> melhoria, no sentido <strong>de</strong> superação, com<br />
idas, vindas e trocas entre os pares, oportunizando o refazer como uma<br />
prática avaliativa.<br />
PONTO DE PARTIDA: O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR<br />
DE LÍNGUA MATERNA?<br />
Fabiana Veloso De Melo Dametto<br />
A educação brasileira tem sido tema <strong>de</strong> inúmeros <strong>de</strong>bates sociais.<br />
Percebe-se uma “preocupação” geral em torno da problemática da<br />
qualida<strong>de</strong> do ensino. Nesse contexto, chamou-me a atenção uma<br />
reportagem <strong>de</strong> capa da Revista Nova Escola (out./2009), que traz como<br />
ponto central a indisciplina na escola. Partindo da análise <strong>de</strong>sse texto,<br />
este trabalho apresenta a investigação acerca do papel da Revista Nova<br />
Escola na re<strong>de</strong> discursiva que se <strong>de</strong>senvolve em torno do agir docente.<br />
Espero, com isso, trazer à tona a discussão acerca do papel <strong>de</strong>sta e <strong>de</strong><br />
outras publicações na (<strong>de</strong>s)construção da representação do trabalho<br />
docente. De modo geral, os procedimentos utilizados na pesquisa<br />
provêm, fundamentalmente, do Interacionismo Sociodiscursivo,<br />
pautado nos escritos <strong>de</strong> Jean-Paul Bronckart, e na Teoria das<br />
Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici. A análise do<br />
perfil <strong>de</strong> atuação da Revista e da referida reportagem aponta para uma<br />
214
Resumo dos Trabalhos<br />
representação do agir docente atual como equivocado, e a Nova Escola<br />
como aquela que vem ao auxílio do professor, a que traz facilida<strong>de</strong>s.<br />
Tal característica lembra a relação já vivida entre professores e livros<br />
didáticos. Além disso, há também uma negação do trabalho docente<br />
atual, o que aproxima o seu discurso ao dos documentos oficiais. Essa<br />
prática discursiva, que vem se alastrando e repercutindo socialmente,<br />
visto que a mídia, pais e alunos passaram a criticar o trabalho docente,<br />
abre espaço para outras tantas reflexões, tais como: em tempos <strong>de</strong> Pósmo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>,<br />
o que esperam dos professores, em especial os <strong>de</strong> língua<br />
materna, afinal?<br />
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE<br />
GÊNEROS DA ESFERA ECONÔMICA EM EDITORIAIS NÃO<br />
ASSINADOS DE JORNAL: RELATO DE PESQUISA<br />
Fernanda Cabreira Da Silva<br />
Palavras- chave: locutor, interlocutor, <strong>de</strong>ver-ser.<br />
O conceito <strong>de</strong> “intergenericida<strong>de</strong>” (Sobral, 2006) enfoca as relações<br />
enunciativas entre locutor e interlocutor. A presença <strong>de</strong> enunciados<br />
típicos <strong>de</strong> um gênero em textos ligados a outros é uma das formas <strong>de</strong><br />
manifestação da intergenericida<strong>de</strong>. A análise <strong>de</strong> editoriais não assinados<br />
<strong>de</strong> jornais nacionais e regionais permitiu i<strong>de</strong>ntificar como gêneros <strong>de</strong><br />
uma esfera são incorporados a gêneros <strong>de</strong> outras esferas. Ao<br />
concluirmos nosso projeto <strong>de</strong> análise das formas <strong>de</strong> presença <strong>de</strong><br />
enunciados típicos da esfera econômica (com bolsa BIC/UCPEL),<br />
observamos que os editoriais se referem a assuntos em pauta na<br />
socieda<strong>de</strong>, ligados a um dado momento social, e alguns <strong>de</strong>stacam o<br />
tópico a ser abordado no texto. Em todos, o primeiro trecho faz uma<br />
prévia do tópico a ser tratado, havendo no último há uma retomada nos<br />
pontos principais discutidos no editorial. Chama-nos a atenção o fato<br />
<strong>de</strong> alguns editoriais fazerem uma <strong>de</strong>scrição minuciosa <strong>de</strong> termos<br />
específicos da área econômica enquanto em outros isso não ocorre.<br />
Verificamos que isso ocorre <strong>de</strong>vido ao fato <strong>de</strong> os editoriais, a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r<br />
do assunto, se dirigem a públicos distintos; ou seja, assuntos mais gerais<br />
<strong>de</strong> interesse nacional são mais bem esclarecidos e os que tratam <strong>de</strong><br />
assuntos técnicos não são. Assim, os dados levantados e analisados<br />
provam a hipótese <strong>de</strong> que o tema do editorial não assinado <strong>de</strong> jornal é<br />
“um <strong>de</strong>ver-ser social apresentado como consensual”, sendo seu tópico<br />
variável e <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da relação enunciativa estabelecida.<br />
215
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
FORMAS DE PRESENÇA DE ENUNCIADOS TÍPICOS DE<br />
GÊNERO DE ESFERA POLÍTICA EM EDITORIAIS NÃO<br />
ASSINADOS DE JORNAL: LEVANTAMENTO FINAL<br />
Fernanda Pereira Da Silva<br />
Prof. Dr. Adail Ubirajara Sobral (orientador)<br />
Palavras- chave: gêneros, levantamento <strong>de</strong> termos e expresões, tema.<br />
A pesquisa realizada segue os princípios do Circulo <strong>de</strong> Bakhtin, e a<br />
proposta <strong>de</strong> intergenericida<strong>de</strong> (Sobral, 2009), que <strong>de</strong>screve “a instância<br />
constitutiva da formação dos gêneros” a partir <strong>de</strong> gêneros existentes e<br />
afirma que o tema do editorial não assinado <strong>de</strong> jornal é um <strong>de</strong>ver-ser<br />
social apresentado como consensual, mas o tópico varia, mesmo que<br />
alguns sejam bem mais comuns. O levantamento <strong>de</strong> enunciados típicos<br />
da esfera política no gênero estudado liga-se à i<strong>de</strong>ntificação das formas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento do tema do editorial com tópicos típicos <strong>de</strong>ssa<br />
outra esfera, criando assim relações entre gêneros. A partir das análises,<br />
apresenta-se um levantamento final <strong>de</strong> como o gênero se forma a partir<br />
<strong>de</strong> outros gêneros, <strong>de</strong>stacando as formas como são apresentados aos<br />
leitores termos, expressões e enunciados típicos da esfera política, a<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r do público a que se dirigem, das relações enunciativas que<br />
procuram criar. Verificou-se se os termos da esfera política estão em<br />
<strong>de</strong>staque, se são explicados ao leitor, apenas mencionados no texto,<br />
<strong>de</strong>scritos nele ou se se pressupõe que sejam parte do saber<br />
compartilhado etc., po<strong>de</strong>ndo-se compará-los para mostrar que o tema do<br />
gênero editorial não assinado <strong>de</strong> jornal é <strong>de</strong> fato “um <strong>de</strong>ver-ser social<br />
apresentado como consensual”, seja qual for o tópico. Há diferenças na<br />
presença <strong>de</strong>sses termos e expressões nos editoriais a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r do<br />
público a que se dirigem, o que está ligado à importância e ao interesse,<br />
que po<strong>de</strong> ser maior ou menor, para os leitores.<br />
O GÊNERO DISCURSIVO RELATÓRIO DE ATIVIDADE<br />
EXTERNA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:<br />
REFLEXÕES E ANÁLISES<br />
Fernanda Pizarro De Magalhães<br />
Palavras-chave: gênero discursivo; <strong>Educação</strong> Profissional; Círculo<br />
bakhtiniano.<br />
Consi<strong>de</strong>rando a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> redimensionar a prática pedagógica que<br />
vem sendo <strong>de</strong>senvolvida no ensino <strong>de</strong> língua materna da <strong>Educação</strong><br />
Profissional, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma<br />
216
Resumo dos Trabalhos<br />
análise, sob enfoque enunciativo-discursivo, do gênero Relatório <strong>de</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> Externa, gênero <strong>de</strong> efetiva circulação na esfera empresarial,<br />
área <strong>de</strong> atuação do aluno egresso do ensino profissionalizante. Em<br />
termos teóricos, o estudo tem respaldo nos postulados do Círculo<br />
bakhtiniano, em sua concepção <strong>de</strong> linguagem, como criação coletiva<br />
integrante <strong>de</strong> um diálogo cumulativo entre o “eu” e o “outro”; <strong>de</strong><br />
língua, como lugar <strong>de</strong> interação cujos sentidos são produzidos por<br />
interlocutores em um dado contexto social, histórico, i<strong>de</strong>ológico; <strong>de</strong><br />
gênero, como enunciados recorrentes que orientam o agir em conjunto.<br />
Em termos metodológicos, o estudo se apoia em três categorias <strong>de</strong><br />
análise: situacional, composicional e axiológica, as quais representam<br />
percursos capazes <strong>de</strong> <strong>de</strong>screver e interpretar o gênero em estudo. O<br />
corpus é formado por 12 exemplares <strong>de</strong> Relatório <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
Externa, das áreas <strong>de</strong> Química, Eletrônica e Edificações e por<br />
entrevistas realizadas com produtores do gênero em empresas das<br />
referidas áreas. De modo geral, o trabalho vem reiterar a postura <strong>de</strong><br />
que a escola só adotará uma perspectiva enunciativo-discursiva<br />
quando compreen<strong>de</strong>r que o gênero precisa ser visto sob a ótica da esfera<br />
da ativida<strong>de</strong>, espaço <strong>de</strong> refração da realida<strong>de</strong>, e a presente pesquisa<br />
representa a concretização <strong>de</strong> uma proposta nessa direção.<br />
AS NOVAS FACES DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NA<br />
INTERNET<br />
Fernando Vargas Vieira<br />
Palavras-chave: Blogs, gêneros do discurso, texto.<br />
A presente comunicação tem por intuito relatar ações referentes ao<br />
projeto <strong>de</strong> pesquisa “Bakhtin e a educação: a ética, a estética e a<br />
cognição constituídas através do estudo dos gêneros do discurso e das<br />
práticas <strong>de</strong> letramento”, da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa, Campus<br />
Bagé/RS. Tomamos as concepções teóricas <strong>de</strong> Mikhail Bakhtin sobre<br />
gêneros discursivos para mostrar que pelo fato <strong>de</strong> estes terem uma<br />
estabilida<strong>de</strong> relativa, acabam sendo transformados e (re)arranjados em<br />
novos gêneros discursivos. Também mostraremos como são analisados<br />
e produzidos esses gêneros na internet por seus autores/leitores.<br />
Atualmente, os blogs (sites on<strong>de</strong> o usuário, após criar uma conta<br />
pública, principalmente, escreve textos <strong>de</strong> sua autoria na internet) são<br />
uma das principais fontes <strong>de</strong> produção textual. Por ser uma ferramenta<br />
gratuita e <strong>de</strong> fácil utilização, se tornaram bastante populares e, nos dias<br />
atuais, representa um dos meios mais utilizados para a publicação <strong>de</strong><br />
217
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
textos dos mais variados gêneros. Além disso, os blogs proporcionaram<br />
uma modificação nos gêneros discursivos tradicionais, fazendo com que<br />
surgissem novas formas <strong>de</strong> se comunicar com o mundo.<br />
A IMPORTÂNCIA DA VOZ NAS INTERAÇÕES EM SALA DE<br />
AULA<br />
Flávia Fialho Cronemberger<br />
Palavras-chave: entonação;acento <strong>de</strong> valor; recursos vocais.<br />
O objetivo <strong>de</strong>sta comunicação é apresentar o processo interacional entre<br />
uma professora e seu alunado, dando uma atenção especial tanto ao que<br />
está sendo dito, como também as diferentes formas <strong>de</strong>ssa maneira <strong>de</strong><br />
dizer observando, com mais <strong>de</strong>talhamento, os recursos vocais (emissão<br />
vocal sonora “ variações <strong>de</strong> entoação, intensida<strong>de</strong>, altura, ressonância,<br />
qualida<strong>de</strong> vocal, entre outros parâmetros vocais) que, engendrados no<br />
diálogo entre docente e discentes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um <strong>de</strong>terminado contexto,<br />
dão vida e sentido aos enunciados proferidos pelos mesmos. A<br />
ancoragem teórica teve como ponto basilar as contribuições da chamada<br />
Teoria/Análise Dialógica do Discurso, <strong>de</strong> Mikhail Bakhtin. A aula <strong>de</strong><br />
uma professora <strong>de</strong> oitava série <strong>de</strong> uma escola pública <strong>de</strong> Salvador foi<br />
gravada e analisada em um período <strong>de</strong> 1 hora/aula. Como o espaço<br />
<strong>de</strong>ste trabalho não permite apresentar as análises <strong>de</strong> todas as<br />
ocorrências interacionais i<strong>de</strong>ntificadas nesta aula, para exemplificar,<br />
trago somente um recorte da mesma. Os resultados ilustram as funções<br />
que os recursos vocais assumem como elementos significativos da<br />
produção dialógica do discurso, contribuindo para passar diferentes<br />
juízos <strong>de</strong> valor e i<strong>de</strong>ologias, ao fomentar a construção <strong>de</strong> diferentes<br />
enunciados entre professor e alunos e provocar a constituição <strong>de</strong><br />
diversos sentidos e efeitos na interação.<br />
O GÊNERO HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO ENSINO DE<br />
LEITURA E ESCRITA NAS AULAS DE ELE.<br />
Fyama da Silva Me<strong>de</strong>iros<br />
Palavras-chave: leitura, escrita, ELE<br />
O gênero história em quadrinhos é composto por tiras, charges e/ou<br />
cartuns – rico em humor, ironia, intertextualida<strong>de</strong>, etc., no processo <strong>de</strong><br />
leitura, possibilita ao aluno fazer inferências para compreen<strong>de</strong>r o<br />
sentido do texto (KOCK, 2008). No processo <strong>de</strong> escrita, o aluno, após<br />
conhecer as características <strong>de</strong>ste gênero, po<strong>de</strong>rá produzir sua história<br />
218
Resumo dos Trabalhos<br />
em quadrinhos a partir <strong>de</strong> um tema <strong>de</strong> interesse, o que propicia o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> escrita. Diante disso, esse trabalho, vinculado ao<br />
projeto <strong>de</strong> pesquisa Leitura e escrita <strong>de</strong> gêneros discursivos nas aulas <strong>de</strong><br />
Língua Espanhola, <strong>de</strong>senvolvido na Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa –<br />
Unipampa/Jaguarão tem como objetivo central a produção <strong>de</strong> materiais<br />
didáticos a partir <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> compreensão leitora e expressão<br />
escrita utilizando como gênero discursivo algumas tiras, charges e<br />
cartuns publicados semanalmente no jornal El País e também<br />
publicados na obra Toda Mafalda <strong>de</strong> Quino (no período <strong>de</strong> 1964 a<br />
1973). Para tanto, nos pautaremos nos estudos <strong>de</strong> Bakhtin sobre os<br />
gêneros discursivos, nos trabalhos <strong>de</strong> Llopis García (2007, 2008 e<br />
2011) sobre o ensino <strong>de</strong> ELE, e nos estudos <strong>de</strong> Koch (2007, 2008, 2009<br />
e 2011) sobre o texto, entre outros. Em suma, esse trabalho se propõe a<br />
apresentar alguns resultados preliminares das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas<br />
com o gênero história em quadrinhos <strong>de</strong>ntro do projeto que está em fase<br />
<strong>de</strong> execução.<br />
GÊNERO DISCURSIVO REPORTAGEM: UMA PROPOSTA DE<br />
INTERVENÇÃO DIDÁTICA<br />
Geanine Rambo<br />
Thaís Paz Callegaro<br />
Palavras-chave: Ensino; gênero discursivo; reportagem; bilhete<br />
orientador.<br />
A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental <strong>de</strong><br />
socialização, <strong>de</strong> inserção prática nas ativida<strong>de</strong>s comunicativas<br />
humanas” (BRONCKART; 1999). Em razão disso, o presente trabalho<br />
tem por objetivo refletir criticamente sobre o ensino <strong>de</strong> produção<br />
textual com foco no gênero reportagem. Este trabalho é resultado das<br />
oficinas propostas pelo grupo do Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsas <strong>de</strong><br />
Iniciação à Docência (PIBID) que têm o intuito <strong>de</strong> promover a interrelação<br />
entre a teoria e a prática pedagógica no componente curricular<br />
<strong>de</strong> Língua Portuguesa com ênfase ao ensino <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
textos. Esta oficina específica foi ministrada na 8ª série do ensino<br />
fundamental <strong>de</strong> uma escola pública no município <strong>de</strong> Cerro Largo. As<br />
ativida<strong>de</strong>s contemplaram: a) leitura e interpretação da lei que dispõe<br />
sobre o uso <strong>de</strong> celular na escola e <strong>de</strong> reportagens sobre as implicações<br />
<strong>de</strong>sta lei no ambiente escolar; b) estudo do gênero entrevista; c)<br />
entrevista com a comunida<strong>de</strong> escolar sobre o tema; d) transcrição das<br />
entrevistas e produção do gênero entrevista; e) estudo do gênero<br />
219
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
reportagem: características estruturais e sociocomunicativas; f)<br />
produção da reportagem; g) revisão e reescrita do gênero. Os textos<br />
produzidos pelos alunos foram analisados e orientados por meio do<br />
bilhete orientador que é entendido como uma correção textual-interativa<br />
(RUIZ, 2010). Os resultados parciais apontam para a necessida<strong>de</strong> da<br />
reescrita do texto, pois os alunos apresentaram dificulda<strong>de</strong>s na<br />
organização do gênero em relação à estrutura, além <strong>de</strong> inúmeras<br />
dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gramática. Baseado no apontamento dos problemas<br />
pelas professoras os alunos reescreveram sua reportagem, <strong>de</strong>sta forma o<br />
processo <strong>de</strong> produção textual apresenta-se como uma interação mais<br />
afetiva, e proporciona ao aluno a i<strong>de</strong>ntificação dos erros com o intuito<br />
<strong>de</strong> corrigi-los, transformando-os em uma aprendizagem.<br />
GÊNEROS DISCURSIVOS E AUTENTICIDADE TEXTUAL NO<br />
ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ANÁLISE DE<br />
LIVROS DIDÁTICOS<br />
Gislaine Machado Jerônimo<br />
Letícia da Silva Barboza<br />
Kelli da Rosa Ribeiro<br />
Palavras-chave: Ensino <strong>de</strong> Língua Estrangeira, Gênero Discursivo,<br />
Autenticida<strong>de</strong> Textual.<br />
Escolher um material didático a<strong>de</strong>quado às reais necessida<strong>de</strong>s dos<br />
educandos é um dos temas mais importantes e, ao mesmo tempo, um<br />
dos maiores <strong>de</strong>safios para os professores <strong>de</strong> Língua Estrangeira (LE),<br />
neste caso, Língua Inglesa (LI). No que tange ao ensino da habilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> leitura, <strong>de</strong>stacamos dois aspectos: a autenticida<strong>de</strong> dos textos e a<br />
diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> gêneros discursivos. Para tanto, elegemos quatro<br />
coleções <strong>de</strong> livros didáticos (utilizados nos diferentes segmentos:<br />
universida<strong>de</strong>s e cursos <strong>de</strong> idioma, escolas públicas), editados a partir do<br />
ano <strong>de</strong> 2004; duas <strong>de</strong>las compreen<strong>de</strong>m coleções <strong>de</strong> livros produzidos no<br />
Brasil, isto é nacionais; enquanto que outras duas contemplam um<br />
material elaborado em países que têm o Inglês como língua materna -<br />
internacionais. A ênfase da análise se dá nas unida<strong>de</strong>s dos livros que<br />
apresentam os seguintes tempos verbais: presente, passado e futuro. A<br />
abordagem utilizada <strong>aqui</strong> é a dialógica bakhtiniana, a qual consiste em<br />
observar os enunciados na materialida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um gênero discursivo. Com<br />
esse trabalho, preten<strong>de</strong>mos promover uma discussão sobre os tópicos<br />
abordados, bem como fornecer subsídios para o ensino/aprendizagem<br />
<strong>de</strong> LE.<br />
220
Resumo dos Trabalhos<br />
A CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DO<br />
GÊNERO NOTICIA<br />
Ilma Souza <strong>de</strong> Ávila<br />
Carla Alves Lima<br />
Palavras-chave: Ensino <strong>de</strong> ELE, gêneros discursivos, notícia.<br />
Nosso trabalho está ligado ao projeto Leitura e escrita <strong>de</strong> gêneros<br />
discursivos nas aulas <strong>de</strong> Língua Espanhola, <strong>de</strong>senvolvido na<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa – Unipampa/Jaguarão e se propõe a<br />
elaborar materiais didáticos que contemplem dois processos <strong>de</strong><br />
interação: leitura e escrita nas aulas <strong>de</strong> Língua Espanhola. Os<br />
documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais<br />
(PCNs) nos orientam a trabalhar nessa perspectiva e a elaboração <strong>de</strong><br />
materiais em ELE que contemplam leitura e escrita contribuirá em<br />
nossas práticas docentes. Segundo Barros e Costa (2008) <strong>de</strong>ve-se<br />
buscar explorar o tema, por meio dos gêneros, com ativida<strong>de</strong>s que<br />
estimulem os alunos a refletir sobre sua atuação no mundo e na<br />
socieda<strong>de</strong> e a valorizar seus conhecimentos prévios e experiências e, ao<br />
mesmo tempo, motivem a apren<strong>de</strong>r mais. Para escolher os textos, o<br />
professor <strong>de</strong>ve consi<strong>de</strong>rar tanto o tema da unida<strong>de</strong> quanto a<br />
rentabilida<strong>de</strong> do gênero discursivo (COSTA,2008), já que o propósito é<br />
a reflexão crítica e o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> competências e habilida<strong>de</strong>s<br />
para o domínio do espanhol. Refletindo sobre tais conceitos, temos<br />
como objetivo a elaboração <strong>de</strong> materiais didáticos partindo do gênero<br />
noticia, por enten<strong>de</strong>rmos que é um material <strong>de</strong> circulação cotidiana <strong>de</strong><br />
fácil acesso seja <strong>de</strong> forma impressa ou digital.<br />
PLANEJANDO O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A<br />
EXPERIÊNCIA PIBID/LETRAS/UFRGS/CAPES<br />
Ingrid Nancy Sturm<br />
O trabalho <strong>de</strong>senvolvido na esfera do Programa PIBID tem permitido a<br />
inserção precoce do licenciando em Letras, no universo escolar. A<br />
atuação em conjunto (professoras <strong>de</strong> escolas públicas, alunos-bolsistas e<br />
professoras <strong>de</strong> prática <strong>de</strong> ensino) propicia o incremento do intercâmbio<br />
entre os saberes e as práticas da Escola e da Universida<strong>de</strong>, pelo<br />
engajamento do licenciando nas ativida<strong>de</strong>s escolares. Com isso,<br />
visamos criar condições aos alunos-bolsistas, e também aos professores<br />
das escolas públicas atendidas, para <strong>de</strong>senvolver um ensino mais<br />
produtivo, a partir da ênfase nas práticas <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção<br />
221
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
textual articuladas a reflexão linguística. A presença do licenciando na<br />
escola, num tempo além daquele reservado aos estágios obrigatórios,<br />
leva-o a construir sentidos cotidianamente, a perceber, com mais<br />
consciência, a função primeira da linguagem: a interação. Fazem parte<br />
<strong>de</strong> nossas atribuições no programa o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong><br />
docência (ativida<strong>de</strong>s em leitura e produção textual), a produção <strong>de</strong><br />
material didático e a formulação <strong>de</strong> instrumentos e critérios <strong>de</strong><br />
avaliação. Para todas essas ativida<strong>de</strong>s impõem-se, necessariamente, um<br />
planejamento eficiente que possa dar conta <strong>de</strong> integrar as ações e os<br />
parceiros envolvidos, a fim <strong>de</strong> substituir as práticas rotineiras e<br />
imediatistas, tão comuns nas salas <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
Embora crucial o que nossa prática tem constatado, em relação ao<br />
planejamento no ensino <strong>de</strong> língua portuguesa, é: sua inexistência, ou o<br />
que é pior, sua existência apenas no papel; a <strong>de</strong>scrença em sua<br />
eficiência; o <strong>de</strong>spreparo/<strong>de</strong>sconhecimento para fazê-lo.<br />
LEITURA EM PERSPECTIVA ENUNCIATIVA<br />
Jane Da Costa Naujorks<br />
O que significa ensinar a ler? É possível ensinar alguém a ler? A<br />
resposta a essas questões <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da perspectiva pelas quais tomamos o<br />
conceito <strong>de</strong> leitura. Se tomarmos a leitura do ponto <strong>de</strong> vista<br />
mecanicista, da mera <strong>de</strong>codificação, provavelmente, po<strong>de</strong>mos falar em<br />
ensino <strong>de</strong> leitura. No entanto, se enten<strong>de</strong>mos a leitura como um trabalho<br />
<strong>de</strong> linguagem em que o texto é, sempre, para o leitor uma experiência<br />
nova não po<strong>de</strong>mos nos <strong>de</strong>ter em um aprendizado <strong>de</strong> leitura. Como<br />
conduzir, então, a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura no processo <strong>de</strong> ensinoaprendizagem?<br />
Nosso ponto <strong>de</strong> vista é o <strong>de</strong> tratar a leitura como<br />
constituição <strong>de</strong> sentidos, em que há a apropriação do texto pelo leitor. O<br />
que está em jogo, nessa perspectiva, é o sujeito-leitor, seu espaço e seu<br />
tempo. Enten<strong>de</strong>mos que o leitor constrói sua própria interpretação, pois<br />
ler significa, também, ser autor, ou melhor, coautor do texto. Assim,<br />
acreditamos em práticas <strong>de</strong> leituras como ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interlocução<br />
entre o sujeito-leitor e o texto. É essa relação que preten<strong>de</strong>mos apontar<br />
como ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura na escola.<br />
222
Resumo dos Trabalhos<br />
PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A PRÁTICA TEATRAL:<br />
PERSPECTIVA DIALÓGICA NA DIMENSÃO VERBO-VISUAL<br />
Jean Carlos Gonçalves<br />
Palavras-chave: Verbo-visual, Prática Teatral, Círculo <strong>de</strong> Bakhtin.<br />
Esse estudo <strong>de</strong> pós-doutoramento, <strong>de</strong>senvolvido no Programa <strong>de</strong><br />
Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da<br />
Linguagem da Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica <strong>de</strong> São Paulo, investiga<br />
a produção <strong>de</strong> sentidos sobre a prática teatral universitária na<br />
perspectiva da dimensão verbo-visual. A materialida<strong>de</strong> linguística é<br />
composta por protocolos <strong>de</strong> aula produzidos pelos discentes, no âmbito<br />
da disciplina Jogo Teatral e Improvisação I, ministrada no primeiro<br />
semestre <strong>de</strong> 2012, na Graduação em Produção Cênica, da Universida<strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral do Paraná. A análise está sendo realizada a partir das<br />
contribuições do Círculo <strong>de</strong> Bakhtin, as quais sugerem que a<br />
compreensão <strong>de</strong> enunciado <strong>de</strong>ve ser transportada para além da<br />
textualida<strong>de</strong> escrita, abrangendo outros campos da comunicação. A<br />
dimensão verbo-visual abarca texto e imagem em um enunciado<br />
concreto, no qual verbo e visualida<strong>de</strong> são indissolúveis, e é sob esta<br />
ótica que os protocolos <strong>de</strong> aula foram <strong>de</strong>senvolvidos pelos sujeitos da<br />
pesquisa. Os dados vêm apontando para uma prática teatral repleta <strong>de</strong><br />
sentidos, entre os quais se escolhe para discussão neste artigo, aqueles<br />
que possibilitam diálogos sobre a íntima e conflituosa relação entre<br />
conhecimento e prazer no ensino <strong>de</strong> teatro.<br />
A VOZ DO CAMPESINO NA OBRA DE JUAN RULFO<br />
Jéssica Vaz De Mattos<br />
O objetivo <strong>de</strong>sta comunicação é discutir a importância da obra Pedro<br />
Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Esta obra, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
revelância para a literatura latino-americana, foi escrita no ano <strong>de</strong> 1955.<br />
Tomamos esta novela – a primeira escrita pelo autor – como referência<br />
para a nossa análise. O nosso principal apoio teórico advém dos estudos<br />
sobre linguagem/literatura do pensador russo Bakhtin, especialmente<br />
conceitos como dialogismo, polifonia e cultura, <strong>de</strong>ntre outros. Além<br />
disso, utilizamos as discussões específicas sobre literatura e história da<br />
América Latina propostas pelo crítico uruguaio Ángel Rama. Este autor<br />
trata, também, da oposição entre oralida<strong>de</strong> e escrita na literatura, sendo<br />
que a oralida<strong>de</strong> estaria relacionada à culturas iletradas, marginalizadas,<br />
<strong>de</strong> “terceiro mundo”. Tais características, <strong>de</strong> muitos povos<br />
223
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
latinoamericanos, po<strong>de</strong>mos observá-las no meio campesino, por<br />
exemplo. Como primeiras conclusões, po<strong>de</strong>mos observar que a obra <strong>de</strong><br />
Rulfo mostra essa oralida<strong>de</strong>, além <strong>de</strong> retratar a realida<strong>de</strong> mexicana e dar<br />
voz aos campesinos.<br />
LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA:<br />
CONFIGURAÇÃO GRÁFICA E ALTERAÇÕES AO LONGO DO<br />
TEMPO<br />
Joceli Cargnelutti<br />
Palavras-chave: configuração gráfica, Língua Portuguesa, livros<br />
didáticos Diante do interesse em ampliar conhecimentos sobre a<br />
constituição da história do ensino da disciplina curricular Língua<br />
Portuguesa como língua materna, procuro, nas pesquisas <strong>de</strong> doutorado,<br />
voltar-me ao passado <strong>de</strong>sse ensino pela via <strong>de</strong> acesso do livro didático<br />
<strong>de</strong> Português, olhando especificamente para a configuração gráfica<br />
<strong>de</strong>sse material a partir dos anos 1960. Estabeleço um diálogo com<br />
diferentes textos acadêmicos publicados em diferentes períodos (1990,<br />
2000), voltados a temática da configuração gráfica <strong>de</strong>sse livro, advindos<br />
da área dos estudos linguísticos. Focalizo, neste momento, textos que<br />
referenciam as mudanças ocorridas na configuração dos livros didáticos<br />
a partir da década <strong>de</strong> 1960, pois a partir <strong>de</strong>sse período é possível<br />
verificar diferentes alterações em suas características, como o uso <strong>de</strong><br />
formatos maiores, impressão em cores, emprego <strong>de</strong> novas formas<br />
tipográficas com a introdução da fotocomposição, substituição da capa<br />
dura pelo acabamento brochura, conforme Moraes (2008). Além disso,<br />
procuro investigar em que medida as alterações que foram ocorrendo no<br />
aspecto gráfico (cores, capa, imagens, formato, <strong>de</strong>ntre outros) se<br />
relacionam ou não com as mudanças previstas para o ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa. Com o intuito <strong>de</strong> trazer elementos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m metodológica<br />
que possam auxiliar na leitura dos diferentes textos acadêmicos, apoiome<br />
em Bakhtin (1974/2000, p. 402), pois ler textos é estar no campo da<br />
compreensão, sendo esta dialogicamente ativa. A leitura dos diferentes<br />
trabalhos permite consi<strong>de</strong>rar que a alteração gráfica foi extremamente<br />
relevante como tática <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnização e comercialização dos livros<br />
didáticos, propiciando, sem dúvida, avanço tecnológico na produção <strong>de</strong><br />
livros.<br />
224
Resumo dos Trabalhos<br />
O TRABALHO COM O GÊNERO NO LIVRO DIDÁTICO: UM<br />
EXEMPLO DA DIFICULDADE DO TRATAMENTO<br />
DISCURSIVO DA LINGUAGEM<br />
Karina Giacomelli<br />
Os livros didáticos <strong>de</strong> português, atualmente, têm organizado suas<br />
unida<strong>de</strong>s em torno <strong>de</strong> um gênero textual/discursivo. Isso aconteceu por<br />
dois motivos principais: a crescente divulgação das teorias <strong>de</strong> gêneros<br />
em diversas publicações, a partir dos estudos <strong>de</strong> autores como Bakhtin,<br />
Bronckart, Schneuwly e Dolz, Swales, Bazerman, Adam e outros; e a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mercado, uma vez que, após os Parâmetros Curriculares<br />
Nacionais explicitarem a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o ensino <strong>de</strong> português se dar<br />
por meio <strong>de</strong> gêneros, os autores dos manuais precisaram a<strong>de</strong>quar-se às<br />
indicações <strong>de</strong>sse documento para receber a recomendação do MEC e<br />
habilitarem-se à escolha pelas escolas. No entanto, o trabalho didático<br />
apresentado nos livros ainda se fundamenta nos aspectos estruturais do<br />
gênero escolhido, e o estudo da linguagem foca-se mais na forma. Com<br />
isso, pouco se trata, no processo <strong>de</strong> ensino/aprendizagem, da função<br />
social ou do seu contexto sócio-histórico <strong>de</strong> produção e <strong>de</strong> circulação <strong>de</strong><br />
cada gênero. É nesse sentido que este trabalho, ao procurar apresentar<br />
um exemplo do estudo do gênero no livro didático, busca <strong>de</strong>monstrar<br />
como outras dimensões do texto e do discurso <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> ser discutidas,<br />
ignorando-se a dimensão interativa da linguagem, aspecto também<br />
bastante enfatizado tanto nos PCNs quanto nas teorias <strong>de</strong> referência.<br />
Palavras-chave: gênero, ensino, livro didático<br />
TRABALHO DOCENTE: SUA REPRESENTAÇÃO PARA<br />
ALUNOS DE LICENCIATURA EM LETRAS<br />
Karoline Rodrigues De Melo<br />
Vanessa Bianchi Gatto<br />
O presente trabalho é uma das ações do projeto “Representações do<br />
Agir Docente”, vinculado à Linha <strong>de</strong> Pesquisa Linguagem e Interação<br />
do Programa <strong>de</strong> Pós Graduação em Letras/UFSM. O objetivo <strong>de</strong>ste<br />
trabalho é analisar as representações que futuros professores têm acerca<br />
do trabalho docente. O presente estudo tem sua sustentação teórica nos<br />
processos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo<br />
(ISD), <strong>de</strong> Bronckart e Bronckart e Machado. A escolha por essa teoria<br />
se <strong>de</strong>ve à importância que ela dá ao estudo da prática da linguagem em<br />
situações <strong>de</strong> trabalho. Assim, a proposta do ISD é compreen<strong>de</strong>r as<br />
225
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
relações entre linguagem e trabalho (docente). A fim <strong>de</strong> analisar essas<br />
relações, estão sendo realizadas entrevistas com os alunos do Curso <strong>de</strong><br />
Letras Licenciatura da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria. Alguns<br />
momentos da graduação foram <strong>de</strong>terminados para a realização das<br />
entrevistas: primeiro semestre, terceiro semestre (período anterior às<br />
disciplinas didáticas e ao estágio), quinto semestre (período posterior às<br />
disciplinas didáticas, mas anterior ao estágio) e oitavo semestre<br />
(período posterior aos estágios). A partir da análise dos dados, buscarse-á<br />
perceber a (<strong>de</strong>s)construção das representações pertinentes ao agir<br />
docente apresentadas por esses sujeitos no <strong>de</strong>correr do curso <strong>de</strong><br />
licenciatura. Visto que o projeto está em seu segundo ano, duas coletas<br />
já foram realizadas permitindo principiar o estudo acerca do tópico: “O<br />
que é ser professor?” <strong>de</strong> modo a observar como está a (<strong>de</strong>s)construção<br />
da representação acerca do trabalho docente. Ao consi<strong>de</strong>rar que a<br />
análise está em andamento, ainda não é possível a apresentação <strong>de</strong><br />
resultados e conclusões.<br />
Palavras-chave: Trabalho docente, representação, futuros professores.<br />
REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE: QUAL A<br />
CONSTRUÇÃO PRESENTE NO DISCURSO DO FUTURO<br />
PROFESSOR?<br />
Louise Cervo Spencer<br />
O presente estudo é uma das ações do projeto “Representações do Agir<br />
Docente”, vinculado à Linha <strong>de</strong> Pesquisa Linguagem e Interação do<br />
PPGL/UFSM. O objetivo geral é analisar as representações do agir<br />
docente que estão presentes nos diferentes textos pertinentes à ativida<strong>de</strong><br />
educacional; no caso <strong>de</strong>ste trabalho, nos textos que configuram o<br />
discurso dos alunos <strong>de</strong> Letras. A concepção <strong>de</strong> linguagem que sustenta<br />
este estudo e orienta os procedimentos metodológicos é baseada na<br />
perspectiva interacionista. Em consonância com essa concepção <strong>de</strong><br />
linguagem, este estudo tem sua sustentação teórica nos processos<br />
teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), <strong>de</strong><br />
Bronckart e Bronckart e Machado. A escolha por essa teoria se <strong>de</strong>ve à<br />
importância que ela dá ao estudo do papel da prática da linguagem (agir<br />
discursivo) em situações <strong>de</strong> trabalho, no caso, trabalho docente. Assim,<br />
a proposta do ISD é analisar (compreen<strong>de</strong>r) as relações entre linguagem<br />
e trabalho (docente). Para pensar essas relações, este trabalho trouxe<br />
como primeira ação a realização <strong>de</strong> entrevistas com alunos ingressantes<br />
no ano <strong>de</strong> 2011 no primeiro semestre do Curso <strong>de</strong> Letras (Hab.<br />
226
Resumo dos Trabalhos<br />
Português e Literaturas) <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> pública do RS. Foram<br />
realizadas, até então, duas entrevistas: no primeiro semestre do Curso<br />
<strong>de</strong> graduação e no terceiro semestre. Essas entrevistas continuarão<br />
sendo realizadas, como forma <strong>de</strong> acompanhamento, em outros<br />
momentos pontuais da graduação: quinto semestre e oitavo semestre. O<br />
objetivo <strong>de</strong>sta pesquisa é perceber a (<strong>de</strong>s) construção das representações<br />
pertinentes ao agir docente apresentadas por esses sujeitos em seus<br />
discursos, por meio <strong>de</strong> questionamentos como, neste trabalho<br />
especificamente, os processos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão e reflexão sobre a prática. "<br />
LEITURA DE GÊNEROS ACADÊMICOS: O PROCESSO DE<br />
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DE ALUNOS DE LETRAS<br />
Lucia Rottava<br />
O processo <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> sentidos em leitura tem sido pouco<br />
investigado em contexto acadêmico <strong>de</strong> língua materna e com menor<br />
freqüência a relação <strong>de</strong>sse processo com a produção textual. A leitura<br />
<strong>de</strong> gêneros acadêmicos tem sido um <strong>de</strong>safio para alunos ingressantes<br />
em cursos superiores em função da temática abordada – temas que<br />
focalizam teorias <strong>de</strong> ensino e <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> línguas, da falta <strong>de</strong><br />
familiarida<strong>de</strong> com os movimentos retóricos que caracterizam os<br />
gêneros textual. Os movimentos retóricos constituem padrões <strong>de</strong><br />
organização textual comumente encontrados em um gênero e facilitam<br />
a leitura por permitir ao leitor construir previsões do modo como as<br />
informações aparecem no gênero em foco. As informações po<strong>de</strong>m ser<br />
estabelecidas por relações e correlações, associações, <strong>de</strong>finições,<br />
comparações, oposições, classificações e análises que são adotadas pelo<br />
autor para construir sentidos. Para tanto, o objetivo é analisar o<br />
processo <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> sentidos em leitura, buscando i<strong>de</strong>ntificar<br />
como e em quais movimentos retóricos os leitores se apóiam durante a<br />
leitura. Os dados sob análise resultam <strong>de</strong> uma tarefa <strong>de</strong> protocolo verbal<br />
interativo em leitura realizada por sujeitos graduandos em letras que<br />
frequentam o segundo semestre do curso. Os resultados indicam como<br />
se processa a construção <strong>de</strong> sentidos <strong>de</strong> leitores em contexto acadêmico,<br />
lendo textos que contém características <strong>de</strong>sse gênero."<br />
227
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PARA O ALUNO DE LETRAS, SER PROFESSOR É...<br />
Marcia Cristina Corrêa<br />
O projeto Representações do agir docente, vinculado à Linha <strong>de</strong><br />
Pesquisa Linguagem e Interação do Programa <strong>de</strong> Pós Graduação em<br />
Letras/UFSM, tem como objetivo a análise das representações do agir<br />
docente presentes nos diferentes textos pertinentes à ativida<strong>de</strong><br />
educacional (discurso dos professores e alunos; documentos oficiais,<br />
material didático, textos que circulam na mídia). A fundamentação<br />
teórico-metodológica <strong>de</strong>ste projeto é baseada nos pressupostos do<br />
Interacionismo sociodiscursivo (ISD), <strong>de</strong> Bronckart(1999, 2006,2008) e<br />
Bronckart e Machado(2008). Essa escolha <strong>de</strong>ve-se ao fato da<br />
importância dada por essa abordagem ao estudo do papel da prática <strong>de</strong><br />
linguagem (agir discursivo) em situações <strong>de</strong> trabalho, no caso, trabalho<br />
docente. Como uma das ações do projeto, propomos acompanhar uma<br />
turma ingressante (2011) em um Curso <strong>de</strong> Licenciatura em Letras –<br />
Português <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> pública do RS. Dessa forma,<br />
acompanharemos esses alunos, durante os quatro anos do Curso, com<br />
entrevistas pontuais (no primeiro e no terceiro semestre - antes das<br />
disciplinas didáticas - e no oitavo semestre – antes e <strong>de</strong>pois do estágio).<br />
No presente trabalho, discutiremos as representações iniciais <strong>de</strong>sses<br />
alunos sobre o que é ser professor <strong>de</strong> língua portuguesa. Com isso,<br />
preten<strong>de</strong>mos contribuir com a (imprescindível) reflexão sobre a<br />
formação do professor <strong>de</strong> língua portuguesa e, consequentemente, sobre<br />
o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
Palavras-chave: trabalho docente – interacionismo - representações<br />
O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR<br />
DOS GÊNEROS DO DISCURSO<br />
Maria Eduarda Motta Dos Santos<br />
Thaís Paz Barbosa<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência (PIBID) na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). Trata-se<br />
da elaboração <strong>de</strong> oficinas <strong>de</strong> língua portuguesa que serão aplicadas em<br />
primeiros anos do ensino médio <strong>de</strong> uma escola estadual da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Bagé/RS. Teoricamente, o trabalho está pautado nos pilares teóricos <strong>de</strong><br />
Bakhtin (2003) no que se refere à dialogia e aos gêneros do discurso;<br />
nos trabalhos <strong>de</strong> Dolz e Schneuwly (2004) que tratam <strong>de</strong> sequências<br />
228
Resumo dos Trabalhos<br />
didáticas e nos PCNs (1997) que propõem o trabalho a partir do texto.<br />
O trabalho prático - que está sendo elaborado - partiu da escolha <strong>de</strong><br />
alguns gêneros do discurso (orais e escritos) e visará o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da linguagem a partir <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita por meio <strong>de</strong><br />
sequências didáticas. A modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
proposta neste trabalho busca pensar e trabalhar a língua como prática<br />
social, articulando as leituras propostas com produções reflexivas, nas<br />
quais o aluno seja autor do seu dizer e não apenas um reprodutor <strong>de</strong><br />
textos prontos. Esperamos que o trabalho a partir da perspectiva dos<br />
gêneros discursivos seja uma forma <strong>de</strong> fazer com que todos os alunos<br />
participem e se posicionem, <strong>de</strong> forma ativa, para refletirem sobre os<br />
mais variados temas e seus contextos, sejam como leitores ou autores."<br />
COMO ARTICULAR ATIVIDADES DE LEITURA, ESCRITA E<br />
ANÁLISE LINGUÍSTICA?<br />
Michele Freitas Gomes<br />
Este texto apresenta os resultados parciais <strong>de</strong> uma pesquisa qualitativa<br />
em Linguística Aplicada que teve por objetivo principal elaborar e<br />
implementar uma proposta para o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
realizada com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental <strong>de</strong> um escola<br />
privada na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé, RS. O <strong>de</strong>senvolvimento do projeto didático<br />
(SUASSUANA,2008) organizou-se por meio da ferramenta<br />
metodológica <strong>de</strong>nominada sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ &<br />
SCHNEUWLY, 2010) em que se utilizou a entrevista como objeto <strong>de</strong><br />
ensino, ressaltando os aspectos linguístico-discursivos <strong>de</strong>sse gênero a<br />
fim <strong>de</strong> proporcionar à turma a leitura crítica <strong>de</strong> textos diversificados e<br />
levá-los à produção textual. Para a fundamentação teórica, utilizamos a<br />
perspectiva discursiva da linguagem <strong>de</strong>senvolvida por Bakhtin (2002),<br />
<strong>de</strong>ntre outros. O trabalho, conduzido pela metodologia da pesquisaação,<br />
realizou-se durante o 1º trimestre <strong>de</strong> 2011. Os resultados apontam<br />
que a prática <strong>de</strong> leitura, produção escrita e análise linguística, quando<br />
articuladas em torno <strong>de</strong> um gênero discursivo, constituem-se em uma<br />
opção metodológica que favorece o <strong>de</strong>senvolvimento da competência<br />
discursiva. Esse trabalho torna-se relevante aos professores e<br />
pesquisadores da área, uma vez que não se restringe ao discurso sobre a<br />
inovação no ensino <strong>de</strong> língua materna, já legitimado pelos documentos<br />
oficiais, mas traz alternativas possíveis <strong>de</strong> mudança. Não se esgotam<br />
<strong>aqui</strong> as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pensar um ensino mais significativo <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa no ensino fundamental, porém retoma-se uma discussão que<br />
229
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
faz parte da rotina dos professores <strong>de</strong> todo o país e são apresentadas<br />
possibilida<strong>de</strong>s reais <strong>de</strong> intervenção que se configuram como pequenos<br />
“gestos <strong>de</strong> mudança” (DORNELLES, 2010)."<br />
O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E O TRABALHO<br />
DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PROJETO LIÇÔES DO RIO<br />
GRANDE<br />
Michele Men<strong>de</strong>s Rocha<br />
O trabalho em nossa socieda<strong>de</strong> é colocado como ativida<strong>de</strong> central da<br />
existência humana. Logo, é no trabalho que o agir se mostra <strong>de</strong> forma<br />
mais intensa, segundo Bronckart (2008). Desse modo, para<br />
compreen<strong>de</strong>r o trabalho do professor, é preciso que compreendamos<br />
suas ações representadas nos textos produzidos tanto nas situações <strong>de</strong><br />
trabalho, bem como em textos sobre tal trabalho. Neste contexto, o<br />
objetivo <strong>de</strong>sta pesquisa foi investigar qual é o papel atribuído ao<br />
professor no material da proposta do Referencial Curricular Estadual do<br />
Projeto Lições do Rio Gran<strong>de</strong>. Muito embora esse material não se<br />
apresente como um “livro didático"€ é possível verificar nele um<br />
caráter prescritivo. No intuito <strong>de</strong> fazer a análise proposta, utilizei os<br />
pressupostos teórico-metodológicos do quadro do Interacionismo<br />
Sociodiscursivo (ISD), que atribui à linguagem e ao agir um papel<br />
central no <strong>de</strong>senvolvimento humano. E para i<strong>de</strong>ntificar as categorias<br />
interpretativas do agir no Lições do Rio Gran<strong>de</strong>, lancei mão dos<br />
procedimentos metodológicos <strong>de</strong> análise do ISD, que segue a seguinte<br />
orientação: levantamento do contexto <strong>de</strong> produção e o exame dos três<br />
níveis <strong>de</strong> análise Organizacional, Enunciativo e Semântico. Esta<br />
pesquisa permitiu-me verificar que o papel atribuído ao professor é o <strong>de</strong><br />
“agente”, não tendo intenções, motivos e capacida<strong>de</strong>s próprias, <strong>de</strong><br />
maneira que o material do Projeto Lições do Rio Gran<strong>de</strong> é o “ator”, ou<br />
seja, responsável pelo trabalho docente. Palavras-Chave: trabalho<br />
docente; Lições do Rio Gran<strong>de</strong>, Interacionismo<br />
Sociodiscursivo<br />
FORMANDO LEITORES PROFICIENTES<br />
Millaine De Souza Carvalho<br />
Santiago Bretanha Freitas<br />
O presente trabalho, que faz parte do Projeto <strong>de</strong> PIBID Letras – Língua<br />
Materna da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa, Campus Jaguarão,<br />
230
Resumo dos Trabalhos<br />
coor<strong>de</strong>nado pela Profa. Dra. Adriana Bodolay, financiado pela CAPES,<br />
tem por objetivo apresentar uma análise preliminar sobre a influência<br />
das marcas linguísticas em inglês, nos textos do gênero propaganda<br />
televisiva. Esse gênero discursivo tem por objetivo prepon<strong>de</strong>rante a<br />
venda <strong>de</strong> produtos através da indução ao consumo. Partindo do<br />
princípio <strong>de</strong> que a leitura é um processo cognitivo que exige não<br />
somente a <strong>de</strong>codificação <strong>de</strong> palavras, mas também informações nãovisuais<br />
(Liberato e Fulgêncio, 2007), é necessário consi<strong>de</strong>rar que o<br />
conhecimento linguístico interfere na produção <strong>de</strong> sentidos. Assim, o<br />
uso <strong>de</strong> termos em inglês nas propagandas, po<strong>de</strong> significar uma forma <strong>de</strong><br />
convencer o telespectador sobre a superiorida<strong>de</strong> do produto. Nosso<br />
pressuposto é que o leitor menos proficiente ten<strong>de</strong> a ser influenciado<br />
por essas marcas linguísticas. A metodologia <strong>de</strong>ste trabalho consiste em<br />
analisar “X” propagandas televisivas sobre o produto “Y”, para<br />
verificarmos o uso <strong>de</strong>sses termos, bem como seu significado no texto.<br />
Posteriormente, será aplicado um teste a 20 alunos <strong>de</strong> uma escola<br />
pública da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Jaguarão, em que esses terão que escolher entre<br />
dois produtos do mesmo segmento. Uma das propagandas apresentará<br />
marcas em língua inglesa e o outro não. Nossa hipótese é <strong>de</strong> que os<br />
alunos ten<strong>de</strong>rão a escolher os produtos que apresentam informações na<br />
língua estrangeira. Um dos aspectos relevantes para a aplicação <strong>de</strong>ste<br />
trabalho é a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se enfocar no ensino da leitura os aspectos<br />
da metaconsciência textual (Roncarati, 2010), pois a proficiência da<br />
leitura encontra-se interligada ao conhecimento linguístico do aluno."<br />
UM OLHAR PARA A CULTURA DO OUTRO: A FRONTEIRA<br />
RETRATADA PELA LITERATURA<br />
Moacir Lopes De Camargos<br />
Jociele Corrêa<br />
O objetivo <strong>de</strong>sta comunicação é discutir sobre as singularida<strong>de</strong>s da<br />
fronteira Brasil/Uruguai a partir da obra Contos do país dos gaúchos, do<br />
escritor uruguaio Julián Murguía. Após a leitura dos contos Uma visita<br />
e Os contrabandistas, tomamos como referencial teórico básico os<br />
estudos do pensador russo Bakhtin, <strong>de</strong>ntre outros autores, para discutir<br />
sobre língua, cultura, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e sujeitos na região fronteiriça, mais<br />
especificamente nas cida<strong>de</strong>s gêmeas Aceguá – Brasil/Uruguai. Nesse<br />
contexto, o comércio informal <strong>de</strong> mercadorias entre os dois países<br />
(contrabando) é bastante praticado, mas aos olhos da lei, isso seria uma<br />
prática consi<strong>de</strong>rada ilegal. No entanto, para os sujeitos fronteiriços essa<br />
231
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
prática é aceitável como qualquer outra forma <strong>de</strong> trabalho. Nos contos<br />
analisados, o narrador-protagonista, por não ser <strong>de</strong>ssa região <strong>de</strong><br />
fronteira, lança um olhar sobre a cultura do outro (o fronteiriço) <strong>de</strong><br />
modo a recriminá-lo por suas práticas sociais <strong>de</strong> sobrevivência.<br />
Segundo Bakhtin (2000), uma cultura só se revela em sua completu<strong>de</strong> a<br />
partir do olhar alheio. Através da análise dos contos, percebemos que a<br />
representação <strong>de</strong> valores culturais/i<strong>de</strong>ntitários dos sujeitos fronteiriços<br />
se revela a partir <strong>de</strong> um olhar exotópico, ou seja, um olhar externo.<br />
Porém, esses dois olhares não são exclu<strong>de</strong>ntes, mas se complementam.<br />
Logo, há um constante diálogo entre as duas culturas em contato e<br />
ambas se enriquecem."<br />
RELAÇÕES DIALÓGICAS E DISCURSO CITADO: TECENDO<br />
UMA HISTÓRIA COM BAKHTIN E JOÃO CABRAL DE MELO<br />
NETO<br />
Nilzete Cruz Silva<br />
Este artigo tem como objetivo discutir a importância da abordagem<br />
discursiva ao se examinar a linguagem. Para isto, utilizam-se os<br />
conceitos <strong>de</strong> relações dialógicas e discurso citado construídos por<br />
Bakhtin e seu Círculo, buscando analisar <strong>de</strong> que forma estes se fazem<br />
presentes nos discursos e como, através <strong>de</strong>les os enunciados se<br />
reiteram, com o passar do tempo, renovando-se a cada contexto em que<br />
são lembrados, repetidos ou citados. Tendo como pano <strong>de</strong> fundo a luta<br />
dos estudantes <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> contra o Regime Militar, sob o qual<br />
o Brasil ainda vivia, no ano <strong>de</strong> 1976, analisa-se a relação entre o poema<br />
“Tecendo a manhã”, <strong>de</strong> João Cabral <strong>de</strong> Melo Neto – que foi usado<br />
como tema da referida luta – e imagens, atores sociais e ações<br />
relevantes <strong>de</strong>sse evento. Assim, evi<strong>de</strong>ncia-se uma das muitas formas <strong>de</strong><br />
atualização da linguagem, que ratificam o pensamento bakhtiniano <strong>de</strong><br />
que a “palavra não tem princípio nem um fim”, ao contrário, ela se<br />
renova em cada enunciado, em cada momento, em cada sujeito<br />
histórico. O estudo <strong>de</strong>senvolvido visa a oferecer instrumentos para uma<br />
reflexão linguística que explicite relações observáveis entre discursos e<br />
eventos sócio-históricos.<br />
Palavras-chave: Linguagem, enunciado, relações dialógicas, discurso<br />
citado.<br />
232
Resumo dos Trabalhos<br />
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PROJETADO EM<br />
TEXTOS DE APRESENTAÇÃO DE MANUAIS DIDÁTICOS DE<br />
1960-1970<br />
Nina Rosa Licht Rodrigues<br />
O presente trabalho é parte da Dissertação <strong>de</strong> Mestrado em Estudos<br />
Linguísticos intitulada “A constituição do ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
em textos introdutórios <strong>de</strong> livros didáticos dos anos 1960 a 1980” e visa<br />
a apresentar o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa antecipado a partir <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scrições feitas <strong>de</strong> dois textos introdutórios do livro didático<br />
“Português”, <strong>de</strong> Proença Filho e Marques. Enten<strong>de</strong>mos que os textos <strong>de</strong><br />
apresentação/introdutórios, presentes em quase todos os manuais<br />
didáticos <strong>de</strong> português, possuem uma função, <strong>de</strong>ntre outras, que é a <strong>de</strong><br />
introduzir, apresentar, antecipar ao leitor que posições responsivas são<br />
tomadas pelo autor com relação ao ensino <strong>de</strong> língua portuguesa na obra<br />
didática. Por essa razão, <strong>de</strong>screver esses textos torna-se importante para<br />
i<strong>de</strong>ntificar alguns discursos sobre a língua (gem) que serviram <strong>de</strong> base<br />
para a elaboração <strong>de</strong> uma obra, no presente caso, para investigar que<br />
ensino <strong>de</strong> português e estudo da linguagem é apresentado a partir da<br />
<strong>de</strong>scrição <strong>de</strong> dois textos <strong>de</strong> apresentação dos anos 1960-1970, dirigidos<br />
um ao professor e outro ao aluno. O espaço <strong>de</strong> tempo que se coloca é<br />
entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, período que<br />
representa a transição entre os estudos ditos tradicionais e a entrada da<br />
ciência linguística para o ensino <strong>de</strong> língua materna. A perspectiva<br />
teórica e metodológica baseada é a sócio-histórica bakhtiniana, segundo<br />
a qual é necessário investigar as condições <strong>de</strong> produção e as posições<br />
valorativas axiológicas dos autores nos textos, a fim <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r<br />
que ensino <strong>de</strong> português e estudo da linguagem são projetados entre os<br />
anos 1960-1970.<br />
A CONTRIBUIÇÃO DA POESIA E DA NARRATIVA PARA O<br />
ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA<br />
Pablo Ramos Silveira<br />
O presente estudo trata das possíveis contribuições do trabalho com<br />
géneros literários em sala <strong>de</strong> aula para o ensino da língua española. Por<br />
conseguinte, houve a necessida<strong>de</strong> da aplicação <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura<br />
durante as práticas pedagógicas, <strong>de</strong> acordo com as normas que regem a<br />
disciplina obrigatória <strong>de</strong> Estágio em Língua Espanhola II, transcorrida<br />
no Núcleo <strong>de</strong> Línguas Estrangeiras, que está vinculado à Universida<strong>de</strong><br />
233
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (Unipampa, Campus Bagé, RS) durante o segundo<br />
semestre <strong>de</strong> 2011. Além disso, os alunos leram diversos tipos <strong>de</strong> textos<br />
literários (como poemas, contos e crônicas) pertencentes aos escritores<br />
hispano-americanos. Assim, o grupo <strong>de</strong> discentes teve a oportunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> refletir sobre questões sócio-históricas e culturais referentes aos<br />
países que falam espanhol."<br />
MANUAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA:<br />
CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO E REFLEXOS NO ENSINO<br />
Patrícia Ribeiro De Andra<strong>de</strong><br />
O artigo discute a relevância do <strong>de</strong>senvolvimento e da ampliação do<br />
manual do professor para o ensino/aprendizado <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a avaliação<br />
dos livros didáticos, realizada através do Programa Nacional do Livro<br />
Didático (PNLD), a partir dos anos <strong>de</strong> 1996. Para tal abordagem,<br />
utiliza-se o aporte teórico <strong>de</strong>senvolvido por Bakhtin e seu Círculo,<br />
consi<strong>de</strong>rando que essa perspectiva teórica oferece instrumentos para<br />
análise <strong>de</strong> aspectos sociais, i<strong>de</strong>ológicos e políticos presentes em gêneros<br />
discursivos circundantes nas mais diversas esferas da comunicação.<br />
Dessa forma, o estudo objetiva apresentar uma abordagem que<br />
possibilite: explicitar elementos que caracterizam o manual do<br />
professor como gênero discursivo; verificar a relevância do manual na<br />
atuação pedagógica do professor, atentando para o <strong>de</strong>senvolvimento do<br />
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), bem como da produção<br />
científica na área da linguística que têm <strong>de</strong>terminado os rumos seguidos<br />
na composição dos manuais; apresentar reflexões que possam vir a<br />
contribuir para a discussão em torno do funcionamento e da evolução<br />
da linguagem, focalizando fenômenos linguísticos presentes nos<br />
manuais a serem examinados. A partir da pesquisa sobre a qual versa o<br />
presente estudo, espera-se oferecer informações que venham a<br />
contribuir, especialmente, para reflexões sobre o ensino e aprendizado<br />
da língua materna na escola básica.<br />
Palavras-chave: gêneros discursivos; relações dialógicas; i<strong>de</strong>ologia.<br />
234
Resumo dos Trabalhos<br />
TRATAMENTO ATRIBUÍDO À ORALIDADE NO LIVRO<br />
DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: ALGUNS APONTAMENTOS<br />
Paula Gaida Winch<br />
No processo <strong>de</strong> avaliação <strong>de</strong> Livros Didáticos <strong>de</strong> Português (LDP), via<br />
PNLD-2011, percebe-se crescente preocupação com o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da oralida<strong>de</strong> nas aulas <strong>de</strong> Língua Portuguesa (LP) do 6º ao 9º ano do<br />
EF. Menciona-se que o ensino <strong>de</strong> LP, tradicionalmente, mais voltado<br />
para gramática, leitura e escrita, tem atribuído pouca atenção à<br />
expressão oral dos alunos. Diante disso, buscamos investigar, na<br />
literatura sobre ensino <strong>de</strong> LP, como a oralida<strong>de</strong> vem sendo trabalhada<br />
nos LDP. Encontramos sinalizações <strong>de</strong> que alguns LDP, das décadas <strong>de</strong><br />
1960, 1970 e 1980, já contemplavam a oralida<strong>de</strong>, ainda que <strong>de</strong> forma<br />
reduzida e assemelhando a habilida<strong>de</strong> oral com o ler em voz alta; por<br />
exemplo, nas ativida<strong>de</strong>s voltadas a recitar poemas (CARGNELUTTI,<br />
2010). Em LDP mais recentes, permanecem apontamentos quanto ao<br />
espaço reduzido <strong>de</strong>stinado à oralida<strong>de</strong> nesses materiais (MARCUSCHI,<br />
1998). Menciona-se também o fato <strong>de</strong> que gran<strong>de</strong> parte das ativida<strong>de</strong>s<br />
visando <strong>de</strong>senvolver a habilida<strong>de</strong> oral dos alunos consiste em explicitar<br />
as diferenças entre a língua oral e escrita (ROJO, 2003; MORI-DE-<br />
ANGELIS, 2003). Assim, percebemos que a oralida<strong>de</strong> parece não estar<br />
sendo tratada na mesma proporção que leitura, produção textual ou<br />
análise linguística, visto o espaço reduzido <strong>de</strong>stinado a ela; e nem a<br />
partir <strong>de</strong> uma <strong>de</strong> suas características fundamentais – seu uso<br />
espontâneo, improvisado-, pois muitas ativida<strong>de</strong>s dos LDP tratam da<br />
passagem do escrito para o oral, não se tratando da produção <strong>de</strong> um<br />
texto oral por parte do aluno."<br />
FAN PAGE CRIANDO NOVAS FORMAS DE INTERAÇÃO<br />
ENTRE OS FÃS DO CLICRBS<br />
Pricilla Farina Soares<br />
As fan pages utilizadas pelo site <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais Facebook têm<br />
aproximado empresas e instituições <strong>de</strong> usuários reconhecidos a<br />
princípio como receptores. Um exemplo é a página do ClicRBS no<br />
Facebook, oriunda <strong>de</strong> um site regional do Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul,<br />
do grupo RBS, e que é usada como meio <strong>de</strong> transmitir informações e<br />
trocar dados com os usuários que são seus fãs. Criada em 3 <strong>de</strong> setembro<br />
<strong>de</strong> 2009, atualmente possui mais <strong>de</strong> 100.000 mil usuários que a curtem<br />
e acompanham. A proposta do artigo é analisar, a partir do conceito <strong>de</strong><br />
235
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
interação e formação do sujeito na esfera social (a partir das propostas<br />
<strong>de</strong> Bakhtin), partindo <strong>de</strong>sta fan page do ClicRBS, um meio <strong>de</strong><br />
comunicação importante no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, como ocorre a<br />
interação, o intercâmbio entre sujeitos, mostrando como se dá a<br />
recepção e criação <strong>de</strong> um novo gênero neste espaço, on<strong>de</strong> a circulação<br />
dos discursos se dá <strong>de</strong> forma conjunta, com locutor e receptor tendo<br />
mesmo valor. Este trabalho fará uma explanação sobre os sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s<br />
sociais e as interações estabelecidas especificamente no Facebook, e<br />
mais <strong>de</strong>talhadamente na fan page do ClicRBS para explorar o sentido<br />
do dialogismo e da formação do sujeito enquanto ser que interage,<br />
agindo tanto como receptor quanto locutor, mostrando como isso ocorre<br />
na fan page citada, o que faz um novo gênero discursivo surgir, pois a<br />
comunicação, que até então era voltada ao antigo esquema emissor -><br />
mensagem -> meio -> receptor, passa a ser vista como um fluxo <strong>de</strong><br />
mensagens em mão dupla."<br />
OS GÊNEROS E O ENSINO: REFLEXÕES ACERCA DO<br />
LIVRO DIDÁTICO<br />
Raquel Da Silva Goularte<br />
Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, o<br />
texto foi tomado como unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino. A partir <strong>de</strong> então, aplica-se a<br />
noção <strong>de</strong> gêneros na escola, com a expectativa <strong>de</strong> ser uma eficiente<br />
ferramenta <strong>de</strong> inovação para o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa. Porém,<br />
seguidamente a aplicação dos conceitos linguísticos no ensino po<strong>de</strong> não<br />
trazer bons frutos quando ocorre <strong>de</strong> forma direta, sem reflexão e<br />
planejamento docente. Consi<strong>de</strong>rando o contexto educacional brasileiro,<br />
sabemos que o livro didático é ainda o principal recurso utilizado pelos<br />
professores para <strong>de</strong>senvolver as práticas <strong>de</strong> linguagem em sala <strong>de</strong> aula.<br />
Alguns docentes recorrem a outros meios que complementam esse<br />
recurso, mas muitos o tem como única fonte <strong>de</strong> atualização e acesso aos<br />
conhecimentos teóricos que embasam o ensino <strong>de</strong> língua materna.<br />
Partindo <strong>de</strong>ssa realida<strong>de</strong>, nossa preocupação é a forma como os<br />
conhecimentos teóricos são articulados no livro didático e como o<br />
manual do professor orienta as propostas com gêneros textuais no livro.<br />
Nesse sentido, apoiando-nos principalmente no conceito <strong>de</strong> gêneros <strong>de</strong><br />
Bakhtin (1992), analisamos as orientações do manual do professor e as<br />
ativida<strong>de</strong>s propostas para trabalhar alguns gêneros em um livro didático<br />
do 6º ano do ensino fundamental.Palavras-chave: Gêneros textuais,<br />
Ensino <strong>de</strong> língua portuguesa, Livro didático<br />
236
Resumo dos Trabalhos<br />
A IDENTIDADE DOS (IN)DOCUMENTADOS: O CASO DOS<br />
MIGRANTES MEXICANOS NO FILME "UMA VIDA<br />
MELHOR”<br />
Regina Zauk Leivas<br />
Palavras- chave: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, filme, migrantes.<br />
Esse trabalho busca discutir com base em teorias sobre a questão da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> a situação mostrada no filme “Uma vida melhor” dirigido<br />
por Cris Weitz. A migração <strong>de</strong> mexicanos para os Estados Unidos em<br />
busca <strong>de</strong> trabalho é um dos maiores fenômenos contemporâneos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>slocamento populacional, e o maior em se tratando <strong>de</strong> caso <strong>de</strong> nãoguerra.<br />
Os trabalhos <strong>de</strong>sempenhados por esses migrantes são os mais<br />
diversos, mas em geral <strong>de</strong>sempenham funções que não exigem preparo.<br />
Esse contexto os leva a viverem como clan<strong>de</strong>stinos que, em não<br />
possuindo documentos, evitam a visibilida<strong>de</strong> social. Dentre as<br />
estratégias criadas para a permanência em terra estrangeira encontramos<br />
peculiar situação comunicacional que muitas vezes mescla o espanhol<br />
pátrio com o inglês. O cinema vem retratando e buscando discutir ha<br />
muito tempo o caso dos migrantes mexicanos, geralmente com um<br />
enfoque politico, seja em comédias ou em dramas. Via <strong>de</strong> regra é a<br />
ênfase na situação colonizador/colonizado que conduz as tramas e<br />
enredos, e não raro o tom panfletário prevalece. O filme “Uma vida<br />
melhor” dirigido por Cris Weitz foge <strong>de</strong>ssa convenção ao tratar do caso<br />
<strong>de</strong> um migrante mexicano, numa “arquitetônica fílmica” que tem como<br />
base a singular história do protagonista e <strong>de</strong> seu filho. A difícil situação<br />
<strong>de</strong> trabalho, os laços afetivos mesclados e oscilantes em relação aos<br />
valores trazidos <strong>de</strong> uma pátria distante no tempo e no espaço, e os <strong>de</strong><br />
um país que não po<strong>de</strong> ser pátria eis que lhe nega existência oficial, são a<br />
tônica do enredo. Uma narrativa tão rica provoca à investigação.<br />
Assim, através da personagem Carlos Galindo e da sucessão <strong>de</strong><br />
acontecimentos ocorridos em sua vida, buscamos analisar as categorias<br />
que emergem <strong>de</strong>ssa narrativa fílmica em relação às atuais discussões<br />
acadêmicas sobre i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Nesse sentido buscamos no pensamento<br />
<strong>de</strong> Stuart Hal, Nestor García Canclini e Benedict An<strong>de</strong>rson os subsídios<br />
teóricos para realização <strong>de</strong> nosso trabalho. Nossas análises apontam<br />
para uma especificida<strong>de</strong> da migração mexicana que coloca os migrantes<br />
mexicanos ainda na condição <strong>de</strong> sujeitos marcadamente sociológicos<br />
conforme assinala Hall, no entanto as vicissitu<strong>de</strong>s da chamada pósmo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong><br />
lhes lançam novos <strong>de</strong>safios. Um dos maiores é a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r a falar a linguagem dos patrões a fim <strong>de</strong><br />
ampliar as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pertença.<br />
237
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O USO DAS FÁBULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O<br />
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA<br />
Renan De Moura Rodrigues Lima<br />
O trabalho mostra a importância <strong>de</strong> usar as fábulas no Ensino<br />
Fundamental. Esse gênero textual, por ser curto e breve e por apresentar<br />
uma linguagem acessível, mostra-se como uma importante ferramenta<br />
para o plano pedagógico em relação ao <strong>de</strong>senvolvimento da linguagem<br />
oral e escrita na sala <strong>de</strong> aula. Baseado na teoria abordada foi possível<br />
perceber o quanto o uso da fábula é útil para a formação da criança,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a utilização da “moral”, presente na maioria <strong>de</strong>sses textos, como<br />
na sua estrutura textual. O fato <strong>de</strong> ela ser um produto espontâneo do ser<br />
humano, instrui e diverte, provocando discussões, reflexões e risos no<br />
leitor. Ao trabalhar esse gênero textual é possível ler e analisar<br />
diferentes textos, realizando um trabalho intertextual com eles, a partir<br />
da paráfrase e da paródia. Diante <strong>de</strong>sses conceitos, foi <strong>de</strong>senvolvido o<br />
projeto com os alunos do Ensino Fundamental para elaborarem suas<br />
próprias fábulas, a fim <strong>de</strong> que elas, no final do projeto estivessem<br />
reunidas em um livro escrito por eles.<br />
TRABALHO DOCENTE E O LIVRO DIDÁTICO DE<br />
PORTUGUÊS<br />
Rosaura Maria Albuquerque Leão<br />
Este trabalho discute o binômio livro didático <strong>de</strong> português e trabalho<br />
docente. Especialmente a partir do estudo <strong>de</strong> Soares (2001), com<br />
relação ao modo <strong>de</strong> estruturação e <strong>de</strong> funcionamento dos livros<br />
didáticos ao longo do tempo, e <strong>de</strong> pressupostos teóricos do<br />
Interacionsimo Sociodiscursivo (ISD) – distinção entre agente/ator e<br />
entre artefato/instrumento – busca-se compreen<strong>de</strong>r, em termos gerais,<br />
qual imagem <strong>de</strong> professor tem sido projetada pelos livros didáticos <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa atualmente. Para isso, além <strong>de</strong> recuperar a análise <strong>de</strong><br />
Soares (2001) com relação a dois manuais didáticos utilizados nos<br />
séculos XIX e XX, discute-se algumas ocorrências observadas em<br />
livros dos anos 1990 e 2000, as quais <strong>de</strong>notam que o verda<strong>de</strong>iro ator no<br />
processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem parece ser o livro didático, enquanto<br />
o professor é projetado ou como executor da proposta do material, ou<br />
nem mesmo é mencionado como agente do processo."<br />
238
Resumo dos Trabalhos<br />
UMA AQUARELA DE SAIT-EXUPÉRY: UMA ABORDAGEM<br />
DESCRITIVO-ANALÍTICA DO VERBAL E DO NÃO-VERBAL<br />
EM O PEQUENO PRÍNCIPE<br />
Sandra Regina Klafke<br />
Este trabalho, <strong>de</strong> caráter <strong>de</strong>scritivo-analítico, consiste na avaliação <strong>de</strong><br />
um livro infantil, e justifica a pertinência <strong>de</strong> uma abordagem da obra O<br />
Pequeno Príncipe, escrita em 1943, pelo autor, jornalista e piloto<br />
francês Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, em diferentes faixas etárias. Diz-se<br />
caráter <strong>de</strong>scritivo pelo fato <strong>de</strong> o texto ser autônomo, isto é, fala por si<br />
mesmo ao <strong>de</strong>screver características físicas da obra a que se refere; e<br />
analítico porque pon<strong>de</strong>ra sobre aspectos não-verbais e verbais, levando<br />
em conta o público leitor a que po<strong>de</strong> se <strong>de</strong>stinar a obra <strong>de</strong> Saint-<br />
Exupéry. Como referencial bibliográfico, esta proposta faz uso dos<br />
ensinamentos <strong>de</strong> Mara Ferreira Jardim (2001), com o artigo Critérios<br />
para análise e seleção <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> literatura infantil; <strong>de</strong> Alberto<br />
Manguel (2001), com a obra Lendo Imagens; Laura C. Sandroni e Luiz<br />
Raul Machado (orgs; 1991), com a obra A criança e o Livro; e <strong>de</strong><br />
Bakhtin (2010), com a noção <strong>de</strong> Dialogismo. A escolha dos autores que<br />
sustentam as i<strong>de</strong>ias <strong>aqui</strong> <strong>de</strong>scritas surgiu em virtu<strong>de</strong> da importante<br />
contribuição <strong>de</strong> Jardim (2001) para a caracterização material das obras<br />
<strong>de</strong> Literatura Infantil e para a “classificação” das fases <strong>de</strong> leitura; já a<br />
obra <strong>de</strong> Manguel (2001), e também a obra <strong>de</strong> Sandroni e Machado<br />
(1991), fornecem suporte necessário à compreensão e à leitura das<br />
imagens, entre as quais será selecionada uma para aprofundamento e<br />
apreciação. Da noção bakhtiniana <strong>de</strong> dialogismo, traz-se o terceiro<br />
conceito, no qual a subjetivida<strong>de</strong> é construída pelo conjunto das<br />
relações sociais <strong>de</strong> que participa o sujeito, a fim <strong>de</strong> corroborar com as<br />
apreciações acerca das imagens apresentadas na obra em questão."<br />
PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO: ALGUMAS<br />
POSSIBILIDADES<br />
Stefania Marin Da Silva<br />
Vaima Regina Alves Motta<br />
O projeto objetiva aproximar discussões acadêmicas sobre autonomia<br />
em produção textual e Ensino Médio, isto é, aproximar teoria e prática.<br />
Preten<strong>de</strong>-se fortalecer a parceria entre universida<strong>de</strong> e escola pública.<br />
Assim, o projeto, vinculado ao Programa <strong>de</strong> Licenciaturas –<br />
PROLICEN e em sua segunda edição, sustentado pela pesquisa-ação,<br />
239
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
busca envolver o Ensino Médio em um trabalho no qual professor e<br />
alunos equilibrem a responsabilida<strong>de</strong> sobre os avanços na qualida<strong>de</strong> da<br />
escrita. Essa abordagem <strong>de</strong> co-responsabilida<strong>de</strong> tenta reverter o papel<br />
passivo do aluno diante <strong>de</strong> sua produção escrita. Metodologicamente, o<br />
projeto será dinamizado em oficinas semanais com a duração <strong>de</strong> 2h/a e<br />
envolverá uma turma <strong>de</strong> Ensino Médio <strong>de</strong> um Colégio Estadual do<br />
município <strong>de</strong> Santa Maria, ministradas por um acadêmico do curso <strong>de</strong><br />
Letras, com orientação direta da professora responsável pelo projeto.<br />
Além das diferentes produções escritas, o público-alvo do projeto estará<br />
envolvido em ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reflexões sobre o processo <strong>de</strong> escrita, sobre<br />
os resultados obtidos nos artefatos textuais produzidos individualmente<br />
e <strong>de</strong> refacção. Espera-se construir um espaço facilitador para uma<br />
experiência diferenciada em produção textual, capaz <strong>de</strong> provocar<br />
reflexões sobre o ensino e <strong>aqui</strong>sição da escrita, bem como sobre os<br />
papéis do professor e do aluno em todo esse processo. O projeto será<br />
baseado em autores como CALKINS, L. M; COELHO, A. M. T. e<br />
MATOS, M.L; ABAURRE, M.B.M., FIAD, R.S., MAYRINK-<br />
SABINSON, M.L.T; KEMMIS, S.; entre outros.<br />
Palavras-chave: Produção textual, Pesquisa-ação, Parceria<br />
universida<strong>de</strong>- escola.<br />
O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR<br />
DOS GÊNEROS DO DISCURSO<br />
Thaís Paz Barbosa<br />
Maria Eduarda Motta Dos Santos<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência (PIBID) na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). Trata-se<br />
da elaboração <strong>de</strong> oficinas <strong>de</strong> língua portuguesa que serão aplicadas em<br />
primeiros anos do ensino médio <strong>de</strong> uma escola estadual da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Bagé/RS. Teoricamente, o trabalho está pautado nos pilares teóricos <strong>de</strong><br />
Bakhtin (2003) no que se refere à dialogia e aos gêneros do discurso;<br />
nos trabalhos <strong>de</strong> Dolz e Schneuwly (2004) que tratam <strong>de</strong> sequências<br />
didáticas e nos PCNs (1997) que propõem o trabalho a partir do texto.<br />
O trabalho prático - que está sendo elaborado - partiu da escolha <strong>de</strong><br />
alguns gêneros do discurso (orais e escritos) e visará o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da linguagem a partir <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita por meio <strong>de</strong><br />
sequências didáticas. A modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
proposta neste trabalho busca pensar e trabalhar a língua como prática<br />
240
Resumo dos Trabalhos<br />
social, articulando as leituras propostas com produções reflexivas, nas<br />
quais o aluno seja autor do seu dizer e não apenas um reprodutor <strong>de</strong><br />
textos prontos. Esperamos que o trabalho a partir da perspectiva dos<br />
gêneros discursivos seja uma forma <strong>de</strong> fazer com que todos os alunos<br />
participem e se posicionem, <strong>de</strong> forma ativa, para refletirem sobre os<br />
mais variados temas e seus contextos, sejam como leitores ou autores.<br />
Palavras-chave: gênero discursivo, ensino/aprendizagem <strong>de</strong> LP,<br />
dialogia Linha Temática: Dialogismo, gêneros e ensino: perspectivas<br />
GÊNERO RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM ESPANHOL: UMA<br />
PERSPECTIVA A PARTIR DA ANÁLISE DE ERROS<br />
Triciane Rabelo Dos Santos<br />
Consi<strong>de</strong>rando as dificulda<strong>de</strong>s na produção escrita em língua estrangeira,<br />
bem como a produção <strong>de</strong> gêneros textuais/discursivos em espanhol/LE,<br />
esse estudo busca investigar os erros linguísticos na produção escrita do<br />
gênero relatório <strong>de</strong> professores em formação, tendo em vista parâmetros<br />
linguísticos-discursivos. A<strong>de</strong>mais analisar a frequência e a tipologia<br />
mais recorrente <strong>de</strong>sses erros e quais suas possíveis implicações para a<br />
textualização na língua estrangeira. Como um estudo sistemático dos<br />
erros precisa ser realizado, optamos por <strong>de</strong>senvolver investigações que<br />
visam compreen<strong>de</strong>r tais problemas à luz da Linguística Contrastiva,<br />
centrando-nos no mo<strong>de</strong>lo da Análise <strong>de</strong> Erros, além <strong>de</strong> recorrermos às<br />
teorias discursivas e textuais. Assim, trabalharemos com a produção<br />
escrita dos relatórios <strong>de</strong> estágio <strong>de</strong> nove professores em formação final<br />
<strong>de</strong> um Curso <strong>de</strong> Licenciatura em Letras/Espanhol <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong><br />
pública, on<strong>de</strong> os erros serão analisados a partir do plano da observação,<br />
da <strong>de</strong>scrição e da explicação<br />
(Cor<strong>de</strong>r, 1967). Salientamos que os erros cometidos na produção escrita<br />
do gênero relatório po<strong>de</strong>m estar relacionados à natureza linguística e a<br />
especificida<strong>de</strong> genérica. Observamos ainda que gran<strong>de</strong> parte dos<br />
professores <strong>de</strong> línguas inicia, <strong>de</strong> modo geral, sua aprendizagem da<br />
língua estrangeira, no caso o espanhol, na própria Licenciatura e <strong>de</strong>ve<br />
concluir como ensinante. Ou seja, é preciso investigar o processo <strong>de</strong><br />
formação dos professores e, em especial, como ele produz seus textos<br />
(orais e escritos) nesse contexto.<br />
Palavras-chave: Análise <strong>de</strong> erros. Espanhol. Gênero relatório.<br />
241
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PORTFÓLIO: UM INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA<br />
PRODUÇÃO ESCRITA<br />
Vaima Regina Alves Motta<br />
Promover avanços na produção textual <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Básica é<br />
um <strong>de</strong>safio para todos os professores, principalmente, da área da<br />
linguagem. Muitas vezes, o trabalho com a escrita torna-se<br />
improdutivo, pois a ação docente fica restrita a revisões gramaticais<br />
unidirecionais, <strong>de</strong>ixando o estudante a parte <strong>de</strong> todo o processo e<br />
reduzindo-o a mero copiador da versão final. A partir <strong>de</strong>sse quadro e<br />
como professora responsável pela disciplina <strong>de</strong> Estágio Supervisionado<br />
<strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> do interior do RS, optei pelo Portfólio<br />
Cronológico como instrumento para estagiários do curso <strong>de</strong> Letras<br />
acompanharem a produção escrita <strong>de</strong> seus alunos. O Portfólio permite<br />
um estudo-diagnóstico longitudinal e favorece postura reflexiva tanto<br />
do mediador quanto do estudante, uma vez que é capaz <strong>de</strong> revelar o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> competências e habilida<strong>de</strong>s. Espero que, ao longo<br />
do período <strong>de</strong> estágio no ano letivo <strong>de</strong> 2012, esse gênero - usado a<br />
serviço do ensino - possa auxiliar professor-estagiário e estudantes da<br />
Escola Básica a se tornarem (co)gerenciadores do processo <strong>de</strong> escrita. A<br />
pesquisa está sustentada em autores como Vygotsky (1984), Harp e<br />
Huinsker (1997), Coelho & Matos (2002), Kish et al (1997), Bakhtin<br />
(2003), Pimenta & Lima (2010), Abaurre (2002), Aguirre (2000), White<br />
& Arndt (1991) entre outros.<br />
Palavras-chave: Portfólio – Escrita - Avaliação<br />
O DIÁRIO DE AGRICULTORES COMO GÊNERO DO “DIA A<br />
DIA”<br />
Vania Grim Thies<br />
O presente trabalho é parte integrante da pesquisa <strong>de</strong> doutorado<br />
<strong>de</strong>senvolvida no Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em <strong>Educação</strong> (UFPEL) e<br />
tem como objetivo principal problematizar diários <strong>de</strong> três irmãos<br />
agricultores como o gênero que organiza a linguagem cotidiana do/no<br />
contexto rural on<strong>de</strong> vivem. Os três irmãos tiveram uma passagem breve<br />
pela escola (quatro anos <strong>de</strong> escolarização), trabalham e moram na zona<br />
rural da região sul do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. Um dos agricultores escreve<br />
diário há mais <strong>de</strong> trinta e seis anos. O referencial teórico e<br />
metodológico está ancorado na perspectiva bakhtiniana explorando<br />
conceitos principais <strong>de</strong> gênero, dialogismo e autoria. O material<br />
242
Resumo dos Trabalhos<br />
empírico <strong>de</strong>sse trabalho <strong>de</strong>monstra que cada um dos três irmãos<br />
agricultores exerce sua posição autoral <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminada maneira e,<br />
assim, o mundo da vida e o mundo da teoria estão em constante<br />
interação pelo ato ético e responsável da escrita. A análise preliminar<br />
revela que há um gênero do discurso presente na vida cotidiana que,<br />
muitas vezes, não se faz presente na escola.<br />
Palavras-chave: Gênero, dialogismo, diários.<br />
CONTO POPULAR: UM GÊNERO TEXTUAL A SERVIÇO DO<br />
ENSINO DA LEITURA E ESCRITA<br />
Vanilda Salton Köche<br />
Adiane Fogali Marinello<br />
Esta comunicação objetiva apresentar um recorte da pesquisa-ensino<br />
intitulada Leitura, produção textual e prática <strong>de</strong> análise linguística a<br />
partir <strong>de</strong> gêneros textuais, <strong>de</strong>senvolvida na Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Caxias do<br />
Sul/CARVI. O objetivo da pesquisa é investigar os gêneros textuais e<br />
buscar estratégias para o ensino <strong>de</strong> leitura, produção textual e prática <strong>de</strong><br />
análise linguística a partir dos gêneros, <strong>de</strong> modo a contribuir para a<br />
reflexão sobre o ensino <strong>de</strong> língua no nível médio e superior. O estudo<br />
tem um enfoque qualitativo-interpretativo e <strong>de</strong> aplicação didáticopedagógica.<br />
Este trabalho aborda o gênero textual conto popular, sua<br />
<strong>de</strong>finição, características e estrutura. Faz também uma análise<br />
ilustrativa e propõe ativida<strong>de</strong>s voltadas para a leitura, produção textual<br />
e prática <strong>de</strong> análise linguística. O conto popular é um gênero textual<br />
narrativo curto que se concretiza na tradição oral dos povos. Aborda a<br />
essência dos seres humanos, seus comportamentos e conflitos, a<br />
importância dos valores morais, o confronto entre fortes e fracos,<br />
pobres e ricos e o triunfo do bem sobre o mal, entre outros temas. Não<br />
representa apenas os fatos da realida<strong>de</strong>, pertence ao mundo dos sonhos,<br />
fantasias, mistérios e magias. Fundamentam esta comunicação os<br />
autores Bakthin (1997), Cascudo (1978), Dolz e Schneuwly (2004),<br />
Leal (1985), Romero (1954), Guesse e Volobuef (2008), Vale (2001),<br />
Maria (2004) e Machado (1994).<br />
Palavras-chave: conto popular, gênero textual, ensino."<br />
243
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO E AS CONDIÇÕES DE<br />
PRODUÇÃO TEXTUAL<br />
Veridiana Ferreira Moraes<br />
Fabiana Giovani<br />
A presente comunicação tem por intuito relatar ações referentes ao<br />
projeto <strong>de</strong> pesquisa “Bakhtin e a educação: a ética, a estética e a<br />
cognição constituídas através do estudo dos gêneros do discurso e das<br />
práticas <strong>de</strong> letramento”, da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa. O trabalho<br />
pauta-se nos pilares teóricos <strong>de</strong> Bakhtin, principalmente, no que se<br />
refere à dialogia. Trabalhar o diálogo em sala <strong>de</strong> aula na perspectiva<br />
bakhtiniana é conceber a linguagem uma forma <strong>de</strong> interação. É<br />
consi<strong>de</strong>rar que mais do que possibilitar uma transmissão <strong>de</strong><br />
informações <strong>de</strong> um emissor a um receptor, a linguagem é vista como<br />
um lugar <strong>de</strong> interação humana. Com base na teoria, vamos <strong>de</strong>senvolver<br />
a pesquisa <strong>de</strong> campo nas escolas Estaduais Félix Contreiras e Mário<br />
Suñe, ambas localizadas na perifeira e zona rural, respectivamente, na<br />
cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé/RS. Acompanhamos as aulas <strong>de</strong> língua portuguesa <strong>de</strong><br />
duas professoras em turmas dos sétimos e dos oitavos anos, nas duas<br />
escolas. As fases e objetivos da pesquisa são i) acompanhar a proposta<br />
do professor para a produção escrita; ii) i<strong>de</strong>ntificar a dialogia que<br />
permeia a produção escrita; iii) coletar e analisar as produções textuais<br />
no sentido <strong>de</strong> observar se apresentam marcas das condições <strong>de</strong><br />
produção e social. A pesquisa está em andamento, mas infelizmente,<br />
temos notado que, na prática escolar, institui-se uma ativida<strong>de</strong><br />
linguística artificial. Assumem-se papéis <strong>de</strong> locutor/interlocutor durante<br />
o processo, mas o problema é que não se é locutor/interlocutor<br />
efetivamente"<br />
REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE DE PROFESSORES<br />
DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO NUMA<br />
PERSPECTIVA INTERACIONISTA<br />
Wen<strong>de</strong>l Dos Santos Lima<br />
A linguagem na perspectiva interacionista é um lugar <strong>de</strong> interação e <strong>de</strong><br />
interlocução e constitui os polos da subjetivida<strong>de</strong> e da alterida<strong>de</strong>, já que<br />
homem se constitui como ser humano através das relações que<br />
estabelece com os outros. Tal concepção tem embasamento nos estudos<br />
<strong>de</strong> Vygostsky e permite visualizar uma relação dinâmica e constitutiva<br />
entre o sujeito e a linguagem, como também voltar a atenção para os<br />
244
Resumo dos Trabalhos<br />
sujeitos e suas histórias individuais <strong>de</strong> relação com a linguagem.<br />
Propõe-se na pesquisa <strong>de</strong> mestrado <strong>aqui</strong> apresentada um olhar teóricoprático<br />
acerca da concepção <strong>de</strong> linguagem acima citada, visando<br />
discutir como as contribuições da teoria interacionista <strong>de</strong> Vigotsky<br />
(1998) e do caráter dialógico e na materialização em gêneros da<br />
linguagem, conforme Bakhtin (1996, 1997), fundamentam o processo<br />
<strong>de</strong> formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> Língua Portuguesa. O texto <strong>aqui</strong><br />
proposto visa nortear a revisão teórica do trabalho <strong>de</strong> dissertação do<br />
Programa <strong>de</strong> Pós-graduação em Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Santa Maria (RS), área <strong>de</strong> concentração em Estudos Linguísticos, linha<br />
<strong>de</strong> pesquisa “Linguagem e interação”, cuja investigação intenta<br />
compreen<strong>de</strong>r quais as representações sobre do agir docente <strong>de</strong><br />
professores em formação. A metodologia adotada prevê uma análise <strong>de</strong><br />
corpus, cuja fonte são textos produzidos por professores em formação<br />
em dois momentos ao longo da licenciatura, com base no<br />
Interacionismo Sociodiscursivo fundado por Bronckart (2004)<br />
(BRONCKART, 1999, 2006, 2008; MACHADO, 2004, 2009;<br />
MACHADO & BRONCKART, 2009)."<br />
PROJETOS DIDÁTICOS E O ENSINO DE PORTUGUÊS:<br />
TECENDO INTERLOCUÇÕES, FORMANDO AUTORIAS<br />
William Kirsch<br />
Esta comunicação consiste na síntese <strong>de</strong> minha dissertação <strong>de</strong> mestrado,<br />
que oferece o relato da investigação qualitativa/interpretativa<br />
(conforme Erickson, 1989 e Mason, 1996) do projeto didático “O som<br />
que faz a nossa cabeça”, executado em colaboração com uma<br />
professora <strong>de</strong> língua portuguesa do ensino fundamental da re<strong>de</strong><br />
estadual do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. Após uma sequência <strong>de</strong> tarefas – <strong>de</strong><br />
leitura e interpretação, estudo do texto, e foco em recursos expressivos<br />
–, os alunos produziram notas autobiográficas, publicadas num CD da<br />
turma contendo: um encarte com uma nota produzida por cada aluno e<br />
uma mídia com cada canção escolhida para a produção das notas. O<br />
trabalho teve por pilares teóricos (a) o enquadre dialógico do Círculo <strong>de</strong><br />
Bakhtin no tocante à conceituação <strong>de</strong> língua/linguagem, gêneros do<br />
discurso e autoria; (b) os pressupostos <strong>de</strong> ensino e aprendizagem por<br />
meio <strong>de</strong> projetos. Os resultados da pesquisa sugerem que o ensino <strong>de</strong><br />
português por projetos didáticos que partam <strong>de</strong> temáticas pertinentes<br />
aos educandos e visem à produção <strong>de</strong> textos a serem tornados públicos<br />
para leitores concretos incentivam: (1) a participação dos alunos nas<br />
245
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ativida<strong>de</strong>s pedagógicas mediadas pelas tarefas <strong>de</strong> leitura e produção<br />
textual propostas; (2) a produção <strong>de</strong> textos apropriados para o contexto<br />
<strong>de</strong> produção e voltados aos efeitos <strong>de</strong> sentido pretendidos sobre os<br />
interlocutores; (3) o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> autoria por parte dos<br />
educandos face à tarefa <strong>de</strong> produzir textos. De modo que, nesta<br />
comunicação, apresento as bases em que foram produzidas as tarefas do<br />
projeto, bem como três notas <strong>de</strong> meus diários <strong>de</strong> campo em que,<br />
segundo a linha argumentativa adotada, os participantes <strong>de</strong>monstram,<br />
nas suas ações, as conclusões sugeridas pelos resultados da pesquisa. "<br />
246
LINHA TEMÁTICA: DISCURSO, ENUNCIAÇÃO E<br />
ENSINO: RUMOS.<br />
A IMAGEM DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
CONSTRUÍDA PELA VOZ OFICIAL: CAMINHOS E<br />
DESCAMINHOS DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS<br />
Adriana Fernan<strong>de</strong>s De Oliveira<br />
Palavras-chave: O ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa, Professor,<br />
Documentos oficiais.<br />
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o ensino <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa na atualida<strong>de</strong>, tomando por base três documentos oficiais,<br />
publicados nas décadas <strong>de</strong> 1990 e 2009, na tentativa <strong>de</strong> verificar como<br />
se articulam as vozes discursivas que organizam esse discurso, que<br />
relações dialógicas esses textos mantêm entre si, a fim <strong>de</strong> investigar que<br />
imagem do professor <strong>de</strong> Português é construída pela voz oficial. Para a<br />
realização <strong>de</strong>sse estudo, nos ancoramos nos pressupostos teóricometodológicos<br />
<strong>de</strong>lineados pelo Círculo <strong>de</strong> Bakhtin. O entrecruzamento<br />
dos discursos produzidos em cada documento aponta para indícios <strong>de</strong><br />
que estes textos não se constituem como o produto <strong>de</strong> uma discussão<br />
ampla entre os participantes do processo <strong>de</strong> ensino: os professores <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa, e os produtores do texto oficial. A Secretaria <strong>de</strong><br />
<strong>Educação</strong> oficializa o que a aca<strong>de</strong>mia quer para o ensino <strong>de</strong> Português e<br />
apresenta esse produto aos professores <strong>de</strong> forma impositiva, dado o<br />
caráter prescritivo do texto oficial. Assim, a imagem que a voz oficial<br />
tem dos seus interlocutores – os professores <strong>de</strong> Português – é a <strong>de</strong><br />
pessoas subalternas que necessitam receber orientações sobre o seu<br />
fazer docente. Compreen<strong>de</strong>mos, <strong>de</strong>ssa forma, que o discurso oficial<br />
constrói uma imagem geral estereotipada do professor: <strong>de</strong>spreparado,<br />
incapaz, <strong>de</strong>satualizado, enfim, aquele que se constitui pela “falta”.<br />
UMA PERSPECTIVA BIBLIOGRÁFICA SOBRE A TEORIA DA<br />
ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA E DA POLIFONIA Alessandra<br />
Da Silveira Bez<br />
Palavras-chave: Teoria da Argumentação na Língua. Teoria da<br />
Polifonia. Hipóteses externas. Hipóteses internas.<br />
A proposta <strong>de</strong>ste trabalho é fazer uma análise bibliográfica e crítica<br />
sobre o <strong>de</strong>senvolvimento da Teoria da Argumentação na Língua e da<br />
247
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Polifonia, <strong>de</strong> autoria <strong>de</strong> Oswald Ducrot e colaboradores. Para<br />
realizarmos essa pesquisa <strong>de</strong> forma consistente e elucidativa, temos um<br />
objetivo bem fundamentado: mostrar a relação entre as hipóteses<br />
externas e as hipóteses internas <strong>de</strong> maneira que possamos explicar a<br />
construção da ANL. A partir das modificações e das permanências das<br />
hipóteses internas em relação às hipóteses externas, esclarecemos não<br />
só o percurso dos pesquisadores, mas também evi<strong>de</strong>nciamos o<br />
aprofundamento <strong>de</strong> suas reflexões. Ao resgatarmos as bases filosóficas<br />
e linguísticas da Teoria da Argumentação na Língua e da Polifonia,<br />
verificamos que essa semântica intralinguística preserva suas raízes. A<br />
constância e a modificação das hipóteses internas é fruto natural do<br />
amadurecimento do estudo, uma vez que elas se reajustam às hipóteses<br />
externas. Dessa forma, ressaltamos que a semântica argumentativa é<br />
bem construída <strong>de</strong>vido à flexibilida<strong>de</strong> das hipóteses internas e à rigi<strong>de</strong>z<br />
das hipóteses externas. Portanto, não há inconsistência teórica na ANL<br />
e na polifonia, apenas maturação <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong> vista.<br />
ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE A MULHER<br />
MATERIALIZADO EM COMERCIAIS TELEVISIVOS<br />
Aline <strong>de</strong> Lima Bazerque<br />
Palavras-chave: Análise do Discurso; gêneros; papel social.<br />
O presente trabalho apresenta resultados parciais <strong>de</strong> uma análise do<br />
discurso sobre a mulher materializado em comerciais televisivos <strong>de</strong><br />
diferentes épocas que está sendo realizada para que seja possível<br />
verificar qual é a formação discursiva sobre o papel social da mulher<br />
veiculado na publicida<strong>de</strong> televisiva e, também, constatar se o discurso<br />
presente nessa publicida<strong>de</strong> reforça ou não a formação discursiva<br />
tradicional sobre os papéis sociais <strong>de</strong> homens e mulheres. Para<br />
realizar esse trabalho, optou-se pela Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha<br />
Francesa como base teórica, pois não é a análise textual que está em<br />
jogo apenas, mas o discurso materializado em certos comerciais<br />
televisivos, levando- se em conta a historicida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse discurso e o<br />
sujeito e a i<strong>de</strong>ologia contidos nele. Os referidos comerciais, que foram<br />
reproduzidos em meio televisivo e também disponibilizados na<br />
internet, tratam <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> automóveis e também <strong>de</strong> produtos<br />
que auxiliam em tarefas domésticas como cozinhar e limpar a casa.<br />
Estão sendo analisados comerciais televisivos <strong>de</strong> épocas distintas para<br />
que seja possível verificar se há mudanças ou não na formação<br />
discursiva sobre o papel da mulher materializada nesses comerciais,<br />
248
Resumo dos Trabalhos<br />
assim como na socieda<strong>de</strong> houve a formação discursiva <strong>de</strong> resistência<br />
ao discurso tradicional. Os resultados parciais <strong>de</strong>monstram que,<br />
embora ao longo dos anos tenha se <strong>de</strong>senvolvido uma formação<br />
discursiva <strong>de</strong> resistência ao discurso tradicional que diz que o papel<br />
social da mulher é o <strong>de</strong> somente cuidar do lar e da família, essa<br />
mudança não ocorre nos comerciais televisivos já analisados. A<br />
publicida<strong>de</strong> televisiva <strong>de</strong> produtos que auxiliam em tarefas domésticas,<br />
por exemplo, ainda materializa o discurso tradicional que coloca a<br />
mulher como responsável por cozinhar, limpar a casa e cuidar dos<br />
filhos, enquanto o homem sequer aparece nos comerciais, ou, quando<br />
aparece, está trabalhando. Desse modo, a formação discursiva <strong>de</strong><br />
resistência ao discurso tradicional é ignorada em comerciais<br />
televisivos, embora tão presente na socieda<strong>de</strong> atual.<br />
Linha Temática: Discurso, enunciação e ensino: rumos.<br />
GESTOS DE INTERPRETAÇÃO, LEITURA E AUTORIA NO<br />
FACEBOOK: CURTIR OU COMPARTILHAR?<br />
Ana Cristina Franz Rodrigues<br />
Palavras-Chave: autoria, leitura,facebook.<br />
Pierre Lévy (1999), filósofo francês <strong>de</strong>dicado aos estudos sobre a<br />
socieda<strong>de</strong> cibernética, compreen<strong>de</strong> o hipertexto como um tramado <strong>de</strong><br />
textos, palavras, imagens ou diferentes recursos gráficos que po<strong>de</strong>m ser<br />
conectados, a qualquer instante, pelo uso <strong>de</strong> lincks. Nesse passo, o<br />
papel do leitor é <strong>de</strong> extrema relevância, pois cabe a ele conduzir o<br />
percurso <strong>de</strong>ssa “aventura” textual, configurando, assim, um movimento<br />
<strong>de</strong>scontínuo <strong>de</strong> leitura, cuja entrada <strong>de</strong> novos saberes é ocasionada por<br />
um click. Assim, outra importante característica da escrita/leitura no<br />
espaço virtual é justamente o movimento <strong>de</strong> interação entre leitor e<br />
autor, pois se compreen<strong>de</strong> que ao contornar os caminhos da leitura, o<br />
leitor passa assumir certa autoria. Nesse passo, Grigoletto (2009),<br />
sugere que autor e leitor se (con)fun<strong>de</strong>m nessa re<strong>de</strong> <strong>de</strong> interação. A<br />
partir <strong>de</strong>ssas questões, procuramos refletir nesse trabalho, com base no<br />
referencial teórico da Análise do Discurso sobre os gestos <strong>de</strong> leitura,<br />
interpretação e autoria no ambiente virtual, sobretudo na re<strong>de</strong> social<br />
facebook. Além disso, buscamos compreen<strong>de</strong>r a forma como o sujeitoautor<br />
movimenta os saberes e os sentidos <strong>de</strong>ntro das formações<br />
discursivas que vigoram nesse espaço <strong>de</strong> escritura.<br />
249
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
INSTÂNCIAS DISCURSIVAS DE REGULAMENTAÇÃO DE<br />
PROFISSIONAIS DE LETRAS E DE DIREITO: UMA<br />
RELAÇÃO ENTRE PROFISSÕES NÃO-REGULAMENTADAS E<br />
REGULAMENTADAS<br />
Ana Lucia Cheloti Prochnow<br />
Adriana Silveira Bonumá<br />
O presente trabalho tem por objetivo propor uma análise comparativa<br />
entre profissões regulamentadas e, por isso, emancipadas, <strong>de</strong>ntre as<br />
quais o direito; e profissões não-regulamentadas, carentes <strong>de</strong><br />
emancipação, das quais faz parte o profissional <strong>de</strong> Letras. Realizamos,<br />
nesta pesquisa, uma análise comparativa entre o Código <strong>de</strong> Ética e<br />
Disciplina da OAB, autorizado pelos arts. 33 e 54, V, da Lei nº 8906 <strong>de</strong><br />
04 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1994, e o Parecer CNE/CES nº 492/2001, aprovado em<br />
03 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2001, a partir das estratégias enunciativas que permitem<br />
i<strong>de</strong>ntificar ou não características <strong>de</strong> uma profissão emancipada.<br />
Observamos, ao final, uma dissonância entre os sistemas analisados,<br />
haja vista que o profissional <strong>de</strong> Letras conforma-se <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um<br />
sistema alopoiético, baseado em expectativas cognitivas; e, na outra via,<br />
o profissional <strong>de</strong> Direito configura-se no interior <strong>de</strong> um sistema<br />
autopoiético, tendo o seu fazer baseado em expectativas normativas.<br />
Isso justifica o fato <strong>de</strong> o profissional do Direito ser <strong>de</strong>tentor <strong>de</strong><br />
regulamentação profissional, ao passo que o profissional <strong>de</strong> Letras não<br />
possui o amparo <strong>de</strong>ssa regulamentação.<br />
DISCURSO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: O LUGAR DO<br />
PROFESSOR NA EAD<br />
Andrea Ad Reginatto<br />
Palavras-chave: Discurso. Professor. EaD.<br />
Esta pesquisa, <strong>de</strong> natureza qualitativa, apresenta as i<strong>de</strong>ias iniciais <strong>de</strong> um<br />
projeto <strong>de</strong> doutoramento cujo foco <strong>de</strong> investigação é analisar, via<br />
perspectiva dialógica da linguagem, particularida<strong>de</strong>s da ativida<strong>de</strong> do<br />
docente na modalida<strong>de</strong> Ensino a Distância (EaD), <strong>de</strong> modo a contribuir<br />
para o (re)conhecimento da complexida<strong>de</strong> do seu trabalho. Desse<br />
modo, visa verificar como ocorre, no ambiente virtual <strong>de</strong><br />
aprendizagem, a interlocução do professor com seus alunos,<br />
coor<strong>de</strong>nadores, equipe multidisciplinar e professor tutor. Além disso,<br />
preten<strong>de</strong> investigar para quem é direcionada a ativida<strong>de</strong> do docente na<br />
modalida<strong>de</strong> EaD. A abordagem teórica está ancorada na perspectiva<br />
250
Resumo dos Trabalhos<br />
enunciativo-discursiva a partir das concepções teórico-metodológicas<br />
<strong>de</strong>senvolvidas pelo Círculo <strong>de</strong> Bakhtin e nas proposições <strong>de</strong> Schwartz<br />
(2007), acerca da abordagem ergológica. Nesse sentido, através da<br />
coleta e da análise dos dados, obtidos por meio da aplicação <strong>de</strong> um<br />
questionário semiestruturado e <strong>de</strong> uma entrevista, espera-se contribuir<br />
para que o docente da modalida<strong>de</strong> EaD redimensione a importância e a<br />
complexida<strong>de</strong> da sua prática profissional e para que a comunida<strong>de</strong><br />
acadêmica reflita sobre impasses e perspectivas da contemporaneida<strong>de</strong><br />
no que se refere ao ensino a distância nos Cursos <strong>de</strong> Licenciatura em<br />
Letras, como é o caso do Português e do Espanhol.<br />
A “LÍNGUA” E A CORRELAÇÃO DE FORÇAS QUE<br />
ATRAVESSAM O DISCURSO DOCENTE<br />
Andréa Pessôa dos Santos<br />
Este estudo tem origem em nossa pesquisa <strong>de</strong> mestrado que objetivou<br />
compreen<strong>de</strong>r os sentidos que os professores dos anos iniciais do ensino<br />
fundamental atribuem ao ensino da língua portuguesa (LP) e o modo<br />
como esses sentidos se relacionavam com os discursos <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong><br />
sobre o tema. Desse modo, no universo dos discursos analisados,<br />
buscamos compreen<strong>de</strong>r os sentidos que os docentes atribuíam: a) a<br />
língua; b) ao professor; c) ao professor <strong>de</strong> LP; d) ao aprendiz da língua<br />
materna e, finalmente, e) ao ensino <strong>de</strong> LP. Sendo assim,<br />
apresentaremos, nesta comunicação, os resultados <strong>de</strong> nossos estudos<br />
sobre os sentidos que os professores atribuíram ao conceito <strong>de</strong><br />
“língua”. A partir da teoria bakhtiniana (BAKHTIN, 2003) buscamos<br />
compreen<strong>de</strong>r as vozes sociais que constituíram os discursos analisados.<br />
Optamos pelo procedimento metodológico do grupo focal (GF), que<br />
recebeu complemento <strong>de</strong> dados gerados através <strong>de</strong> questionários <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação dos 13 professores participantes. Longe <strong>de</strong> ser óbvio o<br />
referido conceito não possui um sentido consensual nem mesmo entre<br />
os <strong>de</strong>tentores do que <strong>aqui</strong> estamos chamando <strong>de</strong> discurso <strong>de</strong><br />
autorida<strong>de</strong>. Os sentidos <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong>sse conceito variam conforme a<br />
perspectiva teórica e à época adotada. Dessa forma, como parâmetros<br />
para as análises empreendidas recorreram às <strong>de</strong>finições <strong>de</strong> “língua”<br />
apontadas por POSSENTI (2003), por julgarmos serem essas<br />
pertinentes aos estudos realizados e pela clareza e objetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua<br />
exposição.<br />
251
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
DISCURSO E PRÁTICAS NO APARELHO ESCOLAR: MODOS<br />
DISTINTOS DE ASSUJEITAMENTO?<br />
Angela Plath Da Costa<br />
Palavras-chave: i<strong>de</strong>ologia; imaginário; i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
Nas atuais condições <strong>de</strong> produção do ensino brasileiro, a Lei<br />
11.645/2008 <strong>de</strong>termina a inclusão <strong>de</strong> estudos sobre a cultura afrobrasileira<br />
e indígena como tema interdisciplinar. A partir daí, buscamos<br />
refletir sobre relações entre o discurso da prática <strong>de</strong> ensino sobre a<br />
religiosida<strong>de</strong> Afro-Brasileira, o discurso da normatização e alguns<br />
aspectos do imaginário <strong>de</strong> divinda<strong>de</strong> que caracteriza as religiões<br />
africanas e as culturas monoteístas. Tomando as noções <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ologia,<br />
sujeito, imaginário e memória, analisamos o discurso do sujeitoprofessor<br />
em duas práticas <strong>de</strong> ensino, trazendo aspectos <strong>de</strong> cunho<br />
histórico-i<strong>de</strong>ológico que marcam a evolução da religiosida<strong>de</strong> egípcia<br />
da África Antiga em direção ao surgimento das crenças monoteístas. A<br />
partir dos mecanismos <strong>de</strong> funcionamento da i<strong>de</strong>ologia e do<br />
inconsciente, na escola são promovidas que tipo <strong>de</strong> relações entre as<br />
formações imaginárias da religiosida<strong>de</strong> afro-brasileira e cristã?<br />
Enten<strong>de</strong>mos, a partir das análises, que discursos-matrizes <strong>de</strong> sentido,<br />
anteriormente oprimidos, silenciados e esquecidos, po<strong>de</strong>m ressurgir<br />
como o discurso nosso, como o discurso-outro ou, ainda, vestindo a<br />
roupagem do exotismo, a partir do posicionamento do sujeitoprofessor.<br />
Essas tomadas <strong>de</strong> posição po<strong>de</strong>m reproduzir ou transformar<br />
sentidos que estão no cerne <strong>de</strong> preconceitos e discriminações quanto à<br />
diversida<strong>de</strong> religiosa, tanto no Brasil como em outros países<br />
colonizados através do regime escravagista.<br />
CRÔNICA "SIMPLICIDADE": UMA PROPOSTA DE ANÁLISE<br />
ENUNCIATIVA<br />
Anna Cervo<br />
A linguagem, para os Parâmetros Curriculares Nacionais é essencial<br />
para a construção da vida social. Esse documento, ainda, sugere que<br />
ensino <strong>de</strong> língua <strong>de</strong>ve ser voltado ao uso, às práticas sociais da língua.<br />
Nesse sentido, a aula <strong>de</strong> língua portuguesa <strong>de</strong>veria estar embasada em<br />
um trabalho <strong>de</strong> interpretação do mundo e participação nele, ou seja,<br />
com foco na ativida<strong>de</strong> discursiva do falante/aluno. Diante disso, este<br />
trabalho visa a um estudo <strong>de</strong> texto em função do uso que o locutor faz<br />
da própria língua. A teoria que embasa este estudo é a <strong>de</strong> Émile<br />
252
Resumo dos Trabalhos<br />
Benveniste, linguista que <strong>de</strong>fine língua como sistema <strong>de</strong> signos, tal<br />
como Saussure. Porém, Benveniste admite um novo elemento, que é a<br />
enunciação, e o <strong>de</strong>fine como ato do locutor que mobiliza o sistema <strong>de</strong><br />
signos, para significar no discurso. Nesse viés, a análise proposta neste<br />
trabalho vai <strong>de</strong> encontro à metalinguagem, presente nas gramáticas, ou<br />
até mesmo nos livros didáticos, nos quais é solicitado ao aluno que<br />
<strong>de</strong>codifique o código escrito, ou ainda, que extraia do texto<br />
<strong>de</strong>terminado significado dado. Esta análise busca mostrar a dupla<br />
significância da língua, ou seja, a combinação dos domínios semiótico e<br />
semântico como construtores do todo da significação. Com isso,<br />
preten<strong>de</strong>mos um estudo voltado ao uso da linguagem nas diversas<br />
situações. Propomos, então, uma extensão da reflexão acerca da teoria<br />
da enunciação <strong>de</strong> Émile Benveniste para o ensino, mostrando que o<br />
sentido <strong>de</strong> um texto não é dado, mas construído a cada enunciação.<br />
EDITORIAIS-ADVÉRBIOS EM EVIDÊNCIA<br />
Antonio Santana Padilha<br />
Misael Krüger Lemes<br />
O texto opinativo apresenta gran<strong>de</strong> incidência <strong>de</strong> advérbios, os quais,<br />
mais do que marcar tempo, espaço ou modo, atuam na composição<br />
argumentativa <strong>de</strong> textos <strong>de</strong>sse tipo. Neste trabalho, foram realizadas<br />
análise <strong>de</strong> editoriais <strong>de</strong> jornais durante trinta dias, quando se constatou<br />
uma gran<strong>de</strong> ocorrência dos diferentes tipos <strong>de</strong> advérbios. Neste tipo <strong>de</strong><br />
texto, os advérbios explicitam a opinião do jornal frente a temas atuais<br />
– sobretudo ligados à economia e à política. O trabalho com os<br />
advérbios não se restringiu à i<strong>de</strong>ntificação e classificação <strong>de</strong>ssa<br />
categoria nos textos, mas, a partir dos fundamentos da Análise do<br />
Discurso Francesa, procurou compreen<strong>de</strong>r seu funcionamento na<br />
construção <strong>de</strong> sentidos do discurso midiático. Ao incorporar elementos<br />
que dizem do sentido, preten<strong>de</strong>-se contribuir com o ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa, integrando o estritamente linguístico, que costuma ser<br />
objeto das práticas pedagógicas da disciplina <strong>de</strong> Língua Portuguesa,<br />
com o discursivo, que esten<strong>de</strong> o olhar à construção <strong>de</strong> sentidos do<br />
texto. Advérbio, discurso, língua-portuguesa<br />
253
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
CORPO E RESISTÊNCIA(S) NA CONSTITUIÇÃO DO<br />
SUJEITO: O DISCURSO DO CORPO NA MARCHA DAS<br />
VADIAS<br />
Augusto Cesar Rad<strong>de</strong> Da Silva<br />
Palavras-chave: corpo, sujeito, discurso<br />
Meu objetivo neste trabalho é o <strong>de</strong> apresentar uma leitura sobre o<br />
estatuto do corpo na constituição do sujeito contemporâneo, a partir <strong>de</strong><br />
uma escuta aos sentidos mobilizados no discurso das militantes do<br />
movimento social Marcha das Vadias. Movimento que surge como<br />
resposta ao discurso machista e no qual as mulheres buscam significarse<br />
pela linguagem e pelo corpo. A base teórica através da qual realizo<br />
esse gesto <strong>de</strong> leitura é a Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa, <strong>de</strong><br />
Michel Pêcheux, a qual concebe um sujeito clivado, assujeitado,<br />
submetido ao próprio inconsciente e às circunstâncias histórico-sociais<br />
que o moldam. Nesse sentido, busco perceber <strong>de</strong> que modo a palavra e<br />
o corpo, simultaneamente, configuram-se como lugares <strong>de</strong> subjetivação<br />
<strong>de</strong>sse sujeito, consi<strong>de</strong>rando o corpo, assim como a linguagem, uma<br />
materialida<strong>de</strong> discursiva que, para além <strong>de</strong> sua composição biológica e<br />
orgânica, significa simbolicamente e manifesta a contradição que<br />
constitui o sujeito do <strong>de</strong>sejo e da i<strong>de</strong>ologia. No referido discurso, o<br />
corpo aparece como um lugar <strong>de</strong> resistência social, bem com um lugar<br />
<strong>de</strong> resistência ao simbólico, um corpo que fala e que falta, o que se<br />
po<strong>de</strong> perceber a partir <strong>de</strong> efeitos <strong>de</strong> sentidos provenientes <strong>de</strong> diferentes<br />
posições e que emergem à revelia do sujeito. Desse modo, o corpo<br />
estaria também funcionando como uma materialida<strong>de</strong> que comporta o<br />
equívoco e a incompletu<strong>de</strong>, configurando-se, ao lado da linguagem,<br />
como um lugar do não-todo, on<strong>de</strong> se inscreve e se constitui o sujeito<br />
contemporâneo.<br />
O DISCURSO CONTRADITÓRIO. UMA ANÁLISE SOBRE OS<br />
PROCESSOS DISCURSIVOS PRESENTES EM PERFIS<br />
NEONAZISTAS NO ORKUT<br />
Avila, Felipe Alves Pereira<br />
O Orkut é um software on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>senvolvem várias práticas discursivas<br />
na e sob a <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> formas históricas <strong>de</strong> existência. Muitos<br />
usuários aproveitam esse meio para se expor, e assim, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r seu<br />
imaginário e/ou aquele almejado pelos visitantes. A principal marca<br />
<strong>de</strong>ssa prática é a volubilida<strong>de</strong> dos sentidos que lhes admite um<br />
254
Resumo dos Trabalhos<br />
(re)arquitetar-se constante em função <strong>de</strong>sse ambiente e das impressões<br />
em mudanças contínuas sobre si. A apresentação no Orkut permite um<br />
efeito <strong>de</strong> autonomia que po<strong>de</strong> ser apontado na formação <strong>de</strong> grupos<br />
radicais, como é o caso dos neonazistas. O trabalho propõe-se a analisar<br />
aspectos subjetivos nos discursos neonazistas a partir <strong>de</strong> contradições<br />
históricas e i<strong>de</strong>ológicas. Em meio a essas contradições, percebe-se a<br />
busca <strong>de</strong> fórmulas fracassadas e até mesmo criminosas que pregam a<br />
discriminação e a reinvenção <strong>de</strong> conceitos nazistas em uma socieda<strong>de</strong><br />
que almeja a preservação dos valores humanos, e não mais tolera o<br />
radicalismo, ou os <strong>de</strong>svarios doutrinários, amplamente rejeitados no<br />
concerto mundial. Tais contradições são observadas a partir dos<br />
elementos da materialida<strong>de</strong> linguística e iconográfica, relacionados com<br />
a memória discursiva. As análises permitem a i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong><br />
representações ligadas a um imaginário, a partir <strong>de</strong> saberes<br />
fragmentários, relacionados a princípios socialistas e comunistas que se<br />
contrapõem ao nazismo. Nelas há uma (<strong>de</strong>s)configuração <strong>de</strong><br />
informações históricas, cujo efeito em sua maioria beira o nonsense"<br />
ZONA RURAL FRONTEIRIÇA CERRILLADA/SERRILHADA:<br />
UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS<br />
Bruna Susel Gulart Antunes<br />
Valesca Brasil Irala<br />
O presente trabalho tem o intuito <strong>de</strong> refletir sobre práticas linguísticas e<br />
discursivas resultantes do contato/conflito entre o português e o<br />
espanhol em zonas <strong>de</strong> fronteira. Para tanto, consi<strong>de</strong>ramos a região <strong>de</strong><br />
Serrilhada (Brasil) ou Cerrillada (Uruguai) – zona fronteiriça rural,<br />
on<strong>de</strong> realizamos entrevistas semi- estruturadas na escola uruguaia da<br />
localida<strong>de</strong>, que aten<strong>de</strong> tanto alunos uruguaios como brasileiros. Do<br />
ponto <strong>de</strong> vista teórico, nos apoiamos nos pressupostos da<br />
historiografia, <strong>de</strong> conceitos relacionados às comunida<strong>de</strong>s fronteiriças<br />
e/ou bilíngues e noções da Análise do Discurso - <strong>de</strong> linha francesa e,<br />
do ponto <strong>de</strong> vista metodológico, na abordagem qualitativa. O estudo<br />
faz-se necessário, <strong>de</strong>ntre tantas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> justificativa, porque<br />
leva em conta o fato <strong>de</strong> a Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa –<br />
UNIPAMPA estar inserida na faixa <strong>de</strong> fronteira, <strong>de</strong>nominada uma<br />
região estratégica que abrange a faixa interna <strong>de</strong> 150 km para <strong>de</strong>ntro do<br />
país ao longo <strong>de</strong> toda a divisa nacional, conforme o Ministério da<br />
Integração Regional (BRASIL, 2005). Assim, torna-se relevante dar<br />
visibilida<strong>de</strong> a questões que submergem a(s) fronteira(s), sobretudo em<br />
255
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
âmbito linguístico, e também consi<strong>de</strong>rando o fato que a socieda<strong>de</strong><br />
brasileira sulina se constituiu tendo a fronteira como referência.<br />
Palavras-chaves: Fronteira. Bilinguismo. Práticas<br />
AS CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DE DISCURSO PARA O<br />
USO DO DICIONÁRIO NO ENSINO DE LÍNGUAS<br />
Camilla Baldicera Biazus<br />
O dicionário é um dos tantos instrumentos linguísticos (gramáticas,<br />
livros didáticos) que fazem parte do dia a dia escolar, responsável por<br />
conduzir o sujeito à norma culta da língua. Faz parte do imaginário<br />
social do aluno e do professor compreen<strong>de</strong>r o dicionário como uma<br />
referência para a socieda<strong>de</strong>, no âmbito da língua, acerca d<strong>aqui</strong>lo que é<br />
ou não é correto. De acordo com Delevati e Petri (2008), o dicionário é<br />
visto como o <strong>de</strong>tentor <strong>de</strong> saber sobre a língua, revelando uma relação<br />
díspar com o falante. Nesta perspectiva, busca-se pensar as possíveis<br />
contribuições que a análise <strong>de</strong> discurso (AD) po<strong>de</strong> trazer para o ensino<br />
<strong>de</strong> línguas, mais especificamente para a utilização do dicionário nas<br />
práticas escolares. Para a análise <strong>de</strong> discurso a língua só po<strong>de</strong> ser<br />
pensada em funcionamento e circulação, isto quer dizer que jamais o<br />
sujeito conseguirá ter acesso à totalida<strong>de</strong> da língua. Assim, segundo<br />
Petri (2011), a língua é tomada pela AD como incompleta e aberta à<br />
exteriorida<strong>de</strong>, sendo constituída pelo sujeito e pela historicida<strong>de</strong>. Neste<br />
sentido, propõe-se que a abordagem <strong>de</strong>sse instrumento linguístico seja<br />
outra, consi<strong>de</strong>rando que não há uma relação direta entre a palavra e<br />
coisa, po<strong>de</strong>ndo o sentido sempre ser outro. No caso do dicionário,<br />
preten<strong>de</strong>-se mostrar que é necessário muito mais do que ensinar o aluno<br />
a manuseá-lo, mas também questioná-lo e vê-lo, por vezes, imperfeito e<br />
falho, a fim <strong>de</strong> compreendê-lo como um instrumento em funcionamento<br />
e constante transformação.<br />
Palavras-chave: dicionário – Análise <strong>de</strong> Discurso – ensino<br />
DIANTE DA LEI. AFLIÇÃO E APRISIONAMENTO AO<br />
PROCESSO<br />
Carme Regina Schons<br />
Lucas Fre<strong>de</strong>rico Andra<strong>de</strong> De Paula<br />
O tema do trabalho constitui um estudo discursivo do gênero conto, <strong>de</strong><br />
Franz Kafka, intitulado “Diante da Lei”. O objetivo central da pesquisa<br />
256
Resumo dos Trabalhos<br />
é analisar, com base no referencial teórico da Análise do Discurso<br />
(AD), diferentes gestos <strong>de</strong> interpretação, com o intuito <strong>de</strong> traçar um<br />
paralelo discursivo entre o gênero literário e uma notícia do jornal<br />
Estadão sobre o modo como os brasileiros têm acesso à justiça. Nosso<br />
interesse é justamente chamar atenção para esse fato e refletir sobre<br />
diferentes formulações que se cruzam em outros discursos – o discurso<br />
transverso, que remete a algo que ressoa no intradiscurso, como se fosse<br />
um implícito do que foi dito em outro lugar. Os procedimentos<br />
metodológicos adotados consistem em i<strong>de</strong>ntificar marcas discursivas<br />
que tracem o percurso do gênero, criado no início do século XX, à<br />
notícia, e são atualizados na contemporaneida<strong>de</strong>. De acordo com<br />
Pêcheux (1995), em regra, o discurso transverso aparece <strong>de</strong> forma não<br />
explícita, é espécie <strong>de</strong> presença-ausente. Constitui-se pelo<br />
atravessamento do interdiscurso que o caracteriza heterogeneamente<br />
como dispositivo organizador <strong>de</strong> pré-construídos. Com tal efeito <strong>de</strong><br />
memória, é possível abordar o conto literário, juntamente com o recorte<br />
noticioso, utilizando uma concepção discursiva para a análise. O corpus<br />
da pesquisa revela similarida<strong>de</strong>s importantes (entre gêneros) que po<strong>de</strong>m<br />
ser expostas metodologicamente, que aquele que aguarda uma sentença<br />
crime, por exemplo, acaba por cumprir uma espécie <strong>de</strong> pena.<br />
ANÁLISE DO PROCESSO DISCURSIVO DA ESCRITA POR<br />
IMAGENS<br />
Carolina Fernan<strong>de</strong>s<br />
RESUMO: O trabalho trata da imagem enquanto materialida<strong>de</strong><br />
discursiva, produtora <strong>de</strong> efeitos <strong>de</strong> sentido e, assim, <strong>de</strong> textualida<strong>de</strong>.<br />
Percebendo a textualida<strong>de</strong> como aborda Gallo (1994), “prática que<br />
produz texto”, e sendo este como <strong>de</strong>fine Orlandi (2008, p.89), “espaço<br />
significante” relacionado com a “representação física da linguagem”<br />
que po<strong>de</strong> ser letra, som, imagem, vejo no texto composto apenas por<br />
imagens uma materialida<strong>de</strong> discursiva passível <strong>de</strong> textualização, ou<br />
ainda, como espaço <strong>de</strong> tessitura conforme o termo proposto por Neckel<br />
(2010). Nesse trabalho, traço consi<strong>de</strong>rações a respeito <strong>de</strong>ssa<br />
materialida<strong>de</strong> segundo textos imagéticos produzidos por alunos do<br />
Ensino Fundamental. A escrita por imagens se torna instigante ao<br />
passo que percebemos a porosida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua aparente transparência.<br />
Palavras-chave: imagem – discurso – escrita.<br />
257
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O IMAGINÁRIO DA LÍNGUA IDEAL E O "DIFERENTE" NA<br />
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
Caroline Foppa Salvagni<br />
SIMPÓSIO: O DISCURSO NO CRUZAMENTO DA HISTÓRIA<br />
COM A LÍNGUA: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE O trabalho busca<br />
i<strong>de</strong>ntificar as formas <strong>de</strong> subjetivação no processo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong><br />
uma língua estrangeira, neste caso o inglês, que se dão a partir do<br />
contato com <strong>aqui</strong>lo que po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado “diferente” do que é<br />
concebido como a língua padrão e que é tornada i<strong>de</strong>al especialmente<br />
nos livros didáticos. Utilizando-se <strong>de</strong> filmes que apresentam o<br />
“diferente” como familiar aos grupos <strong>de</strong> falantes em cena, po<strong>de</strong>rá ser<br />
observada a construção, pelos estudantes, <strong>de</strong> diferentes imagens sobre<br />
expressões e construções sintáticas que circulam com alta frequência<br />
entre falantes nativos, mas que geram estranhamento a alunos <strong>de</strong><br />
diferentes níveis <strong>de</strong> proficiência na língua. Tanto no início do processo<br />
<strong>de</strong> aprendizagem, como em níveis mais avançados, o conhecimento das<br />
estruturas e do funcionamento sintático padrões pouco contribuiu para<br />
a i<strong>de</strong>ntificação e compreensão do “diferente”. Ainda se percebe,<br />
portanto, um distanciamento entre a língua em uso e a língua estudada<br />
em sala <strong>de</strong> aula, mesmo com abordagens que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m uma certa<br />
aproximação, como a abordagem comunicativa e aquela baseada em<br />
tarefas e situações da vida real. "<br />
A INTERSUBJETIVIDADE PELA TEORIA DA<br />
ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA: UMA INFLUÊNCIA<br />
BENVENISTIANA<br />
Christiê Duarte Linhares<br />
Este trabalho tem como objetivo verificar o conceito <strong>de</strong><br />
intersubjetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong>scrito pela Teoria da Argumentação na Língua, <strong>de</strong><br />
Oswald Ducrot e colaboradores, observando a sua importância na<br />
compreensão do discurso. Partindo <strong>de</strong>ssa i<strong>de</strong>ia, verifica-se ainda a<br />
aproximação da Teoria com a Enunciação <strong>de</strong> Benveniste, buscando<br />
suas semelhanças e influências, visto que a Teoria da Argumentação na<br />
Língua tem seus alicerces firmados também em Benveniste. Para isso,<br />
é feita a análise <strong>de</strong> uma crônica, em que se verifica a compreensão da<br />
construção do sentido do discurso através da intersubjetivida<strong>de</strong>."<br />
258
Resumo dos Trabalhos<br />
GESTOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÂO DE DISCURSOS<br />
DE ADOLESCENTES<br />
Cintia Victória De Azambuja<br />
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões acerca da<br />
pesquisa realizada como trabalho final no Curso <strong>de</strong> Pós-Graduação Lato<br />
Sensu em Linguística e Ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa (PGLING). Tratase<br />
<strong>de</strong> um estudo <strong>de</strong>senvolvido a partir do Projeto Ensino <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa como espaço social para manifestação <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ias, no Instituto<br />
Fe<strong>de</strong>ral Sul Riogran<strong>de</strong>nse <strong>de</strong> Pelotas (IF-Sul/Pelotas), com meninos e<br />
meninas moradores das Casas Lares da mesma cida<strong>de</strong>, no período <strong>de</strong><br />
setembro a <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011. É <strong>de</strong> interesse central <strong>de</strong>sta pesquisa a<br />
análise dos discursos acerca do feminino e do masculino como posição<br />
social em narrativas produzidas por estes alunos, bem como a<br />
observação <strong>de</strong> indícios <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong>stes com posições<br />
socialmente aceitas. Isto conduz a pensar sobre quem são os sujeitos<br />
das Casas Lares, quais são as condições <strong>de</strong> produção discursiva e como<br />
são seus gestos <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> interpretação. Preten<strong>de</strong>-se, ainda, refletir<br />
sobre a prática docente neste projeto, buscando perceber como ela<br />
significa para todos os sujeitos envolvidos. A pesquisa filia-se Ã<br />
perspectiva da Teoria da Análise do Discurso <strong>de</strong> linha francesa a partir<br />
<strong>de</strong> Michel Pêcheux. Para o <strong>de</strong>senvolvimento das reflexões, observações<br />
e análises mobilizadas centralmente as noções <strong>de</strong> Sujeito, Discurso,<br />
Leitura e Interpretação.<br />
Palavras-chave: Sujeito; Discurso; Ensino<br />
EFEITOS DE SENTIDO NO DISCURSO DE PROFESSORES DE<br />
LÍNGUA PORTUGUESA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO<br />
NO INTERIOR DE MATO GROSSO<br />
Cláudia Landin Negreiros<br />
Regina Maria Varini Mutti<br />
Palavras-chave: <strong>Educação</strong>; Linguagem; Discurso<br />
Esta comunicação apresenta uma análise inicial, vinculada à pesquisa<br />
<strong>de</strong> doutorado em andamento, a qual está inscrita no campo teórico da<br />
Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa. Objetiva mostrar efeitos <strong>de</strong><br />
sentido no discurso pedagógico, a partir <strong>de</strong> entrevistas realizadas com<br />
os professores que ministram aulas <strong>de</strong> Língua Portuguesa nas escolas<br />
estaduais <strong>de</strong> um município <strong>de</strong> Mato Grosso. As condições <strong>de</strong> produção<br />
do discurso situam um conjunto <strong>de</strong> práticas sociais heterogêneas e em<br />
259
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
movimento, protagonizadas pelos sujeitos-professores nessas escolas,<br />
diversas quanto à localização e características das comunida<strong>de</strong>s<br />
atendidas. Com base no corpus estabelecido para a análise discursiva,<br />
busca-se respon<strong>de</strong>r à questão norteadora: que efeitos <strong>de</strong> sentido são<br />
produzidos pelos sujeitos-professores em seus pronunciamentos a<br />
respeito das práticas pedagógicas efetivadas - e as condições <strong>de</strong><br />
efetivá-las - nas escolas situadas nas diversas localida<strong>de</strong>s do<br />
município? As primeiras análises indicam duas posições bem<br />
marcadas: a do professor efetivo, e a do professor contratado. Essas<br />
posições mostram como esses sujeitos se representam, por meio dos<br />
pronomes, tomados como marcas linguísticas, em dois momentos: 1)<br />
<strong>de</strong> crítica (eu - eu); e 2) <strong>de</strong> elogio (nós/a gente - eu). A partir <strong>de</strong>ssas<br />
posições, aparecem os sentidos da diversida<strong>de</strong>, do currículo e da<br />
formação, implicados na constituição do discurso e do sujeitoprofessor.<br />
Os resultados parecem indicar caminhos para o ensino e a<br />
formação continuada do professor.<br />
A LEITURA DE CHARGES:UMA CONCEPÇÃO DISCURSIVA<br />
Clóris Maria Freire Dorow<br />
O artigo busca analisar a posição do sujeito-leitor ao interpretar uma<br />
charge, sendo necessário consi<strong>de</strong>rar condições vigentes <strong>de</strong> produção,<br />
somando-se a um contexto sócio-histórico,fatores que <strong>de</strong>vem ser<br />
observados no processo <strong>de</strong> interpretação. Numa primeira análise, po<strong>de</strong>se<br />
consi<strong>de</strong>rar duas posições-sujeito: o sujeito-autor, sob a ótica da<br />
posição-sujeito a qual pertence, resgata do interdiscurso enunciados jáditos<br />
e cria um efeito-texto, isto é, imprime à sua produção uma<br />
estrutura <strong>de</strong> início, meio e fim. E esse será lido e interpretado pelo<br />
sujeito-leitor, que é a outra posição-sujeito constatada. Assim, a leitura<br />
é gerada pelas condições <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ste sujeito-leitor, que<br />
também é influenciado pelas formações discursivas que o<br />
constituem. Para buscar sentidos, é preciso a inter<strong>de</strong>pendência com<br />
outras leituras e <strong>de</strong> um conhecimento do contexto sócio-histórico no<br />
qual o texto foi criado. Portanto, para construir sentidos, o<br />
sujeito-leitor vai reconstruir esses percursos <strong>de</strong> interpretação,<br />
fazendo emergir a heterogeneida<strong>de</strong> constitutiva do discurso.Neste<br />
trajeto à procura da significação, o sujeito po<strong>de</strong> produzir algo<br />
novo,re<strong>de</strong>senhando o texto, ao mesmo tempo em que vai gerar outros<br />
sentidos, às vezes antagônicos, às vezes inesperados.<br />
260
Resumo dos Trabalhos<br />
RELAÇÕES DIALÓGICAS EM REVISTA INFANTIL:<br />
EROTIZAÇÃO PRECOCE DE MENINAS<br />
Cristhiane Ferreguett<br />
Palavras-chave; Bakhtin; publicida<strong>de</strong>; erotização precoce; adultização.<br />
As crianças vivem em uma socieda<strong>de</strong> consumista e, bombar<strong>de</strong>adas pela<br />
publicida<strong>de</strong>, passam a ter <strong>de</strong>sejos <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> bens supérfluos que<br />
em sua imaginação irão transformar a sua vida para melhor. Nesse<br />
contexto, o estilo sensual e erótico, mo<strong>de</strong>lo que não tem nada a ver<br />
com a ida<strong>de</strong> emocional e cognitivo da menina, é distorcido em relação<br />
à ida<strong>de</strong> e entra como mais uma forma <strong>de</strong> atração, fascínio e sedução. O<br />
presente trabalho apresenta, sinteticamente, a nossa proposta <strong>de</strong><br />
pesquisa apresentada e aprovada pelo Programa <strong>de</strong> Doutorado<br />
Interistitucional realizado num convênio entre a Pontifícia<br />
Universida<strong>de</strong> Católica do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul - PUC–RS e a<br />
Universida<strong>de</strong> do Estado da Bahia -UNEB. O objetivo geral da pesquisa<br />
é analisar como é construído discursivamente o processo <strong>de</strong><br />
adultização e/ou erotização precoce das meninas <strong>de</strong> 06 a 11 anos <strong>de</strong><br />
ida<strong>de</strong> em diferentes gêneros discursivos contidos na Revista Recreio<br />
Girls. O embasamento teórico utilizado são os pressupostos<br />
apresentados pelo Círculo <strong>de</strong> Bakhtin, em especial os conceitos <strong>de</strong><br />
discurso, gênero discursivo, signo i<strong>de</strong>ológico, relações dialógicas e<br />
compreensão responsiva. As análises serão <strong>de</strong>senvolvidas<br />
qualitativamente, observando os diversos elementos verbais e não<br />
verbais que constituem a revista em apreço.<br />
A ALTERIDADE CONSTITUTIVA DA LINGUAGEM<br />
Cristina Rorig<br />
Joseline Tatiana Both<br />
Palavras-chave: linguagem; enunciação; alterida<strong>de</strong>; sentido.<br />
Neste trabalho, propomos a realização <strong>de</strong> um estudo enunciativoargumentativo<br />
do discurso, por meio da Teoria da Argumentação na<br />
Língua, consi<strong>de</strong>rando que há um princípio da alterida<strong>de</strong> subjacente a<br />
essa teoria. Objetivamos apresentar uma análise que olhe a linguagem<br />
enunciativa e argumentativamente, buscando estabelecer uma nova<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se compreen<strong>de</strong>r a alterida<strong>de</strong> constitutiva do discurso.<br />
Para tanto, tomamos dois textos argumentativos para análise. Como<br />
primeira etapa metodológica, i<strong>de</strong>ntificamos os enca<strong>de</strong>amentos que<br />
constituem os enunciados, formados ou por palavras, ou por sintagmas,<br />
261
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ou por enca<strong>de</strong>amentos <strong>de</strong> enunciados. Em sequência, procuramos<br />
evi<strong>de</strong>nciar as relações constituídas entre esses enca<strong>de</strong>amentos a partir<br />
dos pressupostos da Teoria dos Blocos Semânticos (CAREL;<br />
DUCROT, 2005; DUCROT; CAREL, 2008). Por fim, analisamos as<br />
atitu<strong>de</strong>s do locutor frente aos conteúdos argumentativos e os modos <strong>de</strong><br />
enunciação possibilitados pelo discurso do locutor a fim <strong>de</strong><br />
compreen<strong>de</strong>r seu ponto <strong>de</strong> vista, pela perspectiva da Teoria<br />
Argumentativa Polifônica (CAREL; DUCROT, 2010; CAREL, 2010;<br />
2011a; 2011b). Como conclusão, ao refletir sobre as análises<br />
discursivas, enten<strong>de</strong>mos que o <strong>de</strong>bate polifônico permite compreen<strong>de</strong>r o<br />
sentido do enunciado por sua alterida<strong>de</strong> constitutiva, consi<strong>de</strong>rando que<br />
há um diálogo cristalizado entre vozes correspon<strong>de</strong>ntes aos aspectos<br />
argumentativos em cada discurso. Além disso, observamos que as<br />
análises evi<strong>de</strong>nciam a necessida<strong>de</strong> da compreensão da relação entre as<br />
palavras e os enunciados para a construção do sentido discursivo,<br />
levando ao entendimento do(s) ponto(s) <strong>de</strong> vista com o(s) qual(is) o<br />
locutor se compromete em seu discurso.<br />
INTERAÇÃO NO ESPAÇO EDUCATIVO BINACIONAL:<br />
‘USANDO A LÍNGUA DO OUTRO’<br />
Cristina Zanella Rodrigues<br />
Palavras-chave: Línguas – Discurso – Binacional<br />
O Instituto Fe<strong>de</strong>ral Sul-Rio-Gran<strong>de</strong>nse através <strong>de</strong> uma parceria<br />
internacional com a Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Trabajo <strong>de</strong>l Uruguay, uniu o<br />
campus <strong>de</strong> Santana do Livramento com a Escuela Técnica <strong>de</strong> Rivera<br />
para apresentar a proposta inovadora <strong>de</strong> oferecer o primeiro Curso<br />
Binacional na fronteira sul do Brasil ou na fronteira nor<strong>de</strong>ste do<br />
Uruguai, conforme a perspectiva. Na cida<strong>de</strong> brasileira é oferecido o<br />
curso Técnico <strong>de</strong> Informática para Internet e na cida<strong>de</strong> uruguaia o <strong>de</strong><br />
Control Ambiental. Em ambas as instituições <strong>de</strong> ensino, a sala <strong>de</strong> aula<br />
<strong>de</strong> todas as disciplinas é composta por alunos brasileiros e uruguaios. A<br />
materialização <strong>de</strong>sta proposta é inédita e surge como um<br />
acontecimento que irrompe no âmbito da educação brasileira e<br />
uruguaia, constituindo um espaço on<strong>de</strong> interagem sujeitos que fazem<br />
uso <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> uma língua. Com base teórica na Análise do Discurso,<br />
este trabalho tem por objetivo analisar o corpus constituído pelas provas<br />
da disciplina <strong>de</strong> Inglês Instrumental para Internet, on<strong>de</strong> os alunos<br />
fazem uma escolha sobre a língua que preferem usar ao respon<strong>de</strong>r uma<br />
questão <strong>de</strong> interpretação. Apesar da gran<strong>de</strong> maioria dos brasileiros<br />
262
Resumo dos Trabalhos<br />
escreverem em português e dos uruguaios em espanhol, surgiram<br />
enunciados com diferentes registros discursivos, em que brasileiro<br />
escreve em inglês, e uruguaios em português, e a partir <strong>de</strong>ste recorte se<br />
analisou o processo <strong>de</strong> inscrição do sujeito em discursivida<strong>de</strong>s da<br />
língua do outro.<br />
A PRESENÇA DE SAUSSURE E BENVENISTE NA TEORIA DO<br />
RITMO DE HENRI MESCHONNIC<br />
Daiane Neumann<br />
O estudioso da enunciação, Henri Meschonnic, no <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
"Teoria do ritmo", apresenta sua filiação aos estudiosos da linguagem,<br />
Wilhelm von Humboldt, Émile Benveniste e Ferdinand <strong>de</strong> Saussure. O<br />
objetivo do trabalho que ora apresentamos é discutir <strong>de</strong> que forma o<br />
pensamento <strong>de</strong> Benveniste e Saussure se apresentam na teoria do ritmo<br />
<strong>de</strong>senvolvida por Meschonnic, a fim <strong>de</strong> apresentar uma leitura<br />
epistemológica <strong>de</strong>sta teoria, bem como ampliar as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
leitura e compreensão da obra <strong>de</strong> Benveniste e Saussure, na medida em<br />
que estaremos explicitando as particularida<strong>de</strong>s da leitura feita por<br />
Meschonnic da obra <strong>de</strong> Émile Benveniste e Ferdinand <strong>de</strong> Saussure.<br />
DA ASSISTÊNCIA À INCLUSÃO SOCIAL: REFLEXÕES<br />
ACERCA DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DISCURSIVA NO<br />
EMPREENDIMENTO VILLAGET<br />
Darlene Arlete Webler<br />
Palavras-chave: Condições <strong>de</strong> Produção – Formação Discursiva –<br />
Discurso<br />
Este estudo se inscreve na Teoria da Análise do Discurso, a partir <strong>de</strong><br />
Michel Pêcheux, e toma como foco as práticas discursivas sobre a<br />
inclusão social, produzidas por sujeitos inseridos no empreendimento<br />
sócio-inclusivo “VillaGet”, no Bairro Canudos, em Novo Hamburgo /<br />
RS. Trata-se <strong>de</strong> um empreendimento que surgiu em um contexto <strong>de</strong><br />
alto índice <strong>de</strong> violência e <strong>de</strong>pendência química, com uma metodologia<br />
<strong>de</strong> intervenção nesta realida<strong>de</strong> sócio- cultural, através da organização<br />
cooperativa <strong>de</strong> jovens para produção <strong>de</strong> calçados com <strong>de</strong>sign e base<br />
tecnológica <strong>de</strong> conceito sustentável e reaproveitamento <strong>de</strong> materiais.<br />
Consi<strong>de</strong>rando que é uma experiência que se propõe a <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar um<br />
processo emancipatório, buscamos tecer reflexões acerca das condições<br />
263
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>de</strong> produção dos discursos <strong>de</strong> sujeitos inseridos neste empreendimento<br />
sobre a inclusão social, observando aspectos <strong>de</strong> heterogeneida<strong>de</strong><br />
discursiva, a partir <strong>de</strong> Pêcheux (1987) e <strong>de</strong> Courtine (1981). Foram<br />
mobilizadas centralmente as noções <strong>de</strong> Condições <strong>de</strong> Produção do<br />
Discurso, Formação Discursiva, Discurso, Sentido e Sujeito. As<br />
sequências discursivas analisadas foram recortadas <strong>de</strong> <strong>de</strong>poimentos e<br />
entrevistas, bem como <strong>de</strong> documentos da VillaGet.<br />
BENZEDURAS: TRADIÇÃO POPULAR CUJOS SENTIDOS<br />
ENTRELAÇAM SIGNOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS"<br />
Deije Machado De Moura<br />
Palavras-chave: Benzeduras. Tradição popular. Signos verbais e nãoverbais.<br />
Construção <strong>de</strong> sentido.<br />
De acordo com os estudos bakhtinianos, os signos não-verbais banham<br />
os signos verbais <strong>de</strong> sentidos, e estes ratificam a idéia <strong>de</strong> que a língua<br />
não é um sistema imutável.. Tomando estas afirmativas como<br />
pressupostos, este trabalho estuda o sentido <strong>de</strong> lexias, símbolos e<br />
gestos que permeiam as benzeduras, uma vez que tal prática não se<br />
limita aos textos que são transmitidos <strong>de</strong> pessoa para pessoa, mas<br />
também ao uso <strong>de</strong> objetos como ramos, pedras, terços, água, sal, óleo,<br />
entre outros, e alguns gestos. Os dados obtidos para análise são<br />
resultados <strong>de</strong> informações apresentadas em entrevistas por benze<strong>de</strong>iros<br />
do Recôncavo Baiano. Os estudos ratificam a idéia <strong>de</strong> que a palavra é<br />
um signo i<strong>de</strong>ológico por excelência, por isto ela registra as menores<br />
variações das relações sociais. E, já que tudo que é i<strong>de</strong>ológico, possui<br />
um significado e remete a algo situado fora <strong>de</strong> si mesmo, então um<br />
instrumento po<strong>de</strong> ser convertido em um signo i<strong>de</strong>ológico; o signo não<br />
existe por si mesmo, há sempre uma interação <strong>de</strong>le com o mundo.<br />
OS DIFERENTES SILENCIAMENTOS NO DISCURSO<br />
POLÍTICO<br />
Denise Machado Pinto<br />
Palavras-chave: Silêncio, Sentido, Discurso Político.<br />
O trabalho proposto tem como objetivo analisar, à luz da Análise do<br />
Discurso <strong>de</strong> linha francesa, a maneira como é concebido o silêncio na<br />
produção <strong>de</strong> sentidos <strong>de</strong> uma entrevista feita com o atual prefeito da<br />
cida<strong>de</strong> do Rio Gran<strong>de</strong> (RS), postada no blog olhardarua.com, no último<br />
264
Resumo dos Trabalhos<br />
27 <strong>de</strong> março. A matéria publicada com o título “Entrevista com o<br />
prefeito <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong>, Fábio Branco” teve uma boa repercussão<br />
midiática, não apenas por se tratar <strong>de</strong> uma entrevista sobre o sistema <strong>de</strong><br />
transporte coletivo do município <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> realizada durante a CPI<br />
dos transportes, mas também pela postura do entrevistado que,<br />
conforme autora do blog, Daniela <strong>de</strong> Bem: “<strong>de</strong>stoou da <strong>de</strong> todas as<br />
autorida<strong>de</strong>s que entrevistei”. Uma vez que se trata <strong>de</strong> um corpus <strong>de</strong><br />
análise bastante extenso (14min e 22 seg <strong>de</strong> entrevista), foi necessário<br />
fazer três recortes para melhor analisá-lo, buscando, assim,<br />
compreen<strong>de</strong>r os processos <strong>de</strong> significação dos silenciamentos e<br />
perceber como esses efeitos <strong>de</strong> sentido po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>monstrar <strong>de</strong>terminados<br />
efeitos i<strong>de</strong>ológicos e, em consequência disso, apagar outros. Como<br />
base teórica <strong>de</strong> análise, temos Orlandi (2007), a qual nos apresenta o<br />
silêncio como fundante, ou seja, como princípio <strong>de</strong> toda significação,<br />
que não <strong>de</strong>ve ser pensado <strong>de</strong> maneira negativa, como uma falta no<br />
discurso, um vazio sem significação ou ainda como um implícito, pois,<br />
estando no recorte entre o dito e o não-dito, o silêncio se apresenta<br />
como <strong>de</strong>riva dos sentidos das palavras para aí po<strong>de</strong>r significar.<br />
A FRONTEIRA PELA PERSPECTIVA DO ENSINO:<br />
IMAGINÁRIOS, CURRÍCULO E ATITUDES<br />
Douglas Lemos De Quadros<br />
Valesca Brasil Irala<br />
Neste trabalho, temos o intuito <strong>de</strong> relatar a experiência <strong>de</strong> um conjunto<br />
<strong>de</strong> oficinas pedagógicas realizadas nos municípios <strong>de</strong> Bagé, Caçapava<br />
do Sul e São Gabriel (localizados na meta<strong>de</strong> sul do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul),<br />
no âmbito do Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsas <strong>de</strong> Iniciação à Docência<br />
(PIBID/CAPES) no ano <strong>de</strong> 2011, nas quais viabilizamos ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
sensibilização sobre a questão fronteiriça junto a docentes da<br />
<strong>Educação</strong> Básica <strong>de</strong> diferentes áreas do conhecimento, entendida como<br />
um tema transversal e interdisciplinar relevante para os contextos<br />
educativos em questão, porém, pouco <strong>de</strong>batido nas diferentes esferas,<br />
tanto na formação inicial <strong>de</strong> professores quanto nos currículos<br />
escolares. Com essas oficinas, buscamos a <strong>de</strong>snaturalização das<br />
vivências e das práticas proporcionadas pela experiência ímpar <strong>de</strong><br />
(con)vivermos nesse espaço chamado “fronteira”, promovendo uma<br />
reflexão substancial junto aos docentes, via uma formação dialógica,<br />
primeiro a respeito dos imaginários sociais (cf. IRALA, 2007)<br />
encontrados no senso comum a respeito da fronteira e <strong>de</strong> seus<br />
265
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
habitantes. A partir disso, <strong>de</strong>sconstruir tais imaginários via o trabalho<br />
pedagógico junto aos seus alunos da <strong>Educação</strong> Básica, contribuindo<br />
assim, mesmo que <strong>de</strong> forma incipiente, para uma revisão na i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
currículo enquanto repetição <strong>de</strong> discursos hegemônicos, no qual a<br />
intenção política é reforçar tanto a produção centralizada do Estado,<br />
quanto a visão eurocêntrica <strong>de</strong> mundo (cf. LOPES, 2006; SILVA,<br />
2007). Analisamos, neste trabalho, as tentativas dos docentes<br />
participantes das oficinas em tentarem planejar a respeito <strong>de</strong>ssa<br />
temática para trabalhá-la em suas escolas, embora tenhamos<br />
i<strong>de</strong>ntificado em seu planejamento inicial o quão complexo é a ruptura<br />
com imaginários e atitu<strong>de</strong>s pré-concebidas.<br />
IMAGENS QUE ENUNCIAM: O VERBAL E O NÃO-VERBAL<br />
NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM<br />
É<strong>de</strong>rson Luís Da Silveira<br />
Palavras-chave: Sujeito. Imagem. Interpretação.<br />
O presente trabalho se insere no campo dos estudos discursivos e tem<br />
por objeto discutir as relações entre sujeito, imagem e interpretação.<br />
Para isso, procura-se perceber como ocorre a produção <strong>de</strong> significações<br />
a partir do discurso não-verbal <strong>de</strong> representação nos processos <strong>de</strong><br />
ensino-aprendizagem. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar, neste contexto, as posiçõessujeito<br />
que se alternam, no sentido <strong>de</strong> acentuar que as posições <strong>de</strong> autor<br />
e leitor nos processos <strong>de</strong> significações se revezam entre o criador da<br />
imagem e o leitor, sendo que o próprio autor da charge já é seu leitor<br />
enquanto sujeito social e historicamente situado no discurso. Desse<br />
modo, <strong>aqui</strong> procuramos <strong>de</strong>stacar como o estudante percebe o discurso<br />
verbal e suas representações que ocorrem na socieda<strong>de</strong> enquanto lugar<br />
<strong>de</strong> práticas discursivas. Neste trabalho, busca-se ainda refletir sobre o<br />
que é o verbal e o não-verbal e seus efeitos <strong>de</strong> sentido nos/produzidos<br />
pelos discursos.<br />
ESCOLAS DE FRONTEIRA NUMA PERSPECTIVA<br />
INTERCULTURAL<br />
Eliana Rosa Sturza<br />
As fronteiras nos últimos tempos têm sido tema <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate em várias<br />
dimensões, em especial, sobre as políticas linguísticas e sua relação<br />
com as políticas educacionais. Consi<strong>de</strong>rado um espaço tão complexo e<br />
diverso para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> políticas educacionais, as fronteiras<br />
266
Resumo dos Trabalhos<br />
têm hoje projetos e experiências na área educacional que buscam tornálas<br />
um lugar menos periférico. As fronteiras, na maioria das vezes, são<br />
apresentadas por suas características geopolíticas; no entanto, no que se<br />
refere às políticas linguísticas e sua relação com as políticas<br />
educacionais, é preciso tomar fronteira por outras possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
enfoque. Neste caso, uma perspectiva intercultural po<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r às<br />
realida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> “situações <strong>de</strong> fronteira”, ou seja, cada<br />
fronteira se configura <strong>de</strong> um modo distinto e suas condições sóciohistóricas<br />
e políticas estão <strong>de</strong>terminadas por dinâmicas diversas, que<br />
vão <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sua relação com as políticas do estado nacional até suas<br />
práticas locais.<br />
MIDIATIZAÇÃO DO CÂNCER: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS<br />
EM REVISTAS SEMANAIS<br />
Élida Lima<br />
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar as primeiras<br />
reflexões <strong>de</strong> uma pesquisa ainda em fase inicial que busca observar as<br />
formas <strong>de</strong> apresentação <strong>de</strong> notícias sobre o câncer nas revistas Veja,<br />
Época e Isto É. Com o intuito <strong>de</strong> realizar tal estudo, <strong>de</strong>finimos pela<br />
observação <strong>de</strong> textos do gênero informativo, tendo como pressupostos<br />
teóricos estudos da comunicação (Braga (2010, 2011), Ferreira (2011),<br />
Heberlê (2006), Scalzo (2006)) em interlocução com a linguística<br />
(Bakhtin (1952-1953/2003), Charau<strong>de</strong>au (2006), Di Fanti (2006)).<br />
Consi<strong>de</strong>ramos que tais estudos referenciais po<strong>de</strong>rão oferecer subsídios<br />
para nossa pesquisa, permitindo percepções sobre as estratégias<br />
discursivas adotadas para publicação das notícias, consi<strong>de</strong>rando a<br />
tensão existente entre o campo midiático e o campo científico (saú<strong>de</strong>) e<br />
observando questões relativas às esferas pública e privada. Para tanto,<br />
buscamos estabelecer categorias analíticas que contemplem aspectos<br />
verbais e não- verbais. Compreen<strong>de</strong>mos que um processo <strong>de</strong><br />
midiatização afeta a forma como as instituições e seus agentes<br />
apresentam o tema na esfera pública, buscando uma reestruturação dos<br />
discursos a fim <strong>de</strong> se a<strong>de</strong>quar às lógicas midiáticas. A questão é se o<br />
campo científico tem seus discursos suficientemente midiatizados para<br />
manter a posição referencial sobre o tema, fazendo frente aos sujeitos<br />
<strong>de</strong> campos já impregnados pela cultura da mídia.<br />
AUTOMÓVEL E ADESIVO: A EVIDÊNCIA DE UMA NOVA<br />
SUBJETIVIDADE<br />
267
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Elisane Pinto Da Silva Machado De Lima<br />
Palavras-chave: a<strong>de</strong>sivos – discurso – subjetivida<strong>de</strong><br />
Andando-se pelas ruas das cida<strong>de</strong>s, é-se constantemente surpreendido<br />
por dizeres textualizados em automóveis, os quais, compreen<strong>de</strong>ndo um<br />
modo <strong>de</strong> (se) dizer do sujeito contemporâneo, são elementos <strong>de</strong><br />
constituição do discurso urbano. Seguindo-se a linha teórica da Análise<br />
<strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa, não se enten<strong>de</strong> o a<strong>de</strong>sivo como uma<br />
forma <strong>de</strong> comunicação, mas como uma forma <strong>de</strong> significação em que<br />
posições discursivas resultantes da inscrição dos sujeitos em diferentes<br />
formações discursivas estabelecem o dizer. Interpelados pelo<br />
individualismo contemporâneo, sujeitos isolam-se <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> seus carros<br />
<strong>de</strong>lineando, no trânsito, uma espécie <strong>de</strong> luta que não prevê vencedores,<br />
mas que abre espaço para a <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> potencialida<strong>de</strong>s. Em face<br />
disso, num movimento paradoxal, os mesmos sujeitos que estabelecem<br />
o outro como adversário resistem ao individualismo e passam a se<br />
visibilizar, a empreen<strong>de</strong>r algum tipo <strong>de</strong> contato, dizendo-se ao outro,<br />
convocando-o ao laço social. Em virtu<strong>de</strong> do assujeitamento a uma<br />
formação discursiva tecnológica, o que resulta na emersão <strong>de</strong> uma<br />
nova subjetivida<strong>de</strong>, o humano, ainda que sujeitado à máquina, o que é<br />
resultado da fusão sujeito-automóvel, não se cala, significando-se<br />
frente ao outro através do a<strong>de</strong>sivo, objeto simbólico resultante da<br />
relação do sujeito com sua memória. Os a<strong>de</strong>sivos são, pois, a forma<br />
encontrada por essa subjetivida<strong>de</strong> humano-maquínica para se dizer e<br />
(se) significar.<br />
A POSSE DE DILMA ROUSSEFF NA PRESIDÊNCIA DO PAÍS:<br />
UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO OU ENUNCIATIVO?<br />
Ercilia Ana Cazarin<br />
O texto situa-se no campo do discurso político e inscreve-se, na Linha<br />
<strong>de</strong> pesquisa “Texto, discurso e relações sociais” do Programa <strong>de</strong> Pós-<br />
Graduação em Letras. Tendo a Análise do Discurso como sustentação<br />
teórica, ocupa-se em compreen<strong>de</strong>r se a posse <strong>de</strong> Dilma Rousseff na<br />
Presidência do País (2011) se constituiu como um acontecimento<br />
discursivo ou enunciativo. A questão que nos instiga é se o fato <strong>de</strong> ela<br />
ter sido a primeira mulher a ocupar o lugar da presidência, nos<br />
permitiria afirmar que estaríamos diante <strong>de</strong> um acontecimento<br />
discursivo nos mol<strong>de</strong>s do que preceitua Pêcheux (1990) em Discurso:<br />
estrutura ou acontecimento. A partir do até <strong>aqui</strong> analisado, queremos<br />
268
Resumo dos Trabalhos<br />
crer que, diferentemente da posse <strong>de</strong> Lula em 2003 - segundo Indursky<br />
(2003), um acontecimento discursivo -, a posse <strong>de</strong> Dilma, embora<br />
instaure uma reorganização <strong>de</strong> saberes não chega a estabelecer uma<br />
ruptura no discurso a ponto <strong>de</strong> instaurar um acontecimento discursivo.<br />
Nosso entendimento é o <strong>de</strong> que, no caso <strong>de</strong> Dilma, estaríamos frente a<br />
um acontecimento enunciativo Indursky (2008), a partir do qual saberes<br />
e sentidos se movimentam no interior do discurso presi<strong>de</strong>ncial.<br />
A IMAGEM DO ALOCUTÁRIO CONSTRUÍDA<br />
LINGUISTICAMENTE PELO LOCUTOR<br />
Érica Krachefski Nunes<br />
A proposta do presente trabalho é estudar a imagem do alocutário<br />
construída linguisticamente pelo locutor no discurso. Para realizar tal<br />
estudo, utilizamos como fundamentação teórica a Teoria da<br />
Argumentação na Língua (ANL), especificamente a sua atual fase, a<br />
Teoria dos Blocos Semânticos (TBS), <strong>de</strong>senvolvida por Oswald Ducrot<br />
e colaboradores. Nosso objetivo é verificar <strong>de</strong> que forma o locutor<br />
apresenta seu ponto <strong>de</strong> vista a respeito do alocutário. O objetivo foi<br />
<strong>de</strong>finido levando em consi<strong>de</strong>ração a noção <strong>de</strong> enunciação proposta por<br />
Ducrot. Para o teórico, a enunciação é o surgimento do enunciado, e o<br />
sentido do enunciado é a representação da enunciação. O enunciado é<br />
produzido por um locutor que se dirige a um alocutário, sendo o<br />
locutor e o alocutário seres <strong>de</strong> fala do discurso. Para tanto, é analisada<br />
uma tira do personagem Hagar, o horrível.<br />
O DISCURSO CITADO E AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO<br />
EM PUBLICIDADES DE BRINQUEDOS<br />
Geni Van<strong>de</strong>rléia Moura Da Costa<br />
Palavras-chave: discurso citado. Representações <strong>de</strong> gênero. Postulados<br />
bakhtinianos<br />
Tendo como escopo teórico o discurso citado da teoria bakhtiniana, este<br />
artigo objetiva abordar a relação intrínseca entre o enunciado e as<br />
representações <strong>de</strong> gênero (<strong>de</strong>signando as diferenças entre homens e<br />
mulheres) em publicida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> brinquedos. Para Bakhtin (2006) a<br />
linguagem, assim como as relações humanas, é dialógica, uma vez que<br />
ninguém po<strong>de</strong> produzi-las sozinho, pressupondo a existência <strong>de</strong> um<br />
locutor e um interlocutor que reage <strong>de</strong> forma responsiva. Os<br />
269
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
enunciados nascem da relação com o “eco dos discursos alheios” e<br />
mantêm vivas outras relações com outros discursos alheios,<br />
in<strong>de</strong>finidamente. O texto publicitário é um espaço privilegiado <strong>de</strong><br />
jogos <strong>de</strong> enunciados, impregnados <strong>de</strong> vozes sociais, nos quais os<br />
diferentes discursos revelam os valores e o universo do consumidor,<br />
incluindo construções sociais que visem à manutenção <strong>de</strong> relações <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r e <strong>de</strong> mentalida<strong>de</strong>s conservadoras. O locutor utiliza-se do<br />
discurso citado, constituído a partir do outro, geralmente uma criança<br />
feliz que brinca com objetos visto como a<strong>de</strong>quados pelo meio social<br />
mais amplo e a situação social mais imediata que o <strong>de</strong>terminam.<br />
Mantendo seu objetivo original <strong>de</strong> promover a <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> um<br />
produto, i<strong>de</strong>ia ou serviço, a publicida<strong>de</strong> apoia- se em estratégias que<br />
associam o brinquedo a certos valores que permeiam o imaginário da<br />
satisfação da criança e o sucesso social dos pais. Buscando exemplos<br />
na internet, po<strong>de</strong>-se observar que a maioria das publicida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
brinquedos infantis reforça estereótipos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> sexual:<br />
brinquedos <strong>de</strong> meninas e brinquedos <strong>de</strong> meninos. Raros são os esforços<br />
<strong>de</strong> oposição ao discurso sexista neste tipo <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong>. Busca-se,<br />
<strong>aqui</strong>, exercer um olhar mais crítico para dissociar os fios i<strong>de</strong>ológicos<br />
<strong>de</strong>stas falsas sensações provocadas pelo discurso citado na publicida<strong>de</strong>.<br />
ESCRITA ESTRANHA: INTERFERÊNCIA E REVERBERAÇÃO<br />
Giovani Forgiarini Aiub<br />
A escrita em língua estrangeira causa, principalmente quando do início<br />
do processo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong>sta língua outra, embates, choques,<br />
colisões que, por sua vez, geram uma escrita estranha. Tendo como<br />
pressuposto o sujeito constituído pela linguagem e, sendo a língua<br />
materna a responsável por sua estruturação, há, inevitavelmente,<br />
colisões entre a língua materna e o <strong>de</strong>sassossego causado pelo contato<br />
acentuado com uma língua estrangeira: a forasteira que insiste em<br />
perturbar. Desse modo, este trabalho se alicerça na teoria da Análise do<br />
Discurso (AD) para investigar como que as historicida<strong>de</strong>s das línguas<br />
em jogo (a materna língua portuguesa e a estrangeira língua inglesa)<br />
entram em conflito fazendo com que o sujeito-aprendiz produza este<br />
tipo <strong>de</strong> escrita. As análises, provenientes <strong>de</strong> textos escritos por<br />
aprendizes <strong>de</strong> língua inglesa como língua estrangeira, apontam a<br />
presença da língua materna na escrita nessa língua, <strong>de</strong> tal modo que há<br />
um imbricamento entre elas. Em alguns campos <strong>de</strong> estudos da<br />
linguagem, a interferência da língua materna na escrita em língua<br />
270
Resumo dos Trabalhos<br />
estrangeira é vista sob uma ótica estritamente sistêmica, levando em<br />
conta principalmente estruturas morfológicas e sintáticas. Já as<br />
interferências <strong>de</strong> cunho semântico são vistas como reverberação. Desse<br />
modo, enquanto que a interferência é da or<strong>de</strong>m do erro, a reverberação<br />
é da or<strong>de</strong>m do equívoco e é constitutiva do processo <strong>de</strong> aprendizagem.<br />
ARQUIVO, MEMÓRIA E AUTORIA: DISCURSOS SOBRE<br />
PRIVACIDADE NA WEB<br />
Glaucia Da Silva Henge<br />
Neste trabalho, tomamos como objeto <strong>de</strong> análise os discursos sobre<br />
privacida<strong>de</strong> no ciberespaço, partindo das condições <strong>de</strong> produção nas<br />
quais emerge a política <strong>de</strong> privacida<strong>de</strong> do Google e configurando nosso<br />
dispositivo teórico-metodológico em torno do trabalho da memória<br />
sobre o arquivo através da autoria. Assim o fazemos pelo<br />
intrincamento da história e da i<strong>de</strong>ologia, na língua, através das<br />
ressonâncias parafrásticas que tais discursos estabelecem com outros<br />
discursos, via memória discursiva, oriundos do interdiscurso. Para<br />
tanto, convocamos a noção <strong>de</strong> contradição, também constitutiva, que<br />
estabelece embates, repetições, <strong>de</strong>slocamentos, no funcionamento do<br />
processo <strong>de</strong> (re)produção/<strong>de</strong>slocamento dos sentidos em torno do que<br />
Vaidahyanathan (2011) enuncia como “a googlelização <strong>de</strong> tudo”.<br />
Sendo a língua o lugar material dos discursos e o arquivo um sistema <strong>de</strong><br />
aproximação dos enunciados, propomos, portanto, uma<br />
problematização das relações entre arquivo, memória e autoria,<br />
tomando diferentes materialida<strong>de</strong>s e analisando os modos <strong>de</strong> repetição<br />
<strong>de</strong> enunciados no que se configura, a princípio, como um<br />
acontecimento discursivo, ou seja, um encontro <strong>de</strong> uma atualida<strong>de</strong> e<br />
uma memória (PÊCHEUX, 2006).<br />
LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: A PARTICIPAÇÃO DO<br />
LINGUISTA<br />
Graziela Lucci De Angelo<br />
Palavras-chave: Livro didático; Língua portuguesa; Linguista<br />
Nos fins dos anos 1970 emerge, na esfera acadêmica, o discurso da<br />
mudança, produzido em função do interesse da ciência linguística pelas<br />
questões relacionadas ao ensino <strong>de</strong> língua portuguesa (Pietri, 2003).<br />
Nesse discurso o livro didático <strong>de</strong>ssa disciplina foi avaliado<br />
271
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
negativamente e, em seu lugar, foi proposto um trabalho a ser realizado<br />
pelo professor, tomando por base as necessida<strong>de</strong>s dos alunos. Nas<br />
últimas décadas, entretanto, na contramão <strong>de</strong>sse discurso, não só as<br />
coleções didáticas continuaram a ter espaço no ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa como também algumas incluíram, recentemente, a figura <strong>de</strong><br />
um linguista (renomado) como autor do livro didático. Tal situação nos<br />
leva a perguntar: Que dizer é produzido hoje pelo linguista sobre o<br />
ensino <strong>de</strong> língua quando elaborador do livro didático? Que ensino é<br />
projetado? Que relação entre linguista, ensino <strong>de</strong> língua portuguesa e<br />
livro didático se estabelece? Como o ensino projetado se articula com a<br />
tradição <strong>de</strong>sse ensino e com o discurso da mudança? Que efeitos <strong>de</strong><br />
sentido po<strong>de</strong>riam advir hoje da presença <strong>de</strong> um linguista renomado<br />
como autor <strong>de</strong> uma coleção didática no processo <strong>de</strong> ensino da língua<br />
portuguesa? Para comunicação apresentaremos reflexões <strong>de</strong> uma<br />
pesquisa em andamento, tomando como corpus <strong>de</strong> análise o livro<br />
didático Português: contexto, interlocução e sentido, Editora Mo<strong>de</strong>rna.<br />
O DISCURSO MACHISTA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO<br />
DE FAMÍLIA<br />
Gustavo Kratz Gazalle<br />
Comunicação acerca <strong>de</strong> projeto <strong>de</strong> tese que visa analisar o discurso<br />
machista nos processos <strong>de</strong> direito <strong>de</strong> família na Comarca <strong>de</strong> Pelotas.<br />
Analisar o discurso machista que se verifica, ao se realizar o estudo da<br />
questão do gênero no Brasil, ainda um traço característico da<br />
socieda<strong>de</strong>, que permeia os conflitos <strong>de</strong> direito <strong>de</strong> família e se reflete no<br />
comportamento processual e pessoal <strong>de</strong> homens e mulheres. Quando se<br />
estabelece o litígio acerca da separação do casal, pensão alimentícia,<br />
guarda e visitação dos filhos, o machismo apresenta- se patente. Isso<br />
implica investigar, à luz da base teoria da análise do discurso, os<br />
reflexos concretos produzidos pelo discurso machista presente na<br />
compreensão <strong>de</strong> mundo e nas relações interpessoais <strong>de</strong> homens e<br />
mulheres - e como essa compreensão se reflete nos conflitos <strong>de</strong> família,<br />
especialmente nos processos judiciais, através das petições dos<br />
advogados.<br />
ENTRE FORMA E SENTIDO: A RELAÇÃO ENTRE AS<br />
ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS E OS TIPOS DE<br />
ARGUMENTOS<br />
272
Resumo dos Trabalhos<br />
Heloísa Neuhaus<br />
Palavras-chave: forma, sentido, orações subordinadas adverbiais e<br />
Enunciação.<br />
Este trabalho tem como objetivo relacionar as orações subordinadas<br />
adverbiais à noção perelmaniana dos tipos <strong>de</strong> argumentos. A partir das<br />
orações subordinadas adverbiais, uma área pouco explorada pela<br />
Linguística da Enunciação, se questiona a existência da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
atrelá-las a noção perelmaniana <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> argumentos. Em Perelman<br />
(2005), se classifica a tipologia <strong>de</strong> argumentos conforme os sentidos <strong>de</strong><br />
um dado enunciado, sem um enfoque nos efeitos da materialida<strong>de</strong><br />
linguística. Por outro lado, a Linguística da Enunciação e a<br />
Argumentação Linguística enfocam nos sentidos que <strong>de</strong>terminada<br />
materialida<strong>de</strong> linguística (forma) produz. Mediante a intersecção <strong>de</strong>stas<br />
áreas <strong>de</strong> estudo que tratam <strong>de</strong> forma e sentido, po<strong>de</strong>-se pensar se há um<br />
vinculo entre Argumentação e os mecanismos linguísticos que<br />
compõem as orações subordinadas adverbiais e <strong>de</strong>ste modo relacionar<br />
tais orações aos tipos <strong>de</strong> argumentos. Quanto ao referencial teórico, este<br />
estudo vincula-se à Argumentação Retórica, à Argumentação<br />
Linguística e à Linguística da Enunciação e terá como fundamentação<br />
os seguintes autores: Perelman (2005), Ducrot (1987 e 2009),<br />
Benveniste (1995). Com as reflexões <strong>de</strong>ste estudo, po<strong>de</strong>-se pensar na<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> relacionar o ensino tanto em língua materna como em<br />
língua estrangeira das orações subordinadas a Argumentação. Isto,<br />
<strong>de</strong>monstrando a dinâmica dos mecanismos linguísticos que compõem<br />
as orações subordinadas adverbiais no uso que os alunos fazem da<br />
língua ao argumentar.<br />
UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA SOBRE A IMAGEM DO<br />
SUJEITO-PROFESSOR CONSTITUTIVA NO PROCESSO DE<br />
DISCIPLINARIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIO<br />
Ieda Márcia Donati Linck<br />
Palavras-chave: Língua. Sujeito. Discurso.<br />
Este texto apresenta parte do projeto <strong>de</strong> Tese “Uma perspectiva<br />
discursiva sobre a imagem do sujeito-professor constitutiva no processo<br />
<strong>de</strong> disciplinarização do Estágio Supervisionado nos Cursos <strong>de</strong> Letras<br />
no Brasil” a ser <strong>de</strong>senvolvido <strong>de</strong> 2012 a 2014, no Programa <strong>de</strong> Pós-<br />
Graduação em Letras (PPGL), do Centro <strong>de</strong> Artes e Letras (CAL) da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria (UFSM), na área <strong>de</strong> Estudos<br />
273
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Linguísticos, vinculado à linha <strong>de</strong> pesquisa “Língua, Sujeito e<br />
História”, sob orientação da professora Amanda Eloina Scherer. Nesse<br />
vínculo, buscamos compreen<strong>de</strong>r como se constitui a imagem <strong>de</strong><br />
sujeito-professor, a partir das relações <strong>de</strong> formações imaginárias<br />
(PÊCHEUX, 1993 [1975]), no processo discursivo em que se inscreve a<br />
disciplinarização do estágio supervisionado. Para tanto, tomamos como<br />
base teórica a Análise do Discurso (AD) <strong>de</strong> linha pecheutiana, tal como<br />
vem sendo <strong>de</strong>senvolvida no Brasil, na sua articulação com a História<br />
das I<strong>de</strong>ias Linguísticas (HIL). Consi<strong>de</strong>ramos que o processo <strong>de</strong><br />
disciplinarização não se inscreve em um período <strong>de</strong> tempo com datas<br />
fechadas, pois o conhecimento se inscreve em um horizonte <strong>de</strong><br />
retrospecção e também projeta um horizonte <strong>de</strong> projeção (AUROUX,<br />
1992). Desse modo, as condições históricas po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>terminar a<br />
constituição do discurso a respeito do sujeito-professor. O arquivo <strong>de</strong><br />
nossa tese será constituído por documentos oficiais que discursivisam<br />
sobre o estágio, <strong>de</strong>limitados temporalmente entre 1960 a 2008, os<br />
quais ainda estão inseridos em “um domínio vasto e ainda pouco<br />
explorado para a história das disciplinas” (SCHERER, 2005, p. 14).<br />
Uma disciplina parece legitimada apenas pelo professor, mas perpassa<br />
por uma política <strong>de</strong> Estado, o qual po<strong>de</strong> exercer seu po<strong>de</strong>r coercitivo,<br />
fazendo com que se inscrevam, na memória do discurso, as priorida<strong>de</strong>s<br />
na formação <strong>de</strong> sujeitos-professores. E, na visão <strong>de</strong> Althusser (1985), a<br />
escola representa o mais forte e eficiente aparelho i<strong>de</strong>ológico do<br />
Estado. Nossa análise representa um gesto <strong>de</strong> interpretação inicial<br />
diante da nossa questão <strong>de</strong> pesquisa: Quais os movimentos <strong>de</strong> sentidos<br />
constituem a imagem do sujeito-professor no processo <strong>de</strong><br />
disciplinarização dos Estágios Supervisionados no Curso <strong>de</strong> Letras, no<br />
Brasil?. Como analistas na perspectiva discursiva, não estaremos à<br />
procura <strong>de</strong> um sentido, mas do processo que o constituiu, porque “os<br />
efeitos <strong>de</strong> sentido po<strong>de</strong>m apontar para <strong>de</strong>slocamentos ou sedimentações<br />
<strong>de</strong> memórias científicas/políticas, cuja representação se dá pela ciência<br />
linguística e do Estado no discurso” (ORLANDI, 2007, p. 59).<br />
PROFICIÊNCIA: LEITURA TÉCNICA OU LUGAR DE<br />
INTERPRETAÇÃO?<br />
Ingrid Gonçalves Caseira<br />
Palavras-chave: proficiência, língua espanhola, discurso.<br />
A leitura, tal como entendida na Análise do Discurso <strong>de</strong> linha<br />
pecheutiana (AD), significa filiação, isto é: inscrição do sujeito às<br />
274
Resumo dos Trabalhos<br />
re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sentido que tecem o texto, filiação histórica, i<strong>de</strong>ológica. É<br />
através da filiação do sujeito com a exteriorida<strong>de</strong>, com <strong>de</strong>terminada<br />
formação discursiva, com o interdiscurso, que o sujeito produz sentido<br />
e, ao mesmo tempo, se significa. É esta forma <strong>de</strong> conceber a leitura que<br />
guia o olhar do analista do discurso diante dos gestos <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong><br />
interpretação que o sujeito-leitor produz. Propomo-nos, neste trabalho,<br />
então, discutir, à luz da AD, a concepção <strong>de</strong> leitura que subjaz às provas<br />
<strong>de</strong> proficiência em espanhol como língua estrangeira e, ainda, discutir a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se pensar em um outro tipo <strong>de</strong> proficiência, diferente<br />
da que po<strong>de</strong> ser i<strong>de</strong>ntificada nesse espaço – limitado, restrito – <strong>de</strong><br />
leitura. Para isso, analisaremos algumas questões apresentadas nessas<br />
provas, assim como gestos <strong>de</strong> leitura produzidos por sujeitosleitores/candidatos<br />
à proficiência em espanhol.<br />
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA<br />
NA FRONTEIRA: CONSIDERAÇÕES<br />
Isaphi Marlene Jardim Alvarez<br />
Palavras-chave: formação <strong>de</strong> professores, língua espanhola, fronteira<br />
O presente trabalho objetiva apresentar algumas consi<strong>de</strong>rações sobre a<br />
formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua espanhola em um contexto <strong>de</strong><br />
fronteira. Como docente do Curso <strong>de</strong> Letras - UNIPAMPA, Campus<br />
Bagé, em vários momentos, enquanto orientadora <strong>de</strong> alunos na<br />
disciplina <strong>de</strong> Estágio, percebi as dificulda<strong>de</strong>s que eles enfrentam ao<br />
<strong>de</strong>parar-se com a sala <strong>de</strong> aula e com o ensino da língua espanhola. Tais<br />
dificulda<strong>de</strong>s parecem acentuar-se quando o aluno egresso da nossa<br />
universida<strong>de</strong> se <strong>de</strong>para com um contexto <strong>de</strong> fronteira e <strong>de</strong> línguas em<br />
contato. Nesses momentos surgem as reflexões sobre os profissionais<br />
que estamos formando, as competências mínimas para ensinar língua<br />
espanhola que esse aluno egresso tem ao sair da universida<strong>de</strong> e o<br />
profissional que estamos inserindo neste mercado <strong>de</strong> trabalho. Devido<br />
às interações sociais o contato linguístico entre a língua portuguesa e a<br />
língua espanhola é uma realida<strong>de</strong> na região e nesse sentido,<br />
enfatizamos a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> refletir sobre a complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong> formar<br />
professores <strong>de</strong> língua espanhola <strong>de</strong>ntro e para atuar em um contexto tão<br />
impar. Direcionamos também o nosso olhar para o PPC do nosso curso<br />
e o que ofertamos <strong>de</strong> disciplinas que colaborem para uma formação<br />
mais contextualizada, ao mesmo tempo em que abrangente, do nosso<br />
275
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
egresso. Buscamos em autores como Leffa (2001), Celani (2001),<br />
Coracini (2007), Maher (2007), entre outros, a sustentação para<br />
embasar- nos teoricamente.<br />
O DISCURSO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO<br />
Ivanete Teresinha Fernan<strong>de</strong>s Pedroso<br />
As práticas discursivas no ambiente escolar têm sido analisadas em<br />
diferentes perspectivas por muitos pesquisadores. Como docente, nos<br />
sentimos envolvidos permanentemente com novas tomadas <strong>de</strong> posição,<br />
com novas práticas, com novas abordagens <strong>de</strong> ensino-aprendizagem e,<br />
isso nos instiga a buscar algumas respostas para as propostas <strong>de</strong> ensino,<br />
na maioria das vezes institucionalizada, ou pela própria escola, ou por<br />
órgãos que regem o sistema <strong>de</strong> ensino. Nos últimos anos contamos com<br />
um importante instrumento lingüístico utilizado na instituição escolar:<br />
o livro didático. Nesse cenário escolar, escolhemos o prefácio do livro<br />
Novas Palavras como materialida<strong>de</strong> representativa do discurso para a<br />
análise, ou seja, a apresentação <strong>de</strong>sse objeto – no próprio livro e em um<br />
ví<strong>de</strong>o <strong>de</strong> divulgação (meio eletrônico ) veiculado na re<strong>de</strong>. A análise vai<br />
possibilitar não somente a interpretação dos dois textos, mas <strong>de</strong>sfazer a<br />
ilusão <strong>de</strong> transparência da linguagem. Nos fundamentaremos nos<br />
estudos <strong>de</strong> Eni Orlandi, sob a ótica da Análise <strong>de</strong> Discurso, fundada<br />
por Michel Pêcheux, porque queremos trabalhar nesse movimento em<br />
que o espaço <strong>de</strong> interpretação no qual o autor se insere com seu gesto e<br />
que o constitui enquanto autor <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> sua relação com a memória<br />
(saber discursivo) e se dá num espaço simbólico que é marcado pela<br />
incompletu<strong>de</strong>, pela relação com o silêncio. Ao interpretar procuraremos<br />
o rastro do possível, o lugar on<strong>de</strong> aflora a i<strong>de</strong>ologia materializada pela<br />
história e pela língua.<br />
CONECTORES E EFEITOS DE SENTIDO: UMA<br />
PERSPECTIVA A PARTIR DA LINGUÍSTICA DA<br />
ENUNCIAÇÃO PARA O TRABALHO COM TEXTOS DE<br />
DIMENSÃO ARGUMENTATIVA<br />
Ivani Cristina Silva Fernan<strong>de</strong>s<br />
Palavras-chaves: enunciação, argumentação, marcadores discursivos.<br />
Este trabalho tem como objetivo discutir os efeitos <strong>de</strong> sentido dos<br />
conectores em texto <strong>de</strong> modalida<strong>de</strong> escrita e tendência argumentativa.<br />
276
Resumo dos Trabalhos<br />
Posteriormente, a partir <strong>de</strong>ssa discussão, teceremos alguns comentários<br />
sobre a importância <strong>de</strong>sses elementos para o trabalho com a escritura e<br />
com a argumentação nas aulas <strong>de</strong> língua materna e língua estrangeira,<br />
em especial, E.L.E. Para essa finalida<strong>de</strong>, empregaremos como amostra<br />
textos do domínio jornalístico brasileiro e espanhol. Com base na<br />
Linguística da Enunciação e estudos sobre a Argumentação,<br />
preten<strong>de</strong>mos analisar os efeitos <strong>de</strong> sentido dos conectores que não se<br />
limitam às características pragmáticas <strong>de</strong> conexão. Dessa forma,<br />
preten<strong>de</strong>mos questionar os problemas <strong>de</strong> abordar os conectores apenas<br />
como um mecanismo <strong>de</strong> coesão sequencial, sem que se explore sua<br />
dimensão enunciativo-discursiva. De acordo com o trabalho <strong>de</strong><br />
Zorr<strong>aqui</strong>no y Portolés (1999), os conectores, uma subcategoria dos<br />
marcadores, são <strong>de</strong>finidos como expressões que enlaçam semântica e<br />
pragmaticamente um enunciado com outro anterior e,<br />
consequentemente, guiam inferências que se obtêm do conjunto<br />
enunciativo. Em suma, pensar os conectores a partir dos efeitos <strong>de</strong><br />
sentido enunciativo nos possibilita indagar como forma e sentido se<br />
entrelaçam, o que, por sua vez, nos leva a observar <strong>de</strong> que modo o<br />
sujeito se marca na materialida<strong>de</strong> escrita <strong>de</strong> dimensão argumentativa,<br />
sendo que tal questão é um aspecto basilar quando estamos no campo<br />
<strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> uma língua materna ou estrangeira.<br />
RENORMALIZAR É PRECISO... COMO LIDAR COM AS<br />
NORMAS EM AMBIENTE LABORAL<br />
Ivete Bellomo Machado<br />
Palavras-chave: Dialogismo. Abordagem ergológica. Normas e<br />
renormalizações.<br />
Consi<strong>de</strong>rando a importância do trabalho em nossa socieda<strong>de</strong> e sua<br />
relevante e complexa relação com a linguagem, embasaremos esta<br />
pesquisa, parte <strong>de</strong> uma tese em andamento, na teoria bakhtiniana<br />
(Bakhtin, 1929/1997, 1952-1953/2003) e nos estudos sobre o trabalho,<br />
particularmente na abordagem ergológica. Preten<strong>de</strong>mos analisar as<br />
relações <strong>de</strong> trabalho em uma empresa comercial da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas<br />
(RS), partindo <strong>de</strong> observações presenciais das ativida<strong>de</strong>s laborais <strong>de</strong><br />
alguns trabalhadores voluntários – previamente contatados e<br />
informados sobre os objetivos da pesquisa – a fim <strong>de</strong> verificar como<br />
lidam com as prescrições e como as renormalizam no seu dia a dia. A<br />
interação entre os trabalhadores é constante, a responsivida<strong>de</strong> entre o<br />
trabalho prescrito e a ativida<strong>de</strong> realizada acontece a todo momento. Os<br />
277
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
estudos ergológicos enten<strong>de</strong>m a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho como uma<br />
dramática <strong>de</strong> usos <strong>de</strong> si (Schwartz, 2002, 2006, 2007), o que implica<br />
reconhecê-la como lugar <strong>de</strong> negociação entre normas antece<strong>de</strong>ntes,<br />
reguladoras do fazer, e renormalizações <strong>de</strong>correntes da inscrição do<br />
sujeito na ativida<strong>de</strong>. O trabalho nunca é pura execução porque “o meio<br />
é sempre infiel” (Schwartz, 2002, 2006, 2007). Reduzir a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
trabalho à mera execução é acreditar que a prescrição é perfeita, que o<br />
meio é fiel e que não há variabilida<strong>de</strong>s contínuas e constantes, algo que<br />
é impensável na or<strong>de</strong>m do humano. As leis, as normas, as prescrições<br />
são insuficientes para regular a variabilida<strong>de</strong> do dia a dia. Então, o<br />
trabalhador precisa renormatizar essas regras, ressingularizar as<br />
situações que se lhe apresentam <strong>de</strong> modo que possa reagir ao meio,<br />
fazendo uso <strong>de</strong> suas próprias capacida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> seus próprios recursos e<br />
<strong>de</strong> suas próprias escolhas.<br />
O FALAR DE SI EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE<br />
APRENDIZAGEM: DISCURSO, SUJEITO E CORPO<br />
Janaina Cardoso Brum<br />
Com o intuito <strong>de</strong> investigar os processos discursivos envolvidos no<br />
falar <strong>de</strong> si <strong>de</strong> sujeitos alunos na modalida<strong>de</strong> a distância, nosso trabalho<br />
parte da hipótese <strong>de</strong> que, no âmbito virtual, a ilusória evidência do<br />
corpo – e portanto dos sentidos e dos sujeitos – <strong>de</strong>sfaz-se, <strong>de</strong> modo que<br />
as relações estabelecem-se no jogo presença-ausência. Para Ž iž ek<br />
(2006), a virtualização não é um processo novo, todavia, a digitalização<br />
mostra-nos que nunca houve uma realida<strong>de</strong> (como experiência<br />
imediata), haja vista o simbólico <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sempre <strong>de</strong>terminar o que<br />
conhecemos como “realida<strong>de</strong>”. Acreditamos que a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
dizer-se em um ambiente virtual <strong>de</strong> aprendizagem (AVA) <strong>de</strong>corre da<br />
crença <strong>de</strong> que na interação face-a-face é evi<strong>de</strong>nte que o interlocutor<br />
sabe quem é o sujeito que fala porque a relação não é, em tese,<br />
mediada. Essa hipótese surgiu da observação dos perfis públicos <strong>de</strong><br />
alunos no AVA do curso <strong>de</strong> Letras – Espanhol a distância da <strong>UFPel</strong>.<br />
Mesmo sob a orientação <strong>de</strong> que o conteúdo do perfil <strong>de</strong>veria ser apenas<br />
acadêmico, muitos alunos acrescentaram informações pessoais. Desse<br />
modo, pensamos que os sujeitos são instados a produzir um “corpo”<br />
que suprima a ausência física dos interlocutores. As relações<br />
imaginárias, inerentes às relações sociais e presentes mesmo na<br />
interação face-a-face, acontecem no AVA <strong>de</strong> forma que os sujeitos têm<br />
<strong>de</strong> criar um “corpo virtual” a fim <strong>de</strong> interagir com o outro. A fim <strong>de</strong><br />
278
Resumo dos Trabalhos<br />
embasar este trabalho, utilizamos como eixo central a Análise do<br />
Discurso pêcheuxtiana, bem como a teoria do sujeito <strong>de</strong> base<br />
psicanalítica e o materialismo histórico, com o intuito <strong>de</strong> trabalhar as<br />
materialida<strong>de</strong>s discursivas dadas, consi<strong>de</strong>rando as relações sóciohistórico-discursivas<br />
que inci<strong>de</strong>m no falar <strong>de</strong> si <strong>de</strong> sujeitos inseridos em<br />
um AVA.<br />
SER OU NÃO SER BILÍNGUE: ATITUDES LINGUÍSTICAS DE<br />
ESTUDANTES DE ACEGUÁ BRASIL/URUGUAI<br />
Jociele Corrêa<br />
Clara Dornelles<br />
Este trabalho apresenta os discursos <strong>de</strong> estudantes <strong>de</strong> uma escola da<br />
re<strong>de</strong> pública municipal <strong>de</strong> Aceguá acerca do uso das línguas na<br />
comunida<strong>de</strong>. O foco da análise foram as atitu<strong>de</strong>s linguísticas<br />
(FERNANDEZ, 2005) dos adolescentes com relação à(s) sua(s)<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s) como sujeitos bilíngues. Os dados foram gerados no<br />
segundo semestre <strong>de</strong> 2011, a partir <strong>de</strong> entrevistas semiestruturadas. Para<br />
análise, foram transcritos e discutidos excertos <strong>de</strong>ssas entrevistas,<br />
amparando- se teoricamente em estudos sobre contextos <strong>de</strong> fronteira<br />
(CORRÊA; DORNELLES, 2009, 2010a, 2010b), sobre educação<br />
bilíngue (BRIAN; BROVETTO; GEYMONAT, 2007; CÉSAR;<br />
CAVALCANTI, 2007; MAHER, 2007) e, ainda, sobre i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
culturais (HALL, 1997). As atitu<strong>de</strong>s linguísticas dos estudantes<br />
<strong>de</strong>monstraram que os mesmos não se sentem seguros acerca da(s)<br />
sua(s) i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s) como bilíngue(s). Os resultados indicam que as<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s linguísticas dos indivíduos são construídas na interação<br />
entre os dois idiomas predominantes (português e espanhol) e são<br />
marcadas pela nacionalida<strong>de</strong> como fator diferenciador e <strong>de</strong> certa forma<br />
regulador dos usos das línguas em comunida<strong>de</strong>. Portanto, as atitu<strong>de</strong>s<br />
linguísticas dos alunos levantam a questão do que significa ser<br />
fronteiriço nesse contexto e quais valores são atribuídos a essa<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, o que reforça a importância da discussão e valorização da<br />
riqueza linguística e cultural da comunida<strong>de</strong> na escola."<br />
A RELAÇÃO ENTRE SABERES NO DESENVOLVIMENTO DA<br />
ATIVIDADE LABORAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA<br />
Josiane Redmer Hinz<br />
279
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Nesta comunicação, apresentaremos reflexões <strong>de</strong> uma pesquisa em<br />
<strong>de</strong>senvolvimento, que objetiva investigar, a partir <strong>de</strong> uma análise<br />
enunciativo- discursiva, como professores <strong>de</strong> Língua Portuguesa do<br />
Ensino Médio, ao exercerem sua ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho, estabelecem<br />
diálogo entre os saberes acadêmicos e práticos, visando contribuir para<br />
o (re)conhecimento e aprimoramento da prática docente. Sob o ponto<br />
<strong>de</strong> vista teórico, este estudo está embasado na abordagem bakhtiniana<br />
(Bakhtin, 1979/2003), que consi<strong>de</strong>ra a linguagem como essencialmente<br />
dialógica e nas ciências do trabalho, em especial a perspectiva<br />
ergológica, que <strong>de</strong>staca a heterogeneida<strong>de</strong> e dinamicida<strong>de</strong> das<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabalho (Schwartz, 2006, 2007), e os estudos da clínica<br />
da ativida<strong>de</strong> (Faïta, 2005, Clot & Faïta, 2000), que <strong>de</strong>stacam a<br />
importância da criação <strong>de</strong> espaços <strong>de</strong> fala para que o trabalhador,<br />
distanciado <strong>de</strong> sua ativida<strong>de</strong>, possa discutir sobre ela. Para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da pesquisa, contaremos com a colaboração <strong>de</strong> quatro<br />
professores <strong>de</strong> uma escola pública <strong>de</strong> ensino médio, que verbalizarão<br />
sobre o seu fazer docente em três etapas: (a) entrevistas individuais, (b)<br />
grupo <strong>de</strong> discussão e (c) método da autoconfrontação simples. Com<br />
este estudo, esperamos contribuir para uma maior compreensão acerca<br />
da complexida<strong>de</strong> da ativida<strong>de</strong> em questão, para que possamos, a partir<br />
da interface entre os estudos da linguagem e do trabalho, oportunizar a<br />
criação <strong>de</strong> saberes sobre o trabalho do professor <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
do Ensino Médio."<br />
A INTERVENÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA ATIVIDADE DO<br />
COORDENADOR PEDAGÓGICO<br />
Josiane Richter<br />
Este estudo aborda a intervenção da subjetivida<strong>de</strong> na ativida<strong>de</strong> do<br />
coor<strong>de</strong>nador pedagógico. O coor<strong>de</strong>nador pedagógico exerce hoje um<br />
papel muito importante no processo <strong>de</strong> gestão da escola. É por meio<br />
das palavras enunciadas que o coor<strong>de</strong>nador possibilita, na verda<strong>de</strong>, a<br />
representação do mundo por todos os envolvidos na escola,<br />
reconhecendo as necessida<strong>de</strong>s, em busca, sempre, da transformação <strong>de</strong><br />
quaisquer situações para o sucesso <strong>de</strong> sua atuação. De acordo com o<br />
filósofo francês Yves Schwartz (2004, p. 23), “o trabalho nunca é<br />
totalmente expectativa do mesmo e repetição – mesmo que o seja em<br />
parte”. O que o autor salienta é que toda a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho se dá na<br />
tensão entre normas antece<strong>de</strong>ntes, reguladoras do fazer, e<br />
280
Resumo dos Trabalhos<br />
renormalizações, <strong>de</strong>correntes da intervenção da subjetivida<strong>de</strong> no<br />
exercício profissional. Investiga-se, em interlocuções entre coor<strong>de</strong>nador<br />
pedagógico e professores, levadas a efeito em conselhos <strong>de</strong> classe,<br />
efeitos da intervenção da subjetivida<strong>de</strong> nessa ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho.<br />
Assim, nossa investigação justifica-se por trazer à discussão uma<br />
dimensão que não é levada em conta em ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão: as<br />
normas previamente instituídas para regular o trabalho e o saber<br />
técnico que o orienta são sempre singularizados na ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
trabalho. Nesse processo, emerge o saber da experiência com o qual os<br />
coor<strong>de</strong>nadores pedagógicos enfrentam os <strong>de</strong>safios diariamente<br />
colocados na execução <strong>de</strong> suas funções. Palavras-chave: Subjetivida<strong>de</strong>,<br />
enunciação, coor<strong>de</strong>nador pedagógico.<br />
O FUNCIONAMENTO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DA<br />
LÍNGUA ESPANHOLA NAS TIRAS DO TAPEJARA<br />
Juliane Tatsch<br />
Este trabalho tem por objetivo o estudo do funcionamento semânticoenunciativo<br />
<strong>de</strong> expressões que aparecem como empréstimos da língua<br />
espanhola <strong>de</strong>ntro do espaço <strong>de</strong> enunciação da variante gaúcha da língua<br />
portuguesa representada na textualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tiras humorísticas.<br />
Interessa-nos, portanto, o efeito da palavra funcionando nos enunciados<br />
das tiras e <strong>de</strong> que modo esse efeito se significa no dizer, caracterizando<br />
uma heterogeneida<strong>de</strong> da língua portuguesa pela existência, então, <strong>de</strong><br />
uma linguagem gauchesca. A análise <strong>de</strong> aspectos da representação da<br />
língua espanhola no discurso constituído por formas <strong>de</strong> ilustração do<br />
gaúcho enquanto tipo social significa ao constituir um discurso do<br />
gaúcho e sobre o gaúcho, levando a um processo <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação dos<br />
sujeitos na e pela língua que praticam. Desse modo, partindo <strong>de</strong>sses<br />
enunciados é possível apontar elementos que nos permitem dizer que<br />
essa “língua do gaúcho” é ressignificada no gaúcho como tipo social e<br />
produz através das tiras um discurso sobre o gaúcho que afirma toda<br />
uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> regional. Discute-se como, especialmente no Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul, a figura do gaúcho reproduzida em tiras humorísticas<br />
que compõem o livro: Tapejara: o último guasca produz efeitos <strong>de</strong><br />
sentido ao representar o sujeito gaúcho também pela língua.<br />
Palavras-chave: língua, sentido, enunciação.<br />
281
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ESCREVER EM LÍNGUA ADICIONAL: UMA OPÇÃO<br />
RETÓRICA<br />
Katia Vieira Morais<br />
Aten<strong>de</strong>ndo ao chamado <strong>de</strong> sobre multilinguismo responsável <strong>de</strong> Min-<br />
Zhan Lu, retór norte-americana, analiso a escrita em Inglês <strong>de</strong> alunos<br />
<strong>de</strong> graduação. No cenário fronteiriço, a escrita se torna uma negociação<br />
multilíngue em que discentes vivenciam práticas linguísticas e retóricas<br />
<strong>de</strong>finidas pelo contexto do Português no espaço universitário, dos usos<br />
fronteiriços do Português e Espanhol e da globalida<strong>de</strong> do Inglês. Esse<br />
estudo visa i<strong>de</strong>ntificar, <strong>de</strong>limitar e analisar algumas práticas retóricas<br />
transculturais usadas na escrita em Inglês por discentes <strong>de</strong> graduação.<br />
Estratégias retóricas transculturais po<strong>de</strong>m ser negociações linguísticas<br />
ou retóricas apesar da <strong>de</strong>finição <strong>de</strong>ssas categorias não ser pacífica, pois<br />
na maioria das vezes escolhas linguísticas também implicam em um<br />
posicionamento argumentativo. Por exemplo, questões pontuais <strong>de</strong> uso<br />
e estilo como enunciação em primeira, segunda ou terceira pessoa para<br />
efeitos <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>, interlocução ou objetivida<strong>de</strong> também ser<br />
consi<strong>de</strong>radas questões retóricas, pois apontam para escolhas<br />
argumentativas privilegiadas (ou não) no Inglês como na argumentação<br />
ad personam ou <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>. Partindo dos conceitos <strong>de</strong><br />
multilinguismo responsável e estratégias retóricas transculturais, a<br />
investigação se baseia na triangulação <strong>de</strong> tarefas <strong>de</strong> escrita, coleta <strong>de</strong><br />
exemplares <strong>de</strong> escrita dos alunos e entrevistas com alunos. Ao analisar<br />
como alunos-escritores compõem em inglês esse espaço universitário,<br />
fronteiriço e linguístico se questiona 1) o valor atribuído à diversida<strong>de</strong><br />
linguística e retórica que sujeitos multilíngues negociam diariamente<br />
na aca<strong>de</strong>mia e 2) a criação <strong>de</strong> um espaço acadêmico para acomodar<br />
alunos-escritores para privilegiar práticas retóricas transculturais.<br />
A SENSUALIDADE MASCULINA EM ANÚNCIOS DE<br />
SERVIÇOS SEXUAIS: ABORDAGEM DIALÓGICA DO<br />
DISCURSO<br />
Kelli Da Rosa Ribeiro<br />
Este trabalho mostra parte dos resultados obtidos a partir <strong>de</strong> uma<br />
dissertação <strong>de</strong> mestrado <strong>de</strong>senvolvida na Pontifícia Universida<strong>de</strong><br />
Católica do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul (PUCRS), concluída em 2011. Assim,<br />
levantamos reflexões enunciativas a respeito das imagens discursivas<br />
282
Resumo dos Trabalhos<br />
do locutor e do interlocutor em um anúncio <strong>de</strong> classificados <strong>de</strong> serviços<br />
sexuais selecionado do jornal Zero Hora, no qual um homem oferece<br />
serviço sexual. Levando em consi<strong>de</strong>ração que tais anúncios se<br />
engendram na esfera midiática, analisamos como as diversas vozes<br />
sociais que circulam nessa esfera da ativida<strong>de</strong> humana produzem<br />
sentidos, por meio dos signos i<strong>de</strong>ológicos mobilizados no discurso <strong>de</strong><br />
quem anuncia os serviços sexuais. Embasamos teoricamente este<br />
trabalho com as i<strong>de</strong>ias linguísticas do Círculo <strong>de</strong> Bakhtin, atentando<br />
principalmente para os seguintes conceitos: signo i<strong>de</strong>ológico, palavra,<br />
enunciado, gêneros do discurso, plurilinguismo e relações dialógicas.<br />
Utilizamos também as reflexões <strong>de</strong> Dany-Robert Dufour, no que se<br />
refere ao conceito <strong>de</strong> sujeito pós-mo<strong>de</strong>rno e sua relação com o consumo<br />
propagado pelos meios midiáticos. Analisamos o enunciado,<br />
consi<strong>de</strong>rando a autonomeação do locutor no discurso, as <strong>de</strong>signações <strong>de</strong><br />
características físicas e <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> sexual sugerida pelo sujeito e os<br />
elementos discursivos que permitem verificar o en<strong>de</strong>reçamento do<br />
anúncio. Percebemos no enunciado publicitário em foco que o<br />
(entre)cruzamento <strong>de</strong> já-ditos mostram ressonâncias <strong>de</strong> outros discursos<br />
sociais e valorações i<strong>de</strong>ológicas/mercadológicas sobre o corpo<br />
masculino. Vislumbramos ainda como o corpo masculino aparece<br />
refratado no discurso do anúncio e <strong>de</strong> que forma essa imagem é<br />
relacionada à beleza e à sensualida<strong>de</strong>. Palavras-chave: anúncio <strong>de</strong><br />
serviços sexuais; relações dialógicas; imagem discursiva.<br />
A DICIONARIZAÇÃO DOS SÍMBOLOS DO GAÚCHO<br />
Kelly Fernanda Guasso Da Silva<br />
É interessante pensarmos nos símbolos que envolvem o imaginário do<br />
gaúcho <strong>de</strong>ntro do processo <strong>de</strong> dicionarização uma vez que temos nos<br />
dicionários uma forma <strong>de</strong> registro do saber, ou seja, através dos<br />
dicionários temos não só a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produzir sentidos, mas<br />
também a manutenção do saber e a apresentação <strong>de</strong> novas maneiras <strong>de</strong><br />
dizer e <strong>de</strong> significar em um discurso. Escolhemos os apetrechos<br />
utilizados pelo gaúcho, em seu trabalho ou no seu dia a dia, justamente<br />
por serem esses elementos corriqueiros na vida do gaúcho<br />
tradicionalmente rural. Partiremos do Dicionário Houaiss da Língua<br />
Portuguesa, <strong>de</strong> Antônio Houaiss e Mauro Villar, para fazer a<br />
comparação com as <strong>de</strong>signações que constam no Dicionário <strong>de</strong><br />
Regionalismos do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, <strong>de</strong> Zeno Cardoso Nunes e Rui<br />
Cardoso Nunes. Analisaremos e compararemos os termos “arreios”,<br />
283
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
“bolea<strong>de</strong>ira”, “faca”, “laço” e “relho” <strong>de</strong>signados nesses dois<br />
dicionários. Os princípios básicos seguidos serão os da História das<br />
I<strong>de</strong>ias Linguísticas e da Análise do Discurso <strong>de</strong> linha francesa, tais<br />
como são <strong>de</strong>senvolvidos no Brasil. Como resultado obtivemos, por<br />
exemplo, que muitas palavras consi<strong>de</strong>radas “gaúchas” não são<br />
referenciadas ao gaúcho e nem são tidas como regionalismos, além do<br />
fato <strong>de</strong> que algumas <strong>de</strong>ssas palavras referentes aos apetrechos do<br />
gaúcho, que num primeiro momento foram pensadas como símbolos,<br />
na verda<strong>de</strong>, receberam maior abrangência no dicionário nacional<br />
Houaiss do que no Dicionário <strong>de</strong> Regionalismos. Palavras-chave:<br />
símbolos do gaúcho, discurso, dicionarização.<br />
O DISCURSO HOMOFÓBICO NO AMBIENTE VIRTUAL<br />
Laura Nunes Pinto<br />
A internet tem se tornado um dos meios mais eficientes para a<br />
proliferação <strong>de</strong> discursos das mais diferentes filiações, abrangendo os<br />
mais diversos saberes e tipos <strong>de</strong> usuários. Assim sendo, muitas vezes, é<br />
usada para a disseminação <strong>de</strong> comentários preconceituosos e violentos.<br />
Partindo-se, pois, da constatação <strong>de</strong> que uma gran<strong>de</strong> porcentagem da<br />
população utiliza-se <strong>de</strong>sse meio para a construção e a recepção <strong>de</strong><br />
discursos, acreditamos ser <strong>de</strong> suma importância análises <strong>de</strong> processos<br />
discursivos envolvidos nos tipos <strong>de</strong> violência contra o outro em re<strong>de</strong>s<br />
sociais. O presente trabalho restringe-se, no entanto, à polêmica que<br />
envolve as manifestações homofóbicas no meio digital. Serão elas<br />
analisadas a partir da base teórico-analítica da Análise <strong>de</strong> Discurso,<br />
ciência interpretativa que tem como finalida<strong>de</strong> estabelecer as relações<br />
entre linguagem e i<strong>de</strong>ologia. O corpus analisado será formado <strong>de</strong><br />
enunciados discriminatórios, formulados por usuários <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais,<br />
contra a mo<strong>de</strong>lo e estilista brasileira Lea T., observando-se as<br />
modalida<strong>de</strong>s do dizer e do não-dizer <strong>de</strong> que são investidos. Para tanto,<br />
serão examinados elementos da materialida<strong>de</strong> linguística em conjunção<br />
com as condições <strong>de</strong> produção circunstanciais e sócio-históricas que<br />
lhe são constitutivas, a fim <strong>de</strong> verificar os mecanismos envolvidos na<br />
discursivização da violência no espaço digital.<br />
284
Resumo dos Trabalhos<br />
LOBO MAU E CHAPEUZINHO VERMELHO EM TEMPOS DE<br />
FACEBOOK: ANÁLISE DISCURSIVA DE UMA CHARGE<br />
Leonardo Terra Messias (Bolsista Pbda)<br />
O presente estudo objetiva analisar o funcionamento discursivo <strong>de</strong> uma<br />
charge, <strong>de</strong> fonte <strong>de</strong>sconhecida, disponível na internet, que simula um<br />
diálogo entre o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. O lobo diz:<br />
“Como assim não fala com estranhos? Sou seu amigo no Facebook não<br />
lembra?” e a menina permanece em silêncio. Sob a ótica da Análise <strong>de</strong><br />
Discurso <strong>de</strong> linha francesa, consi<strong>de</strong>ramos que um enunciado sempre<br />
po<strong>de</strong> tornar-se outro em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mudanças <strong>de</strong> condições <strong>de</strong><br />
produção. Na charge, o contraponto <strong>de</strong> condições <strong>de</strong> produção repercute<br />
no <strong>de</strong>slocamento <strong>de</strong> sentidos da formulação-origem “Não falo com<br />
estranhos”. Tal formulação, no conto <strong>de</strong> fadas, vincula-se à moralida<strong>de</strong><br />
típica <strong>de</strong>ssas narrativas infantis. Na charge, retorna como préconstruído,<br />
ressignificado em um momento sócio-histórico <strong>de</strong><br />
estabelecimento <strong>de</strong> laços sociais via internet. Em sites <strong>de</strong><br />
relacionamento, como o Facebook, há uma polemização do preceito <strong>de</strong><br />
que estranhos <strong>de</strong>vem ser evitados; tal preceito aparece como conselho<br />
no conto. A movimentação semântica se dá não só pelo retorno do préconstruído<br />
sob novas condições, mas também <strong>de</strong>vido ao silêncio da<br />
personagem. O silenciamento aparece como essencial para a<br />
compreensão do processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> sentido do enunciado em<br />
foco. O trabalho ainda trata da formação imaginária do silêncio, o qual<br />
é recomendado no conto <strong>de</strong> fadas para distanciamento do perigo,<br />
enquanto é negado em re<strong>de</strong>s sociais como o Facebook: lugar em que o<br />
dizer é contínuo, on<strong>de</strong> se recusa o vazio. Palavras-chave: silêncio,<br />
contos <strong>de</strong> fadas, re<strong>de</strong>s sociais<br />
SAMPESCREVE<br />
Lia Cristina Ceron<br />
Amanda Lopes Moreno<br />
Palavras Chave: Canção, São Paulo, Texto.<br />
A cultura letrada e a cultura jovem raramente são tomadas como planos<br />
passíveis <strong>de</strong> intersecção. A escola tradicional é a responsável pelo<br />
fortalecimento <strong>de</strong>sse antagonismo, inviabilizando a construção <strong>de</strong> uma<br />
nova relação entre as duas instâncias. Assim, a música aparece como<br />
uma eficiente ferramenta <strong>de</strong> conjunção, já que reúne a dimensão sonora<br />
e a escrita. O Sampescreve se insere nesse contexto, propondo um<br />
285
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
projeto <strong>de</strong> ensino interdisciplinar que conjugue história, música e<br />
cultura da periferia em paralelo ao ensino <strong>de</strong> conteúdos específicos<br />
referentes às habilida<strong>de</strong>s da escrita. O público é composto por alunos da<br />
Escola Estadual Dr. Pedro <strong>de</strong> Moraes Victor, localizada na Zona Norte<br />
<strong>de</strong> São Paulo, divididos em duas turmas <strong>de</strong> 7° ano. Diagnosticamos que<br />
eles apreciam a música e <strong>de</strong>sconhecem a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, on<strong>de</strong><br />
vivem. Também observamos que a produção escrita e a interpretação<br />
textual são <strong>de</strong>ficitárias. A finalida<strong>de</strong> do projeto é fomentar o ensino e a<br />
aprendizagem <strong>de</strong>sses pontos, <strong>de</strong> maneira contextualizada e dialógica,<br />
formando leitores dotados <strong>de</strong> autoria, ou seja, <strong>de</strong> alunos que tenham<br />
autonomia na leitura e que sejam capazes <strong>de</strong> produzir textos com<br />
temática sobre São Paulo. O grupo <strong>de</strong> trabalho possui três membros<br />
que se revezam na regência das aulas, iniciadas em abril <strong>de</strong> 2012. Até o<br />
momento, foi trabalhada a música Sampa, <strong>de</strong> Caetano Veloso, levando<br />
a diversos temas, como o gênero mito, história da cida<strong>de</strong>, texto lírico e<br />
intertextualida<strong>de</strong>.<br />
ESCREVIVENDO EM PERSPECTIVA DIALÓGICA:<br />
MANIFESTAÇÕES SOCIAIS DA ESCRITA<br />
AFRODESCENDENTE, PRÁTICAS ESCOLARES E USOS<br />
COTIDIANOS<br />
Lívia <strong>de</strong> Carvalho Mendonça<br />
Apresentam-se as consi<strong>de</strong>rações teórico-metodológicas das primeiras<br />
reflexões <strong>de</strong> uma pesquisa em <strong>de</strong>senvolvimento sobre as práticas <strong>de</strong><br />
escrita <strong>de</strong>senvolvidas por estudantes, situados no contexto escolar <strong>de</strong><br />
remanescentes quilombolas, em uma comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um dos distritos<br />
da zona rural da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Feira <strong>de</strong> Santana-BA, e a sua relação com os<br />
usos cotidianos <strong>de</strong> escrita, que fazem parte da realida<strong>de</strong> sociocultural<br />
dos sujeitos investigados. Fundamenta-se a pesquisa com a teoria<br />
discursiva dialógica <strong>de</strong> orientação bakhtiniana Bakhtin/Volochínov<br />
(2006[1929]; 2003[1979]), na interface com os estudos históricoculturais<br />
sobre a escrita <strong>de</strong>senvolvidos por Chartier (1985, 1991, 1994,<br />
2004), De Certeau (2009) e Burke (2005). Para isso, realizou-se um<br />
estudo etnográfico (Proc. Comitê <strong>de</strong> Ética, Nº 060311011470), situado<br />
no campo das pesquisas qualitativas, consi<strong>de</strong>rando-se a etnografia uma<br />
abordagem <strong>de</strong> investigação científica, <strong>de</strong> acordo com Laplatine<br />
(2004[1943]), César (2001) e André (2004). Este trabalho po<strong>de</strong>rá<br />
contribuir para a construção <strong>de</strong> um arcabouço teórico-metodológico<br />
sobre a escrita, presente nos diversos contextos <strong>de</strong> interação verbal,<br />
inclusive no espaço escolar. Além disso, po<strong>de</strong>rá integrar um futuro<br />
banco <strong>de</strong> estudos linguísticos e/ou culturais sobre as manifestações<br />
286
Resumo dos Trabalhos<br />
sociais da escrita <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s rurais afro<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes do contexto<br />
baiano. A investigação empreendida no seu conjunto preten<strong>de</strong><br />
contribuir com os sujeitos e com o universo da pesquisa concebidos<br />
nas suas relações dialógicas com a escrita e a vida. Palavras-chave:<br />
Dialogismo. História Cultural. Escrita.<br />
SACI SEM-CACHIMBO: ENTRE A CONTENÇÃO E O<br />
DESLIZAMENTO DE SENTIDOS<br />
Luana De Gusmão Silveira<br />
O presente trabalho, <strong>de</strong>senvolvido junto ao Grupo <strong>de</strong> Estudos em<br />
Análise do Discurso (GEAD/FURG), objetiva analisar as relações e os<br />
efeitos <strong>de</strong> sentido produzidos a partir <strong>de</strong> uma mesma materialida<strong>de</strong><br />
discursiva: a imagem do personagem Saci, mascote do Sport Club<br />
Internacional (INTER), nas suas diferentes formas <strong>de</strong> apresentação.<br />
Consi<strong>de</strong>rando os pressupostos teórico- metodológicos a partir dos quais<br />
a Análise do Discurso foi cunhada, tecemos algumas reflexões com<br />
base no constante processo <strong>de</strong> transformação ocorrido, nos últimos<br />
tempos, com a imagem do personagem Saci, nos discursos do clube<br />
colorado. Por meio <strong>de</strong> um atravessamento com o discurso do<br />
“politicamente correto”, promove-se um processo <strong>de</strong> apagamento, <strong>de</strong><br />
silenciamento que, por consequência, acaba ocasionando uma<br />
“mexida” na re<strong>de</strong> <strong>de</strong> sentidos. É, portanto, esse funcionamento e seus<br />
efeitos que nos propomos a observar. Algumas noções centrais são<br />
mobilizadas como <strong>de</strong> Silêncio, Interpretação e Efeitos <strong>de</strong> sentido.<br />
Palavras-chave: Análise do Discurso, Interpretação, Efeitos <strong>de</strong> sentido<br />
A SIGNIFICÂNCIA EM LINGUAGEM POÉTICA: UM ESTUDO<br />
ENUNCIATIVO EM CANÇÕES DE CHICO BUARQUE<br />
Luana Müller De Mello<br />
O objetivo principal do presente trabalho é, então, <strong>de</strong>rivar <strong>de</strong> textos <strong>de</strong><br />
Benveniste, publicados entre 1967 e 1970 (A forma e o sentido na<br />
linguagem (publicado em 1967); Esta linguagem que faz a história<br />
(publicado em 1968); Semiologia da língua (publicado em 1969);O<br />
aparelho formal da enunciação (publicado em 1970)), uma<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investigar como se constitui a significância poética<br />
para, a partir daí, analisar as canções <strong>de</strong> Chico Buarque que constituem<br />
o corpus, buscando nelas a representação <strong>de</strong> trabalhador. O texto<br />
287
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
artístico se apresenta como um dos modos <strong>de</strong> representação das<br />
histórias cotidianas, dos inci<strong>de</strong>ntes e fatos que não têm representação<br />
em nenhuma outra manifestação da linguagem. Para Tatit (2004), o<br />
canto sempre foi uma dimensão potencializada da fala, ou seja, cantar é<br />
também dizer algo, é falar sobre o mundo. Nesse sentido, nada mais<br />
natural do que buscar a teoria <strong>de</strong> Benveniste para alcançar nossos<br />
objetivos, pois, para o autor (PLG II, p. 84), “a língua se acha<br />
empregada para a expressão <strong>de</strong> uma certa relação com o mundo”. Uma<br />
questão, entretanto, se coloca: que dizer é esse sobre o mundo,<br />
consi<strong>de</strong>rando-se que vem sob a forma <strong>de</strong> linguagem poética? De que<br />
forma po<strong>de</strong>mos analisar esse dizer sobre o mundo que não se faz pela<br />
linguagem ordinária? Essas interrogações conduzem-nos a<br />
problematizar a noção <strong>de</strong> referência na linguagem poética. "<br />
A PRÁTICA DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE<br />
TEXTOS NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM<br />
ESCOLAS DO SUDOESTE DO PARANÁ<br />
Luciana Iost Vinhas<br />
Sabe-se que o trabalho com a leitura e a interpretação <strong>de</strong> textos nas<br />
salas <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> língua portuguesa é caracterizado, na maioria das<br />
vezes, como um processo <strong>de</strong> reprodução <strong>de</strong> saberes, sendo o professor e<br />
o aluno compreendidos como posições plenamente i<strong>de</strong>ntificadas com a<br />
formação discursiva dominante na instituição escolar, <strong>aqui</strong> entendida<br />
como formação i<strong>de</strong>ológica. O presente <strong>de</strong>bate busca discutir sobre a<br />
fala <strong>de</strong> professoras do Ensino Fundamental acerca do trabalho <strong>de</strong> leitura<br />
e interpretação <strong>de</strong> textos, na tentativa <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r como elas<br />
compreen<strong>de</strong>m esse trabalho e quais as relações que po<strong>de</strong>m ser<br />
estabelecidas com as modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subjetivação, a saber, a plena<br />
i<strong>de</strong>ntificação do sujeito com os saberes da formação discursiva, a<br />
contrai<strong>de</strong>ntificação e a <strong>de</strong>si<strong>de</strong>ntificação (cf. PÊCHEUX, 2009).<br />
Questiona-se sobre a pertinência <strong>de</strong> saberes que ancoram a Análise do<br />
Discurso <strong>de</strong> tradição francesa serem parte da prática pedagógica das<br />
professoras <strong>de</strong> língua portuguesa. Sugere-se essa abordagem, pois<br />
estariam atuando no alcance do pleno exercício da cidadania pelo aluno,<br />
<strong>de</strong>sestabilizando os sentidos naturalizados nas salas <strong>de</strong> aula e colocando<br />
a contradição (velada nas salas <strong>de</strong> aula) em relevância para a reflexão."<br />
288
Resumo dos Trabalhos<br />
“EN EL RECREO SÍ, EN LAS CLASES NO”: SERÁ A ESCOLA<br />
UMA FRONTEIRA ENTRE AS LÍNGUAS?<br />
Luciana Vargas Ronsani<br />
Este trabalho trata do funcionamento do dialeto português/portunhol e<br />
da língua espanhola no espaço fronteiriço constituído por sujeitos<br />
pertencentes à Comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cerro Pelado, situada ao norte do<br />
Uruguai, os quais enunciam em línguas diferentes segundo o lugar<br />
on<strong>de</strong> o fazem. Assim, temos a hipótese <strong>de</strong> que na constituição <strong>de</strong>ste<br />
espaço <strong>de</strong> enunciação existe uma fronteira que se estabelece pela e na<br />
escola. O objetivo geral da pesquisa é analisar como a escola po<strong>de</strong> se<br />
constituir em uma fronteira a partir do modo como as línguas circulam<br />
no ambiente escolar e fora <strong>de</strong>le. Através da realização <strong>de</strong>sta pesquisa,<br />
respon<strong>de</strong>mos as duas questões norteadoras <strong>de</strong>sse trabalho: O Uruguai<br />
era mesmo um país monolingue? Vimos que não. A Comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Cerro Pelado mantém traços sócio-culturais e linguísticos relacionados<br />
à ocupação e colonização luso- brasileira? Vimos que sim. Concluímos<br />
então, que os sujeitos expostos a situação “bilíngüe con diglosia” são<br />
sujeitos que se significam pelo uso do espanhol e dialeto/portunhol, e<br />
que estas línguas refletem suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s fronteiriças. "<br />
“NEM TODAS AS PRINCESAS TÊM QUE VESTIR ROSA OU<br />
SONHAR COM UM PRÍNCIPE ENCANTADO QUE NUNCA<br />
CHEGA”: REFLEXÕES E ANÁLISE<br />
Luciana Zardo Padovani<br />
O presente trabalho busca tecer reflexões acerca <strong>de</strong> leituras possíveis<br />
<strong>de</strong> peças publicitárias sobre os comportamentos e papeis femininos na<br />
socieda<strong>de</strong> oci<strong>de</strong>ntal contemporânea, na perspectiva da Teoria da<br />
Análise do Discurso, fundada por Michel Pêcheux. Para fins <strong>de</strong><br />
análise, foram tomadas duas materialida<strong>de</strong>s discursivas em uma mesma<br />
peça publicitária: (a) o texto “Nem todas as princesas tem que vestir<br />
rosa ou sonhar com um príncipe encantado que nunca chega” e (b) e a<br />
imagem <strong>de</strong> uma jovem e bonita mulher, bem produzida, com um<br />
espartilho azul e tatuagens nas costas e no braço, contendo <strong>de</strong>senhos <strong>de</strong><br />
flores. A partir <strong>de</strong>stas materialida<strong>de</strong>s, buscou-se observar e analisar as<br />
inscrições em distintas formações discursivas, os <strong>de</strong>slizamentos<br />
discursivos, o contraditório, os silenciamentos, a produção <strong>de</strong> sentidos<br />
e os efeitos discursivos. Sendo assim, foram estabelecidas relações<br />
entre o vestir rosa e as tatuagens <strong>de</strong> flores, a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> espera pelo<br />
289
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
príncipe encantado e o príncipe que nunca chega, um certo<br />
monitoramento social do comportamento feminino e uma postura <strong>de</strong><br />
emancipação feminina, um discurso justificador e um discurso <strong>de</strong><br />
ruptura, a imagem <strong>de</strong> uma mulher vaidosa/romântica/<strong>de</strong>licada/submissa<br />
e a imagem <strong>de</strong> uma mulher in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte/emancipada /que tem atitu<strong>de</strong>.<br />
Palavras-chave: formação discursiva – discurso – sentido.<br />
* Luciana Zardo Padovani é estudante <strong>de</strong> Graduação em Letras-<br />
Português, da FURG, aluna-bolsista do Subprojeto <strong>de</strong> L.Portuguesa do<br />
PIBID/CAPES/FURG e participante do Grupo <strong>de</strong> Estudos em Análise<br />
do Discurso (GEAD/FURG).<br />
A LINGUAGEM JORNALÍSTICA NO TWITTER<br />
Mabel Oliveira Teixeira<br />
Inserido no contexto da Socieda<strong>de</strong> em Re<strong>de</strong> e submetido às<br />
características específicas da Web e suas ferramentas <strong>de</strong> comunicação,<br />
o jornalismo está se transformando. Para percebemos o impacto <strong>de</strong>sse<br />
fenômeno, nos propomos a caracterizar a linguagem jornalística no Site<br />
<strong>de</strong> Re<strong>de</strong> Social Twitter através da análise <strong>de</strong> 134 enunciados<br />
publicados por três veículos distintos, a saber: jornal Folha <strong>de</strong> São<br />
Paulo, Zero Hora e Diário Popular. Nosso pressuposto central é que o<br />
padrão hierárquico e objetivo que orienta a linguagem jornalística<br />
padrão começa a ce<strong>de</strong>r espaço a mo<strong>de</strong>los mais horizontalizados e<br />
interativos que remo<strong>de</strong>lam a técnica padrão e, consequentemente,<br />
modificam o enunciado jornalístico, originando novas formas <strong>de</strong><br />
comunicar e informar cujos efeitos ainda são imprevisíveis.<br />
O TEXTO MIDIÁTICO EM SALA DE AULA:<br />
POSSIBILIDADES E LIMITES NO TRABALHO DE<br />
INTERPRETAÇÃO<br />
Magda Regina Lourenço Cyrre<br />
Este estudo resulta <strong>de</strong> uma proposta <strong>de</strong> trabalho <strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong><br />
textos midiáticos com estudantes do Ensino Médio. Partimos do<br />
pressuposto <strong>de</strong> que os estudantes estão expostos a informações<br />
290
Resumo dos Trabalhos<br />
veiculadas pela internet. As empresas <strong>de</strong> mídia selecionam temas e<br />
constroem discursos informativos e a informação, moldada pela<br />
linguagem, é uma forma <strong>de</strong> interpretação. A materialida<strong>de</strong> linguística<br />
usada na construção da informação remete ao seu funcionamento e aos<br />
seus efeitos <strong>de</strong> sentido. O material selecionado para trabalhar a<br />
interpretação foi extraído <strong>de</strong> publicações online. Os pressupostos <strong>de</strong>ste<br />
estudo filiam-se à Análise <strong>de</strong> Discurso (AD) pecheutiana. Buscamos<br />
com a AD construir um aporte teórico-metodológico que possibilite<br />
enten<strong>de</strong>r as práticas discursivas <strong>de</strong> formulação da notícia e trabalhar<br />
com particularida<strong>de</strong>s dos enunciados, para isso, articulamos as noções<br />
<strong>de</strong> formação discursiva, sujeito e pré-construído. O objetivo geral é<br />
mostrar algumas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> interpretação do texto<br />
midiático. Os objetivos específicos são: <strong>de</strong>monstrar a aplicabilida<strong>de</strong><br />
dos conhecimentos <strong>de</strong> AD para a interpretação com estudantes do<br />
ensino médio; verificar como o discurso midiático constrói sentidos e<br />
po<strong>de</strong> ser interpretado por estudantes, aplicando-se noções da AD. O<br />
presente estudo se justifica por propor uma leitura <strong>de</strong> textos midiáticos<br />
a qual verifica como o texto organiza em sua discursivida<strong>de</strong> a<br />
materialida<strong>de</strong> histórica. Palavras-chave: informação; interpretação;<br />
texto midiático.<br />
O CONCEITO DE DEBILIDADE E A HISTÓRIA DAS IDEIAS<br />
LINGUISTICAS<br />
Marcelo Da Rocha Garcez<br />
Palavras-chave: História das i<strong>de</strong>ias linguisticas, Debilida<strong>de</strong>, Psicanálise.<br />
O conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> em nossa socieda<strong>de</strong> tem apresentado variações<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> sua formulação no século XIX até os dias <strong>de</strong> hoje. Tal conceito<br />
não estava formulado, mas a categoria “fracos <strong>de</strong> espírito” correspondia<br />
a <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>. Nessa época <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> mental significava ser fraco da<br />
cabeça, frágil, on<strong>de</strong> separava-se os termos “ligeiramente débil” com<br />
ida<strong>de</strong> superior a sete anos e “<strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> propriamente dita”, com ida<strong>de</strong><br />
mental antes dos sete anos. O conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> foi se<br />
<strong>de</strong>sdobrando no <strong>de</strong>correr dos anos, alterando seu significado. Achamos<br />
interessante analisar segundo a teoria da História das Idéias<br />
Lingüísticas, tal conceito e seus movimentos <strong>de</strong> sentidos, visto que<br />
vários campos <strong>de</strong> saber utilizarão tal noção como parâmetro.<br />
Percebendo a importância do conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> para nossa<br />
socieda<strong>de</strong>, achamos que estudá- lo a luz da HIL (história das idéias<br />
lingüísticas) e suas ferramentas, será esclarecedor, para que possamos<br />
291
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
enten<strong>de</strong>r o processo que foi sendo organizado até chegarmos nas<br />
políticas públicas nas áreas da saú<strong>de</strong> e educação. Nossa pesquisa será<br />
bibliográfica, utilizando conceitos da HIL, trechos do livro <strong>de</strong> Cordie<br />
(1996) e conceitos psicanalíticos utilizados no campo da saú<strong>de</strong> mental.<br />
Buscamos observar o percurso que o conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> foi<br />
trilhando até os dias <strong>de</strong> hoje e suas consequências. Determinar um<br />
horizonte <strong>de</strong> retrospecção do conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>, analisar as<br />
diferentes conceitualizações <strong>de</strong> <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> em um eixo diacrônico e<br />
<strong>de</strong>terminar o que nossa socieda<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> em nossa<br />
época. Esses são alguns objetivos que achamos importantes <strong>de</strong> serem<br />
traços para o presente trabalho.<br />
O EXCESSO, A FALTA E O ESTRANHAMENTO – PISTAS DO<br />
HORROR QUE REFLETEM NO CALADO DE “SHOES ON<br />
THE DANUBE PROMENADE”<br />
Marchiori Quadrado De Quevedo<br />
Ernst-Pereira (2009) elenca o excesso, a falta e o estranhamento como<br />
três pistas opimas para ace<strong>de</strong>r ao processo discursivo a partir <strong>de</strong> uma<br />
superfície textual. Valemo-nos da orientação da autora para analisar o<br />
monumento mencionado no título, em cuja formulação visual tais<br />
pistas nos parecem imbricadas. Buscamos, para esse exercício <strong>de</strong><br />
leitura, o suporte teórico-analítico da Análise <strong>de</strong> Discurso. Nas<br />
estratégias do dizer pelo excesso <strong>de</strong> dizer, do dizer pelo não dizer e do<br />
“estranhar-se” para dizer, que irmanam as diversas materialida<strong>de</strong>s do<br />
discurso, produz-se um efeito <strong>de</strong> memória pela textualida<strong>de</strong> da<br />
escultura. Vem-nos <strong>aqui</strong> à mente o termo “calado”, em sua produtiva<br />
ambiguida<strong>de</strong> em português. A concepção <strong>de</strong> “calado” enquanto dizer<br />
silenciado (em todas as formas preconizadas por Orlandi, 2007), mas<br />
que constitui o dito; e a <strong>de</strong> “calado” enquanto <strong>aqui</strong>lo que não está na<br />
superfície textual – por estar imerso à forma material –, mas apenas por<br />
ela po<strong>de</strong> ser acedido e que ali – no espaço da falta, da falha, do lapso –<br />
significa. No calado da escultura, e da foto, há todo um dizer dos<br />
horrores cometidos contra os ju<strong>de</strong>us, jogo discursivo <strong>de</strong><br />
(in)visibilida<strong>de</strong>s cuja gestão precisa ser <strong>de</strong>slocada para – a partir do<br />
que falta, do que exce<strong>de</strong> e do que é estranho em sua mórbida superfície<br />
–, produzir um gesto <strong>de</strong> leitura que faça justiça à memória daquele<br />
acontecimento.<br />
292
Resumo dos Trabalhos<br />
NOTÍCIAS E EDITORIAIS NO ENSINO DE PORTUGUÊS<br />
Márcia Dresch<br />
Kelen Pereira Farias<br />
Des<strong>de</strong> a década <strong>de</strong> 70, o jornal impresso tem ocupado espaço em obras<br />
didáticas e projetos <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua portuguesa. Os textos<br />
opinativos presentes em jornais, porque com estrutura argumentativa<br />
explicitada, se opõe às notícias, que, em tese, não carregariam opinião.<br />
Todavia, na prática jornalística, essa separação nem sempre é<br />
respeitada, uma vez que há notícias com alto grau <strong>de</strong> posicionamento e<br />
há, também, editorias <strong>de</strong> caráter mais informativo. Este trabalho, a<br />
partir <strong>de</strong> análise minuciosa do funcionamento <strong>de</strong>sses dois gêneros e <strong>de</strong><br />
pesquisa acerca das ativida<strong>de</strong>s realizadas com jornais em <strong>de</strong>z escolas da<br />
região do município <strong>de</strong> Pelotas, tem por objetivo fornecer subsídios<br />
para o trabalho com textos jornalísticos na escola, uma vez que os<br />
dados levantados revelaram um uso escolar dos textos muito voltado<br />
para discussão das temáticas pautadas pelos veículos <strong>de</strong> comunicação,<br />
ficando o discurso jornalístico, seja na sua materialida<strong>de</strong>, seja no<br />
conteúdo i<strong>de</strong>ológico por ele expresso, à margem das práticas <strong>de</strong> ensino.<br />
Assim, são questões <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> sentido que problematizamos, para<br />
então propormos um trabalho mais abrangente com o texto jornalístico,<br />
que leve em conta o linguístico e a subjetivida<strong>de</strong> inerente ao processo<br />
<strong>de</strong> produção e veiculação <strong>de</strong>sses textos. Esta pesquisa, <strong>de</strong> caráter<br />
teórico e metodológico, utiliza como aporte teórico a Análise do<br />
Discurso Francesa, fundada por Michel Pêcheux. "<br />
RELEITURA DOS PCNS DE LÍNGUA PORTUGUESA À LUZ<br />
DA TEORIA DA ENUNCIAÇÃO BENVENISTIANA<br />
Márcia Elisa Vanzin Boabaid<br />
A presente comunicação tem como objetivo propor a releitura dos<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais <strong>de</strong> Língua Portuguesa do terceiro e<br />
quarto ciclos, a fim <strong>de</strong> supor o TU-pretendido pelo referido documento,<br />
a partir da Teoria da Enunciação <strong>de</strong> Émile Benveniste. Os Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais, lançados pelo MEC, têm como finalida<strong>de</strong>,<br />
oferecer às escolas, professores e profissionais ligados à educação, as<br />
diretrizes para a prática pedagógica nas escolas brasileiras.<br />
Acreditamos que, os PCNs, a exemplo <strong>de</strong> outros textos, supõem um<br />
leitor,mas não estabelecem um interlocutor claro. Sabemos que há uma<br />
293
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
relação interlocutiva suposta que <strong>de</strong>termina as condições <strong>de</strong> leitura do<br />
texto e, por esse motivo, enten<strong>de</strong>mos que o texto dos PCNs supõe um<br />
perfil específico <strong>de</strong> leitor que po<strong>de</strong> não coincidir com os leitores reais<br />
presentes no espaço escolar, mas acreditamos que há um leitor suposto<br />
- marcado no texto. É neste cenário que nos interrogamos: quem é o<br />
leitor que os PCNs supõem? Quem seria este interlocutor? Com quem<br />
os PCNs dialogam? Consi<strong>de</strong>rando que os PCNs <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
exigem a compreensão do leitor; também que <strong>de</strong>vemos recorrer a uma<br />
teoria enunciativa que possibilite supor o TU-pretendido pelo texto<br />
PCNs, assim elegemos a Teoria da Enunciação <strong>de</strong> Benveniste, pois<br />
enten<strong>de</strong>mos que a mesma fornece os recursos necessários para lermos<br />
o texto <strong>de</strong> forma enunciativa. Desta forma, construiremos a relação<br />
entre o leitor e a subjetivida<strong>de</strong>/intersubjetivida<strong>de</strong> na enunciação, tendo<br />
como referência as marcas (pessoa,tempo e lugar) que o sujeito <strong>de</strong>ixa<br />
na enunciação, estabelecendo um diálogo entre o conteúdo <strong>de</strong>ste texto<br />
e os eventuais leitores.<br />
IMAGEM(NS) DE LÍNGUA(S) NA REGIÃO DA TRÍPLICE<br />
FRONTEIRA<br />
Marilene Aparecida Lemos<br />
O presente estudo tem como proposta iniciar uma reflexão à luz da<br />
teoria da análise do discurso <strong>de</strong> linha francesa, sobre a(s) imagem(ns)<br />
<strong>de</strong> língua(s) na região da tríplice fronteira: Foz do Iguaçu, Puerto<br />
Iguazú e Ciudad <strong>de</strong>l Este. Este trabalho é um dos primeiros passos <strong>de</strong><br />
um projeto <strong>de</strong> pesquisa que preten<strong>de</strong> articular a contribuição teórica<br />
das disciplinas que atualmente cursamos no Instituto <strong>de</strong> Estudos da<br />
Linguagem - IEL, na Unicamp, com as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino, pesquisa e<br />
extensão que <strong>de</strong>senvolvemos na UFFS - Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da<br />
Fronteira Sul, campus Realeza, como docentes do Curso <strong>de</strong> Graduação<br />
em Letras Português e Espanhol – Licenciatura. Nesse projeto,<br />
especificamente, preten<strong>de</strong>mos refletir nessas condições <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
fronteira sobre aspectos relacionados à memória discursiva da língua<br />
espanhola."<br />
A POESIA EM SALA DE AULA DE FLE";"MARISTELA<br />
GONÇALVES SOUSA MACHADO<br />
Mariza Pereira Zanini<br />
Palavras-chave: texto poético, FLE, didática <strong>de</strong> línguas.<br />
294
Resumo dos Trabalhos<br />
A discussão sobre o papel do texto literário no ensino do FLE é<br />
reativada constantemente, não importando o quanto perspectivas,<br />
metodologias e tecnologias se modifiquem. Consi<strong>de</strong>rado em diferentes<br />
momentos como mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> língua culta, documento cultural em<br />
função <strong>de</strong> sua temática, documento autêntico, pretexto para ilustração<br />
<strong>de</strong> questões gramaticais ou para exercícios <strong>de</strong> fonética (sobretudo no<br />
caso da poesia), raramente o texto literário é abordado em sua<br />
especificida<strong>de</strong>: “la langue au travail”, a indissociabilida<strong>de</strong> entre sentido<br />
e forma, o caráter não datado, a intenção estética, a exigência da<br />
ativida<strong>de</strong> do leitor para produzir sentido (Albert e Souchon, 2000). O<br />
<strong>de</strong>bate sobre a questão é também estimulado pelo Quadro europeu<br />
comum <strong>de</strong> referência para as línguas, que preconiza: “a utilização da<br />
língua para o sonho e o prazer é importante no plano educativo, mas<br />
também enquanto tal” e incentiva as ativida<strong>de</strong>s estéticas ligadas à<br />
leitura <strong>de</strong> textos literários (Conselho da Europa, 2005). Nosso objetivo<br />
nesse trabalho é, a partir <strong>de</strong> uma reflexão sobre a nossa prática didática<br />
na Licenciatura <strong>de</strong> Português e Francês e respectivas literaturas da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas, apontar rumos para abordagem do<br />
texto poético em sala <strong>de</strong> aula, no sentido <strong>de</strong> contribuir para a formação<br />
<strong>de</strong> leitores literários capazes <strong>de</strong> se lançarem na busca da presença não<br />
transparente do referente por trás do jogo poético em FLE e, em uma<br />
perspectiva intercultural, <strong>de</strong> incentivá- los a pensar sobre a poesia em<br />
língua materna e em seu quotidiano.<br />
O 'INGLÊS DA ESCOLA': O IMAGINÁRIO DE LÍNGUA<br />
ESTRANGEIRA NO DISCURSO DE ALUNOS-PROFESSORES<br />
Michele Teixeira Passin<br />
IO ensino <strong>de</strong> inglês como língua estrangeira mo<strong>de</strong>rna em contexto<br />
escolar sofreu influências, <strong>de</strong> um lado <strong>de</strong> acontecimentos históricos, e,<br />
<strong>de</strong> outro, das diversas metodologias <strong>de</strong> ensino que foram ocupando o<br />
cenário do ensino-aprendizagem <strong>de</strong> línguas ao longo dos anos. A fim<br />
<strong>de</strong> pensar o ensino <strong>de</strong> inglês neste contexto, voltamo-nos no presente<br />
trabalho, para alunos-professores em período <strong>de</strong> estágio docente,<br />
momento que consi<strong>de</strong>ramos privilegiado, uma vez que proporciona a<br />
aproximação dos conhecimentos adquiridos na aca<strong>de</strong>mia com a<br />
experiência docente. Ancorados na teoria da Análise do discurso,<br />
teremos como fio condutor <strong>de</strong> nossa discussão o imaginário <strong>de</strong> língua<br />
constituído no discurso <strong>de</strong> alunos-professores <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong><br />
295
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
privada do norte do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. Para tanto, analisaremos um<br />
corpus composto <strong>de</strong> seis sequências discursivas, selecionadas a partir<br />
<strong>de</strong> um arquivo, resultante da aplicação <strong>de</strong> um questionário. Noções tais<br />
como sujeito, sentido, formação discursiva serão fundamentais para tal<br />
discussão. Palavras-chave: língua, escola, alunos-professores<br />
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM DISCURSO: COM A<br />
PALAVRA, OS PROFESSORES DE BIOLOGIA.<br />
Michelle Bocchi Gonçalves<br />
Esse artigo, vinculado ao grupo <strong>de</strong> pesquisa Linguagem e Formação <strong>de</strong><br />
professores <strong>de</strong> Ciências-UFPR, tem como objetivo compreen<strong>de</strong>r os<br />
discursos sobre as ativida<strong>de</strong>s experimentais no ensino <strong>de</strong> Biologia, a<br />
partir dos sentidos atribuídos por professores da Re<strong>de</strong> Estadual <strong>de</strong><br />
<strong>Educação</strong> do Paraná - Brasil. A materialida<strong>de</strong> linguística foi coletada<br />
por meio do convite a 161 professores, participantes do Simpósio<br />
Estadual <strong>de</strong> Biologia, realizado em Curitiba/PR, em 2011, por meio da<br />
aplicação <strong>de</strong> um questionário. O corpus foi composto pelos 56<br />
questionários respondidos pelos professores que indicavam o uso<br />
frequente das ativida<strong>de</strong>s experimentais em sua prática docente, sendo<br />
que o interesse <strong>de</strong> análise recai sobre a seguinte questão: Quais as<br />
atribuições das ativida<strong>de</strong>s experimentais no ensino <strong>de</strong><br />
Ciências/Biologia? O aporte teórico é o da Análise do Discurso <strong>de</strong><br />
Linha Francesa, tendo em Michel Pêcheux e Eni Orlandi seus principais<br />
referentes. Os resultados apontam para diferentes efeitos <strong>de</strong> sentido<br />
sobre as ativida<strong>de</strong>s experimentais no ensino <strong>de</strong> Biologia, <strong>de</strong>stacando-se,<br />
entre eles, duas principais formações imaginárias: a experimentação<br />
como estratégia <strong>de</strong> ensino para comprovação dos estudos teóricos, e o<br />
caráter motivacional da experimentação como facilitador do ensinoaprendizagem<br />
dos conteúdos científicos. Palavras-chave: Análise do<br />
Discurso, Ensino, Ativida<strong>de</strong>s Experimentais.<br />
O DISCURSO OPINATIVO: O PAPEL DO ADJETIVO<br />
Misael Krüger Lemes<br />
Antonio Santana Padilha<br />
Os textos jornalísticos <strong>de</strong> caráter opinativo possuem diferentes<br />
estratégias discursivas verbais que atuam na argumentação. Uma das<br />
mais frequentes é o uso <strong>de</strong> adjetivos, utilizados <strong>de</strong> várias formas,<br />
296
Resumo dos Trabalhos<br />
conforme constatou análise <strong>de</strong> editoriais dos jornais Gazeta do Povo, <strong>de</strong><br />
Curitiba-PR, e Diário Popular, <strong>de</strong> Pelotas-RS, publicados durante o mês<br />
<strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2012. Nestes textos, o enunciador tem a liberda<strong>de</strong> para<br />
utilizar essa categoria gramatical, mantendo ou não o tom <strong>de</strong> sobrieda<strong>de</strong><br />
do texto, já que os adjetivos têm a função <strong>de</strong> qualificadores e<br />
contribuem para a progressão textual. Este trabalho, <strong>de</strong> caráter analítico,<br />
contribui, no âmbito escolar, para o estudo do adjetivo, uma vez que<br />
trabalha com essa categoria para além da perspectiva formal estrutural,<br />
passando a analisá-la no seu aspecto discursivo. A aproximação dos<br />
textos via discurso permite um novo tipo <strong>de</strong> apreensão dos fatos <strong>de</strong><br />
linguagem e outro direcionamento para o ensino <strong>de</strong> língua, que não<br />
reduz a linguagem a uma quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conceitos e classificações. Para<br />
a análise, o trabalho utiliza como aporte teórico a Análise do Discurso<br />
Francesa."<br />
CORPO E SENTIDO: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NO<br />
DISCURSO TRANSEXUAL<br />
Mônica Ferreira Cassana<br />
Pretendo discutir, neste trabalho, como está sendo construído o discurso<br />
dos sujeitos transexuais sobre o seu próprio corpo, a partir <strong>de</strong> relatos<br />
divulgados na mídia. Para isso, utilizo os pressupostos teóricos da<br />
Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa, fundamentada por Michel<br />
Pêcheux, especialmente a noção <strong>de</strong> Formação Discursiva (FD) ([1975],<br />
2009). Observo que, ao falar sobre a sua condição, os sujeitos<br />
transexuais constroem um imaginário em que diferentes sentidos sobre<br />
o corpo se entrecruzam. Os saberes da FD dominante estabelecem que o<br />
corpo seja construído <strong>de</strong> maneira binária, vendo os corpos transexuais,<br />
por extensão, como bizarros ou estranhos. Esses saberes materializamse<br />
no discurso dos sujeitos, que acabam por repeti-los. Assim, falam <strong>de</strong><br />
si, a partir <strong>de</strong> uma posição que <strong>de</strong>seja a completu<strong>de</strong>, em uma aparente<br />
tentativa <strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>r ao discurso dominante, incorporando esses<br />
sentidos ao seu modo <strong>de</strong> subjetivação. No entanto, tento <strong>de</strong>monstrar<br />
que, embora interpelados pelos saberes dominantes, os sujeitos<br />
assumem uma posição-sujeito que provoca um <strong>de</strong>slocamento entre os<br />
saberes estabilizados i<strong>de</strong>ologicamente e a sua subjetivida<strong>de</strong>,<br />
construindo, <strong>de</strong>ssa forma, novos sentidos para o corpo."<br />
RETRATOS DIGITAIS: O DISCURSO DA AUTO-AGRESSÃO<br />
Naiara Souza Da Silva<br />
297
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
As questões <strong>de</strong>ste trabalho versam sobre o discurso da anorexia,<br />
discurso que<br />
enuncia uma ação e a produz material e efetivamente no corpo do<br />
sujeito. (ERNST, 2011) Configura-se como uma fala <strong>de</strong> si que se<br />
caracteriza pela exposição da interiorida<strong>de</strong>, da afetivida<strong>de</strong>, relativa à<br />
angústia e ao <strong>de</strong>samparo frente à ausência do Outro, e pela<br />
i<strong>de</strong>ntificação excessiva com os pressupostos i<strong>de</strong>ológicos vigentes na<br />
socieda<strong>de</strong> contemporânea que dizem respeito à obsessão pelo corpo<br />
magro e perfeito. As perguntas que norteiam a pesquisa são as<br />
seguintes: que processos discursivos constroem a configuração do<br />
discurso da anorexia? Que modalida<strong>de</strong>s do dizer se apresentam nesses<br />
processos? Como atuam na enunciação virtual? Essas perguntas ligamse<br />
ao objetivo do trabalho, qual seja, o <strong>de</strong> analisar enunciados <strong>de</strong> autoagressão,<br />
formulados por usuárias <strong>de</strong> um site <strong>de</strong> relacionamento, o<br />
Orkut. Utilizam-se dispositivos teórico-metodológicos da Análise <strong>de</strong><br />
Discurso na tradição <strong>de</strong> Michel Pêcheux que consistem basicamente na<br />
i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> mecanismos lingüístico-enunciativos em sua relação<br />
com os elementos da memória discursiva. I<strong>de</strong>ntificam-se, no corpus<br />
discursivo, três categorias diferenciadas que servem como meio<br />
operacional <strong>de</strong> análise: 1º) eu (anoréxica) fala a um tu (anoréxica); 2º)<br />
eu (anoréxica) fala a um tu (anorexia); 3º) eu (anorexia) fala a um tu<br />
(anoréxica), a partir das quais, proce<strong>de</strong>-se ao exame dos modos do<br />
dizer (didático, injuntivo, apelativo, etc.) , característicos <strong>de</strong> cada uma<br />
<strong>de</strong>las.<br />
“NÃO ESQUEÇA A MINHA CALOI”: ANÁLISE DISCURSIVA<br />
DE PROPAGANDA INFANTIL<br />
Nathalia Ma<strong>de</strong>ira Araujo<br />
Vivemos em uma socieda<strong>de</strong> fortemente influenciada pela i<strong>de</strong>ologia do<br />
consumismo, disseminada em propagandas. No meio publicitário, algo<br />
que vem sendo observado e se tornado motivo <strong>de</strong> polêmica nos lares e<br />
entre estudiosos é o consumismo infantil. A mídia usa estratégias<br />
abusivas, como a erotização precoce, o incentivo à obesida<strong>de</strong> infantil,<br />
compras “casadas”, cenas <strong>de</strong> bajulação <strong>de</strong> adultos para conquistas<br />
materiais, discriminações <strong>de</strong> gênero e inversão <strong>de</strong> valores sociais<br />
(PAIVA, 2009). No presente estudo, à luz <strong>de</strong>ssas observações e do<br />
referencial da Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa, analisamos duas<br />
propagandas da empresa Caloi, direcionadas ao público infantil, e<br />
refletimos acerca das estratégias enunciativo-discursivas que tentam<br />
298
Resumo dos Trabalhos<br />
garantir a interpelação à i<strong>de</strong>ologia do consumo. Tais propagandas<br />
diferem pelas condições <strong>de</strong> produção: uma <strong>de</strong>las é <strong>de</strong> 1978 e tem como<br />
slogan “Não esqueça a minha Caloi”, a outra resulta da campanha<br />
publicitária que homenageia os 110 anos da Empresa Caloi, <strong>de</strong> 2008. A<br />
constituição <strong>de</strong>sse corpus <strong>de</strong>ve-se às diferenças contextuais,<br />
enunciativas e imagéticas e por notarmos que na atualida<strong>de</strong> é preciso<br />
velar o convite à compra através do entrecruzamento do consumo com<br />
discursos ecológicos e referentes à feminilida<strong>de</strong> para que a propaganda<br />
não pareça ferir princípios éticos do consumo na infância. Na análise,<br />
também levamos em conta que as empresas recorrem à venda <strong>de</strong><br />
supostas sensações, emoções e estilos <strong>de</strong> vida que seus produtos<br />
promoveriam (CHAUÍ, 2006). Palavras chave: infância consumismo e<br />
análise <strong>de</strong> discurso<br />
A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NOS TEXTOS<br />
PUBLICITÁRIOS<br />
Patrícia Nystrom Fernan<strong>de</strong>z<br />
Este estudo preten<strong>de</strong> averiguar como o sentido se constrói <strong>de</strong>ntro dos<br />
discursos publicitários, os quais têm dupla função: comunicar e<br />
persuadir. Quanto à metodologia, trata-se <strong>de</strong> uma pesquisa em nível<br />
bibliográfico, que examina a linguagem empregada pela publicida<strong>de</strong><br />
com base nas teorias sobre a construção do sentido em enunciados. O<br />
estudo teórico apoia-se em teorias que partem <strong>de</strong> Platão, com a noção<br />
<strong>de</strong> alterida<strong>de</strong>; passam por Saussure, que <strong>de</strong>fine e distingue língua e fala<br />
e acrescenta a noção <strong>de</strong> valor; por Benveniste, com o conceito <strong>de</strong> signo<br />
vazio; e chegam até os dias atuais, com os estudos <strong>de</strong> Oswald Ducrot e<br />
Marion Carel sobre os Blocos Semânticos. A partir <strong>de</strong>ssa análise<br />
teórica, mostraremos como o sentido se constrói nos enunciados<br />
através dos enca<strong>de</strong>amentos argumentativos. Utilizando, mais<br />
especificamente, as <strong>de</strong>finições <strong>de</strong> argumentação interna e externa,<br />
ilustraremos os vários sentidos assumidos pelo signo “levar” em<br />
diferentes campanhas publicitárias. Como resultado, preten<strong>de</strong>-se obter<br />
uma pequena <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> como cada uma das teorias estudadas se<br />
aplica à linguagem publicitária, tão carregada <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong> e<br />
intencionalida<strong>de</strong>."<br />
UMA REFLEXÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DOS<br />
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS NA CONSTRUÇÃO DO<br />
SENTIDO DO TERMO SOCIEDADE<br />
299
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Patrícia Peter Dos Santos Zachia Alan<br />
O presente trabalho tem por objetivo analisar o uso do termo socieda<strong>de</strong><br />
nas redações <strong>de</strong> universitários brasileiros premiadas pela UNESCO nos<br />
anos <strong>de</strong> 2006/2007, em concurso que propunha a escrita sobre o tema<br />
Como Vencer a Pobreza e a Desigualda<strong>de</strong>, cujo público alvo são todos<br />
estudantes universitários brasileiros. Fundamentando-se pela Análise<br />
do Discurso <strong>de</strong> orientação francesa, é possível afirmar que a construção<br />
dos sentidos não é estanque, mas antes se configura a partir <strong>de</strong> seu uso<br />
na materialida<strong>de</strong> do discurso. Daí se i<strong>de</strong>ntifica, pela leitura <strong>de</strong> nosso<br />
corpus, que o termo socieda<strong>de</strong> foi utilizado pelos estudantes <strong>de</strong><br />
distintas maneiras, muitas <strong>de</strong>las diferentes das trazidas pelos<br />
dicionários. Em muitos casos, se observa também a não-i<strong>de</strong>ntificação<br />
do autor com o sentido do termo pretendido, revelando assim a<br />
<strong>de</strong>nominação <strong>de</strong> um grupo do qual o autor não faz parte. Outras<br />
nuances po<strong>de</strong>m ser ainda observadas, evi<strong>de</strong>nciando o caráter histórico<br />
da construção do sentido. Para a análise proposta foram selecionados<br />
trechos dos textos que apresentavam o termo socieda<strong>de</strong>, agrupados <strong>de</strong><br />
acordo com a proximida<strong>de</strong> dos sentidos construídos. A leitura <strong>de</strong>sses<br />
trechos permite refletir sobre a maneira através da qual uma parcela<br />
dos estudantes universitários brasileiros se percebe como agentes<br />
sociais, além <strong>de</strong> colaborar para a composição das possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
sentido presentes no uso <strong>de</strong>sta palavra.<br />
Palavras-chave: Sentido, Socieda<strong>de</strong>, I<strong>de</strong>ntificação<br />
AS LABUTAS PELO SENTIDO: ENTRE FALTAS E EXCESSOS,<br />
FECHAMENTOS E ABERTURAS<br />
Paula Daniele Pavan<br />
Este trabalho analisa as labutas discursivas materializadas através das<br />
tentativas <strong>de</strong> contenção e/ou dos <strong>de</strong>slizamentos <strong>de</strong> sentidos no processo<br />
<strong>de</strong> reformulação da Lei <strong>de</strong> Direitos Autorais. Para tal, mobilizamos as<br />
noções <strong>de</strong> língua e interpretação. Por meio <strong>de</strong>las, compreen<strong>de</strong>mos que<br />
a regulação pretendida pelo Jurídico ocorre através da busca pela(o)<br />
administração/controle dos sentidos – imaginário <strong>de</strong> língua sem falhas<br />
e <strong>de</strong> interpretação única –, <strong>de</strong>sembocando em uma relação entre falta e<br />
excesso. O que permite um funcionamento reverso, pois o excesso vira<br />
falta; e o fechamento transforma-se em abertura. Este processo tanto<br />
leva a um embate para <strong>de</strong>limitar o que po<strong>de</strong> e/ou não po<strong>de</strong> fazer parte<br />
da Lei, quanto <strong>de</strong>monstra que sentido e interpretação não estão sob ou<br />
300
Resumo dos Trabalhos<br />
entre as palavras <strong>de</strong> um texto, mas na interdiscursivida<strong>de</strong>. Tal<br />
abordagem, embora não se relacione diretamente com o ensino, permite<br />
questionar o modo como a interpretação é concebida no ensinoaprendizagem<br />
<strong>de</strong> língua. Sendo, pois, conveniente indagar: a<br />
disciplinarização dos sentidos é buscada? A multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
interpretações é um problema a ser resolvido? A língua passa por uma<br />
higienização que a torna livre <strong>de</strong> ambiguida<strong>de</strong>s e <strong>de</strong>slizes? Há, tal como<br />
afirma Zoppi-Fontana (2011, p. 70), “tentativas <strong>de</strong> controle e gestão da<br />
enunciação, que, <strong>de</strong>sconhecendo o equívoco constitutivo da língua,<br />
advogam a favor <strong>de</strong> uma enunciação sem falhas.”? Estes<br />
questionamentos, portanto, perpassam o olhar teórico-analítico que ora<br />
trazemos."<br />
DA PINTURA VERBAL À PINTURA IMAGÉTICA: OU SOBRE<br />
O FUNCIONAMENTO DA AUTORIA NA TRADUÇÃO<br />
INTERSEMIÓTICA<br />
Priscila Cavalcante Do Amaral<br />
O presente estudo problematiza a questão da ilustração enquanto<br />
narrativa imagética que traduz o texto verbal, e, configurasse a partir<br />
da reflexão sobre o processo <strong>de</strong> autoria na tradução intersemiótica.<br />
Para tanto, tomo como base a teoria discursiva pêcheutiana. Tal<br />
problemática revelou-se no momento em que fui fisgada pela asserção<br />
<strong>de</strong> Dupont-Escarpit (1999, p.23): “Es, pues innegable que la<br />
ilustración, no sólo está ligada al texto, sino que este le es<br />
necesariamente anterior”; e algumas questões logo se impuseram para<br />
mim, tais como: se a ilustração apresenta-se como a transformação <strong>de</strong><br />
um signo verbal em um signo pictórico, e, portanto, o resultado <strong>de</strong> um<br />
processo <strong>de</strong> leitura- interpretação, como pensar a autoria, uma vez que<br />
ao ler estamos interpretando, isto é, estamos produzindo gestos no<br />
nível do simbólico? Ou ainda; não seria a ilustração uma nova versão,<br />
um novo texto com base no anterior? Haveria uma ambiguida<strong>de</strong><br />
constitutiva na ilustração quanto à leitura? E quanto à leitura da imagem<br />
e a leitura do texto verbal levariam ao mesmo efeito? O que caracteriza<br />
a autoria nessas condições? Diante <strong>de</strong>ssas indagações - na tentativa <strong>de</strong><br />
articular teoria com análise - elegi como materialida<strong>de</strong> <strong>de</strong> observação o<br />
livro: “Chapeuzinho Vermelho e outros contos por Imagem” <strong>de</strong> Rui<br />
Oliveira (ilustrador). As imagens presentes na obra são adaptações dos<br />
contos, diria (re) contos <strong>de</strong> Fadas. Neste livro tem-se a narrativa verbal,<br />
(re) escrita por Luciana Sandroni, seguida da narrativa imagética<br />
301
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
permitindo ver, <strong>de</strong>ssa forma, o trabalho do ilustrador-autor sobre os<br />
textos escritos. Assim, guiada por esses questionamentos e amparada no<br />
corpus acima apresentado teço algumas reflexões, mesmo que<br />
temporárias. Palavras chave: Ilustração, autoria, tradução<br />
intersemiótica.<br />
O RECURSO À SEGURANÇA COMO CONDIÇÃO DE<br />
PRODUÇÃO PARA A PERDA DE DIREITOS<br />
Raquel Ribeiro Moreira<br />
As i<strong>de</strong>ias <strong>de</strong> violência e insegurança movimentam uma série <strong>de</strong> sentidos<br />
que remontam a vida cotidiana mo<strong>de</strong>rna: o vigiar constante, o autoaprisionamento<br />
em espaços controlados e <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong> restrita, a<br />
sensação <strong>de</strong> medo e atenção como características <strong>de</strong> sobrevivência.<br />
Nesse sentido, as pessoas aceitam restrições antes <strong>de</strong>snecessárias, como<br />
circular em <strong>de</strong>terminados lugares e/ou horários, e as propagam como<br />
medidas <strong>de</strong> segurança. Não se questiona vigorosamente às limitações à<br />
segurança, nem mesmo se reivindica mudanças significativas, mas<br />
resigna-se às, cada vez novas, condições impostas em nome da garantia<br />
da vida. Assim, adaptamo-nos às exigências impostas nessa nova<br />
conjuntura e até as apoiamos, inclusive se isso representar perda <strong>de</strong><br />
direitos. É exatamente o que acontece com os toques <strong>de</strong> recolher<br />
impostos Brasil a fora. Deste modo, sob a perspectiva da Análise <strong>de</strong><br />
Discurso <strong>de</strong> linha francesa, este trabalho preten<strong>de</strong> analisar textos <strong>de</strong><br />
alunos <strong>de</strong> graduação que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m a perda do direito <strong>de</strong> ir e vir como<br />
recurso viável à garantia <strong>de</strong> segurança. Enten<strong>de</strong>mos que as condições<br />
<strong>de</strong> produção, como a exteriorida<strong>de</strong> tanto contextual quanto àquela da<br />
memória, inscrita no interdiscurso, do discurso da segurança são os<br />
elementos que “estabilizam” a perda <strong>de</strong> direitos, no caso em questão da<br />
plena liberda<strong>de</strong>, na socieda<strong>de</strong>.<br />
Palavras-chave: Condições <strong>de</strong> Produção; Segurança; Perda <strong>de</strong> Direitos.<br />
EDITORIAL VS. PONTO DE VISTA: ANÁLISE DE TEXTOS À<br />
LUZ DA TEORIA DA AVALIATIVIDADE<br />
Rejane Flor Machado<br />
Angela Corrêa Papaiani<br />
Ge<strong>de</strong>on Eloeno Rodrigues Messa<br />
Gisele Marques Vargas<br />
302
Resumo dos Trabalhos<br />
A Linguística Sistêmico-funcional (LSF), <strong>de</strong> Halliday e Matthiessen<br />
(2004) postula que a linguagem se realiza em três metafunções<br />
concomitantemente: i<strong>de</strong>acional, interpessoal e textual e tem como<br />
unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> análise a oração. O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é analisar os<br />
componentes da metafunção interpessoal em Editoriais e Ponto <strong>de</strong><br />
Vista. Segundo a LSF, a metafunção interpessoal estuda a maneira<br />
como os falantes/escritores constroem o texto. O Sistema <strong>de</strong> Modo é a<br />
parte da oração que <strong>de</strong>sempenha a metafunção interpessoal, ou seja, é o<br />
recurso gramatical para realização das interações; aspectos como<br />
Polarida<strong>de</strong> e Modalida<strong>de</strong> são consi<strong>de</strong>rados na análise <strong>de</strong> textos.<br />
Inserida no Sistema <strong>de</strong> Modo da metafunção interpessoal, a Teoria da<br />
Avaliativida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Martin e White (2005) é um subsídio que tem sido<br />
utilizado para análise <strong>de</strong> textos. Essa teoria postula três categorias<br />
teóricas que são: Atitu<strong>de</strong>, Gradação e Engajamento. A Teoria da<br />
Avaliativida<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ra que, ao nos expressarmos, exteriorizamos<br />
emoções, opiniões, valores, sentimentos, etc. Dessa forma, analisamos<br />
as escolhas léxico- gramaticais presentes no corpus da pesquisa, sob a<br />
perspectiva das categorias acima citadas, a fim <strong>de</strong> apontar semelhanças<br />
e/ou diferenças nos gêneros textuais em estudo. É uma pesquisa em<br />
andamento, portanto, os resultados obtidos são parciais.<br />
OTRA VEZ #SOPA? O VERBAL E O VISUAL NA PRODUÇÃO<br />
DE SENTIDOS<br />
Renata Adriana De Souza<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é analisar um ví<strong>de</strong>o realizado sobre o<br />
infográfico Otra vez # SOPA? produzido pelo blog <strong>de</strong>rechoaleer. O<br />
ví<strong>de</strong>o discute os projetos <strong>de</strong> lei Stop Online Piracy Act (Pare com a<br />
Pirataria On-line, em tradução livre), conhecido como SOPA, e Protect<br />
IP Act (Ato <strong>de</strong> Proteção à Proprieda<strong>de</strong> Intelectual), o PIPA, ambos<br />
criados pelo Departamento <strong>de</strong> Justiça dos Estados Unidos com o<br />
objetivo <strong>de</strong> investigar e <strong>de</strong>sconectar qualquer empresa ou pessoa física<br />
que publique, no ambiente digital, materiais que possuam direitos <strong>de</strong><br />
proprieda<strong>de</strong> intelectual protegidos. As respectivas leis evitariam que<br />
publicações <strong>de</strong> outras pessoas fossem replicadas e ou copiadas por<br />
terceiros sem os <strong>de</strong>vidos créditos e consentimento do autor da obra.<br />
Esses projetos sofreram várias críticas <strong>de</strong> diversas áreas,<br />
principalmente, daquelas ligadas a ciberepaço, <strong>de</strong>vido ao fato <strong>de</strong> os<br />
projetos atentarem contra a própria estrutura da Internet. Diante disso,<br />
nossa proposta consiste em analisar as condições <strong>de</strong> produção<br />
303
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
relacionadas a essa discussão, consi<strong>de</strong>rando-as a partir dos elementos<br />
sociohistóricos que possibilitaram a configuração dos projetos <strong>de</strong> leis e<br />
dos elementos <strong>de</strong> resistência produzidos com a utilização <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados recursos linguísticos no ví<strong>de</strong>o em questão. Pu<strong>de</strong>mos<br />
perceber que fenômenos discursivos como a ambiguida<strong>de</strong> e a ironia<br />
foram bastante usados no filme, sendo que, os diferentes<br />
funcionamentos <strong>de</strong>sses fenômenos contribuíram para a produção da<br />
crítica social diante das propostas. Palavras-chave: condições <strong>de</strong><br />
produção; direito <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong>; Internet.<br />
RODA-VIVA, DE CHICO BUARQUE, EM “INDIRETAS JÁ”,<br />
DO COMÉDIA MTV:DA CENSURA AO DISCURSO DA MÍDIA<br />
QUE RI DO SEU EXCESSO DE DIZER<br />
Renata Silveira Da Silva<br />
Este trabalho, à luz da Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa, tem como<br />
corpus o ví<strong>de</strong>o-paródia “Indiretas já”, do Programa Comédia MTV<br />
(2012), em contraponto com o ví<strong>de</strong>o-origem: Chico Buarque canta<br />
“Roda-Viva”, no III Festival <strong>de</strong> Música Brasileira, transmitido pela TV<br />
Record (1967). O estudo, mediante as várias possibilida<strong>de</strong>s<br />
interpretativas suscitadas pelas canções e respectivas gravações<br />
audiovisuais, opera recortes teórico-analíticos para i<strong>de</strong>ntificar a tensão<br />
entre manutenção e <strong>de</strong>slizamentos <strong>de</strong> sentidos. A canção “Roda-Viva,<br />
produzida à época da Ditadura Militar, é constituída <strong>de</strong> versos que<br />
<strong>de</strong>spistam, driblam as críticas à censura e à influência político-militar<br />
na cultura. “Indiretas já” também recorre aos jogos <strong>de</strong> palavras e ao<br />
enigma para se posicionar contra a conjuntura. Neste caso, a crítica é<br />
en<strong>de</strong>reçada a vários acontecimentos políticos, tendências i<strong>de</strong>ológicas da<br />
mídia e seus apelos na busca <strong>de</strong> audiência. O humor da releitura remete<br />
à tendência da mídia <strong>de</strong> rir <strong>de</strong> si, a qual gera subjetivações diferentes.<br />
Na análise <strong>de</strong> “Indiretas já”, retornam <strong>de</strong> “Roda-Viva” a sintaxe<br />
trabalhada, a linguagem velada, gerando a repetição <strong>de</strong> uma crítica<br />
arguta. Mas, dado o cruzamento <strong>de</strong> discursivida<strong>de</strong>s, a pesquisa<br />
questiona qual a posição-sujeito <strong>de</strong> “Indiretas-já” em relação à gran<strong>de</strong><br />
mídia. Também indaga o <strong>de</strong>slocamento semântico da interdição das<br />
enunciações, pois o ví<strong>de</strong>o-origem reivindica o uso das palavras,<br />
enquanto a paródia zomba dos excessos da liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão."<br />
304
Resumo dos Trabalhos<br />
UMA ANÁLISE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PNLD<br />
2011 DE LE A PARTIR DA HETEROGENEIDADE<br />
DISCURSIVA<br />
Renato Pazos Vazquez<br />
O trabalho objetiva avaliar, a partir <strong>de</strong> uma perspectiva dialógica<br />
(Bakhtin, 1992), a reconfiguração das representações do Livro Didático<br />
(LD), do professor e da visão do ensino <strong>de</strong> Língua Espanhola no Edital<br />
e no Guia dos Livros Didáticos do Programa Nacional do Livro<br />
Didático – PNLD2011, um material que prescreve as especificações<br />
jurídicas e didáticas do processo, verificando as relações <strong>de</strong>ssa<br />
ferramenta, o LD, em consonância com a atuação do professor no<br />
processo <strong>de</strong> ensino/aprendizagem <strong>de</strong> LE. Numa primeira abordagem se<br />
levanta um percurso histórico das políticas públicas que envolvem o<br />
LD - <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a distribuição <strong>de</strong> livros no período <strong>de</strong> Capanema (1932) até<br />
os atuais incentivos como a criação do PNLD e a projeção que o LD<br />
ganhou (Fecchio, 2007; Gatti Junior, 2004) - apontando os fatores<br />
históricos da trajetória que o levou a <strong>de</strong>sempenhar o papel protagônico<br />
que ocupa <strong>de</strong>ntro do cenário escolar. Num segundo momento, se fará<br />
uma análise discursiva do Edital <strong>de</strong> convocação <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> 2011 no<br />
intuito <strong>de</strong> verificar as imagens construídas sobre o professor e do papel<br />
do LD e sua respectiva interação (Batista & Rojo, 2005). Para isso, se<br />
discutirão as relações na função do LD no que tange o trabalho docente<br />
(Schwartz, 2000), levantando a hipótese <strong>de</strong> que o professor se escon<strong>de</strong><br />
atrás da legitimida<strong>de</strong> e da autorida<strong>de</strong> dos LDs, acarretando em uma<br />
supervalorização do livro como instrumento essencial, como tecnologia<br />
educacional básica, <strong>de</strong>slocando o professor para o papel <strong>de</strong> coadjuvante<br />
<strong>de</strong>ntro do cenário educacional (Coracini, 1999).<br />
DO TRABALHO COM O GÊNERO “NARRATIVA PESSOAL” À<br />
AUTORIA<br />
Rosane Conceição Lefebvre<br />
Este trabalho é um recorte <strong>de</strong> uma pesquisa conduzida durante o<br />
mestrado (Letras) no PPGL UNIRITTER. Seu objetivo foi i<strong>de</strong>ntificar e<br />
analisar qualitativamente marcas linguísticas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong> que se<br />
caracterizavam como marcas <strong>de</strong> autoria, presentes em narrativas<br />
produzidas por alunos do primeiro semestre do curso <strong>de</strong> Letras. A<br />
pesquisa realizada à luz <strong>de</strong> teorias enunciativas, que têm origem em<br />
305
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Bakhtin, utilizou para análise dos textos do corpus uma metodologia<br />
<strong>de</strong>senvolvida por Jean Paul Bronckart (2009), que concebe o texto<br />
como um folhado constituído por três camadas superpostas: a infraestrutura<br />
geral do texto, responsável pela capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ação do texto;<br />
os mecanismos <strong>de</strong> textualização, camada composta por elementos que<br />
contribuem para tornar mais visível a estruturação do conteúdo<br />
temático e os mecanismos enunciativos, nível composto por elementos<br />
que contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos<br />
enunciativos e das vozes que se manifestam no texto. No entanto, para<br />
aten<strong>de</strong>r aos propósitos da análise, exploramos com mais intensida<strong>de</strong> o<br />
terceiro estrato do folhado por ser o responsável pelas marcas<br />
linguísticas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>. Os resultados apontam para a eficácia <strong>de</strong><br />
um trabalho sistemático com um <strong>de</strong>terminado gênero, no caso a<br />
narrativa, e evi<strong>de</strong>ncia que, no processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>sse gênero, a<br />
memória atua como elemento organizador do texto: ajuda a estruturar e<br />
a associar i<strong>de</strong>ias, além <strong>de</strong> aumentar a expressivida<strong>de</strong>. Palavras–chave:<br />
Narrativa. Subjetivida<strong>de</strong>. Autoria.<br />
A (INTER)SUBJETIVIDADE NA GESTÃO ESCOLAR: UM<br />
ESTUDO A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE A LINGUÍSTICA<br />
DA ENUNCIAÇÃO E A ERGOLOGIA<br />
Rosângela Markmann Messa<br />
Este projeto focaliza a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho do gestor escolar <strong>de</strong> uma<br />
escola comunitária, ligada à uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> confissão<br />
evangélico-luterana. O gestor escolar caracteriza-se por ocupar uma<br />
posição <strong>de</strong> entremeio. Sua tarefa é atingir metas que são estabelecidas<br />
em conjunto com a mantenedora da escola (instância superior), com a<br />
coor<strong>de</strong>nação pedagógica e os professores (seus coor<strong>de</strong>nados) e com os<br />
pais e que estão, por sua vez, fundamentadas em princípios<br />
pedagógicos da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Educação</strong>. As ações esperadas da direção<br />
estão, apenas em parte, prescritas. No entanto, por mais que a<br />
linguagem utilizada na prescrição das ativida<strong>de</strong>s esteja clara, ela não dá<br />
conta da complexida<strong>de</strong> da ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho <strong>de</strong>sse profissional.<br />
Diante disso, a ativida<strong>de</strong> do diretor escolar apresenta-se como <strong>de</strong>cisiva<br />
e bastante complexa, exigindo a intermediação entre três pontas que<br />
conversam através <strong>de</strong>le: seus superiores, seus coor<strong>de</strong>nados e os pais.<br />
Neste trabalho, proponho-me a focalizar a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalho do<br />
gestor escolar para tentar compreen<strong>de</strong>r o que está implicado na<br />
306
Resumo dos Trabalhos<br />
mediação que ele precisa fazer entre seus superiores, seus coor<strong>de</strong>nados<br />
e os pais para o cumprimento das metas estabelecidas pela instituição.<br />
ENTRECRUZANDO DIZERES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE:<br />
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DOS PORTFÓLIOS DO PIBID<br />
DE LÍNGUA PORTUGUESA/FURG<br />
Rosely Diniz Da Silva Machado<br />
Palavras-chave: ensino, discurso, formação docente<br />
A presente pesquisa está situada teoricamente na Análise <strong>de</strong> Discurso<br />
<strong>de</strong> linha Francesa (AD) e tem como objetivo analisar os dizeres sobre o<br />
ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa (LP). Trata-se <strong>de</strong> saberes veiculados por<br />
duas professoras <strong>de</strong> duas escolas municipais rio-grandinas, e por duas<br />
acadêmicas do curso <strong>de</strong> Letras, participantes do projeto PIBID <strong>de</strong> LP na<br />
FURG, sobre como se percebem enquanto sujeitos envolvidos com o<br />
processo <strong>de</strong> ensino e aprendizagem. Isso será feito através <strong>de</strong> uma<br />
análise dos discursos presentes nos portfólios, livro em que os<br />
pibidianos registram suas percepções a respeito do cotidiano nas salas<br />
<strong>de</strong> aula <strong>de</strong> língua materna, nas escolas on<strong>de</strong> atuam. O que se diz acerca<br />
do ensino será analisado enquanto discurso produzido a partir <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminada(s) formação(ões) discursiva(s) que, por sua vez, é<br />
componente constitutivo da(s) formação(ões) i<strong>de</strong>ológica(s), conforme<br />
(Pêcheux, 1975). Ao tematizar os discursos sobre o ensino <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa e analisá-los à luz da AD, espera-se contribuir para<br />
mudanças possíveis e necessárias no que se refere à formação e à<br />
prática docente. *Rosely Diniz da Silva Machado *Atualmente, é<br />
professora da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong> (FURG) e<br />
Coor<strong>de</strong>nadora do Subprojeto <strong>de</strong> Língua Portuguesa no Programa<br />
Institucional <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID/CAPES/FURG).<br />
roselymachado@furg.br<br />
BRASIGUAIOS: UMA POSIÇÃO-SUJEITO NA LUTA PELA<br />
TERRA<br />
Rosemere De Almeida Aguero<br />
RESUMO: Trato, neste estudo, da constituição histórica e discursiva<br />
dos emigrantes brasileiros que se i<strong>de</strong>ntificam por brasiguaios, por meio<br />
<strong>de</strong> análises realizadas em sequências discursivas recortadas da imprensa<br />
sul-mato-grossense, representada pelos jornais O Progresso e Correio<br />
307
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
do Estado. Esta abordagem fundamentada na Análise do Discurso <strong>de</strong><br />
Michel Pêcheux, busca compreen<strong>de</strong>r a emergência <strong>de</strong>sses emigrantes na<br />
fronteira Brasil-Paraguai, neste início <strong>de</strong> século, assim como as causas<br />
do seu retorno, integrando-se aos acampamentos do MST, no Estado <strong>de</strong><br />
Mato Grosso do Sul, na luta pela terra. Busco respon<strong>de</strong>r, a partir das<br />
análises empreendidas, se os brasiguaios são novos sujeitos históricos,<br />
constituindo outra formação discursiva ou apenas uma posição-sujeito<br />
que se abriga na mesma FD que afeta o MST. As análises mostram os<br />
brasiguaios como uma nova posição-sujeito inscrita no interior da FD<br />
do MST.<br />
Palavras-chave: Discurso, brasiguaios, posição-sujeito.<br />
DA FRONTEIRA-LIMITE A SITUAÇÕES SOCIAIS DE<br />
FRONTEIRA: UMA REFLEXÃO CONCEITUAL<br />
Sara Dos Santos Mota<br />
Este trabalho insere-se na pesquisa que estamos <strong>de</strong>senvolvendo em<br />
nossa tese <strong>de</strong> doutorado, em que nos voltamos para o ‘portunhol’ e sua<br />
materialização no domínio da escrita a partir <strong>de</strong> publicações impressas<br />
na língua, a saber: Noite nu Norte. Poemas en Portuñol (SEVERO,<br />
2010), Rompidioma (MELLO, 2005), Uma flor na solapa da miséria<br />
(DIEGUES, 2005) e Mar Paraguayo (BUENO, 1992). Filiando- nos a<br />
uma perspectiva teórica da semântica <strong>de</strong> enunciação (GUIMARÃES,<br />
2002; STURZA, 2006), concebemos a língua constituindo sentidos e<br />
em relação com sujeitos no espaço <strong>de</strong> enunciação, relação afetada por<br />
condições histórico- sociais e pelo político. Dado o exposto, conhecer<br />
as abordagens sob as quais a fronteira tem sido teorizada por<br />
pesquisadores <strong>de</strong> outras áreas do conhecimento é fundamental, pois<br />
compreen<strong>de</strong>r o modo <strong>de</strong> operar das dinâmicas fronteiriças permite-nos<br />
lançar luz ao nosso objeto, isto é, o portunhol enquanto língua<br />
materialmente constituída pela fronteira e que significa as tensões e<br />
contradições aí vivenciadas. Assim, nosso objetivo é apresentar uma<br />
reflexão conceitual sobre a fronteira, articulando as posições <strong>de</strong><br />
estudiosos dos campos da geografia e da sociologia, como Raffestin<br />
(1993), Martin (1997), Hissa (2002), Haesbaert et al.(2005),<br />
Albuquerque (2011), entre outros. Palavras-chave: portunhol, fronteira,<br />
reflexão conceitual.<br />
308
Resumo dos Trabalhos<br />
DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:<br />
ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO<br />
Silvana Schwab Do Nascimento<br />
Documentos oficiais para o ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa do estado do<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul: análise do processo <strong>de</strong> elaboração Silvana Schwab<br />
do Nascimento (UFSM) Palavras-chave: documentos oficiais; ensino;<br />
língua portuguesa Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo<br />
<strong>de</strong> elaboração dos documentos oficiais para o ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa do estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul no período <strong>de</strong> 1990 a 2010,<br />
intitulados “<strong>Educação</strong> para crescer: Projeto Melhoria da Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Ensino” (1991-1995), “Padrão Referencial <strong>de</strong> Currículo” (1995-1998)<br />
e “Lições do Rio Gran<strong>de</strong>” (2009). Esse processo <strong>de</strong> elaboração inclui,<br />
além da análise dos documentos, a investigação do que relatam, por<br />
meio <strong>de</strong> entrevistas, seus elaboradores no sentido <strong>de</strong> cotejar o discurso<br />
<strong>de</strong>sses elaboradores com o produto resultante <strong>de</strong>sta elaboração. Neste<br />
estudo, assumimos a perspectiva teórica sócio-histórica bakhtiniana a<br />
partir da qual, ao tratar da verda<strong>de</strong>ira substância da língua,<br />
Bakhtin/Voloshinov (1929/2006) pontuam que esta é constituída pelo<br />
fenômeno social da interação verbal, realizada por meio da enunciação<br />
ou das enunciações, em que a própria interação verbal constitui a<br />
realida<strong>de</strong> fundamental da língua. Até o presente momento, analisamos<br />
textos presentes nos documentos já mencionados e relatos dos<br />
elaboradores <strong>de</strong>sses documentos. Essa análise nos permitiram traçar as<br />
principais concepções <strong>de</strong> língua e ensino vigentes no período <strong>de</strong> 1990 a<br />
2010 quanto ao ensino <strong>de</strong> língua portuguesa<br />
RETRATOS DIGITAIS: MODOS DE DIZER E NÃO-DIZER DO<br />
DISCURSO SEPARATISTA NO ORKUT<br />
Stella Lima<br />
Aracy Ernst (Orientadora)<br />
Atualmente, existem diversos ambientes na re<strong>de</strong> mundial <strong>de</strong><br />
computadores on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>senvolvem várias práticas discursivas na e sob<br />
a <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> formas históricas <strong>de</strong> existência. O ciberespaço,<br />
permitindo uma liberda<strong>de</strong> irrestrita, favorece o surgimento e o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da violência, explícita ou implícita, resultante da<br />
intolerância com o diferente. É o que acontece no caso dos que<br />
309
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
interagem em tópicos separatistas em comunida<strong>de</strong>s do Orkut. Nessas<br />
comunida<strong>de</strong>s, observam-se aspectos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m sócio-histórica<br />
implicados na <strong>de</strong>fesa do separatismo. São discursos que apontam para a<br />
construção <strong>de</strong> um estado i<strong>de</strong>al com base em argumentos ligados à<br />
economia e à formação tanto étnica quanto cultural do povo gaúcho,<br />
mas que, na realida<strong>de</strong>, atuam no sentido <strong>de</strong> acentuar a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> e a<br />
pretensa inferiorida<strong>de</strong> dos outros estados. O presente trabalho tem como<br />
objetivo analisar enunciados, formulados por usuários da comunida<strong>de</strong><br />
“Rio Gran<strong>de</strong> do Sul”, tendo como referencial teórico-metodológico a<br />
Análise <strong>de</strong> Discurso na tradição <strong>de</strong> Michel Pêcheux. São mobilizados os<br />
conceitos <strong>de</strong> formação discursiva, formação i<strong>de</strong>ológica e memória<br />
discursiva que têm uma dimensão não só teórica como operacional. A<br />
partir da observação <strong>de</strong> elementos da materialida<strong>de</strong> lingüística e das<br />
condições <strong>de</strong> produção circunstanciais e históricas do corpus da<br />
pesquisa, busca-se i<strong>de</strong>ntificar modos <strong>de</strong> dizer e <strong>de</strong> não-dizer, relativos à<br />
violência que se opera no meio digital. A observação do corpus, até o<br />
presente momento, permite i<strong>de</strong>ntificar processos discursivos em que se<br />
fazem presentes estratégias <strong>de</strong> falsificação da palavra.<br />
POESIA DA FRONTEIRA<br />
Uruguay Cortazzo<br />
A poesia <strong>de</strong> escritores uruguaios fronteiriços tem uma história que vai<br />
do conflito político entre Brasil e Uruguai a afirmação <strong>de</strong> uma<br />
especificida<strong>de</strong> regional, até finalmente assumir a fronteira como um<br />
espaço específico próprio on<strong>de</strong> uma nova i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> estaria se<br />
construindo. Essa i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> seria uma fusão ou uma dupla<br />
<strong>de</strong>si<strong>de</strong>ntificação das línguas e das culturas? O que seria então uma<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> fronteiriça segundo este processo poético? Essas questões<br />
serão discutidas neste trabalho.<br />
DA LEGISLAÇÃO AO INSTRUMENTO LINGUÍSTICO: O<br />
FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA DISCURSIVA<br />
Valeria De Cassia Silveira Schwuchow<br />
Verli Petri (Orientadora)<br />
O presente trabalho traz reflexões iniciais acerca da constituição e<br />
instituição da imagem do sujeito gaúcho nos dicionários. Para a<br />
pesquisa tomamos como ponto <strong>de</strong> partida a Lei 8.813, do Estado do<br />
310
Resumo dos Trabalhos<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, <strong>de</strong> 10 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1989, que oficializa o uso da<br />
vestimenta “pilcha gaúcha” como traje <strong>de</strong> honra a ser usada em atos<br />
oficiais públicos <strong>de</strong>sse Estado. Seguimos a perspectiva teórica da<br />
Análise <strong>de</strong> Discurso e História das I<strong>de</strong>ias Linguísticas como vem sendo<br />
<strong>de</strong>senvolvida no Brasil pelos princípios metodológicos propostos por<br />
Eni Orlandi e pela teoria da História das I<strong>de</strong>ias Linguísticas baseada nos<br />
estudos <strong>de</strong> José Horta Nunes sobre os dicionários no Brasil. Os<br />
dicionários contemplam nos seus sentidos a constituição <strong>de</strong> uma<br />
prática inscrita num espaço linguístico-histórico que estruturam uma<br />
socieda<strong>de</strong>, “Como todo discurso, o dicionário tem uma história, ele<br />
constrói e atualiza uma memória, reproduz e <strong>de</strong>sloca sentidos,<br />
inscrevendo-se no horizonte dos dizeres historicamente construídos”,<br />
(Nunes, 2006, p. 18). Na prospecção do verbete “pilcha” nos<br />
dicionários: Dicionário <strong>de</strong> Regionalismos do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, <strong>de</strong><br />
Zeno Cardoso Nunes e Rui Cardoso Nunes, <strong>de</strong> 1996 e o Dicionário <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa Houaiss, <strong>de</strong> 2001 , procuraremos verificar ou não os<br />
possíveis dizeres e se ocorre uma atualização dos mesmos, tendo no ato<br />
da enunciação o efeito <strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamento da memória. Do mesmo modo<br />
verificaremos qual memória <strong>de</strong> língua os dicionários trazem na<br />
acepção do verbete elegido.<br />
O SUJEITO FRONTEIRIÇO E SUA RELAÇÃO COM A<br />
ESCRITA: UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA<br />
Valesca Brasil Irala<br />
Po<strong>de</strong>mos afirmar que vivemos em uma socieda<strong>de</strong> grafocêntrica, na qual<br />
a norma-lei da escrita estabelece uma divisão hierárquico-i<strong>de</strong>ntitária<br />
entre os sujeitos que conseguem escrever e os que falam, porém não<br />
escrevem – ou que não escrevem <strong>de</strong> acordo a essa norma-lei<br />
(GUIMARÃES, 2007). Assim, concebemos a escola como a instituição<br />
chave na qual se estabelece essa divisão, pois é aí o lugar on<strong>de</strong> se<br />
materializam as escalas ou gradações do que se espera <strong>de</strong> uma criança<br />
e/ou adolescente em termos <strong>de</strong> escrita. Entretanto, no caso <strong>de</strong> crianças<br />
ou jovens fronteiriços que, ao longo <strong>de</strong> sua escolarização, trocaram <strong>de</strong><br />
sistema escolar (no caso específico do contexto <strong>de</strong>sta investigação, do<br />
sistema brasileiro ao uruguaio) – e <strong>de</strong> língua <strong>de</strong> instrução (do português<br />
ao espanhol) – essa inscrição na escrita po<strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>r<br />
parcialmente - ou ainda não correspon<strong>de</strong>r - ao nível <strong>de</strong> escolarização<br />
do aluno. Também, é possível i<strong>de</strong>ntificar, nos textos <strong>de</strong>sses alunos, <strong>de</strong><br />
forma recorrente, um elemento normalmente consi<strong>de</strong>rado <strong>de</strong> natureza<br />
311
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
para-textual, diferentemente do que ocorre com crianças e/ou<br />
adolescentes que só estudaram nas escolas uruguaias (as quais utilizam<br />
predominantemente a letra <strong>de</strong> imprensa): a presença dominante da letra<br />
cursiva. Consi<strong>de</strong>ramos que esse elemento não é menos importante na<br />
compreensão da inscrição do sujeito na escrita, já que a forma como<br />
ele escreve materializa aspectos i<strong>de</strong>ntitários através <strong>de</strong> traços nem<br />
sempre reconhecíveis como relevantes na socieda<strong>de</strong> e/ou por ele mesmo<br />
enquanto escrevente.<br />
POLÍTICA BRASILEIRA: ENTRE DUAS DECLARAÇÕES<br />
Veridiana Caetano<br />
Sabe-se que capas <strong>de</strong> revistas são o primeiro contato com o provável<br />
consumidor, pois é a apresentação <strong>de</strong> uma publicação impressa e nela<br />
está explícita o assunto principal da edição. Esse material tem como<br />
propósito atrair o olhar do leitor, expressa um modo <strong>de</strong> interpretar os<br />
fatos e, ao mesmo tempo, anuncia a revista a um <strong>de</strong>terminado público.<br />
Assim, este estudo objetiva refletir sobre o material linguístico<br />
apresentado na capa da revista Veja do dia 13 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2010, que<br />
traz duas <strong>de</strong>clarações da presi<strong>de</strong>nte Dilma Rousselff, em diferentes<br />
momentos políticos (como candidata a presidência da República e como<br />
Presi<strong>de</strong>nte eleita). A partir <strong>de</strong> tais <strong>de</strong>clarações será possível observar<br />
“os posicionamentos i<strong>de</strong>ológicos” marcados pelo contexto e pela<br />
distância temporal dos enunciados. Para tanto, serão utilizados<br />
referenciais teóricos concernentes à teoria bakhtiniana (Bakhtin, 2003;<br />
Bakhtin/Volochinov, 2006)."<br />
HÁ ESPAÇO PARA A AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA NA<br />
ENUNCIAÇÃO?<br />
Veronica Pasqualin Machado<br />
Nos estudos em Aquisição <strong>de</strong> Segunda Língua, percebe-se a existência<br />
<strong>de</strong> diversas perspectivas teóricas, como as abordagens behaviorista,<br />
gerativista, psicolinguística e interacionista. Desta forma,o objetivo<br />
<strong>de</strong>ste trabalho é apontar, nesse campo, a falta <strong>de</strong> uma perspectiva<br />
enunciativa, a qual está ancorada na Teoria da Enunciação <strong>de</strong> Émile<br />
Benveniste(1974/2006; 1966/2005). Para isso,o trabalho apresenta as<br />
principais noções que são trazidas pelas perspectivas mencionadas<br />
acerca do fenômeno <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> segunda língua. De forma<br />
312
Resumo dos Trabalhos<br />
preliminar, o estudo mostra a exclusão da singularida<strong>de</strong> no processo <strong>de</strong><br />
<strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> segunda língua, bem como a <strong>de</strong> uma intersubjetivida<strong>de</strong><br />
inscrita no uso da língua, questões que são pertinentes e asseguradas<br />
por uma perspectiva enunciativa. A partir disso, esse estudo preten<strong>de</strong><br />
contribuir tanto para o campo dos estudos enunciativos quanto para o<br />
campo <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Segunda Língua.<br />
DISCURSO IRÔNICO NO “JORNAL SENSACIONALISTA”:<br />
TECENDO RELAÇÕES ENTRE HUMOR E MERCADORIA<br />
Virgínia Lucena Caetano Bolsista Probic-Fapergs<br />
O presente trabalho objetiva analisar o funcionamento do discurso<br />
irônico em notícias humorísticas que circulam na mídia. Para isso,<br />
foram analisadas, à luz da Análise <strong>de</strong> Discurso <strong>de</strong> linha francesa,<br />
notícias publicadas no site “Sensacionalista” vinculado ao Multishow.<br />
O discurso irônico (ORLANDI, 1983), se caracteriza por relacionar<br />
discursos instituídos e algo inesperado. No referido site, notícias<br />
insólitas são apresentadas com uma aparente serieda<strong>de</strong>, típica <strong>de</strong><br />
publicações que visam informar. São feitas brinca<strong>de</strong>iras com préconstruídos<br />
da gran<strong>de</strong> mídia: a aparência <strong>de</strong> neutralida<strong>de</strong> e o<br />
comprometimento com a veracida<strong>de</strong>. Dessa relação entre o mesmo e o<br />
diferente advém o discurso irônico, que sempre revela a tensão entre a<br />
paráfrase e a polissemia. No corpus, observamos que os jornalistas não<br />
tentam escon<strong>de</strong>r posicionamentos i<strong>de</strong>ológicos sob a aparência <strong>de</strong><br />
neutralida<strong>de</strong>, o que revela um movimento polissêmico em comparação<br />
a certas mídias. Mas o humor que produzem é para entretenimento e<br />
não para provocar resistência. No Sensacionalista, a crítica aos<br />
noticiários da gran<strong>de</strong> mídia tem traços polissêmicos, mas também<br />
parafrásticos, pois o humor é uma estratégia mercantil que atrairá<br />
leitores à observação <strong>de</strong> noticiários para estabelecer mais relações<br />
semânticas, necessárias ao riso. Há uma comercialização do riso<br />
(MINOIS, 2003), válido para cativar no público o interesse pela<br />
informação, apresentada com serieda<strong>de</strong> ou comicida<strong>de</strong>. Palavras<br />
Chave: Análise <strong>de</strong> Discurso. Humor. Mídia.<br />
313
LINHA – GÊNERO SOCIAL, LINGUAGENS E ENSINO:<br />
UM PANORAMA<br />
GÊNEROS SOCIAIS EM SALA DE AULA: UMA RELAÇÃO DE<br />
INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM<br />
Camila Lacerda Pinto<br />
Aline Eugênia Campos Da Silva<br />
Palavras-chave: Gêneros Sociais. Linguagem. Aprendizagem<br />
Resumo: Partindo do pressuposto <strong>de</strong> que o ser humano integra-se ao<br />
mundo, sobretudo por meio da língua, que, é tão variada quanto às<br />
diferentes esferas <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s que os falantes <strong>de</strong>sempenham, todo o<br />
enunciador necessita a<strong>de</strong>quar seu enunciado à esfera <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> e à<br />
finalida<strong>de</strong> nas quais se insere. Preocupando-se com esta necessida<strong>de</strong>, o<br />
PCN (1988) <strong>de</strong> Língua Portuguesa, priorizou o trabalho com diferentes<br />
Gêneros Textuais em sala <strong>de</strong> aula. Observando, porém, o contexto <strong>de</strong><br />
ensino atual po<strong>de</strong>-se constatar que a preocupação do PCN com o<br />
domínio <strong>de</strong> diferentes Gêneros e Tipos Discursivos não foi o suficiente<br />
para que a sala <strong>de</strong> aula se tornasse um ambiente <strong>de</strong> interação e<br />
aprendizagem, <strong>de</strong> modo que estes contribuíssem não apenas para a<br />
assimilação do processo <strong>de</strong> comunicação, como para o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da capacida<strong>de</strong> comunicativa. A presente comunicação, baseada nas<br />
teorias dos Gêneros do Discurso (Bakhtin, 1979) e da Enunciação<br />
(Benveniste, 1975) e em conceitos <strong>de</strong> ensino aprendizagem <strong>de</strong> Piaget<br />
(1937) e Vygotsky (1962), busca por meio <strong>de</strong> uma análise minuciosa <strong>de</strong><br />
procedimentos <strong>de</strong> trabalho com diferentes textos em Livros Didáticos e<br />
em aulas <strong>de</strong> Ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa, <strong>de</strong>tectar as principais causas<br />
das <strong>de</strong>ficiências que o processo <strong>de</strong> ensino aprendizagem por meio <strong>de</strong><br />
diferentes Gêneros Textuais enfrenta no contexto atual, bem como<br />
i<strong>de</strong>ntificar as origens <strong>de</strong>stas causas e oferecer subsídios para um<br />
trabalho eficaz com os diferentes Gêneros Sociais nas aulas <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa.<br />
314
Resumo dos Trabalhos<br />
"ONDA DE CALOR" AFETANDO CORPOS MASCULINOS E<br />
FEMININOS – ANÁLISE DE GÊNERO EM UMA FANFICTION<br />
DO FANDOM HARRY POTTER<br />
Catarina Maitê Macedo Machado Barboza<br />
Este trabalho apresenta um estudo da representação, <strong>de</strong> autoria<br />
feminina, do corpo da mulher. Para tanto, o estudo enfoca a produção<br />
<strong>de</strong> fanfictions (narrativas criadas por fãs a partir do enredo, personagens<br />
e cenários <strong>de</strong> uma obra original); mais especificamente, utiliza-se a<br />
fanfiction coletiva "Onda <strong>de</strong> calor", ligada à saga literária Harry Potter,<br />
escrita por J. K. Rowling. A fanfiction em questão foi criada por seis<br />
autoras integrantes <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong> fãs brasileiras auto<strong>de</strong>nominado<br />
"Snapetes", formado por mulheres adultas que escrevem ficções em<br />
que o personagem Severus Snape é o foco central. O presente trabalho<br />
contempla duas perspectivas teóricas: os estudos <strong>de</strong> fanfictions<br />
(fundamentados em Jenkins e Vargas, <strong>de</strong>ntre outros) e os estudos <strong>de</strong><br />
gênero referentes ao corpo feminino (tendo como referenciais Grosz e<br />
Butler). A partir <strong>de</strong>ssas perspectivas teóricas, a análise procura<br />
questionar: no embate entre masculino e feminino, corpo e mente,<br />
quem ganha e quem per<strong>de</strong>?"<br />
LEITURA E ESCRITA DE GÊNEROS DISCURSIVOS NAS<br />
AULAS DE LÍNGUA ESPANHOLA<br />
Cinira Conteratto Furtado<br />
An<strong>de</strong>rson Pimentel Hernan<strong>de</strong>z<br />
Ultimamente os gêneros discursivos tem ocupado um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque<br />
em estudos, publicações e eventos <strong>de</strong>ntro da Linguística Aplicada.<br />
Além disso, a prática <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita, na perspectiva <strong>de</strong> gêneros<br />
discursivos/textuais tem sido orientada pelos documentos oficiais<br />
brasileiros - Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações<br />
Curriculares para o Ensino Médio, na sala <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> Espanhol como<br />
língua estrangeira. Nessa perspectiva, foi criado o projeto Leitura e<br />
escrita <strong>de</strong> gêneros discursivos nas aulas <strong>de</strong> Língua Espanhola, na<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa – Unipampa/Jaguarão. O projeto tem o<br />
propósito <strong>de</strong> elaborar materiais didáticos que contemplem dois<br />
processos <strong>de</strong> interação: a leitura e a escrita <strong>de</strong> textos nas aulas <strong>de</strong><br />
Língua Espanhola, subsidiados pelos estudos <strong>de</strong> Bakhtin (1986,1997),<br />
pelas discussões atuais <strong>de</strong> Llopis García (2007, 2008 e 2011) entre<br />
outros estudiosos da linguagem. Sendo assim, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho<br />
315
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
é apresentar alguns resultados preliminares do projeto que está em fase<br />
<strong>de</strong> execução.<br />
Palavras-chave: gêneros discursivos; leitura; escrita."<br />
AS FORMAS POPULARES DO CONTAR E SUA<br />
ATUALIZAÇÃO EM GUIMARÃES ROSA<br />
Cláudia Lorena Vouto Da Fonseca<br />
A obra <strong>de</strong> Guimarães Rosa, quase que exclusivamente em prosa,<br />
divi<strong>de</strong>-se em um romance, novelas e contos, além <strong>de</strong> um livro <strong>de</strong><br />
poemas, publicado postumamente. Em nossa análise, selecionamos o<br />
conto “Um moço muito branco”, <strong>de</strong> Primeiras estórias, como exemplar<br />
da atualização, via linguagem, das formas do conto popular,<br />
característica marcante da obra do autor mineiro. O vínculo com a<br />
oralida<strong>de</strong> é também <strong>de</strong>stacado, pois, no nosso enten<strong>de</strong>r, é <strong>de</strong>terminante<br />
na sua estruturação. Analisamos, portanto, a situação <strong>de</strong> discurso neste<br />
conto e, trazendo as noções apreendidas dos estudos <strong>de</strong> Bakhtin,<br />
po<strong>de</strong>mos afirmar que estas ajudam a esclarecer <strong>de</strong>terminados aspectos<br />
da linguagem nele apresentada, a partir dos elementos que foram<br />
privilegiados nessa atualização pela linguagem. Palavras-chave:<br />
Guimarães rosa, literatura oral; conto popular; Mikhail Bakhtin; Um<br />
moço muito branco.<br />
“GORDAS, SIM, POR QUE NÃO?”: O DISCURSO DE<br />
MULHERES GORDAS NO BLOG MULHERÃO<br />
Daniela Silva Agen<strong>de</strong>s<br />
Este trabalho busca discutir a questão do corpo feminino no blog<br />
Mulherão, site da internet criado em 2009, produzido por e para<br />
mulheres consi<strong>de</strong>radas gordas, com temas como comportamento –<br />
incluindo autoaceitação e preconceito – e moda. Temos por objetivo<br />
analisar o discurso das blogueiras no que diz respeito ao seu<br />
posicionamento i<strong>de</strong>ológico frente ao corpo gordo e ao magro, esse<br />
último correspon<strong>de</strong>nte ao padrão <strong>de</strong> beleza atual, legitimado pela mídia.<br />
São analisadas duas postagens da seção <strong>de</strong> comportamento (“O manual<br />
<strong>de</strong> sobrevivência para mulheres acima do peso”, <strong>de</strong> 2009, e “Gorda sim,<br />
por que não?”, <strong>de</strong> 2012) e uma da seção <strong>de</strong> moda (“Com que cinto eu<br />
vou?”, <strong>de</strong> 2012). A Análise Crítica do Discurso e as questões <strong>de</strong> gênero<br />
permitem chegar às consi<strong>de</strong>rações <strong>de</strong> que o discurso das blogueiras<br />
316
Resumo dos Trabalhos<br />
apresenta certo avanço, pois cria resistência ao padrão estético baseado<br />
em um corpo magro e propaga a autoaceitação da mulher gorda.<br />
Entretanto, em alguns aspectos, ainda reproduz a i<strong>de</strong>ologia dominante<br />
do padrão <strong>de</strong> magreza. Ainda assim, o blog aparece como um meio <strong>de</strong><br />
comunicação alternativo frente à mídia tradicional; parece haver<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> que sua prática discursiva gere mudança social para<br />
mulheres gordas e na socieda<strong>de</strong> como um todo, especialmente se levado<br />
às salas <strong>de</strong> aula, com o objetivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconstruir preconceitos sobre a<br />
imagem da mulher i<strong>de</strong>al.Palavras-chave: gênero; corpo gordo; blog."<br />
O CORPO ADOLESCENTE NO FILME: THE PRIME OF MISS<br />
JEAN BRODIE<br />
Daniela Vieira Palazzo<br />
O objeto <strong>de</strong>ste artigo é a representação do corpo feminino adolescente<br />
no cinema, a partir do que é visível na silhueta do corpo, nas atitu<strong>de</strong>s,<br />
nos discursos, na linguagem e nas interações e práticas sociais. Buscase<br />
compreen<strong>de</strong>r o diálogo estabelecido entre cinema e representações<br />
do feminino, com base em fundamentos teóricos dos estudos <strong>de</strong> gênero<br />
e do cinema, consi<strong>de</strong>rando-se as contribuições <strong>de</strong> Butler, Scott, De<br />
Lauretis e Nicholson. Nesse enfoque, foi selecionada uma cena do filme<br />
“The Prime of Miss Jean Brodie” sobre a qual a análise é realizada.<br />
Palavras-chave: gênero, corpo, cinema, feminino.<br />
A PROPAGANDA TELEVISIVA COMO DESENCADEADORA<br />
DO TRABALH O COM GÊNEROS DO DISCURSO<br />
Débora De Macedo Cortez Bosco<br />
Palavras-chave: gêneros, propaganda, linguagem<br />
Esta pesquisa buscou respon<strong>de</strong>r à seguinte pergunta: como<br />
<strong>de</strong>senvolver práticas pedagógicas, a partir do gênero propaganda<br />
televisiva, a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar o trabalho com outros gêneros<br />
discursivos, a reflexão sobre a linguagem e a formação crítica? Para<br />
tanto, primeiramente, <strong>de</strong>senvolveu-se uma Unida<strong>de</strong> Didática sobre o<br />
tema “A publicida<strong>de</strong> e o consumismo”. As ativida<strong>de</strong>s propostas<br />
visaram a oportunizar a leitura e interpretação <strong>de</strong> textos <strong>de</strong><br />
circulação social, com ênfase no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s para o<br />
reconhecimento <strong>de</strong> informações explícitas e implícitas, bem como, da<br />
articulação entre as linguagens verbal e não verbal na construção<br />
317
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
do discurso publicitário. Gêneros textuais aplicados: # a tirinha, por<br />
explorar a Multimodalida<strong>de</strong> Linguística. Fonte:<br />
http://www.portalpower.com.br/tirinhas-inteligentes/consumismo/ #<br />
propaganda da Pepsi, visando também um trabalho sobre consciência<br />
crítica e cidadã sobre o consumismo. Fonte:<br />
http://www.youtube.com/watch?v=MkyWgYrtjmk # propaganda<br />
impressa, utilizando o suporte textual cartaz para divulgação<br />
publicitária do produto referido. Reelaboração: # visualização<br />
do making of da propaganda (Fonte:<br />
http://www.youtube.com/watch?v=8c3P1_QJb1E&feature=player_<strong>de</strong>ta<br />
ilpage), no intuito <strong>de</strong> analisar todo o contexto <strong>de</strong> produção que<br />
envolve os bastidores <strong>de</strong> uma propaganda televisiva (elenco,<br />
figurino, cenários, textos, recursos tecnológicos, tempo <strong>de</strong><br />
produção), <strong>de</strong>stacando os interesses mercadológicos implicados neste<br />
processo. Por fim, este trabalho mostrou que o professor po<strong>de</strong> atuar<br />
como mediador, produzindo e implementando propostas didáticas<br />
que aliem os interesses dos discentes, seus conhecimentos prévios<br />
sobre o tema e as aprendizagens necessárias do currículo<br />
escolar (PCNs, 1997).<br />
CORPOS MARCADOS, EM BECOS DA MEMÓRIA, DE<br />
CONCEIÇÃO EVARISTO<br />
Eliane Terezinha Do Amaral Campello<br />
Becos da memória (2006), romance <strong>de</strong> Conceição Evaristo (Belo<br />
Horizonte, MG,1946), escritora afro-brasileira, inscreve-se numa<br />
tradição literária no feminino, em que os <strong>de</strong>slocamentos da<br />
subjetivida<strong>de</strong>, necessariamente carregam uma (<strong>de</strong>s)memória coletiva.<br />
As personagens são apresentadas em tempos <strong>de</strong>scontínuos e, juntas,<br />
formam uma galeria <strong>de</strong> “retratos”: são habitantes negros <strong>de</strong> uma favela.<br />
A ação, o <strong>de</strong>sfavelamento, é testemunhada por uma narradora, em<br />
primeira pessoa, ainda menina, que se <strong>de</strong>sdobra na voz, adulta, da<br />
escritora. Os corpos marcados das mulheres representam<br />
discursivamente, <strong>de</strong> forma incisiva, o problema social que embasa a<br />
narrativa. Discuto também a relevância da equação entre linguagem e<br />
literatura em sala <strong>de</strong> aula.<br />
318
Resumo dos Trabalhos<br />
EDITORIAL E AVALIATIVIDADE: UMA CONFLUÊNCIA<br />
NECESSÁRIA<br />
Glivia Guimarães Nunes<br />
O editorial é um gênero discursivo que privilegia a avaliação, do órgão<br />
<strong>de</strong> comunicação, acerca <strong>de</strong> fatos e acontecimentos do momento em<br />
uma dada comunida<strong>de</strong>. Nesta pesquisa, dirigimos nossa atenção ao<br />
modo como as posições avaliativas se manifestam pela linguagem,<br />
especialmente a categoria semântica <strong>de</strong> julgamento, pertencente ao<br />
subsistema <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong>. O julgamento é utilizado pelo falante/escritor<br />
para avaliar o comportamento <strong>de</strong> um indivíduo ou <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong><br />
indivíduos, po<strong>de</strong>ndo referir-se a sanção social (veracida<strong>de</strong> e<br />
proprieda<strong>de</strong>) ou a estima social (normalida<strong>de</strong>, capacida<strong>de</strong> e<br />
tenacida<strong>de</strong>). Neste estudo analisamos um editorial intitulado “As<br />
Malvinas <strong>de</strong> Dilma”, publicado na edição on-line do jornal O Estado <strong>de</strong><br />
São Paulo, em 02 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2012. A análise tem o embasamento<br />
teórico do Sistema <strong>de</strong> Avaliativida<strong>de</strong> (MARTIN & WHITE, 2005), que<br />
busca i<strong>de</strong>ntificar como um sujeito expressa sua avaliação, apresentando<br />
valores sobre um objeto, um fenômeno ou um evento. No editorial<br />
analisado, apontam-se ocorrências <strong>de</strong> julgamento sobre o<br />
comportamento da Presi<strong>de</strong>nte da República, Dilma Rousseff. A análise<br />
foi realizada manualmente e é <strong>de</strong> cunho qualiquantitativo. Após<br />
i<strong>de</strong>ntificarmos as ocorrências <strong>de</strong> julgamento, classificamo–las para, em<br />
seguida, contabilizarmos as ocorrências e fazermos a interpretação dos<br />
dados, i<strong>de</strong>ntificando como o comportamento <strong>de</strong> Dilma é julgado no<br />
editorial. Os resultados apontam para o predomínio <strong>de</strong> ocorrências <strong>de</strong><br />
julgamento <strong>de</strong> estima social <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> tenacida<strong>de</strong>. "<br />
A MULHER SURDA HOJE: NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAR<br />
O MOVIMENTO SURDO<br />
Ivana Gomes Da Silva<br />
Resumo: Este artigo observa transformação da história das mulheres<br />
surdas, tomando como referência o que aconteceu na Associação dos<br />
Surdos <strong>de</strong> Pelotas. Antigamente, apenas os homens surdos participavam<br />
das associações, estudavam, trabalhavam. A mulher surda permanecia<br />
em casa, nos afazeres domésticos. Neste contexto analiso como uma<br />
mulher surda percebe essas mudanças que ocorreram na sua vida e <strong>de</strong><br />
outras mulheres. Apresento, também, documentos que narram a história<br />
do movimento surdo, para uma análise contextual da participação<br />
319
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
feminina neste espaço. As conquistas como direito <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> frente<br />
aos homens, e também o conhecimento da história <strong>de</strong> luta <strong>de</strong> outras<br />
mulheres surdas po<strong>de</strong>m ser narradas como mo<strong>de</strong>lo, por sua força e<br />
coragem, servindo <strong>de</strong> estímulo para outras mulheres na profissão,<br />
estudo e participação na associação. Utilizando os Estudos Surdos e os<br />
Estudos Culturais em educação, analiso as questões referentes às<br />
relações <strong>de</strong> gênero que atravessam os espaços dos movimentos surdos,<br />
bem como a constituição <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s femininas surdas no contexto<br />
das lutas surdas. Diferente do que ocorria no passado, atualmente é<br />
visível a participação das mulheres surdas nos movimentos, como<br />
também no campo da educação, ingressando nas universida<strong>de</strong>s<br />
trabalhando como professoras nas escolas <strong>de</strong> surdos e professores da<br />
Língua <strong>de</strong> Brasileira <strong>de</strong> Sinais em diferentes locais. As mulheres surdas<br />
entraram na política em suas diferentes instâncias, lutando pelo po<strong>de</strong>r<br />
nas relações, procurando a igualda<strong>de</strong> social. Conforme as mulheres<br />
surdas começaram as lutas nos movimentos, conquistaram espaço no<br />
trabalho, no estudo, concretizando seus direitos, contra a discriminação<br />
por ser mulher e surda.<br />
Palavras-chave: cultura surda; associação dos surdos; mulher surda.<br />
O QUE OS DISCURSOS SOBRE SINTOMATOLOGIA DE<br />
DOENÇAS CARDÍACAS NOS REVELAM SOBRE O<br />
MASCULINO E O FEMININO<br />
Jenice Tasqueto De Mello<br />
Tendo como embasamento teórico a Análise Crítica do Discurso<br />
(Fairclough 2001), com ênfase na representação dos atores sociais (van<br />
Leeuwen, 1997) e na transitivida<strong>de</strong> (Fuzer; Cabral, 2010), este trabalho<br />
vem propor um olhar sobre como as representações discursivas <strong>de</strong><br />
mulheres e homens ocorrem no âmbito da divulgação ou popularização<br />
do conhecimento médico em artigos da revista Veja, entre 1999 e 2005.<br />
A divulgação científica, como todo discurso, po<strong>de</strong> ser situada no campo<br />
das representações e, como tal, traz embutidas as questõs <strong>de</strong> gênero e<br />
sexualida<strong>de</strong>, produzidas e/ou alicerçadas cultural e historicamente pela<br />
ciência ao longo dos tempos, por meio da linguagem. Examinando<br />
textos sob a ótica <strong>de</strong> gênero, observa-se que eles contribuem para a já<br />
disseminada visão da mulher e do corpo feminino como anômalos ou<br />
especiais. A questão da sintomatologia, por exemplo, área muito<br />
explorada pela “divulgação científica”, baseia-se geralmente em<br />
pesquisas realizadas com pessoas do sexo masculino que, na verda<strong>de</strong>,<br />
320
Resumo dos Trabalhos<br />
não representam a maioria, uma vez que as mulheres têm<br />
historicamente sido excluídas <strong>de</strong>stas pesquisas. Ao examinar o discurso<br />
popularizado sobre a sintomatologia <strong>de</strong> doença cardíaca, pensa-se estar<br />
contribuindo para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma visão crítica sobre a<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>, objetivo principal da ACD, segundo van Dijk (2003),<br />
Fairclough (2001), e outros teóricos.<br />
Palavras-chave: gênero social – representação”; divulgação científica<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NO QUADRO A<br />
NEGRA DE TARSILA DO AMARAL<br />
Lenita Vargas<br />
Resumo: O objeto <strong>de</strong> pesquisa <strong>de</strong>ste artigo é a análise do corpo<br />
feminino, representado pelo quadro A Negra <strong>de</strong> Tarsila do Amaral. A<br />
tela foi pintada em 1926, me<strong>de</strong> 100 x 81,3 cm e se encontra no acervo<br />
do Museu <strong>de</strong> Arte Contemporânea <strong>de</strong> São Paulo. Trata-se <strong>de</strong> uma figura<br />
que foge aos padrões europeus e americanos <strong>de</strong> beleza vigentes na<br />
época <strong>de</strong> sua produção. Devido à reconhecida importância da obra A<br />
Negra, a mesma servirá <strong>de</strong> objeto, neste estudo, para investigar as<br />
possíveis contribuições da pintura no que diz respeito à concepção do<br />
corpo feminino, utilizando-se estudos sobre a pintura, a biografia <strong>de</strong><br />
Tarsila do Amaral e teorias <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong> gênero, com base nas noções<br />
<strong>de</strong> Butler, Scott, Lauretis e Nicholson. O critério <strong>de</strong> seleção da obra foi<br />
a representação do corpo da mulher por autora feminina. Preten<strong>de</strong>-se<br />
com a realização <strong>de</strong>ste trabalho contribuir para estudos a respeito da<br />
concepção e expressão do corpo feminino e do gênero na pintura.<br />
Palavras-chave: gênero, corpo, feminino, pintura.<br />
O ENSINO DA CULTURA ATRAVÉS DOS LIVROS<br />
DIDÁTICOS DE ELE. QUE CULTURA ENSINAMOS?<br />
Luciana Contreira Domingo<br />
Nesta comunicação compartilharemos os resultados obtidos na análise<br />
das coleções didáticas <strong>de</strong> Língua Espanhola selecionadas pelo PNLD<br />
2011. A pesquisa foi realizada no Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em<br />
Letras e Linguística da UFBA e teve como objetivo averiguar se as<br />
ativida<strong>de</strong>s propostas pelas coleções estimulam a formação da<br />
competência comunicativa intercultural (CCI) e qual o conceito <strong>de</strong><br />
cultura adotado em cada abordagem. Fundamentam este trabalho a as<br />
321
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
teorias sobre competência comunicativa, competência comunicativa<br />
intercultural, educação intercultural e interculturalida<strong>de</strong>, além dos<br />
documentos que orientam a educação nacional. Ao constatar a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> discutir criticamente os livros didáticos <strong>de</strong> Língua<br />
Espanhola elaboramos um questionário a partir das perspectivas<br />
sociocultural, sociolinguística e curricular. Sob a perspectiva<br />
sociocultural analisamos a representação dos indivíduos/ personagens (e<br />
o tratamento intercultural entre os mesmos), o estímulo à reflexão<br />
sobre a cultura da língua meta e a própria, os temas mais frequentes, a<br />
menção a fatores consi<strong>de</strong>rados tabus, etc.; sob a perspectiva<br />
sociolinguística avaliamos o tratamento dispensado às varieda<strong>de</strong>s<br />
linguísticas (da língua meta e da materna), a varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> situações<br />
comunicativas, a representação dos falantes das diferentes varieda<strong>de</strong>s<br />
linguísticas, etc., e finalmente, a partir da perspectiva curricular,<br />
analisamos a organização e a coerência das e entre as unida<strong>de</strong>s, a<br />
flexibilida<strong>de</strong> do material quanto ao seu uso pelo professor, o estímulo à<br />
reflexão docente, etc. Os resultados obtidos apontam que as ativida<strong>de</strong>s<br />
propostas, tal como são apresentadas, não contribuem para a formação<br />
da CCI."<br />
AS TEORIAS LINGUÍSTICAS CITADAS NO MANUAL DO<br />
PROFESSOR NO LIVRO DIDÁTICO E O TRABALHO COM A<br />
LÍNGUA NO MANUAL: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E<br />
PRÁTICAS<br />
Luciana Roldão Ramos<br />
O presente trabalho busca analisar o “manual do professor” anexado no<br />
livro didático “Português e Linguagens” <strong>de</strong> autoria <strong>de</strong> William Cereja e<br />
Thereza Cochar, cuja 5º edição foi publicada em 2005 e fez parte do<br />
Plano Nacional do Livro Didático, do MEC, nos anos <strong>de</strong> 2009, 2010 e<br />
2011. Os autores, na introdução do manual do professor, ressaltam que<br />
os livros aten<strong>de</strong>m às propostas da Lei das Diretrizes e Bases da<br />
<strong>Educação</strong> e dos Parâmetros Curriculares Nacionais <strong>de</strong> Ensino Médio.<br />
Consi<strong>de</strong>rando que esse último documento advoga a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o<br />
ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa nortear-se pelos pressupostos das teorias<br />
das análise <strong>de</strong> texto e discurso, será feita uma pesquisa afim <strong>de</strong><br />
investigar o modo como essas teorias estão sendo trabalhadas no livro<br />
didático. O manual indica que segue essa mesma perspectiva,<br />
aten<strong>de</strong>ndo então aos PCNs. No entanto, o que se observa em cada livro<br />
é que essa questão não é a base que fundamenta a totalida<strong>de</strong> do trabalho<br />
322
Resumo dos Trabalhos<br />
com a língua, pois são observados tratamentos diferentes <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong><br />
linguagem. Já que existem diversas teorias mencionadas no manual do<br />
professo, como, por exemplo, a teoria <strong>de</strong> gênero textual vista como<br />
ferramenta para o ensino/aprendizagem, observou-se que não há relação<br />
entre elas e o trabalho proposto no livro didático. Apesar <strong>de</strong> apresentar<br />
textos <strong>de</strong> gêneros diversos, estes não são estudados <strong>de</strong> forma estanque,<br />
sem relação com o trabalho com a língua, ainda calcada em abordagens<br />
mais tradicionais. PALAVRAS-CHAVE:ensino <strong>de</strong> língua, teorias<br />
linguísticas, livro didático Pós-graduação em Letras-<br />
ESPECIALIZAÇÃO (UFPEL) Orientadora (UFPEL)<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA DANÇA DO<br />
VENTRE, EM AMRIK, DE ANA MIRANDA<br />
Luisa Klug Gue<strong>de</strong>s<br />
O presente trabalho preten<strong>de</strong> mostrar como o corpo feminino é<br />
representado na dança do ventre, a partir da <strong>de</strong>scrição da protagonista<br />
Amina, da obra “Amrik” (1997), <strong>de</strong> Ana Miranda. A <strong>de</strong>scrição que<br />
será utilizada, a fim <strong>de</strong> verificar a representação do corpo feminino, é<br />
feita pela personagem “Abraão” que se encanta, no dia <strong>de</strong> seu<br />
casamento, com a dança <strong>de</strong> Amina. Esta forma artística foi escolhida<br />
para ser pesquisada porque a essência da dança é a sensualida<strong>de</strong> dos<br />
movimentos e é, em sua maioria, praticada por mulheres. Além disso,<br />
há a crença <strong>de</strong> que nessa modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dança, a mulher faz<br />
movimentos sensuais somente para atrair homens, tornando-se, assim,<br />
um objeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>sejo. Para fundamentar as i<strong>de</strong>ias <strong>aqui</strong> expostas, autoras<br />
como De Lauretis (1994) e Funck (2002) são fundamentais para<br />
explicar o conceito <strong>de</strong> gênero e aspectos importantes para compreen<strong>de</strong>r<br />
as representações presentes na dança e na <strong>de</strong>scrição da protagonista. "<br />
PROCESSOS VERBAIS EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA<br />
SOBRE CRIMES DE CALÚNIA: UMA INVESTIGAÇÃO NA<br />
PERSPECTIVA SISTÊMICO-FUNCIONAL<br />
Marcos Rogério Ribeiro<br />
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a realização léxicogramatical<br />
das ofensas verbais no boletim <strong>de</strong> ocorrência policial (BO)<br />
sobre crimes <strong>de</strong> linguagem contra a honra, especificamente sobre o<br />
crime <strong>de</strong> calúnia. Para a análise, serão utilizados princípios da<br />
323
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY e MATTHIESSEN,<br />
2004) sobre o Sistema <strong>de</strong> Transitivida<strong>de</strong>. Foram coletados 2.343 BOs,<br />
sobre crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), registrados<br />
no período <strong>de</strong> 01-09- 2011 a 30-09-2011 no território do Estado do Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul, Brasil. Desse total, foram selecionados 566 BOs <strong>de</strong><br />
crime <strong>de</strong> calúnia, os quais foram examinados com a ferramenta<br />
computacional Wordsmith Tools 6.0 (SCOTT, 2012), a fim <strong>de</strong><br />
verificar, com o uso dos aplicativos WordList e Concord, os itens<br />
lexicais mais frequentes que funcionam como processos verbais no<br />
Sistema <strong>de</strong> Transitivida<strong>de</strong> e investigar, a partir da análise léxicogramatical,<br />
como a linguagem é usada para manifestar representações<br />
da experiência pessoal consi<strong>de</strong>radas, no contexto jurídico, crimes <strong>de</strong><br />
calúnia. Os resultados iniciais indicam que os processos verbais mais<br />
recorrentes no histórico do BO <strong>de</strong> calúnia são Dizer, Representar,<br />
Acusar, Comunicar, Informar e Relatar. Essas seis formas verbais<br />
geralmente aparecem como componentes <strong>de</strong> orações verbais<br />
projetantes, que frequentemente prece<strong>de</strong>m orações projetadas do tipo<br />
Relato, as quais, por sua vez, constroem as representações do evento<br />
criminoso. Essa configuração léxico-gramatical mostra- se como uma<br />
característica típica do gênero relato, uma vez que sua presença é<br />
predominante no histórico dos BOs analisados. A partir <strong>de</strong>ssas<br />
constatações iniciais, será dada continuida<strong>de</strong> à análise da transitivida<strong>de</strong><br />
a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>screver e interpretar as realizações léxico-gramaticais das<br />
ofensas verbais nas orações projetadas e verificar se há distinção entre<br />
essas realizações nos três tipos <strong>de</strong> crimes <strong>de</strong> linguagem contra a honra.<br />
Palavras-chave: análise léxico-gramatical; crimes <strong>de</strong> linguagem;<br />
boletim <strong>de</strong> ocorrência; calúnia.<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO NA<br />
ESCULTURA VERTUMNE ET POMONE, DE CAMILLE<br />
CLAUDEL<br />
Nara Eliane Pereira Leal<br />
O presente trabalho preten<strong>de</strong> mostrar como o corpo feminino é<br />
representado na escultura em mármore branco (1905), <strong>de</strong> Camille<br />
Clau<strong>de</strong>l, um ícone do feminismo que, acima <strong>de</strong> tudo, queria existir<br />
como uma artista, mas que se afundou na loucura. A expressivida<strong>de</strong><br />
incan<strong>de</strong>scente e sensível da autora está revelada nesta obra dramática<br />
que simboliza sua história pessoal. A escolha <strong>de</strong>sta forma artística se<br />
<strong>de</strong>u após reflexões acerca das emoções vividas pela artista e da forma<br />
324
Resumo dos Trabalhos<br />
como as esculpe ao representar o corpo feminino. Para fundamentar as<br />
i<strong>de</strong>ias expostas, será utilizado o conceito <strong>de</strong> gênero <strong>de</strong> Judith Butler<br />
(1998)."<br />
"PRECIOSIDADE" DE CLARICE LISPECTOR: UMA<br />
LEITURA SOB O VIÉS DA ACD E DA CRÍTICA LITERÁRIA<br />
FEMINISTA<br />
Renata Kabke Pinheiro<br />
O corpo feminino é um tema marcante na obra <strong>de</strong> Clarice Lispector -<br />
em especial nas colunas <strong>de</strong> jornais escritas por ela década <strong>de</strong> 50 e 60 no<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro -, mas ele também aparece com frequência nos livros da<br />
autora. Às vezes, em romances como "A Hora da Estrela" ou em<br />
contos como "A Imitação da Rosa", ele é facilmente perceptível, em<br />
outras, é uma presença sutil, imbricada na tessitura dos textos que<br />
Clarice constrói com maestria e arte. De modo geral, na obra <strong>de</strong> Clarice<br />
Lispector fica sempre a questão <strong>de</strong> se o corpo é atravessado pela<br />
linguagem ou se ele é que dá forma a ela, proporcionando<br />
oportunida<strong>de</strong>s preciosas <strong>de</strong> se refletir sobre esse tema na obra da<br />
escritora. Neste trabalho, proponho uma análise <strong>de</strong> um dos contos<br />
publicados no livro "Laços <strong>de</strong> Família" (1960) <strong>de</strong> Clarice Lispector:<br />
"Preciosida<strong>de</strong>". Sob a luz da Análise Crítica do Discurso e da Crítica<br />
Literária Feminista, observarei aspectos do texto que acredito serem<br />
relevantes pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> eles encontrarem ressonância em<br />
leitoras jovens como a personagem central <strong>de</strong> "Preciosida<strong>de</strong>" e, a partir<br />
daí, pretendo estabelecer um <strong>de</strong>bate que leve a uma leitura crítica do<br />
conto partindo <strong>de</strong> um ponto <strong>de</strong> vista feminino/feminista.<br />
A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO EM "EL VENDO<br />
HERIDO<br />
Rita De Lima Nóbrega<br />
O presente trabalho é um convite à reflexão acerca <strong>de</strong> práticas sociais<br />
que ainda reproduzem e reforçam valores consi<strong>de</strong>rados “ultrapassados”,<br />
os quais contribuem para a reprodução <strong>de</strong> preconceitos. Consi<strong>de</strong>rada<br />
uma das maiores artistas do século XX, Frida Kahlo <strong>de</strong>ixou marcas<br />
inconfundíveis em suas obras. Estas, na maioria das vezes, refletiam os<br />
medos, as angústias e os momentos sócio-históricos da vida da pintora<br />
mexicana. Nesse sentido, a sua produção se torna provocativa e muito<br />
325
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
relevante, pois mescla ficção e realida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nunciando questões, até<br />
então, veladas. Assim, tal análise visa dialogar sobre a representação do<br />
corpo feminino, a partir da análise da tela “El venado herido” (1946),<br />
com base nos estudos sobre gênero e nos pressupostos da Análise<br />
Crítica do Discurso (ACD), segundo Norman Fairclough. Nessa<br />
abordagem, os indivíduos são vistos como inseridos em práticas<br />
discursivas e sociais que corroboram para a manutenção ou<br />
transformação <strong>de</strong> estruturas. Por sua vez, o discurso é entendido como<br />
constituinte do social e como um modo <strong>de</strong> ação, pois é uma das<br />
maneiras pelas quais as pessoas po<strong>de</strong>m agir sobre o mundo e sobre os<br />
outros, ou seja, é uma forma <strong>de</strong> representação, pois nele valores e<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s são representados <strong>de</strong> forma particular.<br />
Palavras-chaves: Corpo; Gênero; Discurso"<br />
326
LINHA TEMÁTICA: LINGUAGEM, COGNIÇÃO E<br />
ENSINO: NOVOS ESPAÇOS<br />
O USO DO TRADUTOR ELETRÔNICO PARA O ENSINO DE<br />
INGLÊS INSTRUMENTAL<br />
Adriana Riess Karnal<br />
Este estudo se propõe a analisar as estratégias <strong>de</strong> leitura utilizadas<br />
quando na leitura <strong>de</strong> um texto acadêmico <strong>de</strong> inglês traduzido para o<br />
português pela ferramenta <strong>de</strong> tradução do Google. Para esse fim, várias<br />
questões são discutidas. Primeiramente, o avanço da linguística<br />
computacional no que se refere à qualida<strong>de</strong> da tradução automática.<br />
Lima (2008) traça um histórico do <strong>de</strong>senvolvimento dos tradutores<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> os primeiros que atuavam no nível lexical até os atuais que<br />
funcionam no nível <strong>de</strong> concordância verbo-nominal, or<strong>de</strong>m das<br />
palavras, até o reconhecimento <strong>de</strong> diferentes contextos. Faz-se uma<br />
retomada das questões cognitivas envolvidas na leitura,<br />
fundamentando-se principalmente no mo<strong>de</strong>lo da eficiência verbal <strong>de</strong><br />
Perfetti. Além disso, discute-se também o papel das estratégias<br />
cognitivas <strong>de</strong> leitura já conhecidas, tais como skimming e scanning,<br />
preditibilida<strong>de</strong> e inferência ( Smith1999, Baldo 2006, Nunan 1996,<br />
Klein 1999). A partir <strong>de</strong>sse aporte teórico, aplicou-se um teste <strong>de</strong><br />
leitura com perguntas <strong>de</strong> compreensão <strong>de</strong> um texto técnico traduzido<br />
pelo Google em alunos não proficientes em inglês. A i<strong>de</strong>ia do estudo,<br />
nessa sentido, é analisar se houve compreensão leitora eficaz. A análise<br />
das respostas permitiu avaliar se as estratégias foram empregadas e se<br />
elas foram suficientes para um resultado positivo <strong>de</strong> leitura.<br />
Finalmente, esse estudo propõe uma discissão inicial entre a<br />
comunida<strong>de</strong> da área no sentido <strong>de</strong> repensar a metodologia <strong>de</strong> ensino<br />
para as aulas <strong>de</strong> inglês instrumental.<br />
INTERSUBJETIVIDADE REFERENCIAL, CONSTRUÇÃO DE<br />
SIGNIFICADOS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Alexandre Batista Da Silva<br />
Este trabalho visa discutir aspectos do processo construção <strong>de</strong><br />
significação a partir <strong>de</strong> palavras que nomeiam conceitos diferentes<br />
<strong>de</strong>ntro e fora da escola e que po<strong>de</strong>m suscitar mismatches <strong>de</strong><br />
enquadramento referenciais, como é o caso da palavra romantismo, que<br />
327
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
remete aos conceitos <strong>de</strong> enlace amoroso, fora da escola, e <strong>de</strong> estilo<br />
literário, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>la. Discutirei aspectos <strong>de</strong>ssa construção<br />
consi<strong>de</strong>rando os conceitos <strong>de</strong> intersubjetivida<strong>de</strong> referencial,<br />
normativida<strong>de</strong> e situativida<strong>de</strong>. O conceito <strong>de</strong> intersubjetivida<strong>de</strong><br />
referencial postula a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> os interactantes estarem<br />
visualizando o mesmo objeto posto no contexto <strong>de</strong> comunicação. Esta<br />
visualização estabelece as condições <strong>de</strong> validação do objeto foco da<br />
atenção e a construção negociada <strong>de</strong> significados. Além disso, essa<br />
construção <strong>de</strong> significados é normatizada e sempre situada. Todavia,<br />
po<strong>de</strong>m acontecer mismatches <strong>de</strong> enquadramentos referenciais porque a<br />
construção <strong>de</strong> significados nunca é apartada das experiências que<br />
constituem os sujeitos. Para verificar este estado <strong>de</strong> coisas, avaliou-se<br />
ativida<strong>de</strong>s propostas em livros didáticos <strong>de</strong> Língua Portuguesa, no<br />
Ensino Médio porque é <strong>de</strong>les que, quase sempre, emergem tais<br />
ativida<strong>de</strong>s em sala <strong>de</strong> aula. O resultado é que o livro didático, muitas<br />
vezes não oferece informações linguísticas para que o aluno cognize<br />
a<strong>de</strong>quadamente o significado <strong>de</strong>sejado das palavras selecionadas<br />
Palavras-chave: Intersubjetivida<strong>de</strong> Referencial; Construção <strong>de</strong><br />
Significado; Livro Didático<br />
OS PARÂMETROS DE ENSINO DE LÍNGUAS BRASILEIRO E<br />
NORTE-AMERICANO: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS<br />
Aline Behling Duarte<br />
Tem-se discutido intensamente a importância <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>rem-se línguas<br />
estrangeiras na escola. No entanto, não se leva em consi<strong>de</strong>ração a<br />
gran<strong>de</strong> varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> idiomas, uma vez que, nos últimos anos, a língua<br />
inglesa tornou-se a língua global. Todavia, é possível perceber que<br />
documentos oficiais da educação tem proposto uma diversificação no<br />
campo <strong>de</strong> ensino. Assim, acredita-se ser indispensável estudar e analisar<br />
os princípios propostos pelos documentos norteadores <strong>de</strong>sse ensino.<br />
Dessa forma, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é avaliar os Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais tanto do ensino fundamental, como do ensino<br />
médio (1998, 2000), uma vez que tais documentos servem como pilar<br />
para o <strong>de</strong>senvolvimento das ações da sala <strong>de</strong> aula. Além disso,<br />
também, acredita-se ser relevante fazer esse estudo através da<br />
comparação dos parâmetros americanos, o Standards for Language<br />
Learning, a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar as semelhanças e diferenças <strong>de</strong> ambos os<br />
documentos oficias. Desta forma, esse estudo <strong>de</strong>staca algumas das<br />
questões que se julgaram ser essenciais. A primeira questão a ser<br />
328
Resumo dos Trabalhos<br />
avaliada são os valores gerais apresentados por ambos os parâmetros.<br />
Em seguida, sobre o nível linguístico que os alunos <strong>de</strong>vem alcançar e<br />
como o trabalho para que isso aconteça <strong>de</strong>ve ser feito. A<strong>de</strong>mais, foram<br />
analisados os papéis da tecnologia e da interdisciplinarida<strong>de</strong>, ponto<br />
bastante enfatizado no PCN. Portanto, ao concluir o estudo po<strong>de</strong>-se<br />
perceber que há um planejamento em longo prazo no que diz respeito<br />
aos parâmetros norte-americanos, visto que existe a preocupação <strong>de</strong><br />
iniciar os educandos o quanto antes no estudo <strong>de</strong> línguas estrangeiras,<br />
porém para o documento brasileiro isso não é válido. Além disso, o<br />
fator que maior <strong>de</strong>staque merece é quanto ao que se espera do discente.<br />
Em ambos os documentos do MEC, o aluno <strong>de</strong>ve ser capaz <strong>de</strong> ler em<br />
língua estrangeira, já para o documento americano, o educando <strong>de</strong>ve<br />
ser capaz <strong>de</strong> comunicar-se e compreen<strong>de</strong>r fatores culturais.<br />
CONSTRUÇÕES DE MOVIMENTO FICTIVO EM<br />
PORTUGUÊS DO BRASIL<br />
Aline Bisotti Dornelas<br />
Luiz Fernando Matos Rocha<br />
Palavras-chave: Movimento fictivo; Cognição; Linguística <strong>de</strong> Corpus.<br />
Este trabalho preten<strong>de</strong> investigar construções <strong>de</strong> movimento fictivo em<br />
dados reais <strong>de</strong> fala do Português do Brasil, como, por exemplo, A<br />
tatuagem vai <strong>de</strong> um ombro ao outro. Em casos como este, uma relação<br />
espacial <strong>de</strong> movimento é conceptualizada como virtual ou fictiva por<br />
meio da experiência humana <strong>de</strong> escaneamento visual que expressa<br />
dinamicida<strong>de</strong> para uma entida<strong>de</strong> estática (tatuagem). O estudo tem<br />
como fundamentos os pressupostos teóricos <strong>de</strong> Langacker (2008),<br />
Talmy (1996), Matlock (2001, 2011), os quais em geral postulam a<br />
fictivida<strong>de</strong> como um fenômeno cognitivo que evi<strong>de</strong>ncia a relação entre<br />
experiência e linguagem. Os dados linguísticos investigados serão<br />
provenientes <strong>de</strong> contextos reais <strong>de</strong> fala, coletados <strong>de</strong> corpora como C-<br />
ORAL Brasil (RASO e MELLO, 2012). A proposta é verificar em<br />
quais contextos diafasicamente distintos e específicos ocorrem tais<br />
construções, tendo-se como hipótese <strong>de</strong> trabalho a noção <strong>de</strong> que seu<br />
aparecimento se dá proximamente a construções <strong>de</strong> movimento factivo.<br />
329
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DOS SINAIS DE LIBRAS<br />
(LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA) DA ÁREA DE<br />
PSICOLOGIA<br />
Antonielle Cantarelli Martins<br />
Declararam-se no Censo Demográfico 2010 como portadoras <strong>de</strong> algum<br />
tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiência um total <strong>de</strong> 27,4 milhões <strong>de</strong> pessoas, <strong>de</strong>stes, 9,7<br />
milhões <strong>de</strong> pessoas <strong>de</strong>claram ter <strong>de</strong>ficiência auditiva. No Brasil, os<br />
surdos utilizam a Libras como primeira língua, antes que o português<br />
seja aprendido. Assim, como outras línguas naturais e existentes, ela é<br />
composta por níveis linguísticos como fonologia, morfologia e sintaxe,<br />
da mesma forma que nas línguas orais. Esta língua foi reconhecida pela<br />
lei Fe<strong>de</strong>ral 10.436 <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2002 que prevê a inserção da<br />
Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
professores, tanto para o exercício do magistério, em nível médio e<br />
superior, como também nos cursos <strong>de</strong> Fonoaudiologia e como<br />
disciplina curricular optativa nos <strong>de</strong>mais cursos <strong>de</strong> educação superior e<br />
na educação profissional. Existe uma carência <strong>de</strong> profissionais da área<br />
clinica que conheçam língua <strong>de</strong> sinais e estejam aptos a aten<strong>de</strong>r<br />
pacientes surdos sinalizadores. Para permitir o cumprimento <strong>de</strong>sta lei e<br />
possibilitar que a Comunida<strong>de</strong> Surda seja atendida nas suas<br />
necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> forma eficaz, é necessário que o registro da língua seja<br />
feito, fornecendo assim material para construção <strong>de</strong> aulas temáticas e<br />
instrumentos <strong>de</strong> avaliação que auxiliem a prática clinica. Este trabalho,<br />
<strong>de</strong> forma autônoma, tem o objetivo <strong>de</strong> investigar os sinais <strong>de</strong> libras<br />
existentes na área da psicologia, registrar em CD e disponibilizar o<br />
material para psicólogos e professores <strong>de</strong> Libras."<br />
EXPRESSÃO FACIO-CORPORAL NA LIBRAS:<br />
APRENDIZAGEM, USO E COMPREENSÃO<br />
Bianca Ribeiro Pontin<br />
Emiliana Faria Rosa<br />
Palavras-chave: LIBRAS; ensino; expressões facio-corporais.<br />
Com o crescente aumento do ensino, e, portanto, aprendizado, da<br />
LIBRAS (língua brasileira <strong>de</strong> sinais) pelos estudantes do ensino<br />
superior no país, muitas questões são levantadas. O aprendizado da<br />
LIBRAS por estudantes ouvintes requer a atenção <strong>de</strong>stes para as<br />
distinções <strong>de</strong> tal língua. Neste trabalho uma das particularida<strong>de</strong>s a ser<br />
observada serão as expressões facio-corporais. Essencial na língua <strong>de</strong><br />
330
Resumo dos Trabalhos<br />
sinais, estas expressões são continuamente <strong>de</strong>ixadas <strong>de</strong> lado e<br />
esquecidas por alguns alunos ouvintes. Muitos não percebem a<br />
importância do uso e das especificações das mesmas e se esquecem da<br />
questão <strong>de</strong> que as expressões têm papel tão importante quanto a<br />
entonação e oralida<strong>de</strong> na língua oral. Observa-se que a questão não é<br />
pelo esquecimento do uso <strong>de</strong>ste parâmetro fonológico da LIBRAS, mas<br />
sim por isso não ser parte do cotidiano oral das pessoas ouvintes. É<br />
preciso lembrar também que alguns alunos ouvintes na graduação<br />
fazem a ca<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> LIBRAS por obrigação do currículo e, portanto,<br />
apresentam dificulda<strong>de</strong>s e/ou <strong>de</strong>sprezam esta língua.<br />
PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS PLOSIVOS DO INGLÊS (L2)<br />
POR APRENDIZES BRASILEIROS: EFEITOS DE<br />
DIFERENTES PADRÕES DE VOICE ONSET TIME<br />
Bruno Moraes Schwartzhaupt<br />
Ana Hemmons Baratz<br />
Palavras-chave: Voice Onset Time; I<strong>de</strong>ntificação; Discriminação.<br />
Este trabalho tem como objetivo verificar a percepção <strong>de</strong> segmentos<br />
plosivos do Inglês, em posição inicial, por aprendizes brasileiros. Esses<br />
segmentos se diferem nos dois sistemas linguísticos quanto aos seus<br />
padrões <strong>de</strong> Voice Onset Time (VOT): plosivas sonoras no PB são<br />
produzidas com VOT negativo, enquanto são produzidas com VOT<br />
zero no Inglês; por outro lado, plosivas surdas são produzidas com<br />
VOT zero na L1, mas com VOT positivo (aspiração) na língua-alvo.<br />
De acordo com o Speech Learning Mo<strong>de</strong>l (FLEGE, 1995) e o<br />
Perceptual Assimilation Mo<strong>de</strong>l – L2 (BEST & TYLER, 2007), os<br />
fones da L1 e da L2 pertencerem a um espaço fonológico comum; tal<br />
fato faz com que o aprendiz não consiga distinguir os padrões das duas<br />
línguas. Os fones da L2 são, <strong>de</strong>ssa forma, percebidos como variantes<br />
daqueles pertencentes à L1 do aprendiz. Consi<strong>de</strong>rando-se, portanto, que<br />
o aprendiz não faz distinção entre esses padrões <strong>de</strong> vozeamento, ele<br />
ten<strong>de</strong> a não produzi-los. Assim sendo, este estudo buscou verificar o<br />
grau <strong>de</strong> percepção das plosivas do Inglês por brasileiros, através <strong>de</strong> um<br />
teste <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e um teste <strong>de</strong> discriminação AxB. Dentre os<br />
estímulos dos testes, além das plosivas com os três padrões naturais <strong>de</strong><br />
VOT, foram utilizados segmentos manipulados: plosivas surdas do<br />
Inglês tiveram seu VOT reduzido, para soarem como plosivas sonoras.<br />
Os resultados sugerem a existência <strong>de</strong> outras pistas acústicas que, além<br />
331
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
do VOT, po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>terminar a distinção entre plosivas surdas e sonoras<br />
pelos aprendizes.<br />
O PAPEL DA IMERSÃO NO DESEMPENHO DE<br />
MULTILÍNGUES EM TAREFA DE PRIMING GRAFO-<br />
FÔNICO-FONOLÓGICO<br />
Cintia Avila Blank<br />
Márcia Cristina Zimmer (Orientadora)<br />
Palavras-chave: multilinguismo; priming grafo-fônico-fonológico;<br />
imersão<br />
Neste trabalho, são apresentados resultados <strong>de</strong> uma tarefa <strong>de</strong> priming<br />
grafo-fônico-fonológico, envolvendo 20 participantes multilíngues,<br />
falantes nativos do português brasileiro (L1), <strong>de</strong> francês (L2) e <strong>de</strong> inglês<br />
(L3). Os participantes foram divididos em 2 grupos: no grupo 1, foram<br />
coletados 10 participantes, que haviam aprendido e usado suas línguas<br />
estrangeiras no Brasil, em ambiente acadêmico. No grupo 2, foram<br />
coletados 10 participantes brasileiros, resi<strong>de</strong>ntes no Canadá, falantes <strong>de</strong><br />
francês e inglês em contexto <strong>de</strong> imersão. O objetivo da pesquisa foi<br />
analisar se haveria diferenças significativas no tempo <strong>de</strong> reação entre os<br />
grupos no momento <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r aos pares que possuíssem<br />
semelhanças grafo-fônico-fonológicas. O experimento contou com<br />
palavras nas 3 línguas dos participantes e dois estímulos eram testados<br />
<strong>de</strong> cada vez (prime e alvo), <strong>de</strong> forma sequencial. Os participantes<br />
<strong>de</strong>veriam <strong>de</strong>cidir em qual língua estava a segunda palavra apresentada:<br />
L1, L2 ou L3. Os pares analisados neste trabalho são: francês-inglês<br />
com priming, inglês-francês com priming, francês-inglês sem priming,<br />
inglês-francês sem priming. A hipótese previa que o grupo 2 levaria<br />
mais tempo para respon<strong>de</strong>r aos alvos que apresentassem priming<br />
relacionado, <strong>de</strong>vido a maior competição lexical originada pelo uso das<br />
línguas estrangeiras em contextos autênticos. Os resultados, obtidos<br />
com a aplicação do teste Mann-Whitney, <strong>de</strong>monstraram haver uma<br />
diferença significativa entre os grupos para os pares: inglês-francês com<br />
priming, francês-inglês com priming e francês-inglês sem priming (com<br />
o grupo 2 apresentando as maiores médias <strong>de</strong> tempo <strong>de</strong> reação). Os<br />
resultados ensejam a discussão do papel da imersão na transferência <strong>de</strong><br />
padrões grafo-fônico-fonológicos <strong>de</strong> multilíngues, numa perspectiva<br />
dinâmica (PORT; VAN GELDER, 1995; DE BOT, 2007).<br />
332
Resumo dos Trabalhos<br />
A NASALIDADE DISTINTIVA NO INÍCIO DA AQUISIÇÃO DA<br />
LÍNGUA ESCRITA<br />
Clara Simone Ignácio De Mendonça<br />
Avaliar a linguagem escrita em crianças em fase inicial <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição é<br />
uma tarefa <strong>de</strong>licada. A escola por não contar com um conhecimento<br />
linguístico consistente caracteriza como erros as operações linguísticas<br />
das crianças, encaminhando-as para centros especializados para<br />
tratamento <strong>de</strong> distúrbios <strong>de</strong> aprendizagem. Essa pesquisa tem como<br />
objeto a produção escrita <strong>de</strong> crianças entre os 1ºs e 3ºs anos, cujo<br />
objetivo é investigar as hipóteses <strong>de</strong> escrita <strong>de</strong> representação da<br />
nasalida<strong>de</strong> distintiva do PB. Os dados são analisados à luz da fonologia,<br />
e mais especificamente da fonologia autossegmental. Trata-se <strong>de</strong> uma<br />
pesquisa quantitativa e qualitativa que analisa as hipóteses <strong>de</strong> escrita da<br />
criança no que tange a nasalida<strong>de</strong> distintiva. Conclui-se que a criança<br />
oscila entre hipóteses <strong>de</strong> representar ou não representar a nasalida<strong>de</strong><br />
distintiva, ou representar transgredindo regras ortográficas. Palavraschave<br />
– Aquisição da Linguagem; ensino da língua; fonologia.<br />
A DISTÂNCIA LINGUÍSTICA INFLUI NA AQUISIÇÃO DOS<br />
HETEROSSEMÂNTICOS?<br />
Dania Pinto Gonçalves<br />
O português e o espanhol são línguas mo<strong>de</strong>rnas, <strong>de</strong>nominadas <strong>de</strong><br />
línguas neolatinas, pois são provenientes do latim vulgar. A irmanda<strong>de</strong><br />
das duas línguas po<strong>de</strong> ser percebida no léxico, no qual 85% dos<br />
vocábulos são compartilhados (ULSH, 1971 apud ALMEIDA FILHO,<br />
2001). Segundo Durão (2005), o erro na língua estrangeira advém <strong>de</strong><br />
transferências linguísticas, principalmente das diferenças estruturais<br />
entre a língua materna e a língua estrangeira. Consoante à autora, para<br />
que sejam feitas as transferências é necessário conhecer a distância<br />
entre a língua <strong>de</strong> origem e a língua objeto. Essa distância po<strong>de</strong> ser<br />
objetiva ou psicológica. Como a distância das línguas <strong>de</strong>termina se<br />
haverá ou não a transferência, o fato <strong>de</strong> o português e o espanhol serem<br />
línguas irmãs facilita a transferência por parte do aprendiz. É<br />
importante se ter em mente que uma língua correspon<strong>de</strong> a uma forma<br />
<strong>de</strong> ver o mundo, por isso, mesmo o português e o espanhol sendo<br />
consi<strong>de</strong>radas, segundo Almeida Filho (1995), “quase variantes dialetais<br />
uma da outra”, evoluíram <strong>de</strong> distintos modos. Alguns léxicos em<br />
ambas as línguas po<strong>de</strong>m ter perdido, ou acrescido, ou simplesmente não<br />
333
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ter nenhum significado em comum, sendo esses casos representados<br />
pelos heterossemânticos. Para realizar esta investigação foi proposto a<br />
alunos do 2º, 4º, 6º e 8º semestres do curso <strong>de</strong> Letras Português e<br />
Espanhol <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> do sul do país, que escrevessem um<br />
texto com heterossemânticos composto por palavras do cotidiano como<br />
copa, taza entre outros. Esse léxico foi selecionado a fim <strong>de</strong> verificar se<br />
a distância entre as línguas po<strong>de</strong> dificultar a competência comunicativa,<br />
se os equívocos produzidos pelos aprendizes são transferências<br />
linguísticas e se há ou não uma evolução da interlíngua em relação aos<br />
heterossemânticos.<br />
Palavra-chave: Distância entre as línguas, heterossemânticos e<br />
interlíngua"<br />
CHARGE ANIMADA: A ATENÇÃO, A PERCEPÇÃO E A<br />
MEMÓRIA NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO<br />
Douglas Moraes Machado<br />
Elenice An<strong>de</strong>rsen<br />
A presente pesquisa em <strong>de</strong>senvolvimento vincula-se ao Programa <strong>de</strong><br />
<strong>Educação</strong> Tutorial (PET), financiado pelo MEC, o qual tem como<br />
objeto <strong>de</strong> estudo as mídias emergentes em comunicação digital. A<br />
charge animada possui o mesmo intuito da charge impressa, mas<br />
ganhou novos recursos: animações, cores, expressões, enfim, todos os<br />
recursos computacionais, que acrescentam e mostram ângulos<br />
diferentes <strong>de</strong> exposição dos fatos e interpretação. Na primeira etapa,<br />
será averiguado como os alunos compreen<strong>de</strong>m o gênero textual charge<br />
eletrônica, pelo viés das Ciências Cognitivas. Parte-se do pressuposto<br />
cognitivo <strong>de</strong> que a mente humana é um processador <strong>de</strong> informação, isto<br />
é, a mente do leitor recebe, armazena, recupera, transforma e transmite<br />
informações (KOCH, 2009, p. 36). Conforme Cassany (1998, pág.203)<br />
o processo <strong>de</strong> compreensão leitora se dá pela percepção que o leitor tem<br />
do texto, ou seja, a primeira leitura, ao passar os olhos. A partir daí o<br />
leitor <strong>de</strong>lineia os objetivos da leitura e coloca a suas expectativas sobre<br />
o que vai ler (tema, estrutura do texto, tom, forma, etc.), cria hipóteses<br />
através das informações prévias, nas suas experiências <strong>de</strong> leitura, nos<br />
esquemas <strong>de</strong> conhecimento que possui e que acumulou ao longo da<br />
vida. Só após esse processo, começa a verificar as hipóteses que<br />
formulou. Po<strong>de</strong> confirmá-las, reformulá-las ou retificá-las, e só com a<br />
interação entre o que já sabemos e as informações novas do texto, que<br />
se realiza a representação mental do significado do texto, quando se dá<br />
334
Resumo dos Trabalhos<br />
então, a compreensão <strong>de</strong>ste, que é instantânea e ativa durante toda a<br />
leitura. No contexto atual, as tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação<br />
vêm sendo discutidas e apoiadas pelos PCN’s para o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da compreensão leitora, a fim <strong>de</strong> formar alunos capazes <strong>de</strong><br />
posicionarem-se <strong>de</strong> forma crítica, uma vez que, segundo MORAN<br />
(2004, p.348) as novas tecnologias po<strong>de</strong>m reforçar a contribuição <strong>de</strong><br />
trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos , pois permitem que<br />
sejam criadas situações ricas, complexas e diversificadas. A charge<br />
eletrônica permitiu que essa prática se tornasse mais agradável e<br />
interativa. Nela, os personagens ganham novos efeitos: som, luz, cor,<br />
animação e voz, tornando mais agradável a compreensão leitora. Para<br />
essa pesquisa, duas charges eletrônicas serão assistidas por alunos do<br />
8º ano do Ensino Fundamental. Para a análise da compreensão leitora,<br />
será aplicada a estratégia <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> texto parafrástico que<br />
subsidiarão a formulação <strong>de</strong> hipóteses sobre quais aspectos (verbais<br />
e/ou não-verbais) são mais reconhecidos pelos alunos para a<br />
construção <strong>de</strong> uma representação mental do texto. A análise se pauta<br />
também no pressuposto <strong>de</strong> que essas representações ocorrem através <strong>de</strong><br />
diferentes fatores cognitivos que influenciam no processamento da<br />
informação, entre os quais o foco na pesquisa está na percepção, na<br />
atenção e na memória. Assim sendo, busca-se investigar o que os<br />
alunos percebem na charge animada e se os mesmo pren<strong>de</strong>m a atenção<br />
nos elementos não verbais exibidos na charge animada e o que<br />
armazenam na memória para compreen<strong>de</strong>r o gênero textual charge<br />
eletrônica. Palavras-chave: Cognição; Representação Mental;<br />
Processamento Textual; Charge Eletrônica.<br />
O DESAFIO DE PROGREDIR NA APRENDIZAGEM DE LE NA<br />
ESCOLA PÚBLICA: DANDO VOZ AOS ALUNOS DO ENSINO<br />
FUNDAMENTAL II<br />
Eliane Fernan<strong>de</strong>s Azzari<br />
Em um contexto educacional que privilegia o paradigma curricular<br />
(Lemke, 2010), cresce a preocupação em dar voz aos protagonistas da<br />
aprendizagem, <strong>de</strong> modo a compreen<strong>de</strong>r suas opiniões e percepções,<br />
valorizando o que esses aprendizes já conhecem e como po<strong>de</strong>m<br />
contribuir para sua tarefa <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r (Kanavillil, 2006). O que é e<br />
como é apren<strong>de</strong>r uma língua estrangeira (LE) em uma sala <strong>de</strong> aula <strong>de</strong><br />
uma escola pública? Que resultados esses aprendizes esperam atingir<br />
após anos <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> LE, até o término do ensino médio? Como esses<br />
335
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
aprendizes percebem que estão (ou não)progredindo? Estas são<br />
algumas das questões que motivam nossa pesquisa. Realizando grupos<br />
focais e entrevistas individuais com alunos da re<strong>de</strong> pública em<br />
Valinhos, no interior do estado <strong>de</strong> SP e pesquisando na literatura<br />
(Leffa,1991; William e Bur<strong>de</strong>n, 1999), levantamos 49 afirmativas que<br />
expressam opiniões sobre as perguntas <strong>de</strong> pesquisa. Na etapa seguinte,<br />
usando o instrumento <strong>de</strong> pesquisa oferecido pela Metodologia Q, 26<br />
alunos do 8º e 9º anos formaram 4 perfis diferentes <strong>de</strong> alunos, <strong>de</strong><br />
acordo com as opiniões que compartilham /os diferem entre si.<br />
Adotando uma visão meta-cognitivista e sócio-construtivista da<br />
aprendizagem, colocamos a perspectiva do aprendiz em pauta<br />
(Williams e Bur<strong>de</strong>n,1997) esperando que, ao ouvir o aprendiz,<br />
possamos repensar nossas práticas escolares e escolhas curriculares, <strong>de</strong><br />
modo a contribuir para a pesquisa que visa buscar os caminhos para<br />
vencer o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r e ensinar uma LE hoje."<br />
O PAPEL DA INSTRUÇÃO EXPLÍCITA E DA MEMÓRIA DE<br />
TRABALHO NA LEITURA EM L2<br />
Eren Melo Moraes Pasquali<br />
Palavras-chave: Leitura em L2; Instrução explícita; Memória <strong>de</strong><br />
trabalho.<br />
O presente estudo foi realizado com o objetivo <strong>de</strong> investigar o papel da<br />
instrução explícita e da memória <strong>de</strong> trabalho na leitura em L2 <strong>de</strong> alunos<br />
do curso <strong>de</strong> Análise e Desenvolvimento <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> uma faculda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> tecnologia <strong>de</strong> Pelotas. Para tanto, um estudo foi <strong>de</strong>senvolvido,<br />
contanto com 29 informantes divididos em Grupo Experimental e<br />
Grupo Controle. Para a coleta <strong>de</strong> dados foram utilizados quatro<br />
instrumentos <strong>de</strong> pesquisa durante as aulas <strong>de</strong> inglês instrumental: préteste,<br />
pós-teste, teste <strong>de</strong> retenção e teste <strong>de</strong> memória <strong>de</strong> trabalho.<br />
Primeiramente, o pré-teste foi realizado com o objetivo <strong>de</strong> observar o<br />
conhecimento dos alunos acerca das conjunções em inglês durante a<br />
leitura <strong>de</strong> textos em L2. Em seguida, houve a instrução explícita sobre o<br />
tópico gramatical em questão somente para o grupo experimental. O<br />
pós-teste, que foi realizado para ambos os grupos, pretendia observar o<br />
<strong>de</strong>sempenho dos informantes após a instrução. O terceiro teste, o qual<br />
foi realizado três meses <strong>de</strong>pois da instrução, tinha o objetivo <strong>de</strong><br />
observar a retenção das formas- alvo. Finalmente, o teste <strong>de</strong> memória<br />
<strong>de</strong> trabalho foi aplicado para observar se leitores mais competentes em<br />
L2, possuem uma memória <strong>de</strong> trabalho mais ampla. Os resultados<br />
336
Resumo dos Trabalhos<br />
revelam que a instrução explícita <strong>de</strong>sempenha papel importante para a<br />
melhora da leitura em L2, porém na amostra investigada não foi<br />
encontrada relação entre <strong>de</strong>sempenho nos testes <strong>de</strong> leitura e memória <strong>de</strong><br />
trabalho.<br />
O QUE A LINGUÍSTICA COGNITIVA TEM A NOS DIZER<br />
SOBRE O ENSINO DE PRONÚNCIA NO BRASIL: UM<br />
BALBUCIO TEÓRICO<br />
Felipe Flores Kupske<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho não é apontar resultados por meio <strong>de</strong> dados<br />
empíricos, mas levantar questionamentos sobre o ensino <strong>de</strong> línguas,<br />
ensino <strong>de</strong> pronúncia especificamente, calcados nos estudos das<br />
ciências do cérebro e no emergentismo contemporâneo que contemplam<br />
a representação linguística como enriquecida e oriunda da experiência<br />
linguística. Neste prisma, partindo da hipótese <strong>de</strong> que conhecimento<br />
linguístico é balizado pelo uso real da linguagem, questões dialetais<br />
tornam-se centrais a essa temática. Em um país possuidor <strong>de</strong> seus<br />
idiossincráticos dialetos, como <strong>de</strong>finir língua materna? Ao menos no<br />
que concerne à pedagogia <strong>de</strong> línguas, não é possível pensar-se em<br />
<strong>de</strong>mocratização do ensino se estamos atentos ao fato <strong>de</strong> que, nos<br />
mol<strong>de</strong>s atuais, esse ensino é balizado por guias impostos<br />
nacionalmente, partindo do pressuposto que todos os brasileiros<br />
possuem sistemas <strong>de</strong> língua materna iguais. Não po<strong>de</strong>mos, por<br />
exemplo, pensar que o gaúcho, que produz [dZia] para dia, e o falante<br />
paraibano, que produz [‘dia], irão apresentar os mesmos estágios<br />
<strong>aqui</strong>sicionais para a emergência do fonema /dZ/, como em [‘dZam]<br />
para jam, contrastivo em inglês e não em português. Nesta perspectiva,<br />
o ensino da oralida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve ser revisitado. Este trabalho apresenta,<br />
então, um balbucio teórico calcado em mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> percepção <strong>de</strong> língua<br />
estrangeira para questionar <strong>de</strong>terminadas práticas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong><br />
pronúncia."<br />
337
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A CONSTRUÇÃO CONCESSIVA PERSPECTIVIZADORA<br />
“PARA X Y” NO ÂMBITO DA ESCRITA E DA FALA EM PB:<br />
LEVANTAMENTOS INICIAIS<br />
Gabriela Da Silva Pires<br />
Luiz Fernando Matos Rocha<br />
Este trabalho, <strong>de</strong>senvolvido na área <strong>de</strong> Linguística Cognitiva acerca da<br />
Gramática das Construções (cf. Goldberg, 1995; 2006), se propõe<br />
estudar um tipo especial <strong>de</strong> construção que chamamos <strong>de</strong> Construção<br />
Concessiva Perspectivizadora (CCP), <strong>de</strong> caráter aparentemente<br />
emergente em PB, e cuja esquematização é “PARA X, Y”. Seguindo<br />
uma metodologia <strong>de</strong> vertente empírica, investigações preliminares<br />
foram feitas com base em corpora <strong>de</strong> língua escrita, a saber: Legenda<br />
<strong>de</strong> Filmes, Domínio Público e Nilc/São Carlos. Uma segunda etapa<br />
consi<strong>de</strong>rou também dados da fala, por meio dos corpora NURC-RJ, C-<br />
ORAL-BRASIL e VALPB. De acordo com os dados, essa construção é<br />
instanciada como no exemplo: “Para quem nunca fez <strong>aqui</strong>lo na vida,<br />
até que ele estava se dando muitíssimo bem!” (Corpus DP); em que<br />
PARA X representa um elemento perspectivizador, marcado por um SN<br />
preferencialmente in<strong>de</strong>finido e Y contém um comentário <strong>de</strong> caráter<br />
contrastivo. Após rigoroso procedimento metodológico <strong>de</strong> busca e<br />
tratamento dos dados, algumas consi<strong>de</strong>rações emergem, a saber: (i) os<br />
estudos têm sinalizado um caráter enfático da construção, que po<strong>de</strong> ser<br />
um indício <strong>de</strong> que, <strong>de</strong> fato, a noção <strong>de</strong> ênfase para contrastar<br />
situações/entida<strong>de</strong>s é fortemente atrelada à construção; (ii) uma<br />
característica verificada através das instâncias é que a CCP também<br />
atua como modalizadora, po<strong>de</strong>ndo servir para atenuar um contraste ou<br />
mesmo para intensificá-lo; (iii) <strong>de</strong>vido a uma forte proximida<strong>de</strong><br />
verificada entre os sentidos concessivo e conformativo, ainda no<br />
processo <strong>de</strong> tratamento das ocorrências, é cogitada a hipótese <strong>de</strong> que<br />
casos <strong>de</strong> CCP sejam um tipo <strong>de</strong> construção “<strong>de</strong>sconformativa”, o que<br />
po<strong>de</strong> indicar que extensões polissêmicas (próprias da estrutura PARA<br />
X) atuem nessa construção.<br />
Palavras-chave: Gramática das Construções; Concessão;<br />
Perspectivização.<br />
338
Resumo dos Trabalhos<br />
CINE CUICA: OUTRA LINGUAGEM PARA INCLUSÃO NA<br />
CULTURA<br />
Guilherme Bizzi Guerra<br />
O trabalho “Cine CUICA: outra linguagem para inclusão na cultura”<br />
tem o propósito <strong>de</strong> apresentar a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> extensão, pensada pelo<br />
grupo PET Letras – Laboratório Corpus/Conexões <strong>de</strong> Saberes, que visa<br />
expandir a cultura cinematográfica, promover um espaço <strong>de</strong> <strong>de</strong>bates e<br />
<strong>de</strong> reflexões, a fim <strong>de</strong> possibilitar formação e transformação cidadã dos<br />
participantes. A partir da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aprofundar o contato <strong>de</strong><br />
alunos <strong>de</strong> escolas públicas com elementos culturais que formam o<br />
cidadão, a realização do “Cine CUICA” é <strong>de</strong> extrema importância para<br />
a constituição do caráter <strong>de</strong> cada aluno envolvido. Tem-se a pretensão<br />
<strong>de</strong> possibilitar que as famílias dos alunos envolvidos também<br />
participem <strong>de</strong>ssa ativida<strong>de</strong>, a fim <strong>de</strong> que haja uma integração mais<br />
ampla com a comunida<strong>de</strong>. Além disso, preten<strong>de</strong>-se oferecer momentos<br />
<strong>de</strong> reflexões mediante a apresentação <strong>de</strong> filmes e documentários que<br />
retratem as diversas situações vividas pelos alunos em seu contexto<br />
social. Da mesma forma, almeja-se possibilitar <strong>de</strong>bates para formação<br />
do senso crítico; promover a inclusão <strong>de</strong> estudantes ao expor seus<br />
direitos, motivando, assim, a compreensão do que é a cidadania entre<br />
estudantes <strong>de</strong> diferentes ida<strong>de</strong>s e a consequente disseminação <strong>de</strong>sses<br />
saberes adquiridos na socieda<strong>de</strong>; unir às exibições <strong>de</strong><br />
filmes/documentários e aos <strong>de</strong>bates as ativida<strong>de</strong>s realizadas na<br />
Associação CUICA como modo <strong>de</strong> contribuição para a formação <strong>de</strong><br />
opiniões acerca das produções cinematográficas e temas do cotidiano.<br />
Busca-se, também, oferecer, ao grupo PET Letras, o auxílio na<br />
formação para a tarefa docente, promovendo o primeiro contato com<br />
ativida<strong>de</strong>s que visam a formação do caráter cidadão em jovens alunos."<br />
PALAVRA E IMAGEM: A LEITURA NOS SUPORTES<br />
TECNOLÓGICOS<br />
João Pedro Rodrigues Santos<br />
Elenice Maria Larroza An<strong>de</strong>rsein (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Cognição, tecnologias, leitura.<br />
RESUMO: Este trabalho apresenta uma investigação sobre<br />
representações mentais <strong>de</strong> estudantes construídas a partir do uso <strong>de</strong><br />
tecnologia educacional. A pesquisa, que é financiada pelo Programa <strong>de</strong><br />
<strong>Educação</strong> Tutorial (MEC) – PET Letras – da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do<br />
339
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Pampa, objetiva analisar os mo<strong>de</strong>los mentais construídos pelos<br />
estudantes no processamento <strong>de</strong> informações textuais e imagéticas <strong>de</strong><br />
um livro interativo construído com o Google Earth. O livro construído<br />
explora a interdisciplinarida<strong>de</strong> entre Literatura e Geografia. Utiliza o<br />
poema “O Mapa”, <strong>de</strong> Mario Quintana, bem como imagens geográficas<br />
da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Porto Alegre que complementam o sentido do texto. Os<br />
alunos exploraram o livro e escreveram a respeito das imagens mentais<br />
que construíram relativamente ao cenário do poema. A análise dos<br />
escritos dos estudantes enfoca os mo<strong>de</strong>los mentais elaborados durante a<br />
leitura <strong>de</strong> um poema apoiado por imagens, buscando, igualmente,<br />
i<strong>de</strong>ntificar as informações textuais e imagéticas que ativaram tais<br />
mo<strong>de</strong>los. Os resultados apontam para a a<strong>de</strong>quação do trabalho<br />
interdisciplinar com o uso do software para a formação mais completa<br />
dos estudantes em uma socieda<strong>de</strong> tecnológica e permeada por imagens.<br />
*João Pedro Rodrigues Santos – Acadêmico do Curso <strong>de</strong> Letras da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa. Bolsista do Programa <strong>de</strong> <strong>Educação</strong><br />
Tutorial (MEC) PET Letras. *Elenice Maria Larroza An<strong>de</strong>rsen-<br />
Professora do curso <strong>de</strong> Licenciatura em Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
do Pampa. Tutora do Programa <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Tutorial (MEC) PET –<br />
Letras.<br />
APRENDIZAGEM PRECOCE DE L2 E DESENVOLVIMENTO<br />
COGNITIVO<br />
Katiele Naiara Hirsch<br />
A capacida<strong>de</strong> humana <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r línguas é um fenômeno fascinante.<br />
Des<strong>de</strong> muito jovens somos capazes <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r não apenas uma<br />
língua, mas várias. Consi<strong>de</strong>rando tal capacida<strong>de</strong> e também as<br />
exigências do modo <strong>de</strong> vida contemporâneo, é cada vez mais comum<br />
observarmos crianças frequentanto aulas <strong>de</strong> língua estrangeira <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
muito pequenas, até mesmo em fase pré-escolar. Consi<strong>de</strong>rando o<br />
crescente contato <strong>de</strong> crianças com a língua inglesa, realizamos uma<br />
investigação teórica a respeito da aprendizagem <strong>de</strong> uma língua<br />
estrangeira não apenas como um meio <strong>de</strong> inserção e ascensão social ou<br />
canal <strong>de</strong> acesso a diferentes culturas, mas como “instrumento” que<br />
favorece o <strong>de</strong>senvolvimento cognitivo. A hipótese apresentada neste<br />
trabalho é <strong>de</strong> que a aprendizagem precoce <strong>de</strong> língua estrangeira gera<br />
um impacto positivo no <strong>de</strong>senvolvimento congitivo da criança,<br />
implicando não apenas no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> aspectos linguísticos,<br />
mas na cognição <strong>de</strong> um modo geral. Quando nos referimos à<br />
340
Resumo dos Trabalhos<br />
aprendizagem precoce, consi<strong>de</strong>ramos como aprendizes crianças entre<br />
quatro e seis anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>. A partir <strong>de</strong> uma revisão da literatura sobre<br />
a <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> língua estrangeira e levando em conta observações<br />
empíricas, encontramos várias informações que indicam a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> diversos processos cognitivos serem potencializados<br />
através da aprendizagem <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> um sistema linguístico, entre os<br />
quais, <strong>de</strong>stacamos a memória.<br />
AUTONOMIA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DESTA<br />
PRÁTICA PELO ALUNO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA<br />
(EAD)<br />
Laís Amélia Ribeiro De Siqueira<br />
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta <strong>de</strong><br />
pesquisa sobre <strong>de</strong>senvolvimento da autonomia discente a ser realizada<br />
em uma turma do curso <strong>de</strong> Pedagogia na modalida<strong>de</strong> EAD ministrado<br />
por uma instituição <strong>de</strong> ensino superior particular na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas-<br />
RS. As estratégias para <strong>de</strong>senhar tal proposta são iniciadas a partir <strong>de</strong><br />
um levantamento, com os alunos matriculados neste curso, sobre o que<br />
se enten<strong>de</strong> por autonomia e quais as estratégias, utilizadas por eles, <strong>de</strong><br />
estabelecimento <strong>de</strong>sta. A <strong>Educação</strong> à Distância é uma modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
ensino relativamente nova e que está em gran<strong>de</strong> expansão em nosso<br />
país. O governo fe<strong>de</strong>ral, através do Ministério da <strong>Educação</strong> tem<br />
estimulado tanto as universida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rais quanto as particulares a<br />
abrirem cursos em diversas áreas, principalmente nas licenciaturas,<br />
utilizando esta nova forma <strong>de</strong> acesso à educação. Moran (2009) explica<br />
que é muito importante educar para a autonomia e para que cada um<br />
encontre o seu próprio ritmo <strong>de</strong> aprendizagem. Destaca, também, que o<br />
caminho para autonomia acontece através do equilíbrio entre a<br />
interação e a interiorização. Através da interação acontece o<br />
aprendizado e expressamos nossas i<strong>de</strong>ias através do confronto <strong>de</strong><br />
experiências e realizações. Desta forma, esta pesquisa, vem discutindo,<br />
nesta primeira etapa, a autonomia e os ritmos <strong>de</strong> aprendizagem<br />
individuais tendo por prerrogativas didático-pedagógicas o ambiente<br />
virtual <strong>de</strong> aprendizagem.<br />
341
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ACESSO LEXICAL NA PRODUÇÃO DE FALA BILÍNGUE EM<br />
REGIÃO DE FRONTEIRA - BRASIL/URUGUAI<br />
Leandra Fagun<strong>de</strong>s (Ucpel)<br />
Márcia Zimmer (Ucpel)<br />
O foco <strong>de</strong>sta pesquisa é a análise dos DPUs (dialectos portugueses <strong>de</strong>l<br />
Uruguai) utilizados na região fronteiriça <strong>de</strong> Aceguá/RS, região on<strong>de</strong> há<br />
um continuum dialetal, do português uruguaio rural ao português<br />
brasileiro padrão, o que caracteriza diglossia e po<strong>de</strong> trazer implicações<br />
para a cognição bilíngue. A necessida<strong>de</strong> dos bilíngues <strong>de</strong> controlar<br />
duas línguas continuamente durante a produção da fala exerce efeitos<br />
gerais sobre as suas re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> atenção. Para investigar esses efeitos, foi<br />
comparado o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> crianças bilíngues e monolíngues na<br />
tarefa ANT, versão infantil (RUEDA et al., 2004). Foram investigadas<br />
três re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> atenção: alerta, orientação e controle executivo, medindose<br />
o Tempo <strong>de</strong> Reação e Acurácia obtidos na ANT. Os resultados<br />
revelaram que os bilíngues foram mais rápidos na execução da tarefa<br />
mais eficientes nas re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> alerta e <strong>de</strong> controle executivo.<br />
Particularmente, os bilíngues saíram-se melhor quando havia uma pista<br />
<strong>de</strong> alerta e mais eficientes na resolução <strong>de</strong> informações conflitantes. Ou<br />
seja, o bilinguismo exerce influência no gerenciamento eficaz da<br />
atenção por parte das crianças, as quais estão no auge <strong>de</strong> sua<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> atenção. Os dados foram coletados com a utilização do<br />
software e-prime e submetidos ao software estatístico SPSS."<br />
A REVISTA LETRAS/UFSM E O ENSINO DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA<br />
Letícia Schuler Gonçalves<br />
Palavras-chave: ciência linguística; ensino; língua portuguesa Sob o<br />
interesse em conhecer a constituição do discurso dos linguistas<br />
brasileiros sobre o ensino <strong>de</strong> língua, o trabalho se coloca na tentativa <strong>de</strong><br />
associar o discurso da produção linguística à história da disciplina<br />
curricular Língua Portuguesa no Brasil.O projeto almeja fazer uma<br />
investigação sobre o discurso da ciência linguística para o ensino <strong>de</strong><br />
língua portuguesa procurando i<strong>de</strong>ntificar estratégias <strong>de</strong> argumentação e<br />
marcas linguísticas utilizadas pelos autores dos textos para registrar<br />
suas posições enunciativas.Preten<strong>de</strong>-se realizar leituras e discussões<br />
sobre a temática abordada, bem como <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r as bases<br />
metodológicas que subsidiam a temática com críticas feitas e<br />
342
Resumo dos Trabalhos<br />
orientações dadas pelos linguistas às práticas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> português;<br />
reconhecer e estabelecer que concepções <strong>de</strong> linguagem, <strong>de</strong> língua e <strong>de</strong><br />
ensino <strong>de</strong> língua materna são <strong>de</strong>fendidas nos textos em análise para que<br />
seja feito um cotejo entre os textos analisados, buscando pontos <strong>de</strong><br />
afastamento e <strong>de</strong> aproximação a respeito do que cada um <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>.Esse<br />
trabalho se volta à análise e interpretação <strong>de</strong> artigos acadêmicos<br />
publicados em uma revista especializada, a Revista<br />
Letras/UFSM.Alguns resultados parciais foram alcançados ao longo do<br />
primeiro ano <strong>de</strong> trabalho, mas os resultados finais serão alcançados e<br />
apresentados até o final <strong>de</strong> 2012.<br />
SEMÂNTICA DE FRAMES E O COMPORTAMENTO DE<br />
ADVÉRBIOS ASPECTUALIZADORES DE REITERAÇÃO<br />
Liliane Da Silva Prestes-Rodrigues<br />
A Semântica <strong>de</strong> Frames é um programa investigativo baseado na i<strong>de</strong>ia<br />
<strong>de</strong> que o conhecimento linguístico é organizado como uma<br />
enciclopédia, pois unida<strong>de</strong>s linguísticas estabelecem re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> relações<br />
entre si com base no significado. Fillmore e Baker (2011, p. 314)<br />
afirmam que essa teoria propõe o “estudo <strong>de</strong> como, como parte <strong>de</strong><br />
nosso conhecimento sobre linguagem, associamos formas linguísticas a<br />
estruturas cognitivas – os frames – que largamente <strong>de</strong>terminam o<br />
processo (...) <strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong>ssas formas”. O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho<br />
é <strong>de</strong>screver e analisar o comportamento dos advérbios<br />
aspectualizadores <strong>de</strong> reiteração geralmente, raramente, várias vezes e<br />
algumas vezes (ILARI, 1992), pertencentes ao frame Frequency<br />
(<strong>de</strong>scrito pelo projeto FrameNet), interagem com frames verbais nas<br />
construções em que aparecem. Busca-se compreen<strong>de</strong>r como o frame <strong>de</strong><br />
frequência relaciona-se com outros frames, influenciando o conteúdo<br />
aspectual da predicação. O corpus utilizado para coleta <strong>de</strong> dados é o<br />
CETENFolha, constituído <strong>de</strong> textos jornalísticos. Os dados foram<br />
coletados utilizando-se concordanciador presente do pacote<br />
computacional WordSmith Tools 17.0. Após, fez-se levantamento dos<br />
verbos que acompanham esses advérbios nas construções, bem como a<br />
busca <strong>de</strong> características comuns <strong>de</strong>sses verbos que os permitam ser<br />
agrupados em frames maiores. As análises apontaram para<br />
comportamento diferentes para cada advérbio, com <strong>de</strong>staque especial<br />
para o frame <strong>de</strong> comunicação, recorrente nas construções com várias<br />
vezes e algumas vezes; bem como <strong>de</strong> verbos <strong>de</strong> estado, recorrentes nas<br />
construções com geralmente e raramente. Percebe-se, pois, que a<br />
343
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
interação entre esses advérbios e os frames verbais relaciona-se à<br />
expressão das categorias aspectuais <strong>de</strong> frequência e habitualida<strong>de</strong>.<br />
Palavras-chave: Semântica <strong>de</strong> Frames; Advérbio; Aspecto.<br />
CONTROLE INIBITÓRIO E REDES DE ATENÇÃO: AS<br />
DIFERENÇAS ENTRE CÉREBROS BILÍNGUES E<br />
MONOLÍNGUES<br />
Lisandra Rutkoski Rodrigues<br />
Os estudos cognitivos sobre bilinguismo têm revelado uma varieda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> diferenças cognitivas entre monolíngues e bilíngues em quase todas<br />
as faixas etárias (BIALYSTOK et al., 2004; MARTIN-RHEE;<br />
BIALYSTOK, 2008). A maioria <strong>de</strong>ssas diferenças correspon<strong>de</strong> às<br />
vantagens apresentadas por bilíngues no que diz respeito a ganhos em<br />
funções executivas (processos cognitivos responsáveis pelo<br />
planejamento e execução <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s) como um maior controle<br />
inibitório e atencional (re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> alerta, <strong>de</strong> orientação e <strong>de</strong> controle<br />
executivo). Este estudo busca investigar se tais vantagens bilíngues se<br />
apresentam também em uma população ainda não investigada pelos<br />
estudos anteriores: os executivos. A razão pela escolha <strong>de</strong>ssas pessoas<br />
se <strong>de</strong>u em função <strong>de</strong> seu trabalho se caracterizar por uma alta <strong>de</strong>manda<br />
cognitiva, envolvendo a tomada diária <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões importantes e a<br />
resolução <strong>de</strong> problemas. Foram selecionados 24 profissionais na faixa<br />
etária entre 30-49 anos, com curso superior completo, ocupantes <strong>de</strong><br />
cargos executivos em empresas <strong>de</strong> Porto Alegre e arredores, e nas<br />
cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> e Pelotas, sendo 12 monolíngues e 12 bilíngues.<br />
Os participantes foram testados por meio dos seguintes experimentos: a<br />
tarefa <strong>de</strong> Simon (SIMON; WOLF, 1963) e a Tarefa da Re<strong>de</strong><br />
Atencional (Attentional Network Task – ANT) (FAN et al., 2002). Os<br />
resultados encontrados revelaram tempos <strong>de</strong> reação menores para o<br />
grupo bilíngue na maioria das variáveis observadas. No entanto, as<br />
diferenças entre os grupos não se mostraram significativas, o que<br />
corrobora alguns estudos feitos com essa faixa etária em outras<br />
populações, e nos leva a crer que as variáveis escolarida<strong>de</strong> e tipo <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong> profissional possam anular a vantagem bilíngue.<br />
Palavras-chave: Cognição; Bilinguismo; Funções Executivas."<br />
344
Resumo dos Trabalhos<br />
ERROS ORTOGRÁFICOS E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA:<br />
RELAÇÕES APRESENTADAS POR ESCOLARES<br />
ALFABÉTICOS<br />
Liza Gutierres<br />
Gabriele Donicht<br />
É consenso na literatura a relação existente entre consciência fonológica<br />
(CF) e aprendizagem da escrita. Para Morais et al. (1979), existem<br />
certos componentes da CF que po<strong>de</strong>m ser adquiridos antes <strong>de</strong> a criança<br />
apren<strong>de</strong>r a escrever e po<strong>de</strong>m favorecer essa aprendizagem, assim como<br />
também existem outros níveis <strong>de</strong> conhecimento fonológico que só se<br />
<strong>de</strong>senvolvem quando os princípios do sistema alfabético são por ela<br />
compreendidos. O objetivo <strong>de</strong>ste estudo é analisar e <strong>de</strong>screver a relação<br />
entre o <strong>de</strong>sempenho em tarefas <strong>de</strong> CF e os erros ortográficos<br />
apresentados por crianças que já alcançaram o nível alfabético <strong>de</strong><br />
escrita. A amostra é composta por 29 textos pertencentes ao banco <strong>de</strong><br />
dados do Grupo <strong>de</strong> Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita<br />
(BATALE-GEALE-FaE-<strong>UFPel</strong>), produzidos por 18 meninos e 11<br />
meninas, escolares do 1º ao 4º anos <strong>de</strong> duas escolas públicas <strong>de</strong> Pelotas-<br />
RS; e também por avaliações da CF resultantes da aplicação do<br />
CONFIAS (MOOJEN et al., 2003). A partir dos resultados<br />
apresentados pelas crianças, busca-se relacionar os tipos <strong>de</strong> erros<br />
ortográficos <strong>de</strong> base fonológica (cf MIRANDA, 2010) presentes nas<br />
produções escritas ao <strong>de</strong>sempenho nas tarefas <strong>de</strong> CF (silábica e<br />
fonêmica). Uma análise preliminar dos resultados aponta para uma<br />
relação positiva entre os erros ortográficos que alteram a estrutura<br />
silábica com o baixo <strong>de</strong>sempenho em tarefas que envolvem habilida<strong>de</strong>s<br />
em CF relacionadas à sílaba e, consequentemente, ao fonema."<br />
AUTOCITAÇÃO FICTIVA: COGNIÇÃO E CORPUS<br />
Luiz Fernando Matos Rocha<br />
O fenômeno da autocitação fictiva é um tipo discursivo <strong>de</strong> fictivida<strong>de</strong><br />
por meio do qual seus conceptualizadores impõem perspectiva<br />
subjetificante e avaliativa ao discurso direto em primeira pessoa. Isso é<br />
provocado pelo uso incongruente entre tal forma canônica <strong>de</strong> reportar e<br />
o sentido <strong>de</strong> verbos dicendi, que assumem status epistêmico (e.g. Eu<br />
disse (pensei): “Meu Deus!”). O objetivo é a <strong>de</strong>scrição e análise da<br />
autocitação fictiva e sua extensão factiva em corpora orais <strong>de</strong><br />
Português Europeu (PE) e Brasileiro (PB), a partir da construção<br />
345
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
semiaberta (EU) disse/falei X-oracional. Utilizam-se o corpus C-<br />
ORAL-ROM Português (BACELAR DO NASCIMENTO et al., 2005)<br />
e o corpus C-ORAL-BRASIL (RASO e MELLO, 2010, 2012), bem<br />
como os corpora CINTIL, NURC-RJ e dados <strong>de</strong> um reality show;<br />
submetidos às ferramentas TextSTAT ou Contextes. Os resultados<br />
apontam para contrastes conceptuais, diatópicos e diafásicos entre usos<br />
<strong>de</strong> “disse” e “falei” nas varieda<strong>de</strong>s nacionais. O verbo “falar” não<br />
introduz espaço mental <strong>de</strong> discurso reportado em PE; e certos frames<br />
interacionais são mais propícios à autocitação fictiva, como o reality<br />
show. A fictivida<strong>de</strong> afeta a autocitação em ambas as varieda<strong>de</strong>s,<br />
mapeada por pistas que incluem reportação monológica, subjetificação,<br />
escaneamento mental, metáfora, incongruência dêitica, atos <strong>de</strong> falas<br />
como promessa. Palavras-chave: Autocitação fictiva; Discurso;<br />
Cognição; Linguística <strong>de</strong> Corpus.<br />
O SENTIDO DA LINGUAGEM ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE<br />
AUTONARRATIVAS (RELATOS)<br />
Mara Luiza Machado Idalencio Abatti<br />
Este trabalho foi construído através <strong>de</strong> um entrelaçamento <strong>de</strong> fios<br />
teóricos sobre autopoiese, pensamentos e linguagem; e fios empíricos,<br />
que foram tecidos a partir da leitura da narrativa A Caverna <strong>de</strong> José<br />
Saramago e da produção <strong>de</strong> relatos (autonarrativas). A problemática da<br />
pesquisa constituiu-se na indagação sobre como a leitura da narrativa e<br />
os relatos produzidos pelos leitores po<strong>de</strong>riam contribuir para o<br />
autoconhecimento <strong>de</strong> seus sujeitos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma empresa. Minha<br />
hipótese é <strong>de</strong> que a leitura <strong>de</strong>ssa narrativa vista pelo prisma da<br />
ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia processos cognitivos, o que contribui<br />
para a compreensão do modo <strong>de</strong> agir do sujeito-leitor no mundo.<br />
Levando-se em consi<strong>de</strong>ração também sua unida<strong>de</strong> e, na relação com os<br />
<strong>de</strong>mais, a combinação biopsicossocial que distingue uma das outras<br />
sem separá-las da visão global do sujeito. Essa nova visão contribui<br />
para o <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>amento <strong>de</strong> ações e geração <strong>de</strong> novas i<strong>de</strong>ias.<br />
Palavras –chave: Autopoiese.Pensamento. Linguagem. Narrativa.<br />
346
Resumo dos Trabalhos<br />
RELEVÂNCIA E TEXTUALIDADE: UM DEBATE SOBRE A<br />
PRODUÇÃO DE TEXTOS DISSERTATIVOS COM FINS<br />
AVALIATIVOS<br />
Marcos Goldna<strong>de</strong>l<br />
Aline Aver Vanin<br />
Isabel Janostiac<br />
O texto dissertativo ocupa um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque nas práticas escolares<br />
no Ensino Médio por objetivar a aprovação dos alunos em concursos<br />
vestibulares do Brasil. Este trabalho propõe-se a pôr em<br />
questionamento a produção da dissertação breve, que, por ter um fim<br />
avaliativo apenas, se reflete em um treino sistemático que muitas vezes<br />
leva a expectativas frustradas. Tomando-se o texto como unida<strong>de</strong><br />
comunicativa, vemos a produção <strong>de</strong>sse gênero textual como uma<br />
ativida<strong>de</strong> cujos parâmetros pragmáticos são empobrecidos: a proposta,<br />
em geral, representa um recorte pouco situado <strong>de</strong> uma questão, não há<br />
um interlocutor reconhecido, e o objetivo primeiro é o <strong>de</strong> ser aprovado<br />
com o texto, e não <strong>de</strong> concatenar i<strong>de</strong>ias a fim <strong>de</strong> enriquecer a<br />
argumentação. Além disso, preten<strong>de</strong>-se, também, <strong>de</strong>monstrar como a<br />
aplicação dos conceitos da Teoria da Relevância, <strong>de</strong> Sperber e Wilson<br />
(1995) permite realizar uma <strong>de</strong>scrição teoricamente motivada da<br />
tessitura do texto dissertativo, capaz <strong>de</strong> dotar as análises <strong>de</strong> uma<br />
objetivida<strong>de</strong> maior, expressa pelo reconhecimento do modo como o<br />
texto obe<strong>de</strong>ce a princípios mais gerais que, por hipótese, regem os<br />
comportamentos linguísticos dos falantes/redatores. O uso <strong>de</strong>ssa base<br />
teórica se justifica porque, muito além dos critérios tradicionais <strong>de</strong><br />
textualida<strong>de</strong>, um texto <strong>de</strong>ve situar-se em um nível mais profundo: por<br />
meio da busca por relevância, a relação entre esforços e efeitos<br />
cognitivos é um parâmetro <strong>de</strong> textualida<strong>de</strong> a ser consi<strong>de</strong>rado."<br />
RELEVÂNCIA E TEXTUALIDADE: UM DEBATE SOBRE A<br />
PRODUÇÃO DE TEXTOS DISSERTATIVOS COM FINS<br />
AVALIATIVOS<br />
Marcos Goldna<strong>de</strong>l<br />
Aline Aver Vanin<br />
O texto dissertativo ocupa um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque nas práticas escolares<br />
no Ensino Médio por objetivar a aprovação dos alunos em concursos<br />
vestibulares do Brasil. Este trabalho propõe-se a pôr em<br />
questionamento a produção da dissertação breve, que, por ter um fim<br />
347
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
avaliativo apenas, se reflete em um treino sistemático que muitas vezes<br />
leva a expectativas frustradas. Tomando-se o texto como unida<strong>de</strong><br />
comunicativa, vemos a produção <strong>de</strong>sse gênero textual como uma<br />
ativida<strong>de</strong> cujos parâmetros pragmáticos são empobrecidos: a proposta,<br />
em geral, representa um recorte pouco situado <strong>de</strong> uma questão, não há<br />
um interlocutor reconhecido, e o objetivo primeiro é o <strong>de</strong> ser aprovado<br />
com o texto, e não <strong>de</strong> concatenar i<strong>de</strong>ias a fim <strong>de</strong> enriquecer a<br />
argumentação. Além disso, preten<strong>de</strong>-se, também, <strong>de</strong>monstrar como a<br />
aplicação dos conceitos da Teoria da Relevância, <strong>de</strong> Sperber e Wilson<br />
(1995) permite realizar uma <strong>de</strong>scrição teoricamente motivada da<br />
tessitura do texto dissertativo, capaz <strong>de</strong> dotar as análises <strong>de</strong> uma<br />
objetivida<strong>de</strong> maior, expressa pelo reconhecimento do modo como o<br />
texto obe<strong>de</strong>ce a princípios mais gerais que, por hipótese, regem os<br />
comportamentos linguísticos dos falantes/redatores. O uso <strong>de</strong>ssa base<br />
teórica se justifica porque, muito além dos critérios tradicionais <strong>de</strong><br />
textualida<strong>de</strong>, um texto <strong>de</strong>ve situar-se em um nível mais profundo: por<br />
meio dabusca por relevância, a relação entre esforços e efeitos<br />
cognitivos é um parâmetro <strong>de</strong> textualida<strong>de</strong> a ser consi<strong>de</strong>rado."<br />
O PAPEL DA AUTO-AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE<br />
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA<br />
Mariana De Mello Pereira<br />
Simone Silva Pires De Assumpção<br />
Trata-se <strong>de</strong> uma pesquisa-ação a respeito da auto-avaliação realizada<br />
por alunos <strong>de</strong> inglês e seus efeitos sobre a aprendizagem e sobre o<br />
planejamento <strong>de</strong> aula do professor. Este resumo apresenta os resultados<br />
parciais da pesquisa, realizada no Núcleo <strong>de</strong> Línguas Adicionais da<br />
UNIPAMPA (Programa <strong>de</strong> Extensão Observatório <strong>de</strong> Aprendizagem -<br />
ProExt/MEC) no ano <strong>de</strong> 2012. Foram selecionadas duas turmas <strong>de</strong> 18<br />
alunos com mesmo nível <strong>de</strong> proficiência em inglês. Ambas as turmas<br />
receberam as mesmas <strong>de</strong>z aulas, mas uma realizou auto-avaliação em<br />
todas as aulas, enquanto a outra (grupo <strong>de</strong> controle) o fez somente na<br />
última. Os questionários <strong>de</strong> auto- avaliação foram adaptados <strong>de</strong> Brown<br />
(2004:274) e Nunan (2004:150). A auto- avaliação é um tipo <strong>de</strong><br />
avaliação formativa, cujo objetivo é colher informação para o<br />
planejamento futuro (HEDGE, 2000:376). A análise dos dados levou<br />
em consi<strong>de</strong>ração o progresso objetivo dos alunos na língua-alvo,<br />
medido em teste tradicional, e o ponto-<strong>de</strong>-vista subjetivo do professor.<br />
Os resultados parciais mostraram que a turma que realizou auto-<br />
348
Resumo dos Trabalhos<br />
avaliação em todas as aulas apresentou um melhor <strong>de</strong>sempenho no<br />
teste tradicional e suas respostas nas auto-avaliações estavam mais<br />
próximas do <strong>de</strong>sempenho observado no teste do que as do grupo <strong>de</strong><br />
controle. A auto-avaliação aplicada regularmente mostrou-se um<br />
método <strong>de</strong> avaliação confiável e informativo tanto para o aluno quanto<br />
para o professor. Palavras-chave: auto-avaliação, línguas adicionais,<br />
ensino-aprendizagem"<br />
O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E GANHOS<br />
COGNITIVOS<br />
Marta Helena Tessmann Ban<strong>de</strong>ira<br />
O ensino da língua estrangeira nas escolas sempre foi alvo <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
polêmica, sobretudo quando se trata da sua real importância para o<br />
contexto atual da educação. Não é raro que as aulas <strong>de</strong> língua<br />
estrangeira sejam ministradas por professores que não são nem mesmo<br />
formados em Letras, ou que a carga horária <strong>de</strong>ssa disciplina seja<br />
diminuída em <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> outra ativida<strong>de</strong> escolar. Isso certamente<br />
afeta os resultados que seriam esperados para tal disciplina e o que é<br />
visto é que os alunos terminam os anos escolares com conhecimento<br />
mínimo <strong>de</strong> língua estrangeira. Diante disto, este estudo tem o objetivo<br />
principal <strong>de</strong> mostrar que o ensino da língua estrangeira, <strong>de</strong> maneira a<br />
formar multilingues, po<strong>de</strong> ajudar inclusive no <strong>de</strong>senvolvimento<br />
cognitivo dos alunos, mais precisamente nas funções executivas:<br />
memória <strong>de</strong> trabalho e atenção. Para tanto participaram <strong>de</strong>ste estudo10<br />
adolescentes <strong>de</strong> 12 a 15 anos, todos estudantes das séries finais do<br />
ensino fundamental. Foram divididos em dois grupos, um formado por<br />
5 adolescentes monolíngues, e outro com 5adolescentes multilíngues.<br />
A língua falada pelas adolescentes monolíngues é o português brasileiro<br />
(PB), os multilingues,por sua vez, falam inglês (L2) frequentemente.<br />
Para testar as funções executivas foi feita a tarefa <strong>de</strong> Simon com os<br />
participantes. Os resultados do tempo <strong>de</strong> reação e acurácia na tarefa<br />
<strong>de</strong>monstram diferenças significativas em todas as condições. Os<br />
resultados sugerem que multilíngues <strong>de</strong>senvolvem o multiprocessamento<br />
relacionados a funções executivas mais rápido e com<br />
maior acurácia do que monolíngues.<br />
Palavras-chave: ensino <strong>de</strong> língua estrangeira; multilinguismo; funções<br />
executivas<br />
349
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A ARGUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÕES<br />
METAFÓRICAS EM FOLDERES TURISTICOS<br />
Natalia De Sousa Aldrigue<br />
Lucienne Espindola<br />
Com base nos postulados <strong>de</strong> Lakoff e Johnson (2002 [1980]), Ducrot<br />
(1988) e outros,esta pesquisa, partiu da hipótese que, nos fol<strong>de</strong>res<br />
turísticos, predomina a presença <strong>de</strong> expressões linguísticas atualizando<br />
metáfora conceptual ontológica, principalmente a personificação, com<br />
função argumentativa. Através da análise qualitativa das expressões<br />
metafóricas presentes no gênero investigado, confirmamos a presença<br />
<strong>de</strong>ssa metáfora e da argumentação exercida pelas expressões<br />
linguísticas. Enten<strong>de</strong>mos a metáfora conceptual como sendo uma<br />
forma <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> cognitiva, em que conceitos são estruturados<br />
metaforicamente em termos <strong>de</strong> outros; enquanto que as expressões<br />
licenciadas constituem a atualização <strong>de</strong> metáforas conceptuais em nível<br />
linguístico-discursivo. Palavras-chave: argumentação; expressões<br />
metafóricas; gênero discursivo."<br />
FRAMES, DISCURSO E CIDADANIA<br />
Neusa Salim Miranda<br />
O presente estudo apresenta uma proposta <strong>de</strong> análise do discurso em<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um macroprojeto híbrido (Linguística e<br />
<strong>Educação</strong>), voltado para o resgate da experiência escolar em “tempos <strong>de</strong><br />
crise”. Tendo como corpus o discurso <strong>de</strong> discentes e docentes, a i<strong>de</strong>iachave<br />
<strong>de</strong>sta proposta (Projeto Práticas <strong>de</strong> Oralida<strong>de</strong> e Cidadania -<br />
FAPEMIG, PNPD/CAPES), no que concerne à sua face linguística,<br />
tem sido evi<strong>de</strong>nciar, através <strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong> Estudos <strong>de</strong> Caso em<br />
curso (quatro dissertações e uma tese) e concluídos (LIMA, 2009;<br />
PINHEIRO, 2009; BERNARDO, 2011, FONTES, 2012), a eficácia<br />
analítica da Semântica <strong>de</strong> Frames (FILLMORE, 1975, 1977, 1982,<br />
1985; PETRUCK,1996) e da plataforma lexicográfica <strong>de</strong>la <strong>de</strong>rivada, a<br />
FrameNet (https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/) para a<br />
abordagem dos processos <strong>de</strong> significação no discurso. Outro substrato<br />
teórico fundamental que orienta esta proposta são os Mo<strong>de</strong>los baseados<br />
no Uso (CROFT e CRUSE, 2004; GOLDBERG, 1995, 2006;<br />
TOMASELLO, 1999, 2003; TRAUGOTT, 2007) que trazem à análise<br />
quantitativa dos dados a dimensão do Uso. Este estudo vem<br />
<strong>de</strong>senhando, através dos frames suscitados pelos discursos (entrevistas e<br />
350
Resumo dos Trabalhos<br />
relatos <strong>de</strong> experiência), um contun<strong>de</strong>nte “mapa da crise” vivenciada em<br />
nossas escolas (violência, <strong>de</strong>sinteresse, <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>m...)<br />
TENDÊNCIAS ENTOACIONAIS DE CONSTRUÇÕES DE<br />
DISCURSO REPORTADO<br />
Patrícia Ribeiro Do Valle Coutinho<br />
Luiz Fernando Matos Rocha<br />
O presente trabalho aposta em uma perspectiva fonológica <strong>de</strong><br />
orientação cognitivista para a análise da entoação. Preten<strong>de</strong>-se assumir<br />
concepções <strong>de</strong> linguagem e <strong>de</strong> gramática que vão ao encontro da teoria<br />
da Gramática das Construções. Acredita-se que o estudo <strong>de</strong><br />
construções da fala prescin<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma análise prosódica e pragmática.<br />
O referencial teórico utilizado para construir o aporte cognitivo inclui<br />
obras como Nathan (1986, 2006, 2007, 2008), Bybee (1994), Goldberg<br />
(1995, 2006), Tomasello (2003, 2006), Salomão (1999, 2002, 2009) e<br />
Rocha (2004). Além disso, é preciso sustentar as bases que envolvem a<br />
entoação e sua notação (CRUTTENDEN, 1997; BARBOSA, 2010;<br />
GRICE & BAUMANN, 2007; MADUREIRA, 1994; LUCENTE,<br />
2008). Na análise, foi eleito como objeto o Discurso Reportado, e suas<br />
manifestações diretas e indiretas, com e sem verbos dicendi, em<br />
diálogos do corpus NURC-RJ. Através do programa PRAAT, foi<br />
analisado se há contornos <strong>de</strong>fault envolvendo construções <strong>de</strong> Discurso<br />
Reportado, bem como se as medidas <strong>de</strong> F0 sugerem regularida<strong>de</strong>s. A<br />
hipótese é <strong>de</strong> que, embora ainda se trate <strong>de</strong> um estudo prospectivo,<br />
serão encontradas tendências entoacionais no uso <strong>de</strong>stas construções do<br />
português brasileiro.<br />
Palavras-chave: Linguística Cognitiva; Gramática das Construções;<br />
Entoação; Discurso reportado.<br />
FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA PRAGMÁTICA:<br />
REFLEXÃO E AÇÃO NO ENSINO DE LEITURA E<br />
COMPREENSÃO DE TEXTOS EM INGLÊS INSTRUMENTAL<br />
Rita Angélica De Oliveira Luz<br />
Este trabalho apresenta o fruto das aulas no curso <strong>de</strong> leitura e<br />
compreensão <strong>de</strong> textos originais em Língua Inglesa (L2) para alunos<br />
que necessitam submeter- se ao exame <strong>de</strong> proficiência em Inglês a fim<br />
<strong>de</strong> ingressar nos programas <strong>de</strong> mestrado e doutorado. Após várias<br />
351
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
tentativas sem êxito, esses alunos procuram o curso que ofereça uma<br />
metodologia que, <strong>de</strong> fato, os instrumentaliza a acessar todo o<br />
conhecimento acadêmico necessário, através <strong>de</strong> textos originais/<br />
autênticos escritos em Inglês, assim, alcançando o êxito <strong>de</strong>sejado. Para<br />
respon<strong>de</strong>r aos inúmeros questionamentos referentes à eficácia <strong>de</strong>sta<br />
metodologia, foi proposto um estudo científico mediante uma análise<br />
reflexiva buscando nomes <strong>de</strong> autores conhecidos nessa área, tais como:<br />
Gombert (2003), Goodman (1991),Smith (2003), Dehaene (2007),<br />
Langacker(1999), Geerarts (2006), Koda (2010), entre outros. A partir<br />
das reflexões sobre os fundamentos da Linguística Pragmática, tanto<br />
quanto da metodologia instrumental - estratégias <strong>de</strong> leitura e seus<br />
aspectos cognitivos - vislumbra-se apresentar uma visão panorâmica da<br />
incidência das teorias da Pragmática, bem como da Psicolinguística,<br />
haja vista que a aplicação <strong>de</strong>stes conhecimentos urge no atual mundo<br />
<strong>de</strong> trabalho, ou, como cita o Dr. Jorge Campos, (2008) professor da<br />
disciplina em Linguística da PUCRS, que na era digital, <strong>de</strong>ve-se buscar<br />
alternativas mais viáveis e eficazes na metodologia <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> leitura<br />
em língua estrangeira."<br />
CIÊNCIAS COGNITIVAS E A EDUCAÇÃO PARA A LEITURA<br />
Rosangela Gabriel<br />
Nossa participação no simpósio “Linguagem, cognição e ensino”<br />
buscará sistematizar contribuições dos estudos sobre cognição humana<br />
para o ensino da leitura em língua materna no contexto da educação<br />
básica brasileira. Inicialmente, abordaremos conceitos das ciências<br />
cognitivas, tais como atenção, memória e representação, para então<br />
refletir sobre como esses conceitos po<strong>de</strong>m ser aplicados às práticas<br />
escolares, tanto <strong>de</strong> alfabetização quanto <strong>de</strong> compreensão leitora. Com<br />
relação à alfabetização, buscaremos <strong>de</strong>monstrar a complexida<strong>de</strong><br />
cognitiva e o papel fundamental da <strong>de</strong>codificação na habilida<strong>de</strong> leitora,<br />
através <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong> Morais, Dehaene, Sei<strong>de</strong>nberg, Rayner, Scliar-<br />
Cabral, Nunes, Buarque e Bryant, <strong>de</strong>ntre outros. No que tange à<br />
compreensão leitora, teceremos consi<strong>de</strong>rações sobre a natureza e o<br />
papel do conhecimento lexical na construção <strong>de</strong> sentidos para os textos<br />
(em especial, Sousa e Gabriel). Por fim, buscaremos explicitar<br />
implicações pedagógicas e trazer contribuições para a formação <strong>de</strong><br />
professores, seguindo a orientação <strong>de</strong> Morais, Kolinsky e Grimm-<br />
Cabral (2004, p. 59) que afirmam que “ensinar a leitura é antes <strong>de</strong> mais<br />
nada ensinar aqueles que ensinam a ler”.<br />
352
Resumo dos Trabalhos<br />
MÚSICA E COGNIÇÃO: INTERFACES CULTURAIS, SOCIAIS<br />
E INTERTEXTUAIS<br />
Simone Conti De Oliveira<br />
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo problematizar as interfaces<br />
entre música, leitura e cognição, bem como analisar alguns traços<br />
linguísticos e literários que propiciam esta aproximação, a fim <strong>de</strong><br />
estimular a inclusão da música como objeto <strong>de</strong> aprendizagem no<br />
sistema escolar. Neste sentido, enten<strong>de</strong>mos que o ensino <strong>de</strong>sse gênero<br />
híbrido, a canção, seja por intermédio <strong>de</strong> sua relação com a literatura,<br />
via intertextualida<strong>de</strong>, seja por meio da própria peça verbo-melódica,<br />
sua leitura e/ou audição, vai ao encontro da diminuição das diferenças,<br />
uma vez que proporciona socialização e interesse pela cultura, pela<br />
literatura e pela língua, além <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento cognitivo dos<br />
estudantes. Tendo em vista este objetivo, o presente estudo buscou<br />
fundamentar-se em teóricos <strong>de</strong> várias áreas do conhecimento, tais como<br />
Benveniste (2005), Espinosa (2011), Genette (2006), Ilari (2005), Koch<br />
(2007), Lopes (1995), Tomasello (2003), Thwaites (1994), <strong>de</strong>ntre<br />
outros."<br />
COMPREENSÃO DE TEXTOS EM L1 E L2: DIFERENÇAS,<br />
SEMELHANÇAS E O PAPEL DA MEMÓRIA<br />
Talita Dos Santos Gonçalves<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é fazer uma revisão teórica sobre as<br />
diferenças, as semelhanças na compreensão <strong>de</strong> textos em L1 e L2 e o<br />
papel da memória <strong>de</strong> trabalho e memória <strong>de</strong> longa duração. Este<br />
trabalho trata dos tipos <strong>de</strong> abordagem <strong>de</strong> textos, o papel das diferenças<br />
individuais e conhecimento textual em relação à compreensão. Partindo<br />
<strong>de</strong> uma visão geral, compreen<strong>de</strong>r um texto é uma ação interativa entre o<br />
leitor/ ouvinte e o texto. O movimento <strong>de</strong> atribuir significado e extrair<br />
sentido do texto trazem à tona três abordagens textuais distintas, em que<br />
cada movimento se refere a uma concepção diferente <strong>de</strong> processamento<br />
<strong>de</strong> texto (top –down, bottom-up e interativa). Dentre os fatores<br />
individuais que <strong>de</strong>terminam a compreensão <strong>de</strong> textos, cita-se a<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> memória, a ida<strong>de</strong> cronológica, o conhecimento textual e<br />
os conhecimentos linguísticos. Outras diferenças na compreensão são<br />
percebidas tanto em L1 quanto em L2, outras emergem do contato do<br />
leitor/ouvinte com o texto em L2, como o grau <strong>de</strong> domínio <strong>de</strong><br />
conhecimento linguístico, por exemplo. O conhecimento das tipologias<br />
353
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
do texto, o grau <strong>de</strong> formalida<strong>de</strong>, o domínio do assunto ou conteúdo, a<br />
estrutura e a complexida<strong>de</strong> sintática e semântica, bem como o grau <strong>de</strong><br />
diferenciação entre L1 e L2 são fatores textuais que convergem para os<br />
diferentes níveis <strong>de</strong> compreensão do texto. Em relação à memória, o<br />
presente trabalho trata da caracterização dos sistemas <strong>de</strong> memória,<br />
<strong>de</strong>pois apresenta o papel da memória <strong>de</strong> trabalho e <strong>de</strong> longa duração na<br />
compreensão <strong>de</strong> textos em L2. De um modo geral, busca-se mostrar que<br />
os sistemas <strong>de</strong> memória são igualmente importantes, que funcionam em<br />
conjunto e estão diretamente relacionados à compreensão <strong>de</strong> textos,<br />
tanto em L1 quanto em L2. Ao abordar um texto, um leitor/ouvinte<br />
apreen<strong>de</strong> novas informações e estabelece uma relação entre os<br />
conhecimentos anteriores e os novos conteúdos. Logo, o leitor/ouvinte,<br />
para compreen<strong>de</strong>r um texto principalmente em L2, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ntre<br />
muitos fatores, do funcionamento eficiente dos seus sistemas <strong>de</strong><br />
memória. Concluí-se então, que conhecimentos linguísticos,<br />
extralinguísticos e textuais contribuem para a compreensão <strong>de</strong> textos,<br />
tanto em L1 como em L2, bem como a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> memória.<br />
A ABORDAGEM COMUNICATIVA DE LÍNGUAS NA<br />
FORMAÇÃO DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA<br />
Tássia Avila Silva<br />
Graciele Urrutia Dias Silveira<br />
No presente trabalho, tem-se como objetivo apresentar e discutir a<br />
experiência docente dos participantes no projeto “Inglês para a<br />
Comunida<strong>de</strong> do Anglo” e as bases teóricas que têm orientado o<br />
trabalho com os alunos. Tal projeto faz parte do Programa Vizinhança,<br />
da <strong>UFPel</strong> e disponibiliza um curso <strong>de</strong> língua inglesa a estudantes <strong>de</strong><br />
escolas do bairro vizinho ao campus Porto a fim <strong>de</strong> ampliar os<br />
conhecimentos dos alunos sobre a língua inglesa adquiridos na escola,<br />
espaço on<strong>de</strong>, geralmente, se encontra um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> alunos e há<br />
pouco tempo para aprofundar habilida<strong>de</strong>s comunicativas em línguas<br />
estrangeiras. O foco <strong>de</strong> tal curso é proporcionar a efetiva comunicação<br />
entre os alunos na língua alvo, conforme preconizado pelos Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais. O documento oficial <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> que o ensino <strong>de</strong><br />
línguas tem <strong>de</strong> garantir aos alunos engajamento em diferentes situações<br />
comunicativas e contextos sócio-históricos i<strong>de</strong>ológicos. Portanto, o<br />
objetivo principal do ensino e das aulas ministradas no presente curso<br />
constitui-se na formação <strong>de</strong> usuários competentes da língua,por meio<br />
da abordagem comunicativa <strong>de</strong> ensino,e não na mera formação <strong>de</strong><br />
354
Resumo dos Trabalhos<br />
conhecedores <strong>de</strong> estruturas gramaticais (DOURADO, 2008). Palavraschave:<br />
abordagem comunicativa, ensino <strong>de</strong> língua inglesa, Programa<br />
Vizinhança<br />
TEACHING ENGLISH THROUGH PRACTICAL EXPERIENCE<br />
Virginia Ponche Barbosa<br />
This presentation <strong>de</strong>scribes and analyzes an activity that was <strong>de</strong>veloped<br />
with beginner, intermediate and adults’ classes of English as a foreign<br />
language at SENAC/Santana do Livramento, in or<strong>de</strong>r to promote<br />
opportunities for these stu<strong>de</strong>nts to experience and make use of what<br />
they had learned in class in an authentic situation with authentic<br />
material. Despite this approach had already been <strong>de</strong>veloped in the 90s,<br />
this paper focuses on the experience itself, the importance for these<br />
stu<strong>de</strong>nts that have had the opportunity of traveling to another city and<br />
the consequences of the whole trip in each participant. The analysis<br />
took into account the process of scaffolding within communities of<br />
practice and what has been <strong>de</strong>veloped during the trip. This data showed<br />
that through this kind of approach it is possible to contribute to<br />
stu<strong>de</strong>nts’ social i<strong>de</strong>ntities and citizenships reinforcement, making them<br />
engaged in the process of learning a foreign language.<br />
355
LINHA TEMÁTICA: LINGUAGEM, SEMIÓTICA E<br />
ENSINO: INTERFACES<br />
MEMÓRIA, LINGUAGEM E TRADUÇÃO EM PEDRO<br />
PÁRAMO: UM ESTUDO COMPARATIVO A PARTIR DA<br />
ANÁLISE DO DISCURSO<br />
Camila De Carli<br />
Palavras-chave: Memória. Tradução. Análise do Discurso.<br />
O presente estudo teve como objetivo aferir, na novela Pedro Páramo,<br />
<strong>de</strong> Juan Rulfo, como a memória é representada no texto original, em<br />
espanhol (L1), e <strong>de</strong> que forma esse mesmo aspecto é expresso em<br />
tradução para o português (L2) realizada por nativo <strong>de</strong>sta língua. Como<br />
pressuposto teórico, tomou-se a Análise do Discurso (AD) <strong>de</strong> linha<br />
francesa em diálogo com conceitos relacionados aos campos <strong>de</strong> estudo<br />
da Literatura e da Tradução, ressignificados na AD. Ao longo do<br />
artigo, recuperam-se inicialmente aspectos da teoria que serviram <strong>de</strong><br />
base para o trabalho analítico. Na sequência, apresentam-se alguns<br />
exemplos <strong>de</strong>sse trabalho, realizado através <strong>de</strong> comparação semântico-<br />
lexical e verbo-temporal em recortes discursivos tomados,<br />
respectivamente, do texto literário na versão original em L1 e na sua<br />
versão traduzida para a L2.<br />
VIOLÊNCIA NA INTERNET: UMA PERSPECTIVA DO<br />
CYBERBULLYING NO FACEBOOK<br />
Carolina Campos Ro<strong>de</strong>ghiero<br />
O Facebook está prestes a ter mais <strong>de</strong> 900 milhões <strong>de</strong> pessoas<br />
conectadas a ele. Este é um ponto <strong>de</strong> partida para relações sociais e<br />
suas características. Este estudo faz uma análise sobre o bullying em<br />
seu contexto virtual, mostrando como o cyberbullying po<strong>de</strong> mudar as<br />
relações sociais com a participação massiva <strong>de</strong> pessoas no Facebook.<br />
Neste trabalho apresentamos como as tecnologias da informação se<br />
<strong>de</strong>senvolveram até os dias <strong>de</strong> hoje com os sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais,<br />
estudando a violência em sua história e conceito, baseando o estudo em<br />
autores como Hannah Arendt (2009) com teorias <strong>de</strong> como estão<br />
relacionados po<strong>de</strong>r e dominação, e comparando isso com a contribuição<br />
<strong>de</strong> Foucault (2009) afirmando a vigilância como punição e controle.<br />
Em seguida, continuamos com Smith et al. (2009) falando sobre a<br />
violência virtual e sua relação com sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais. Depois, como<br />
356
Resumo dos Trabalhos<br />
referencial teórico e metodologia, usamos a Análise Crítica do<br />
Discurso com ênfase na concepção tridimensional do discurso <strong>de</strong><br />
Fairclough (2003) e na Gramática Visual <strong>de</strong> Kress & Leeuwen (2006)<br />
para fazer uma análise profunda em publicações do Facebook que<br />
apresentam sinais <strong>de</strong> violência. Por mantermos o foco não só na<br />
própria publicação, mas na sua produção, distribuição e recepção, este<br />
estudo é sobre como o cyberbullying po<strong>de</strong> ser encontrado fora do<br />
ambiente escolar ou adolescente, existindo frequentemente no contexto<br />
virtual, <strong>de</strong> adultos e público.<br />
PROVÉRBIOS - A LEITURA,A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E O<br />
PROCESSO INFERENCIAL<br />
César Costa Vitorino<br />
Os provérbios expressam valores culturais <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminada<br />
comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fala. Sabe-se,entretanto,que as investigações<br />
paremiológicas não conseguiram até hoje apresentar uma <strong>de</strong>finição<br />
específica e universalmente aceita <strong>de</strong> provérbio. Obelkevich(1997),<br />
argumenta que todo provérbio serve como veículo não só <strong>de</strong><br />
conhecimento moral,mas também do prático, daí acrescentar que a<br />
<strong>de</strong>finição <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da sua função externa, porque se observarmos bem,<br />
as pessoas fazem uso <strong>de</strong>ssa unida<strong>de</strong> léxica fraseológica para dizer a<br />
outras pessoas o que fazer ou a atitu<strong>de</strong> que <strong>de</strong>ve tomar em relação a<br />
uma <strong>de</strong>terminada situação. Nesse sentido, o objetivo central <strong>de</strong>ste<br />
trabalho consiste em como explicar o fenômeno da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural<br />
dos provérbios africanos, nos testos <strong>de</strong> panelas dos Cabindas (Angola),<br />
Para tanto, buscar-se-à o estado da arte com base no aporte teórico dos<br />
seguintes estudiosos: Vaz (1966),Ribas (1964), Freud (1941), Kristeva<br />
(1969;1987), Slobin (1980), Smith (1973,1991), Marcuschi<br />
(1985;2001;2007),Austin(1990), Cohen (1991), Goodman (1973;1991)<br />
Rocha (1995), Obelkevich (1997), Poersch (1991), Poersch e Chiele<br />
(2000), Gabriel (2001), Gabriel e Frömming (2002), Dascal (2003),<br />
Reale (2002), Coscarelli (2002a,2002b;2010), Dehaene (2012),<br />
Dell’Isola (2001). Palavras-chave: Provérbios. Semiótica. Cultura<br />
Africana.<br />
357
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PROJETO INTERFACE – VIVENCIAR É PRECISO, EM<br />
CONTEXTO DIGITAL: ANÁLISE SOBRE A USABILIDADE DO<br />
SITE OFICIAL DA UNIPAMPA<br />
José Ricardo Da Costa<br />
Uma universida<strong>de</strong> com as características multi-campi da Unipampa,<br />
tem no Espaço Digital (Recuero, 2010), e em específico em seu Site<br />
Oficial, uma possibilida<strong>de</strong> capital para a integração dos diversos<br />
interesses que permeiam as relações <strong>de</strong> ensino-aprendizagem. Esta<br />
integração <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> das ressignificações construídas pela comunida<strong>de</strong><br />
envolvida, on<strong>de</strong> “relações interpessoais <strong>de</strong> confiança, afinida<strong>de</strong> e<br />
reciprocida<strong>de</strong> são mantidas voluntariamente” (Santaella, 2009).<br />
Partindo-se <strong>de</strong>sta premissa, no intuito <strong>de</strong> interligar seu público <strong>de</strong><br />
maneira efetiva, o Site Oficial da Unipampa po<strong>de</strong> ser aprimorado?<br />
Uma alternativas para o aperfeiçoamento da página é o da análise <strong>de</strong><br />
sua usabilida<strong>de</strong>, conjunto <strong>de</strong> características que possibilitam um<br />
melhor contato entre usuário e interface. Dentro dos requisitos<br />
elencados por Pressman (2000), será dado <strong>de</strong>staque para as metáforas,<br />
que juntamente com o feedback, possibilitam que a experiência na re<strong>de</strong><br />
converta-se em vivência. O Projeto surge <strong>de</strong>ntro do Grupo PET<br />
Contexto Digital, integrante do Programa <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Tutorial – PET<br />
(MEC). Visa-se refletir sobre a linguagem empregada na interface do<br />
Site, tendo em vista a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fomento a iniciativas<br />
interdisciplinares e inter-campi, bem como suas implicações sobre o<br />
ensino. Palavras-chave: usabilida<strong>de</strong> – site Unipampa – interface<br />
A POSIÇÃO-SUJEITO EM TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA:<br />
ELITE DA TROPA 2 E TROPA DE ELITE 2 - O INIMIGO<br />
AGORA É OUTRO<br />
Franciele Casagranda Metz<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste artigo é apresentar uma leitura intertextual do filme<br />
Tropa <strong>de</strong> Elite 2 (2010), <strong>de</strong> José Padilha, em relação à obra literária<br />
Elite da Tropa 2 (2010), <strong>de</strong> Luiz Eduardo Soares e mais três coautores:<br />
Rodrigo Pimentel, André Batista e Cláudio Ferraz. Tal análise é feita à<br />
luz da Análise do Discurso (AD), <strong>de</strong> linha francesa, com a contribuição<br />
da crítica materialista sobre intersemiótica, conforme formulada por<br />
Walter Benjamin e Umberto Eco. A Análise do Discurso criada por<br />
Michel Pêcheux analisa o texto no momento da escrita, invertendo a<br />
linha <strong>de</strong> raciocínio a respeito do processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> sentido; a<br />
358
Resumo dos Trabalhos<br />
atenção se volta para o discurso e não mais para o sujeito como dono<br />
<strong>de</strong> sua fala, pois os processos discursivos não têm sua origem no<br />
sujeito, por mais que se realizem fundamentalmente nesse sujeito.<br />
Nesta perspectiva, além <strong>de</strong> contribuir para a construção <strong>de</strong> um sentido<br />
por parte <strong>de</strong> seu ouvinte, o sujeito está contribuindo para a sua própria<br />
formação enquanto sujeito discursivo. Por esse viés, analisa-se a<br />
aproximação entre o texto narrativo- literário e o texto narrativofílmico,<br />
investigando o processo <strong>de</strong> adaptação do literário para o<br />
cinematográfico, observando a posição-sujeito do protagonista Capitão<br />
Nascimento e sua formação discursiva sob essa perspectiva. A proposta<br />
é relevante pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>snudar, pela análise <strong>de</strong> elementos<br />
linguísticos e imagéticos presentes respectivamente no discurso literário<br />
e no discurso fílmico, algumas das diversas formas <strong>de</strong> autoritarismo<br />
que perpassam o tecido social, oriundas <strong>de</strong> formações discursivas<br />
específicas, como, no caso do corpus sob análise, da posição-sujeito<br />
através da formação discursiva policial (FDP).<br />
Palavras-chave: Tropa <strong>de</strong> Elite. Elite da Tropa. Formação Discursiva.<br />
Posição-sujeito. Tradução intersemiótica.<br />
A ALTERIADE E A SEMIÓTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA:<br />
UMA ANÁLISE DO LIVRO A CONQUISTA DA AMÉRICA, A<br />
QUESTÃO DO OUTRO, DE T.TODOROV<br />
Jean Pierre Teixeira Da Silva<br />
A Alterida<strong>de</strong> e a Semiótica no Ensino <strong>de</strong> História: uma Análise do<br />
Livro A Conquista da América, a Questão do Outro, <strong>de</strong> Tzvetan<br />
Todorov Jean Pierre Teixeira da Silva- (UFPEL) Palavras-Chaves:<br />
Alterida<strong>de</strong>, História, Ensino. Linha Temática: Linguagem, Semiótica e<br />
Ensino: interfaces O linguista e filósofo búlgaro Tzvetan Todorov,<br />
afirmou que o único meio que encontrou para diagnosticar o<br />
comportamento em relação a outrem, foi contando uma história como<br />
exemplo, a da Conquista da América. Para Todorov(2003) a<br />
construção <strong>de</strong>sse livro, é ao mesmo tempo uma reflexão sobre os<br />
signos, a interpretação e sua comunicação, pois o semiótico não po<strong>de</strong><br />
ser pensado fora da relação com o outro, ou seja, a alterida<strong>de</strong>. Todorov<br />
trabalha o conceito <strong>de</strong> alterida<strong>de</strong>, que consi<strong>de</strong>ra que o individuo existe<br />
apenas a partir do outro, da visão. É um estudo das relações entre<br />
pessoas e povos. Ele incentiva a tolerância por mostrar que a visão <strong>de</strong><br />
mundo do outro nos enriquece. A escolha <strong>de</strong>ssa obra, como seu objeto<br />
<strong>de</strong> análise da alterida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>u-se pelo fenômeno da chegada do homem<br />
359
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
europeu, e branco, na América(século XV), e o contraste com o<br />
homem “primitivo” que habitava o continente americano. Esse contato<br />
entre duas culturas, gerou uma profunda questão <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, on<strong>de</strong><br />
Colombo <strong>de</strong>scobre a América, mas não os americanos<br />
(TODOROV,2003). Esse trabalho, é uma tentativa <strong>de</strong> analisar a<br />
problemática da linguagem para o ensino <strong>de</strong> história, através da<br />
alterida<strong>de</strong>, da semiótica, e dos signos. O ensino-aprendizagem do<br />
conteúdo <strong>de</strong> história po<strong>de</strong>rá ter nova perspectiva, ao incluirmos a<br />
análise do discurso como ferramenta para analisar um texto,<br />
proporcionando um acréscimo circunstancial em sua interpretação.<br />
O PÔSTER ACADÊMICO SOB DIFERENTES ÓTICAS<br />
Luziane Boemo Mozzaquatro<br />
Graciela Rabuske Hendges<br />
Entre os diferentes gêneros discursivos do universo acadêmico, o pôster<br />
acadêmico <strong>de</strong>sempenha um papel importante na divulgação <strong>de</strong><br />
pesquisas (MACINTOSH- MURRAY, 2007). Definido como um<br />
gênero multimodal que apresenta resumida e visualmente uma pesquisa<br />
científica (MACINTOSH-MURRAY, 2007, p. 351), sua produção<br />
<strong>de</strong>manda letramento multimodal, um letramento que não é<br />
<strong>de</strong>senvolvido nos currículos das universida<strong>de</strong>s, pois o aluno acaba<br />
sendo convocado a produzir pôsteres apenas quando chega a hora <strong>de</strong><br />
participar <strong>de</strong> eventos científicos (I<strong>de</strong>m). Revela-se então a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> uma análise crítica <strong>de</strong> gênero (MOTTA-ROTH, 2005, 2006, 2008)<br />
do pôster acadêmico. O primeiro passo <strong>de</strong>ssa análise envolve o<br />
mapeamento da literatura prévia sobre o pôster, no sentido <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificar <strong>de</strong>finições e características do gênero. Essa literatura é<br />
classificada <strong>de</strong> acordo com a visão teórica subjacente, ou seja, em que<br />
medida o conceito <strong>de</strong> gênero – abordagem <strong>de</strong>scritiva - é adotado em tais<br />
caracterizações do pôster, ou se são propostas prescritivas. A meta final<br />
da pesquisa a qual este trabalho integra é auxiliar professores <strong>de</strong><br />
letramento acadêmico e pesquisadores inexperientes na produção e<br />
leitura <strong>de</strong>sse gênero discursivo. Palavras-chave: Análise Crítica <strong>de</strong><br />
Gênero, Pôster acadêmico, letramento multimodal.<br />
360
Resumo dos Trabalhos<br />
INTRODUÇÃO AO USO DE ADAPTAÇÕES LITERARIAS NA<br />
ESCOLA<br />
Marcos Vieira<br />
Palavras Chaves: Leitura, Literatura, Adaptações<br />
O presente trabalho enfoca um projeto <strong>de</strong> leitura realizado pelo PIBID<br />
do curso Letras da Unipampa, campus Bagé, que trabalha com o<br />
Letramento Literário. As ativida<strong>de</strong>s foram feitas com turmas do oitavo<br />
e sétimos anos na escola E.M.E.F Dr. João Severiano da Fonseca,<br />
localizada em um bairro periférico da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé, RS. O trabalho<br />
foi realizado com o livro “O Mágico <strong>de</strong> Oz” <strong>de</strong> L. Frank Baum e o<br />
filme “The Wizard Of Oz” (1939, dublado), através <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s que<br />
procuraram por em diálogo as duas obras, observando semelhanças e<br />
releituras. Nossas justificativas se pautam em elucidar aos alunos a<br />
noção <strong>de</strong> movimento das artes e seus gêneros, bem como seus<br />
movimentos intradialéticos e suas maleabilida<strong>de</strong>s extradialéticas (pelo<br />
fator histórico, social e ontológico). Cada gênero artístico por si causa<br />
um efeito em seu apreciador, como a arte dramática grega com seu<br />
caráter catártico. O trabalho procurou mostrar que quando entramos em<br />
contato com outros gêneros que abordam a mesma obra literária, como<br />
um livro que se torna um filme, esse terá efeitos e sentidos próprios<br />
<strong>de</strong>vido à natureza do meio sígnico, seja pela proposta do diretor ou do<br />
roteirista em reler e/ou ressignificar o já lido, assim gerando um terceiro<br />
produto que flutua na subjetivida<strong>de</strong> das interpretações. Nossa proposta<br />
procurou <strong>de</strong>monstrar a existência <strong>de</strong>ssas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> matizes e<br />
refrações <strong>de</strong> significado ao alunado, <strong>de</strong>senvolvendo nas competências<br />
linguísticas cognitivas e subjetivida<strong>de</strong> do sígnico artístico. Linguagem,<br />
semiótica e ensino: interfaces<br />
DISCURSO E LINGUAGEM PICTÓRICA:<br />
(IM)POSSIBILIDADES ANALÍTICAS?<br />
Maria Thereza Veloso<br />
Palavras-chave: Discurso. Pintura. Interlocução.<br />
Apresentam-se neste artigo reflexões sobre uma interlocução possível<br />
entre a Análise do Discurso (AD) e a linguagem pictórica. Lembre-se,<br />
como justificativa para a proposta, que o início da AD <strong>de</strong>u-se em<br />
tempo <strong>de</strong> questões filosóficas e políticas expressivas, formadoras da<br />
base “concreta transdisciplinar <strong>de</strong> um encontro (...) sobre a questão da<br />
construção <strong>de</strong> uma aproximação discursiva dos processos i<strong>de</strong>ológicos<br />
361
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
(...) [a] história social das mentalida<strong>de</strong>s, dos sistemas <strong>de</strong> pensamentos<br />
ou das i<strong>de</strong>ologias constitui uma abertura que (...) supõe trabalhar sobre<br />
os textos <strong>de</strong> outra maneira ”, como afirmou Michel Pêcheux (In:<br />
PÊCHEUX, Michel. Análise <strong>de</strong> discurso. Textos selecionados. Eni<br />
Puccinelli Orlandi. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2011). Confirma-se,<br />
assim, pela voz <strong>de</strong> seu fundador, a abertura da AD para reatualizar-se,<br />
consi<strong>de</strong>rando a caminhada sincrônico/diacrônica da História/memória,<br />
das instituições e <strong>de</strong> uma pluralida<strong>de</strong> cada vez mais expressiva <strong>de</strong><br />
textos/linguagens. Partindo-se <strong>de</strong>ssas premissas, reflete-se sobre a<br />
existência, ou não, <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dialogar discursivamente com<br />
a linguagem imagético-estática da pintura, especialmente aquela<br />
vinculada ao Expressionismo. Como se leriam aspectos como variação<br />
da forma e variação <strong>de</strong> sentido em uma proposta que contrastasse<br />
aspectos da AD com a pintura, enten<strong>de</strong>ndo-se esta como um texto?<br />
Como se <strong>de</strong>tectariam aspectos como ambiguida<strong>de</strong>s, metáforas,<br />
<strong>de</strong>slizamentos, em uma análise como a <strong>de</strong>sta proposta? Como se<br />
chegaria ao fundamento i<strong>de</strong>ológico <strong>de</strong> uma pintura sem tergiversar,<br />
<strong>de</strong>slizando-se para uma análise apenas subjetiva? Buscar evidências <strong>de</strong><br />
respostas possíveis e justificáveis discursivamente a estas perguntas é o<br />
objetivo <strong>de</strong>ste trabalho.<br />
O GÊNERO NOTÍCIA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA: UM<br />
OLHAR PARA ALÉM DO VERBAL<br />
Pâmela Mariel Marques<br />
Graciela Rabuske Hendges (Orientadora)<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é verificar a natureza e as possíveis estratégias<br />
<strong>de</strong> recontextualização do conhecimento científico em imagens no<br />
gênero notícia <strong>de</strong> popularização da ciência. Essa pesquisa está<br />
ancorada em um projeto guarda- chuva intitulado “Estratégias<br />
discursivas e metadiscursivas <strong>de</strong> recontextualização <strong>de</strong> saberes<br />
científicos: a notícia <strong>de</strong> popularização da ciência em diferentes esferas<br />
sociais” (MOTTA-ROTH, 2011), cujo corpus é composto <strong>de</strong> 60<br />
notícias <strong>de</strong> popularização da ciência oriundas <strong>de</strong> quatro publicações:<br />
BBC News International, Scientific American, ABC Science e Nature.<br />
Com base nos estudos prévios já realizados nesse projeto sobre a<br />
dimensão verbal do gênero e na gramática visual (KRESS; van<br />
LEEUWEN, 1996/2006), analisamos 59 imagens oriundas do corpus<br />
do projeto guarda-chuva. Constatamos que as estratégias <strong>de</strong><br />
recontextualização visual se dão no nível contextual e textual:<br />
362
Resumo dos Trabalhos<br />
especialização (<strong>de</strong> fonte original para fonte <strong>de</strong> banco <strong>de</strong> dados);<br />
modalização (<strong>de</strong> natureza abstrata/codificada/esquematizada para<br />
natureza fotográfica); simplificação gramatical (<strong>de</strong> estrutura complexa<br />
para estrutura simples) e generalização (<strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes<br />
específicos/pontuais/quantitativos para síntese ampla). Percebemos<br />
então que a recontextualização é submetida ao discurso midiático, pois<br />
é direcionada principalmente para a interpelação <strong>de</strong> leitores,<br />
privilegiando a metafunção interpessoal das imagens em notícias <strong>de</strong><br />
popularização da ciência.<br />
O TEXTO NO ESTRUTURALISMO E NO PÓS<br />
ESTRUTURALISMO: O PENSAMENTO DE ROLAND<br />
BARTHES E JONATHAN CULLER<br />
Tânia Regina Barbosa De Sousa<br />
Palavras-Chave: Estruturalismo, Pós-Estruturalismo, texto.<br />
Este trabalho preten<strong>de</strong> trazer algumas reflexões sobre o conceito <strong>de</strong><br />
texto, partindo-se da teoria das correntes estruturalista e pósestruturalista.<br />
No estruturalismo, o foco é o próprio texto, sua estrutura,<br />
sem permear o contexto, levando em consi<strong>de</strong>ração o nível da <strong>de</strong>scrição,<br />
o que impe<strong>de</strong> que se veja além do texto. Para essa corrente, não cabe<br />
estudar a historicida<strong>de</strong>; autor e leitor enquanto instituições estão fora da<br />
análise; o leitor enquanto sujeito é eliminado. É o texto em si, que, no<br />
momento em que é escrito, o é pelo prazer do escritor, que busca o<br />
leitor i<strong>de</strong>al, que não somente lê, mas que absorve seus pensamentos e<br />
comunga com suas idéias. Resi<strong>de</strong> aí a distinção que permeia o<br />
pensamento <strong>de</strong> Barthes acerca do que é texto, <strong>de</strong> qual é o papel do<br />
escritor e o do leitor <strong>de</strong> textos; o que é texto do prazer e texto <strong>de</strong> fruição<br />
e on<strong>de</strong> resi<strong>de</strong> a distinção entre ambos, a partir <strong>de</strong> sutis diferenças ou<br />
<strong>de</strong>sdobramento <strong>de</strong> um conceito em relação ao outro. Já o pensamento<br />
pós-estruturalista, que surge como questionador do estruturalismo,<br />
utiliza essa teoria para questioná-la. Para os pós-estruturalistas, não<br />
cabe mais pren<strong>de</strong>r-se puramente ao texto; é preciso ir além, priorizar o<br />
problema da recepção do texto, romper a estrutura através da<br />
<strong>de</strong>sconstrução, que tem sido frequentemente associada a esse<br />
pensamento como um todo. Para a pesquisa, foram utilizados os<br />
conceitos <strong>de</strong> prazer e fruição e seu papel <strong>de</strong>ntro da corrente<br />
estruturalista, a partir da análise da obra O Prazer do texto,<strong>de</strong> Roland<br />
Barthes, além da visão do texto para o pós estruturalismo, a partir da<br />
363
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
análise do capítulo 2, “A <strong>de</strong>sconstrução”, da obra Sobre a<br />
<strong>de</strong>sconstrução, <strong>de</strong> Jonathan Culler.<br />
IMAGENS E AVALIAÇÃO: COMO SÃO REPRESENTADOS<br />
PELOS DISCENTES OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DE<br />
LÍNGUA INGLESA<br />
Vitória Maria Avelino Da Silva Paiva<br />
Este trabalho apresenta uma investigação a respeito das práticas<br />
avaliativas <strong>de</strong> língua inglesa <strong>de</strong> uma professora <strong>de</strong> ensino médio, por<br />
meio dos instrumentos avaliativos utilizados antes e <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> sugestões<br />
feitas pelos estudantes e aceitas pela educadora e seus efeitos no<br />
processo <strong>de</strong> ensino- aprendizagem <strong>de</strong> inglês <strong>de</strong>sses estudantes. Trata-se<br />
<strong>de</strong> uma pesquisa ação <strong>de</strong> base etnográfica (NUNAN, 2007; BOGDAN;<br />
BIKLEN, 1994) <strong>de</strong>senvolvida no ensino médio. Ao trabalharmos com<br />
a opinião dos discentes a respeito das avaliações a que são submetidos,<br />
fizemos uso <strong>de</strong> imagens produzidas por eles, assim i<strong>de</strong>ntificando as<br />
representações (SANTAELLA; NÖTH, 2008; PROSSER,1998) que<br />
atribuem às avaliações <strong>de</strong> inglês (SANT’ANNA, 2002). Buscamos,<br />
nesta pesquisa, a (re)construção do processo avaliativo <strong>de</strong> língua<br />
inglesa (SCARAMUCCI, 2009; DEMO, 2008; CANAN, 1996) por<br />
meio da participação estudantil, na consolidação do que enten<strong>de</strong>mos ser<br />
uma avaliação qualitativa, on<strong>de</strong> professores e estudantes são agentes<br />
ativos no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>sse processo dinâmico. PALAVRAS<br />
CHAVE: Avaliação, representações, imagens, participação estudantil.<br />
364
LINHA TEMÁTICA: LINGUAGENS E LETRAMENTOS:<br />
QUESTÕES<br />
BILINGUISMO E APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS POR<br />
INDÍGENAS DE DOURADOS, MS<br />
Adilson Crepal<strong>de</strong><br />
Este trabalho reflete sobre bilinguismo e aprendizagem <strong>de</strong> português<br />
por indígenas <strong>de</strong> Dourados, Mato Grosso do Sul (MS). Para tanto, foi<br />
realizada uma <strong>de</strong>scrição do português falado e escrito por jovens<br />
adultos da etnia guarani a partir <strong>de</strong> um corpus elaborado com<br />
entrevistas e textos <strong>de</strong> indígenas <strong>de</strong> vários níveis <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong>. O<br />
resultado da análise permitiu perceber como as línguas se influenciam<br />
e como os conhecimentos <strong>de</strong> ambas as línguas são usados<br />
estrategicamente pelos indígenas no processo <strong>de</strong> aprendizagem do<br />
português. Tais constatações são refletidas levando-se em consi<strong>de</strong>ração<br />
a crença <strong>de</strong> que o bilinguismo po<strong>de</strong> vir a atrapalhar a aprendizagem e o<br />
domínio do português, bem como o embasamento teórico <strong>de</strong><br />
Hornberger sobre letramento em ambientes multilíngues. Conclui-se<br />
que o português produzido pelos indígenas <strong>de</strong>ve ser compreendido<br />
como um continuum <strong>de</strong> duas línguas e não como arremedo do<br />
português padrão.<br />
LETRAMENTO DIGITAL E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA<br />
INGLESA: EXPLORANDO O RECURSO PODCAST<br />
Adilson Fernan<strong>de</strong>s Gomes<br />
Susana Cristina Dos Reis<br />
Palavras-chave: Letramento digital; Podcast; Ensino <strong>de</strong> Língua Inglesa.<br />
Em pesquisas sobre ensino e aprendizagem <strong>de</strong> línguas mediado por<br />
computador, os trabalhos <strong>de</strong> pesquisadores brasileiros tais como <strong>de</strong><br />
Coscarelli (2009), Buzato (2009) e <strong>de</strong> Reis (2010) são significativos<br />
para estabelecer um panorama sobre o uso <strong>de</strong> tecnologias no ensino <strong>de</strong><br />
línguas estrangeiras, principalmente quando a temática é letramento<br />
digital. Em se tratando <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> materiais e <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<br />
didáticas para o contexto digital, é fundamental que o professor saiba<br />
explorar algumas das ferramentas disponíveis no contexto digital. Este<br />
trabalho tem como objetivos: a) <strong>de</strong>stacar o uso do podcast como um<br />
recurso disponível na Internet que permite ao professor planejar,<br />
365
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
elaborar e testar ativida<strong>de</strong>s que envolvam a compreensão e a produção<br />
oral <strong>de</strong> línguas estrangeiras por meio <strong>de</strong> podcast; e b) discutir em que<br />
medida as ativida<strong>de</strong>s propostas por meio <strong>de</strong>sse recurso digital po<strong>de</strong>m<br />
contribuir para o letramento digital tanto <strong>de</strong> professores quanto <strong>de</strong><br />
alunos. Nesse sentido, faz-se necessário conhecer os recursos e as<br />
potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssa ferramenta, exemplificada por Bottentuit Júnior e<br />
Coutinho (2009), bem como elaborar propostas didáticas que<br />
contemplem o ensino <strong>de</strong> língua inglesa por meio <strong>de</strong>ssa ferramenta.<br />
Assim, constatamos que elaborar ativida<strong>de</strong>s que envolvem<br />
multiletramentos (NASCIMENTO, 2011) e ferramentas do contexto<br />
digital po<strong>de</strong> contribuir significativamente não só para o ensino da<br />
língua como também para o letramento e para a fluência tecnológica do<br />
professor e do aluno.<br />
RELAÇÕES DE PODER EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO<br />
ACADÊMICO EM CURSOS DE ENGENHARIA (PORTUGAL):<br />
O CASO DO GÊNERO RELATÓRIO DE PROJETO<br />
Adriana Fischer<br />
Palavras-chave: letramentos acadêmicos; Engenharias; relatório <strong>de</strong><br />
projeto.<br />
O trabalho com projetos tem se revelado uma prática constante <strong>de</strong><br />
letramento acadêmico em cursos <strong>de</strong> Engenharia da Universida<strong>de</strong> do<br />
Minho (UM), Portugal. A preocupação é posicionar os alunos como<br />
sujeitos na construção <strong>de</strong> conhecimentos da esfera científica e da área<br />
profissional. No entanto, um dado que emerge <strong>de</strong> práticas em que o<br />
gênero relatório <strong>de</strong> projeto se manifesta como objeto <strong>de</strong> trabalho é a<br />
tensão entre as formas <strong>de</strong> escrita do relatório, pelos alunos, e as<br />
diferentes expectativas <strong>de</strong> professores, em paralelo com normas<br />
acadêmicas. As relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r (Lea e Street, 1998, 2006), por sua<br />
vez, nas interações entre alunos e professores do curso <strong>de</strong> Engenharia e<br />
Gestão Industrial (MIEGI), dão indícios do que é valorizado pela<br />
universida<strong>de</strong> na produção científica e o que efetivamente os alunos<br />
reconhecem como a<strong>de</strong>quado nessa produção em um primeiro semestre<br />
do curso. Com base nesses enfoques, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é<br />
analisar como relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, em práticas <strong>de</strong> letramento que<br />
envolvem a escrita do gênero relatório <strong>de</strong> projeto, influenciam na<br />
explicitação ou não <strong>de</strong> como dimensões ditas “escondidas” (Street,<br />
2010) constituem essas práticas. Os dados foram coletados por meio <strong>de</strong><br />
entrevistas com alunos e através <strong>de</strong> observações a práticas <strong>de</strong><br />
366
Resumo dos Trabalhos<br />
letramento que envolveram a produção escrita e apresentação pública<br />
do relatório <strong>de</strong> projeto. Em uma sessão <strong>de</strong> formação, orientada pela<br />
pesquisadora/autora <strong>de</strong>ste trabalho, <strong>de</strong>stinada à discussão em torno da<br />
versão intercalar dos relatórios <strong>de</strong> projeto, duas dimensões foram<br />
<strong>de</strong>cisivas para oportunizar reflexões e instruções “mais” explícitas: a) a<br />
integração dos conhecimentos; b) a inovação <strong>de</strong>fendida no projeto. Os<br />
resultados vêm mostrar que a adoção <strong>de</strong> uma posição ‘mais’ dialógica<br />
(Lillis, 2003), diante da prática <strong>de</strong> produção do relatório <strong>de</strong> projeto,<br />
possibilita discussões ‘mais’ explícitas sobre relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s diferentes assumidas pelos participantes durante os<br />
trabalhos.<br />
A LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO SUPERIOR EM<br />
CURSOS QUE NÃO DE LETRAS<br />
Amanda Canterle Bochett<br />
Sandra Maria Do Nascimento De Oliveira<br />
Palavras-chave: Língua portuguesa; Ensino Superior; Letramento<br />
acadêmico.<br />
A ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura está presente em todos os níveis educacionais e<br />
nas socieda<strong>de</strong>s letradas, é uma forma <strong>de</strong> comunicação e entendimento<br />
sobre os fatos e ações por meio da interação. Ela proporciona sabedoria<br />
e uma experiência prazerosa <strong>de</strong> conhecimentos, constituindo a<br />
realização mais importante da vida dos acadêmicos. A leitura mantém<br />
um papel importante, pois está ligada a todas as práticas sociais <strong>de</strong><br />
letramento. Dessa forma, torna-se necessário compreen<strong>de</strong>r os<br />
processos que conduzem os alunos a um letramento acadêmico, pois<br />
este não po<strong>de</strong> ser compromisso <strong>de</strong> apenas uma área, mas uma<br />
responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> todas ao <strong>de</strong>senvolver sua competência linguística e<br />
<strong>de</strong> se preocupar em relação às dificulda<strong>de</strong>s que alunos <strong>de</strong> diferentes<br />
cursos <strong>de</strong> nível superior apresentam em suas práticas. Diante disso, o<br />
objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é propiciar uma reflexão sobre o ensino da<br />
língua portuguesa no ensino superior em cursos que não <strong>de</strong> letras, em<br />
vista <strong>de</strong> que o mundo acadêmico apresenta muitas particularida<strong>de</strong>s e<br />
práticas <strong>de</strong> letramento que são próprias <strong>de</strong>sse meio. Para isso foram<br />
realizados questionários entre acadêmicos e professores dos cursos <strong>de</strong><br />
Ciência da Computação, <strong>de</strong> Direito e <strong>de</strong> Administração da URI –<br />
Campus <strong>de</strong> Santiago, o que nos levou à confirmação <strong>de</strong> que muitas<br />
dificulda<strong>de</strong>s existem por parte dos alunos. Mas, como hoje po<strong>de</strong>mos<br />
dizer que a língua portuguesa é vista como uma forma <strong>de</strong> interação e os<br />
367
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
sujeitos, por meio <strong>de</strong>la, adquire-se conhecimentos e apren<strong>de</strong>-se a<br />
pensar, em condições concretas, levando a língua a ser concebida como<br />
fator social. Desse modo, a Língua não po<strong>de</strong> ser compromisso <strong>de</strong><br />
apenas uma disciplina, mas uma responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> todas ao<br />
<strong>de</strong>senvolver sua competência linguística e <strong>de</strong> se preocupar em relação<br />
às dificulda<strong>de</strong>s que acadêmicos <strong>de</strong> diferentes cursos <strong>de</strong> nível superior<br />
apresentam referente ao uso da língua, análise, interpretação e produção<br />
textual. Essa atitu<strong>de</strong>, certamente, permitirá aos acadêmicos exercer suas<br />
futuras profissões sem dificulda<strong>de</strong>s, mostrando pela leitura a busca <strong>de</strong><br />
uma socieda<strong>de</strong> em que os benefícios profissionais não sejam apenas<br />
privilégio <strong>de</strong> uma minoria.<br />
O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS<br />
SURDOS: OS DESAFIOS DE CADA PROPOSTA<br />
Andréia Gulielmin Didó<br />
O professor, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da disciplina que leciona, é <strong>de</strong>safiado<br />
diariamente na sua prática em sala <strong>de</strong> aula. A elaboração do plano<br />
pedagógico, a escolha metodológica, os interesses do aluno, os<br />
conteúdos que <strong>de</strong>vem ser trabalhados, enfim, os elementos que<br />
contribuem na busca da construção <strong>de</strong> conhecimento na sala <strong>de</strong> aula<br />
são responsáveis pelas constantes inquietações e dúvidas em relação ao<br />
seu resultado. Ser professora <strong>de</strong> Língua Portuguesa para alunos surdos<br />
<strong>de</strong>ixa clara a necessida<strong>de</strong> e a importância do aprimoramento<br />
profissional para promover a aprendizagem dos alunos. Olhar para a<br />
própria trajetória profissional, formação, práticas, perceber falhas,<br />
fazer ajustes é assumir o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> melhorar a cada planejamento e,<br />
assim, contribuir efetivamente para o processo <strong>de</strong> ensino e<br />
aprendizagem dos alunos. Este estudo tem como objetivo refletir sobre<br />
um projeto multidisciplinar realizado nas aulas <strong>de</strong> Língua Portuguesa<br />
para alunos surdos em uma escola <strong>de</strong> ensino fundamental da re<strong>de</strong><br />
particular <strong>de</strong> Porto Alegre. Para tal finalida<strong>de</strong>, serão trazidos dados <strong>de</strong><br />
relatórios diários dos planejamentos, assim como das aulas realizadas,<br />
verificando as repercussões <strong>de</strong>ssas ações nas aprendizagem dos alunos.<br />
A reflexão sobre tais dados toma por base estudos que se voltam ao<br />
percurso da educação <strong>de</strong> surdos e ao ensino e à aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas, mais especificamente Língua Portuguesa e Libras, trazendo<br />
pressupostos <strong>de</strong> Vygotsky quanto ao <strong>de</strong>senvolvimento intelectual e<br />
aprendizagem, assim como, concepções bakhtinianas sobre linguagem.<br />
Entre as constatações <strong>de</strong>ste trabalho, ressalta-se que é imprescindível<br />
368
Resumo dos Trabalhos<br />
buscar aprimoração profissional, se valer das tecnologias para as<br />
práticas em sala <strong>de</strong> aula, trocar experiências com colegas, planejar e<br />
avaliar constantemente.<br />
ENSINO DE LIBRAS COMO L2 NA UFPEL: EXPERIÊNCIA DA<br />
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA<br />
ABORDAGEM COMUNICATIVA<br />
Angela Nediane Dos Santos<br />
Ivana Gomes Da Silva<br />
Palavras- chave: Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais – Material didático –<br />
Ensino <strong>de</strong> L2.<br />
Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o ensino <strong>de</strong><br />
Libras como L2 para ouvintes a partir da experiência <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
materiais didáticos para a disciplina <strong>de</strong> Libras na <strong>UFPel</strong>. Apesar do<br />
tempo <strong>de</strong>corrido após a oficialização da Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais –<br />
Libras e sua inserção obrigatória nos cursos <strong>de</strong> licenciatura (Lei nº<br />
10.436/2002 e Decreto nº 5.626/2005), os materiais didáticos para o<br />
ensino da mesma ainda são escassos. Os próprios estudos linguísticos<br />
sobre a Libras são recentes, bem como as pesquisas sobre o seu ensino,<br />
tanto como L1 quanto como L2. Os dicionários, websites e programas<br />
<strong>de</strong> ensino existentes apresentam apenas o estudo lexicográfico da<br />
Libras, e não a língua em uso no contexto comunicativo, além <strong>de</strong>,<br />
muitas vezes, não contemplarem elementos fonológicos básicos da<br />
Libras, como os movimentos e as expressões faciais. Partindo da<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver o ensino da Libras como L2 para os alunos<br />
dos cursos <strong>de</strong> Licenciatura da <strong>UFPel</strong> e tomando como base uma<br />
abordagem comunicativa, estão sendo <strong>de</strong>senvolvidos materiais<br />
didáticos que serão disponibilizados numa interface digital interativa.<br />
Trata-se <strong>de</strong> uma proposta que concebe a língua como um instrumento<br />
<strong>de</strong> comunicação e interação social, e preten<strong>de</strong> promover vivências do<br />
uso real e significativo da língua, para que o aluno possa interpretar e<br />
produzir unida<strong>de</strong>s discursivas em Libras. Os conceitos <strong>de</strong> língua,<br />
cultura e comunicação estão interligados nessa proposta <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong><br />
Libras como L2. Como se trata <strong>de</strong> uma língua com canais <strong>de</strong> produção<br />
e recepção diferentes dos canais das línguas orais, a Libras é gestualvisual,<br />
o professor precisa utilizar materiais didáticos a<strong>de</strong>quados a esta<br />
diferença e criar estratégias que privilegiem a interação e o uso social<br />
da língua.<br />
369
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DOCUMENTO OFICIAL DE<br />
EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA<br />
Betyna Faccin Preischardt<br />
Désirée Motta Roth (Orientadora)<br />
Palavras-chave: análise crítica <strong>de</strong> gênero; documentos oficiais em<br />
educação linguística; ensino <strong>de</strong> inglês como língua estrangeira.<br />
As tendências contemporâneas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> línguas vêm sendo<br />
discutidas por alguns autores na Linguística Aplicada no Brasil<br />
(MEURER, 2003; MOITA-LOPES, 2006; MACHADO,<br />
CRISTOVÃO, 2006; MOTTA-ROTH, 2008; ROJO, 2008; 2009). O<br />
objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é analisar e discutir <strong>de</strong> que maneira essas<br />
tendências contemporâneas <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> línguas são recontextualizadas<br />
em documentos oficiais <strong>de</strong> educação em contexto nacional –<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998; 2000) e<br />
Orientações Curriculares Nacionais (OCNs) (BRASIL, 2006) –, bem<br />
como, regional – Lições do Rio Gran<strong>de</strong> (LRG) (RIO GRANDE DO<br />
SUL, 2009) – em relação à área <strong>de</strong> Linguagens, códigos e suas<br />
tecnologias, focando no ensino <strong>de</strong> inglês como língua estrangeira. O<br />
aporte teórico-metodológico usado neste trabalho é a Análise Crítica <strong>de</strong><br />
Gêneros (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2005;<br />
2008). Nos PCNs, conceitos centrais relacionados às tendências<br />
contemporâneas, como gênero discursivo, prática social, letramentos e<br />
leitura crítica, estão implicitamente presentes no texto, <strong>de</strong> modo a<br />
salientar a proposta do ensino <strong>de</strong> línguas enquanto uma formação para<br />
a cidadania. Nas OCNs e nas LRG, o uso recorrente <strong>de</strong>sses conceitos<br />
indica explicitamente que as tendências contemporâneas subjazem aos<br />
documentos. A pouca recorrência <strong>de</strong>ssas palavras nos PCNs parece<br />
indicar que ao recontextualizar as tendências contemporâneas, em um<br />
primeiro momento, o foco estaria na aplicabilida<strong>de</strong> pedagógica e na<br />
organização curricular a partir <strong>de</strong>stas. Enquanto nas OCNs e nas LRG,<br />
além do foco da aplicabilida<strong>de</strong> pedagógica, há uma preocupação em<br />
refletir sobre as teorias que embasam a aplicabilida<strong>de</strong> e a organização<br />
curricular.<br />
UTILIZANDO O FACEBOOK COMO FERRAMENTA ALIADA<br />
NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO INGLÊS<br />
Camila Gonçalves Dos Santos<br />
Palavras-chave: Re<strong>de</strong>s Sociais; Ensino e Aprendizagem da Língua<br />
Inglesa; Letramento Digital.<br />
370
Resumo dos Trabalhos<br />
Com o advento das Tecnologias <strong>de</strong> Informação e Comunicação (TICs),<br />
muitas ferramentas <strong>de</strong> interação acabaram se popularizando como é o<br />
caso do Orkut, Twitter e Facebook. Essas ferramentas passaram a fazer<br />
parte do dia a dia das pessoas,possibilitando novos espaços <strong>de</strong><br />
interação e comunicação. Nesse sentido, é relevante refletir sobre o<br />
impacto <strong>de</strong>ssas ferramentas no contexto <strong>de</strong> ensino e aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas, uma vez que essas apresentam conteúdos interessantes que<br />
po<strong>de</strong>m vir a contribuir com o letramento digital (KELNNER, 2001;<br />
SOARES, 2002) <strong>de</strong> alunos e professores. O presente trabalho tem<br />
como objetivo analisar os possíveis benefícios que uma página,<br />
existente no Facebook, e <strong>de</strong>stinada ao ensino e a aprendizagem do<br />
Inglês,po<strong>de</strong> vir a proporcionar aos alunos e professores envolvidos com<br />
a aprendizagem e ensino do Inglês como segunda língua. Para o<br />
estudo, serão analisados postagens e comentários <strong>de</strong> usuários a partir<br />
das conversações (RECUERO, 2012) existentes entre esses. Preten<strong>de</strong>-se<br />
com esta análise apresentar possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino e aprendizagem<br />
do Inglês através <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais, neste caso o Facebook, bem como<br />
refletir sobre a questão do letramento digital a partir <strong>de</strong>ssas re<strong>de</strong>s.<br />
ESTADO DA ARTE DO LETRAMENTO DIGITAL:<br />
METANÁLISE QUALITATIVA DA INVESTIGAÇÃO<br />
BRASILEIRA<br />
Cândida Martins Pinto<br />
Palavras-chave: Professor; Letramento digital; Metanálise.<br />
Este trabalho tem por objetivo verificar, em estudos primários, como<br />
ocorre o letramento digital <strong>de</strong> professores quando da sua formação<br />
inicial e/ou continuada e como ele está<br />
construindo/revendo/modificando sua prática pedagógica. Parte-se do<br />
pressuposto que as mudanças tecnológicas emergentes no mundo estão<br />
apontando para uma nova or<strong>de</strong>m comunicativa (SNYDER, 2001), o que<br />
acarreta em uma transformação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> do professor, já que os<br />
alunos, diferentemente dos professores, estão sendo consi<strong>de</strong>rados<br />
nativos digitais (LEA & JONES, 2011). Optou-se, portanto, por uma<br />
metodologia metanalítica qualitativa que possibilita, a partir <strong>de</strong> estudos<br />
primários, verificar o estado da arte do fenômeno em questão. O corpus<br />
da pesquisa foi composto por quatorze resumos <strong>de</strong> teses e dissertações,<br />
disponíveis no Portal da Capes e publicadas nos anos <strong>de</strong> 2010 e 2011.<br />
Os resultados sugerem que os professores estão em busca <strong>de</strong><br />
371
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
atualização em relação ao letramento digital, pois, ao mesmo tempo que<br />
se sentem motivados para utilizar recursos tecnológicos nas suas<br />
práticas pedagógicas, não sabem ao certo como. Isto indica a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> formação continuada para promover a<br />
inclusão e o efetivo letramento digital dos professores.<br />
A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL NAS SÉRIES<br />
INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA<br />
Carine Maria Angst<br />
Francieli Heineck<br />
Este trabalho tem por objetivo a apresentação das ações <strong>de</strong>senvolvidas e<br />
as contribuições do Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsas <strong>de</strong> Iniciação à<br />
Docência–PIBID do subprojeto <strong>de</strong> Letras. Este subprojeto tem como<br />
objetivo geral a inserção dos alunos do curso <strong>de</strong> Letras Português e<br />
Espanhol da UFFS–Campus <strong>de</strong> Cerro Largo no universo da Escola<br />
Estadual <strong>de</strong> Ensino Fundamental Pe. Traesel, com o intuito <strong>de</strong><br />
promover a inter-relação entre a teoria e a prática pedagógica no<br />
componente curricular <strong>de</strong> Língua Portuguesa com ênfase ao ensino <strong>de</strong><br />
leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos. Sendo assim, propõe-se: I)diagnosticar<br />
a realida<strong>de</strong> escolar em seus aspectos macro e microestrural;II)<br />
i<strong>de</strong>ntificar e analisar as principais dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita<br />
apresentadas pelos estudantes; III) criar uma sala-ambiente para o<br />
ensino <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos; IV) oferecer oficinas <strong>de</strong><br />
leitura e <strong>de</strong> produção textual aos alunos; V) promover a reflexão entre<br />
a teoria e prática; VI) promover a interação entre a comunida<strong>de</strong> escolar<br />
e a universida<strong>de</strong>. Até o momento foram realizadas as etapas <strong>de</strong><br />
diagnóstico da realida<strong>de</strong> escolar e das dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong><br />
escrita dos alunos, bem como a criação da sala ambiente. Em relação à<br />
leitura e à escrita, i<strong>de</strong>ntificamos como principais dificulda<strong>de</strong>s: a)<br />
estabelecimento <strong>de</strong> relações entre linguagem e contexto; b)<br />
estabelecimento <strong>de</strong> relações entre as escolhas lexicais e o gênero<br />
selecionado. Neste momento, estão sendo <strong>de</strong>senvolvidas as oficinas <strong>de</strong><br />
leitura e escrita.<br />
APRENDIZAGEM EM ORGANIZAÇÕES: COMUNIDADES DE<br />
PRÁTICA E LETRAMENTO DIGITAL<br />
Christiane Heemann<br />
Palavras-chave: comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prática; letramento digital; educação<br />
corporativa.<br />
372
Resumo dos Trabalhos<br />
O cenário mundial vem sofrendo inúmeras mudanças <strong>de</strong>correntes do<br />
processo <strong>de</strong> globalização e surgimento sucessivo <strong>de</strong> novas tecnologias<br />
<strong>de</strong> informação e comunicação. Para as organizações, tal mudança<br />
contínua faz com que elas busquem a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investir no seu<br />
capital intelectual. Uma resposta a essas transformações é a <strong>Educação</strong><br />
Corporativa por meio da <strong>Educação</strong> a Distância, on<strong>de</strong> as organizações<br />
encontraram espaço para aten<strong>de</strong>r um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> pessoas. Esta<br />
expansão se justifica pelos custos elevados da educação presencial,<br />
limitações geográficas e <strong>de</strong> tempo. Nas empresas também ocorre<br />
aprendizagem, e o engajamento em ativida<strong>de</strong>s online e as diversas<br />
interações levam a diferentes tipos <strong>de</strong> aprendizagem que requerem a<br />
apropriação das tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação pelos<br />
participantes. Tal aprendizagem está ligada ao letramento digital que<br />
<strong>de</strong>manda uma nova maneira <strong>de</strong> ser no mundo e <strong>de</strong> se relacionar. O<br />
domínio perfeito para se refletir sobre a aliança do conhecimento,<br />
aprendizagem e prática no local <strong>de</strong> trabalho é a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> prática (LAVE e WENGER, 2006). Este trabalho almeja discutir<br />
questões relacionadas à aprendizagem no trabalho e comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
prática, vislumbrando possibilida<strong>de</strong>s futuras <strong>de</strong> ensino e aprendizagem<br />
em contextos diferenciados.<br />
(MULTI) LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO<br />
PROFISSIONAL DE LETRAS<br />
Cibele Da Silva Trinda<strong>de</strong><br />
Este trabalho, iniciado em junho <strong>de</strong> 2012, tem como objetivo analisar os<br />
motivos que levaram alunos <strong>de</strong> licenciatura em Letras optarem por este<br />
curso, bem como expectativas <strong>de</strong>sses sujeitos em relação aos estudos<br />
no curso e à profissão <strong>de</strong> professor. Esses aspectos são <strong>de</strong>cisivos para<br />
que se compreenda a formação inicial dos acadêmicos <strong>de</strong> Letras, os<br />
(multi)letramentos (Rojo, 2009; Rojo; Moura, 2012) que são parte<br />
<strong>de</strong>ssa formação e os modos <strong>de</strong> interação em práticas <strong>de</strong> letramento<br />
acadêmico (Lea e Street 1998, 2006). Os sujeitos que constituem a<br />
pesquisa são alunos <strong>de</strong> um Curso <strong>de</strong> Letras (2012) do primeiro até o<br />
último semestre <strong>de</strong> uma Universida<strong>de</strong> particular na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas<br />
(RS). Para a coleta <strong>de</strong> dados foi aplicado um questionário, contendo<br />
questões discursivas, a fim <strong>de</strong> que pu<strong>de</strong>ssem expressar motivos por<br />
estarem no curso <strong>de</strong> Letras e expectativas para a carreira docente. A<br />
perspectiva sociocultural dos letramentos dá suporte aos trabalhos<br />
<strong>de</strong>senvolvidos nessa pesquisa, a qual <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> que cada sujeito é<br />
373
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
constituído por interagir em diferentes práticas sociais, as quais são<br />
caracterizadas por diferentes relações i<strong>de</strong>ológicas, <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Os resultados iniciais indicam que os alunos têm interesse<br />
por aprofundar conhecimentos sobre a língua portuguesa e estrangeira,<br />
porém, na maioria, não revelam intenção em ser professor. Esses dados<br />
fazem emergir questionamentos sobre as condições que estão sendo<br />
dadas aos alunos para se assumirem professores (Tápias-Oliveira,<br />
2007, 2005) seja no contexto acadêmico ou no escolar (Bunzen, 2010).<br />
CARTA-RESPOSTA COMO GÊNERO CATALISADOR DA<br />
FORMAÇÃO DOCENTE: TECENDO LINHAS ENTRE TEORIA<br />
E PRÁTICA<br />
Clara Dornelles<br />
Mara Luiza Machado Idalencio Abatti<br />
Um dos maiores <strong>de</strong>safios da formação docente nos cursos <strong>de</strong><br />
licenciatura é promover a integração entre teoria e prática. No contexto<br />
<strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> extensão do curso <strong>de</strong> Letras <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong><br />
pública no interior do RS, fizemos a tentativa <strong>de</strong> realizar essa<br />
integração por meio da leitura <strong>de</strong> textos sobre o ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa e da produção <strong>de</strong> cartas-respostas aos autores. O referido<br />
projeto engloba três oficinas voltadas para os (multi)letramentos<br />
(KLEIMAN, 2007; ROJO, 2009; SIGNORINI, 2011) <strong>de</strong> alunos da<br />
graduação e do ensino fundamental, e é <strong>de</strong>senvolvido por três<br />
graduandas, sob nossa orientação. Durante o primeiro semestre <strong>de</strong><br />
2012, foram produzidas nove cartas-respostas, as quais constituem os<br />
dados <strong>de</strong> análise <strong>de</strong>sta pesquisa. Focalizamos as cartas-respostas com o<br />
objetivo <strong>de</strong> investigar se esse gênero favorece a construção <strong>de</strong><br />
questionamentos que articulem teoria e prática na formação docente.<br />
Os resultados indicam que as cartas-respostas funcionam como gênero<br />
catalisador (SIGNORINI, 2006), motivando as alunas a expressarem<br />
dúvidas sobre o trabalho pedagógico que vêm realizando, em<br />
articulação com a discussão sobre conceitos da área <strong>de</strong> referência.<br />
Ainda, observamos que, por meio das cartas, as bolsistas estabelecem<br />
relação <strong>de</strong> proximida<strong>de</strong> com os autores o que, por outro lado, contribui<br />
para o seu próprio posicionamento autoral.<br />
374
Resumo dos Trabalhos<br />
O PAPEL DE ESTRATÉGIAS DE CONHECIMENTO LEXICAL<br />
NO PROCESSO DA LEITURA: A IMPORTÂNCIA DO<br />
CONTEXTO<br />
Claudia Finger-Kratochvil<br />
Longe <strong>de</strong> ser um assunto simples, o léxico é questão multifacetada e<br />
envolve vários aspectos. A diversida<strong>de</strong> do olhar pressupõe um<br />
“conceito rico” <strong>de</strong> léxico que envolve aspectos linguísticos,<br />
psicolinguísticos, sociolinguísticos, pragmáticos. Por essas razões,<br />
verifica-se crescente reconhecimento e interesse a respeito do papel do<br />
conhecimento lexical no processo <strong>de</strong> compreensão em leitura, cenário<br />
no qual essa pesquisa se insere. A literatura revela o acordo entre os<br />
pesquisadores em relação à importância do <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
consciência metalinguística em suas diferentes categorias, entre elas a<br />
metalexical e metassemântica (conjugadas), para o domínio eficiente e<br />
efetivo da linguagem (NAGY, 2007, 2004). Direta e estreitamente<br />
vinculada a esse, evi<strong>de</strong>ncia-se outro posicionamento comum: a<br />
importância do contexto à formação <strong>de</strong> estratégias, ao processo <strong>de</strong><br />
<strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> conhecimento lexical e à compreensão em leitura. Os<br />
resultados apresentados são um recorte <strong>de</strong> uma tese <strong>de</strong> doutorado<br />
(FINGER-KRATOCHVIL, 2010), visando à discussão da estratégia<br />
contextual para o processo <strong>de</strong> construção da competência lexical e a<br />
compreensão em leitura. Na análise dos resultados, comparando os<br />
momentos antes e <strong>de</strong>pois da intervenção, encontram-se indicadores<br />
estatísticos do <strong>de</strong>spontar da consciência da palavra (GRAVES, 2006;<br />
STAHL; NAGY, 2006). Os Think-aloud Protocols - TAPs, por sua vez,<br />
parecem confirmar mudanças na abordagem dos problemas <strong>de</strong><br />
vocabulário pelos participantes, ao longo da leitura. Percebem-se<br />
ganhos no que se têm chamado <strong>de</strong> “consciência da palavra”. Entretanto,<br />
os resultados corroboram para o posicionamento <strong>de</strong> que as habilida<strong>de</strong>s<br />
envolvidas no uso <strong>de</strong>ssas estratégias, visando à leitura, precisam ser<br />
<strong>de</strong>senvolvidas em trabalho <strong>de</strong> longo prazo.<br />
UM LETRAMENTO ESPECIAL: O DOS PORTADORES DE<br />
SÍNDROME DE DOWN<br />
Cláudia Madalena Feistauer<br />
Numa socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> cultura com base grafocêntrica permeada por<br />
códigos, letras, símbolos, signos e números não compreendê-los é viver<br />
em um mundo paralelo. Por isso a Leitura e a Escrita se tornam via <strong>de</strong><br />
375
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
acesso para a inclusão social. Por enten<strong>de</strong>r a leitura e a escrita como<br />
aprendizagens fundamentais para a inserção dos indivíduos nas<br />
socieda<strong>de</strong>s ditas letradas e reconhecer que as socieda<strong>de</strong>s globalizadas<br />
exigem, cada vez mais dos indivíduos, processos complexos <strong>de</strong><br />
letramento. Não obstante, é relevante reconhecer que não somente o<br />
domínio do código da leitura e da escrita, mas também a competência<br />
como leitor e escritor <strong>de</strong> seu próprio texto, <strong>de</strong> sua própria história, <strong>de</strong><br />
sua passagem pelo mundo. Alfabetizar na perspectiva do letramento é<br />
apropriar-se da leitura, escrita e numeralização, fortalecendo sua<br />
condição <strong>de</strong> sujeitos atuantes no contexto social, econômico, ambiental<br />
e cultural. Se o letramento é importante para auxiliar a formação do<br />
cidadão como agente ativo e engajado nas práticas <strong>de</strong> sua comunida<strong>de</strong><br />
das pessoas com <strong>de</strong>senvolvimento cognitivo normal, também<br />
contribuirá para a inclusão <strong>de</strong> portadores <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s educativas<br />
especiais como é o caso dos portadores <strong>de</strong> síndrome <strong>de</strong> down. Sendo<br />
assim, o presente trabalho objetiva analisar, <strong>de</strong> forma ampla, o nível <strong>de</strong><br />
letramento <strong>de</strong> portadores <strong>de</strong> síndrome <strong>de</strong> Down no que se refere à<br />
formação <strong>de</strong> leitores que relacionem o que lêem com o que vêem, com<br />
o que sentem, com o que vivem, enfim, que construam significados<br />
sociais, históricos e políticos na leitura do texto a que se <strong>de</strong>dicam,<br />
tornando-se, <strong>de</strong>ssa forma sujeitos pensantes, <strong>de</strong> modo que aprendam a<br />
utilizar o seu potencial <strong>de</strong> pensamento na construção e reconstrução <strong>de</strong><br />
conceitos, pois assim serão capazes <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r o mundo que os<br />
cerca.<br />
UM BILHETE PARA MIM? ESCRITA DE BILHETES POR<br />
JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN<br />
Claudia Moraes Dal Molin<br />
Thaiany D'avila Rosa<br />
Gilsenira De Alcino Rangel<br />
Palavras-chave: letramento, estrutura textual, Provinha Brasil.<br />
Este trabalho tem por objetivo <strong>de</strong>screver e analisar o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong><br />
jovens com síndrome <strong>de</strong> Down na escrita <strong>de</strong> bilhetes comparando-os<br />
com os resultados obtidos na Provinha Brasil 2011/1 no que se refere à<br />
questão 14. Como aparato teórico, lançamos mão dos estudos <strong>de</strong><br />
Soares (2003) focando-nos na função social da escrita. A pesquisa, <strong>de</strong><br />
cunho qualitativo, teve como instrumentos metodológicos, a escrita<br />
espontânea dos alunos, escritas <strong>de</strong> sala <strong>de</strong> aula e os resultados da<br />
aplicação da Provinha Brasil. Os informantes foram quatro participantes<br />
376
Resumo dos Trabalhos<br />
do projeto <strong>de</strong> extensão Novos Caminhos, da <strong>Faculda<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas, todos do sexo feminino, com ida<strong>de</strong>s<br />
entre 24 e 33 anos. A Provinha Brasil é composta por 20 questões<br />
objetivas, <strong>de</strong>ntre elas: interpretação, incluindo textos curtos e longos,<br />
em que o aluno localiza informações explícitas; a função dos textos,<br />
bem como a i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> estruturas textuais. A questão <strong>de</strong> pesquisa<br />
surgiu a partir da correção da Provinha Brasil em que das quatro<br />
informantes, apenas uma acertou a questão 14 que contempla a<br />
i<strong>de</strong>ntificação do remetente <strong>de</strong> um bilhete. Tais resultados nos fizeram<br />
questionar se a escrita <strong>de</strong> bilhetes não seria comum entre elas. Assim,<br />
recorremos ao banco <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> escrita dos alunos do projeto e<br />
selecionamos 9 bilhetes escritos em sala <strong>de</strong> aula e 6 <strong>de</strong> escrita<br />
espontânea. Como resultados parciais, constatamos que a maioria das<br />
alunas possui conhecimentos sobre bilhete, sua estrutura e função<br />
social, porém a falta <strong>de</strong> êxito na prova po<strong>de</strong> estar relacionada à<br />
formulação da questão que prevê o uso <strong>de</strong> outras habilida<strong>de</strong>s além das<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da estrutura do tipo textual bilhete.<br />
O IMPORTANTE PAPEL DA LEITURA NA PRÁTICA<br />
DOCENTE<br />
Clei<strong>de</strong> Inês Wittke<br />
Alessandra Baldo<br />
Palavras-chave: Interação Verbal, Leitura, Ensino <strong>de</strong> Língua.<br />
A realida<strong>de</strong> social do século XXI é marcada pela prática <strong>de</strong> interação,<br />
seja via ativida<strong>de</strong>s verbais ou não verbais. E a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interagir<br />
com o outro reforça a importância em dominar essas competências<br />
(PCNEM, 1998), as quais viabilizam nossa comunicação,<br />
possibilitando que sejamos sujeitos autores <strong>de</strong> nossa história<br />
(GERALDI, 2006; MARCUSCHI, 2008). Nessa perspectiva, vemos a<br />
competência leitora (KLEIMAN, 2000, 2006), juntamente com a<br />
prática da escrita, como mola-mestra da alfabetização e do letramento:<br />
processo <strong>de</strong> leitura e escrita efetuado ao longo da vida, em ambiente <strong>de</strong><br />
ensino e fora <strong>de</strong>le. Cabe então à escola, <strong>de</strong> modo geral, e às aulas <strong>de</strong><br />
língua, <strong>de</strong> modo particular, criarem oportunida<strong>de</strong>s pelas quais o aluno<br />
possa aperfeiçoar sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interação, na medida em que lê,<br />
analisa e produz os diversos gêneros textuais que circulam socialmente,<br />
tanto impressos como digitalizados. Isso implica uma reorganização na<br />
maneira <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir e trabalhar a lingua(gem) (KOCH, 2006) e também<br />
exige uma reorganização nos currículos (ANTUNES, 2007, 2009).<br />
377
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Concebendo a leitura como um processo <strong>de</strong> interação social, este estudo<br />
objetiva refletir sobre sua prática na escola, levando em conta os<br />
diversos conhecimentos necessários para tornar-se um leitor crítico.<br />
Tamblém refletimos sobre o caráter interdisciplinar da leitura<br />
(KLEIMAN e MORAES, 1999) e sobre diferentes estratégias (SOLÉ,<br />
1995) possíveis <strong>de</strong> serem <strong>de</strong>senvolvidas nas aulas <strong>de</strong> língua.<br />
AUTORES, TÍTULOS E GÊNEROS DA LEITURA NA ESCOLA<br />
Cristina Maria Rosa<br />
No trabalho evi<strong>de</strong>ncio autores, títulos e gêneros acionados pelas<br />
professoras para suas leituras na escola. Interessada em conhecer se há<br />
leitura literária nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental em<br />
escolas públicas no município <strong>de</strong> Pelotas, sul do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, a<br />
investigação, <strong>de</strong> cunho qualitativo, teve como informantes professores.<br />
Os resultados permitem estabelecer relações entre a prática<br />
<strong>de</strong>senvolvida e o referencial teórico que indica que a literatura infantil<br />
<strong>de</strong>ve oferecer conhecimento para os pequenos leitores ao mesmo<br />
tempo em que os encanta com suas tramas e <strong>de</strong>sfechos, cumprindo<br />
assim, seu <strong>de</strong>stino estético, <strong>de</strong> acordo com Paulino (2010). As questões<br />
que orientaram as entrevistas foram: A professora lê para as crianças?<br />
O quê? Com que freqüência? Registra as leituras? On<strong>de</strong> registra? Quais<br />
os eventos <strong>de</strong> leitura que acontecem na escola? Como são organizados e<br />
<strong>de</strong>scritos pela professora? Quais os autores e títulos que admira e/ou<br />
aciona quando lê? Com o passar do tempo, a leitura <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> acontecer<br />
na escola? Por quê? Entre os resultados, percebeu-se que, embora as<br />
professoras afirmem que leem diariamente, a leitura <strong>de</strong> textos literários<br />
é eventual; parte consi<strong>de</strong>rável escolhe aleatoriamente e<br />
indiferenciadamente o que vai ser lido momentos antes <strong>de</strong> entrar na<br />
sala; a maior parte não registra título, autor/ilustrador e nem gênero<br />
lido; há um espectro muito restrito <strong>de</strong> obras/autores acionados pelas<br />
professoras nas escolas; em alguns casos há ina<strong>de</strong>quação texto/leitor e,<br />
as professoras <strong>de</strong>sconhecem o protagonismo como uma atitu<strong>de</strong> docente<br />
quando se trata da formação do leitor inicial.<br />
378
Resumo dos Trabalhos<br />
O USO DO VÍDEO NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS<br />
ESTRANGEIRAS<br />
Daiane Winter<br />
Palavras-chave: língua-estrangeira; ví<strong>de</strong>os; motivação.<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é avaliar o ví<strong>de</strong>o como fator <strong>de</strong> motivação na<br />
aula <strong>de</strong> língua estrangeira. O processo <strong>de</strong> ensino e aprendizagem nas<br />
escolas vem sofrendo mudanças significativas nos últimos anos.<br />
Atualmente, o aluno tem acesso ao conhecimento por diversos outros<br />
meios além do professor, sendo o mais conhecido <strong>de</strong>les a internet. Por<br />
isso, o professor <strong>de</strong>ve inovar suas aulas por meio das mais variadas<br />
ferramentas tecnológicas, entre elas o ví<strong>de</strong>o. A fundamentação teórica<br />
do trabalho está baseada principalmente no mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> motivação<br />
ARCS <strong>de</strong> John Keller e nas formas <strong>de</strong> multiletrametos do The New<br />
London Group. Além <strong>de</strong> trabalhar com um ví<strong>de</strong>o do YouTube como<br />
uma forma <strong>de</strong> input, os alunos terão a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> criarem seus<br />
próprios ví<strong>de</strong>os relacionados ao conteúdo da sala <strong>de</strong> aula. Os dados<br />
serão coletados por meio <strong>de</strong> entrevista focal, tipo semi-estruturada.<br />
Como a motivação é um fator extremamente importante para a<br />
aprendizagem, espera-se que o uso do ví<strong>de</strong>o interfira positivamente na<br />
motivação dos alunos, pois as aulas po<strong>de</strong>m tornar-se mais dinâmicas,<br />
criativas, diversificadas e inovadoras.<br />
A APRENDIZAGEM DA MARCAÇÃO NÃO-MANUAL DA<br />
LIBRAS POR OUVINTES<br />
Diego Teixeira De Souza<br />
Palavras-chave: <strong>aqui</strong>sição da linguagem; fonologia; Língua Brasileira<br />
<strong>de</strong> Sinais.<br />
No processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> uma segunda língua alguns aprendizes<br />
parecem levar mais tempo no domínio <strong>de</strong> conjugações verbais e <strong>de</strong><br />
concordâncias, entre outros aspectos. Na língua <strong>de</strong> sinais tem se<br />
verificado que a execução das marcações não-manuais, que fazem<br />
referência aos movimentos <strong>de</strong> face, olhos, cabeça ou tronco, parecem<br />
ser <strong>de</strong> domínio mais tardio aos ouvintes. As expressões não-manuais<br />
possuem dois papéis <strong>de</strong> diferenciação nas línguas <strong>de</strong> sinais: marcação<br />
<strong>de</strong> construções sintáticas – como marcação <strong>de</strong> sentença interrogativa –<br />
orações relativas, topicalizações, concordância, foco e diferenciação<br />
entre os itens lexicais. As expressões não-manuais que constituem<br />
componentes lexicais marcam referência específica, referência<br />
pronominal, partícula negativa, advérbio e grau ou aspecto. Em alguns<br />
379
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
casos, os parâmetros fonológicos da língua <strong>de</strong> sinais formam sinais que,<br />
quando associadas à expressão facial, formam os pares mínimos, que,<br />
em português, po<strong>de</strong>m ser exemplificados pelas características dos<br />
fonemas /t/ e /d/, que são primordiais na distinção <strong>de</strong> significado <strong>de</strong><br />
‘ga/d/o’ e ‘ga/t/o’. Como <strong>de</strong>stacam Quadros e Karnopp (2004), a Libras<br />
apresenta pares mínimos, nos quais a oposição <strong>de</strong> um parâmetro<br />
provoca mudança <strong>de</strong> significado. Po<strong>de</strong>mos citar como exemplo a<br />
execução da palavra ‘silêncio’. Tal vocábulo <strong>de</strong>ve ser sinalizado com o<br />
<strong>de</strong>do indicador sobre a boca, com expressão facial calma e serena. Mas,<br />
caso ocorra uma execução <strong>de</strong>ste sinal utilizando um movimento mais<br />
rápido e com uma expressão <strong>de</strong> zanga, o seu significado será “Cale a<br />
boca!”. Em meio a este contexto, o ouvinte aprendiz <strong>de</strong>ve adquirir as<br />
expressões não-manuais para que elas sejam expressas com o uso dos<br />
sinais. Cabe ressaltar que Quadros (1997) afirma que, no caso da<br />
<strong>aqui</strong>sição da Libras, o input visual é extremamente importante. Tal<br />
input <strong>de</strong>ve ser explorado qualitativamente e <strong>de</strong>ve ser avaliado o tempo<br />
necessário <strong>de</strong> exposição para que esse processo ocorra a<strong>de</strong>quadamente.<br />
Na língua <strong>de</strong> sinais, a expressão facial é <strong>de</strong> fundamental importância<br />
para o entendimento real do sinal: po<strong>de</strong>ria ser equivalente ao que<br />
correspon<strong>de</strong> à entonação na língua portuguesa. Este trabalho, portanto,<br />
visa discutir perspectivas <strong>de</strong> estudo sobre o modo como aprendizes da<br />
Libras valem-se da marcação não-manual da Língua Brasileira <strong>de</strong><br />
Sinais, consi<strong>de</strong>rando as implicações <strong>de</strong>sse uso na interação por meio<br />
<strong>de</strong>sse idioma.<br />
POR QUE O DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA NÃO É<br />
USADO PELA MAIORIA DOS SURDOS?<br />
Diogo Souza Ma<strong>de</strong>ira<br />
Palavras-chave: surdo, dicionário <strong>de</strong> língua portuguesa, linguística.<br />
Essa questão foi oriunda do cotidiano dos surdos que tenho observado,<br />
no entanto, consi<strong>de</strong>ra-se uma preocupação quanto aos surdos não<br />
consultarem o dicionário <strong>de</strong> Língua Portuguesa quando algum léxico<br />
<strong>de</strong>sconhecido lhes acontece. Qual a razão <strong>de</strong> não usarem o dicionário?<br />
O dicionário lhes parece complicado? O conteúdo do dicionário não é<br />
apropriado para os surdos? Eles não têm hábito <strong>de</strong> consultar o<br />
dicionário? Estas indagações serão explicadas no <strong>de</strong>correr da pesquisa<br />
por meio <strong>de</strong> seguintes tais autores: Mikhail Bakhtin, Umberto Eco,<br />
Roland Barthes, Marco Bagno, Herbert Welker, Pierre Lévy e Mariney<br />
P. Conceição. Também tais questões serão esclarecidas: Como o surdo<br />
380
Resumo dos Trabalhos<br />
sabe usar o dicionário? Quais são as orientações <strong>de</strong> usar o dicionário?<br />
Como lidar com o léxico sendo consultado? Por que o dicionário para o<br />
surdo se torna um instrumento cotidiano (obrigatório)?<br />
REPRESENTAÇÕES DE LETRAMENTO NO CONTEXTO<br />
ESCOLAR: PRIMEIRAS IMPRESSÕES<br />
Eliseu Alves Da Silva<br />
O tema dos letramentos tem estado no centro das pesquisas e discussões<br />
em Linguística Aplicada (KLEIMAN; MATENCIO, 2005; ROJO,<br />
2010; SOARES, 2011), bem como é recorrente o emprego do termo<br />
em documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais<br />
(BRASIL, 2000), as Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL,<br />
2006) e, mais recentemente, nos Referenciais Curriculares Lições do<br />
Rio Gran<strong>de</strong>, lançado pela Secretaria <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> do Estado do Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul em 2009. Em face <strong>de</strong>sse panorama, neste trabalho<br />
buscamos interpretar as representações <strong>de</strong> letramento produzidas por<br />
professores <strong>de</strong> diferentes disciplinas <strong>de</strong> uma escola pública <strong>de</strong> ensino<br />
fundamental <strong>de</strong> Santa Maria, RS, participantes <strong>de</strong> um programa <strong>de</strong><br />
formação continuada. O corpus foi coletado a partir <strong>de</strong> um questionário<br />
estruturado, respondido por 12 professores. A análise das concepções<br />
aponta para três conceitos centrais acerca do tema: como<br />
“<strong>de</strong>codificação” da linguagem escrita, como “leitura <strong>de</strong> mundo” a partir<br />
da realida<strong>de</strong> cotidiana e como “método <strong>de</strong> ensino”. Já a análise <strong>de</strong><br />
como representam a prática <strong>de</strong> letramento em sala <strong>de</strong> aula sugere um<br />
empenho dos professores em realizar ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura,<br />
interpretação e produção textual.<br />
ENTROU NUMA PERNA DE PATO E SAIU NUMA DE PINTO,<br />
QUEM QUISER QUE CONTE CINCO: A CONSTRUÇÃO DO<br />
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS<br />
Elzilane da Paixão Nascimento<br />
Palavras-chave: Literatura Infantil, Alfabetização, <strong>Educação</strong> Popular,<br />
Contação <strong>de</strong> Histórias e Criança.<br />
A Literatura Infantil sempre fez parte do meu mundo. Des<strong>de</strong> muito<br />
cedo, aprendi Tatravés das histórias <strong>de</strong> minha avó Laura que as<br />
palavras tinham som, cheiro, gosto e melodia. Era sempre o mesmo<br />
ritual, casa <strong>de</strong> muita pobreza, mas cheia <strong>de</strong> carinho <strong>de</strong> avó. Cheia <strong>de</strong><br />
histórias para contar. Os netos se reuniam embaixo da amendoeira<br />
381
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
frondosa ou simplesmente sentava-se no chão <strong>de</strong> vermelhão, on<strong>de</strong><br />
estávamos era o que menos importava; o que consi<strong>de</strong>rávamos era para<br />
on<strong>de</strong> nos transportávamos todas as vezes que vovó falava “Era uma<br />
vez”... As histórias orais eram fruto <strong>de</strong> sua cultura capixaba, vovó viera<br />
para o Rio <strong>de</strong> Janeiro e trouxe em sua bagagem as histórias contadas<br />
por sua avó reza<strong>de</strong>ira, as ladainhas, as mesmas manias. Vovó não<br />
dominava os códigos linguísticos, porém quando contava suas histórias<br />
oralmente, não supúnhamos que ela era analfabeta, pois se revestia <strong>de</strong><br />
tamanho encantamento, <strong>de</strong> tantos sentimentos contidos nas entrelinhas<br />
da história que muitas vezes era só travessura, outras, só emoção,<br />
outras, só melodia ou acabava por misturar tudo como se fosse um<br />
gran<strong>de</strong> cal<strong>de</strong>irão em ebulição. Este trabalho nasce da busca por<br />
evi<strong>de</strong>nciar o papel da Literatura Infantil como processo alfabetizador e<br />
elemento facilitador através <strong>de</strong> contação <strong>de</strong> histórias, orais ou lidas,<br />
<strong>de</strong>ntro do contexto da educação popular redimensionando a sua<br />
importância na formação da autonomia do sujeito-leitor. Po<strong>de</strong>mos<br />
pensar que a escola não é somente um espaço que reflete a socieda<strong>de</strong><br />
exclu<strong>de</strong>nte e (<strong>de</strong>s) igual na qual vivemos, mas que ela também<br />
constitui em si mesma um organismo vivo, único, diversificado na sua<br />
própria construção, criando assim novas leituras <strong>de</strong> mundo e novas<br />
representações sociais. Dentro <strong>de</strong>sta lógica interna estará acomodações,<br />
preconceitos e resistências que fazem <strong>de</strong>sse espaço, terreno pantanoso,<br />
movediço, on<strong>de</strong> os sujeitos muitas vezes se movem “à contra pelo”.<br />
“Entrou numa perna <strong>de</strong> pato e saiu numa <strong>de</strong> pinto, quem quiser que<br />
conte cinco”. Era assim que vovó sempre terminava suas histórias,<br />
histórias essas que eram reinventadas todos os dias. Faleceu aos 77<br />
anos e como legado, <strong>de</strong>ixou uma gran<strong>de</strong> lição que é preciso se fazer<br />
apaixonar e se <strong>de</strong>ixar apaixonar. A sala <strong>de</strong> aula com certeza é um dos<br />
espaços i<strong>de</strong>ais para que a paixão aconteça: paixão pelo mundo das<br />
letras, paixão pelo mundo da escrita, paixão pela literatura, paixão pela<br />
arte <strong>de</strong> ensinar. Teóricos como: Paulo Freire, Emília Ferreiro, Ângela<br />
Kleiman e Magda Soares farão parte da dialética <strong>de</strong>ste trabalho.<br />
HOME PAGE: UMA EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO DIGITAL<br />
ERICK KADER CALLEGARO CORRÊA<br />
CARLA CALLEGARO CORRÊA KADER<br />
Este trabalho utiliza a internet como espaço <strong>de</strong> aprendizagem<br />
significativa, <strong>de</strong>senvolvendo ações <strong>de</strong> ensino-aprendizagem <strong>de</strong> língua<br />
estrangeira embasada no conceito <strong>de</strong> letramento digital, focando três<br />
eixos complementares <strong>de</strong> aprendizagem: pesquisar na internet, publicar<br />
382
Resumo dos Trabalhos<br />
e comunicar-se digitalmente. Para tanto, aplicou-se os conceitos <strong>de</strong><br />
letramento a partir <strong>de</strong> Soares (1998), incorporado à tecnologia digital,<br />
buscando a apropriação do para quê utilizar a tecnologia ao ensinoaprendizagem<br />
<strong>de</strong> línguas. Essa experiência <strong>de</strong> letramento digital foi<br />
aplicada a um grupo <strong>de</strong> alunos do ensino médio integrado ao Técnico<br />
em Informática <strong>de</strong> uma escola técnica do interior do estado do Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul. Os alunos fizeram suas home pages no laboratório <strong>de</strong><br />
informática da escola, agregando seus conhecimentos sobre a utilização<br />
do espaço digital com os <strong>de</strong> língua inglesa. A partir daí criaram suas<br />
home pages, apresentando informações pessoais em inglês. Após o<br />
<strong>de</strong>sign e conteúdo das páginas finalizados, os alunos personalizaram um<br />
sumário com links para as home pages da turma, registrando tal<br />
ativida<strong>de</strong> em um CD-ROM. Os resultados <strong>de</strong>monstraram que os<br />
conteúdos, ferramentas, proposta e ambiente virtual tornam possíveis<br />
que os participantes exercitem características fundamentais no processo<br />
educativo: a curiosida<strong>de</strong> da pesquisa; a autoria da publicação e a troca<br />
da comunicação na divulgação das páginas.<br />
Palavras-chave: Home page; Ensino-aprendizagem <strong>de</strong> língua inglesa;<br />
Letramento digital<br />
AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM POR SURDOCEGO PRÉ-<br />
SIMBÓLICO: COMO OCORRE ESSE PROCESSO?<br />
Fernanda Cristina Falkoski<br />
O trabalho a ser apresentado resulta <strong>de</strong> contato com um aluno<br />
surdocego pré- simbólico, em uma escola da re<strong>de</strong> regular <strong>de</strong> ensino da<br />
região do Vale do Rio dos Sinos. Compreen<strong>de</strong>-se que a linguagem é<br />
um dos requisitos fundamentais para estabelecer a comunicação entre<br />
as pessoas, que ela é própria dos seres humanos e po<strong>de</strong> ser manifestada<br />
<strong>de</strong> diversas formas. Segundo estudos teóricos das áreas da Linguística<br />
e da Psicologia, existe uma importante relação entre pensamento e<br />
linguagem. Partindo <strong>de</strong>sses pressupostos, ao se <strong>de</strong>pararem com um<br />
aluno surdocego pré-simbólico incluído em uma classe regular <strong>de</strong><br />
ensino, alguns profissionais questionam-se sobre como seria a<br />
<strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> linguagem <strong>de</strong>sse sujeito, que tem contato com o mundo<br />
pelo tato. Então, foi estabelecido como objetivo principal do trabalho<br />
compreen<strong>de</strong>r como ocorre o processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> linguagem <strong>de</strong>sse<br />
sujeito, promover a sua comunicação com outras pessoas e<br />
proporcionar meios para expressar sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estabelecer<br />
relações e <strong>de</strong> produzir significados. Como metodologia <strong>de</strong> trabalho,<br />
foram estabelecidas algumas metas importantes, como a organização<br />
383
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>de</strong> uma rotina, o uso <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> referência, a introdução <strong>de</strong> uma<br />
língua, neste caso a Libras tátil, bem como a adaptação das ativida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>senvolvidas em sala <strong>de</strong> aula, sempre com o uso <strong>de</strong> materiais<br />
concretos. Alguns resultados já foram obtidos ao longo <strong>de</strong>sse processo,<br />
como a compreensão <strong>de</strong>ssa rotina pelo aluno, a significação <strong>de</strong> alguns<br />
objetos <strong>de</strong> referência. Como tais metas ainda estão sendo trabalhadas,<br />
esta comunicação, portanto, <strong>de</strong>dica-se a apresentar os resultados<br />
obtidos até então e partilhar impressões e inquietações diante <strong>de</strong> uma<br />
realida<strong>de</strong> que não faz parte da gran<strong>de</strong> maioria dos contextos escolares,<br />
mas merece atenção, se for consi<strong>de</strong>rada a meta <strong>de</strong> uma educação para<br />
todos.<br />
PROPOSTA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS COM BASE NAS<br />
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DE ENSINO E<br />
APRENDIZAGEM DE ILE<br />
Fernanda Lopes Silva Ziegler<br />
Désirée Motta Roth (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Letramento científico; Inglês como língua estrangeira;<br />
Ativida<strong>de</strong>s didáticas.<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é <strong>de</strong>bater uma proposta didática <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong><br />
uma notícia <strong>de</strong> PC, intitulada Gene ‘controls body fat levels’ do sítio da<br />
BBC News Online, para o ensino <strong>de</strong> Inglês como Língua Estrangeira<br />
(ILE). A discussão se dará com base em princípios teóricos<br />
i<strong>de</strong>ntificados como centrais nos documentos oficiais <strong>de</strong> educação<br />
linguística tanto no Brasil quanto no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, como<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 2000) e Lições do<br />
Rio Gran<strong>de</strong> (RIO GRANDE DO SUL, 2009). A análise leva em<br />
consi<strong>de</strong>ração características do gênero notícia <strong>de</strong> PC levantadas por<br />
pesquisas <strong>de</strong>senvolvidas no Laboratório <strong>de</strong> Pesquisa e Ensino <strong>de</strong><br />
Redação da UFSM (MOTTA-ROTH; LOVATO, 2009; LOVATO,<br />
2010; NASCIMENTO, 2010; SCHERER, 2010; SILVA, 2010;<br />
MARCUZZO, 2011), as quais este trabalho se soma, relativas à<br />
intertextualida<strong>de</strong> e modalização. A articulação <strong>de</strong>sses princípios nas<br />
ativida<strong>de</strong>s está relacionada à função da língua estrangeira em servir<br />
como meio <strong>de</strong> se ter acesso às diferentes formas <strong>de</strong> pensar, <strong>de</strong> criar, <strong>de</strong><br />
sentir, <strong>de</strong> agir e <strong>de</strong> conceber a realida<strong>de</strong> (BRASIL, 2000, p. 26), nesse<br />
caso, à popularização da ciência. Uma análise prévia dos documentos<br />
aponta para o uso <strong>de</strong> gêneros discursivos no ensino <strong>de</strong> ILE. Isso se<br />
relaciona às ativida<strong>de</strong>s na medida em que o gênero notícia <strong>de</strong> PC<br />
amplia a concepção <strong>de</strong> linguagem para além das regras morfossintáticas<br />
384
Resumo dos Trabalhos<br />
(MOTTA-ROTH, 2006, p. 500) e, ao explorar os discursos, textos e<br />
práticas <strong>de</strong> PC, encoraja os alunos a dar um primeiro passo em direção<br />
ao letramento científico (MOTTA-ROTH; LOVATO, 2009, p. 235).<br />
UM OLHAR SOBRE A INTERAçãO ESCRITA ENTRE<br />
PROFESSORA E ALUNOS NA AULA DE PORTUGUÊS<br />
Fernanda Taís Brignol Guimarâes<br />
Este trabalho trata da interação escrita estabelecida entre professora e<br />
alunos, mediada pelo bilhete orientador do professor em um contexto <strong>de</strong><br />
ensino/aprendizagem <strong>de</strong> língua materna. A partir do estudo dos gêneros<br />
discursivos, tendo como gênero centralizador do processo, o artigo <strong>de</strong><br />
opinião, lançou-se um olhar investigativo sobre o processo <strong>de</strong> escrita e<br />
reescrita dos textos dos alunos e as possíveis mudanças provocadas na<br />
reconstrução do texto, a partir da avaliação feita através do bilhete<br />
orientador do professor. Para tanto, buscamos nos apoiar em estudos<br />
realizados sob a ótica da Linguística Aplicada (LA), lançando mão,<br />
mais precisamente, da pesquisa qualitativa interpretativista. Através <strong>de</strong><br />
uma metodologia embasada na pesquisa-ação, em que a participação do<br />
pesquisador se dá <strong>de</strong> forma ativa e está diretamente relacionada ao<br />
andamento do processo, construímos nosso objeto <strong>de</strong> estudo juntamente<br />
com os <strong>de</strong>mais sujeitos envolvidos na pesquisa. Os dados gerados no<br />
contexto escolar serviram <strong>de</strong> base para análise e discussão, focalizando<br />
a reflexão sobre o processo <strong>de</strong> interação escrita entre professora e<br />
alunos em uma sala <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
“O PODER INTEGRADOR DOS PROJETOS VIVENCIAIS E<br />
SEUS EFEITOS NO LETRAMENTO ESCOLAR”<br />
Franceli Rodrigues De Souza<br />
Palavras-chave: Letramentos Escolares. Projeto Vivencial <strong>de</strong><br />
Letramento. Pedagogia dos Multiletramentos.<br />
O presente trabalho é parte <strong>de</strong> um estudo maior e tem como objeto <strong>de</strong><br />
estudo compreen<strong>de</strong>r experiências <strong>de</strong> letramento, em âmbito escolar,<br />
capazes <strong>de</strong> conduzir o indivíduo a uma perspectiva crítica e reflexiva<br />
sobre o que ele apren<strong>de</strong> em sala <strong>de</strong> aula. Preten<strong>de</strong>-se analisar as<br />
transformações nos discursos orais e escritos, <strong>de</strong> crianças <strong>de</strong> um 3º ano<br />
do Ensino Fundamental, com a realização <strong>de</strong> um Projeto Vivencial <strong>de</strong><br />
Letramento, a partir <strong>de</strong> uma prática situada, que valorizará a imersão<br />
dos alunos em uma prática significativa <strong>de</strong> letramento. A<br />
385
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
fundamentação teórica da pesquisa centra-se nos Princípios da<br />
Pedagogia dos Multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP,<br />
2000), bem como serão privilegiados estudos sobre letramento e suas<br />
inter-relações sociais. Quanto à metodologia, essa pesquisa adota o<br />
método qualitativo e caracteriza-se como uma pesquisa ação <strong>de</strong><br />
intervenção. Para a coleta <strong>de</strong> dados, foram utilizados dois instrumentos<br />
<strong>de</strong> pesquisa: relatórios escritos e entrevistas orais. A análise dos dados<br />
é feita <strong>de</strong> maneira interpretativa, <strong>de</strong> acordo com a abordagem<br />
metodológica assumida, e visa analisar as transformações nos discursos<br />
orais e escritos, <strong>de</strong>stes alunos, a partir <strong>de</strong> um Projeto Vivencial <strong>de</strong><br />
Letramento. Os dados nos permitem refletir e questionar por que<br />
propor a Pedagogia dos Multiletramentos, em séries iniciais do Ensino<br />
Fundamental.<br />
A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL NAS SÉRIES<br />
INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA<br />
Francieli Heineck<br />
Carine Maria Angst<br />
Este trabalho tem por objetivo a apresentação das ações <strong>de</strong>senvolvidas e<br />
as contribuições do Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsas <strong>de</strong> Iniciação à<br />
Docência–PIBID do subprojeto <strong>de</strong> Letras. Este subprojeto tem como<br />
objetivo geral a inserção dos alunos do curso <strong>de</strong> Letras Português e<br />
Espanhol da UFFS–Campus <strong>de</strong> Cerro Largo no universo da Escola<br />
Estadual <strong>de</strong> Ensino Fundamental Pe. Traesel, com o intuito <strong>de</strong><br />
promover a inter-relação entre a teoria e a prática pedagógica no<br />
componente curricular <strong>de</strong> Língua Portuguesa com ênfase ao ensino <strong>de</strong><br />
leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos. Sendo assim, propõe-se: I) diagnosticar<br />
a realida<strong>de</strong> escolar em seus aspectos macro e microestrural; II)<br />
i<strong>de</strong>ntificar e analisar as principais dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita<br />
apresentadas pelos estudantes; III) criar uma sala-ambiente para o<br />
ensino <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos; IV) oferecer oficinas <strong>de</strong><br />
leitura e <strong>de</strong> produção textual aos alunos; V) promover a reflexão entre<br />
a teoria e prática; VI) promover a interação entre a comunida<strong>de</strong> escolar<br />
e a universida<strong>de</strong>. Até o momento foram realizadas as etapas <strong>de</strong><br />
diagnóstico da realida<strong>de</strong> escolar e das dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong><br />
escrita dos alunos, bem como a criação da sala ambiente. Em relação à<br />
leitura e à escrita, i<strong>de</strong>ntificamos como principais dificulda<strong>de</strong>s: a)<br />
estabelecimento <strong>de</strong> relações entre linguagem e contexto; b)<br />
estabelecimento <strong>de</strong> relações entre as escolhas lexicais e o gênero<br />
386
Resumo dos Trabalhos<br />
selecionado. Neste momento, estão sendo <strong>de</strong>senvolvidas as oficinas <strong>de</strong><br />
leitura e escrita.<br />
A REESCRITA DE BILHETES ORIENTADORES NA<br />
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA: RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA<br />
Francieli Matzenbacher Pinton<br />
Palavras-Chave: reescrita; bilhete orientador; formação professores<br />
O bilhete orientador é consi<strong>de</strong>rado um gênero que possibilita o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> ações e atitu<strong>de</strong>s produtivas ao processo <strong>de</strong><br />
formação do professor e do aluno (SIGNORINI, 2006) Entendido<br />
como uma correção textual-interativa (RUIZ, 2010), o bilhete<br />
orientador permite ao professor não apenas resolver, apontar ou indicar<br />
os problemas, mas interagir <strong>de</strong> forma afetiva durante o processo <strong>de</strong><br />
produção textual. Em razão disso, este trabalho objetiva refletir<br />
criticamente sobre a reescrita <strong>de</strong> bilhetes orientadores produzidos por<br />
licenciandos em Letras em um contexto específico <strong>de</strong> revisão <strong>de</strong> textos<br />
escritos por alunos do ensino fundamental II. Os aspectos enfocados<br />
pelos licenciados durante a revisão textual foram no plano da macro e<br />
da microestrutura textual. Foram analisados 10 bilhetes produzidos e<br />
reescritos por acadêmicos da quinta fase, mediados pelos bilhetes<br />
produzidos pelo professor formador. Os resultados revelam que a<br />
primeira versão do bilhete orientador enfocou os microestruturais do<br />
texto, apontando-os <strong>de</strong> forma resolutiva e/ou indicativa. Já a segunda<br />
versão focalizou ambos os aspectos, apresentando uma revisão mais<br />
interativa diante das dificulda<strong>de</strong>s apresentadas pelos produtores.<br />
IMPLICAÇÕES DO LETRAMENTO DIGITAL PARA A<br />
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA<br />
ESTRANGEIRA<br />
Gabriela Quatrin Marzari<br />
Palavras-chave: Letramento digital; Formação <strong>de</strong> professores; Inglês<br />
como Língua Estrangeira.<br />
Ao associarmos o ensino <strong>de</strong> línguas estrangeiras às potencialida<strong>de</strong>s<br />
educativas oferecidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação<br />
(TICs), automaticamente vislumbramos um cenário bastante propício<br />
tanto para professores quanto para aprendizes. Contudo, o sucesso<br />
387
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>de</strong>ssa relação aparentemente harmoniosa resi<strong>de</strong> nas habilida<strong>de</strong>s,<br />
sobretudo <strong>de</strong> professores, quanto ao uso das TICs para fins<br />
pedagógicos, consi<strong>de</strong>rando-se, <strong>de</strong> um lado, os inúmeros recursos<br />
existentes e, <strong>de</strong> outro, as reais necessida<strong>de</strong>s dos aprendizes. Nesse<br />
sentido, práticas <strong>de</strong> letramento digital precisam ser (re)pensadas e<br />
estimuladas em cursos <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> línguas<br />
estrangeiras, a fim <strong>de</strong> que os futuros profissionais se sintam<br />
suficientemente preparados para fazer uso das TICs ao ensinar a língua<br />
alvo e, principalmente, <strong>de</strong>senvolver nos seus aprendizes as<br />
competências necessárias à aprendizagem a partir do uso <strong>de</strong>sses<br />
recursos. Neste estudo, serão apresentadas as concepções <strong>de</strong> futuros<br />
professores <strong>de</strong> Inglês como Língua Estrangeira sobre letramento<br />
digital, a fim <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificarmos possíveis relações entre sua formação<br />
teórica e prática. Além disso, a partir do discurso dos sujeitos<br />
pesquisados, serão enumeradas as práticas <strong>de</strong> letramento digital<br />
<strong>de</strong>senvolvidas pelos futuros professores, com vistas à aprendizagem da<br />
língua alvo, em seu contexto <strong>de</strong> formação. Ao analisarmos os discursos<br />
dos futuros professores, traçaremos um paralelo entre o perfil real e o<br />
perfil i<strong>de</strong>al do professor <strong>de</strong> Inglês como Língua Estrangeira, tendo em<br />
vista, <strong>de</strong> um lado, o processo <strong>de</strong> formação <strong>de</strong>sses sujeitos nas<br />
instâncias <strong>de</strong> ensino superior e, <strong>de</strong> outro, as atuais <strong>de</strong>mandas<br />
socioeconômicas, que requerem um profissional preparado para lidar<br />
com as inovações tecnológicas.<br />
A TRAGÉDIA GREGA E A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO EM<br />
SALA DE AULA<br />
Gabriela Rocha Rodrigues<br />
Palavras-chave: Tragédia Grega; Estética da Recepção; Valores.<br />
Este artigo objetiva refletir sobre a importância do estudo <strong>de</strong> textos<br />
clássicos, particularmente a tragédia grega, em sala <strong>de</strong> aula. O trabalho<br />
parte dos pressupostos teóricos <strong>de</strong>fendidos por Hans Robert Jauss,<br />
precursor da Estética da Recepção. Este estudioso concebe a relação<br />
entre leitor e literatura baseando-se no caráter estético e histórico da<br />
mesma. Nesse sentido, o valor estético da obra po<strong>de</strong> ser comprovado<br />
por meio da comparação com outras leituras; o valor histórico, através<br />
da compreensão da recepção <strong>de</strong> uma obra a partir <strong>de</strong> seu surgimento,<br />
assim como pela recepção do público ao longo do tempo. Jauss afirma<br />
que o saber prévio <strong>de</strong> um público – o seu horizonte <strong>de</strong> expectativas –<br />
<strong>de</strong>termina a recepção <strong>de</strong> uma obra ao longo do tempo: a nova obra<br />
388
Resumo dos Trabalhos<br />
dialoga com a experiência do leitor e suscita novas expectativas.<br />
Assim, a recepção po<strong>de</strong> ser vista como um fato social e histórico, pois<br />
as reações individuais são parte <strong>de</strong> uma leitura ampla do grupo ao qual<br />
o homem, em sua historicida<strong>de</strong>, está inserido e que torna sua leitura<br />
semelhante à <strong>de</strong> outros homens que vivem a mesma época. O conceito<br />
<strong>de</strong> horizonte <strong>de</strong> expectativas é um dos postulados básicos da teoria <strong>de</strong><br />
Jauss e engloba o limite do que é visível e está sujeito a alterações e<br />
mudanças, conforme a perspectiva do leitor. O horizonte <strong>de</strong><br />
expectativas é responsável pela primeira reação do leitor à obra, pois se<br />
encontra na consciência individual como um saber construído<br />
socialmente e <strong>de</strong> acordo com o código <strong>de</strong> uma época. O texto po<strong>de</strong><br />
satisfazer o horizonte <strong>de</strong> expectativas do leitor ou provocar o<br />
estranhamento e o rompimento <strong>de</strong>sse horizonte, em maior ou menor<br />
grau, levando- o a uma nova percepção da realida<strong>de</strong>. Jauss propõe<br />
examinar as relações atuais do texto com a época <strong>de</strong> seu surgimento,<br />
averiguando qual era o horizonte <strong>de</strong> expectativas do leitor frente às<br />
necessida<strong>de</strong>s do público que leu a obra e as necessida<strong>de</strong>s do público<br />
atual. A possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> múltiplas interpretações entre a recepção do<br />
passado e a atualização no presente, com diferentes respostas<br />
oferecidas a novas perguntas, em épocas distintas, é a marca da<br />
historicida<strong>de</strong> da obra. A relação entre literatura e vida, tese <strong>de</strong>fendida<br />
por Jauss, pressupõe uma função social para a criação literária. O<br />
caráter emancipador da criação artística abre novos caminhos para o<br />
leitor no âmbito da experiência estética. O fato <strong>de</strong> o leitor ser capaz,<br />
por meio da literatura, <strong>de</strong> visualizar aspectos <strong>de</strong> sua prática cotidiana<br />
<strong>de</strong> modo diferenciado é justamente o que provoca a experiência<br />
estética, pois, na medida em que a literatura propicia rupturas e a<br />
veiculação <strong>de</strong> conceitos e normas, <strong>de</strong>lineia-se seu aspecto social e<br />
formador. A contribuição da literatura na vida social se dá justamente<br />
quando, por meio da representação, ela promove a queda <strong>de</strong> tabus da<br />
moral dominante e oferece ao leitor possíveis soluções para os<br />
problemas da vida. A criação literária atua sobre um público<br />
oferecendo padrões <strong>de</strong> comportamento e, ao mesmo tempo, dá a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> que este supere tais padrões, criando outros.<br />
Retomando o argumento utilizado por Jauss, a literatura <strong>de</strong>ve ser vista,<br />
além <strong>de</strong> diacrônica e sincronicamente, em sua relação com a formação<br />
<strong>de</strong> entendimento <strong>de</strong> mundo que o leitor possui; nesse sentido, a<br />
literatura é consequência da experiência dinâmica do leitor. Ancorado<br />
em tais pressupostos, este artigo preten<strong>de</strong> analisar a importância do<br />
estudo da tragédia grega em sala <strong>de</strong> aula, pois essa forma dramática<br />
protagonizou, em seu tempo, o esforço <strong>de</strong> uma civilização para educar<br />
389
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
os cidadãos da polis sobre questões profundamente humanas e<br />
universais: <strong>de</strong>sejo, po<strong>de</strong>r, resistência, audácia, amor, <strong>de</strong>stino, entre<br />
outras. O caráter universal da tragédia clássica, por tratar <strong>de</strong> questões<br />
inerentes ao ser humano, permanece no tempo como um meio <strong>de</strong><br />
instigar o homem a refletir a respeito <strong>de</strong> si mesmo e das relações que<br />
estabelece com seus semelhantes, a natureza e a socieda<strong>de</strong>. Nesse<br />
sentido, pergunta-se: qual a importância <strong>de</strong> se estudar especificamente<br />
a tragédia grega em sala <strong>de</strong> aula? Em primeiro lugar, o estudo <strong>de</strong>sse<br />
gênero clássico possibilitaria uma incursão no modo <strong>de</strong> viver grego:<br />
a<strong>de</strong>ntrar a origem do teatro na Grécia, ou seja, a mitologia e os ritos<br />
religiosos e sua influência no teatro grego. Possibilitaria ao aluno<br />
conhecer o surgimento da tragédia e da comédia como gêneros<br />
dramáticos e sua influência nos gêneros mo<strong>de</strong>rnos (novelas, cinema,<br />
dança etc.), além <strong>de</strong> possibilitar que o aluno faça um paralelo entre as<br />
questões referentes ao humano tratadas nas tragédias e os problemas<br />
éticos e sociais da realida<strong>de</strong> contemporânea vivenciada por ele. Por<br />
fim, o estudo do texto clássico po<strong>de</strong> auxiliar o aluno a refletir acerca <strong>de</strong><br />
inúmeros temas, constituir-se como sujeito autônomo e assim<br />
posicionar-se frente às <strong>de</strong>terminações éticas, morais e sociais inerentes<br />
a existência humana, tornando-se, <strong>de</strong> fato, consciente <strong>de</strong> seu papel<br />
enquanto sujeito histórico. O estudo do texto clássico <strong>de</strong>smistifica as<br />
dimensões do falso saber (quanto ao conceito <strong>de</strong> tragédia, por<br />
exemplo) e permite ao educador trabalhar a obra literária<br />
contextualizando os valores sociais à época <strong>de</strong> seu surgimento<br />
confrontados com os valores atuais e o modo como a obra é lida pelos<br />
alunos. Tal procedimento metodológico favorece o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
i<strong>de</strong>ntitário do aluno, visto que este se emancipa por meio <strong>de</strong> uma nova<br />
percepção da realida<strong>de</strong>, por meio, enfim, da criação <strong>de</strong> novos<br />
horizontes <strong>de</strong> expectativa.<br />
O LETRAMENTO DIGITAL DO DOCENTE DE LÍNGUA<br />
MATERNA:REPRESENTAÇÕES NAS ATIVIDADES DE<br />
LINGUAGEM NUMA ESCOLA CONTEMPLADA COM O<br />
PROUCA<br />
Gisele Dos Santos Rodrigues<br />
A presente pesquisa está inserida no projeto do Programa Observatório<br />
da <strong>Educação</strong>/Capes, “Por uma formação continuada cooperativa para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento do processo educativo <strong>de</strong> leitura e produção textual<br />
escrita no Ensino Fundamental”, que visa à cooperação dos professores<br />
390
Resumo dos Trabalhos<br />
na construção do próprio conhecimento e na reflexão sobre suas<br />
práticas <strong>de</strong> ensino. Dessa forma, o estudo propõe a apresentação <strong>de</strong><br />
algumas concepções teóricas sobre o Letramento Digital, investigando<br />
suas representações nas ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> linguagem <strong>de</strong> uma docente <strong>de</strong><br />
língua materna, a partir <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> formação continuada na<br />
modalida<strong>de</strong> semipresencial e do posicionamento da docente em sala <strong>de</strong><br />
aula, com suas relações com o uso das TICs numa escola contemplada<br />
pelo o ProUCA (Programa Um Computador por Aluno). Sob o ponto <strong>de</strong><br />
vista do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e <strong>de</strong> teorias que enfocam<br />
o Letramento Tradicional e o Letramento Digital, o estudo tem respaldo<br />
na pesquisa qualitativa, <strong>de</strong> natureza etnográfica e colaborativa, a partir<br />
da observação participante, entrevistas semi-estruturadas e análise<br />
documental. Assim, na fase em que a pesquisa se encontra, é possível<br />
constatar que as representações <strong>de</strong> Letramento Digital da docente <strong>de</strong><br />
língua materna se diferenciam no contexto da sala <strong>de</strong> aula e no curso<br />
<strong>de</strong> formação continuada, a partir da forma que a docente agrega o uso<br />
computador para propor ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> linguagem <strong>de</strong>ntro da escola.<br />
ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DO ARTIGO AUDIOVISUAL<br />
Graciela Rabuske Hendges<br />
O presente trabalho apresenta uma análise da organização retórica do<br />
gênero artigo audiovisual, sob a perspectiva da Análise Crítica <strong>de</strong><br />
Gênero (MOTTA-ROTH, 2005; 2006; 2008). Os artigos audiovisuais<br />
são publicados pelo periódico científico JoVE (Journal of Visualized<br />
Experiments), criado em 2006, e <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então têm passado por um<br />
processo <strong>de</strong> crescente padronização. Um dos principais elementos<br />
inovadores do artigo audiovisual em relação aos <strong>de</strong>mais tipos <strong>de</strong> artigos<br />
acadêmicos (experimental, <strong>de</strong> revisão crítica) é o uso da linguagem<br />
verbal oral e da linguagem imagética em ví<strong>de</strong>o para a <strong>de</strong>scrição<br />
<strong>de</strong>talhada <strong>de</strong> técnicas e protocolos <strong>de</strong> pesquisa. Tal inovação está<br />
diretamente ligada ao potencial da mídia digital para a materialização<br />
do gênero, o qual vem progressivamente influenciando outros gêneros<br />
do contexto acadêmico. Foram analisados 24 exemplares em termos<br />
textuais e contextuais. As gramáticas Sistêmico-Funcional<br />
(HALLIDAY, 1994; 2004) e do Design Visual (KRESS; van<br />
LEEUWEN, 1996; 2006) foram empregadas na i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong><br />
padrões léxico-gramaticais verbais e visuais, os quais foram cruzados e<br />
combinados, revelando os significados i<strong>de</strong>acionais, interpessoais e<br />
textuais mais recorrentes no gênero e, <strong>de</strong>ssa forma, sua organização<br />
391
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
retórica. Os resultados trazem implicações relevantes para a pedagogia<br />
dos multiletramentos (COPE, KALANTZIS, 2000).<br />
A FORMACAO DE LEITORES CRÍTICOS NA ESCOLA<br />
Graciele Urrutia Dias Silveira<br />
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo da escola é<br />
que aqueles que estudam nela sejam capacitados ao exercício da<br />
cidadania, ou seja, que possam atuar ativamente em sua socieda<strong>de</strong><br />
(p.7). Para que o professor <strong>de</strong> língua portuguesa possa ter um papel<br />
efetivo em formar cidadãos, é necessário que inclua em suas aulas a<br />
leitura crítica <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> diversos gêneros textuais. A respeito da<br />
importância do trabalho com tal tipo <strong>de</strong> leitura, Meurer (2000) diz que<br />
ela <strong>de</strong>veria ser a parte central dos conteúdos <strong>de</strong>senvolvidos nas escolas<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> as séries inicias porque tal perspectiva <strong>de</strong> leitura se constitui em<br />
um meio <strong>de</strong> emancipação do leitor. Segundo o autor, se a escola<br />
sempre priorizasse tal tipo <strong>de</strong> leitura, <strong>de</strong>senvolveria nos estudantes uma<br />
consciência crítica sobre a socieda<strong>de</strong> em que vivem e,<br />
consequentemente, aumentaria a potencialida<strong>de</strong> dos alunos em<br />
participar ativamente no ambiente em que vivem. No presente trabalho<br />
tenho como objetivo discutir sobre o assunto e apresentar algumas<br />
ativida<strong>de</strong>s que contemplam tal perspectiva <strong>de</strong> leitura.<br />
O CINEMA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Heverton Schimitz Lopes<br />
Liliana Panick Ferreira Moreira<br />
Palavra-chave: Cinema, ensino/aprendizagem <strong>de</strong> LP e dialogismo.<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID) na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O projeto<br />
intitulado CINEP (Cinema no CIEP- escola estadual <strong>de</strong> Bagé-RS)<br />
constitui em passar obras fílmicas uma vez por semana, no horário do<br />
almoço, período em que muitos alunos se encontram na escola, uma vez<br />
que permanecem na mesma em período integral neste dia. A iniciativa<br />
surgiu com o intuito <strong>de</strong> valorizar a participação dos alunos e<br />
professores durante as gravações do filme “O Tempo e o Vento” que<br />
ocorreram na cida<strong>de</strong>, bem como inserir os <strong>de</strong>mais alunos no contexto<br />
da temática e na importância do evento para a região. Inicialmente, foi<br />
392
Resumo dos Trabalhos<br />
apresentada a obra <strong>de</strong> Érico Veríssimo (O Tempo e o Vento) através do<br />
livro e, após, <strong>de</strong>mos início ao projeto propriamente dito, oferecendo<br />
sessões <strong>de</strong> cinema com a minissérie “O Tempo e o Vento”. O projeto se<br />
apoia nos estudos <strong>de</strong> Bakhtin (2003), no que se refere à dialogia; no<br />
PCN (1997), ao propor que o trabalho <strong>de</strong> língua tem que fazer sentido<br />
ao aluno e nos estudos <strong>de</strong> Kok(2002), ao promover <strong>de</strong>bates e reflexões<br />
que ocorrem ao final das apresentações. O seu <strong>de</strong>senvolvimento, no<br />
<strong>de</strong>correr <strong>de</strong> 2012, visa também contribuir para estimular os alunos a<br />
posicionarem-se criticamente sobre os filmes apresentados além <strong>de</strong> ser<br />
uma oportunida<strong>de</strong> para que eles percam o medo ou receio <strong>de</strong> falar e<br />
participar oralmente em diferentes contextos.<br />
QUESTÕES DE LEITURA: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS<br />
LIVROS DIDÁTICOS<br />
Jonas Dos Santos (Bolsista Pibid)<br />
Adriana Nascimento Bodolay<br />
Palavras-chave: Leitura, Livro Didático, Ensino Médio.<br />
Embora estejamos em processo <strong>de</strong> ressignificação <strong>de</strong> leitura e do<br />
currículo escolar <strong>de</strong> Língua Portuguesa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o fim dos anos 90<br />
(PCNs, 1998), <strong>de</strong>paramo-nos, ainda hoje, 14 anos após a publicação do<br />
documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, com materiais<br />
didáticos que refletem uma concepção <strong>de</strong> leitura como um processo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>codificação. Como consequência disso, o professor em formação se<br />
vê <strong>de</strong>samparado para proporcionar uma aula <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção<br />
textual significativa (Solé, 1998). Observando esse contexto, neste<br />
trabalho, que faz parte do Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsa <strong>de</strong> Iniciação<br />
à docência – PIBID CAPES, no subprojeto <strong>de</strong> Letras Língua Materna,<br />
vinculado à UNIPAMPA – campus Jaguarão/RS, buscamos<br />
proporcionar uma reflexão sobre uma das seções do livro didático <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa, especificamente na área <strong>de</strong> leitura. Nosso objetivo<br />
é analisar questões <strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> uma coleção <strong>de</strong><br />
exemplares disponível para o Ensino Médio em escolas públicas do<br />
município <strong>de</strong> Jaguarão. A nossa indagação diz respeito a que<br />
concepção <strong>de</strong> leitura está por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong>ssas ativida<strong>de</strong>s. Como aporte<br />
teórico, valeremo-nos <strong>de</strong> Leffa (1996), Martins (1996), Liberato e<br />
Fulgêncio (2007) e Marcuschi (2009), que nos levam a refletir sobre o<br />
papel do professor na aprendizagem do aluno.<br />
LETRAMENTO MULTIMODAL NO LIVRO DIDÁTICO DE<br />
LÍNGUA INGLESA<br />
393
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
José Ferreira Machado Junior<br />
Graciela Rabuske Hendges (Orientadora)<br />
A presença e relevância <strong>de</strong> informações visuais em gêneros discursivos<br />
da comunicação contemporânea têm gerado uma preocupação<br />
crescente com a formação <strong>de</strong> leitores visualmente letrados. Dentre os<br />
gêneros multimodais <strong>de</strong>staca-se o livro didático para o ensino da língua<br />
inglesa, tipicamente rico em imagens. Entretanto, os exercícios<br />
propostos nesses materiais raramente remetem à exploração da<br />
linguagem visual (GRAY, 2010). Em vista disso, neste trabalho são<br />
analisadas as seções <strong>de</strong> leitura da série <strong>de</strong> livros didáticos Top Notch<br />
com o objetivo <strong>de</strong> verificar em que medida a leitura <strong>de</strong> imagens dos<br />
gêneros discursivos apresentados é explorada e qual a natureza <strong>de</strong>ssa<br />
leitura. Dentro do enquadramento teórico da Análise Crítica <strong>de</strong> Gênero<br />
(MOTTA-ROTH, 2008) e tendo como base analítica léxico-gramatical<br />
a Gramática do Design Visual (KRESS; van LEEUWEN, 2006), foram<br />
analisadas todas as <strong>de</strong>z seções <strong>de</strong> leitura que constituem o Top Notch<br />
intermediário, as quais formam complexos semióticos, compostos <strong>de</strong><br />
linguagem verbal escrita, oral (na forma <strong>de</strong> áudio) e <strong>de</strong> imagens. Os<br />
gêneros discursivos apresentados em cada seção foram mapeados e<br />
discutidos em relação a sua configuração multimodal e, em seguida,<br />
verificou-se se e como tal configuração é explorada nas ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
leitura propostas no livro. Na perspectiva dos multiletramentos, esperase<br />
contribuir para o <strong>de</strong>senvolvimento da leitura mais ampla no sentido<br />
da compreensão dos significados representados não só na linguagem<br />
verbal escrita, mas também nas imagens em textos multimodais.<br />
LETRAMENTO DIGITAL: BLOG EDUCACIONAL COMO<br />
SUPORTE PARA MATERIALIZAÇÃO DE DIFERENTES<br />
GÊNEROS TEXTUAIS<br />
Josiane David Mackedanz<br />
Palavras-chave: Letramento Digital; Blog; Gênero Textual.<br />
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem a utilização dos<br />
gêneros textuais como objeto <strong>de</strong> ensino para a prática <strong>de</strong> leitura e<br />
produção textual. Nesse contexto, as Tecnologias <strong>de</strong> Informação e<br />
Comunicação (TICs) têm proporcionado ao professor, bem como a<br />
seus alunos, o contato com uma nova gama <strong>de</strong> opções com relação a<br />
gêneros textuais que são típicos <strong>de</strong>ssa esfera comunicativa,<br />
redimensionando o trabalho com os textos. Essas novas modalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> leitura e escrita propiciadas pelas TICs implicam em novas maneiras<br />
394
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> ler e escrever, ou seja, em novos letramentos. Visando o trabalho<br />
com os novos letramentos, o blog tem sido muito utilizado no âmbito<br />
escolar. Em sua origem o mesmo era consi<strong>de</strong>rado um gênero primário -<br />
diário, mas com a sua evolução foi per<strong>de</strong>ndo o estatuto <strong>de</strong> gênero, para<br />
se tornar um suporte para materialização <strong>de</strong> diversos gêneros, já que o<br />
mesmo constitui-se <strong>de</strong> perfil, postagem, comentários, imagens, ví<strong>de</strong>os<br />
etc. Esse espaço possibilita ao professor a multiplicação <strong>de</strong><br />
possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabalho com produção textual. Além disso, percebese<br />
que cada postagem, ao veicular um gênero diferente, incita<br />
comentários diferentes; em outras palavras, os comentários dos alunos<br />
vão transitar <strong>de</strong> um gênero ao outro <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do “comando” da<br />
ativida<strong>de</strong>. Essa transição é analisada neste trabalho, bem como as<br />
diferentes possibilida<strong>de</strong>s alcançadas pelos alunos em suas respostas aos<br />
“comandos” do professor. Assim, a utilização do blog, frente às<br />
ativida<strong>de</strong>s tradicionais <strong>de</strong> produção textual no contexto escolar, po<strong>de</strong><br />
acarretar um ganho <strong>de</strong> aprendizagem por parte dos estudantes, pois a<br />
internet permite interfaces mais amigáveis no processo <strong>de</strong> produção<br />
textual e possibilita a explicitação do valor interacional da escrita.<br />
LETRAMENTO DIGITAL E ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM<br />
MODALIDADE DE EAD<br />
Jossemar De Matos Theisen<br />
Palavras-chave: letramento digital; alunos universitários, educação a<br />
distância.<br />
Na última década, as transformações tecnológicas têm trazido muitas<br />
possibilida<strong>de</strong>s e benefícios para a educação. Nesse âmbito po<strong>de</strong>-se<br />
<strong>de</strong>stacar a <strong>Educação</strong> a Distância (EAD) que, cada vez mais, insere<br />
pessoas no meio acadêmico e com isso, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se dominar,<br />
em alguns aspectos, o letramento digital. Porém, nem sempre esse prérequisito<br />
é satisfatoriamente atendido, pois muitas pessoas passam a ter<br />
acesso ao computador com internet quando ingressam em cursos<br />
universitários em modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> EAD. De acordo com Buzato (2003),<br />
o letramento digital é "o conjunto <strong>de</strong> conhecimentos que permite às<br />
pessoas participarem nas práticas letradas mediadas por computadores e<br />
outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo". Po<strong>de</strong> ser<br />
consi<strong>de</strong>rada uma pessoa que tem um nível <strong>de</strong> letramento digital, aquela<br />
395
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
que domina as características e especificida<strong>de</strong>s do hipertexto (texto<br />
virtual) e as normas e convenções que o habilitam a trabalhar e explorar<br />
esse texto. Esse artigo apresenta um estudo <strong>de</strong> caso, <strong>de</strong> três alunos<br />
universitários <strong>de</strong> EAD, em relação ao letramento digital e em que<br />
medida esse aspecto implica no <strong>de</strong>sempenho acadêmico, ou seja, a<br />
aprendizagem dos conteúdos estudados está diretamente relacionada<br />
com o domínio das ferramentas tecnológicas. Como esses alunos se<br />
sentem em relação às práticas <strong>de</strong>senvolvidas pelo curso, qual a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong>les enquanto acadêmicos <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> EAD.<br />
LETRAMENTO LITERÁRIO: CRIANÇAS, LIVROS,<br />
DIÁLOGOS<br />
Larissa Quintana De Oliveira<br />
Palavras-chave :Literatura, letramento, linguagem<br />
Este trabalho é “resultante” <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> extensão realizado por<br />
estudantes do curso <strong>de</strong> Pedagogia da FaE/<strong>UFPel</strong>. Denominado Leitura<br />
Literária na Escola é <strong>de</strong>senvolvido em duas escolas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Pelotas. As leituras são realizadas semanalmente em turmas que<br />
abrangem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a pré-escola até o quinto ano. Essas leituras são<br />
sempre <strong>de</strong> obras literárias, pois julgamos que leitor se forma lendo<br />
literatura. Além disso, a partir <strong>de</strong> meus estudos, acredito que a<br />
linguagem presente em obras literárias é muito mais enriquecedora e<br />
prazerosa do que a linguagem presente em obras não literárias. Acredito<br />
também que é preciso letrar as crianças com literatura. O letramento<br />
literário é fundamental para formação <strong>de</strong> um leitor crítico que saiba<br />
argumentar a favor <strong>de</strong> suas escolhas. O objetivo principal do projeto é<br />
oferecer às crianças um contato mais apropriado e qualificado com a<br />
leitura literária. Já os específicos são possibilitar a formação <strong>de</strong><br />
ouvintes e leitores críticos. Os livros ampliam o conhecimento da<br />
linguagem como um todo, <strong>de</strong>senvolvendo melhor a linguagem oral e<br />
escrita. Além disso, ampliam a visão <strong>de</strong> mundo do educando, tornandoo<br />
mais crítico e autônomo. A metodologia é dividida em três<br />
momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Acompanhando essa<br />
metodologia é “revelado” às crianças o “elemento mágico” que é<br />
escolhido a cada história, po<strong>de</strong>ndo ser qualquer objeto com alguma<br />
relação com o livro lido. Todo esse processo é fundamental para<br />
estimular as crianças a falarem mais e organizadamente, expressando<br />
assim suas opiniões. Os resultados alcançados pelo projeto po<strong>de</strong>m<br />
sinteticamente serem assim <strong>de</strong>scritos: interesse maior pela leitura,<br />
396
Resumo dos Trabalhos<br />
concentração das crianças, formação <strong>de</strong> ouvintes e leitores e <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong><br />
contar suas próprias histórias.<br />
O CINEMA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Liliana Panick Ferreira Moreira<br />
Heverton Schimitiz<br />
Palavra-chave: Cinema, ensino/aprendizagem <strong>de</strong> LP e dialogismo.<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID) na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O projeto<br />
intitulado CINEP (Cinema no CIEP- escola estadual <strong>de</strong> Bagé-RS)<br />
constitui em passar obras fílmicas uma vez por semana, no horário do<br />
almoço, período em que muitos alunos se encontram na escola, uma vez<br />
que permanecem na mesma em período integral neste dia. A iniciativa<br />
surgiu com o intuito <strong>de</strong> valorizar a participação dos alunos e<br />
professores durante as gravações do filme “O Tempo e o Vento” que<br />
ocorreram na cida<strong>de</strong>, bem como inserir os <strong>de</strong>mais alunos no contexto<br />
da temática e na importância do evento para a região. Inicialmente, foi<br />
apresentada a obra <strong>de</strong> Érico Veríssimo (O Tempo e o Vento) através do<br />
livro e, após, <strong>de</strong>mos início ao projeto propriamente dito, oferecendo<br />
sessões <strong>de</strong> cinema com a minissérie “O Tempo e o Vento”. O projeto se<br />
apoia nos estudos <strong>de</strong> Bakhtin (2003), no que se refere à dialogia; no<br />
PCN (1997), ao propor que o trabalho <strong>de</strong> língua tem que fazer sentido<br />
ao aluno e nos estudos <strong>de</strong> Kok(2002), ao promover <strong>de</strong>bates e reflexões<br />
que ocorrem ao final das apresentações. O seu <strong>de</strong>senvolvimento, no<br />
<strong>de</strong>correr <strong>de</strong> 2012, visa também contribuir para estimular os alunos a<br />
posicionarem-se criticamente sobre os filmes apresentados além <strong>de</strong> ser<br />
uma oportunida<strong>de</strong> para que eles percam o medo ou receio <strong>de</strong> falar e<br />
participar oralmente em diferentes contextos.<br />
A FORMAÇÃO DO LEITOR E O LIVRO DIDÁTICO<br />
Luciane Baretta<br />
Estudos na área da compreensão leitora têm <strong>de</strong>monstrado uma forte<br />
relação entre a <strong>aqui</strong>sição do conhecimento e o tipo <strong>de</strong> tarefas <strong>de</strong> leitura<br />
propostas pelo material didático, adotado nas diferentes disciplinas do<br />
currículo escolar. Chacon (2010), por exemplo, ao analisar uma<br />
coleção <strong>de</strong> material didático para o ensino da língua portuguesa para o<br />
397
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
nível fundamental <strong>de</strong> ensino, constatou que 46% das tarefas <strong>de</strong> leitura<br />
requeriam a habilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> inferência por parte do aluno para respon<strong>de</strong>r<br />
às questões relativas ao texto. Em constraste a estudos <strong>de</strong>senvolvidos<br />
anteriomente, que revelavam um índice muito menor <strong>de</strong> tarefas <strong>de</strong><br />
leitura que envolviam algum tipo <strong>de</strong> processo <strong>de</strong> nível superior para<br />
respon<strong>de</strong>r às tarefas <strong>de</strong> leitura (e.g., OLIVEIRA, 2000), po<strong>de</strong>-se<br />
perceber certa preocupação das entida<strong>de</strong>s envolvidas na elaboração dos<br />
materiais didáticos com relação ao letramento dos alunos em ida<strong>de</strong><br />
escolar. O objetivo <strong>de</strong>sta comunicação é discutir e analisar em que<br />
medida a leitura/letramento crítico tem sido abordado nas tarefas <strong>de</strong><br />
leitura dos livros didáticos, <strong>de</strong> diferentes disciplinas do currículo<br />
escolar, adotados pelas escolas da re<strong>de</strong> estadual <strong>de</strong> ensino. Para<br />
categorização e análise das tarefas <strong>de</strong> leitura foram utilizadas as<br />
taxonomias propostas por Pearson e Johnson (1978) e Davies (1995).<br />
No cômputo geral, po<strong>de</strong>-se observar que apenas uma parcela<br />
(<strong>de</strong>sanimadora, insuficiente) das tarefas <strong>de</strong> leitura propostas pelos<br />
livros didáticos procuram <strong>de</strong>senvolver as capacida<strong>de</strong>s e habilida<strong>de</strong>s<br />
envolvidas no universo do letramento.<br />
LETRAMENTO LITERÁRIO: POESIA NA EDUCAÇÃO DE<br />
JOVENS E ADULTOS<br />
Luciene Fontão<br />
Palavras-chave: Poesia. Letramento literário. Leitura. Escrita.<br />
Refletir sobre o letramento literário como ativida<strong>de</strong> significativa no<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da expressão escrita e da leitura <strong>de</strong> poesia, uma<br />
prática realizada no curso <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> <strong>de</strong> Jovens e Adultos no<br />
município <strong>de</strong> Florianópolis/SC. O projeto se intitula "Horta com<br />
poesia" e já ocorre <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o primeiro semestre <strong>de</strong> 2011. No transcorrer<br />
do processo <strong>de</strong> aprendizagem e <strong>de</strong> letramento literário, os educandos<br />
<strong>de</strong>senvolvem a expressão artístico-cultural <strong>de</strong> manifestação da<br />
linguagem poética por meio da leitura, análise, audiência e da escrita<br />
<strong>de</strong> poemas. Estudam os textos <strong>de</strong> autores consagrados da literatura<br />
brasileira e portuguesa, como fonte <strong>de</strong> inspiração para a produção <strong>de</strong><br />
poesia - com textos selecionados ora do livro didático do curso, ora <strong>de</strong><br />
livro encontrado na biblioteca da escola -, tais como: Mário <strong>de</strong><br />
Andra<strong>de</strong>, Mário Quintana, Fernando Pessoa, João Cabral <strong>de</strong> Melo<br />
398
Resumo dos Trabalhos<br />
Neto, Manuel Ban<strong>de</strong>ira, Cecília Meirelles, Ferreira Gullar, Cruz e<br />
Souza, Delminda da Silveira, Carlos Drummond <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>. Ao<br />
término do período letivo, os poemas são reunidos em livreto. A<br />
motivação para a leitura e posterior produção <strong>de</strong> poemas busca<br />
qualificar a aprendizagem no ensino básico, bem como inserir o<br />
educando no mundo letrado.<br />
ANÁLISE TEXTUAL DE PRODUÇÕES AUTORREFLEXIVAS<br />
DE ALUNOS DE PEDAGOGIA: INTERFACE<br />
SOCIOCOGNITIVA DOS LETRAMENTOS ACADÊMICOS<br />
Márcia Miller Gomes De Pinho<br />
Palavras-chave: Letramento acadêmico. Textualida<strong>de</strong>. Sociocognição.<br />
A leitura e a escrita têm sido alvo <strong>de</strong> recorrentes <strong>de</strong>bates e críticas no<br />
cenário nacional, seja em função da precarieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> seus índices nas<br />
estatísticas educacionais, ou pelas expressivas fragilida<strong>de</strong>s enfrentadas<br />
pelos cidadãos no exercício <strong>de</strong> práticas sociais mediadas por textos<br />
escritos. Ainda que se conviva com o paradigma da universalização da<br />
escolarida<strong>de</strong> básica no país, nota-se que a mera vinculação com a<br />
educação formal não assegura o domínio pleno da leitura e da escrita<br />
para o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> seu protagonismo social. Nesse contexto, a<br />
discussão do letramento tem sua pertinência ampliada, passando a<br />
abranger todos os contextos educacionais, da educação infantil à<br />
educação superior, sobre a qual se <strong>de</strong>teve o presente estudo. A partir <strong>de</strong><br />
uma abordagem quali-quantitativa e interdisciplinar, a investigação<br />
teve como objetivo analisar a caracterização linguística das produções<br />
escritas <strong>de</strong> alunos concluintes <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> Pedagogia, por meio da<br />
observação das estratégias sociocognitivas reveladas nos critérios <strong>de</strong><br />
textualida<strong>de</strong> observáveis na superfície textual, analisando-se os indícios<br />
linguísticos <strong>de</strong> textualida<strong>de</strong> – particularmente os índices <strong>de</strong> coesão e<br />
coerência – verificáveis nas modalida<strong>de</strong>s comunicativas <strong>de</strong>sses<br />
estudantes, em conformida<strong>de</strong> com as suas finalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso. As<br />
análises <strong>de</strong>monstraram a prevalência <strong>de</strong> estratégias cognitivas próprias<br />
à coloquialida<strong>de</strong>, com pouca incidência <strong>de</strong> mecanismos ligados à<br />
autorreflexivida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> forma que se sobressaem as estruturas<br />
composicionais típicas <strong>de</strong> escritores iniciantes, nas quais se percebem<br />
escassas estratégias <strong>de</strong> automonitoramento textual, além <strong>de</strong> tímida<br />
preocupação explícita com a compreensão do interlocutor, em prejuízo<br />
da construção da coerência textual.<br />
399
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA MATERNA NA SALA DE AULA<br />
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
Márcia Tavares Chico<br />
Sílvia Costa Kurtz Dos Santos<br />
Palavras-chave: co<strong>de</strong>-switching, ensino e aprendizagem <strong>de</strong> língua<br />
estrangeira, língua materna.<br />
O presente trabalho discute o uso da língua materna em sala <strong>de</strong> aula <strong>de</strong><br />
inglês como língua estrangeira, sob a perspectiva da alternância<br />
linguística ou co<strong>de</strong>- switching por parte <strong>de</strong> um professor, pon<strong>de</strong>randose<br />
sobre os possíveis motivos que levaram à ativação do fenômeno.<br />
Para tal, são apresentados dados coletados em uma aula <strong>de</strong> inglês para<br />
alunos do quarto semestre do Curso <strong>de</strong> Licenciatura em Letras<br />
Português-Inglês <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ral no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul.<br />
Observa-se que a utilização da língua materna se mostra como <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> importância para os processos <strong>de</strong> ensino e <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas estrangeiras.<br />
ASPECTOS DE COESÃO E COERÊNCIA NA ESCRITA DE<br />
ALUNOS SURDOS BILÍNGUES<br />
Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro<br />
Palavras-chave: Sur<strong>de</strong>z. Ensino. Segunda Língua. Língua Portuguesa<br />
Os surdos têm a língua portuguesa escrita como segunda língua (L2) e<br />
meio para interagir também com outros grupos sociais, quer na<br />
<strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> informação e quer no exercício da comunicação escrita.<br />
Não obstante, tratar do ensino- aprendizagem da língua escrita e suas<br />
peculiarida<strong>de</strong>s para esses aprendizes, bem como a formação dos<br />
professores que atuam nessa modalida<strong>de</strong> é primordial neste tempo.<br />
Devido à abrangência da temática, nesta investigação focalizou-se a<br />
relevância da comunicação sóciointeracional, tendo em vista que era<br />
uma das necessida<strong>de</strong>s prementes entre os surdos tanto na <strong>aqui</strong>sição das<br />
informações quanto nas diferentes situações comunicativas, ao exercer<br />
sua cidadania livremente, tendo como recurso sua primeira língua, a<br />
Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais – LIBRAS e sua segunda língua, o<br />
Português. A pesquisa <strong>aqui</strong> apresentada preten<strong>de</strong> discutir questões<br />
400
Resumo dos Trabalhos<br />
referentes à língua(gem) tomando, como ponto <strong>de</strong> partida, as<br />
proposições <strong>de</strong> Bakhtin e Vygotsky, tendo a concepção <strong>de</strong> que somente<br />
por meio da língua(gem) e da relação social é possível à significação<br />
do mundo pelo sujeito, e pressupostos teóricos da Linguística Textual<br />
bem como Português Segunda Língua/Estrangeira (PL2E), tendo em<br />
vista conhecimentos teóricos e metodológicos que tenham concepções<br />
diferentes daquelas propostas para o ensino/aprendizagem <strong>de</strong> língua<br />
materna. A partir <strong>de</strong> então, apontar-se-á questões <strong>de</strong> ensino e<br />
aprendizagem <strong>de</strong> PL2 para surdos através das produções textuais <strong>de</strong>sses<br />
alunos coletadas durante o Curso Básico <strong>de</strong> Língua Portuguesa para<br />
Surdos, no Centro <strong>de</strong> Ensino <strong>de</strong> Apoio à Pessoa com Sur<strong>de</strong>z –<br />
CAS/MA, realizado em 2011.2 e primeiro mês <strong>de</strong> 2012.1. Preten<strong>de</strong>-se<br />
mostrar as estratégias e mecanismos discursivos e textuais no processo<br />
<strong>de</strong> escrita em segunda língua utilizados pelos surdos na escrita, bem<br />
como analisar tais questões sob os aspectos <strong>de</strong> coesão e coerência<br />
mostrando que a construção discursiva do texto tem suas peculiarida<strong>de</strong>s<br />
que envolvem aspectos <strong>de</strong> etiologia da sur<strong>de</strong>z, linguísticos, sociais,<br />
emocionais que precisam ser consi<strong>de</strong>rados no processo <strong>de</strong> ensinoaprendizagem<br />
da Língua Portuguesa para aluno surdo.<br />
OFICINAS DE LETRAMENTOS DIGITAIS: ELABORAÇÃO<br />
DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO INSTRUMENTO DE<br />
ENSINO-PRENDIZAGEM<br />
Maria Camila Barros Alcântara<br />
Júlio César De Rosa Araújo (Orientador)<br />
Palavras-chave: Ferramentas digitais; Letramentos; Hipermodalida<strong>de</strong>.<br />
O presente trabalho relata experiências realizadas com alunos do 6º ano<br />
<strong>de</strong> uma escola <strong>de</strong> ensino fundamental, localizada na região<br />
metropolitana <strong>de</strong> Fortaleza, capital do Ceará. Esta ação é oriunda <strong>de</strong><br />
um programa <strong>de</strong> extensão que em uma <strong>de</strong> suas ações ofereceu Oficinas<br />
<strong>de</strong> Letramento Digital (OLDs) para alunos da re<strong>de</strong> pública no ano <strong>de</strong><br />
2012 com o objetivo <strong>de</strong> ampliar os letramentos digitais por meio <strong>de</strong><br />
estratégias <strong>de</strong> leitura e escrita multimodias. A escola beneficiada com<br />
as OLDs fica localizada no município <strong>de</strong> Maranguape, à 30 km da<br />
capital. As oficinas foram realizadas por meio <strong>de</strong> uma ferramenta<br />
online chamada “Máquina <strong>de</strong> Quadrinhos” da turma da Mônica, por<br />
meio da qual <strong>de</strong>senvolvemos situações didáticas que oportunizassem a<br />
leitura e o conhecimento do gênero história em quadrinhos (HQs). O<br />
referencial teórico a que nos baseamos proce<strong>de</strong> dos estudos sobre<br />
401
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
hipermodalida<strong>de</strong> (LEMKE, 2002; OLIVEIRA, 2006) e sobre<br />
letramentos visuais (STOKS, 2001). Para análise, coletamos apenas 4<br />
HQs <strong>de</strong> um universo maior <strong>de</strong> histórias que tem por tema O trabalho<br />
infantil. A análise <strong>de</strong>sses dados, <strong>de</strong>ntro do contexto atual em que<br />
vivemos cada vez mais tecnológico, nos permite concluir que a<br />
“máquina <strong>de</strong> quadrinhos”, se bem aproveitada, po<strong>de</strong> ser uma<br />
ferramenta digital <strong>de</strong> fundamental importância no processo ensino-<br />
aprendizagem, pois ela permite a ampliação dos letramentos ajudando<br />
os alunos a <strong>de</strong>scobrirem que a leitura e a escrita em gêneros como as<br />
HQs virtuais vão além da escrita prototípica, comumente ensinada pela<br />
escola.<br />
A ESCRITA E A PALAVRA NO MUNDO DA INFÂNCIA:<br />
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL<br />
Maria Cristina Ma<strong>de</strong>ira<br />
Rita De Cássia Tavares Me<strong>de</strong>iros<br />
Palavras chave: <strong>Educação</strong> Infantil, Leitura, Escrita e Práticas<br />
pedagógicas.<br />
Este trabalho revela produções realizadas por crianças e educadoras<br />
numa escola infantil, consi<strong>de</strong>rando o mundo da escrita como um<br />
mundo que <strong>de</strong>svenda a própria vida, através da palavra dita pela<br />
criança. Esse percurso <strong>de</strong>finiu como os temas geradores foram ao<br />
mesmo tempo conteúdo e forma na educação da infância, evi<strong>de</strong>nciando<br />
modos <strong>de</strong> olhar o mundo. As diferentes contribuições <strong>de</strong> pesquisadores<br />
sobre a <strong>aqui</strong>sição e o <strong>de</strong>senvolvimento da escrita em socieda<strong>de</strong>s<br />
grafocêntricas evi<strong>de</strong>nciaram com muita <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> o papel da escrita na<br />
vida dos sujeitos. Freire (1987) nos apoiou ao discernir <strong>de</strong>codificação<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>scodificação: quando apenas ensinamos as combinações silábicas,<br />
ou a escrita <strong>de</strong> palavras convencionais, sem a <strong>de</strong>vida reflexão sobre o<br />
que, como, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>, com quem e quando as palavras são utilizadas. O<br />
sentido das palavras nos é dado pelo contexto em que foi produzida, se<br />
tratando <strong>de</strong> educação das crianças a fala <strong>de</strong>las sobre o seu mundo tem<br />
muito a nos dizer. As ativida<strong>de</strong>s pedagógicas foram registradas em<br />
painéis com textos das educadoras, com imagens dos trabalhos<br />
<strong>de</strong>senvolvidos nas classes, nos passeios pela cida<strong>de</strong>. Os produtos do<br />
letramento se expressaram <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a leitura do jornal, dos livros infantis,<br />
dos painéis, <strong>de</strong> recados, <strong>de</strong> propagandas, na produção da documentação<br />
da classe que reuniu a relação entre esses produtos do letramento num<br />
corpus mais importante nos Livros da Vida. A varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> produtos<br />
foi gran<strong>de</strong>, apresentando uma gran<strong>de</strong> dispersão, sugerindo<br />
402
Resumo dos Trabalhos<br />
experiências, atenções e apreensões diferenciadas entre as crianças. As<br />
concepções <strong>de</strong> Freire sobre a aprendizagem da língua escrita não<br />
estavam pautadas exclusivamente no âmbito linguístico, tinham um<br />
cunho antropológico que ultrapassou razões óbvias, explicitando a<br />
palavra como dimensão formadora e transformadora das relações<br />
sociais.<br />
MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E<br />
ADULTOS<br />
Maria I<strong>de</strong>rlandia Ferreira Lima<br />
Luiz Carlos Souza Bezerra<br />
Preten<strong>de</strong>mos, neste trabalho, analisar o processo <strong>de</strong> letramentos <strong>de</strong><br />
alunos da <strong>Educação</strong> <strong>de</strong> Jovens e Adultos (EJA). Para tanto,<br />
<strong>de</strong>senvolvemos um estudo em uma turma <strong>de</strong> EJA, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Acopiara-CE. Participam do estudo 14 educandos <strong>de</strong> faixa etária entre<br />
20 e 60 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, provenientes <strong>de</strong> classe social <strong>de</strong>sfavorável. Os<br />
dados foram coletados a partir <strong>de</strong> observações <strong>de</strong> práticas escolares e<br />
<strong>de</strong> intervenção com uma proposta pedagógica empregando os gêneros<br />
textuais. Almejávamos, <strong>de</strong>ssa forma, construir uma estratégia que<br />
possibilitasse a efetiva inserção <strong>de</strong>sses alunos no universo da leitura e<br />
escrita através <strong>de</strong> textos autênticos que retratem práticas sociais<br />
concretas. As práticas pedagógicas <strong>de</strong>senvolvidas baseiam-se em<br />
exploração <strong>de</strong> gêneros por meio da leitura e discussão e, posterior<br />
comparação entre os diferentes textos explorados, o que é seguido, por<br />
uma produção escrita individual e rescrita coletiva. Os dados da<br />
pesquisa foram analisados ancorados nos referenciais teóricos <strong>de</strong><br />
Bakhtin (1981), Marcuschi (2008), Brait (2009; 2010), Mollica; Leal<br />
(2009) e Rojo (2003, 2009). Os resultados evi<strong>de</strong>nciam que a proposta<br />
pedagógica com os gêneros textuais com essa turma possibilitou inserir<br />
os alunos no universo da leitura e escrita enquanto práticas discursivas<br />
e sociais, bem como contribuiu para o processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong>ssas habilida<strong>de</strong>s, possibilitando consequentemente, a construção <strong>de</strong><br />
sentidos através da leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos que atenda aos<br />
critérios <strong>de</strong> textualida<strong>de</strong>.<br />
PRÁTICAS DE LEITURA NAS AULAS DE PORTUGUÊS:<br />
VIVÊNCIAS DE DOCÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO<br />
DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Maria Izabel De Bortoli Hentz<br />
403
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A compreensão do texto como unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino–aprendizagem da<br />
língua influenciou o movimento <strong>de</strong> reorganização curricular do final<br />
dos anos <strong>de</strong> 1980 e início dos 90 e na formação inicial e continuada <strong>de</strong><br />
professores. Documentos oficiais (PCNs e as Propostas Curriculares) e<br />
currículos <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> Letras e Pedagogia refletem, <strong>de</strong> certa forma,<br />
esse processo. Consi<strong>de</strong>rando que é no texto que a língua se revela em<br />
sua totalida<strong>de</strong>, as práticas <strong>de</strong> linguagem (fala-escuta, leitura-escrita e<br />
reflexão sobre a língua) se constituem no eixo organizador da aula <strong>de</strong><br />
português. Neste trabalho, objetiva-se refletir sobre práticas <strong>de</strong> leitura<br />
<strong>de</strong> reportagens em situações <strong>de</strong> ensino no contexto do Estágio<br />
Supervisionado <strong>de</strong> Língua Portuguesa, em duas turmas distintas. Planos<br />
<strong>de</strong> aula, relatórios <strong>de</strong> estágio e registros em diário <strong>de</strong> campo do<br />
acompanhamento das aulas ministradas serão objeto <strong>de</strong> análise. Como<br />
orientação teórico-metodológica assume-se a perspectiva sóciohistórica,<br />
cujo princípio central é o estudo dos fenômenos como<br />
processos em movimento e mudança. Para analisar especificamente as<br />
práticas <strong>de</strong> leitura recorre-se a pressupostos da teoria dialógica do<br />
discurso, do Círculo <strong>de</strong> Bakhtin, particularmente aos conceitos <strong>de</strong><br />
discurso, <strong>de</strong> enunciado e <strong>de</strong> texto, assim como aos estudos <strong>de</strong><br />
letramento. A análise evi<strong>de</strong>ncia que as práticas <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong> um mesmo<br />
gênero distinguem-se significativamente, consi<strong>de</strong>rando-se os objetivos<br />
estabelecidos para leitura dos textos em cada uma das situações <strong>de</strong><br />
ensino, indicando a importância <strong>de</strong> se estabelecerem objetivos prévios<br />
para a leitura <strong>de</strong> um texto.<br />
LITERATURA: UM INSTRUMENTO PARA O LETRAMENTO<br />
E PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS<br />
Mariana Jantsch De Souza<br />
Gabriela Rocha Rodrigues<br />
Palavras-chave: Ensino. Literatura. Letramento.<br />
A presente comunicação aborda a literatura como um instrumento para<br />
o letramento e formação <strong>de</strong> leitores críticos. A partir <strong>de</strong>sta perspectiva,<br />
o assunto será ancorado na idéia <strong>de</strong> que a literatura é um meio eficiente<br />
para aperfeiçoar as habilida<strong>de</strong>s lingüísticas <strong>de</strong> leitura, escrita,<br />
compreensão e produção textual. No entanto, para que a literatura<br />
produza esse efeito é preciso que o texto literário não seja abordado <strong>de</strong><br />
forma fragmentada e como pretexto para discussões <strong>de</strong> cunho<br />
estritamente gramatical, conforme se observa na escola. Os textos “não<br />
404
Resumo dos Trabalhos<br />
falam por si”, daí a importância <strong>de</strong> formar um leitor crítico e apto a<br />
explorar o texto e atribuir sentidos ao que lê, para tanto é necessário<br />
que se estabeleça uma relação interativa entre texto e leitor e é neste<br />
ponto que se situa o professor <strong>de</strong> literatura – como um guia nesse<br />
processo. Para tratar <strong>de</strong>ste tema e <strong>de</strong>stacar a importância do ensino <strong>de</strong><br />
literatura, recorreu-se, principalmente, às consi<strong>de</strong>rações teóricas <strong>de</strong><br />
Rildo Cosson, Vilson Leffa e Marisa Lajolo sobre letramento literário e<br />
formação <strong>de</strong> leitores.<br />
A APROPRIAÇÃO DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS EM UM<br />
PROJETO DE LETRAMENTO<br />
Mariane Pereira Rocha<br />
Analiso, nessa comunicação, as formas <strong>de</strong> apropriação dos gêneros<br />
jornalísticos em um projeto <strong>de</strong> letramento (KLEIMAN, 2000). Os<br />
dados foram gerados através <strong>de</strong> textos produzidos, durante o ano <strong>de</strong><br />
2012, pelos alunos da Oficina <strong>de</strong> Telejornal, ministrada em uma escola<br />
pública municipal por alunas bolsistas da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do<br />
Pampa/Bagé – RS. A apropriação <strong>de</strong> gênero é uma forma <strong>de</strong> construção<br />
progressiva da aprendizagem, que insere o aluno em uma prática social<br />
(ROJO, 2006) e não ocorre do mesmo modo com todos os alunos.<br />
Dessa forma, nessa análise <strong>de</strong> caráter qualitativo e interpretativo,<br />
procuro <strong>de</strong>screver e <strong>de</strong>talhar alguns dos diferentes caminhos que os<br />
alunos percorrem até produzirem um gênero jornalístico, consi<strong>de</strong>rando<br />
o contexto on<strong>de</strong> eles estão inseridos e as especificida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada<br />
gênero. Os resultados preliminares indicam que os alunos aplicam os<br />
conhecimentos que possuem <strong>de</strong> outros gêneros textuais, com os quais<br />
já são familiarizados, na produção <strong>de</strong> gêneros que são novos para eles –<br />
nas primeiras produções <strong>de</strong> notícias, por exemplo, percebem-se traços<br />
<strong>de</strong> ficção, característicos <strong>de</strong> gêneros textuais como o conto.<br />
LEITURA E EDUCAÇÃO – OUTRAS VIAS POSSÍVEIS<br />
Marília Marques Lopes<br />
Palavras-chave: Alfabetização; Ensino; Leitura.<br />
Presenciamos nas últimas décadas os rumos que a educação vem<br />
tomando, e que levaram à falência do sistema <strong>de</strong> ensino, em especial da<br />
re<strong>de</strong> pública. Apesar dos esforços dos professores na busca pela<br />
ressignificação <strong>de</strong> seu papel, traduzida em valorização em termos<br />
405
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
salariais e <strong>de</strong> seu papel em aula, pouco se tem logrado junto aos alunos<br />
e seus responsáveis. As secretarias <strong>de</strong> educação, em seus anseios por<br />
mudanças, criaram métodos <strong>de</strong> ensino da escrita e da leitura<br />
erroneamente calcados em estudos sem embasamento linguístico<br />
a<strong>de</strong>quado, embora incontestavelmente válidos para a cognição em<br />
geral, como a teoria <strong>de</strong> Piaget. Também norteador <strong>de</strong> métodos <strong>de</strong><br />
alfabetização foi o estudo <strong>de</strong> Ferreiro e Teberoski, que <strong>de</strong>screve as<br />
etapas na <strong>aqui</strong>sição da escrita pela criança. Tal estudo forneceu as bases<br />
para a compreensão da <strong>aqui</strong>sição da escrita no sentido ontológico, mas<br />
foi aclamado como método <strong>de</strong> alfabetização, que <strong>de</strong>lega ao aluno a<br />
construção do próprio conhecimento a respeito da escrita. Como<br />
resultado, formaram-se gerações <strong>de</strong> alunos, muitos já adultos, com<br />
sérios problemas <strong>de</strong> leitura e escrita, alguns irremediáveis. Hoje, com<br />
referenciais assentados em pesquisas científicas <strong>de</strong> base neuronal sobre<br />
a <strong>aqui</strong>sição da leitura, po<strong>de</strong>m-se propor novos olhares sobre o processo<br />
<strong>de</strong> alfabetização, que auxiliem na construção <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong><br />
tratamento da leitura e escrita. Estas <strong>de</strong>vem assumir o papel que<br />
realmente lhes cabe no âmbito da educação do ensino fundamental.<br />
A DIMENSÃO IDEACIONAL EM ARTIGOS ACADÊMICOS<br />
AUDIOVISUAIS<br />
Mauren Mata De Souza<br />
Graciela Rabuske Hendges (Orientadora)<br />
A participação da tecnologia nas interações acadêmico-científicas tem<br />
não só incrementado práticas já existentes, mas também dado origem a<br />
novas formas <strong>de</strong> interação. Neste trabalho, buscamos i<strong>de</strong>ntificar em<br />
qual <strong>de</strong>ssas duas categorias se encaixam os artigos audiovisuais<br />
publicados pelo periódico científico JoVE – Journal of Visualized<br />
Experiments. Para tanto, investigamos, sob a ótica da Análise Crítica<br />
<strong>de</strong> Gênero (MOTTA-ROTH, 2005, 2006, 2008), em que medida e<br />
como tais artigos são semelhantes ou diferentes do artigo acadêmico<br />
experimental escrito. Foram examinados contextual e textualmente seis<br />
artigos acadêmicos audiovisuais publicados em 2011. A análise<br />
contextual envolveu, primeiramente, o mapeamento do site do<br />
periódico e <strong>de</strong> documentos como as “Instruções para autores”. A<br />
análise textual foi realizada a partir das categorias analíticas da<br />
Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), focando na<br />
Transitivida<strong>de</strong>. Constatou-se a predominância <strong>de</strong> Processos Materiais<br />
associados à documentação <strong>de</strong> técnicas e protocolos, visto ser a função<br />
406
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong>sses artigos, conforme proposto nas “Instruções para autores”.<br />
Igualmente relevantes nesses textos são as Circunstâncias, pois<br />
acrescentam especificida<strong>de</strong> e precisão aos procedimentos <strong>de</strong>scritos<br />
principalmente (73%) em termos <strong>de</strong> localização no tempo e no espaço e<br />
<strong>de</strong> modo. Essas características atribuem um caráter instrucional ao<br />
artigo audiovisual do JoVE, sugerindo que po<strong>de</strong> ser classificado como<br />
um novo gênero discursivo. Pedagogicamente, este trabalho po<strong>de</strong><br />
contribuir para o Ensino <strong>de</strong> Línguas para Fins Acadêmicos,<br />
subsidiando-o com conhecimento sobre esse novo gênero discursivo o<br />
qual po<strong>de</strong> ajudar a orientar pesquisadores não-familiarizados com essa<br />
prática social.<br />
LEITURA DE IMAGENS: O LIVRO INFANTIL E O<br />
LETRAMENTO LITERÁRIO<br />
Mitizi Gomes<br />
O letramento literário concentra em si mais do que ler obras literárias<br />
por fruição, uma vez que essa ação po<strong>de</strong> ser realizada sem a<br />
interferência da escola. Contudo, apren<strong>de</strong>r a ler a literatura com olhos<br />
críticos, apren<strong>de</strong>r a ver o texto literário como um trabalho artístico com<br />
a linguagem, requer mais do que o entendimento da história lida: antes,<br />
porém, requer que se aprenda a perceber que este trabalho com a<br />
linguagem vai além <strong>de</strong> seu uso apenas para a comunicação, pois o<br />
escritor trabalha o material para transformá-lo em arte. Nessa<br />
perspectiva, po<strong>de</strong>-se afirmar que o trabalho <strong>de</strong> letramento literário tem<br />
seu início nas primeiras séries escolares, para que a criança seja inserida<br />
no mundo da linguagem como arte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> seu primeiro contato com o<br />
mundo letrado <strong>de</strong> forma sistematizada. Ao avaliarmos o livro infantil<br />
contemporâneo, <strong>de</strong>vemos consi<strong>de</strong>rar, para além do texto escrito, a<br />
linguagem visual que o compõe, já que nesta literatura específica as<br />
duas linguagens andam lado e lado e são, ou <strong>de</strong>veriam ser,<br />
complementares. Assim, o papel do professor <strong>de</strong>ve ser o <strong>de</strong><br />
incentivador da leitura e, mais ainda, o <strong>de</strong> indivíduo que trabalha o<br />
olhar da criança sobre a literatura, na perspectiva <strong>de</strong> formar o leitor<br />
crítico e conhecedor da arte da linguagem. Não <strong>de</strong>ve, contudo,<br />
prescindir da imagem, já que ambas as linguagens vêm ligadas <strong>de</strong><br />
forma indissociável no livro infantil. O presente estudo utiliza como<br />
referencial teórico os Estudos <strong>de</strong> Tradução e a Literatura Comparada.<br />
407
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL:<br />
PROBLEMATIZANDO LEITURA, ESCRITA E MEDIAÇÃO<br />
Moema Karla Oliveira Santanna<br />
Cátia De Azevedo Fronza<br />
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, leitura e escrita<br />
O trabalho a ser apresentado tem por base Santanna (2011), que<br />
investiga e analisa dados <strong>de</strong> ensino-aprendizagem <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa (LP) por alunos com Deficiência Intelectual (DI), em um<br />
contexto <strong>de</strong> uma APAE - Educadora, com uma turma <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> <strong>de</strong><br />
Jovens e Adultos (EJA), a fim <strong>de</strong> apontar em que medida a<br />
mediação/colaboração entre pares mais experientes contribui para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da linguagem. Para tanto, problematizam-se<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> escrita propostas/<strong>de</strong>senvolvidas aos/pelos<br />
educandos em aulas <strong>de</strong> LP. O corpus constitui-se dos Planos <strong>de</strong> Estudo<br />
<strong>de</strong> LP que orientam o trabalho no que se refere ao ensinoaprendizagem<br />
da referida disciplina, <strong>de</strong> registros feitos em diário <strong>de</strong><br />
campo durante observações <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> LP, além <strong>de</strong> gravação em ví<strong>de</strong>o<br />
<strong>de</strong> uma aula <strong>de</strong> língua materna (LM). Foram adotados pressupostos da<br />
teoria sócio-histórica <strong>de</strong> Vigostki (2007), principalmente no que se<br />
refere aos conceitos <strong>de</strong> nível <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento real (NDR), nível <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento potencial (NDP) e zona <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento proximal<br />
(ZDP). Além disso, estabelecem-se relações com estudos sobre o<br />
letramento, trazendo Kleiman (2000, 2005), Street (1984), Tfouni<br />
(2006), Rojo (2009), entre outros autores, aliados a indicações dos<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais <strong>de</strong> LP (MEC, 1997). Uma vez que<br />
esta pesquisa também discute aspectos relacionados à inclusão sob a<br />
perspectiva dos Estudos Culturais, problematizando o que se enten<strong>de</strong><br />
por <strong>de</strong>ficiência e por diferenças quanto à DI em contextos <strong>de</strong> ensino<br />
regular/especial, os resultados das análises indicam que a <strong>de</strong>ficiência<br />
não compromete o aprendizado da LP/<strong>de</strong>senvolvimento da linguagem,<br />
em relação ao que é proposto, principalmente quando tensionada a<br />
ZDP.<br />
LETRAMENTO E EMANCIPAÇÃO HUMANA: A PROPOSTA<br />
CONTRA-HEGEMÔNICA DA EDUCAÇÃO POPULAR<br />
Priscila Monteiro Chaves<br />
Cristiano Gue<strong>de</strong>s Pinheiro<br />
Palavras-chave: letramento; emancipação humana; <strong>Educação</strong> Popular.<br />
408
Resumo dos Trabalhos<br />
Para que serve o acesso a um código ofertado pelo sistema educacional<br />
– mais ainda, quando público -, se não for para lutar contra a<br />
alienação? (MÉZAROS, 2008). Qual é o sentido em se pensar em uma<br />
pedagogia da escrita hoje para as classes menos favorecidas? Sabendo<br />
que o acesso ao mundo da escrita vem significando para as camadas<br />
populares a <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong> uma habilida<strong>de</strong> quase mecânica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>codificação/codificação, isto é ao povo permite-se que aprenda a ler e<br />
não que se torne <strong>de</strong> fato leitor (SOARES, 2000); o presente trabalho<br />
objetiva (re)pensar a proposta <strong>de</strong> letramento à luz dos fundamentos das<br />
<strong>Educação</strong> Popular. A fim <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r a necessida<strong>de</strong> do<br />
protagonismo popular efetivo no que compete a tal processo/<strong>aqui</strong>sição,<br />
sem tomar a lectoescrita como fetiche, como entida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida própria.<br />
Pois assim, torna-se obsoleto que esta apenas tem sentido quando<br />
respon<strong>de</strong> a necessida<strong>de</strong>s coletivas concretas e <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> impor<br />
universos fechados arbitrariamente imposto. Para tanto, e a fim <strong>de</strong><br />
pensar o letramento como prática libertadora, realizar-se-á uma<br />
pesquisa bibliográfica, <strong>de</strong> cunho filosófico, pon<strong>de</strong>rando as<br />
contribuições à formação do leitor dos seguintes conceitos:<br />
emancipação humana (ADORNO, 1985, 1995), invasão cultural<br />
(FREIRE, 2005), alienação (MARX, 1844, 1857) e menorida<strong>de</strong><br />
(KANT, 1974).<br />
'NÓS PEGA O PEIXE': UMA ANÁLISE VISUAL DA CIÊNCIA<br />
LINGUÍSTICA NA MÍDIA<br />
Raquel Bevilaqua<br />
Palavras-chave: análise visual; construção <strong>de</strong> sentidos;<br />
multiletramentos.<br />
Nas últimas décadas, temos observado uma intensa e vívida celebração<br />
da imagem enquanto um modo semiótico <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> sentidos na<br />
comunicação humana. Esta ‘virada’ semiótica tem provocado um<br />
<strong>de</strong>slocamento do foco <strong>de</strong> atenção, até então centrado quase que<br />
exclusivamente sobre o modo da escrita, para outros sistemas<br />
semióticos, <strong>de</strong>ntre eles, a imagem. Entretanto, carecemos <strong>de</strong> pesquisas e<br />
trabalhos que busquem enten<strong>de</strong>r os efeitos <strong>de</strong>ssa reconfiguração na<br />
comunicação humana, principalmente no que tange às práticas <strong>de</strong><br />
multiletramentos. Consi<strong>de</strong>rando isso, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é<br />
analisar a maneira como são construídos os sentidos por meio <strong>de</strong><br />
imagens. Para tanto, nosso corpus <strong>de</strong> análise é constituído <strong>de</strong> três<br />
imagens <strong>de</strong> uma notícia e <strong>de</strong> uma reportagem publicadas nas revistas<br />
Veja e Istoé, em maio <strong>de</strong> 2011, acerca da polêmica do livro didático<br />
409
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
distribuído pelo MEC. Nosso referencial teórico e analítico está<br />
baseado nos princípios <strong>de</strong> análise da Gramática Visual (KRESS &<br />
VAN LEEWEN, 2006) e também leva em consi<strong>de</strong>ração as discussões<br />
sobre multiletramentos realizadas por CAZDEN; COPE,<br />
FAIRCLOUGH, GEE et al. (1996); KRESS (1997); LEMKE (1998a,<br />
1998b, 2006); VAN LEEWEN (2008). Analisar os diferentes<br />
mecanismos <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> sentidos na mídia por meio <strong>de</strong> imagens é<br />
<strong>de</strong>veras importante para que possamos lidar, <strong>de</strong> maneira mais<br />
significativa, com os diferentes textos, verbais e não verbais, que nos<br />
ro<strong>de</strong>iam cotidianamente e que, consequentemente, compõem o universo<br />
escolar em que atuamos.<br />
O USO DA LINGUAGEM VERBAL NA INTERAÇÃO ENTRE<br />
OS PROFISSIONAIS E OS USUÁRIOS DE UMA BIBLIOTECA<br />
Raquel Do Prado Fontoura Prietsch<br />
Palavras-chave: Sociolinguística Interacional; interação verbal;<br />
linguagem; biblioteca.<br />
O presente trabalho tem como objeto <strong>de</strong> estudo a interação verbal<br />
ocorrida entre os profissionais e os usuários da biblioteca <strong>de</strong> uma<br />
escola da re<strong>de</strong> municipal <strong>de</strong> ensino da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas/RS.<br />
Preten<strong>de</strong>mos levantar o perfil <strong>de</strong>stes profissionais, bem como<br />
i<strong>de</strong>ntificar estratégias comunicativas empregadas por eles para<br />
interagirem face a face com os usuários da biblioteca. A<br />
fundamentação teórica da pesquisa centra-se na Sociolinguística<br />
Interacional (GOFFMAN, 1964; GUMPERZ, 1982) e integram-se, a<br />
essa corrente, conceitos da Biblioteconomia (GROGAN, 2001;<br />
HUTCHINS, 1973). Quanto à metodologia, essa pesquisa adota o<br />
método qualitativo e caracteriza-se como um estudo <strong>de</strong> caso. Para a<br />
coleta <strong>de</strong> dados, foram utilizados dois instrumentos <strong>de</strong> pesquisa:<br />
questionário e gravações das falas (interações) dos profissionais da<br />
biblioteca. A análise dos dados é feita <strong>de</strong> maneira interpretativa, <strong>de</strong><br />
acordo com a abordagem metodológica assumida, e visa investigar<br />
como a linguagem é utilizada pelos profissionais da biblioteca durante<br />
a interação com os usuários. Os resultados parciais nos permitem<br />
constatar que os profissionais da biblioteca são funcionários nomeados<br />
por concurso público para o cargo <strong>de</strong> agente/oficial administrativo e,<br />
<strong>de</strong>ntre as estratégias comunicativas utilizadas por eles, se sobressaem a<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> memorização e a recuperação da linguagem do usuário.<br />
410
Resumo dos Trabalhos<br />
MÍDIA E EDUCAÇÃO: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS<br />
EM SALA DE AULA<br />
Sabrine Denardi De Menezes Da Silva<br />
Palavras-chave: Mídias digitais, educação, língua materna.<br />
A socieda<strong>de</strong> da informação oferece diversas formas <strong>de</strong> expressão da<br />
linguagem, seja ela no formato visual, oral ou escrito. Sendo assim,<br />
torna-se fundamental que sejam oferecidas, no ambiente escolar, as<br />
competências necessárias a fim <strong>de</strong> que os alunos consigam<br />
compreen<strong>de</strong>r a informação, fazer uma análise crítica frente a ela, bem<br />
como produzir novas formas <strong>de</strong> comunicação. No que se refere à<br />
educação, a mídia sempre esteve presente, porém muitas vezes sofreu<br />
resistência quanto a sua aplicação efetiva no processo <strong>de</strong> ensino. Porém,<br />
não se po<strong>de</strong> negar o gran<strong>de</strong> impacto causado pela facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acesso<br />
as tecnologias digitais no ensino tradicional. É pertinente refletir sobre<br />
o uso das mídias digitais no papel <strong>de</strong> facilitadora do processo <strong>de</strong> ensino,<br />
auxiliando o professor, aproximando-o da realida<strong>de</strong> vivida pelo aluno.<br />
Não levar em consi<strong>de</strong>ração as vantagens que o uso das tecnologias <strong>de</strong><br />
informação po<strong>de</strong>m proporcionar ao aluno, é isolar a escola do mundo<br />
em que estamos inseridos, ficando assim difícil para o discente<br />
estabelecer uma ligação entre a teoria e a prática que ele vivencia. A<br />
partir <strong>de</strong>sta constatação, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é apresentar <strong>de</strong> forma<br />
prática o que po<strong>de</strong> ser feito para introduzir as mais diversas formas <strong>de</strong><br />
mídias digitais nas aulas <strong>de</strong> Língua Portuguesa, visando o ensino<br />
baseado nas práticas sociais <strong>de</strong> leitura e escrita, com vistas a formação<br />
<strong>de</strong> um leitor eficiente, que compreenda criticamente as realida<strong>de</strong>s<br />
sociais e nelas aja, efetivamente.<br />
PRÁTICAS SOCIAIS DE LETRAMENTO NUM ESPAÇO<br />
MULTILINGUE- UMA RESERVA INDÍGENA E TRÊS<br />
LÍNGUAS<br />
Sandra Espindola<br />
Palavras-chave: Letramento. Ensino. Escola Indígena.<br />
Preten<strong>de</strong>-se nesse trabalho apresentar uma situação peculiar do que<br />
ocorre no ensino formal brasileiro, no que diz respeito ao processo <strong>de</strong><br />
<strong>aqui</strong>sição das práticas sociais <strong>de</strong> letramento por parte das crianças <strong>de</strong><br />
uma Reserva Indígena em Dourados/MS num contexto <strong>de</strong><br />
multilinguismo. O acesso ao sistema letrado que se espera como<br />
411
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
satisfatório para o 5o ano do Ensino Fundamental proposto nos PCNs<br />
da língua portuguesa se situa muito aquém do que apregoa esse<br />
documento e até mesmo do RCNEI (Referenciais Curriculares<br />
Nacionais para a Escola Indígena)–documento que rege as diretrizes<br />
educacionais para o ensino nessas comunida<strong>de</strong>s. A partir dos conceitos<br />
<strong>de</strong> letramento/multiletramento propostos por Rojo (2009),<br />
Kleiman(1995), Soares(2001;2004), Street (2007), preten<strong>de</strong>-se enfocar<br />
o resultado do processo <strong>de</strong> letramento no final do processo <strong>de</strong><br />
alfabetização – seus percalços e conquistas (ou não) na <strong>aqui</strong>sição <strong>de</strong>sse<br />
letramento em português. Para isso, serão utilizados dados <strong>de</strong> um<br />
questionário do qual se apreen<strong>de</strong> as práticas <strong>de</strong> leitura e escrita das<br />
crianças <strong>de</strong>ntro e fora da escola, além <strong>de</strong> textos produzidos em sala <strong>de</strong><br />
aula. Como, na fala <strong>de</strong> Soares (2001), não há como conceituar<br />
letramento sem levar em conta questões contextuais, sociais, culturais e<br />
políticas <strong>de</strong>sse contexto, alguns apontamentos acerca da cultura, do<br />
funcionamento das escolas, da formação dos professores, bem como<br />
metodologias <strong>de</strong> trabalho observadas serão trazidas no intuito <strong>de</strong><br />
organizador melhor o olhar sobre esse recorte.<br />
PRÁTICAS DE LETRAMENTO PEDAGÓGICO NO PIBID:<br />
ANÁLISE DA TRAVESSIA DE PROFESSORES EM<br />
FORMAÇÃO<br />
Silvania Faccin Colaço<br />
Adriana Fischer<br />
Palavras-chave: letramentos; práticas pedagógicas; PIBID.<br />
Os discursos dos professores em formação po<strong>de</strong>m revelar muito <strong>de</strong> sua<br />
transformação <strong>de</strong> aluno em professor. Assim, este trabalho tem o<br />
objetivo <strong>de</strong> analisar a fala <strong>de</strong> um aluno do PIBID (Programa<br />
Institucional <strong>de</strong> Bolsas <strong>de</strong> Iniciação à Docência), <strong>de</strong> um Curso <strong>de</strong><br />
Ciências Biológicas, a fim <strong>de</strong> verificar as marcas discursivas que<br />
<strong>de</strong>monstram sua transformação nas práticas pedagógicas. A pesquisa é<br />
qualitativa, <strong>de</strong> abordagem etnográfica e traz resultados <strong>de</strong> entrevista<br />
semiestruturada e diário <strong>de</strong> prática pedagógica. A base teórica encontra<br />
aporte nos Novos Estudos do Letramento (GEE, 2001, 2004; STREET,<br />
1995, 2010, 2012), numa concepção sociocultural e no reconhecimento<br />
<strong>de</strong> múltiplos letramentos, <strong>de</strong> acordo com as relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cada<br />
contexto situado, pois os modos <strong>de</strong> agir são revelados pelos Discursos,<br />
com D maiúsculo e no plural (GEE, 2001), que são as formas <strong>de</strong> ser no<br />
mundo, produto social e histórico, constituindo a linguagem. Os<br />
412
Resumo dos Trabalhos<br />
resultados preliminares mostram que a interação na sala <strong>de</strong> aula da<br />
<strong>Educação</strong> Básica possibilita a constituição da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> profissional na<br />
travessia do ser aluno para ser professor. Portanto, esses resultados<br />
apontam para a necessida<strong>de</strong> e relevância <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
professores contribuírem para a inserção <strong>de</strong> seus acadêmicos em<br />
práticas pedagógicas e significativas <strong>de</strong> letramento, ao longo do curso, a<br />
fim <strong>de</strong> que se assumam membros efetivos e críticos em diferentes<br />
letramentos <strong>de</strong> natureza acadêmica e profissional.<br />
COGNISFERA, ENSINO E APRENDIZAGEM: LETRAMENTOS<br />
NA ERA COMPUTACIONAL<br />
Silvia Regina Gomes Miho (Ufgd)<br />
Palavras-chave: letramento digital crítico, linguagens , cognisfera.<br />
Questões relativas às transformações em curso nas socieda<strong>de</strong>s<br />
contemporâneas estão visceralmente ligadas aos modos como o<br />
conhecimento e a informação são buscados, armazenados e<br />
distribuídos e , também à velocida<strong>de</strong> e abrangência alcançadas por essa<br />
circulação <strong>de</strong> bens culturais. A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se pensar a respeito do<br />
papel <strong>de</strong>sempenhado pelas linguagem(s) em tal processo social levanos<br />
a explorar áreas <strong>de</strong> conhecimento interdisciplinarmente, buscando<br />
conectar pontos que anteriormente pareciam distantes e disconexos: a<br />
filosofia da linguagem, a crítica literária , a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensinar língua<br />
estrangeira (inglês) e suas literaturas e as tecnologias <strong>de</strong> informação.<br />
Interessa-nos examinar a <strong>de</strong>pendência do suporte tecnológico que se<br />
<strong>de</strong>senvolve no processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem <strong>de</strong> modo geral e,<br />
mais especificamente, a educação linguística e o letramento literário.<br />
Quais são as possibilida<strong>de</strong>s e as habilida<strong>de</strong>s a serem exploradas e<br />
quais são os resultados esperados e obtidos? Usar a tecnologia como<br />
instrumento ou, pela falta <strong>de</strong> criticida<strong>de</strong>, tornar-se instrumento <strong>de</strong>la? Ao<br />
tratar das relações entre educação, arte e tecnologias, duas tendências<br />
principais po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>lineadas: a primeira reflete sobre questões mais<br />
generalizantes, <strong>de</strong> cunho filosófico ou pedagógico, tradicionalmente<br />
ligada ao conhecimento humanístico; a segunda procura examinar mais<br />
<strong>de</strong>talahadamente as relações vitais entre máquina e homem neste<br />
processo histórico, político e existencial característico da socieda<strong>de</strong> da<br />
informação. A aproximação <strong>de</strong>stas duas tendências torna-se crucial<br />
para que os processos <strong>de</strong> letramento digital crítico sejam discutidos <strong>de</strong><br />
maneira abrangente.<br />
413
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
LETRAMENTOS VISUAIS EM PROPOSTAS DE LEITURA DE<br />
UM LIVRO DIDÁTICO DO 1O ANO DO ENSINO<br />
FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE, MUITAS POSSIBILIDADES<br />
Trícia Tamara Boeira Do Amaral<br />
Palavras-chave: alfabetização; letramento visual; livro didático.<br />
Este trabalho é parte <strong>de</strong> um estudo maior, cujo objetivo principal era<br />
i<strong>de</strong>ntificar como as imagens são abordadas em propostas <strong>de</strong> leituras <strong>de</strong><br />
textos presentes no livro didático (LD) Português: Linguagens –<br />
Letramento e Alfabetização – 1º ano, <strong>de</strong> Cereja e Magalhães (2010),<br />
aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/ 2010).<br />
Apresenta-se a análise <strong>de</strong> um dos capítulos do livro, mais<br />
especificamente o primeiro, da primeira unida<strong>de</strong>. As observações foram<br />
realizadas a partir <strong>de</strong> uma pesquisa qualitativa (BAUER e GASKELL,<br />
2002), em que o LD é analisado por meio <strong>de</strong> uma epistemologia<br />
interpretativa (SOARES, 2006). Dentre os principais aportes teóricos<br />
utilizados estão a teoria dos letramentos sob uma perspectiva<br />
sociocultural (GEE, 2001; STREET, 2003, FISCHER, 2007) e a teoria<br />
da Sintaxe da Linguagem Visual (DONDIS, 2007). Foram estabelecidas<br />
três categorias <strong>de</strong> análise para os textos imagéticos – textos imagéticocompositivos,<br />
textos imagético-ilustrativos e textos imagético<strong>de</strong>corativos<br />
–, e três para as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura – ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura<br />
do texto imagético, ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>codificação do texto imagético e<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> não leitura do texto imagético. Especificamente no<br />
capítulo em questão, as análises evi<strong>de</strong>nciam uma preocupação com a<br />
leitura <strong>de</strong> imagens. Também, <strong>de</strong>monstram que as propostas envolvem<br />
os letramentos visuais, embora ainda apareçam, por exemplo, textos<br />
imagéticos <strong>de</strong>scontextualizados e sem relação com os textos verbais. A<br />
partir <strong>de</strong>ste recorte proposto, espera-se po<strong>de</strong>r contribuir com o processo<br />
<strong>de</strong> ensino-aprendizagem, bem como fornecer dados que possam ser<br />
relevantes à reflexão<strong>de</strong> como abordar e promover a leitura <strong>de</strong> imagens<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> as séries iniciais.<br />
OS DESAFIOS DO LETRAMENTO DIGITAL NA FORMAÇÃO<br />
DE PROFESSORES DE LINGUAGENS<br />
Valeria Iensen Bortoluzzi<br />
Adriana Macedo Nadal Maciel<br />
Palavras-chave: Letramento digital; formação docente; habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
leitura e escrita.<br />
414
Resumo dos Trabalhos<br />
Em tempos <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> Tecnologias <strong>de</strong> Informação e Comunicação para<br />
todos os fins e a todo o momento, o professor vê-se diante da<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> repensar seu papel <strong>de</strong> agente educacional para dar conta<br />
<strong>de</strong> um outro tipo <strong>de</strong> aluno, que interagem com as tecnologias <strong>de</strong> forma<br />
natural. Tendo essa necessida<strong>de</strong> em consi<strong>de</strong>ração, o curso <strong>de</strong> Letras da<br />
UNIFRA oferece uma disciplina <strong>de</strong> Estágio Curricular Supervisionado,<br />
que tem por finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver nos professores em formação o<br />
letramento digital, além <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong>ssas ações <strong>de</strong><br />
letramento na escola. Com o presente trabalho, então, temos por<br />
objetivo discutir os <strong>de</strong>safios enfrentados nessa disciplina para o<br />
letramento digital e a formação docente. Em relação ao letramento<br />
digital, o maior <strong>de</strong>safio é o <strong>de</strong> fazer os alunos compreen<strong>de</strong>rem que as<br />
ferramentas digitais exigem, cada uma, um conjunto específico <strong>de</strong><br />
habilida<strong>de</strong>s (SOARES, 2002) e que é esse conjunto <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s que<br />
precisa ser aprendido e não a ferramenta em si. Quanto à formação<br />
docente e sua relação com o letramento digital, o <strong>de</strong>safio é fazer os<br />
alunos utilizarem as ferramentas tecnológicas <strong>de</strong> um modo<br />
diferenciado, aproveitando o potencial <strong>de</strong> letramento <strong>de</strong> cada uma.<br />
Referência SOARES, Magda. Novas práticas <strong>de</strong> leitura e escrita:<br />
letramento na cibercultura. <strong>Educação</strong> e Socieda<strong>de</strong>. Vol. 23, n. 81,<br />
Campinas, SP: EdUNICAMP, 2002. pp 143-160."<br />
O LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE SURDOS<br />
UNIVERSITÁRIOS: REFLEXÕES A PARTIR DE UM CURSO<br />
EM AMBIENTE DIGITAL<br />
Vanessa De Oliveira Dagostim Pires<br />
O presente trabalho apresenta reflexões a respeito do letramento<br />
acadêmico <strong>de</strong> estudantes surdos, e o histórico <strong>de</strong> aprendizagem e uso<br />
da Libras por eles, sendo um recorte <strong>de</strong> projeto <strong>de</strong> tese <strong>de</strong> doutorado<br />
em Linguística Aplicada em andamento. Os dados analisados foram<br />
gerados em um curso intitulado “A escrita acadêmica para surdos<br />
universitários (I)”, <strong>de</strong>senvolvido em um ambiente virtual <strong>de</strong><br />
aprendizagem. Este foi constituído por um conjunto <strong>de</strong> oficinas<br />
didáticas que procurou oferecer subsídios para os alunos<br />
<strong>de</strong>senvolverem sua proficiência em LP na modalida<strong>de</strong> escrita, através<br />
<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s relativas à leitura, interpretação <strong>de</strong> texto, produção<br />
textual e exercícios gramaticais. O curso foi oferecido gratuitamente<br />
através da plataforma Moodle da Unisinos a 15 universitários surdos,<br />
415
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
usuários <strong>de</strong> Libras, <strong>de</strong> diferentes instituições <strong>de</strong> ensino, no segundo<br />
semestre <strong>de</strong> 2011. Partiu-se da concepção <strong>de</strong> letramento como uma<br />
noção plural, múltipla (STREET, 1995 e ROJO, 2004); neste sentido,<br />
enten<strong>de</strong>mos o letramento como uma prática social capaz <strong>de</strong> mudar o<br />
lugar social, o modo <strong>de</strong> viver na socieda<strong>de</strong> e a inserção cultural<br />
daquele que se apropria <strong>de</strong>le (cf. SOARES, 1998). Ao compreen<strong>de</strong>r a<br />
história <strong>de</strong> letramento percorrida pelos estudantes e o papel da Libras<br />
neste contexto, é possível concluir que uso da Libras aliado a práticas<br />
<strong>de</strong> letramento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cedo, auxiliam no <strong>de</strong>senvolvimento linguístico do<br />
indivíduo surdo, assim como na aprendizagem da LP escrita.<br />
EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS: UM DESAFIO EM<br />
TEMPOS DE INCLUSÃO<br />
Vânia Elizabeth Chiella<br />
Palavras-chave: Inclusão escolar; cultura/diferença; bilinguismo.<br />
O presente trabalho tem por objetivo problematizar questões sobre o<br />
ensino/aprendizagem da língua portuguesa, na educação <strong>de</strong> surdos,<br />
chamando atenção à abordagem bilíngue e à necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
(re)planejamentos no cotidiano escolar. Na contemporaneida<strong>de</strong>,<br />
estamos acompanhando rápidas modificações globais e sociais. Neste<br />
sentido, passamos a dar visibilida<strong>de</strong> a grupos <strong>de</strong> sujeitos, que, vítimas<br />
da estrutura da socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas épocas históricas, estiveram<br />
excluídos do processo social. É fundamental a compreensão <strong>de</strong> que a<br />
humanida<strong>de</strong> está em <strong>de</strong>senvolvimento, e, com esse entendimento,<br />
afastamos a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que, com essas colocações, temos a intenção <strong>de</strong><br />
atribuir um julgamento e/ou fazer acusações; muito pelo contrário,<br />
estamos propondo uma reflexão sobre o cenário atual como<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> construir caminhos para pensar uma política<br />
linguística para minorias, sejam elas <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s surdas, contextos<br />
<strong>de</strong> fronteiras, comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> imigrantes ou comunida<strong>de</strong>s indígenas.<br />
Assim, o reconhecimento dos sujeitos surdos como sujeitos culturais é<br />
atual. Esse movimento ganhou visibilida<strong>de</strong> com o advento do processo<br />
<strong>de</strong> globalização aliado ao cenário atual dos Direitos Humanos, no qual<br />
está pautada a condição <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> como condição humana,<br />
compreendida neste trabalho pelo viés da diferença. São, portanto, no<br />
nosso entendimento, as condições <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s do momento<br />
histórico que vivemos que propiciam estas discussões. Embora se<br />
possa afirmar que há avanços, tanto nas discussões sobre questões tão<br />
caras aos surdos, como as línguas <strong>de</strong> sinais e a educação <strong>de</strong> surdos num<br />
416
Resumo dos Trabalhos<br />
ambiente bilíngue, este processo ainda é frágil. Enten<strong>de</strong>mos que a<br />
mudança tenha que ser feita para muito além da implantação da<br />
LIBRAS nas escolas, passo legal, necessário, que oportunizou<br />
avanços, mas também oportunizou afirmativas duvidosas, como o<br />
entendimento simplificado <strong>de</strong> que há bilinguismo quando o que temos<br />
é apenas a situação <strong>de</strong> duas línguas estarem envolvidas nas escolas, no<br />
caso, a Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais (LIBRAS) e a língua oral (Língua<br />
Portuguesa).<br />
CADÊ O LIVRO QUE ESTAVA AQUI?<br />
Vera Wannmacher Pereira<br />
Palavras-chave: letramento; competência em leitura; livro<br />
A análise do tema “letramento e competência em leitura” requer o<br />
estabelecimento <strong>de</strong> <strong>de</strong>finição do vocábulo letramento. Diferenciando-se<br />
<strong>de</strong> alfabetização, letramento po<strong>de</strong> ser compreendido como o processo<br />
<strong>de</strong> acesso a materiais escritos, o que o situa na continuida<strong>de</strong> do viver.<br />
Consi<strong>de</strong>rando os estudos sobre gêneros textuais, o letramento vem se<br />
caracterizando como o convívio com o texto em suas diversas formas<br />
<strong>de</strong> manifestação social, como por exemplo, lista <strong>de</strong> compra, receita,<br />
propaganda, bula <strong>de</strong> remédio, poema, crônica, fábula, outdoor,<br />
encartes, etc. É bem verda<strong>de</strong> que o convívio com essas manifestações<br />
po<strong>de</strong> contribuir para o letramento, dando-se ao longo da vida dos<br />
leitores. No entanto, há um <strong>de</strong>sses gêneros que, por sua extensivida<strong>de</strong>,<br />
profundida<strong>de</strong>, relevãncia no tratamento do tópico eleito, exige do leitor,<br />
por espaços <strong>de</strong> tempo longos, movimentos cognitivos complexos. Esse<br />
é o livro. Do convívio familiar e escolar continuado foi parar <strong>aqui</strong> e<br />
acolá, por razões diversas, fazendo com que seu valor tenha se diluído,<br />
os leitores potenciais não saibam estabelecer diferenças entre eles, a<br />
socieda<strong>de</strong> não o consi<strong>de</strong>re como um presente significativo e a escola<br />
não saiba como orientar seus alunos a respeito <strong>de</strong> sua escolha e uso.<br />
Nesta comunicação, o objetivo é examinar esse material <strong>de</strong> leitura<br />
como uma possível chave para a solução do problema “letramento e<br />
competência em leitura”.<br />
AS PRÁTICAS LEITORAS DE ACADÊMICAS DE PEDAGOGIA<br />
Veronice Camargo Da Silva<br />
Palavras-chave: Práticas leitoras; letramento acadêmico;<br />
aluno/professor<br />
417
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A realização do presente trabalho, no contexto acadêmico universitário,<br />
é parte <strong>de</strong> uma pesquisa maior, em nível <strong>de</strong> doutorado (2011-2015)<br />
realizado com alunas <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> Pedagogia, <strong>de</strong> uma Universida<strong>de</strong><br />
particular em que a autora atua como professora. A escolha da temática<br />
proposta neste trabalho traz como objetivo geral constatar como e se as<br />
abordagens teórico-metodológicas em disciplinas do 5º semestre do<br />
curso <strong>de</strong> Pedagogia , por meio <strong>de</strong> práticas leitoras, po<strong>de</strong>rão (ou não)<br />
dar suporte, na voz das alunas, à atuação docente no período <strong>de</strong> estágio<br />
aluno/professor do referido curso . O letramento como prática social é o<br />
foco teórico que direciona as discussões e análises dos resultados, com<br />
apoio da perspectiva sociocultural dos Novos Estudos do Letramen¬to<br />
(GEE, 2001, LEA; STREET, 2006). A presente pesquisa adota uma<br />
abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando a pesquisa <strong>de</strong> campo<br />
do tipo etnográfica (ANDRÉ, 2003). Para melhor discussão dos<br />
resultados foram selecionadas duas acadêmicas com características<br />
diferentes: uma acadêmica que não tem experiência com a docência e<br />
outra que já teve a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> trabalhar com crianças dos anos<br />
iniciais. Justifica-se a temática escolhida, na medida em que as<br />
acadêmicas estão na meta<strong>de</strong> do curso, e todas as disciplinas do<br />
semestre voltam-se para o mesmo foco, ou seja, procuram aliar teoria<br />
e prática docente com o objetivo <strong>de</strong> prepará-las para o trabalho <strong>de</strong> sala<br />
<strong>de</strong> aula, quando começam, então, os estágios. Os resultados parciais<br />
<strong>de</strong>sse estudo evi<strong>de</strong>nciam a existência <strong>de</strong> disciplinas no curso <strong>de</strong><br />
Pedagogia que contemplam as diferentes práticas leitoras relacionados<br />
aos letramentos acadêmicos que, supostamente, po<strong>de</strong>m constituir a<br />
prática docente do aluno/professor.<br />
SURDOS E LÍNGUA PORTUGUESA: CONCEITOS E<br />
DESAFIOS DESTA RELAÇÃO EM CONSTRUÇÃO<br />
Viana, Joseane Maciel<br />
Este artigo aborda a educação <strong>de</strong> surdos no Brasil, mas foca suas<br />
análises no ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa (LP) em Pelotas, no sul do<br />
estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. Foi traçado <strong>aqui</strong> um panorama sobre a<br />
realida<strong>de</strong> observada nesta cida<strong>de</strong>, registrando avanços e déficits que<br />
ainda se apresentam, sendo estes relacionados e problematizados com a<br />
experiência <strong>de</strong> tradutora intérprete da LIBRAS e professora <strong>de</strong><br />
Português e Inglês. Toda esta reflexão teve o objetivo <strong>de</strong> embasar<br />
construções teóricas na área da Linguística Aplicada ao ensino <strong>de</strong><br />
418
Resumo dos Trabalhos<br />
segunda língua para surdos. Antunes (2003 e 2007) e outros nomes da<br />
área contribuem para avaliar o ensino <strong>de</strong> Português em escolas<br />
inclusivas e especiais, porém, certos conceitos <strong>de</strong>senvolvidos por esta<br />
autora foram adaptados para o ensino <strong>de</strong> alunos surdos. Também<br />
auxiliaram neste estudo alguns autores da área dos Estudos Surdos<br />
como Audrei (2009) e Lacerda e Lodi (2009), trazendo fundamentos<br />
para uma educação bilíngue <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> e <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo a fluência em<br />
Língua <strong>de</strong> Sinais pelos professores <strong>de</strong> LP. Sobretudo, a i<strong>de</strong>ia<br />
apresentada e <strong>de</strong>fendida através <strong>de</strong> argumentos teóricos,<br />
fundamentados nesta área <strong>de</strong> estudos é que, se a LP é a segunda língua<br />
da comunida<strong>de</strong> surda brasileira legalmente, assim ela <strong>de</strong>ve ser<br />
ensinada.<br />
PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE SURDOS<br />
NA PERSPECTIVA BILÍNGUE.<br />
Vinicius Martins Flores<br />
Palavras-Chave: Planejamento; Libras; Bilinguismo.<br />
O presente trabalho apresenta uma análise, que se originou a partir <strong>de</strong><br />
um estudo bibliográfico e observação das práticas <strong>de</strong> ensino dos<br />
discentes <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> extensão universitária <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
professores para o ensino <strong>de</strong> surdos. Foi realizada a observação do<br />
período <strong>de</strong> estágio, sendo que os professores estagiários cumprem um<br />
período <strong>de</strong> <strong>de</strong>z horas <strong>de</strong> observação, <strong>de</strong>z horas <strong>de</strong> planejamento<br />
orientado e vinte horas <strong>de</strong> prática em escolas inclusivas e/ou para<br />
surdos no Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, nas séries iniciais do Ensino<br />
Fundamental. O objetivo do estudo foi <strong>de</strong> apontar e reafirmar o<br />
processo bilíngue dos materiais didáticos, bem como saber <strong>de</strong> que<br />
forma os professores estagiários os perceberam durante o processo <strong>de</strong><br />
ensino-aprendizagem nas suas práticas. Sendo a disciplina <strong>de</strong> Didática<br />
e Tradução proposta pelo curso <strong>de</strong> formação que fornece a base para o<br />
planejamento, pensando no espaço bilíngue e o uso <strong>de</strong> materiais nas<br />
suas diferentes formas, os quais po<strong>de</strong>m ser: material didático em<br />
Libras; ou uso <strong>de</strong> Intérprete <strong>de</strong> Libras; ou via Youtube e mais<br />
comumente por meio do próprio professor. A partir <strong>de</strong>ssa análise e dos<br />
levantamentos bibliográficos, percebe-se a importância do docente<br />
ouvinte conhecer o bilinguismo em suas formas para po<strong>de</strong>r utilizar um<br />
material traduzido em sua dinâmica em sala <strong>de</strong> aula e ter um<br />
planejamento que atenda as necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino e seus objetivos.<br />
Como resultado, apresento novos questionamentos sobre o processo <strong>de</strong><br />
formação do professor e a confecção <strong>de</strong> materiais didáticos que<br />
419
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
chegam as escolas para uso dos docentes envolvidos na educação <strong>de</strong><br />
surdos.<br />
O PROCESSO DE LETRAMENTO DIGITAL DOS GESTORES<br />
NO PROJETO @NAVE<br />
Zayra Barbosa Costa<br />
Brena Samyly Sampaio De Paula<br />
O Projeto Apren<strong>de</strong>ndo a Navegar (@NAVE) surgiu em maio <strong>de</strong> 2010 a<br />
partir da parceria do Laboratório <strong>de</strong> Pesquisa Multimeios da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará (UFC) e a Prefeitura do município <strong>de</strong><br />
Hidrolândia-CE, localizado à 245 Km da capital cearense. O projeto<br />
objetivou inclusão sócio-digital da comunida<strong>de</strong> do distrito <strong>de</strong> Irajá,<br />
através da capacitação <strong>de</strong> gestores(pessoas voluntárias das<br />
comunida<strong>de</strong>s) em diferentes temáticas: <strong>Educação</strong> a Distância,<br />
Informática Educativa, Inclusão Digital, Software e Hardware, para<br />
atuarem na gestão e manutenção do Centro Cultural <strong>de</strong> Irajá.Desse<br />
modo, o presente estudo resulta <strong>de</strong> nossa experiência como formadoras<br />
no referido projeto, tendo como intuito verificar como se <strong>de</strong>u o<br />
processo <strong>de</strong> Letramento Digital dos gestores daquele município. Para<br />
tanto, tornou-se necessário recorrer ao conceito <strong>de</strong> inclusão digital. Na<br />
compreensão <strong>de</strong> Almeida (2005), a inclusão digital nos remete a leitura<br />
<strong>de</strong> telas, apertar teclas,utilizar programas computacionais com<br />
interfaces gráficas, dar ou obter resposta do computador.Para Araújo<br />
(2008), letramento digital é a ação <strong>de</strong> interagir, para além <strong>de</strong><br />
interpretar. O sujeito tem a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>, nas práticas <strong>de</strong> leitura e<br />
escrita, além <strong>de</strong> interpretar e repercutir sua interpretação no seu<br />
convívio social, avançar nas práticas interagindo com o texto, on<strong>de</strong> a<br />
interação passa a ser uma intervenção. No percurso metodológico <strong>de</strong>ste<br />
trabalho utilizamos como objeto <strong>de</strong> estudo: os planejamentos,relatórios<br />
<strong>de</strong> viagens, os ví<strong>de</strong>os e falas dos gestores, gravadas em MP, bem como<br />
as ações dos gestores ao longo das formações. A partir da análise dos<br />
dados concluímos que o processo <strong>de</strong> letramento digital dos gestores<br />
ocorreu <strong>de</strong> modo gradativo. Inicialmente através <strong>de</strong> formações para<br />
incluí-los digitalmente e em seguida começamos a trabalhar práticas <strong>de</strong><br />
letramento digital. A partir <strong>de</strong>sta experiência, po<strong>de</strong>mos concluir que os<br />
gestores passaram a incorporar o uso do computador em benefício<br />
pessoal e profissional, inclusive fazendo uso das ferramentas <strong>de</strong><br />
comunicação, a exemplos do correio eletrônico, chats, re<strong>de</strong>s sociais,<br />
além da realização <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s oline e cursos na modalida<strong>de</strong> à<br />
distância.<br />
420
LINHA TEMÁTICA: TECNOLOGIAS E ENSINO: NOVAS<br />
PERSPECTIVAS<br />
CINEMA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O PROCESSO<br />
ENSINO APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA LINGUAGEM<br />
MIDIÁTICA<br />
Adriana Aires Pereira<br />
Maria Cristina Rigão<br />
O Projeto Arte e Cinema no Padre Nóbrega, PACIPEN – usa como<br />
ferramenta didática a arte do Cinema no processo <strong>de</strong> ensinoaprendizagem,<br />
possibilitando o <strong>de</strong>bate inter e transdisciplinar em torno<br />
<strong>de</strong> temáticas atuais apresentadas através <strong>de</strong> filmes e documentários;<br />
além <strong>de</strong> oferecer momentos <strong>de</strong> lazer aos estudantes. O trabalho<br />
<strong>de</strong>senvolvido com alunos <strong>de</strong> 7º a 9º ano, na Escola Municipal <strong>de</strong> Ensino<br />
Fundamental Padre Nóbrega é executado em seis etapas, sendo duas <strong>de</strong><br />
responsabilida<strong>de</strong> dos professores e quatro sob a coor<strong>de</strong>nação dos<br />
professores e execução dos alunos: Seleção dos conteúdos a serem<br />
explorados; seleção e agendamento dos filmes e das propostas <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>; a seção <strong>de</strong> cinema propriamente dita; o <strong>de</strong>senvolvimento dos<br />
trabalhos realizados utilizando as diversas TICs, seleção para posterior<br />
apresentação e divulgação; apresentação em Seminário das ativida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>senvolvidas em sala <strong>de</strong> aula e divulgação em blog específico do<br />
PACIPEN, vinculado ao Blog da Escola. São feitos registros dos<br />
trabalhos em arquivo digital, proporcionando aos estudantes a<br />
ampliação <strong>de</strong> seus horizontes à utilização das mídias como instrumento<br />
<strong>de</strong> transformação do processo ensino aprendizagem no ambiente<br />
escolar, <strong>de</strong>monstrados através <strong>de</strong> leituras e releituras <strong>de</strong> imagens,<br />
produções literárias, análise documental, apresentações eletrônicas,<br />
ví<strong>de</strong>os, filmes e outras formas escolhidas pelos estudantes. O professor<br />
enquanto responsável por um processo ativo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong>ve<br />
estimula nos seus alunos a percepção crítica do mundo que os ro<strong>de</strong>ia. A<br />
utilização das diferentes linguagens como recurso pedagógico po<strong>de</strong><br />
contribuir para ampliação <strong>de</strong> práticas educacionais, incorporando-as aos<br />
processos <strong>de</strong> construção e reconstrução do conhecimento.<br />
421
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
COMUNIDADE VIRTUAL DE PRÁTICA E COMUNIDADE<br />
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS E DIFERENÇAS<br />
Adriane Rodrigues Corrêa<br />
José Eduardo Nunes De Vargas<br />
Luciane Senna Ferreira<br />
Palavras-chave: Comunida<strong>de</strong> Virtual <strong>de</strong> Prática; Comunida<strong>de</strong>s Virtuais<br />
<strong>de</strong> Aprendizagem; Novas Tecnologias da Informação e Comunicação.<br />
O presente artigo aborda o tema dos <strong>de</strong>safios e diferenças entre as<br />
comunida<strong>de</strong>s virtuais <strong>de</strong> prática e comunida<strong>de</strong>s virtuais <strong>de</strong><br />
aprendizagem. Busca-se apontar que tais comunida<strong>de</strong>s possuem<br />
características peculiares que <strong>de</strong>senvolvem, principalmente, a<br />
sociabilida<strong>de</strong> educativa e a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r a partir <strong>de</strong><br />
conhecimentos prévios, com base em experiências e interesses<br />
coletivos, construindo valores <strong>de</strong> troca num processo colaborativo no<br />
ciberespaço. Procura-se também indicar que, com as inovações<br />
tecnológicas da contemporaneida<strong>de</strong>, as formas <strong>de</strong> relacionamento<br />
interpessoal, que antes eram diretas, em lugares geograficamente pré<strong>de</strong>finidos,<br />
ampliaram-se. Atualmente, são poucas as barreiras espaçostemporais,<br />
e as ativida<strong>de</strong>s sociais po<strong>de</strong>m ocorrer à margem <strong>de</strong>sses<br />
limites, principalmente, através das Novas Tecnologias da Informação e<br />
Comunicação.<br />
IMAGEM, SOM E MOVIMENTO: FERRAMENTAS DA<br />
INTERNET COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE<br />
LÍNGUA INGLESA<br />
Alexandre Alves Santos<br />
Jesiel Soares Silva<br />
Este trabalho consiste na discussão <strong>de</strong> quatro ferramentas digitais<br />
pertencentes às novas Tecnologias <strong>de</strong> Informação e Comunicação<br />
(TIC) dispostas gratuitamente na web e nas formas com que elas po<strong>de</strong>m<br />
ser aplicadas nas aulas <strong>de</strong> língua inglesa. O aporte teórico <strong>de</strong>ste<br />
trabalho apoia-se nos construtos acerca do CALL (Computer Assisted<br />
Language Learning), que é o termo em inglês para o Ensino <strong>de</strong> línguas<br />
mediado por computador (ELMC). O CALL ao longo da trajetória do<br />
422
Resumo dos Trabalhos<br />
ensino <strong>de</strong> línguas passou por três fases: behaviorista, comunicativa e<br />
integrativa (WARSCHAUER, 1996). A fase behaviorista se baseava<br />
nas ativida<strong>de</strong>s pré- programadas preparadas pelas instituições <strong>de</strong> ensino<br />
(drills and practice). No fim da década <strong>de</strong> 70, surgiu a fase<br />
comunicativa juntamente com a expansão da abordagem comunicativa.<br />
O CALL integrativo, com o surgimento da Internet e da hipermídia,<br />
trouxe como novida<strong>de</strong> o fato <strong>de</strong> que o texto oral, escrito, a imagem e o<br />
som se tornam integrados. Neste trabalho analisaremos as ferraments:<br />
Hangaroo, um jogo <strong>de</strong> preenchimento <strong>de</strong> lacunas; o Akinator, que<br />
consiste em um jogo <strong>de</strong> adivinhação, por conseguinte, o Lyrics<br />
Training, uma ferramenta <strong>de</strong> preenchimento <strong>de</strong> lacunas nas letras <strong>de</strong><br />
música; e por fim, o Omegle, um chat randômico. Apresentaremos<br />
ainda dados <strong>de</strong> uma pesquisa <strong>de</strong>senvolvida juntamente com professores<br />
das re<strong>de</strong>s municipal e estadual <strong>de</strong> Goiás na aplicação <strong>de</strong>ssas<br />
ferramentas nas suas respectivas práticas e discutiremos os resultados<br />
apresentados por elas.<br />
FERMENTAR IDEIAS E ARGUMENTOS ATRAVÉS DE<br />
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: APRENDER EM ANDAIMES VIA<br />
EAD<br />
Ana Cláudia Pereira De Almeida<br />
A visão holística do mundo tem substituído, gradualmente, a tendência à<br />
especialização, à fragmentação (MORIN, 2000; 2007) que durante<br />
bastante tempo norteou os processos <strong>de</strong> aprendizagem: hoje, conhecer<br />
<strong>de</strong> maneira ampla permite aos aprendizes manusear os instrumentos<br />
não apenas <strong>de</strong> maneira criativa, mas também diferente da préestipulada,<br />
o que otimiza recursos e amplia possibilida<strong>de</strong>s. No que se<br />
refere ao ensino escolar <strong>de</strong> Língua Materna, são comuns os casos em<br />
que o professor fragmenta as aulas em “matéria nova”, <strong>de</strong>sconexa das<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> escritura e <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> argumentação no manejo<br />
<strong>de</strong> estruturas linguísticas; as redações escolares têm mostrado, como<br />
consequência <strong>de</strong>ssa aprendizagem fragmentada, que estudantes pouco<br />
ou nunca se valem d<strong>aqui</strong>lo que consi<strong>de</strong>ram “conhecimentos<br />
gramaticais” – como crase, concordância e regência, por exemplo – na<br />
construção do texto, já que português e redação são “matérias”<br />
separadas. Nesse sentido, o trabalho com sequências didáticas<br />
(SCHNEUWLY & DOLZ, 2004; CRISTÓVÃO, 2011) favorece a visão<br />
global e a aplicação do que se apren<strong>de</strong> nas aulas <strong>de</strong> português, pois<br />
423
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
propõem que o que se apren<strong>de</strong> em cada etapa da ativida<strong>de</strong> funcione<br />
como andaime (VYGOTSKY, 1993; 1998) para as ativida<strong>de</strong>s<br />
seguintes. Nesse contexto, este trabalho reflete sobre tais práticas <strong>de</strong><br />
sala <strong>de</strong> aula, da mesma forma como busca referencial teórico que<br />
ampara novos fazeres, baseados no uso <strong>de</strong> sequências didáticas, os<br />
quais favoreçam a re-união, na escola, das habilida<strong>de</strong>s necessárias para<br />
que os estudantes possam bem comunicar-se em diferentes contextos.<br />
Também, apresenta o exemplo <strong>de</strong> uma sequência didática usada em um<br />
curso <strong>de</strong> redação online.<br />
TECNOLOGIA E IDENTIDADE DOCENTE: O PROFESSOR DE<br />
LÍNGUA MATERNA NA ERA DA CIBERCULTURA<br />
Ana Paula De Araujo Cunha<br />
Julio Mario Da Silveira Marchand<br />
Palavras-chave: TIC, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, professor, cibercultura.<br />
Este estudo, <strong>de</strong> cunho qualitativo, visa a refletir acerca da crescente<br />
disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e<br />
suas possíveis implicações no que tange à constituição i<strong>de</strong>ntitária do<br />
docente e os reflexos observáveis em seu fazer pedagógico. Busca-se<br />
i<strong>de</strong>ntificar traços <strong>de</strong>sse professor dotado <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s) e dividido<br />
entre o fazer tradicional, que conforta e acomoda, e o fazer<br />
contemporâneo, que o arranca <strong>de</strong> sua zona <strong>de</strong> conforto, da posição <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>tentor único do saber. Mais especificamente, à luz <strong>de</strong> pressupostos<br />
concernentes à Teoria Dialógica <strong>de</strong> Bakhtin, bem como consi<strong>de</strong>rando<br />
questões que envolvem o letramento do professor no universo virtual<br />
(SOARES, 2002), além <strong>de</strong> estudos que se <strong>de</strong>bruçam sobre o processo <strong>de</strong><br />
formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> do docente inserido em um contexto no qual<br />
eclo<strong>de</strong>m novas formas <strong>de</strong> ferramentas tecnológicas (cf. HALL, 1998;<br />
DEMO, 2009; MORAN, 2009-10; GIDDENS, 2002; BAUMAN, 2001-<br />
05; LÉVY, 1999), investigam-se as mudanças i<strong>de</strong>ntitárias <strong>de</strong> um grupo<br />
restrito <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> língua portuguesa, <strong>de</strong> escolas das re<strong>de</strong>s<br />
pública e privada <strong>de</strong> ensino, resultantes da crescente necessida<strong>de</strong> da<br />
inserção das TIC no contexto <strong>de</strong> sala <strong>de</strong> aula. No intuito <strong>de</strong> se traçar o<br />
perfil dos sujeitos alvos da pesquisa, proce<strong>de</strong>u-se à coleta <strong>de</strong> dados, a<br />
qual se <strong>de</strong>u por meio <strong>de</strong> entrevista, gravação e questionário,<br />
instrumentos esses elaborados <strong>de</strong> tal modo a suscitar nos professores a<br />
verbalização <strong>de</strong> aspectos pertinentes a sua formação e atuação<br />
profissional e à imagem que têm <strong>de</strong> si na era da cibercultura. A partir<br />
424
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> tais elementos, pois, emergiram as categorias fundamentais <strong>de</strong><br />
análise que norteiam as reflexões a que se propõe a pesquisa.<br />
PRATICANDO RESENHA POR MEIO DA CRIAÇÃO DE<br />
SLIDES INTERATIVOS COM OS LAPTOPS DO PROJETO UM<br />
COMPUTADOR POR ALUNO<br />
Ana Paula De Deus Mesck<br />
Palavras-chave: tecnologia, aprendizagem, fazer docente.<br />
Esta comunicação objetiva relatar uma prática docente oriunda do<br />
Programa <strong>de</strong> Iniciação a docência (PIBID) na área <strong>de</strong> Letras, da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O projeto foi<br />
<strong>de</strong>senvolvido na E.M.E.F Roberto Madureira Burns (Bagé – RS),<br />
contemplada pelo programa fe<strong>de</strong>ral Um Computador por Aluno (UCA).<br />
O projeto consiste em usar os programas dos laptops, nas aulas <strong>de</strong><br />
Língua Materna, tornando o ensino mais dinâmico e atraente aos alunos<br />
tendo como aliado o uso coerente das tecnologias <strong>de</strong> informação e<br />
comunicação nas aulas <strong>de</strong> Língua Materna. Foi elaborado um plano<br />
para que no prazo <strong>de</strong> vinte dias: a)os alunos lessem um artigo <strong>de</strong><br />
opinião sobre o uso da internet; b) <strong>de</strong>stacassem pontos principais do<br />
texto fazendo anotações no editor <strong>de</strong> texto; c) buscassem imagens afins<br />
ao assunto; d) elaborassem sli<strong>de</strong>s interativos, usando hiperlinks e<br />
animações, apresentando a opinião subjetiva sobre o tema do texto. O<br />
trabalho referenda-se em autores que abordam o uso das TIC´s na<br />
docência como Leffa (2003) que ressalta as respostas automáticas<br />
dadas pelos alunos no ensino mediado pelo computador, e diz que as<br />
pessoas po<strong>de</strong>m apren<strong>de</strong>r em contato com objetos, não só com outras<br />
pessoas (LEFFA, 2006); e Moran (2000) que ressalta a relação<br />
professor-aluno integrando a socieda<strong>de</strong> da informação e a escola. O<br />
objetivo foi alcançado, todos os alunos conseguiram elaborar suas<br />
resenhas, com cuidado lexical. Não pairam dúvidas <strong>de</strong> que as TIC’s são<br />
um aporte pedagógico eficiente nas aulas <strong>de</strong> Língua Materna.<br />
425
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
LITERATURA “ALWAYS ON” NA PLATAFORMA TWITTER:<br />
ANÁLISE DE MINI CONTOS<br />
Ân<strong>de</strong>rson Martins Pereira<br />
As Re<strong>de</strong>s Sociais <strong>de</strong> Internet 3.0 apresentam uma característica<br />
marcante para o momento histórico que estamos vivendo. A relevância<br />
da informação, bem como o seu acesso, dá-se pela simultaneida<strong>de</strong>, ou<br />
seja, através do fluxo contínuo <strong>de</strong> interação entre os usuários. O<br />
relevante é a informação que ocorre em tempo real. O Twitter<br />
popularizou-se por aten<strong>de</strong>r a <strong>de</strong>manda da “geração always on”<br />
(SANTAELLA, 2010, p.69), provendo um espaço on<strong>de</strong> o individuo<br />
possa se informar sobre os acontecimentos e notícias em tempo real, e<br />
atualizar seu status <strong>de</strong> forma flexível, porém breve. No Twitter a<br />
produção autoral tem se tornado cada vez maior e é nesse ambiente que<br />
emerge uma forma particular <strong>de</strong> literatura. A simultaneida<strong>de</strong> não é vista<br />
em produções literárias, que, mesmo adaptadas ao espaço <strong>de</strong> cento e<br />
quarenta caracteres, utilizam o tempo verbal no passado - conforme<br />
análise previa do corpus – pervertendo, assim, a lei do presente<br />
contínuo promovida pela pergunta “o que está acontecendo?”. No<br />
presente relato traçar-se-á um paralelo entre textos não literários e mini<br />
contos agrupados na re<strong>de</strong> como literários, investigando quais são as<br />
marcas do texto literário na plataforma Twitter. A seleção será feita<br />
através <strong>de</strong> hashtags, ferramenta da plataforma que agrupa conteúdos e<br />
<strong>de</strong> relatos cotidianos que respon<strong>de</strong>m a pergunta inicial da plataforma “o<br />
que está acontecendo?”. Acredita-se que os tempos verbais que<br />
remetem ao passado sejam um traço importante para <strong>de</strong>terminar uma<br />
postagem como caráter literário."<br />
A PRODUÇÃO DE OAS NA WEB: ANALISANDO<br />
REPOSITÓRIOS VIRTUAIS<br />
André Firpo Beviláqua<br />
Alan Ricardo Costa<br />
Consi<strong>de</strong>rando a acepção <strong>de</strong> Objeto <strong>de</strong> Aprendizagem (OA) como<br />
“recursos pedagógicos digitais para o ensino mediado por computador,<br />
cujo planejamento e apresentação do conteúdo <strong>de</strong>vem ser embasados<br />
em uma teoria <strong>de</strong> aprendizagem” (GARCIA, 2011), bem como a noção<br />
<strong>de</strong> que a <strong>de</strong>vida disponibilização <strong>de</strong> OAs em repositórios facilita sua<br />
426
Resumo dos Trabalhos<br />
recuperabilida<strong>de</strong> e usabilida<strong>de</strong> (GAMA, 2007), a finalida<strong>de</strong> do presente<br />
trabalho é analisar os repositórios virtuais gratuitos mapeados para a<br />
taxonomia Otros Repositórios do Repositório para professores e<br />
professores em formação Acción E/LE<br />
(http://w3.ufsm.br/accionele/repos.htm), observando a incidência <strong>de</strong><br />
OAs para o ensino <strong>de</strong> línguas. Assim, a metodologia do estudo consiste<br />
em examinar qualitativamente os repositórios catalogados pelo referido<br />
site, visando verificar aspectos como: 1) O site examinado é <strong>de</strong>stinado a<br />
armazenar materiais para o ensino e a aprendizagem <strong>de</strong> línguas? Se a<br />
resposta for positiva, os materiais são <strong>de</strong>stinados ao ensino e à<br />
aprendizagem <strong>de</strong> quais línguas? 2) Na página observada, há um número<br />
significativo <strong>de</strong> OAs? 3) Se o en<strong>de</strong>reço disponibiliza algum OA, tratase<br />
<strong>de</strong> um material <strong>de</strong>senvolvido para o próprio site ou há um<br />
redirecionamento para outras páginas que oferecem o referido recurso?<br />
Os resultados levantados até o momento indicam que há uma enorme<br />
carência <strong>de</strong> OAs na maior parte dos repositórios analisados, tendo em<br />
vista nossa <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> OA, tanto em sites <strong>de</strong>stinados a armazenar<br />
materiais relacionados ao ensino e à aprendizagem <strong>de</strong> línguas, quanto<br />
em en<strong>de</strong>reços <strong>de</strong> outras espécies. Entre as páginas examinadas, poucas<br />
produzem OAs <strong>de</strong>senvolvidos para o próprio en<strong>de</strong>reço, sendo que<br />
apenas uma está relacionada ao ensino e à aprendizagem <strong>de</strong> Espanhol<br />
como Língua Estrangeira (E/LE), foco do repositório e das pesquisas<br />
<strong>de</strong>senvolvidas por meio <strong>de</strong>le. Além disso, há en<strong>de</strong>reços com inúmeros<br />
links <strong>de</strong>sativados, como também há repositórios organizados <strong>de</strong> forma<br />
ina<strong>de</strong>quada, o que dificulta a navegação dos usuários e a consolidação<br />
dos OAs como recursos pedagógicos viáveis para o ensino e a<br />
aprendizagem <strong>de</strong> línguas estrangeiras.<br />
REFLEXÕES SOBRE CRENÇAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:<br />
PONTOS A CONSIDERAR<br />
Angélica Ilha Gonçalves<br />
Maria Tereza Nunes Marchesan<br />
Esta é a primeira parte <strong>de</strong> um trabalho que está sendo <strong>de</strong>senvolvido com<br />
o intuito <strong>de</strong> verificar quais as publicações existentes em revistas<br />
brasileiras que abordam questões referentes ao estudo sobre crenças e<br />
<strong>Educação</strong> a Distância (EaD). As revistas selecionadas estão disponíveis<br />
em meio virtual e apresentam qualificação A1 e A2, pelo sistema <strong>de</strong><br />
avaliação Qualis da Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Aperfeiçoamento <strong>de</strong> Pessoal <strong>de</strong><br />
427
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Nível Superior (Capes). Conforme aponta Barcelos (2004), as<br />
pesquisas sobre crenças na área <strong>de</strong> Linguística Aplicada começaram em<br />
meados dos anos 90 no Brasil. Estes estudos foram inicialmente<br />
realizados a partir <strong>de</strong> situações vivenciadas na educação presencial.<br />
Com o <strong>de</strong>senvolvimento da EaD virtual no cenário brasileiro, é<br />
necessário que novos estudos sejam efetuados e que os profissionais da<br />
educação que atuam ou se interessam pela área tomem conhecimento<br />
<strong>de</strong> tais pesquisas. Consi<strong>de</strong>rando estes aspectos, esta etapa do trabalho<br />
versará sobre o referencial teórico adotado para a sua realização.<br />
Portanto, este artigo preten<strong>de</strong> refletir sobre as implicações do estudo<br />
sobre crenças para este novo meio <strong>de</strong> educação que é a EaD virtual.<br />
Para tanto, o trabalho tratará sobre o <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico e a<br />
EaD; a realida<strong>de</strong> da EaD no Brasil e consi<strong>de</strong>rações sobre os estudos <strong>de</strong><br />
crenças e EaD.<br />
REFLEXÕES SOBRE CRENÇAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:<br />
PONTOS A CONSIDERAR<br />
Angélica Ilha Gonçalves<br />
Maria Tereza Nunes Marchesan<br />
Esta é a primeira parte <strong>de</strong> um trabalho que está sendo <strong>de</strong>senvolvido com<br />
o intuito <strong>de</strong> verificar quais as publicações existentes em revistas<br />
brasileiras que abordam questões referentes ao estudo sobre crenças e<br />
<strong>Educação</strong> a Distância (EaD). As revistas selecionadas estão disponíveis<br />
em meio virtual e apresentam qualificação A1 e A2, pelo sistema <strong>de</strong><br />
avaliação Qualis da Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Aperfeiçoamento <strong>de</strong> Pessoal <strong>de</strong><br />
Nível Superior (Capes). Conforme aponta Barcelos (2004), as<br />
pesquisas sobre crenças na área <strong>de</strong> Linguística Aplicada começaram em<br />
meados dos anos 90 no Brasil. Estes estudos foram inicialmente<br />
realizados a partir <strong>de</strong> situações vivenciadas na educação presencial.<br />
Com o <strong>de</strong>senvolvimento da EaD virtual no cenário brasileiro, é<br />
necessário que novos estudos sejam efetuados e que os profissionais da<br />
educação que atuam ou se interessam pela área tomem conhecimento<br />
<strong>de</strong> tais pesquisas. Consi<strong>de</strong>rando estes aspectos, esta etapa do trabalho<br />
versará sobre o referencial teórico adotado para a sua realização.<br />
Portanto, este artigo preten<strong>de</strong> refletir sobre as implicações do estudo<br />
sobre crenças para este novo meio <strong>de</strong> educação que é a EaD virtual.<br />
Para tanto, o trabalho tratará sobre o <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico e a<br />
428
Resumo dos Trabalhos<br />
EaD; a realida<strong>de</strong> da EaD no Brasil e consi<strong>de</strong>rações sobre os estudos <strong>de</strong><br />
crenças e EaD.<br />
RESSIGNIFICANDO A ESCRITA: A INTERAÇÃO NA<br />
CONSTRUÇÃO DO TEXTO COMO IMAGEM NA TELA<br />
Angélica Prediger<br />
Palavras-chave: escrita na tela, imagem, ato <strong>de</strong> clicar.<br />
Esse estudo situa-se no projeto “Por uma formação continuada<br />
cooperativa para o <strong>de</strong>senvolvimento do processo educativo <strong>de</strong> leitura e<br />
produção textual escrita no Ensino Fundamental”, apoiado pelo<br />
Programa Observatório da <strong>Educação</strong> da Capes. O projeto envolve<br />
professores da re<strong>de</strong> municipal na busca <strong>de</strong> alternativas, pautadas na<br />
concepção interativa <strong>de</strong> linguagem, para qualificar o ensino. O estudo<br />
da escrita na tela se relaciona ao projeto, pois investiga as interações<br />
entre usuários e texto no espaço digital, a fim <strong>de</strong> teorizar os princípios<br />
que regem essa escrita. A pesquisa propõe uma ação colaborativa entre<br />
a pesquisadora e uma professora <strong>de</strong> inglês da re<strong>de</strong> municipal. A escola<br />
colaboradora está inserida no projeto internacional da UNESCO, Um<br />
Computador por Aluno (UCA). Proponho a tela como um espaço <strong>de</strong><br />
uma nova produção <strong>de</strong> sentido. O estudo parte das hipóteses <strong>de</strong> que a<br />
escrita assume características <strong>de</strong> imagem e <strong>de</strong> que o ato <strong>de</strong> clicar<br />
materializa textos como imagem. A impressão dos textos como imagem<br />
na tela difere da representação gráfica no papel, pois os textos como<br />
imagem não são realizados numa sequência linear.Como conclusão<br />
preliminar, apresento aleatorieda<strong>de</strong> e e imprevisibilida<strong>de</strong> como<br />
organizadoras da escrita na tela.<br />
VOCES - REPOSITORIO DE VARIANTES GEOGRÁFICAS<br />
DEL ESPAÑOL<br />
Angelise Fagun<strong>de</strong>s<br />
Marcus Vinicius Liessem Fontana<br />
Em muitos momentos da aula <strong>de</strong> espanhol o aluno questiona a respeito<br />
das diferentes variantes geográficas ou diatópicas da língua-alvo. O<br />
professor, em meio a esta(s) indagação(ões), em alguns casos até<br />
consegue imitar estas variantes, mas apresentá-las com amostras<br />
429
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
autênticas ou aproximar o aluno das suas realida<strong>de</strong>s nem sempre é<br />
possível, a menos que tenha gravações à disposição ou acesso online a<br />
bancos <strong>de</strong> dados que registram estas variações linguísticas, como é o<br />
caso da Dialectoteca da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Iowa. No caso <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong><br />
EaD, esse acesso é facilitado, porque nesta modalida<strong>de</strong> os estudantes<br />
estão acostumados a utilizar este tipo <strong>de</strong> ferramenta. Porém, se<br />
pensamos em um aluno com <strong>de</strong>ficiência visual, muitas vezes, há<br />
dificulda<strong>de</strong> no manuseio, pois a página apresenta elementos que não<br />
obe<strong>de</strong>cem a critérios básicos <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong>. O grupo <strong>de</strong> pesquisa<br />
Além da Visão, comprometido com o ensino-aprendizagem <strong>de</strong> língua<br />
espanhola para pessoas com <strong>de</strong>ficiência visual, a fim <strong>de</strong> sanar esta<br />
dificulda<strong>de</strong>, iniciou, neste ano <strong>de</strong> 2012, um projeto que visa à<br />
elaboração <strong>de</strong> um banco <strong>de</strong> dados acessível online <strong>de</strong> variações do<br />
espanhol: Voces - Repositorio <strong>de</strong> Variantes Geográficas <strong>de</strong>l Español.<br />
A tarefa que o projeto <strong>de</strong>senvolverá, inicialmente, será a <strong>de</strong> reunir<br />
gravações com exemplos autênticos <strong>de</strong>ssas variações diatópicas e, logo,<br />
disponibilizá-las na internet. Neste trabalho, explicamos o processo <strong>de</strong><br />
pesquisa e <strong>de</strong> elaboração do repositório.<br />
O TWITTER COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM<br />
EM SALA DE AULA<br />
Antonia Zago (Faaba)<br />
Gabriela Da Silva Zago (Ufrgs)<br />
Palavras-chave: ensino; língua portuguesa; Twitter.<br />
Com cada vez mais usuários, a internet está criando novos hábitos <strong>de</strong><br />
comunicação, o que provoca modificações tanto na leitura quanto na<br />
escrita. Com base numa revisão <strong>de</strong> literatura sobre Twitter e sobre<br />
ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa, o trabalho propõe a utilização <strong>de</strong>ssa<br />
ferramenta como instrumento <strong>de</strong> aprendizagem em sala <strong>de</strong> aula. Os<br />
gêneros escolares tradicionais carecem <strong>de</strong> interação, pois neles o aluno<br />
prepara textos para serem apresentados somente ao professor. Já o uso<br />
do Twitter em sala <strong>de</strong> aula po<strong>de</strong>ria representar mais um recurso para<br />
promover a aprendizagem e a socialização da mesma. O Twitter é uma<br />
ferramenta <strong>de</strong> microblog criada originalmente com o propósito <strong>de</strong> se<br />
dizer o que se está fazendo em atualizações <strong>de</strong> até 140 caracteres. Ao<br />
longo do tempo, outras apropriações foram surgindo. Utilizá-lo como<br />
instrumento <strong>de</strong> aprendizagem para o ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa é uma<br />
<strong>de</strong>ssas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> apropriação. Aspectos como o limite <strong>de</strong><br />
430
Resumo dos Trabalhos<br />
caracteres – o que po<strong>de</strong> estimular a concisão e a objetivida<strong>de</strong> – e o fato<br />
<strong>de</strong> ser um espaço interativo, cujas mensagens po<strong>de</strong>m ser respondidas<br />
por outros usuários, tornam a ferramenta interessante como instrumento<br />
<strong>de</strong> aprendizagem em sala <strong>de</strong> aula.<br />
OS NÓS DA EDUCAÇÃO NO MUNDO EM REDE<br />
Antônio Luiz Oliveira Heberlê<br />
Matheus Lokschin Heberlê<br />
São complexos os nós da educação, no emaranhado <strong>de</strong> contextos on<strong>de</strong><br />
esta forma <strong>de</strong> ação social e política se enquadra. Os rumos da educação<br />
na era das re<strong>de</strong>s, do mundo interligado e multipresente é um <strong>de</strong>safio<br />
para os formatos secularizados <strong>de</strong> educação. A missão <strong>de</strong> educar parece<br />
muito simples, transformar informação em conhecimento e assim<br />
transformar a vida das pessoas, mas sua execução envolve inúmeras<br />
variáveis. O i<strong>de</strong>al é que o professor inquiete as pessoas nesta ação e<br />
faça pensar. Haveria um <strong>de</strong>slocamento no processo e o aprendiz seria<br />
naturalmente levado a refletir, autonomamente. Entretanto, a educação<br />
tradicional, secularizada, é linear e normativa, geralmente pouco<br />
animada, preocupada em repassar informações. Hoje isso não basta,<br />
porque gran<strong>de</strong> parte dos jovens já vivem na matriz da interativida<strong>de</strong> e<br />
da multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fontes. É assim que a educação passa pelo juizo<br />
pós- mo<strong>de</strong>rno e contemporâneo das coisas que saíram do lugar. Propõese,<br />
entretanto, que é justamente na lógica da instanteneida<strong>de</strong>, da<br />
informalida<strong>de</strong>, da velocida<strong>de</strong> e do excesso, que o professor é peça ainda<br />
mais indispensável, sendo o mediador que induz reflexão em todo o<br />
sistema. Afinal, ter informação não significa ter conhecimento e cabe a<br />
estes mediadores arrumar e dar rumo nesta nova Era. Falamos na nova<br />
educação sem a pretensão <strong>de</strong> vê-la organizar tudo, mas <strong>de</strong> ofertar<br />
espaços <strong>de</strong> proposição, <strong>de</strong> escuta atenta ao aprendiz, pondo-o a dialogar<br />
e a enfrentar o mundo da vida, que é o mesmo mundo em re<strong>de</strong>.<br />
431
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
CORPO E LINGUAGEM: PROCESSOS DISCURSIVOS DE<br />
AUTO-AGRESSÃO<br />
Aracy Ernst-Pereira<br />
Palavras-chave: corpo – discurso - i<strong>de</strong>ologia<br />
A presente proposta analisa enunciados retirados <strong>de</strong> perfis e<br />
comunida<strong>de</strong>s online <strong>de</strong> anoréxicas com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> refletir sobre os<br />
processos discursivos <strong>de</strong> auto-agressão a partir da reflexão sobre a<br />
linguagem, o corpo do sujeito e o Outro da i<strong>de</strong>ologia. Focaliza a<br />
conformação dos modos <strong>de</strong> representação do sujeito no discurso,<br />
principalmente aqueles em que ele se coloca numa posição enunciativa<br />
imaginária, apresentando-se como um outro. Permite-se pensar que os<br />
mecanismos para banir a falta a partir do gozo, configurados na formasujeito<br />
da contemporaneida<strong>de</strong>, provocam no corpo, limite da<br />
subjetivida<strong>de</strong>, a busca extremada do sujeito <strong>de</strong> se colocar como sujeito<br />
do <strong>de</strong>sejo e, no discurso, lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> sentidos, materialida<strong>de</strong>s<br />
inusitadas. Os pressupostos que embasam a reflexão proposta são os<br />
seguintes: 1º) o imaginário sobre o corpo constrói-se historicamente<br />
através dos significantes, elementos da or<strong>de</strong>m simbólica, mantidos e<br />
perpetuados numa discursivida<strong>de</strong> sem volta e sem fim, porque lida com<br />
o <strong>de</strong>sejo intermitente do sujeito; 2º) a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e a subjetivida<strong>de</strong> se<br />
estabelecem a partir <strong>de</strong>sse olhar; 3º) o “eu” é uma produção imaginária<br />
que se cristaliza a partir da imagem que o sujeito tem <strong>de</strong> seu próprio<br />
corpo e <strong>de</strong> auto-imagens refletidas para ele por outros, ocorrendo tal<br />
processo através do simbólico; 4º) o discurso, enquanto representação<br />
<strong>de</strong> si e do (O)outro, materializa processos subjetivos e i<strong>de</strong>ntitários que<br />
po<strong>de</strong>m subverter paradigmas linguísticos.<br />
BLOG: CONTEXTO HISTÓRICO E POTENCIALIDADES DE<br />
USO NA EDUCAÇÃO<br />
Brena Samyly Sampaio De Paula<br />
Zayra Barbosa Costa<br />
Atualmente, qualquer pessoa com acesso a internet e com poucos<br />
conhecimentos em informática po<strong>de</strong> produzir e divulgar informação.<br />
São muitas as ferramentas, aplicativos, que possibilitam ao usuário<br />
autonomia para publicar na web coisas <strong>de</strong> seu interesse. Dentre as<br />
diversas ferramentas disponíveis na web, optamos por <strong>de</strong>senvolver um<br />
estudo teórico sobre blog ou weblogs. Mas o que é weblog? A palavra<br />
Weblog é uma junção das palavras web: que significa teia ou re<strong>de</strong> e<br />
432
Resumo dos Trabalhos<br />
com a chegada da internet passou a <strong>de</strong>signar a re<strong>de</strong> mundial <strong>de</strong><br />
computadores www (word wi<strong>de</strong> web)e log significa diário. Ao pé da<br />
letra weblog significa um diário na web. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finí-lo como:uma<br />
página da web, atualizada constantemente por meio <strong>de</strong> textos que<br />
po<strong>de</strong>m conter imagens,ví<strong>de</strong>os, aúdios, chamados <strong>de</strong> post, escrito <strong>de</strong><br />
forma cronológica, sempre mostrando o post mais recente. Nesse<br />
contexto, surge o objetivo <strong>de</strong>sse trabalho que é apresentar o histórico do<br />
blog, tipos e possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso no contexto educacional. Para tanto,<br />
pesquisamos e selecionamos literatura sobre a temática blog,<br />
<strong>de</strong>senvolvemos grupos <strong>de</strong> estudo e discussões, além <strong>de</strong> analisarmos<br />
uma seleção <strong>de</strong> blogs. É importante ressaltar que em nossa pesquisa<br />
não temos a pretensão <strong>de</strong> apresentar todos os tipos <strong>de</strong> blogs e<br />
possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso na educação, visto que o universo dos blogs é<br />
bastante amplo. Assim, trazemos um esboço do blog e <strong>de</strong> seu impacto<br />
no contexto educacional.Dialogando com Araújo (2009)<br />
compreen<strong>de</strong>mos que a utilização do blog, como recurso didático,po<strong>de</strong><br />
favorecer o processo <strong>de</strong> ensino e aprendizagem e, estimular a formação<br />
<strong>de</strong> competências exigidas pelo contexto social contemporâneo,<br />
<strong>de</strong>corrente do avanço científico e tecnológico. A partir da análise dos<br />
materiais utilizados concluímos que o blog é uma ferramenta que po<strong>de</strong><br />
contribuir <strong>de</strong> forma satisfatória no processo <strong>de</strong> ensino e aprendizagem,<br />
visto que o ambiente favorece a colaboração e cooperação, também<br />
po<strong>de</strong> proporcionar o <strong>de</strong>senvolvimento da escrita e da capacida<strong>de</strong><br />
argumentativa.<br />
FILMES CULT E INTERPETAÇÃO DE TEXTOS<br />
Clau<strong>de</strong>te Moreno Ghiral<strong>de</strong>lo<br />
Palavras-chave: cinema e interpretação; Língua Portuguesa – Ensino<br />
Médio; Análise <strong>de</strong> Discurso.<br />
Esta comunicação tem como propósito a exposição <strong>de</strong> resultados<br />
parciais <strong>de</strong> uma pesquisa, financiada pela Fapesp (processos<br />
2011/51271-9, 2012/10792-9 e 2012/10827-7), cujo objetivo é o<br />
trabalho da escrita <strong>de</strong> alunos do Ensino Médio <strong>de</strong> uma escola pública<br />
<strong>de</strong> São José dos Campos, SP, a partir da exibição <strong>de</strong> filmes cult – não<br />
comerciais. Os filmes escolhidos para exibição possibilitam, <strong>de</strong> modo<br />
especial, o trabalho com a linguagem cinematográfica (fotografia,<br />
iluminação, posições <strong>de</strong> câmera...), assim como as formas <strong>de</strong> narrar uma<br />
história e o <strong>de</strong>sempenho dos atores, elementos importantes <strong>de</strong> uma<br />
produção cinematográfica que, comumente, recebem pouca atenção dos<br />
433
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
professores. Com base teórica na Análise <strong>de</strong> Discurso e em alguns<br />
conceitos da Psicanálise freudo-lacaniana, os filmes são tomados como<br />
agentes (trans)formadores <strong>de</strong> discursos e i<strong>de</strong>ologias diversos, que<br />
po<strong>de</strong>m levar os sujeitos (alunos e professores) a produzirem efeitos <strong>de</strong><br />
sentido não apenas pelo seu conteúdo, o enredo, mas também por meio<br />
<strong>de</strong> aspectos “simbólicos” dos filmes, como é a linguagem<br />
cinematográfica, a forma <strong>de</strong> narrar e o <strong>de</strong>sempenho dos atores. Com<br />
essa pesquisa, tem sido possível constatar uma melhora na capacida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong> textos escritos e orais por parte dos alunos, melhora<br />
que po<strong>de</strong> ser observada em diferentes tipos <strong>de</strong> textos escritos sobre os<br />
filmes trabalhados.<br />
PROFESSOR/TUTOR – A IMPORTÂNCIA DO SEU PAPEL NO<br />
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA MODALIDADE<br />
EAD<br />
Claudia Fumaco<br />
Palavras-chave: tecnologia, tutor, aprendizagem.<br />
A evolução das tecnologias vinculadas à educação já não é mais um<br />
assunto novo e <strong>de</strong>sconhecido diante da socieda<strong>de</strong> em que vivemos. A<br />
tecnologia está presente nas mais variadas formas no processo <strong>de</strong><br />
ensino, seja na modalida<strong>de</strong> presencial ou EaD. O presente trabalho tem<br />
por objetivo refletir <strong>de</strong> que forma o professor/tutor contribui para que a<br />
interação e a aprendizagem atinjam o aluno e alcance o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento e aprendizagem dos mesmos no ensino a distância. O<br />
trabalho busca ainda averiguar <strong>de</strong> que forma esse professor/tutor<br />
<strong>de</strong>senvolve esse papel almejando aproximar-se cada vez mais do seu<br />
aluno, mesmo que em um ambiente virtual <strong>de</strong> aprendizagem. As<br />
análises e informações <strong>de</strong>ste trabalho foram coletadas através dos<br />
tutores das disciplinas do Curso <strong>de</strong> Graduação em Espanhol ofertado<br />
pela UAB-UFSM, on<strong>de</strong> trabalho como professora formadora. Através<br />
<strong>de</strong> algumas revisões bibliográficas, dos feedbacks dos tutores para os<br />
alunos e alguns questionamentos sobre o tema é que se chegou a alguns<br />
dados parciais.<br />
434
Resumo dos Trabalhos<br />
JUVENTUDES: A VIOLÊNCIA DO VAZIO NA CULTURA DA<br />
IMAGEM<br />
Cleber Gibbon Ratto<br />
“Tudo que é imaginário tem, existe, é.”<br />
[Estamira, Documentário <strong>de</strong> Marcos Prado, 2005]<br />
As palavras <strong>de</strong> Estamira, a catadora <strong>de</strong> lixo protagonista do<br />
documentário dirigido por Marcos Prado levado a público em 2005,<br />
dão o ponta pé incial nessa proposta <strong>de</strong> discussão sobre os limites e<br />
possibilida<strong>de</strong>s educativas <strong>de</strong> enfrentamento do vazio existencial que<br />
assola as paisagens humanas contemporâneas. Ante um mundo e uma<br />
história <strong>de</strong> vida que a fizeram “psicótica”, nos termos das classificações<br />
nosológicas que esse mesmo mundo inventou, Estamira profere,<br />
mesmo sem dar-se conta, sua sentença profundamente ancorada na<br />
tradição fenomenológica-existencial: “tudo que é imaginário tem,<br />
existe, é”. Inventar modos <strong>de</strong> existência que trasitam entre a loucura e<br />
perfeita razoabilida<strong>de</strong> parece ter sido a estratégia <strong>de</strong> Estamira para<br />
enfrentar as agruras <strong>de</strong> uma vida em meio ao lixo, feito, segundo ela,<br />
“<strong>de</strong> restos e <strong>de</strong>scuido”. Aliás, restos e <strong>de</strong>scuido são signos bastante<br />
próprios para <strong>de</strong>signar a matéria constitutiva da subjetivida<strong>de</strong><br />
contemporânea, cada vez mais fragmentada e homogeneizada pelas<br />
gran<strong>de</strong>s máquinas subjetivantes do capitalismo contemporâneo.[1] É<br />
em torno <strong>de</strong>ssa problemática que esse artigo se constitui. A saber, os<br />
limites e as possibilida<strong>de</strong>s educativas frente a uma cultura da imagem<br />
que é, também e ao mesmo tempo, uma cultura do vazio. A<br />
constituição <strong>de</strong> novas territorialida<strong>de</strong>s entre as juventu<strong>de</strong>s, concebidas<br />
<strong>aqui</strong> como outros modos possíveis <strong>de</strong> existir e conviver, assinala a<br />
aposta em práticas educativas que reafirmem o cuidado e a produção <strong>de</strong><br />
sentido como opções éticas e políticas capazes <strong>de</strong> contribuir com a<br />
expansão da vida em sua potência <strong>de</strong> invenção e responsabilida<strong>de</strong> com<br />
o coletivo. O primeiro movimento da reflexão vai na direção <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>marcar, a partir dos saberes já acumulados na área, a condição<br />
contemporânea constituída, simultaneamente, por uma cultura da<br />
imagem cada vez mais pautada pelo excesso, pela fragmentação e pelo<br />
<strong>de</strong>sengajamento que caracterizam a crise do laço social e, por um<br />
consequente vazio <strong>de</strong> sentido existencial que assoma nos modos <strong>de</strong><br />
existência, especialmente entre os jovens. Evidências <strong>de</strong> tal condição<br />
po<strong>de</strong>m ser francamente encontradas na emergência das chamadas<br />
patologias do vazio entre os jovens, <strong>de</strong>scritas pela psicanálise<br />
contemporânea como formas prevalentes <strong>de</strong> adoecimento, on<strong>de</strong> o<br />
435
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
sentimento <strong>de</strong> vazio, a impulsivida<strong>de</strong> e o empobrecimento da sensação<br />
<strong>de</strong> realida<strong>de</strong> e realização mostram-se predominantes. A violência surge<br />
<strong>aqui</strong> como fenômeno sintomático <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>s-realização, e encontra na<br />
cultura da imagem e na virtualização das sociabilida<strong>de</strong>s condições <strong>de</strong><br />
possibilida<strong>de</strong> para sua encarnação. Num segundo movimento, o<br />
trabalho busca discutir possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> superação <strong>de</strong>ssa condição<br />
contemporânea, dando importância ao potencial papel das práticas<br />
educativas na atualida<strong>de</strong> – especialmente no trato das tecnologias<br />
digitais operadas pelas juventu<strong>de</strong>s – quando assumidas como modos <strong>de</strong><br />
favorecer a experiência (<strong>de</strong> sentido e duração), responsáveis por nossa<br />
sensação <strong>de</strong> existência, realida<strong>de</strong> e capacida<strong>de</strong> criativa. Tais<br />
possibilida<strong>de</strong>s são exploradas a partir <strong>de</strong> uma aproximação entre a<br />
noção <strong>de</strong> cuidado [sorge] como categoria ontológica, oriunda do<br />
pensamento <strong>de</strong> Mantin Hei<strong>de</strong>gger e noções pós- freudianas encontradas<br />
no pensamento do psicanalista inglês Donald Winnicott.<br />
AUDIOTECA VIRTUAL HISPANICA: ESPAÇO DE<br />
LITERATURA INCLUSIVA<br />
Cristiane Maria Alves<br />
Angelise Fagun<strong>de</strong>s<br />
Palavras-Chave: Leitura - Audioteca Virtual Hispânica - Deficiência<br />
Visual<br />
O objetivo do presente trabalho é o <strong>de</strong> oferecer um espaço <strong>de</strong> interação<br />
entre pessoas com <strong>de</strong>ficiência visual e a literatura, através das novas<br />
Tecnologias <strong>de</strong> Informação e Comunicação (TICS). A Audioteca<br />
Virtual Hispânica, espaço acessível <strong>de</strong> leituras do Projeto Além da<br />
Visão (UFSM), é um repositório <strong>de</strong> arquivos <strong>de</strong> áudio, organizado como<br />
biblioteca online, com textos literários em espanhol, em formato mp3,<br />
disponíveis para download. Esta biblioteca além <strong>de</strong> complementar as<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas no Curso <strong>de</strong> Espanhol online, permite que<br />
estudantes com <strong>de</strong>ficiência visual tenham acesso a aspectos culturais e<br />
históricos da língua espanhola e aprofun<strong>de</strong>m seus conhecimentos. No<br />
segundo semestre <strong>de</strong> 2010, os arquivos <strong>de</strong> áudio começaram a ser<br />
disponibilizados na página online do projeto Além da Visão. A nossa<br />
perspectiva para o segundo semestre <strong>de</strong> 2012 é ampliar cada vez mais o<br />
nosso repositório <strong>de</strong> áudios com o objetivo <strong>de</strong> proporcionar aos<br />
<strong>de</strong>ficientes visuais a imersão no mundo literário. Percebemos a leitura<br />
como uma forma <strong>de</strong> integração, <strong>de</strong> ampliação dos repertórios <strong>de</strong><br />
conhecimentos e saberes dos Deficientes Visuais. Através <strong>de</strong>la, a<br />
436
Resumo dos Trabalhos<br />
imaginação e a criativida<strong>de</strong> são estimuladas com a crescente<br />
estruturação do pensamento e da linguagem (VYGOTSKY, 2007). Em<br />
virtu<strong>de</strong> disso, o nosso trabalho <strong>de</strong> inclusão digital consiste em a<strong>de</strong>quar<br />
as ferramentas <strong>de</strong> tal maneira que sejam minimizados fatores que<br />
excluam os <strong>de</strong>ficientes visuais.<br />
O POTENCIAL DA LEITURA DE HIPERTEXTOS NAS AULAS<br />
DE LITERATURA BRASILEIRA<br />
Danielli Broondani Severo<br />
Fabiane Sarmento Oliveira Fruet (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Leitura <strong>de</strong> hipertextos; Ensino-aprendizagem;<br />
Literatura Brasileira.<br />
Com este trabalho, problematizou-se a leitura <strong>de</strong> hipertextos nas aulas<br />
<strong>de</strong> Literatura brasileira. O processo <strong>de</strong> investigação se <strong>de</strong>u por meio <strong>de</strong><br />
um estudo <strong>de</strong> caso com uma abordagem metodológica qualitativa.<br />
Assim, foram realizadas ativida<strong>de</strong>s escolares mediadas por hipertextos<br />
disponíveis na internet sobre a primeira fase do movimento literário<br />
<strong>de</strong>nominado Mo<strong>de</strong>rnismo, em especial, sobre a Semana da Arte<br />
Mo<strong>de</strong>rna. Tais ativida<strong>de</strong>s foram <strong>de</strong>senvolvidas no Laboratório <strong>de</strong><br />
Informática do Instituto Estadual <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Deputado Ruy Ramos, na<br />
cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rosário do Sul-RS, com estudantes das turmas 101 e 102 do<br />
Curso Normal. Após o término das ativida<strong>de</strong>s, foram aplicados aos<br />
estudantes dois questionários. Como eles, provavelmente, serão<br />
professores, o primeiro questionário teve como objetivo sondar a<br />
familiarida<strong>de</strong> <strong>de</strong>les com o hipertexto e o que achavam <strong>de</strong> integrá-lo ao<br />
processo ensino-aprendizagem. Já o segundo questionário teve como<br />
foco investigar a aprendizagem <strong>de</strong>sses estudantes referente às<br />
ativida<strong>de</strong>s realizadas por eles sobre a Semana da Arte Mo<strong>de</strong>rna a partir<br />
<strong>de</strong> leituras hipertextuais. Desse modo, com o resultado dos dados<br />
coletados, po<strong>de</strong>-se constatar que a leitura <strong>de</strong> hipertextos possibilitou aos<br />
estudantes realizarem uma leitura não-linear significativa para a<br />
construção do próprio aprendizado, <strong>de</strong>senvolvendo habilida<strong>de</strong>s como o<br />
senso crítico, a memória associativa, a flexibilida<strong>de</strong> cognitiva e a<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> análise e síntese das informações contidas no hipertexto.<br />
437
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
TICS E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Desirê Menezes Leal Goulart<br />
Eliana Rosa<br />
Palavras Chave: Tics,Ensino-Aprendizagem <strong>de</strong> LP,PIBID.<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar umaexperiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência (PIBID) na<br />
área<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O<br />
projeto, <strong>de</strong>senvolvidona Escola Estadual Silveira Martins da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Bagé-RS, consiste em <strong>de</strong>senvolveras aulas <strong>de</strong> língua portuguesa a partir<br />
do uso das tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação,revertendo o uso<br />
<strong>de</strong> tais tecnologias a favor do educando. Propõe- se utilizar astics como<br />
forma <strong>de</strong> interação e motivação, tornando mais atrativo o<br />
processoensino/aprendizagem, mostrando o outro lado do uso das Tics,<br />
fora doconvencional, associando re<strong>de</strong>s sociais e pesquisa, por exemplo.<br />
Foi feitoum plano <strong>de</strong> ação em que os alunos, usando as tics –<br />
animações ehiperlinks - <strong>de</strong>bateram um texto sobre internet e re<strong>de</strong>s<br />
sociais e fizeram umartigo <strong>de</strong> opinião, ampliando o conceitodo gênero<br />
argumentativo. Otrabalho pauta-se nos estudos <strong>de</strong> Moran (2000), ao<br />
dizer que é preciso ver opapel do professor como mediador, utilizando<br />
as novas tecnologias <strong>de</strong> forma maisparticipativa, trabalhando com<br />
projetos colaborativos equilibrando o presenciale o virtual e suas<br />
possibilida<strong>de</strong>s. Ainda segundo o autor, na socieda<strong>de</strong> dainformação todos<br />
estamos reapren<strong>de</strong>ndo a conhecer, a comunicar-nos, a integrar ohumano<br />
e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social. Houve<br />
umasignificativa participação dos alunos nas ativida<strong>de</strong>s, o que<br />
comprovou que astics são <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> auxílio nas aulas <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa.<br />
AS TICS NO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO/RS<br />
Elenice Pacheco Terra<br />
Vanessa Doumid Damasceno (Orientadora)<br />
Palavras-chave: formação <strong>de</strong> professores; letramento digital; TICs<br />
A presença da tecnologia na sala <strong>de</strong> aula é cada vez mais evi<strong>de</strong>nte,<br />
sendo, portanto, necessário repensarmos o processo <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
professores (KENSKI, 2007; MORAN, 2007; VALENTE, 2003).<br />
Repensar a prática docente, no atual contexto <strong>de</strong> ensino-aprendizagem,<br />
requer uma retomada <strong>de</strong> postura e engajamento por parte dos docentes<br />
com o mundo virtual. Dessa forma, é necessário que os professores se<br />
tornem digitalmente letrados (SOARES, 2002; XAVIER, 2008). Além<br />
438
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> conhecer as inúmeras possibilida<strong>de</strong>s existentes, os docentes<br />
precisam saber utilizá-las pedagogicamente <strong>de</strong> modo eficiente, não<br />
apenas reproduzindo antigos mo<strong>de</strong>los didático-pedagógicos. Todavia,<br />
para que esse profissional se sinta capaz <strong>de</strong> operacionalizar a máquina a<br />
seu favor, é necessário formação continuada. Este trabalho traz<br />
reflexões sobre o Projeto <strong>de</strong> Extensão: Tecnologia e Formação <strong>de</strong><br />
Professores que se propõe a promover a formação continuada <strong>de</strong><br />
professores em exercício na re<strong>de</strong> pública municipal do Jaguarão/RS, no<br />
que diz respeito às TICs, respeitando as dimensões sociais, culturais e<br />
étnicas. Para tal fim, <strong>de</strong>senvolve-se um processo <strong>de</strong> formação<br />
continuada com professores que atuam na re<strong>de</strong> pública. Neste projeto, o<br />
foco foi promover a formação continuada dos professores no que diz<br />
respeito às TICs; familiarizá-los com as ferramentas digitais. A partir<br />
da referida capacitação, atingir alunos e comunida<strong>de</strong> no processo <strong>de</strong><br />
inclusão digital, <strong>de</strong> forma a possibilitar novos modos <strong>de</strong> agenciamento<br />
coletivo nas interfaces com a tecnologia digital. Os resultados obtidos,<br />
por meio dos <strong>de</strong>poimentos dos professores, evi<strong>de</strong>nciam a relevância da<br />
formação continuada para uma prática pedagógica inovadora na escola<br />
e apontam caminhos em direção a uma proposta <strong>de</strong> letramento digital..<br />
AS TICS E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Eliana Silveira Rosa<br />
Desirê Menezes Leal Goulart<br />
Palavras-chave: TICs, ensino-aprendizagem <strong>de</strong> LP,PIBID<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência (PIBID) na área<br />
<strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O projeto,<br />
<strong>de</strong>senvolvido na Escola Estadual Silveira Martins da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé-<br />
RS, consiste em <strong>de</strong>senvolver as aulas <strong>de</strong> língua portuguesa a partir do<br />
uso das tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação, revertendo o uso <strong>de</strong><br />
tais tecnologias a favor do educando. Propõe- se utilizar as tics como<br />
forma <strong>de</strong> interação e motivação, tornando mais atrativo o processo<br />
ensino/aprendizagem, mostrando o outro lado do uso das Tics, fora do<br />
convencional, associando re<strong>de</strong>s sociais e pesquisa, por exemplo. Foi<br />
feito um plano <strong>de</strong> ação em que os alunos, usando as tics – animações e<br />
hiperlinks - <strong>de</strong>bateram um texto sobre internet e re<strong>de</strong>s sociais e fizeram<br />
um artigo <strong>de</strong> opinião, ampliando o conceito do gênero argumentativo.<br />
O trabalho pauta-se nos estudos <strong>de</strong> Moran (2000), ao dizer que é<br />
preciso ver o papel do professor como mediador, utilizando as novas<br />
439
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
tecnologias <strong>de</strong> forma mais participativa, trabalhando com projetos<br />
colaborativos equilibrando o presencial e o virtual e suas<br />
possibilida<strong>de</strong>s. Ainda segundo o autor, na socieda<strong>de</strong> da informação<br />
todos estamos reapren<strong>de</strong>ndo a conhecer, a comunicar- nos, a integrar o<br />
humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social.<br />
Houve uma significativa participação dos alunos nas ativida<strong>de</strong>s, o que<br />
comprovou que as tics são <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> auxílio nas aulas <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa.<br />
WEBSITES EDUCACIONAIS: UMA POSSIBILIDADE PARA O<br />
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA<br />
Elvandir Gue<strong>de</strong>s Guimarães<br />
Fabiane Sarmento Oliveira Fruet (Orientadora)<br />
Palavras-chaves: Websites educacionais; Ensino-aprendizagem;<br />
Disciplina <strong>de</strong> Língua Inglesa.<br />
Este trabalho apresenta uma estratégia para potencializar o ensino-<br />
aprendizagem <strong>de</strong> Língua Inglesa por meio <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s interativas e<br />
jogos educacionais disponíveis na internet. Para isso, realizou-se uma<br />
pesquisa com uma abordagem metodológica qualitativa.<br />
Primeiramente, fez-se, um estudo teórico sobre as tecnologias aplicadas<br />
à <strong>Educação</strong>, relacionado, principalmente, com a utilização do<br />
computador na escola. Em seguida, foi criado e publicado o website<br />
Links for Teens, ambiente organizado com orientações referentes às<br />
aulas <strong>de</strong> Língua Inglesa a serem <strong>de</strong>senvolvidas na sala <strong>de</strong> informática,<br />
tendo como público alvo estudantes da quinta série do Ensino<br />
Fundamental. Também foram criados, com o auxílio do software Hot<br />
Potatoes, ativida<strong>de</strong>s interativas, bem como foram selecionados jogos<br />
educacionais que <strong>de</strong>senvolvessem a aprendizagem <strong>de</strong>ssa língua<br />
estrangeira e que estivessem disponíveis na re<strong>de</strong>. Após, postou-se,<br />
nesse website, textos com orientações sobre as tarefas criadas e os<br />
jogos educacionais selecionados, bem como os links para que os<br />
estudantes pu<strong>de</strong>ssem acessá-los, sem precisarem sair do ambiente<br />
criado. Essas ativida<strong>de</strong>s escolares mediadas pelo website Links for<br />
Teens foram aplicadas aos estudantes da quinta série (turma 53) da<br />
Escola Estadual Paulo Lauda, situada na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santa Maria - RS.<br />
Com tais tarefas, os estudantes pu<strong>de</strong>ram revisar o que já tinha sido<br />
estudado na disciplina alvo <strong>de</strong> forma dinâmica e prazerosa e<br />
<strong>de</strong>senvolver a flexibilida<strong>de</strong> cognitiva. Além disso, ao analisar o<br />
comportamento, os comentários orais e a produção escrita dos<br />
440
Resumo dos Trabalhos<br />
estudantes (que, nesse caso, foram mensagens sobre as ativida<strong>de</strong>s<br />
propostas nesse website enviadas por eles para o e-mail da professora),<br />
foi possível perceber que a forma como essas ativida<strong>de</strong>s foram<br />
organizadas no website Links for Teens contribuiu significativamente<br />
para que eles <strong>de</strong>senvolvessem algumas habilida<strong>de</strong>s necessárias para a<br />
aprendizagem da Língua Inglesa, uma vez que, para esses estudantes,<br />
havia sentido para a realização <strong>de</strong>ssas tarefas. 1 Disponível em:<br />
. 2 O Hotpotatoes tem a<br />
finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> proporcionar a criação <strong>de</strong> exercícios interativos.<br />
Disponível em: .<br />
CURTIR, COMENTAR E COMPARTILHAR: O USO DOS TRÊS<br />
C’S NA PRODUÇÃO DE TEXTOS NAS TURMAS DE ENSINO<br />
MÉDIO<br />
Eryck Dieb Souza<br />
Raianny Lima Soares<br />
As novas tecnologias e, em especial, as re<strong>de</strong>s sociais, têm um papel<br />
importante nas relações humanas da atualida<strong>de</strong>. Nesse sentido, este<br />
trabalho relata o uso da re<strong>de</strong> social Facebook como um suporte virtual e<br />
pedagógico na Escola <strong>de</strong> Ensino Estadual e Profissional Edson Queiroz<br />
<strong>de</strong> preparação dos estudantes para a Olimpíada Brasileira <strong>de</strong> Português<br />
(OBP), que aborda o tema “O lugar on<strong>de</strong> eu vivo!”. A Olimpíada<br />
propõe este ano a produção escrita <strong>de</strong> alguns gêneros <strong>de</strong> textos, como:<br />
artigo <strong>de</strong> opinião, crônica e memórias sobre o tema proposto. Para<br />
auxiliá-los nessa preparação, criamos um grupo no Facebook para que<br />
os alunos pu<strong>de</strong>ssem <strong>de</strong>senvolver <strong>de</strong>bates extraclasses sobre o lugar<br />
on<strong>de</strong> eles vivem, contribuindo para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> suas<br />
produções textuais exigidas na OBP. Nessa perspectiva, ressaltamos<br />
três ativida<strong>de</strong>s que proporcionam a interação no grupo: curtir, comentar<br />
e compartilhar- os três c’s. Com a perspectiva <strong>de</strong> obtermos bons<br />
resultados e por acreditarmos que as re<strong>de</strong>s colaborativas virtuais<br />
possam ser um meio interessante e eficiente <strong>de</strong> aprendizagem,<br />
utilizamos o grupo como uma estratégia extraclasse que, além <strong>de</strong><br />
auxiliar na produção <strong>de</strong> textos e permitir o domínio da língua<br />
portuguesa, proporcionasse também um trabalho <strong>de</strong> contação e<br />
pesquisa da história das localida<strong>de</strong>s em que os alunos moravam,<br />
ressaltando algumas curiosida<strong>de</strong>s, personalida<strong>de</strong>s, lugares, problemas e<br />
riquezas. Tomou-se como base conceitos como a metodologia <strong>de</strong><br />
ensino mediada por re<strong>de</strong>s sociais <strong>de</strong>senvolvida por Melo (2011) e a<br />
441
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>Educação</strong> Construtiva <strong>de</strong> Freire. Como resultados <strong>de</strong>ssa experiência<br />
pedagógica, <strong>de</strong>stacamos os seguintes aspectos: a) interação assídua<br />
entre os alunos na construção <strong>de</strong> seus textos e na contribuição nos<br />
textos dos colegas, b) motivação para a pesquisa pela localida<strong>de</strong> on<strong>de</strong><br />
moram e, por fim, c) exploração <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s existentes no uso <strong>de</strong>sse<br />
novo ambiente <strong>de</strong> aprendizagem, através das ativida<strong>de</strong>s três c’s. Assim,<br />
ao proporcionarmos essa nova metodologia <strong>de</strong> ensino para a construção<br />
<strong>de</strong> textos que valorizam também suas histórias populares, percebemos<br />
que integramos hábitos culturais em nossos alunos, proporcionando<br />
uma aprendizagem mais horizontada e mais próxima dos conceitos<br />
construtivos que a <strong>Educação</strong> requer.<br />
TRABALHANDO COM FOTOLIVROS PARA DESENVOLVER<br />
A COMPREENSÃO E O EMPREGO DE TEMPOS VERBAIS NO<br />
PRESENTE E NO PASSADO<br />
Fabiana Soares Da Silva<br />
Elenice An<strong>de</strong>rsen (Orientadora)<br />
Palavras-Chaves: Ensino <strong>de</strong> língua materna; tecnologias da informação<br />
e da comunicação; habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> escrita.<br />
Neste trabalho, preten<strong>de</strong>-se apresentar uma experiência pedagógica<br />
vivenciada por uma bolsista do Programa <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> Tutorial -<br />
PET/Letras, da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa, campus Bagé,<br />
programa subsidiado pelo Ministério da <strong>Educação</strong>. O PET-Letras tem<br />
como objetivo principal analisar a pertinência e a a<strong>de</strong>quação do uso <strong>de</strong><br />
programas e serviços <strong>de</strong> produção multimídia disponíveis gratuitamente<br />
na internet para o <strong>de</strong>senvolvimento da linguagem escrita. Logo,<br />
procurou-se investigar em que medida os softwares Diji álbum e<br />
Ncesoft Flip Book Maker po<strong>de</strong>riam contribuir para o trabalho com a<br />
compreensão e o emprego dos tempos verbais no presente e no passado,<br />
em uma turma <strong>de</strong> 2º ano do Ensino Médio <strong>de</strong> uma escola pública <strong>de</strong><br />
Bagé, por meio da produção <strong>de</strong> Fotolivros. Este estudo justifica-se<br />
mediante o fato <strong>de</strong> que, para formar leitores e produtores <strong>de</strong> textos, é<br />
necessário que haja uma ampliação no contato <strong>de</strong>sses com textos dos<br />
mais variados gêneros. Para tanto, cabe ao professor incentivá-los à<br />
leitura e à produção escrita crítica e reflexiva bem como buscar novas<br />
metodologias <strong>de</strong> ensino-aprendizagem que lhes permitam o acesso às<br />
mais diferentes formas <strong>de</strong> linguagem. Com base nas análises feitas,<br />
po<strong>de</strong>-se afirmar que trabalhar com Fotolivros em sala <strong>de</strong> aula é<br />
interessante não só porque po<strong>de</strong>m ser mostrados a outras pessoas em<br />
442
Resumo dos Trabalhos<br />
diferentes momentos, mas também porque po<strong>de</strong>m aproximar a escola à<br />
vida cotidiana dos alunos, visto que po<strong>de</strong>m permitir o trabalho com<br />
diferentes tipos <strong>de</strong> linguagens e mídias a partir das memórias <strong>de</strong> cada<br />
aluno e ao mesmo tempo <strong>de</strong>spertar o interesse e o prazer dos discentes<br />
em apren<strong>de</strong>r.<br />
ENSINO DE LIBRAS NA UFPEL: MEMÓRIAS DA<br />
EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO<br />
EM INTERFACE DIGITAL INTERATIVA<br />
Fabiano Souto Rosa<br />
Tatiana Bolivar Lebe<strong>de</strong>ff<br />
Palavras-chave: Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais – Material Didático –<br />
Interface Digital Interativa<br />
A Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais (Libras) foi reconhecida no Brasil pela<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral nº 10.436 <strong>de</strong> 2002, e obrigatoriamente inserida nos<br />
currículos dos cursos <strong>de</strong> Licenciatura, em 2005, pelo Decreto Fe<strong>de</strong>ral nº<br />
5.626. Apesar do tempo <strong>de</strong>corrido, os materiais didáticos para o ensino<br />
da mesma ainda são escassos no contexto brasileiro. É possível<br />
encontrar, no mercado editorial, dicionários virtuais, digitais e<br />
impressos, entretanto, são poucos os materiais voltados para o ensino<br />
da Libras. Isso porque os próprios estudos linguísticos sobre a Libras<br />
são recentes, bem como as pesquisas sobre o seu ensino para ouvintes.<br />
Os dicionários existentes apresentam apenas o estudo lexicográfico da<br />
Libras, e não a língua em uso no contexto comunicativo. Os websites e<br />
programas <strong>de</strong> ensino da língua para uso na internet também seguem o<br />
mesmo mo<strong>de</strong>lo dos dicionários, sem ativida<strong>de</strong>s comunicativas. Este<br />
trabalho se propõe a problematizar e a compartilhar a experiência da<br />
produção <strong>de</strong> uma proposta <strong>de</strong> material didático para o ensino <strong>de</strong> Libras<br />
na UFPEL. Esta produção possui caráter investigativo e extensionista,<br />
na qual trabalham um grupo <strong>de</strong> quatro professores, uma professora<br />
Pesquisadora bolsista CAPES/UAB e uma discente bolsista <strong>de</strong> extensão<br />
do Curso <strong>de</strong> Design. O material didático que está sendo produzido<br />
busca, como principais características: 1) o uso <strong>de</strong> uma linguagem<br />
visual capaz <strong>de</strong> prescindir, ao máximo, da linguagem escrita; 2)<br />
potencial comunicativo e 3) tecnologia <strong>de</strong> fácil manuseio. No momento<br />
encontram- se prontos todos os conteúdos filmados para a disciplina <strong>de</strong><br />
Libras I, que estão sendo inseridos em uma interface digital interativa.<br />
O texto apresenta as opções e possibilida<strong>de</strong>s tecnológicas utilizadas para<br />
a produção do material didático.<br />
443
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
REFLEXÕES SOBRE O PAPEL PEDAGÓGICO NO<br />
CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS<br />
Felipe Bonow Soares<br />
Antônio Luiz Oliveira Heberlê<br />
Neste estudo analisa-se a presença da internet na socieda<strong>de</strong><br />
contemporânea e as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> seu uso na educação. Enten<strong>de</strong>-se<br />
que a comunicação é essencial no processo <strong>de</strong> educação e na geração <strong>de</strong><br />
conhecimentos, por isso alguns conceitos relativos à comunicação,<br />
direcionados para a educação, já que estas duas esferas <strong>de</strong> produção<br />
simbólica são muito próximas. As novas tecnologias fazem parte do<br />
cenário contemporâneo, por isso, neste estudo buscam-se alguns<br />
conceitos capazes <strong>de</strong> situar a forma como a internet e as tecnologias em<br />
geral influem na vida cotidiana. A partir <strong>de</strong>sse entendimento, são<br />
discutidas algumas das possibilida<strong>de</strong>s do uso das novas tecnologias na<br />
educação, observando-se que a criativida<strong>de</strong> é chave para um processo<br />
eficiente. Sabendo-se que, com o advento da web, a informação está<br />
muito mais disponível para os alunos, as práticas pedagógicas<br />
certamente serão impactadas e a tarefa do professor também é <strong>de</strong>safiada<br />
por este novo contexto. É por isso que novos paradigmas são analisados,<br />
percebendo-se que a internet é capaz <strong>de</strong> dinamizar as relações entre<br />
educador e educando. O principal objetivo <strong>de</strong>ste estudo é <strong>de</strong> apresentar<br />
as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> utilização das novas tecnologias em sala da aula e<br />
mostrar que esse processo <strong>de</strong>ve ocorrer <strong>de</strong> maneira cuidadosa e<br />
organizada, com as diversas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso das novas tecnologias<br />
sendo exploradas da maneira mais a<strong>de</strong>quada possível.<br />
A INVESTIGAÇÃO DE ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS<br />
EM ATIVIDADES DE LEITURA DISPONIBILIZADAS EM<br />
PORTAIS EDUCACIONAIS PARA PROFESSORES<br />
Flávia Medianeira De Oliveira<br />
Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que o ensino <strong>de</strong> línguas<br />
<strong>de</strong>ve propiciar ao aluno a análise <strong>de</strong> sua própria língua e cultura, por<br />
meio <strong>de</strong> vínculos com outras culturas – por semelhança e contraste –<br />
que lhe permitam compreen<strong>de</strong>r melhor sua realida<strong>de</strong> e as <strong>de</strong> outros,<br />
enriquecendo sua visão crítica e seu universo cultural (PCNs, 2002). A<br />
leitura <strong>de</strong> textos em língua inglesa se constitui como uma das<br />
alternativas pedagógicas que mais contribui para a reflexão <strong>de</strong>ssas<br />
questões em sala <strong>de</strong> aula (Motta-Roth, 2006). Os portais educacionais,<br />
444
Resumo dos Trabalhos<br />
especificamente <strong>de</strong> língua inglesa, disponibilizam diversos conteúdos e<br />
ativida<strong>de</strong>s pedagógicas que po<strong>de</strong>m ser utilizados, principalmente, por<br />
professores em formação inicial. Este estudo, com base nas pesquisas <strong>de</strong><br />
Análise do Discurso e Ensino e Aprendizagem <strong>de</strong> Línguas, tem como<br />
objetivo analisar as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura propostas por três portais<br />
educacionais <strong>de</strong> língua inglesa, visando i<strong>de</strong>ntificar em que medida<br />
questões culturais e sociais são propostas e discutidas nessas ativida<strong>de</strong>s.<br />
Além disso, busca-se 1) investigar quais os objetivos dos portais<br />
educacionais ao discutirem os aspectos culturais e sociais em suas<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e 2) i<strong>de</strong>ntificar <strong>de</strong> que forma a pluralida<strong>de</strong> cultural<br />
é valorizada e incentivada nas ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura propostas por esses<br />
portais. Nossa investigação visa contribuir com a prática docente <strong>de</strong><br />
professores em formação inicia, auxiliando-os no processo <strong>de</strong> ensino e<br />
aprendizagem das questões culturais e sociais <strong>de</strong> língua inglesa. A<br />
pesquisa inicial aponta que as ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura com enfoque em<br />
aspectos culturais e sociais ainda são propostas com o intuito <strong>de</strong><br />
apresentar e discutir questões gramaticais relacionadas ao ensino <strong>de</strong><br />
língua inglesa.<br />
Palavras-chave: ensino-leitura-cultura.<br />
PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM COMUNIDADE VIRTUAL:<br />
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS<br />
Gerson Bruno Forgiarini De Quadros<br />
A expansão e utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação,<br />
doravante (TICs), nas escolas públicas vêm influenciando alguns<br />
mo<strong>de</strong>los e processos <strong>de</strong> ensino e aprendizagens tanto dos professores<br />
como dos alunos. Desse modo, caberá aos professores mobilizar seus<br />
aprendizes, potencializando o uso <strong>de</strong> recursos online para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> suas competências e habilida<strong>de</strong>s linguísticas. E<br />
uma das maneiras <strong>de</strong> se explorar isso no ensino e aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas é por meio da integração <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aprendizagem com<br />
ambientes virtuais. O presente estudo se baseia numa proposta <strong>de</strong><br />
produção textual e oral em língua portuguesa e inglesa mediada por<br />
computador numa escola pública no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. A intenção<br />
<strong>de</strong>ste estudo está em compreen<strong>de</strong>r o modo como são mediados os<br />
processos <strong>de</strong> ensino e aprendizagem <strong>de</strong> línguas na Internet pelo uso <strong>de</strong><br />
um ambiente virtual para a edição <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>os animados conhecido por<br />
“Go! Animate”. Outro interesse <strong>de</strong>ste estudo está em <strong>de</strong>screver e<br />
analisar as práticas <strong>de</strong> letramento nessa que também é consi<strong>de</strong>rada uma<br />
445
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
comunida<strong>de</strong> virtual <strong>de</strong> aprendizagem. Preten<strong>de</strong>-se verificar quais<br />
elementos po<strong>de</strong>m potencializar o <strong>de</strong>senvolvimento da compreensão<br />
textual e auditiva tanto em língua portuguesa como em língua inglesa<br />
assim como no <strong>de</strong>senvolvimento da escrita e da oralida<strong>de</strong> dos sujeitos<br />
que serão investigados nesta pesquisa. Uma análise preliminar das<br />
produções dos ví<strong>de</strong>os animados na internet dá conta <strong>de</strong> que uma<br />
aprendizagem em contexto <strong>de</strong> práticas sociais.<br />
TICS E APRENDIZAGEM COLABORATIVA: A<br />
CONTRIBUIÇÃO DA WEBQUEST NO ENSINO<br />
Glênis Machado Ferreira<br />
A partir <strong>de</strong> observações diretas verificou-se que o ensino e<br />
aprendizagem po<strong>de</strong>m utilizar recursos que viabilizam mobilizar os<br />
conhecimentos, a inteligência e a criativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> forma colaborativa e<br />
ainda usar a própria tecnologia digital a seu favor. O objetivo <strong>de</strong>sse<br />
artigo é apresentar a WebQuest como uma das possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso<br />
associado <strong>de</strong> TICs na sala <strong>de</strong> aula e o modo como torná-la presente na<br />
prática dos professores e nas aulas, nos mais variados níveis e áreas <strong>de</strong><br />
conhecimento. Nesta perspectiva, parte-se da aprendizagem<br />
colaborativa, o compartilhamento e o empréstimo <strong>de</strong> conhecimento<br />
entre os envolvidos, ou seja, professores e alunos.<br />
O JOGO DE LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN COMO<br />
EXERCÍCIO PARA OLHAR A INTERATIVIDADE NA<br />
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, APOIADA PELAS TICS<br />
Heloisa Helena Duval De Azevedo<br />
Luciane Senna Ferreira<br />
Palavras-chave: jogo <strong>de</strong> linguagem; interativida<strong>de</strong>; fórum.<br />
O presente artigo apresenta um panorama centralizado na categoria jogo<br />
da linguagem <strong>de</strong> Wittgenstein utilizada para pensar a interativida<strong>de</strong> na<br />
modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> educação a distância. A interativida<strong>de</strong> po<strong>de</strong> ser<br />
exercitada pensando-a como um jogo <strong>de</strong> linguagem, no qual a regra é o<br />
exercício do conhecimento. Po<strong>de</strong>mos jogar usando a comunicação<br />
síncrona e assíncrona que as ferramentas tecnológicas <strong>de</strong> informação e<br />
comunicação permitem, neste sentido a interativida<strong>de</strong> e o jogo da<br />
linguagem, na modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> educação a distancia, implica em pensar<br />
na multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> jogos que po<strong>de</strong>mos participar na relação ensino e<br />
446
Resumo dos Trabalhos<br />
aprendizagem. Para nosso estudo, consi<strong>de</strong>ramos o jogo <strong>de</strong> linguagem<br />
como ferramenta para examinar alguns recursos interativos como, por<br />
exemplo, o fórum. No AVA do curso <strong>de</strong> Especialização em Gestão <strong>de</strong><br />
Polos, em todas as disciplinas, utilizamos fóruns e eles se mostraram<br />
um espaço para múltiplas formas <strong>de</strong> convivência, diálogo e <strong>de</strong><br />
pensarmos a avaliação. As regras eram estabelecidas no começo <strong>de</strong> cada<br />
disciplina, porém, outras surgiam conforme cada grupo composto <strong>de</strong><br />
alunos, professores pesquisadores e tutores apresentavam<br />
questionamentos novos que exigiam revisão do estabelecido. Dessa<br />
forma, buscamos <strong>de</strong>monstrar que as atribuições da equipe docente<br />
apontaram para novas regras a partir <strong>de</strong>sta experiência, indo além <strong>de</strong><br />
uma simples tarefa avaliativa, estabelecendo, então, que apren<strong>de</strong>mos a<br />
jogar mais <strong>de</strong> um jogo e a exercitar a interativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> múltiplas<br />
formas.<br />
A UTILIZAÇÃO DA WEBQUEST COMO PROPOSTA<br />
INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:<br />
POSSIBILIDADES DE LETRAMENTO DIGITAL<br />
Ilanna Maria Izaias Do Nascimento<br />
Palavras-chave: Letramento digital, Língua Inglesa, Webquest.<br />
Devido a constante evolução da tecnologia há a necessida<strong>de</strong> da escola<br />
proporcionar meios a<strong>de</strong>quados para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s e<br />
ambientes <strong>de</strong> aprendizagem que possam compartilhar o conhecimento<br />
além das aulas presenciais do mo<strong>de</strong>lo tradicional. Assim este estudo<br />
visa utilizar a Webquest e apresentar possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> letramento<br />
digital nas aulas <strong>de</strong> Língua Inglesa. O estudo em questão sustenta-se<br />
pela pesquisa bibliográfica em diferentes fontes que apresentam a<br />
utilização da Web 2.0 como recurso ou como estratégia pedagógica no<br />
ensino-aprendizagem <strong>de</strong> línguas, tendo como metodologia adotada a<br />
apresentação da ferramenta e seus recursos para uma turma do curso<br />
superior <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Turismo do Instituto Fe<strong>de</strong>ral do Maranhão –<br />
Campus Alcântara para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um website informativo<br />
em inglês sobre a cida<strong>de</strong> histórica <strong>de</strong> Alcântara-Ma. Neste sentido,<br />
po<strong>de</strong>-se observar que integrar ferramentas do meio digital às aulas <strong>de</strong><br />
Língua Inglesa promove reflexões e análises dos conteúdos estudados<br />
em sala <strong>de</strong> aula, melhorando consi<strong>de</strong>ravelmente a aprendizagem da<br />
Língua Inglesa, pois faz com que o indivíduo seja letrado digital capaz<br />
<strong>de</strong> realizar práticas <strong>de</strong> leitura e escrita integradas à interação social em<br />
ambientes virtuais, fazendo uso <strong>de</strong> gêneros textuais a<strong>de</strong>quados à<br />
especificida<strong>de</strong> da esfera comunicativa envolvida.<br />
447
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS EM AMBIENTES<br />
DIGITAIS<br />
Jael Scoto Meirelles<br />
Paula Da Costa<br />
Palavras-chave: Ciberpoesia,Letramento Literário, Letramento Digital.<br />
O presente artigo tem como objetivo discutir a ciberpoesia como<br />
ferramenta <strong>de</strong> expansão do letramento literário e do letramento digital,<br />
além <strong>de</strong> refletir sobre a interpretação dos textos poéticos por alunos do<br />
ensino fundamental. A discussão se fundamentou a partir <strong>de</strong> oficinas<br />
com ciberpoesia. Estas se <strong>de</strong>ram <strong>de</strong> forma, em um primeiro momento,<br />
teórica e reflexiva, e, em um segundo momento, práticas, a partir <strong>de</strong><br />
leituras e do contato com o meio digital no laboratório <strong>de</strong> informática.<br />
Foram realizadas, também, com os alunos ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
poesias visuais em ambiente digital. Este projeto enfoca alunos <strong>de</strong><br />
oitavo e nono ano <strong>de</strong> uma escola municipal <strong>de</strong> Bagé/RS, e faz parte do<br />
PIBID, Programa Institucional <strong>de</strong> Bolsistas em Iniciação à docência,<br />
subprojeto <strong>de</strong> Letras, que tem como principal objetivo formar leitores.<br />
A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE INGLÊS<br />
MEDIANTE AS NOVAS TIC: AÇÃO, REFLEXÃO E<br />
COLABORAÇÃO<br />
Jesiel Soares Silva<br />
Este trabalho analisa uma pesquisa colaborativa <strong>de</strong> mestrado<br />
<strong>de</strong>senvolvida por mim em parceria com um grupo <strong>de</strong> cinco professoras<br />
da re<strong>de</strong> pública estadual e municipal <strong>de</strong> Goiânia, Goiás. Por intermédio<br />
<strong>de</strong> encontros presenciais e virtuais apresentamos, discutimos e<br />
aplicamos algumas ferramentas da Internet no ensino <strong>de</strong> inglês. O<br />
propósito maior foi averiguar <strong>de</strong> que forma a colaboração po<strong>de</strong><br />
contribuir para uma prática docente menos individual no Ensino <strong>de</strong><br />
Língua Mediado por Computador (ELMC), e como a reflexão e a ação<br />
po<strong>de</strong>m ser alternativas na formação das professoras. Para tratarmos da<br />
formação <strong>de</strong> professores como profissionais reflexivos, fizemos uma<br />
discussão sobre as teorias <strong>de</strong> Schön (1983, 1992) e os <strong>de</strong>sdobramentos<br />
<strong>de</strong> sua teoria em Zeichner (2003), Zeichner e Liston (1996) e Pérez<br />
Gómez (1992). Como parte dos construtos sobre a concepção <strong>de</strong><br />
professor como profissional reflexivo, discutimos a questão da<br />
autonomia do professor <strong>de</strong>ntro do processo <strong>de</strong> interação com seus pares<br />
(CONTRERAS, 2002; FREIRE, 1996 e GIROUX, 1997). Os<br />
448
Resumo dos Trabalhos<br />
resultados apontam a colaboração como fator <strong>de</strong>cisivo na formação<br />
reflexiva das professoras <strong>de</strong> inglês que fazem uso do computador, pois<br />
compartilhando os avanços, angústias, entraves do trabalho entre si,<br />
elas se sentiram mais seguras e confiantes para prosseguir. Além disso,<br />
os resultados mostram a importância da relação entre a universida<strong>de</strong> e a<br />
escola pública na busca <strong>de</strong> alternativas para a melhoria dos processos<br />
educacionais.<br />
PROGRAMA PIXTON:PROMOVENDO O LETRAMENTO<br />
MULTISSEMIÓTICO POR MEIO DA PRODUÇÃO DE TIRAS<br />
EM QUADRINHOS ONLINE<br />
Joana D'arc Camargo Borges Acosta<br />
Antônia Nilda De Souza<br />
Palavras-chaves: Letramento digital, Letramento multissemiótico,<br />
retextualização.<br />
Nesta comunicação, temos por objetivo relatar e analisar as experiências<br />
obtidas na Oficina <strong>de</strong> Quadrinhos <strong>de</strong>senvolvida com alunos <strong>de</strong> 8ºano <strong>de</strong><br />
uma escola pública, em ação <strong>de</strong> extensão da UNIPAMPA, no interior<br />
do RS. Nosso objetivo, nesta pesquisa, foi investigar a construção e uso<br />
que os alunos fizeram dos conhecimentos sobre os recursos verbais e<br />
não verbais que constituem os textos contemporâneos. Por meio da<br />
ação do projeto, buscamos proporcionar uma aprendizagem que<br />
envolvesse o letramento multissemiótico, ou multimodal, tendo por<br />
pilar o letramento digital. Durante a Oficina, os alunos fizeram leitura<br />
<strong>de</strong> diferentes gêneros textuais, incluindo, por exemplo, gêneros<br />
jornalísticos e literários. A partir <strong>de</strong>ssas leituras, a turma produziu<br />
quadrinhos através <strong>de</strong> retextualizações no Pixton, um programa <strong>de</strong><br />
produção <strong>de</strong> quadrinhos online e publicaram suas produções em um<br />
blog. O projeto ainda buscou valorizar os conhecimentos e a cultura<br />
dos alunos, <strong>de</strong> modo que a autoestima fosse potencializada. Os<br />
resultados <strong>de</strong>monstraram que o letramento digital <strong>de</strong>senvolvido por<br />
meio do Pixton amplia habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura e produção textual,<br />
abrindo espaço para criativida<strong>de</strong>, reflexão e autoria <strong>de</strong> textos na<br />
internet.<br />
449
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ENTRE E A MÍDIA E A ESCOLA: NOVAS ABORDAGENS<br />
EDUCACIONAIS PELO VIÉS CINEMATOGRÁFICO<br />
Joice Do Prado Alves<br />
Pensar as relações entre a educação e as novas tecnologias que<br />
permeiam a realida<strong>de</strong> atual, implica romper algumas barreiras<br />
tradicionalistas que muitas vezes acompanham o pensar e o fazer<br />
educacional. Muito mais que reavaliar o uso <strong>de</strong>ssas tecnologias (como<br />
internet e celulares), <strong>de</strong>vemos abrir espaço para discutir também as<br />
mídias e meios <strong>de</strong> comunicação que se tornam hoje verda<strong>de</strong>iras fontes<br />
educadoras. Atingindo especialmente as crianças <strong>de</strong> forma mais<br />
marcante, a televisão e o cinema acabam por transmitir conhecimentos<br />
na medida em que <strong>de</strong>snudam àqueles que assistem uma realida<strong>de</strong><br />
forjada, na maioria das vezes manipulando o que é transmitido e<br />
difundindo discursos que a<strong>de</strong>ntram o imaginário comum. Essa pesquisa<br />
tem por objetivo justamente observar como se dá a difusão <strong>de</strong> tais<br />
discursos pelo viés cinematográfico, que acaba por construir novas<br />
realida<strong>de</strong>s e a vendê-las enquanto verda<strong>de</strong>iras. Essa perspectiva segue<br />
os rastros o que os estudos culturais optaram chamar “pedagogia da<br />
fronteira”, on<strong>de</strong> os conhecimentos ditos fronteiriços são trazidos ao<br />
centro da discussão e se mesclam aos que já estão consolidados,<br />
criando novas abordagens pedagógicas. Através <strong>de</strong> metodologias que<br />
cercam as pesquisas bibliográficas, mostramos como os discursos<br />
cinematográficos <strong>de</strong>vem ser atentamente observados enquanto uma<br />
nova forma <strong>de</strong> aprendizado, já que <strong>de</strong> forma aparentemente inocente,<br />
são capazes <strong>de</strong> transmitir uma quantida<strong>de</strong> ilimitada <strong>de</strong> informação –<br />
muitas vezes errôneas – com extrema facilida<strong>de</strong>.<br />
CURSOS SUPERIORES EAD: ACESSIBILIDADE PARA<br />
QUEM?<br />
Juliana Ilha Culau<br />
Palavras-chaves: Cursos EaD; Acessibilida<strong>de</strong>; Deficiência visual.<br />
O projeto Além da Visão, da UFSM, tem por objetivo geral <strong>de</strong>senvolver<br />
pesquisas em torno da acessibilida<strong>de</strong> para pessoas com <strong>de</strong>ficiência<br />
visual, sobretudo envolvendo tecnologias. Entre seus objetivos<br />
específicos está a criação <strong>de</strong> condições para que os cursos EaD da<br />
UFSM <strong>de</strong> nível superior tornem-se acessíveis e atraiam mais<br />
intensamente este público. Ao levar em conta especialmente esta meta,<br />
realizamos, ao longo dos meses <strong>de</strong> maio a julho <strong>de</strong> 2012, uma pesquisa<br />
450
Resumo dos Trabalhos<br />
entre os cursos UAB da UFSM para saber se atualmente já há alunos<br />
com <strong>de</strong>ficiência visual a eles vinculados. Entramos em contato com os<br />
coor<strong>de</strong>nadores <strong>de</strong> 17 cursos <strong>de</strong> graduação EaD na UFSM. A partir do<br />
levantamento feito em tais cursos, o resultado que obtivemos foi que os<br />
cursos não têm alunos DVs, exceto o curso <strong>de</strong> Letras –<br />
Espanhol/Literaturas o qual é coor<strong>de</strong>nado pelo professor também<br />
coor<strong>de</strong>nador <strong>de</strong>ste projeto, que tem uma única aluna. A coor<strong>de</strong>nação<br />
mantém contato via e-mail com a aluna, bem como um dos membros<br />
do projeto Além da Visão que a auxilia no acesso aos materiais. Os emails<br />
são arquivados criando-se um histórico no Google Docs<br />
registrando, assim, soluções para futuras dúvidas. Nesta apresentação,<br />
vamos relatar as dificulda<strong>de</strong>s e os resultados que se têm obtido com<br />
esta aluna no curso.<br />
FLE E AS NOVAS TECNOLOGIAS: O USO DO BUREAU<br />
VIRTUAL NAS AULAS DE FRANCÊS<br />
Kizy Dos Santos Dutra<br />
FLE e as novas tecnologias: O uso do Bureau Virtual nas aulas <strong>de</strong><br />
Francês No ensino das línguas estrangeiras muitos recursos estão<br />
disponíveis atualmente. Além <strong>de</strong> uma gran<strong>de</strong> diversida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> livros, os<br />
alunos e professores tem acesso à CDs e DVDs vinculados diretamente<br />
aos livros ou livres, sites com ativida<strong>de</strong>s e explicações gramaticais e <strong>de</strong><br />
compreensão oral. Todos esses recursos se distinguem do ambiente<br />
virtual <strong>de</strong> aprendizagem, pois nesse é possível promover a interação<br />
entre professor-aluno, aluno-aluno e alunos-alunos. Este trabalho é o<br />
resumo do nosso TCC apresentado na PUCRS <strong>de</strong> Poa no curso <strong>de</strong><br />
Especialização em EAD com enfase na Docência e na tutoria. Nele<br />
analisamos o Bureau Virtuel da Aliança Francesa <strong>de</strong> Poa, com o<br />
objetivo <strong>de</strong> saber as vantagens e <strong>de</strong>svantagens para o ensino na<br />
instituição. Para tanto <strong>de</strong>screvemos o ambiente virtual, analisamos sua<br />
interface e entrevistamos os colegas. Iremos <strong>aqui</strong> apresentar os resumos<br />
do nosso trabalho.<br />
451
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
INFLUÊNCIA DAS MARCAS DE SUBJETIVIDADE PARA A<br />
CONSTRUÇÃO E EXPRESSÃO DE IDENTIDADES EM UM<br />
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM<br />
Lígia Maria Sayão Lobato De Coppetti<br />
Palavras-chave: Ambiente Virtual <strong>de</strong> Aprendizagem – marcas <strong>de</strong><br />
subjetivida<strong>de</strong> – I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s.<br />
Este trabalho é um recorte <strong>de</strong> dissertação <strong>de</strong> mestrado em Letras –<br />
PPGL Uniritter - que tem seu foco na leitura analítica dos enunciados<br />
produzidos nas seções do fórum do Ambiente Virtual <strong>de</strong> Aprendizagem<br />
Moodle, pelos alunos do Curso <strong>de</strong> Licenciatura em Música da UFRGS,<br />
na modalida<strong>de</strong> à distância (EAD). Seu corpus abrange os alunos<br />
matriculados nos polos <strong>de</strong> Cachoeirinha (RS), Canoinhas, Itaiópolis e<br />
São Bento do Sul (SC). Este trabalho objetiva analisar a influencia das<br />
marcas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong> presentes nos enunciados dos fóruns, na<br />
construção e expressão <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s dos alunos, levando em conta as<br />
interações no grupo. Foi realizada uma seleção prévia das falas<br />
existentes nos referidos fóruns, consi<strong>de</strong>rando as marcas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong><br />
presentes e, posterior análise <strong>de</strong>ssas, com base na teoria <strong>de</strong> Émile<br />
Benveniste (1989, 2005). A <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong>sses enunciados <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ou<br />
uma leitura interpretativa que <strong>de</strong>monstrou a relevância das marcas <strong>de</strong><br />
subjetivida<strong>de</strong> presentes nos enunciados dos fóruns, na construção e<br />
expressão das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s dos alunos em interação nesse ambiente<br />
virtual.<br />
OS SLIDES INTERATIVOS NA AULA DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA<br />
Lucas Horner Feijó<br />
Este trabalho tem como objetivo propor uma ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura por<br />
meio dos sli<strong>de</strong>s interativos. Para isso, realizou-se uma pesquisa nas<br />
escolas municipais <strong>de</strong> Jaguarão/RS, com professores que lecionam a<br />
disciplina <strong>de</strong> Língua Portuguesa, através <strong>de</strong> questionários, para<br />
verificar como os docentes trabalham com a leitura na sala <strong>de</strong> aula.<br />
Verificou-se, que os professores ficam presos a leitura dos textos do<br />
livro didático e não utilizam o computador como meio <strong>de</strong> proporcionar<br />
contato com a leitura. Em função das constatações, propôs uma<br />
ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura por meio dos sli<strong>de</strong>s interativos. Palavras-chave:<br />
leitura, língua portuguesa sli<strong>de</strong>s interativos.<br />
452
Resumo dos Trabalhos<br />
APRENDENDO INGLÊS NA ERA DA MOBILIDADE: UMA<br />
ANÁLISE DO APLICATIVO “VOXY”<br />
Lucía Silveira Alda<br />
Palavras-chave: Voxy; Aplicativos; Língua Inglesa.<br />
Diante da crescente disseminação e renovação das tecnologias no<br />
contexto social atual, é necessário refletir sobre a nova realida<strong>de</strong> que<br />
emerge. As tecnologias digitais estão rapidamente inserindo-se no<br />
cotidiano popular, facilitando o acesso e a troca <strong>de</strong> informações. Em<br />
um mundo cada vez mais acessível, o interesse pela aprendizagem <strong>de</strong><br />
idiomas, mais especificamente da língua inglesa, vem aumentando<br />
notoriamente e várias iniciativas que utilizam a tecnologia estão sendo<br />
<strong>de</strong>senvolvidas para auxiliar esta aprendizagem. Levando em<br />
consi<strong>de</strong>ração a crescente popularização dos aparelhos celulares e sua<br />
acelerada evolução, diversos aplicativos estão sendo criados para<br />
aten<strong>de</strong>r o mercado <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> línguas. Dessa maneira, este<br />
trabalho tem como objetivo analisar o aplicativo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong><br />
língua inglesa “Voxy”, visando explorar os seus pontos positivos e<br />
negativos a fim <strong>de</strong> refletir sobre a sua real potencialida<strong>de</strong> para a<br />
aprendizagem. Para isso, fez-se uma revisão acerca dos conceitos <strong>de</strong><br />
aprendizagem móvel e <strong>de</strong> estatísticas acerca da telefonia celular e<br />
aplicativos, tendo em vista examinar a utilização <strong>de</strong>stes para a<br />
aprendizagem <strong>de</strong> língua estrangeira.<br />
O ESTADO DA ARTE SOBRE OBJETOS DE APRENDIZAGEM<br />
- MAPEAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES<br />
Luis Henrique Dos Santos<br />
Adilson Fernan<strong>de</strong>s Gomes<br />
Vanessa Ribas Fialho (ORIENTADORA)<br />
Com vistas a <strong>de</strong>scobrir o que já tem sido pesquisado e quais resultados<br />
já foram obtidos em pesquisas sobre Objetos <strong>de</strong> Aprendizagem (OAs)<br />
no ensino <strong>de</strong> línguas, foi <strong>de</strong>senvolvida a presente pesquisa, cujo<br />
objetivo é apresentar e discutir um mapeamento a nível nacional <strong>de</strong><br />
teses e dissertações que tenham como tema OAs. A metodologia da<br />
pesquisa consiste em um levantamento quantitativo e qualitativo <strong>de</strong><br />
publicações acadêmicas que tematizam principalmente questões como<br />
elaboração, utilização e avaliação <strong>de</strong> OAs. Para o mapeamento <strong>de</strong> teses<br />
e dissertações sobre OAs, foi utilizado como ferramenta <strong>de</strong> busca o<br />
453
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Banco <strong>de</strong> Teses do Portal da Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Aperfeiçoamento <strong>de</strong><br />
Pessoal <strong>de</strong> Nível Superior (CAPES), disponível em<br />
http://www.capes.gov.br/. O corpus da pesquisa consiste em 4 teses e 9<br />
dissertações (um total <strong>de</strong> 13 publicações) referentes a área Linguística e<br />
Letras. Na análise das informações gerais e dos resumos das 13<br />
supracitadas produções acadêmicas foi possível perceber que são<br />
poucas as Instituições <strong>de</strong> Ensino Superior (IES) que estudam e<br />
<strong>de</strong>senvolvem trabalhos com OAs em seus Programas <strong>de</strong> Pós-Graduação<br />
e, por conseguinte, o total <strong>de</strong> produções não constitui um número<br />
significativo. Os resultados também indicam que os autores <strong>de</strong> tais<br />
publicações não têm a <strong>de</strong>vida preocupação com a inclusão dos dados na<br />
elaboração dos resumos, pois a partir da análise dos mesmos constatouse<br />
que somente 5 dos 13 trabalhos (1 tese e 4 dissertações) tratam<br />
especificamente <strong>de</strong> OAs. Diante <strong>de</strong>sses resultados, percebe-se que a<br />
produção acadêmica relativa aos OAs no ensino <strong>de</strong> línguas é limitada e<br />
que o tema carece <strong>de</strong> estudo por parte da comunida<strong>de</strong> acadêmica<br />
(LEFFA, 2004; GARCIA, 2011).<br />
NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: O LIVRO<br />
DIDÁTICO, OS NOVOS GÊNEROS E A PRÁTICA ESCOLAR<br />
Maíra Fernan<strong>de</strong>s Laurentino<br />
Palavras-chave: Letramento digital, gêneros do discurso, TIC.<br />
O trabalho centrou-se, particularmente, em estudos que têm chamado a<br />
atenção para a natureza situada das práticas <strong>de</strong> letramento enfatizando<br />
aqueles advindos das novas tecnologias, como o e-mail, o “tweet” e<br />
textos on-line construídos com base em hiperlinks. Como principal<br />
objetivo <strong>de</strong>ste trabalho preten<strong>de</strong>u-se verificar quais gêneros do discurso<br />
advindos das novas tecnologias são utilizados em sala e se interferem<br />
nos processos <strong>de</strong> aprendizagem dos alunos. Para tanto, buscou-se: a)<br />
aprofundamento teórico acerca da influência das novas tecnologias e<br />
mudanças sociais no estabelecimento <strong>de</strong> novos gêneros do discurso; b)<br />
verificar como são apresentados os novos gêneros do discurso nos<br />
materiais didáticos; c) verificar como os alunos se relacionam com<br />
estes novos gêneros. Tomou-se como base uma metodologia <strong>de</strong> perfil<br />
etnográfico, participativo e colaborativo. Analisando o material<br />
didático da re<strong>de</strong> municipal <strong>de</strong> ensino foi possível notar que há menção<br />
a gêneros textuais advindos das TIC, porém, sempre em comparação a<br />
454
Resumo dos Trabalhos<br />
outros gêneros já conhecidos. Notou-se também uma mudança na<br />
configuração gráfica do livro didático se assemelhando a uma página da<br />
internet. O levantamento bibliográfico mostrou maior ênfase no uso das<br />
TIC para ensino <strong>de</strong> língua estrangeira e no ensino superior. Observouse<br />
também que das diferentes ferramentas disponíveis na internet, as<br />
que permitem maior controle por parte dos professores são mais<br />
procuradas.<br />
HAL 9000 MATOU A TRIPULAÇÃO OU DA IMPORTÂNCIA<br />
DO FATOR HUMANO NA EAD<br />
Marcus Vinicius Liessem Fontana<br />
Vanessa Ribas Fialho<br />
“Olhe, Dave, eu posso ver que você está realmente chateado com isso”<br />
– diz o supercomputador HAL 9000 ao astronauta David Bowman,<br />
após eliminar os outros tripulantes da nave Discovery One, rumo a<br />
Júpiter, no épico da ficção científica 2001: uma odisseia no espaço.<br />
Longe da máquina inteligente i<strong>de</strong>al imaginada pelo matemático Alan<br />
Turing na primeira meta<strong>de</strong> do século XX, o HAL 9000 do cineasta<br />
Kubrick, da segunda meta<strong>de</strong> daquele século, mostra o lado sinistro dos<br />
avanços tecnológicos. São extremos. A tecnologia tem se mostrado<br />
extremamente útil em todos os setores <strong>de</strong> nossa socieda<strong>de</strong>, inclusive e<br />
muito especialmente na educação, a tal ponto que hoje muitos<br />
especulam se um dia a figura do professor po<strong>de</strong>rá ser substituída por<br />
uma máquina, conforme discute Leffa (2005). A fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrar que<br />
isso dificilmente será possível, neste trabalho fazemos um breve<br />
passeio pelas tecnologias emergentes que se voltam ou po<strong>de</strong>m se voltar<br />
para a educação, como os ambientes pessoais <strong>de</strong> aprendizagem, os<br />
mundos virtuais 3D, os games, a mobile learning, a realida<strong>de</strong><br />
aumentada, a holografia, a ciborguização e a própria inteligência<br />
artificial, ilustrando suas potencialida<strong>de</strong>s, mas sem <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> colocar<br />
em evidência a importância fundamental do professor e da comunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> aprendizagem no processo <strong>de</strong> construção do conhecimento.<br />
455
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM TECNOLOGIAS<br />
EDUCACIONAIS INOVADORAS PARA FLEXIBILIZAR E<br />
POTENCIALIZAR A APRENDIZAGEM<br />
Maria Cristina Rigão<br />
Liziany Muller<br />
Palavras Chave: Inclusão digital; Capacitação docente; Inovações<br />
tecnológicas.<br />
As mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas na socieda<strong>de</strong><br />
contemporânea geram novas <strong>de</strong>mandas por formação inicial e<br />
continuada, representando um <strong>de</strong>safio para as instituições educacionais<br />
por inovações tecnológicas. Esta pesquisa tem objetivo investigar a<br />
contribuição <strong>de</strong> práticas pedagógicas que utilizam recursos da<br />
tecnologia da informação e comunicação como mediador no processo<br />
ensino-aprendizagem. A metodologia esta pautada em uma abordagem<br />
<strong>de</strong> investigação-ação realizada durante a capacitação e inclusão digital<br />
dos professores da Escola Municipal <strong>de</strong> Ensino Fundamental Padre<br />
Nóbrega, Santa Maria,RS. Os resultados ressaltam a importância da<br />
inclusão digital e a capacitação dos professores na busca <strong>de</strong><br />
incrementar a qualida<strong>de</strong> do processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem nas<br />
escolas. A integração das TIC no processo <strong>de</strong> ensino aprendizagem<br />
dinamiza o trabalho docente, alterando as interações <strong>de</strong> professoresestudantes-conteúdos,<br />
bem como oportuniza a inovação no contexto<br />
escolar, flexibiliza e enriquece o trabalho pedagógico por meio da<br />
capacitação, atualização e aperfeiçoamento <strong>de</strong> professores.<br />
O USO DA INTERNET NO ENSINO DE LÍNGUAS<br />
ESTRANGEIRAS: REFLEXÕES NECESSÁRIAS<br />
Maria José Laiño<br />
Camila Teixeira Saldanha<br />
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão acerca das<br />
novas metodologias que po<strong>de</strong>m ser usadas no ambiente escolar. Com o<br />
avanço tecnológico e a chegada das chamadas Tecnologias da<br />
Informação e da Comunicação (TICs), a escola se vê obrigada a<br />
adaptar-se às novas ferramentas metodológicas. Juntamente com a<br />
escola, os professores também têm que estar em constante formação, já<br />
que as TICs são instrumentos que facilitam e enriquecem o preparo das<br />
aulas tornando-as mais eficientes e dinâmicas. Porém, a escolha <strong>de</strong>sses<br />
materiais oferecidos na internet, como também sua aplicação em sala <strong>de</strong><br />
456
Resumo dos Trabalhos<br />
aula, <strong>de</strong>ve ser feita <strong>de</strong> maneira criteriosa e consciente, tendo em vista<br />
que se trata somente <strong>de</strong> um instrumento, ou seja, um computador<br />
conectado a internet não é sinônimo <strong>de</strong> sucesso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sala <strong>de</strong> aula.<br />
Visto isso, este artigo tem por objetivo levantar algumas reflexões<br />
acerca <strong>de</strong> vantagens e <strong>de</strong>svantagens do uso das TICs em sala <strong>de</strong> aula.<br />
A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO EDUCATIVO-INTERATIVO À<br />
LUZ DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL<br />
Marion Rodrigues Dariz<br />
Magda Floriana Damiani<br />
Partindo do pressuposto <strong>de</strong> que se exige, na atualida<strong>de</strong>, uma nova<br />
postura do professor, <strong>de</strong> que ele precisa acompanhar as inovações, na<br />
escola, proporcionadas pelo uso das Tecnologias da Informação e da<br />
Comunicação (TIC), elaborou-se este trabalho que tem por objetivo<br />
apresentar e discutir o processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> um ví<strong>de</strong>o educativointerativo,<br />
à luz da perspectiva histórico-cultural <strong>de</strong> Vygotsky. O ví<strong>de</strong>o,<br />
produzido pela professora-pesquisadora está sendo aplicado e será,<br />
posteriormente, avaliado, constituindo-se em uma dissertação <strong>de</strong><br />
mestrado. Ao nomear o ví<strong>de</strong>o, acrescentou-se o adjetivo educativointerativo<br />
porque é <strong>de</strong>sejo enfatizar o objetivo do material, que é<br />
educativo, bem como a forma <strong>de</strong>ste, que é interativa. Embora o<br />
instrumento tenha recebido <strong>de</strong>nominação própria, ele po<strong>de</strong> ser<br />
consi<strong>de</strong>rado um Objeto <strong>de</strong> Aprendizagem porque é consi<strong>de</strong>rado um<br />
recurso digital a ser reutilizado para o suporte ao ensino (WILEY,<br />
2000). O objeto criado objetiva auxiliar alunos <strong>de</strong> 8ª série do Ensino<br />
Fundamental, da Re<strong>de</strong> Pública, na formação <strong>de</strong> conceitos sobre<br />
ambiguida<strong>de</strong> lexical. Baseado nos pressupostos vygotskyanos, partiu-se<br />
<strong>de</strong> exemplos concretos, do cotidiano dos educandos, <strong>de</strong> seus conceitos<br />
espontâneos, para a elaboração do ví<strong>de</strong>o. Isso foi feito com o intuito <strong>de</strong><br />
contextualizar os conceitos teóricos que serão ensinados (conceitos<br />
científicos), conferindo-lhes sentido e fazendo com que não fiquem<br />
apenas no nível <strong>de</strong> abstração que, geralmente, os caracteriza.<br />
457
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
EAD: REFLEXÕES SOBRE O TEMPO<br />
Marly Jovita Lisboa Garcia<br />
Palavras-chave: EaD; ensino-aprendizagem; gerenciamento <strong>de</strong> tempo.<br />
Refletir sobre a questão do tempo nos na <strong>Educação</strong> a Distância se torna<br />
pertinente não apenas em função da possibilida<strong>de</strong> da comunicação<br />
síncrona/assíncrona, mas também pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> os <strong>de</strong>senhos dos<br />
cursos favorecerem a execução refletida e participante das tarefas pelos<br />
estudantes. Isso significa dizer o professor precisa, no planejamento do<br />
curso em EaD, proporcionar meios para que as pessoas em formação<br />
aprendam também a organizar seu tempo <strong>de</strong> forma a dar conta das<br />
muitas tarefas que certamente são exigidas pelos cursos. Assim, propõe<br />
uma reflexão sobre o fenômeno tempo na modalida<strong>de</strong> EaD, diante da<br />
importância <strong>de</strong>ssa emergente questão. O corpus <strong>de</strong> análise se constitui<br />
<strong>de</strong> um curso <strong>de</strong> Redação na modalida<strong>de</strong> EaD oferecido como ativida<strong>de</strong>extra<br />
aos estudantes do 4º ano do Ensino Médio Integrado do IFRS<br />
Campus Rio Gran<strong>de</strong> os quais, além das ativida<strong>de</strong>s curriculares do<br />
Ensino Médio, <strong>de</strong>senvolvem e proce<strong>de</strong>m à <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong><br />
conclusão do curso técnico ao qual estão vinculados. Tal curso em EaD<br />
se apresentou como uma possibilida<strong>de</strong> para que esses estudantes,<br />
onerados pelas exigências escolares, tivessem uma “brecha” para<br />
produzir textos, discutir e refletir sobre diversos temas da atualida<strong>de</strong>,<br />
com vistas às provas <strong>de</strong> Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e <strong>de</strong><br />
Redação do ENEM, teste <strong>de</strong> conteúdos para ingresso em Instituições <strong>de</strong><br />
Ensino Superior. O curso, <strong>de</strong>senvolvido na plataforma MOODLE, foi<br />
i<strong>de</strong>alizado por duas professoras da área <strong>de</strong> Línguas e proposto como<br />
projeto <strong>de</strong> pesquisa, o qual lhes permitiu o auxílio <strong>de</strong> bolsistas, tanto na<br />
execução técnica quanto na proposição <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s que visavam ao<br />
aperfeiçoamento das habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura, interpretação e produção <strong>de</strong><br />
textos dissertativos.<br />
REFLEXÕES SOBRE LEITURA DIGITAL<br />
Martina Camacho Blaas<br />
Palavras chave: leitura digital; tecnologia; língua estrangeira.<br />
Este trabalho parte do pressuposto que a tecnologia na sala <strong>de</strong> aula – se<br />
usada <strong>de</strong> maneira a<strong>de</strong>quada – po<strong>de</strong> ajudar muito o professor a tornar a<br />
sua aula mais dinâmica e motivadora. A falta <strong>de</strong> motivação do aluno é,<br />
na verda<strong>de</strong>, um dos maiores problemas que se enfrenta ao trabalhar<br />
com a habilida<strong>de</strong> da leitura, foco do presente estudo. Ao focar na língua<br />
458
Resumo dos Trabalhos<br />
estrangeira, especificamente na Língua Inglesa, o problema se torna<br />
ainda mais sério, uma vez que além da falta <strong>de</strong> motivação para a leitura,<br />
por si só, ainda há a barreira linguística. Porém tal habilida<strong>de</strong> não <strong>de</strong>ve<br />
ser excluída ou vista como um ponto crítico da aula <strong>de</strong> LE, já que ela<br />
po<strong>de</strong> proporcionar o trabalho com as quatro habilida<strong>de</strong>s que se procura<br />
<strong>de</strong>senvolver em um estudante <strong>de</strong> línguas, sendo isso mais fácil com<br />
textos digitais. Corroborando com esta análise, a terceira edição da<br />
pesquisa “Retratos da leitura no Brasil” incluiu, pela primeira vez, um<br />
estudo (na seção “Tendências”) sobre aspectos da leitura no contexto<br />
digital, o que evi<strong>de</strong>ncia como tal prática está se tornando cada vez mais<br />
presente no cotidiano das pessoas e, consequentemente, na vida dos<br />
alunos (fora e <strong>de</strong>ntro da sala <strong>de</strong> aula). A partir <strong>de</strong> tais consi<strong>de</strong>rações,<br />
propõe-se a reflexão <strong>de</strong> como a leitura digital está modificando a<br />
postura dos alunos <strong>de</strong> LE.<br />
A EDIÇÃO NA ESCRITA COLABORATIVA EM LÍNGUA<br />
INGLESA EM FERRAMENTA DIGITAL<br />
Milena Schneid Eich<br />
Palavras-chave: Feedback. Ferramenta digital. Escrita colaborativa.<br />
Partindo dos pressupostos da teoria sociocultural <strong>de</strong> L. Vygotsky<br />
(1986,1998) e <strong>de</strong> diversos estudos sobre escrita colaborativa em<br />
ambiente digital e erro, esta pesquisa tem como propósito discutir e<br />
refletir sobre a escrita colaborativa em língua inglesa quando esta se dá<br />
em uma ferramenta digital. Também investiga-se como acontece o<br />
processo <strong>de</strong> edição textual entre os alunos durante a escrita.<br />
Consi<strong>de</strong>rou-se, ainda, como o feedback negociado do professor po<strong>de</strong><br />
contribuir para o aprimoramento da produção. Tendo como ponto <strong>de</strong><br />
partida duas tarefas colaborativas, quatro alunos <strong>de</strong> um curso livre <strong>de</strong><br />
língua inglesa, divididos em duplas e frequentando o nível<br />
intermediário I, realizaram, em meio virtual, a co-construção <strong>de</strong> textos.<br />
A partir <strong>de</strong> uma pesquisa qualitativa <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong> caso, foram<br />
consi<strong>de</strong>rados para fins <strong>de</strong> análise as interações no fórum, as alterações<br />
armazenadas no histórico, o feedback do professor sobre as produções<br />
dos alunos, bem como a visão dos participantes sobre o trabalho<br />
<strong>de</strong>senvolvido. Os dados sugerem que a escrita colaborativa em<br />
ferramenta digital fomenta a participação do aluno, gerando<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> construção conjunta <strong>de</strong> conhecimento através da<br />
interação social e do uso da língua antes e durante o processo <strong>de</strong> escrita.<br />
Quanto ao processo <strong>de</strong> feedback, encontramos evidências <strong>de</strong> que este,<br />
459
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
quando negociado entre professor e aluno, contribui para que ele<br />
chegue à forma correta com maior consciência sobre o erro, o que<br />
po<strong>de</strong>rá possibilitar a utilização a<strong>de</strong>quada da forma em produções<br />
futuras.<br />
FACEBOOK & LITERATURA: A REDE SOCIAL COMO<br />
FERRAMENTA NA INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS<br />
LITERÁRIOS<br />
Otávio Botelho Rosa<br />
Renan Cardozo Gomes Da Silva<br />
Palavras-Chave: Facebook, <strong>Educação</strong>, Literatura.<br />
O presente trabalho tem por finalida<strong>de</strong> mostrar como a re<strong>de</strong> social<br />
Facebook po<strong>de</strong> ser usada para fins educacionais, em especial como<br />
instrumento para os iniciantes aos estudos literários. A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
aulas mais interessantes aos alunos e a atualização com o<br />
contemporâneo mundo digital faz com que cada vez mais professores<br />
busquem informações e conhecimentos sobre as Tecnologias da<br />
Comunicação e Informação (TIC´s). Os alunos acostumados com o uso<br />
diário e rotineiro <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> social, para simples bate-papos,<br />
discuções, indiretas, ironias e etc. certamente não sabem o valor<br />
educacional que esta possui, aceitando este <strong>de</strong>sconhecimento por falta<br />
<strong>de</strong> instrução dos pais, <strong>de</strong>sinteresse próprio ou até mesmo dos<br />
professores que ainda não se a<strong>de</strong>quaram aos novos métodos <strong>de</strong> ensino.<br />
O Facebook é a re<strong>de</strong> social mais acessada <strong>de</strong>ntre os brasileiros, este<br />
chega até mesmo ser superior ao tradicional e-mail, segundo dados da<br />
Media Factory uma das principais causas <strong>de</strong>sta evolução foi à tradução<br />
para língua portuguesa <strong>de</strong>senvolvida em 2008. Procuramos mostrar, por<br />
meio neste trabalho, como esta re<strong>de</strong> social po<strong>de</strong> proporcionar um<br />
conhecimento cultural <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valor, levando em consi<strong>de</strong>ração que<br />
através das publicações <strong>de</strong> frases, livros divulgados como <strong>de</strong><br />
preferência, músicas, enfim, a partir <strong>de</strong>stes elementos po<strong>de</strong>mos dar<br />
início a alguns introdutórios estudos literários, sejam eles <strong>de</strong> caráter<br />
exploratório ou até mesmo praticando um estudo bibliográfico.<br />
460
Resumo dos Trabalhos<br />
REFLETINDO SOBRE AS CRENÇAS DE ALUNOS-<br />
PROFESSORES ACERCA DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E<br />
ENSINO-APRENDIZAGEM EM CONTEXTO DE EAD<br />
Patrícia Duarte Garcia<br />
Ana Paula De Araujo Cunha<br />
Palavras-chave: EaD, formação <strong>de</strong> professores, crenças.<br />
Este estudo, situado teoricamente na interface entre as Áreas <strong>de</strong><br />
Linguística Aplicada e <strong>Educação</strong>, traduz-se em uma investigação<br />
qualitativo-interpretativista cujo escopo abarca questões pertinentes as<br />
perspectivas e crenças <strong>de</strong> alunos-professores <strong>de</strong> um curso <strong>de</strong><br />
licenciatura em espanhol como língua estrangeira, na modalida<strong>de</strong> a<br />
distância (EaD), tendo como objetivo buscar compreen<strong>de</strong>r quem são<br />
esses ditos “novos e diferentes discentes†, como encaram seu<br />
processo <strong>de</strong> formação e como enxergam o processo <strong>de</strong> ensinoaprendizagem<br />
realizado fundamentalmente no ambiente virtual,<br />
mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Para<br />
tanto, os dados que constituem o corpus <strong>de</strong> análise da pesquisa são<br />
provenientes <strong>de</strong> entrevistas e questionários estruturados <strong>de</strong> tal modo a<br />
suscitarem a verbalização <strong>de</strong> pensamentos e opiniões dos sujeitos<br />
informantes, os quais têm sido interpretados à luz <strong>de</strong> importantes<br />
estudos referendados pela literatura acadêmica, <strong>de</strong>ntre os quais<br />
sublinhamos aqueles concernentes às crenças sobre a aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas, como os <strong>de</strong>senvolvidos por Barcelos (2001-2004), Barcelos &<br />
Vieira-Abra às (2006), Kalaha & Barcelos (2003), assim como os que<br />
conjugam os temas formação <strong>de</strong> professores e crenças (Barcelos 2007,<br />
2009). Esperamos que, a partir dos dados coletados e analisados, seja<br />
possível estabelecer um diálogo entre as crenças dos sujeitos da<br />
pesquisa e as teorias formais, bem como a planificação <strong>de</strong> soluções<br />
educacionais que contemplem, <strong>de</strong> forma mais satisfatória, as<br />
expectativas dos alunos da EaD em processo <strong>de</strong> formação docente.<br />
A ESCALA COMUM DE VALORES E A FORMAÇÃO DE<br />
GRUPOS DE APRENDIZAGEM NOS FÓRUNS DE UM CURSO<br />
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE E/LE EM EAD<br />
Patricia Mussi Escobar<br />
Muitos estudos tem relacionado o fenômeno da evasão na <strong>Educação</strong> a<br />
Distância (EaD) com a pouca interação entre os participantes<br />
(FAVERO, 2006). Nos ambientes virtuais <strong>de</strong> aprendizagem há espaços<br />
461
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
que foram criados a fim <strong>de</strong> fomentar a interação, como por exemplo, os<br />
fóruns; entretanto, não são todos os indivíduos que interagem, mesmo<br />
quando os fóruns são avaliados. Abordaremos este problema segundo<br />
uma perspectiva sócio-interacionista (VYGOTSKY, 1991), pois<br />
sabemos que para que o processo <strong>de</strong> aprendizagem ocorra é<br />
fundamental que haja interação. Pesquisas realizadas sob a ótica da<br />
complexida<strong>de</strong> (MORIN, 1994) e do Caos também apontam a interação<br />
como um fator elementar para a evolução interlinguística do aprendiz <strong>de</strong><br />
línguas estrangeiras (BECKNER et al, 2007). Acreditamos que as<br />
interações nas trocas <strong>de</strong> benefício recíproco ocorrem entre indivíduos<br />
covalorizantes (PIAGET, 1973) (VETROMILLE-CASTRO, 2007),<br />
cujas ações <strong>de</strong> interesses mútuos emergem através da i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong><br />
valores recíprocos que constituem uma escala comum <strong>de</strong> valores. Nossa<br />
investigação objetiva i<strong>de</strong>ntificar e <strong>de</strong>screver as escalas comuns <strong>de</strong><br />
valores nas trocas <strong>de</strong> benefício recíproco (PIAGET, 1973) e os valores<br />
envolvidos nas ações <strong>de</strong> sustentação solidária (ESTRÁZULAS, 2004).<br />
Também temos por objetivo verificar se os grupos que se formam via<br />
co-valorização nos fóruns do AVA <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong><br />
Espanhol como Língua Estrangeira - E/LE comportam-se como um<br />
sistema adaptativo complexo. Neste trabalho apresentamos o resultado<br />
parcial da pesquisa <strong>de</strong> mestrado, obtido mediante a análise <strong>de</strong>scritiva, <strong>de</strong><br />
natureza qualitativa e <strong>de</strong> interpretação etnográfica virtual (HINE, 2004)<br />
das postagens do nosso corpus.<br />
DO PAPEL AO ECRÃ: AS MEDIAÇÕES TECNOLÓGICAS NO<br />
APRENDIZADO<br />
PEDRO BARCELLOS FERREIRA<br />
João Pedro Rodrigues Santos<br />
Palavras- chave: Leitura, hipermídia, tecnologia<br />
Este artigo expõe o trabalho <strong>de</strong> pesquisa realizado em uma escola<br />
pública do município <strong>de</strong> Bagé, RS. Vivemos em uma época <strong>de</strong> intensa<br />
imagetização <strong>de</strong> conteúdos, interativida<strong>de</strong> e também hibridização tanto<br />
dos meios quanto dos usuários. Buscamos neste estudo correlacionar<br />
conceitos <strong>de</strong> hipermídia, ensino e tecnologia com dados qualitativos<br />
obtidos através <strong>de</strong> entrevistas com professores da re<strong>de</strong> pública <strong>de</strong><br />
ensino. Discutimos como se dão as leituras mediadas por ferramentas<br />
tecnológicas em ambientes digitais e <strong>de</strong> que forma há uma melhor<br />
absorção do conteúdo – narrativas hipermidiáticas, leituras em e-books–<br />
pelos estudantes, <strong>de</strong> acordo com os seus professores. Então nos<br />
462
Resumo dos Trabalhos<br />
perguntamos: como po<strong>de</strong>mos aliar o uso da tecnologia ao aprendizado?<br />
Segundo SANTAELLA (2007) “Os meios <strong>de</strong> nosso tempo estão nas<br />
tecnologias digitais, nas memórias eletrônicas, nas hibridizações dos<br />
ecossistemas com os tecnossistemas e nas absorções inextricáveis das<br />
pesquisas cientificas pela criação artística, tudo isso abrindo no artista e<br />
literato horizontes inéditos para a exploração <strong>de</strong> territórios inatos da<br />
sensorialida<strong>de</strong> e da sensibilida<strong>de</strong>.” A leitura tem papel fundamental na<br />
formação do aluno, pois, contribui para sua capacida<strong>de</strong> crítica,<br />
interpretativa e <strong>de</strong>dutiva. Estando o estudante imerso nos meios<br />
tecnológicos e nas culturas digitais, buscamos fazer uma conexão entre<br />
leitores, professores, alunos e tecnologias.<br />
OS DESAFIOS DO LETRAMENTO DIGITAL NA FORMAÇÃO<br />
DE PROFESSORES DE LINGUAGENS<br />
Valeria Iensen Bortoluzzi<br />
Adriana Macedo Nadal Maciel<br />
Palavras-chave: Letramento digital; formação docente; habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
leitura e escrita.<br />
Em tempos <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> Tecnologias <strong>de</strong> Informação e Comunicação para<br />
todos os fins e a todo o momento, o professor vê-se diante da<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> repensar seu papel <strong>de</strong> agente educacional para dar conta<br />
<strong>de</strong> um outro tipo <strong>de</strong> aluno, que interagem com as tecnologias <strong>de</strong> forma<br />
natural. Tendo essa necessida<strong>de</strong> em consi<strong>de</strong>ração, o curso <strong>de</strong> Letras da<br />
UNIFRA oferece uma disciplina <strong>de</strong> Estágio Curricular Supervisionado,<br />
que tem por finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver nos professores em formação o<br />
letramento digital, além <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong>ssas ações <strong>de</strong><br />
letramento na escola. Com o presente trabalho, então, temos por<br />
objetivo discutir os <strong>de</strong>safios enfrentados nessa disciplina para o<br />
letramento digital e a formação docente. Em relação ao letramento<br />
digital, o maior <strong>de</strong>safio é o <strong>de</strong> fazer os alunos compreen<strong>de</strong>rem que as<br />
ferramentas digitais exigem, cada uma, um conjunto específico <strong>de</strong><br />
habilida<strong>de</strong>s (SOARES, 2002) e que é esse conjunto <strong>de</strong> habilida<strong>de</strong>s que<br />
precisa ser aprendido e não a ferramenta em si. Quanto à formação<br />
docente e sua relação com o letramento digital, o <strong>de</strong>safio é fazer os<br />
alunos utilizarem as ferramentas tecnológicas <strong>de</strong> um modo<br />
diferenciado, aproveitando o potencial <strong>de</strong> letramento <strong>de</strong> cada uma.<br />
Referência SOARES, Magda. Novas práticas <strong>de</strong> leitura e escrita:<br />
letramento na cibercultura. <strong>Educação</strong> e Socieda<strong>de</strong>. Vol. 23, n. 81,<br />
Campinas, SP: EdUNICAMP, 2002. pp 143-160.<br />
463
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
INTERAÇÃO E REDES NEURO-SOCIAIS: A COMPLEXIDADE<br />
NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS COM TECNOLOGIAS<br />
DIGITAIS<br />
Rafael Vetromille-Castro<br />
É i<strong>de</strong>ia corrente e amplamente aceita na gran<strong>de</strong> área da <strong>Educação</strong> e na<br />
área específica do ensino/aprendizagem <strong>de</strong> línguas que a construção <strong>de</strong><br />
conhecimento se dá a partir da interação, seja ela interindividual e<br />
social, em consonância com o arcabouço teórico vygotskiano, seja ela<br />
<strong>de</strong>corrente do constante processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio e reequilíbrio das<br />
estruturas cognitivas do indivíduo em contato com informações novas.<br />
Mesmo em áreas não diretamente ligadas à <strong>Educação</strong>, como a da<br />
Neurociência, a interação aparece como essencial quando i<strong>de</strong>ntifica-se<br />
que as ações cerebrais <strong>de</strong>correm da comunicação estabelecida entre<br />
comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> neurônios, as chamadas re<strong>de</strong>s neurais (NICOLELIS,<br />
2011). Em um momento em que as tecnologias digitais se espalham e se<br />
renovam rapidamente, dando aos sujeitos alto po<strong>de</strong>r autoral por meio <strong>de</strong><br />
ferramentas típicas da Web 2.0 e estabelecendo contatos entre<br />
indivíduos em escala potencialmente global, tornam-se evi<strong>de</strong>ntes o<br />
caráter complexo do apren<strong>de</strong>r e a premência em compreen<strong>de</strong>r e<br />
consi<strong>de</strong>rar a influência das re<strong>de</strong>s neuro-sociais (VETROMILLE-<br />
CASTRO, 2011) no processo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> línguas. O presente<br />
trabalho preten<strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nciar a Complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong> situações educacionais<br />
– como a sala <strong>de</strong> aula – nas quais po<strong>de</strong>m ser inseridas tecnologias<br />
digitais contemporâneas, apresentar e <strong>de</strong>bater o conceito <strong>de</strong> re<strong>de</strong> neurosocial<br />
e mostrar como o contexto educacional contraria e ao mesmo<br />
tempo corrobora a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> tal re<strong>de</strong>. Serão trazidos alguns exemplos <strong>de</strong><br />
interação em re<strong>de</strong>s neuro-sociais em contextos híbridos e em ambientes<br />
virtuais <strong>de</strong> aprendizagem.<br />
FÓRUM PERMANENTE: A CONSTRUÇÃO DE SABERES<br />
COLETIVOS POR MEIO DA LINGUAGEM<br />
Raianny Lima Soares<br />
Lourena Maria Domingos Da Silva<br />
A <strong>Educação</strong> a Distância (EaD) se apresenta <strong>de</strong> modo inovador em uma<br />
socieda<strong>de</strong> habituada com sistemas tradicionais <strong>de</strong> educação. Partindo<br />
<strong>de</strong>sse pressuposto, este trabalho busca apresentar as experiências<br />
relativas à prática <strong>de</strong> escrita que os alunos da disciplina <strong>de</strong> EaD, do<br />
curso <strong>de</strong> Pedagogia FACED/UFC, <strong>de</strong>monstram durante o processo <strong>de</strong><br />
464
Resumo dos Trabalhos<br />
aprendizagem na ferramenta colaborativa Fórum Permanente (FP). Esta<br />
ferramenta oferece aos alunos a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> observar-se <strong>de</strong> modo<br />
contínuo em colocações durante toda a disciplina. As discussões são<br />
realizadas a partir do texto <strong>Educação</strong> a Distância: limites e<br />
possibilida<strong>de</strong>s (NOVA & ALVES, 2003), estabelecendo discussões<br />
inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, on<strong>de</strong> a interação tem por enfoque principal a troca <strong>de</strong><br />
experiências e a construção <strong>de</strong> um saber coletivo. Alguns estudos já<br />
feitos sobre esta interação (LOPES ET ALLI, 2011; ALMEIDA, 2003;<br />
ARAÚJO, 2011), evi<strong>de</strong>nciam como ativida<strong>de</strong>s que incitem habilida<strong>de</strong>s<br />
argumentativas, colaboram para uma visão crítica <strong>de</strong> temáticas<br />
posteriormente abordadas, caracterizando um fazer-rever-refazer<br />
contínuo. Os dados foram obtidos a partir <strong>de</strong> interações entre os alunos,<br />
seguidos <strong>de</strong> análises das discussões ocorridas no FP. Os resultados<br />
apontam para a ampliação dos saberes adquiridos. Os alunos<br />
conseguiram estabelecer relações entre as temáticas apontadas,<br />
vivências da prática cotidiana e <strong>de</strong>bates presentes em outras disciplinas<br />
do curso, caracterizando trocas <strong>de</strong> saberes que incitam a<br />
interdisciplinarida<strong>de</strong> na disciplina <strong>de</strong> EaD. O FP tornou-se, portanto,<br />
uma ferramenta que transcen<strong>de</strong> as discussões da disciplina, valorizando<br />
aspectos como autonomia intelectual e construção coletiva do<br />
conhecimento.<br />
O ESPALHAMENTO DA VIOLÊNCIA EM CONVERSAÇÕES<br />
NO FACEBOOK E SEU IMPACTO NO COTIDIANO DOS<br />
ATORES SOCIAIS<br />
Raquel Da Cunha Recuero<br />
No dia 08 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2012, em Pelotas/RS, um jornal local noticiou o<br />
incêndio criminoso da casa <strong>de</strong> uma suspeita <strong>de</strong> maltratar crianças . O<br />
relato do caso, bem como o en<strong>de</strong>reço da suspeita e uma foto da<br />
residência, tinham circulado nos dias anteriores <strong>de</strong>ntro do Facebook,<br />
gerando inflamadas falas <strong>de</strong> revolta e ameaças à família da mulher.<br />
Algumas semanas <strong>de</strong>pois, no mesmo espaço, circulou uma mensagem<br />
"engraçada" que, através <strong>de</strong> uma história em quadrinhos, explicitava as<br />
vantagens <strong>de</strong> se ter uma namorada "baixinha", entre elas, a facilida<strong>de</strong><br />
em jogar a moça pela janela. Poucos dias <strong>de</strong>pois ainda, outra mensagem<br />
com gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> reproduções foi a <strong>de</strong> um índio, on<strong>de</strong> lia-se "Feliz<br />
dia do índio para você, que fala 'para MIM fazer'". Em todos os casos<br />
acima, temos evi<strong>de</strong>ntes sinais <strong>de</strong> discursos violentos e agressivos.<br />
Ainda que, muitas vezes sob a forma <strong>de</strong> "piadas", tais mensagens são<br />
intensamente reproduzidas, espalhadas, "curtidas " e reproduzidas<br />
465
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> diferentes grupos. Trata-se da reprodução do ódio e da<br />
violência através da conversação mediada pelo computador. Tal<br />
fenômeno, que <strong>de</strong>ixa implícito ou explícito o preconceito, a intolerância<br />
e o ódio com relação a todo o tipo <strong>de</strong> comportamento ou grupo social<br />
parece ser cada vez mais comum em sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong> social e,<br />
especialmente, no Facebook. Coisas que, muitas vezes não seriam ditas<br />
no espaço offline passam a ser propagadas nas re<strong>de</strong>s sociais online. E é<br />
sobre esse fenômeno que este trabalho ocupa-se e que esta proposta<br />
busca o foco. Queremos, assim, compreen<strong>de</strong>r por quê e como o discurso<br />
da violência e do ódio são propagados em re<strong>de</strong>s sociais online, <strong>de</strong> um<br />
modo particular, nas conversações e práticas sociais estabelecidas<br />
através do Facebook. O espaço da mediação do computador é um<br />
espaço catártico, on<strong>de</strong> a violência mimética espalha-se na conversação<br />
entre os atores. A partir <strong>de</strong>sta discussão, analisa-se como ações básicas,<br />
como "curtidas", "compartilhamentos" e "comentários", enquanto ações<br />
conversacionais, são também modos <strong>de</strong> espalhamento da violência e<br />
discutimos brevemente os impactos <strong>de</strong>sses discursos nos atores sociais.<br />
APRENDIZADO E APROPRIAÇÕES EM SOCIAL NETWORK<br />
GAMES<br />
Rebeca Recuero Rebs<br />
Os social network games (SNG) são modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> jogos casuais ou<br />
seja, possuem regras simples, com baixto tempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicação e fácil<br />
recompensa aos seus jogadores. Esta modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> games<br />
<strong>de</strong>senvolveu-se pelo suporte dos sites <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociais que oferecem<br />
uma nova plataforma <strong>de</strong> interação para os seus participantes. No<br />
entanto, ao ter contado com estes games, o jogador se vê em um<br />
ambiente repleto <strong>de</strong> regras, limites e possibilida<strong>de</strong>s que exigem um<br />
aprendizado a fim <strong>de</strong> dar continuida<strong>de</strong> ao jogo. Além do contato<br />
multicultural e as experiências oferecidas pelos SNG, a bagagem <strong>de</strong><br />
conhecimentos individuais implicará em formas diferenciadas <strong>de</strong><br />
entendimento e utilização dos elementos do jogo. Assim, os jogadores<br />
apropriam-se do SNG, modificando-o conforme suas necessida<strong>de</strong>s.<br />
Então, parte-se <strong>de</strong> uma observação participante por três meses em três<br />
SNG (Pionner Trail, Angry Birds e Sim City Social). Posteriormente,<br />
realizou-se entrevistas com três participantes <strong>de</strong>stes jogos a fim <strong>de</strong><br />
adquirir informações que indiquem traços ou esforços <strong>de</strong> aprendizado<br />
por meio <strong>de</strong> apropriações realizadas nestes SNG. Com isso, observouse<br />
que os SNG apontam para mais um espaço tecnológico que estimula<br />
466
Resumo dos Trabalhos<br />
a reflexão, necessitando <strong>de</strong> certo esforço <strong>de</strong> aprendizagem (não apenas<br />
para enten<strong>de</strong>r, mas também para a evolução no game) especialmente<br />
por parte do jogador que tem os primeiros contatos com a plataforma. É<br />
necessário apren<strong>de</strong>r novas formas <strong>de</strong> linguagens muitas vezes oriundas<br />
<strong>de</strong> apropriações sociais, como simbologias, outra língua e até mesmo a<br />
criação <strong>de</strong> novos signos. Estas ações parecem indicar mais uma forma<br />
<strong>de</strong> manifestação cultural oriunda do contato com as tecnologias,<br />
caracterizando mais uma ambiente virtual e <strong>de</strong> entretenimento capaz <strong>de</strong><br />
produzir aprendizagem.<br />
O BLOG DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA ABORDAGEM<br />
INTERDISCIPLINAR<br />
Rejane Ricardo Ferreira<br />
As iniciativas <strong>de</strong> divulgação científica presentes em blogs apresentam<br />
assuntos ligados à ciência com imagens e recursos que instigam o<br />
internauta a uma nova leitura. E, ao mesmo tempo, o uso, por eles, <strong>de</strong><br />
uma linguagem <strong>de</strong> fácil compreensão, característico da divulgação<br />
científica, agiliza e facilita o entendimento da informação por parte do<br />
leitor. Esta dissertação <strong>de</strong> mestrado tem como objetivo compreen<strong>de</strong>r<br />
como os blogs <strong>de</strong> revistas científicas se organizam e em que medida<br />
contribuem para o processo <strong>de</strong> divulgação da ciência para a socieda<strong>de</strong><br />
em geral. Realizou-se um estudo comparativo <strong>de</strong> três blogs <strong>de</strong><br />
divulgação científica que estão nos sites das revistas: Ciência Hoje,<br />
Mente e Cérebro e Scientific American Brasil. Foram observados<br />
aspectos relacionados à organização das informações e as diferentes<br />
estratégias discursivas empregadas pelos enunciadores com o intuito <strong>de</strong><br />
suscitar maior interesse pela leitura por parte dos internautas. Para a<br />
fundamentação teórica, empregamos a teoria Semiolinguística, que<br />
sustenta a noção <strong>de</strong> contrato <strong>de</strong> midiatização científica proposto por<br />
Charau<strong>de</strong>au (2008) e estudos <strong>de</strong> Adam e Lugrin (2000) sobre<br />
hiperestrutura. Além disso, usamos as categorizações sugeridas por<br />
Primo (2011) acerca do termo Interativida<strong>de</strong> e as consi<strong>de</strong>rações<br />
propostas por Xavier (2009) que abordam a noção <strong>de</strong> Hipertexto, pois<br />
levamos em conta que os blogs possuem características pertinentes ao<br />
webjornalismo.<br />
467
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
HASHTAG NA SALA DE AULA<br />
Renan Cardozo Gomes Da Silva<br />
Otávio Botelho Rosa<br />
Palavras-chave: Twitter; hashtag; ensino.<br />
Os professores, diariamente, enfrentam o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> inserir as novas<br />
tecnologias nas salas <strong>de</strong> aula e como as re<strong>de</strong>s sociais fazem parte da<br />
vida das pessoas, porque não juntar este meio aos conteúdos das salas<br />
<strong>de</strong> aula? Com o auxilio do twitter po<strong>de</strong>-se lançar aos alunos ativida<strong>de</strong>s<br />
a distância ou extracurriculares, assim professores e alunos po<strong>de</strong>m<br />
discutir diferentes assuntos <strong>de</strong>ntro e fora das salas <strong>de</strong> aula po<strong>de</strong>ndo ter a<br />
opinião <strong>de</strong> diversas pessoas. Este trabalho tem por objetivo mostrar<br />
como utilizar uma das funcionalida<strong>de</strong>s do twitter chamada hashtag. A<br />
hashtag po<strong>de</strong> ser utilizada para transmitir o tweet a um grupo específico<br />
<strong>de</strong> pessoas ou para <strong>de</strong>limitar o assunto que se está sendo postado,<br />
criando uma maior interação não só dos alunos que vão participar <strong>de</strong>sta<br />
ativida<strong>de</strong>, mas <strong>de</strong> pessoas que se interessam pelo assunto po<strong>de</strong>ndo<br />
postar sugestões. Com o auxilio das hashtags os professores junto com<br />
os alunos po<strong>de</strong>m criar um tema que po<strong>de</strong> ser abordado durante o<br />
semestre ou por <strong>de</strong>terminado tempo, com isso eles po<strong>de</strong>m promovê-la e<br />
pedindo sugestões, lançando problemáticas e dúvidas para especialistas<br />
na área abordada, por exemplo, os alunos <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m falar <strong>de</strong> tecnologia<br />
criando a hashtag #TICs. Os aprendizes po<strong>de</strong>m pesquisar e postar<br />
artigos, fazer comentários <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o surgimento das tecnologias até os<br />
dias <strong>de</strong> hoje, convidando pessoas da área para fazer parte <strong>de</strong>ssa<br />
discussão.<br />
SITES DE REDES SOCIAIS COMO POSSIBILIDADE DE<br />
PESQUISA EM EDUCAÇÃO<br />
Rodrigo Inacio De Castro<br />
Rosária Iigenfritz Sperotto<br />
Trata-se <strong>de</strong> um experimento para futura proposta metodológica <strong>de</strong><br />
pesquisa, fundamentando-se na necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> indagar os<br />
comportamentos contemporâneos e sociabilida<strong>de</strong>s mediadas pelos Sites<br />
<strong>de</strong> Re<strong>de</strong> Sociais (SRS). O trabalho explora como recurso investigativo<br />
o compartilhamento <strong>de</strong> posts no estilo viral. Utiliza- se também <strong>de</strong> um<br />
formulário online criado na plataforma Google Docs<br />
(docs.google.com). O compartilhamento <strong>de</strong> posts é um hábito que<br />
ganhou notorieda<strong>de</strong> com o Facebook (www.facebook.com),<br />
468
Resumo dos Trabalhos<br />
caracterizando-se como correntes <strong>de</strong> postagens que se propagam <strong>de</strong><br />
perfil em perfil. Os sujeitos pesquisados são jovens do ensino médio e o<br />
tema das questões foi a utilização <strong>de</strong> SRS no ensino. O questionário,<br />
construído na plataforma Google Docs, foi passado para sete sujeitos<br />
com o intuito <strong>de</strong> que os mesmo respon<strong>de</strong>ssem e passassem adiante.<br />
Essa etapa durou quatro dias (fase controle do experimento). No quinto<br />
dia criou-se o post com o link (questionário), foi publicado no Feed do<br />
Facebook e dado início a outra fase da pesquisa (pós-<br />
compartilhamento). No total foram <strong>de</strong>z dias <strong>de</strong> experimentação<br />
(pré/pós- compartilhamento). Ao final <strong>de</strong> cada dia foi tabulado o<br />
número <strong>de</strong> questionários enviados para o sistema do Google Docs e<br />
compartilhamentos no Facebook. Ao longo dos <strong>de</strong>z dias <strong>de</strong> investigação<br />
evi<strong>de</strong>nciou-se a participação e interesse dos indivíduos que<br />
compartilharam o post. Nossa publicação viralizou, ou seja, propagouse<br />
através do SRS. A proposta metodológica foi efetiva quanto ao<br />
manuseio <strong>de</strong> dados e contemplou comportamentos sociais<br />
contemporâneos <strong>de</strong>scritos na cibercultura. Com a mudança no fluxo e<br />
nos modos como a informação permeia a socieda<strong>de</strong> se faz necessário<br />
repensar nossas metodologias <strong>de</strong> pesquisa em <strong>Educação</strong>.<br />
ESPETACULARIZANDO A VIDA NOS SITES DE REDES<br />
SOCIAIS<br />
Rosária Ilgenfritz Sperotto<br />
O modo como nos relacionamos em nosso dia a dia está sendo alterado.<br />
Há uma nova reconfiguração dos espaços sociais, experimentamos<br />
interações que eram “inimagináveis há décadas passadas”. Des<strong>de</strong> os<br />
anos 50 têm-se observado a introdução <strong>de</strong> uma série <strong>de</strong> elementos<br />
tecnológicos no cotidiano das pessoas, introduzindo novas formas <strong>de</strong><br />
interação, <strong>de</strong> comunicação, <strong>de</strong> sociabilida<strong>de</strong>s. Muitas das ações,<br />
conversas, buscas <strong>de</strong> informações acontecem no campo virtual.<br />
Passamos muitas horas <strong>de</strong> nossas vidas na internet. Estar na internet<br />
passou a ser consi<strong>de</strong>rado um lugar <strong>de</strong> convivência, um exemplo disto<br />
são os Sites <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s Sociais - lugares para on<strong>de</strong> as pessoas vão,<br />
espaços não “físicos”, mas “virtuais” e o virtual é real. Nestes lugares,<br />
as imagens, os ditos e os escritos passam a ser exibidos <strong>de</strong> modo a<br />
espetacularizar a vida. Não há limites entre o que é público e o que é<br />
privado. Os discursos e as práticas que governam a existência<br />
produzem estados <strong>de</strong> euforia e mal estar. Há a produção <strong>de</strong> uma<br />
sensação <strong>de</strong> permanente aventura, felicida<strong>de</strong>, grandiosida<strong>de</strong> e ousadia.<br />
469
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O espetáculo é a aparência que dá sentido a vida. Estar conectado na<br />
internet, em um Site <strong>de</strong> Re<strong>de</strong> Social, significa estar presente em algum<br />
lugar, estar à vista dos outros, povoado <strong>de</strong> amigos e ao mesmo tempo<br />
só. Quais práticas <strong>de</strong> sociabilida<strong>de</strong> estão sendo produzidas nos Sites<br />
<strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s Sociais? Quais seriam os <strong>de</strong>safios para as instituições <strong>de</strong><br />
ensino? Como apren<strong>de</strong>mos e produzimos conhecimentos? Como<br />
estamos sendo governados? Quais práticas estão constituindo as<br />
subjetivida<strong>de</strong>s contemporâneas? Nosso <strong>de</strong>safio será o <strong>de</strong><br />
problematizar como estamos sendo no presente e como estamos nos<br />
constituindo, espetacularizando a vida que se engendra nos Sites <strong>de</strong><br />
Re<strong>de</strong>s Sociais.<br />
INGLÊS E INFORMÁTICA ALIADOS AO<br />
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DE ALUNOS DE<br />
ESCOLA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br />
Sabrina Hax Duro Rosa<br />
Onorato Jonas Fagherazzi<br />
A inserção <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong> escola pública no mundo on<strong>de</strong> a comunicação e<br />
a tecnologia impulsionam o <strong>de</strong>senvolvimento intelectual, social e<br />
emocional do ser humano <strong>de</strong>veria ser refletida. Acreditamos que o<br />
aprendizado da língua inglesa e do uso da tecnologia informática leva a<br />
um aumento da auto-estima do sujeito por ele po<strong>de</strong>r interagir e<br />
modificar o seu meio <strong>de</strong> forma consciente e produtiva. A globalização<br />
fez da comunicação um aspecto essencial, portanto aqueles que<br />
dominam uma segunda língua, bem como o uso <strong>de</strong> tecnologias para a<br />
comunicação telemática têm mais oportunida<strong>de</strong>s e esses são, em geral,<br />
os sujeitos que po<strong>de</strong>m custear seus estudos num curso <strong>de</strong> idiomas ou <strong>de</strong><br />
informática, ou têm influência sociocultural <strong>de</strong> casa sobre o uso do<br />
computador e suas ferramentas. Este trabalho visa apresentar a pesquisa<br />
que está sendo <strong>de</strong>senvolvida no IFRS – Câmpus Rio Gran<strong>de</strong>, na qual<br />
analisa como ocorre o <strong>de</strong>senvolvimento sociocultural <strong>de</strong> alunos da<br />
escola pública que vivem em situação <strong>de</strong> risco, ao frequentarem um<br />
curso <strong>de</strong> extensão <strong>de</strong> Língua Inglesa e <strong>de</strong> Informática. Apresentamos,<br />
também, qual a percepção <strong>de</strong>sses alunos quanto ao seu próprio<br />
<strong>de</strong>senvolvimento sociocultural a partir <strong>de</strong> sua participação no curso,<br />
bem como a percepção <strong>de</strong> seus familiares ou responsáveis sobre seu<br />
<strong>de</strong>senvolvimento. A partir dos dados coletados, analisados e discutidos,<br />
po<strong>de</strong>mos refletir sobre a influência do aprendizado <strong>de</strong> língua Inglesa e<br />
<strong>de</strong> Informática no <strong>de</strong>senvolvimento dos alunos que estão em situação <strong>de</strong><br />
470
Resumo dos Trabalhos<br />
vulnerabilida<strong>de</strong> social e sua inserção como cidadãos no mundo<br />
globalizado.<br />
ESTRATÉGIAS DE LEITURA APLICADAS AO CIBERESPAÇO<br />
Santiago Bretanha Freitas<br />
Vanessa Doumid Damasceno (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Ciberespaço; Estratégias <strong>de</strong> Leitura; Gênero Textual.<br />
Em momento <strong>de</strong> crescente avanço do uso dos meios digitais, surgem<br />
novas preocupações e novas perspectivas acerca dos processos <strong>de</strong><br />
leitura e cognição, bem como uma ampliação ou um novo<br />
direcionamento do uso das estratégias <strong>de</strong> leitura (SOLÉ, 1998) no<br />
processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>codificação e compreensão leitora, <strong>de</strong> reestruturação e<br />
das relações semântico-sintático-pragmáticas. Neste contexto,<br />
<strong>de</strong>spontam à nossa disposição meios favoráveis na formação do “leitor<br />
proficiente” tão almejado, bem como se faz mister adaptar estas<br />
ferramentas ao seu gosto já que a aceitabilida<strong>de</strong> e a intencionalida<strong>de</strong><br />
são fatores <strong>de</strong>cisivos para uma boa interpretação. Um <strong>de</strong>stes meios a<br />
ser utilizado é a i<strong>de</strong>ntificação do gênero textual ao qual o texto se<br />
vincula o que possibilita uma melhor <strong>de</strong>preensão dos sentidos, e com<br />
maior eficiência fazer a sua localização. A proposta <strong>de</strong>ste trabalho é<br />
através <strong>de</strong> uma pesquisa bibliográfica <strong>de</strong> aporte teórico baseado na<br />
leitura cognitivista <strong>de</strong> Isabel Solé evi<strong>de</strong>nciar a eficiência das estratégias<br />
<strong>de</strong> leitura aplicadas ao ciberespaço, as transformações que estas causam<br />
nos gêneros textuais e a sua influência no processo <strong>de</strong> angariamentos <strong>de</strong><br />
informações que um texto permite.<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM: FOCO NA LINGUAGEM<br />
ESCRITA<br />
Simone Carboni Garcia<br />
No contexto escolar, o uso <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> aprendizagem (OAs),<br />
entendidos como recursos pedagógicos digitais para o ensino mediado<br />
por computador, vem aos poucos ganhando espaço no processo <strong>de</strong><br />
ensino e <strong>de</strong> aprendizagem. A elaboração <strong>de</strong> OAs que contemplem além<br />
do conteúdo pedagógico, ativida<strong>de</strong>s que estimulem a escrita, fazem<br />
<strong>de</strong>sses novos recursos didáticos, importantes ferramentas para o<br />
professor avaliar o <strong>de</strong>senvolvimento dos estudantes. Na concepção<br />
vygotskyana, a linguagem escrita po<strong>de</strong> ser compreendida como<br />
471
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
relevante ferramenta no <strong>de</strong>senvolvimento do indivíduo, possibilitando a<br />
expressão e a organização do pensamento. Conforme Vygotsky (2001),<br />
a escrita é uma forma <strong>de</strong> linguagem complexa, <strong>de</strong>mandando, em relação<br />
à linguagem oralizada, um trabalho intelectual mais elaborado,<br />
principalmente pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma dupla abstração, evi<strong>de</strong>nciada<br />
na falta do elemento sonoro e do interlocutor. Com base no exposto, o<br />
objetivo <strong>de</strong>sse trabalho é apresentar a experiência da autora na<br />
elaboração e na avaliação <strong>de</strong> um OA <strong>de</strong>stinado ao ensino da língua<br />
portuguesa, que contempla, além <strong>de</strong> espaços <strong>de</strong>stinados à apresentação<br />
do conteúdo, outros espaços para o aluno <strong>de</strong>monstrar o aprendizado por<br />
meio da escrita, porque fazer o aluno escrever mobiliza diversos<br />
processos mentais, comumente não utilizados, por exemplo, na fala.<br />
OS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA INTERNET E O ENSINO<br />
DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE)<br />
Suelen Ferreira Haygert<br />
Maria Tereza Nunes Marchesan<br />
É fato que a Internet foi a maior revolução no mundo da comunicação<br />
como nada antes visto, isso ocorre por tratar-se <strong>de</strong> um mecanismo<br />
infinito <strong>de</strong> disseminação <strong>de</strong> informação que possibilita a colaboração,<br />
cooperação e a interação entre seus usuários, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong> sua<br />
localização geográfica. Este meio tecnológico gerou mudanças<br />
significativas no que se refere ao ensino <strong>de</strong> línguas no Brasil. A partir<br />
dos anos 90 a Re<strong>de</strong> Mundial <strong>de</strong> Computadores (Internet) teve seu acesso<br />
liberado para instituições educacionais, fundações <strong>de</strong> pesquisa e órgãos<br />
governamentais. Diferentemente <strong>de</strong> outros meios tecnológicos<br />
utilizados no processo <strong>de</strong> ensino e aprendizagem, a Internet vem se<br />
<strong>de</strong>senvolvendo com uma surpreen<strong>de</strong>nte rapi<strong>de</strong>z. Por esse motivo,<br />
pensar em um professor <strong>de</strong> E/LE do século XXI é pensar em um<br />
profissional mais consciente e mais crítico sobre os seus atos e que<br />
consiga acompanhar as transformações sociais, bem como a evolução<br />
dinâmica e constante das Tecnologias da Informação e da Comunicação<br />
(TICs). Porém, percebe-se, atualmente, um <strong>de</strong>spreparo <strong>de</strong>sses<br />
educadores no que se refere à exploração das potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sse<br />
meio tecnológico. Nesse sentido, preten<strong>de</strong>u-se, a partir da construção <strong>de</strong><br />
um panorama tecnológico do ensino <strong>de</strong> E/LE no Brasil, discutir as<br />
ina<strong>de</strong>quações educacionais na utilização da Internet e <strong>de</strong> seus recursos,<br />
bem como apresentar perspectivas <strong>de</strong> potencialização do uso da Re<strong>de</strong><br />
Mundial <strong>de</strong> Computadores (Internet) e <strong>de</strong> suas ferramentas.<br />
472
Resumo dos Trabalhos<br />
AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA ONLINE DE FUTUROS<br />
PROFESSORES: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM<br />
COLABORATIVA<br />
Suely Lenore Caputo Aymone<br />
Palavras-chave: Professores; Tecnologia; Aprendizagem.<br />
Entre os recursos para <strong>de</strong>senvolver habilida<strong>de</strong>s e conteúdos, cada vez<br />
mais, estão presentes nas escolas as novas tecnologias que propiciam a<br />
aprendizagem mediada pela web. Para o uso <strong>de</strong>ssas tecnologias, é<br />
importante que os alunos do Curso Normal em nível médio conheçam<br />
não só o funcionamento das mesmas, mas vislumbrem possibilida<strong>de</strong>s<br />
pedagógicas, a fim <strong>de</strong> integrá-las aos processos <strong>de</strong> aprendizagem.<br />
Consi<strong>de</strong>rando, ainda, o fato <strong>de</strong>sses alunos já participarem <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s<br />
sociais online com vistas ao entretenimento, é <strong>de</strong>senvolvido um Projeto<br />
que busca a ampliação da presença online <strong>de</strong>sses futuros professores,<br />
usando interfaces que permitem a construção do conhecimento <strong>de</strong> forma<br />
colaborativa, a reflexão sobre a prática, a qualificação da pesquisa, a<br />
busca pela autoria, com autonomia, criativida<strong>de</strong> e criticida<strong>de</strong>. O projeto,<br />
<strong>de</strong> que participam 50 alunos e a professora mediadora, é baseado nos<br />
princípios do construtivismo, da pedagogia freireana e na aprendizagem<br />
colaborativa. A presença do grupo na internet, através <strong>de</strong> interfaces que<br />
reportam ao apren<strong>de</strong>r fazendo, apren<strong>de</strong>r interagindo, apren<strong>de</strong>r buscando<br />
e apren<strong>de</strong>r compartilhando, se dá em blogs - Espichando a Conversa<br />
(<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2009) e Língua e Literatura no Curso Normal (criado em 2012);<br />
no GSites; no GDocs e no grupo Curso Normal - Elisa Valls (<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
2011), no Facebook. Essas experiências partem das aulas <strong>de</strong> didática da<br />
linguagem, literatura infantil e língua portuguesa. Além disso, essas<br />
práticas se espalharam pela escola – foram criados o Elisa em re<strong>de</strong>, blog<br />
da escola e o Cultura Jovem: o jornal do Elisa.<br />
DO DISCURSO À PRÁTICA: ANÁLISE DE PESQUISAS SOBRE<br />
O ENSINO DE INGLÊS MEDIADO POR COMPUTADOR<br />
Susana Cristina Dos Reis<br />
Pesquisas na área <strong>de</strong> ensino e aprendizagem <strong>de</strong> línguas mediados por<br />
computador têm discutido a necessida<strong>de</strong> do estabelecimento da agenda<br />
<strong>de</strong> pesquisa nessa área. Devido a isso, algumas pesquisas têm<br />
centralizado na análise <strong>de</strong> relatos <strong>de</strong> pesquisas para i<strong>de</strong>ntificar os<br />
objetivos dos estudos, as metodologias e os temas <strong>de</strong>ninteresse nessa<br />
área <strong>de</strong> investigação com vistas a i<strong>de</strong>ntificar o estado da arte. Usando a<br />
473
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
metodologia <strong>de</strong> pesquisa <strong>de</strong> síntese, este trabalho <strong>de</strong>screve a prática <strong>de</strong><br />
pesquisa em Computer Assisted Language Learning (CALL) e os<br />
discursos que emergem <strong>de</strong>ssa área <strong>de</strong> investigação com relação ao que<br />
os pesquisadores <strong>de</strong>ssa área concebem por linguagem e pelos processos<br />
<strong>de</strong> ensino e aprendizagem <strong>de</strong> inglês como língua estrangeira. Para tanto,<br />
coletei 123 relatos <strong>de</strong> pesquisa em periódicos internacionais específicos<br />
da área e 14 relatos em periódicos brasileiros sobre a temática <strong>de</strong> ensino<br />
<strong>de</strong> inglês mediado por computador, os quais foram publicados entre os<br />
anos <strong>de</strong> 2005 a 2009. Na análise textual, analisei o conteúdo dos artigos<br />
acadêmicos selecionados, a metodologia e os resultados. Em seguida,<br />
elaborei entrevistas via correio eletrônico com os autores dos artigos,<br />
para confirmar ou refutar dados obtidos na análise textual. A análise<br />
textual e contextual está ancorada teoricamente pela Análise <strong>de</strong> Gêneros<br />
e pela Análise Crítica do Discurso,nas quais ajudaram a <strong>de</strong>screver os<br />
procedimentos teórico-metodológicos adotados nessa área <strong>de</strong><br />
investigação. Os resultados sugerem uma área orientada pela<br />
investigação <strong>de</strong> quatro eixos temáticos, os quais são: a linguagem, os<br />
participantes, as tecnologias e a pedagogia online. Os discursos <strong>de</strong><br />
investigação em CALL sugerem a existência <strong>de</strong> uma área com interesse<br />
na análise <strong>de</strong> práticas tais como ensinar, ler e escrever, falar e se<br />
comunicar virtualmente, que são realizadas na Internet. Porém, o<br />
discurso predominante sobre linguagem nas pesquisas é como um<br />
fenômeno cognitivo e social. A <strong>de</strong>scrição da Agenda <strong>de</strong> Pesquisa<br />
sugerida nesta tese <strong>de</strong>screve os temas principais investigados na área <strong>de</strong><br />
CALL, as práticas sociais e discursivas realizáveis no ciberespaço e<br />
exemplos <strong>de</strong> pesquisas orientadas por diferentes concepções <strong>de</strong><br />
linguagem.<br />
OS MODELOS PEDAGÓGICOS E A EDUCAÇÃO PELA<br />
PESQUISA APOAIDA PELAS TECNOLOGIAS DE<br />
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO<br />
Taís Feijó Viana<br />
Carolina Mendonça Fernan<strong>de</strong>s De Barros<br />
O trabalho tem como objetivo fazer um breve histórico sobre as<br />
diferentes tendências pedagógicas da educação no Brasil e <strong>de</strong>bater uma<br />
relação entre esses mo<strong>de</strong>los e a busca da formação do conhecimento<br />
através da pesquisa apoiada pelas tecnologias da informação e<br />
comunicação (TICs). Este estudo parte dos mo<strong>de</strong>los tradicionais e<br />
tecnicistas, passando pela pedagogia crítica que consistia no<br />
questionamento aos mo<strong>de</strong>los existente, indo até os dias atuais,<br />
474
Resumo dos Trabalhos<br />
mostrando os avanços e as reflexões sobre os novos mo<strong>de</strong>los. Nos<br />
paradigmas tradicionais o estudante não era visto como um ator no<br />
processo <strong>de</strong> construção do conhecimento e sim um receptor do<br />
conhecimento repassado pelo professor, on<strong>de</strong> o conhecimento não era<br />
baseado na preocupação com a formação <strong>de</strong> um ser humano crítico e<br />
capacitado a promover o conhecimento inovador e permanentemente<br />
renovado. Logo, o professor reflexivo (atual) é o que mais se apropria<br />
do conceito <strong>de</strong> formação do conhecimento pela pesquisa, pois consegue<br />
flexibilizar o modo <strong>de</strong> ensinar, gerando variações que aproximam o<br />
estudante à escola e fomentam a capacida<strong>de</strong> crítica e a construção do<br />
conhecimento. É nesse contexto, associado ao <strong>de</strong>senvolvimento das<br />
TIC’s, que o professor sente a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> inserir no ambiente<br />
escolar o uso das mídias como recurso pedagógico. Desse modo, este<br />
trabalho encontra-se no estágio <strong>de</strong> avaliação do uso <strong>de</strong> um blog em uma<br />
disciplina do Ensino Técnico <strong>de</strong> Edificações e preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrar as<br />
dificulda<strong>de</strong>s e potenciais na apropriação <strong>de</strong>ssa ferramenta. Enten<strong>de</strong>-se<br />
que os usos da pesquisa apoiada as ferramentas tecnológicas atuam<br />
positivamente sobre o processo educativo, on<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve-se construir<br />
habilida<strong>de</strong>s no estudante que correspondam às <strong>de</strong>mandas do mundo <strong>de</strong><br />
hoje.<br />
O MÉTODO DE FREINET NA REALIDADE TECNOLÓGICA<br />
Tamires Gue<strong>de</strong>s Dos Santos<br />
O método <strong>de</strong> Freinet enfoca no aluno como sujeito e pressupõe um<br />
processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem colaborativo. Este po<strong>de</strong> ser facilitado<br />
pela utilização das tecnologias <strong>de</strong>ntro e fora da sala <strong>de</strong> aula, formando<br />
alunos-pesquisadores. O papel do professor <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>ste método é <strong>de</strong><br />
estimular os alunos e colaborar com eles, sendo <strong>de</strong>sta forma um<br />
auxiliador do processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem. O trabalho preten<strong>de</strong><br />
expor como funciona o método Freinet, suas diferenças comparadas ao<br />
Ensino tradicional, bem como como é possível colocá-lo na prática<br />
utilizando as tecnologias como parte <strong>de</strong> um aprendizado significativo e<br />
ativo.<br />
475
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
O VÍDEO COMO MEDIADOR DE CONTEÚDO NA<br />
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
Teresa Cristina Da Silva Marins<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste projeto é fazer uma análise <strong>de</strong> como se <strong>de</strong>senvolve o<br />
processo <strong>de</strong> mediação entre alunos e professores no uso das Tecnologias<br />
<strong>de</strong> Informação e Comunicação (TICs) para o ensino e aprendizagem da<br />
língua, materna e principalmente a estrangeira. Usa-se como base<br />
teórica a Teoria da Ativida<strong>de</strong>, que vê o sujeito como culturalmente<br />
construído pela sua interação com o outro, através dos artefatos<br />
culturais, que funcionam como instrumentos <strong>de</strong> mediação, mais<br />
especificamente os recursos audiovisuais que po<strong>de</strong>m ser eficazes para o<br />
aprendizado em sala <strong>de</strong> aula. Tentaremos explorar o ensino <strong>de</strong> línguas<br />
sobre esse aspecto, analisando como os alunos recebem e processam<br />
esse tipo <strong>de</strong> informação. Para que essa interação produza os objetivos<br />
almejados, é necessário que os sujeitos <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminada<br />
comunida<strong>de</strong>, real ou virtual, sejam estimulados pelos instrumentos<br />
utilizados em sala <strong>de</strong> aula. Verificar como os alunos se comportam<br />
diante da introdução <strong>de</strong> outras mídias em sala <strong>de</strong> aula, é o foco <strong>de</strong>ste<br />
trabalho. Preten<strong>de</strong>-se investigar quais as influências e interferências que<br />
os recursos audiovisuais po<strong>de</strong>m causar no ambiente <strong>de</strong> aprendizagem<br />
presencial. A metodologia usada consta <strong>de</strong> um levantamento <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>poimentos disponíveis na internet, em teses <strong>de</strong> doutorado na área e<br />
observação em sala <strong>de</strong> aula. Os resultados preliminares sugerem que o<br />
ví<strong>de</strong>o po<strong>de</strong> produzir bons resultados no ensino e aprendizagem <strong>de</strong><br />
línguas quando usado não apenas <strong>de</strong> modo receptivo, mas também<br />
produtivo, levando o aluno não só a compreen<strong>de</strong>r a língua mas também<br />
a produzir sentidos com recursos a<strong>de</strong>quados a sua ida<strong>de</strong>.<br />
A LEITURA DE MACHADO DE ASSIS NO CIBERESPAÇO<br />
Vanessa David Acosta<br />
Vanessa Doumid Damasceno (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Leitura; Ciberespaço; Machado <strong>de</strong> Assis.<br />
A leitura é <strong>de</strong> fundamental importância na vida dos alunos (KLEIMAN,<br />
2008; FREIRE 2008). A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estar familiarizado com a<br />
leitura traz um imenso leque <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s. A pessoa que está<br />
imersa no ambiente virtual, hoje em dia, tem uma aliada muito<br />
importante que é a tecnologia. Com ela se po<strong>de</strong> ir além dos livros<br />
impressos, se po<strong>de</strong> navegar no ciberespaço. Este trabalho objetiva:<br />
476
Resumo dos Trabalhos<br />
analisar como ocorre o processo <strong>de</strong> leitura por meio da web no contexto<br />
escolar e propor uma ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura machadiana no ambiente<br />
virtual. Para este fim, aplicou-se um questionário a professores que<br />
atuam no município <strong>de</strong> Jaguarão/RS com a disciplina <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa, bem como se realizou pesquisa bibliográfica <strong>de</strong> autores que<br />
versam a temática abordada (SANTAELLA, 2004; SILVA, 2003). Os<br />
resultados obtidos, por meio dos <strong>de</strong>poimentos dos professores e da<br />
ativida<strong>de</strong> realizada evi<strong>de</strong>nciam a relevância da utilização da leitura<br />
hipertextual no contexto escolar, uma vez que propicia novas formas <strong>de</strong><br />
ler, escrever e consequentemente <strong>de</strong> pensar e agir.<br />
A LINGUAGEM ESCRITA EM TEMPOS E ESPAÇOS<br />
VIRTUAIS<br />
Vanessa Dos Santos Nogueira<br />
Este trabalho busca apresentar os dados obtidos através <strong>de</strong> uma<br />
investigação que teve como sujeitos os alunos do primeiro semestre <strong>de</strong><br />
Pedagogia a distância da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria (UFSM),<br />
no âmbito da Universida<strong>de</strong> Aberta do Brasil (UAB), mediado pelo<br />
Ambiente Virtual <strong>de</strong> Ensino e Aprendizagem Livre (MOODLE).<br />
Procurou-se observar e analisar como se constituem as formações<br />
imaginárias, estabelecidas nos processos discursivos efetivados pela<br />
interlocução dos sujeitos/alunos, especificamente com os recursos do<br />
fórum <strong>de</strong> discussão <strong>de</strong>sse ambiente. A ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida no fórum<br />
<strong>de</strong> discussão ocorreu a partir do resgate da história e memória dos<br />
alunos sobre a utilização das tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação<br />
na sua vida escolar. A análise dos dados coletados foi guiada por<br />
dispositivos teóricos da análise <strong>de</strong> discurso da escola francesa<br />
(PÊCHEUX, 1998; ORLANDI, 1996, 2001, 2004). Os resultados<br />
obtidos nesta pesquisa indicam que na comunicação mediada por<br />
computador, em tempos e espaços virtuais, ajudam a refletir sobre<br />
questões e novos <strong>de</strong>safios da educação a distância, no que se refere aos<br />
processos <strong>de</strong> comunicação e interação materializados pela linguagem<br />
escrita. É importante <strong>de</strong>stacar que os sujeitos envolvidos na construção<br />
<strong>de</strong> uma educação a distância <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ve se beneficiar das<br />
<strong>de</strong>scobertas e resultados das pesquisas realizadas acerca <strong>de</strong>ssa temática.<br />
Estabelecendo um diálogo na EaD Po<strong>de</strong>-se dizer que transformar a<br />
linguagem oral em linguagem escrita e estabelecer uma interação entre<br />
pessoas separadas geograficamente seria uma Comunicação Mediada<br />
por Computador (CMC). Uma comunicação que se efetiva <strong>de</strong> forma<br />
477
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
interativa na internet pressupõe, como nos mostra Silva (2008, p. 79)<br />
“múltiplas re<strong>de</strong>s articulatórias <strong>de</strong> conexões e liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> trocas,<br />
associações e significações”.<br />
CONTRIBUIÇÃO DOS FRACTAIS PARA A EDUCAÇÃO A<br />
DISTÂNCIA: UMA PERSPECTIVA BASEADA NOS SISTEMAS<br />
COMPLEXOS<br />
Vanessa Ribas Fialho<br />
Segundo Paiva (2009), apoiada em Man<strong>de</strong>lbrot (1982), fractais são<br />
“padrões autossimilares in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da escala em que os<br />
visualizemos, <strong>de</strong>vido à sua proprieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> autossimilarida<strong>de</strong>” (PAIVA,<br />
2009, p. 12). Assim, um fractal é a imagem em escala do sistema com o<br />
mesmo grau <strong>de</strong> complexida<strong>de</strong> do todo (LARSEN- FREEMAN, 1997;<br />
PAIVA, 2005, 2009). Nessa perspectiva, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é o<br />
<strong>de</strong> analisar fractais <strong>de</strong> uma disciplina a distância, para enten<strong>de</strong>r o<br />
funcionamento do todo. Ao analisar uma disciplina do curso <strong>de</strong> Letras<br />
Espanhol a distância da UFSM/UAB a três polos, foi possível perceber<br />
que os fóruns semanais se comportaram como um subsistema do<br />
gran<strong>de</strong> sistema da disciplina, <strong>de</strong>monstrando sua forma fractal. Também<br />
foi possível perceber que alguns agentes <strong>de</strong>sse sistema, através <strong>de</strong> suas<br />
interações, funcionaram como atratores e po<strong>de</strong> ser vista em escala<br />
maior durante toda a disciplina. A proprieda<strong>de</strong> fractal também po<strong>de</strong> ser<br />
vista no sentindo <strong>de</strong> pertencimento <strong>de</strong> um indivíduo a uma comunida<strong>de</strong><br />
(BRAGA, 2007) e, na disciplina analisada, isso foi observado quando os<br />
alunos se reconhecem pertencentes aos seus polos e, ao mesmo tempo,<br />
membros da comunida<strong>de</strong> maior da disciplina, repetindo padrões da<br />
comunida<strong>de</strong> maior. Enten<strong>de</strong>r e observar os fractais <strong>de</strong> um sistema<br />
complexo po<strong>de</strong> ajudar a enten<strong>de</strong>r como o sistema se porta, já que cada<br />
sistema po<strong>de</strong> se dividir em outros e cada um <strong>de</strong>sses novos sistemas<br />
comporta gran<strong>de</strong>zas diferentes, mas com padrões das partes anteriores.<br />
478
Resumo dos Trabalhos<br />
DO ALMOXARIFADO AO SHOWROOM: A MONTAGEM DOS<br />
OBJETOS DE APRENDIZAGEM<br />
Vilson J. Leffa<br />
Um dos princípios dos objetos <strong>de</strong> aprendizagem, com base na metáfora<br />
do jogo <strong>de</strong> montar conhecido como LEGO, é <strong>de</strong> que qualquer módulo<br />
po<strong>de</strong> ser encaixado em outros módulos, produzindo como resultado<br />
inúmeros objetos diferenciados, ao contrário do puzzle, por exemplo,<br />
em que as peças só po<strong>de</strong>m ser encaixadas <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminada maneira,<br />
produzindo sempre o mesmo resultado, restaurando o <strong>de</strong>senho original<br />
<strong>de</strong> on<strong>de</strong> saíram. Produzir objetos diferenciados a partir <strong>de</strong> um<br />
<strong>de</strong>terminado conjunto <strong>de</strong> módulos, no entanto, tem sido um dos <strong>de</strong>safios<br />
na produção <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> aprendizagem, pela dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> montar os<br />
módulos em um objeto bem articulado em seus componentes. O que se<br />
tem visto é a produção <strong>de</strong> objetos monolíticos, construídos da base em<br />
cada um <strong>de</strong> seus módulos, sem possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reaproveitamento, o<br />
que dificulta sua elaboração, não permitindo o compartilhamento <strong>de</strong><br />
módulos entre os professores para a montagem <strong>de</strong> objetos<br />
diferenciados. Para resolver este problema, e consi<strong>de</strong>rando que os<br />
objetos <strong>de</strong> aprendizagem têm sido tipicamente reunidos em repositórios,<br />
propõe-se a criação <strong>de</strong> dois repositórios: um <strong>de</strong> módulos para o<br />
professor e outro <strong>de</strong> objetos para o aluno. Ao montar seu objeto <strong>de</strong><br />
aprendizagem, sempre feito a partir <strong>de</strong> módulos, o professor po<strong>de</strong> criar<br />
módulos próprios, que <strong>de</strong>pois ficam disponibilizados no sistema, ou<br />
reaproveitar módulos já existentes, introduzindo as modificações que<br />
julgar necessárias. Os testes feitos com o sistema proposto, já<br />
operacional, indicam a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> combinar reusabilida<strong>de</strong>,<br />
facilitando o trabalho do professor, com contextualida<strong>de</strong>, aten<strong>de</strong>ndo as<br />
necessida<strong>de</strong>s do aluno.<br />
479
LINHA TEMÁTICA: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA,<br />
IDENTIDADES E ENSINO: REFLEXÕES<br />
A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO FUTURO NO ENSINO<br />
MÉDIO: O USO DA PERÍFRASE IR + INFINITIVO NA<br />
LITERATURA<br />
Adriana De Oliveira Gibbon<br />
Alguns estudos, como a dissertação A expressão do tempo futuro na<br />
língua falada <strong>de</strong> Florianópolis: gramaticalização e variação (GIBBON,<br />
2000), têm mostrado o crescente <strong>de</strong>suso da forma verbal <strong>de</strong> futuro do<br />
presente (cantarei) na fala coloquial. Em seu lugar, encontram-se<br />
outras duas formas: forma perifrástica IR + Infinitivo (vou cantar) e<br />
presente do indicativo (canto amanhã), para codificar o tempo futuro.<br />
Enquanto o uso <strong>de</strong>sta última é previsto nas gramáticas normativas, a<br />
perífrase não é recomendada como forma verbal para representar o<br />
futuro. Outros estudos, que envolvem a modalida<strong>de</strong> escrita como<br />
Oliveira (2006) e Strogenski (2010), apontam a forma futuro do<br />
presente como dominante, embora mostrem um crescimento da<br />
frequência da perífrase nos textos recentes. A proposta <strong>de</strong>ste trabalho é<br />
analisar dois livros <strong>de</strong> literatura voltados para o público jovem,<br />
buscando as formas citadas a fim <strong>de</strong> observar seu comportamento em<br />
frequência <strong>de</strong> uso. O trabalho seleciona os contextos <strong>de</strong> futurida<strong>de</strong> e as<br />
formas que o codificam. Além disso, observa-se também a relação do<br />
tempo enunciado e da realização da ação e a pessoa do discurso<br />
envolvida. Estudos preliminares apontam para a forte presença da<br />
perífrase em <strong>de</strong>trimento do futuro do presente, o que permite fazer<br />
algumas consi<strong>de</strong>rações sobre o ensino do tempo futuro no ensino<br />
médio.<br />
O (DES)ENCONTRO DE VOZES SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO<br />
DA IRMANDADE NA FRONTEIRA JAGUARÃO/RIO<br />
BRANCO<br />
Alessandra Avila Martins<br />
Palavras-chave: irmanda<strong>de</strong>, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, fronteira, discurso, vozes<br />
sociais/discursivas.<br />
Historicamente, a região <strong>de</strong> fronteira Brasil/Uruguai foi marcada por<br />
fortes conflitos entre portugueses e espanhóis, que lutavam pela<br />
ocupação do território. Esses conflitos acabaram por dividir<br />
480
Resumo dos Trabalhos<br />
territorialmente e culturalmente os dois povos ibéricos envolvidos. A<br />
partir <strong>de</strong>ste cenário <strong>de</strong> disputa, vivenciado nos séculos XVIII e XIX,<br />
esta pesquisa ganha contornos no que diz respeito aos processos<br />
i<strong>de</strong>ntitários e a suposta relação <strong>de</strong> irmanda<strong>de</strong> vivenciada pelos<br />
moradores da fronteira Jaguarão/Rio Branco do século XXI. O estudo<br />
foi realizado em Jaguarão, cida<strong>de</strong> localizada no sul do Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Sul, que faz fronteira com o município <strong>de</strong> Rio Branco, no Uruguai. O<br />
objetivo geral <strong>de</strong>ste trabalho é investigar a representação da irmanda<strong>de</strong><br />
na voz do jaguarense na relação com o rio-branquense. Esse objetivo se<br />
<strong>de</strong>sdobra em dois objetivos específicos. O primeiro é analisar vozes<br />
sociais/discursivas que apontem para a integração entre jaguarenses e<br />
rio-branquenses. O segundo objetivo é verificar no discurso dos<br />
jaguarenses como se dá a marcação da diferença em relação ao povo<br />
uruguaio. O estudo consistiu em duas entrevistas <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong>, que<br />
foram efetuadas com base nos pressupostos <strong>de</strong> Gaskell e Bauer (2002),<br />
e o material <strong>de</strong> investigação foi analisado pelo viés dos estudos<br />
i<strong>de</strong>ntitários e à luz da perspectiva <strong>de</strong> Bakhtin e seu Círculo,<br />
particularmente nos seguintes eixos, constitutivos da linguagem:<br />
plurilinguismo linguístico, compreensão responsiva e acento <strong>de</strong> valor.<br />
Com o auxílio do suporte teórico, verificamos que os enunciados dos<br />
pesquisados dialogam com outros enunciados, e o imbricamento da<br />
diferença e da integração (re)constrói constantemente suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s,<br />
sustenta e questiona a irmanda<strong>de</strong>. A análise do material apontou que a<br />
irmanda<strong>de</strong> na fronteira estudada é permeada por constante<br />
tensionamento, produzindo discursos que agregam a resistência e a<br />
integração entre rio- branquenses e jaguarenses.<br />
VARIAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA NO CONTEXTO ESCOLAR<br />
Alessandra Goulart D'avila<br />
Nathan Bastos De Souza<br />
Palavras chave: Sociolinguística, Preconceito linguístico e PIBID.<br />
Este texto foi pensado com o objetivo e relatar uma experiência didática<br />
advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à docência (PIBID) na área <strong>de</strong><br />
Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA). O projeto<br />
“Variação sociolinguística no contexto escolar” foi planejado e<br />
aplicado em uma escola estadual <strong>de</strong> Bagé-RS. Consistiu em abordar as<br />
relações estabelecidas entre a socieda<strong>de</strong> e a língua a partir elementos,<br />
como: noções <strong>de</strong> gramaticalida<strong>de</strong>, contextualização do ensino <strong>de</strong><br />
gramática, <strong>de</strong>smistificação da cultura do erro, preconceito linguístico e<br />
481
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
análise das diferenças <strong>de</strong> variação linguística. Os alunos fizeram um<br />
levantamento <strong>de</strong> dados através <strong>de</strong> entrevistas com a comunida<strong>de</strong><br />
escolar, com o foco na concordância nominal. Também foi feita<br />
produção <strong>de</strong> textos e reescrita <strong>de</strong>stes, usando duas formas: a primeira<br />
em varieda<strong>de</strong> não-padrão e a segunda em varieda<strong>de</strong> padrão. Os pilares<br />
teóricos que subsidiaram esta prática foram Bagno(2000) no que se<br />
refere às questões <strong>de</strong> preconceito linguístico e Bortoni-Ricardo(2009)<br />
com foco no português brasileiro e o trabalho com língua materna em<br />
sala <strong>de</strong> aula. Po<strong>de</strong>mos concluir que o projeto aprofundou os<br />
conhecimentos dos alunos em questões linguísticas para que estes<br />
possam i<strong>de</strong>ntificar as diferenças contextuais dos usos <strong>de</strong> varieda<strong>de</strong>s da<br />
língua. Porém, dialogar com as varieda<strong>de</strong>s linguísticas partiu do<br />
respeito aos seus conhecimentos prévios sobre a língua materna e<br />
possibilitou que eles se apropriassem também <strong>de</strong> regras linguísticas<br />
que gozam <strong>de</strong> prestígio social.<br />
AS VOGAIS MÉDIAS DO PORTUGUÊS DO URUGUAI<br />
FALADO POR CRIANÇAS DOS ANOS ESCOLARES INICIAIS<br />
DA CIDADE DE TRANQUERAS<br />
Alexan<strong>de</strong>r Severo Córdoba<br />
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (Orientadora)<br />
Palavras-chave: Português do Uruguai, Vogais Médias, Teoria da<br />
Variação, TO Estocástica<br />
O <strong>de</strong>nominado Português do Uruguai (PU) tem sido alvo <strong>de</strong> diversos<br />
estudos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os <strong>de</strong> âmbito fonético-fonológico até o sintáticosemântico,<br />
especialmente o PU falado na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rivera (URU), que<br />
faz fronteira com a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santana do Livramento (BRA).<br />
Entretanto, afastando-se da fronteira, também se encontram<br />
comunida<strong>de</strong>s em que é falado o PU, como a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Tranqueras, que<br />
é o foco <strong>de</strong>ste estudo, localizada a 54 km <strong>de</strong> Rivera. O PU se configura<br />
como uma varieda<strong>de</strong> do português (CARVALHO, 2007; 2010),<br />
embora também apresente marcas do espanhol. Consi<strong>de</strong>rando essa<br />
realida<strong>de</strong>, o objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é o <strong>de</strong> <strong>de</strong>screver o comportamento<br />
do PU falado em Tranqueras por um grupo <strong>de</strong> crianças, com ida<strong>de</strong><br />
entre 7 e 10 anos, que estão cursando os anos iniciais do ensino<br />
fundamental uruguaio. Há interesse particular na <strong>de</strong>scrição da variante<br />
usada por essa faixa etária, a fim <strong>de</strong>, ao ser cotejada com aquela usada<br />
por falantes adultos, permitir verificação <strong>de</strong> tendência ou não a<br />
mudanças linguísticas. A pesquisa <strong>aqui</strong> discutida centrou-se na análise<br />
482
Resumo dos Trabalhos<br />
do comportamento das vogais médias, uma vez que constituem classe<br />
<strong>de</strong> segmentos cujo funcionamento difere nos sistemas do português e<br />
do espanhol. A investigação está alicerçada nos pressupostos teóricometodológicos<br />
da sociolinguística variacionista laboviana. Os<br />
resultados, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> submetidos ao aplicativo GOLDVARB 2001,<br />
serão analisados à luz da Teoria da Variação bem como da Teoria da<br />
Otimida<strong>de</strong> Estocástica (BOERSMA; HAYES, 2001, 2007).<br />
ESTUDO DA REALIZAÇÃO DOS FONEMAS /d/ e /t/<br />
ACOMPANHADOS DA VOGAL /i/ E DO FONEMA / ř / NA<br />
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA POR ALUNOS DA<br />
TRÍPLICE FRONTEIRA ENTRE BRASIL E ARGENTINA<br />
Ana Maria Bonk Massarollo<br />
Sanimar Busse<br />
Palavras-chave: Contato Linguístico; Semelhanças e Diferenças<br />
Fonológicas.<br />
Este trabalho tem o objetivo <strong>de</strong> apresentar uma <strong>de</strong>scrição e análise<br />
preliminar da realização dos fonemas oclusivos <strong>de</strong>ntais alveolares /d/ e<br />
/t/ acompanhados da vogal /i/, em final <strong>de</strong> palavra, e da vibrante<br />
simples, em início <strong>de</strong> palavra, e vibrante múltipla “doble r”, na<br />
<strong>aqui</strong>sição da língua espanhola por alunos da fronteira Brasil/Argentina,<br />
das cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Dionisio Cerqueira/SC, Barracão/PR-Brasil e Bernardo<br />
<strong>de</strong> Irigoyen/Misiones-Argentina. Preten<strong>de</strong>-se também, i<strong>de</strong>ntificar o<br />
posicionamento dos falantes diante das línguas e culturas em contato,<br />
consi<strong>de</strong>rando as semelhanças e diferenças, no nível fonéticofonológico,<br />
entre o português e o espanhol falado nas localida<strong>de</strong>s. Nos<br />
dados coletados, por meio <strong>de</strong> questionário aplicado a 15 estudantes <strong>de</strong><br />
Língua Espanhola do Ensino Fundamental das escolas <strong>de</strong> Dionísio<br />
Cerqueira - SC e 15 <strong>de</strong> Barracão – PR, serão <strong>de</strong>scritas e analisadas as<br />
variáveis socioculturais e linguísticas que condicionam os fenômenos<br />
registrados pelos informantes. Preten<strong>de</strong>mos, após a <strong>de</strong>scrição e análise<br />
dos dados, <strong>de</strong>senvolver reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da<br />
língua espanhola, pautada, principalmente, nas diferenças e<br />
semelhanças culturais e linguísticas das comunida<strong>de</strong>s.<br />
483
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
LA VARIACIÓN FONÉTICA EN LA CLASE DE ESPAÑOL<br />
COMO LENGUA ADICIONAL: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA<br />
Ana Paula Ferreira Seixa<br />
Sandia Barañano Viana<br />
Este trabajo se vincula al proyecto <strong>de</strong> extensión “Núcleo <strong>de</strong> Línguas<br />
Adicionais”, <strong>de</strong>l curso <strong>de</strong> Letras <strong>de</strong> la Universidad Fe<strong>de</strong>ral do Pampa<br />
(Unipampa) - campus Bagé- y tiene como objeto presentar una<br />
propuesta didáctica para el tratamiento <strong>de</strong> la variación lingüística en la<br />
clase <strong>de</strong> español como “língua adicional” (RIO GRANDE DO SUL,<br />
2009). Un fenómeno que conlleva toda lengua y también el español es<br />
la variación, que pue<strong>de</strong> manifestarse en los distintos niveles<br />
lingüísticos y motivarse según diferentes factores, como lo social, lo<br />
contextual y lo geográfico (SECO, 2000; MORENO FERNÁNDEZ,<br />
2005). Dicha variación, muchas veces, es percibida por el docente <strong>de</strong><br />
español como un aspecto que “complica el sistema <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong>l<br />
idioma (…)” (LEAL ABAD, 2008, p.6). Esta exposición presenta una<br />
propuesta didáctica elaborada para el curso “Español Básico I”, que<br />
atien<strong>de</strong> a adultos <strong>de</strong> la comunidad local, buscando sensibilizar a los<br />
alumnos a la variación fonética <strong>de</strong>l español en lo que respecta a la<br />
pronunciación.<br />
A REALIZAÇÃO DA PREPOSIÇÃO "DE" NA VARIEDADE<br />
DIALETAL DA CIDADE DE BAGÉ/RS<br />
Bruna Ribeiro Viraquã<br />
A varieda<strong>de</strong> dialetal da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé (RS) é caracterizada pela<br />
realização da preposição “<strong>de</strong>” sem elevação, enquanto outras palavras<br />
terminadas em vogais médias átonas, geralmente, elevam-se, como, por<br />
exemplo, em leite [â ˜lejtʃi], sendo esse um dos primeiros fenômenos<br />
linguísticos i<strong>de</strong>ntificados por falantes <strong>de</strong> outras varieda<strong>de</strong>s dialetais.<br />
Com base nesse fenômeno e buscando <strong>de</strong>sconstruir a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
homogeneida<strong>de</strong> linguística, este trabalho preten<strong>de</strong> contribuir para a<br />
<strong>de</strong>scrição da varieda<strong>de</strong> dialetal da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé (RS), no que tange à<br />
realização da preposição <strong>de</strong> com ou sem elevação, bem como os fatores<br />
linguísticos e extralinguísticos que possam favorecer a realização <strong>de</strong><br />
uma ou outra maneira. Teoricamente, baseamo-nos em Bisol (1981),<br />
Braga e Mollica (2008), Oliveira (1992), e Tarallo (2007). Os dados<br />
foram coletados através da leitura <strong>de</strong> 135 frases, criadas pela<br />
pesquisadora. A análise estatística dos dados foi realizada pelo pacote<br />
484
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> programas Varbrul. Constatamos que há privilégio pela realização da<br />
preposição <strong>de</strong> sem elevação (realização <strong>de</strong> 77% do total <strong>de</strong><br />
informantes). Porém, é possível que a varieda<strong>de</strong> dialetal <strong>de</strong> Bagé esteja<br />
passando por uma mudança em progresso, pois falantes mais jovens<br />
realizam, com maior frequência, em comparação com falantes mais<br />
velhos, a preposição <strong>de</strong> com elevação. Em relação aos fatores<br />
linguísticos, o favorecimento maior à elevação está relacionado à<br />
sílaba da palavra seguinte sem ataque, como em: Está fazendo frio <strong>de</strong><br />
ontem para cá.<br />
VILMAR TAVARES. UM LINGUISTA DE IMAGENS?<br />
Carlos Leonardo Coelho Recuero<br />
Palavras-chave: Fotografia, Semiótica, Vilmar Tavares, Linguística<br />
Traduzir imagens nos limites da linguística aplicada é um exercício <strong>de</strong><br />
pesquisa e um trabalho ainda pouco praticado. Examinando os<br />
primeiros resultados obtidos do estudo das imagens produzidas pelo<br />
fotógrafo Vilmar Tavares (1950 -2011), este trabalho apresenta algumas<br />
observações nesse sentido. Aqui procuramos apresentar <strong>de</strong> forma<br />
distinta o texto visual produzido pelo fotógrafo e <strong>de</strong>pois o texto<br />
“tradicional”, com o titulo e a legenda por ele utilizados, vindo<br />
finalmente as consi<strong>de</strong>rações sobre o dito visualmente e o dito pela<br />
escrita tradicional, à luz da semiologia <strong>de</strong> Barthes (1984). Pesquisar,<br />
neste sentido, é verificar como se espera que os receptores, “o<br />
observator” proposto por Barthes (1984), se comportam diante da<br />
linguagem visual apresentada nestas imagens. É através <strong>de</strong>ssas<br />
fotografias que se verificam possíveis tentativas do fotógrafo <strong>de</strong><br />
orientar a percepção dos leitores em um sentido pre<strong>de</strong>terminado ou se<br />
há simplesmente um exercício <strong>de</strong> linguagem visual <strong>de</strong> um repórter<br />
fotográfico consagrado. Arriscar este tipo <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> fotografias<br />
como uma linguagem visual que supõe alguma espécie <strong>de</strong> padrão<br />
i<strong>de</strong>ntificatório entre locutor-fotógrafo e leitor-interlocutor <strong>de</strong> imagens é<br />
teorizar e questionar o uso exclusivo da linguagem tradicional como<br />
única forma que fala d<strong>aqui</strong>lo que vemos.<br />
485
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
EM BUSCA DE SUBSÍDIOS PARA UMA PEDAGOGIA DA<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS DOCUMENTOS<br />
CURRICULARES NACIONAIS<br />
César Augusto González<br />
Jorama De Quadros Stein<br />
Este texto tem por objetivo buscar nos Parâmetros Curriculares<br />
Nacionais (PCN) <strong>de</strong> ensino fundamental (BRASIL, 1998) e médio<br />
(BRASIL, 2000) subsídios para uma pedagogia da variação linguística.<br />
Especificamente, investigamos se e como esses documentos abordam a<br />
questão da variação. Nossa investigação parte das propostas <strong>de</strong> Faraco<br />
(2008) e Zilles (2008), ambos autores que contribuem<br />
significativamente para a construção <strong>de</strong> uma pedagogia da variação.<br />
Vale dizer que consi<strong>de</strong>ramos necessária uma prática educativa atenta<br />
aos fenômenos <strong>de</strong> variação, <strong>de</strong> forma a oferecer aos alunos meios para<br />
que eles sejam capazes <strong>de</strong> avaliar a a<strong>de</strong>quação das formas linguísticas a<br />
sua disposição a cada nova situação interlocutiva. Acreditamos que,<br />
por meio <strong>de</strong> um ensino que privilegie a norma culta em <strong>de</strong>trimento da<br />
norma-padrão e leve em conta as varieda<strong>de</strong>s linguísticas conhecidas<br />
pelos alunos, é possível promover uma educação linguística em que se<br />
combata o preconceito linguístico e se possibilite aos educandos o<br />
aprimoramento <strong>de</strong> sua competência linguístico-discursiva. Nossa<br />
leitura dos PCN permitiu-nos observar que, apesar <strong>de</strong> preocupados com<br />
a questão da variação linguística, os documentos não diferenciam<br />
claramente as noções <strong>de</strong> norma-padrão e norma culta. Há, também,<br />
uma certa inconsistência no que diz respeito aos usos dos termos<br />
sociolinguísticos e uma enorme quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conceitos advindos <strong>de</strong><br />
variadas áreas da linguística, o que torna a leitura dos documentos<br />
altamente complexa.<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, REDES E PRÁTICAS SOCIAIS NA<br />
IDENTIDADE DE UMA COMUNIDADE DE FALA<br />
Claudia Camila Lara<br />
Palavras-chave: variação linguística; re<strong>de</strong>s e práticas sociais;<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>.<br />
Estudos têm evi<strong>de</strong>nciado a variação linguística, re<strong>de</strong>s e práticas sociais,<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e ensino como reflexões relevantes na literatura. Autores<br />
como Labov (2008 [1972]), Milroy (1978, 2003), Eckert (2000), Blake<br />
& Josey (2003) e Battisti & Lucas (2006) têm contribuído para que se<br />
486
Resumo dos Trabalhos<br />
perceba a importância do espaço geográfico circundado pela língua<br />
enquanto fonte motora <strong>de</strong> relacionamentos em re<strong>de</strong> através das<br />
comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prática e estudos variacionistas. Dessa forma, propõese<br />
como objetivo <strong>de</strong>sta comunicação analisar a realização variável das<br />
plosivas da fala em língua portuguesa, bem como o relacionamento em<br />
re<strong>de</strong> influenciado pelas práticas sociais advindas das comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
prática dos habitantes da localida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Glória, zona rural da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Estrela/RS. Os sujeitos pertencentes a este estudo são 10 informantes,<br />
parte <strong>de</strong> uma amostra <strong>de</strong> 24 informantes. Para a constituição da<br />
amostra, foram selecionados informantes que preenchessem as células<br />
<strong>de</strong> faixa-etária: 15 – 30 anos; 31 – 46 anos; 47 anos ou mais;<br />
escolarida<strong>de</strong>: ensino fundamental; ensino médio e ensino superior;<br />
sexo: feminino e masculino; e ocupação, subdividida em três<br />
categorias: Local (trabalham na comunida<strong>de</strong> em ativida<strong>de</strong>s agrícolas e<br />
em casa); Outras (<strong>de</strong>slocam-se para outros lugares a fim <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolverem outras ativida<strong>de</strong>s profissionais) e Aposentados (tanto os<br />
que se aposentaram na agricultura como os que se aposentaram por<br />
outras profissões)..<br />
AS NARRATIVAS QUE CIRCULAM SOBRE O CURSO DE<br />
LETRAS: MEMÓRIAS RECONTADAS POR QUEM DEIXOU<br />
SEU LAR PARA ESTUDAR<br />
Cláudia Raquel Lutz<br />
Palavras-chave: Estudos Culturais; narrativas <strong>de</strong> vida; i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>.<br />
O discurso dominante que permeia os cursos <strong>de</strong> licenciatura diz que<br />
esses não são cursos privilegiados pela socieda<strong>de</strong>. A <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong><br />
percorrer uma distância significativa para cursar Letras acaba por<br />
questionar até que ponto esses discursos são aceitos como absolutos e<br />
em que sentido po<strong>de</strong>mos ver rupturas quanto ao que é dito ao nosso<br />
redor. Consi<strong>de</strong>rando isso, este estudo preten<strong>de</strong> analisar os discursos –<br />
os quais são articulados em narrativas orais <strong>de</strong> vida - circulantes entre<br />
alunos e recém formados dos cursos <strong>de</strong> Licenciaturas em Letras <strong>de</strong><br />
uma Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, que se <strong>de</strong>slocaram <strong>de</strong><br />
seus lares a fim <strong>de</strong> estudar e buscar novos horizontes. Para tanto, foram<br />
realizadas entrevistas (semi-estruturadas), individuais e em grupos, a<br />
fim <strong>de</strong> estabelecer-se uma conversa o mais informal possível. O uso<br />
<strong>de</strong>ssa ferramenta caracteriza a pesquisa como interpretativista, uma vez<br />
que permite analisar a movimentação dos atores sociais envolvidos na<br />
pesquisa, assim como sua visão <strong>de</strong> mundo em <strong>de</strong>terminados momentos<br />
487
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
por meio <strong>de</strong> suas narrativas. A pesquisa está alinhada ao campo dos<br />
Estudos Culturais <strong>de</strong> vertente pós- estruturalista e pós-mo<strong>de</strong>rnista em<br />
sua conexão com estudos na área <strong>de</strong> Linguística Aplicada (LA)<br />
Transdisciplinar. Tal amarração ocorre à medida que a área <strong>de</strong><br />
Linguística Aplicada passa por uma reavaliação no que tange ao seu<br />
caráter político e histórico, o que não era até então consi<strong>de</strong>rado sob uma<br />
perspectiva mo<strong>de</strong>rna em que não há uma notável preocupação <strong>de</strong> cunho<br />
social e cultural em relação ao ensino e à aprendizagem <strong>de</strong> línguas. Sob<br />
essa perspectiva, consi<strong>de</strong>ra-se a linguagem como constituidora do<br />
indivíduo sendo um artefato produtivo <strong>de</strong> suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e que impõe<br />
significados.<br />
LÍNGUA E REPRODUÇÃO CULTURAL: FORMAÇÃO<br />
DOCENTE PARA A EQUIDADE SOCIAL<br />
Cristiano Gue<strong>de</strong>s Pinheiro<br />
Priscila Monteiro Chaves<br />
Palavras-chave: Língua; Reprodução Cultural, Formação Docente.<br />
Uma das características que comprime a realida<strong>de</strong> da escola pública e<br />
<strong>de</strong> baixa renda é a sua diversida<strong>de</strong>, no que compete a diferentes culturas<br />
e percursos <strong>de</strong> vida, fazendo distinções entre condições mais ou menos<br />
favoráveis também no ensino <strong>de</strong> língua materna. As classes menos<br />
favorecidas acompanham uma cultura e juntamente com esta seus<br />
costumes, crenças e linguagens variantes do rotineiro meio urbano. A<br />
compreensão e o manejo da língua constituem o escopo <strong>de</strong> atenção<br />
principal no julgamento dos professores, “mostrando que a influência<br />
do capital linguístico não cessa nunca <strong>de</strong> se” cumprir e que “o estilo<br />
permanece sempre levado em conta, implícita ou explicitamente, em<br />
todos os níveis do ensino” (BOURDIEU; PASSERON, 1992). Assim, o<br />
presente trabalho objetiva refletir acerca das relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r na<br />
formação e no ensino <strong>de</strong> língua materna <strong>de</strong> estudantes e futuros<br />
docentes, a partir dos conceitos <strong>de</strong> “reprodução cultural”, <strong>de</strong> Bourdieu e<br />
Passeron (1992), e <strong>de</strong> "contra-hegemonia", <strong>de</strong> Henry Giroux e Peter<br />
McLaren (1997). A fim <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma<br />
formação docente que consiga estabelecer relações entre o político e o<br />
pedagógico; que seja capaz <strong>de</strong> articular, na ação e na teoria, práticas <strong>de</strong><br />
uma <strong>de</strong>mocracia radical; que possam ser educados enquanto intelectuais<br />
transformadores, assumindo um papel central na luta por <strong>de</strong>mocracia e<br />
justiça social.<br />
488
Resumo dos Trabalhos<br />
AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LP PARA SURDOS:<br />
A GOVERNAMENTALIZAÇÃO DA ESCRITA ESCOLAR<br />
COMO DISPOSITIVO DE NORMALIZAÇÃO<br />
Daniela Takara<br />
A Secretaria <strong>de</strong> <strong>Educação</strong> da capital paulista publicou em 2008 as<br />
Orientações Curriculares para a educação <strong>de</strong> língua portuguesa para<br />
surdos a reboque das discussões acerca da adoção da proposta bilíngue<br />
nas seis escolas exclusivas para surdos que a ela mantém. A <strong>de</strong>speito<br />
do gran<strong>de</strong> avanço político-curricular que esta publicação tenha dado<br />
para a luta da comunida<strong>de</strong> Surda em prover uma educação bilíngue e o<br />
reconhecimento da Libras como sua língua materna, nossa análise<br />
incorrerá nas dobras do discurso oficial do documento analisado,<br />
atentar-nos-emos na concepção <strong>de</strong> escrita como efeitos <strong>de</strong> uma<br />
racionalida<strong>de</strong> forjada num <strong>de</strong>terminado momento histórico. Uma vez<br />
que o domínio da escritura é símbolo <strong>de</strong> civilida<strong>de</strong> (Elias), o que se<br />
preten<strong>de</strong> ao ensinar Língua Portuguesa a falantes <strong>de</strong> Libras? De qual<br />
Língua Portuguesa tal Proposta se refere? A partir do aporte teórico <strong>de</strong><br />
Foucault, em especial acerca da governamentalida<strong>de</strong>, inten<strong>de</strong>mos<br />
analisar as Orientações Curriculares a partir da ótica pós- estruturalista<br />
e extrair dali quais processos (ortopédicos) pelo qual o aluno que<br />
apren<strong>de</strong> a escrever passa. Nossa hipótese é <strong>de</strong> que há um forte<br />
movimento <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lização, além <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> normalização da<br />
escrita, atingindo formas <strong>de</strong> pensar e <strong>de</strong> ser sujeito. Segundo Certeau, a<br />
escritura fabrica o mundo, a verda<strong>de</strong> e a realida<strong>de</strong>, pois na<br />
contemporaneida<strong>de</strong>, ela atua sobre a exteriorida<strong>de</strong> do texto e possui<br />
uma eficácia social, incidindo diretamente sobre o ser/estar dos<br />
sujeitos. Deve-se consi<strong>de</strong>rar a força dos discursos para enten<strong>de</strong>r como<br />
os sujeitos são constituídos, no entanto a questão que fica é: para quem<br />
a Proposta Curricular foi feita: para um ser-Surdo que viverá uma<br />
escrita ouvinte ou para um ser-Surdo que constituirá sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> a<br />
partir da escrita-Surda?"<br />
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRESTÍGIO E O DESPRESTÍGIO<br />
EM CONTATO NO CONTEXTO ESCOLAR<br />
Débora Rodrigues Saraiva<br />
Palavras-chave: variantes intralinguísticas em contato, prestígio e<br />
<strong>de</strong>sprestígio em contato, ensino <strong>de</strong> língua materna.<br />
Esta apresentação se <strong>de</strong>stina a mostrar os resultados do trabalho <strong>de</strong><br />
pesquisa realizados durante o curso <strong>de</strong> Pós-graduação em Letras –<br />
489
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Especialização da <strong>UFPel</strong>. Durante o curso, professores e alunos das<br />
re<strong>de</strong>s pública e privada <strong>de</strong> ensino foram entrevistados e <strong>de</strong>ram a sua<br />
opinião a respeito do ensino <strong>de</strong> língua materna nas escolas. Este<br />
trabalho foi i<strong>de</strong>alizado na tentativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>scobrir as razões pelas quais o<br />
ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa assusta tanto alunos, como professores.<br />
De acordo com Magda Soares (1986, p.5-6), a escola tem-se mostrado<br />
incompetente para a educação das camadas populares e isso, segundo<br />
ela, gera o fracasso escolar. A esse fracasso são atribuídos problemas<br />
com a linguagem, segundo a autora. Essas acepções foram levadas em<br />
conta na hora <strong>de</strong> redigir os questionários que compõem a pesquisa. Aos<br />
alunos foram feitas perguntas como “O que é falar bem o português?”<br />
com o intuito <strong>de</strong> saber o que pensam a respeito da língua que falam e<br />
por que dizem que o português é “difícil”, “complicado” e “com muitas<br />
regras difíceis” – conforme relato dos próprios alunos. Aos<br />
professores, perguntas como “Qual a importância <strong>de</strong> ensinar língua<br />
materna” serviram para averiguar o que pensam os professores <strong>de</strong><br />
língua portuguesa, já que têm a tarefa <strong>de</strong> fazer com que seus alunos<br />
sejam menos inseguros na hora <strong>de</strong> usar a língua da qual são nativos,<br />
mas também que sejam capazes <strong>de</strong> transitar entre as variantes <strong>de</strong><br />
menos prestígio e as <strong>de</strong> mais prestígio, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do contexto em que<br />
se encontram.<br />
MARCAS DISTINTIVAS E EXPLÍCITAS DE SUBJETIVIDADE<br />
NO APRENDIZADO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA<br />
ADICIONAL<br />
Edoardo Pletsch<br />
Palavras-chave: Ensino; Enunciação; Língua Portuguesa.<br />
No Brasil, o Ensino <strong>de</strong> Português como língua adicional está em franco<br />
crescimento, em razão do emergente espaço econômico e cultural em<br />
que o país se encontra. Esta pesquisa procura averiguar como o<br />
aprendiz <strong>de</strong> português língua estrangeira se marca em suas<br />
enunciações. Elegemos a Teoria da Enunciação <strong>de</strong> Benveniste,<br />
segundo a qual um locutor, ao apropriar-se da língua, <strong>de</strong>ixa marcas em<br />
sua manifestação e essas são referidas como marcas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>.<br />
Nosso recorte são as marcas enunciativas do aprendiz <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa, objetivando elucidar o processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição, nessa<br />
modalida<strong>de</strong>. O método qualitativo serviu para os propósitos <strong>aqui</strong><br />
estabelecidos, uma vez que, na perspectiva a que nos agregamos, não<br />
há quantificações necessárias a serem feitas. O corpus foi constituído<br />
490
Resumo dos Trabalhos<br />
<strong>de</strong> três textos produzidos em aulas <strong>de</strong> português para estrangeiros em<br />
um projeto <strong>de</strong> extensão da UNIFRA. O resultado prepon<strong>de</strong>rante registra<br />
que, o locutor estrangeiro munido <strong>de</strong> língua, por um ato individual <strong>de</strong><br />
utilização, manifesta-se tanto nas marcas enunciativas benvenistianas,<br />
e nas rasuras e substituições postuladas por Endruweit (2006), como<br />
pelas marcas típicas do aprendiz – características da cena enunciativa.<br />
A revelação da negociação do aprendiz com a língua no processo <strong>de</strong><br />
<strong>aqui</strong>sição da língua estrangeira, enunciativamente, manifesta-se nos<br />
exemplos analisados, tais como, “furon” em: “as minhas férias furon”<br />
e, “pido” em: “só lhe pido uma coisa”.<br />
A LINGUAGEM “INSINUA” AS INCOMPLETUDES<br />
PROFISSIONAIS DE SER ALUNO E FORMAR-SE<br />
PROFESSOR<br />
Elaine Nogueira Da Silva<br />
A linguagem “insinua” as incompletu<strong>de</strong>s profissionais <strong>de</strong> ser aluno e<br />
formar-se professor A discussão da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> docente ou, mais<br />
especificamente, sobre o que é ser professor <strong>de</strong> língua portuguesa passa<br />
por tensões entre simbolos e representações cristalizadas na memória –<br />
que muitas vezes não servem mais –, e um espaço ainda a ser<br />
preenchido d<strong>aqui</strong>lo que <strong>de</strong>veria ser. Essas tensões estão mais<br />
intrinsecamente relacionadas ao fazer do professor, às suas ativida<strong>de</strong>s,<br />
ao que ensinar, e menos às condições <strong>de</strong> trabalho e sociais, embora<br />
estas também perspassem os discursos que são o objeto <strong>de</strong> análise <strong>de</strong>ste<br />
trabalho. Assim, o presente estudo, que é parte da minha investigação<br />
<strong>de</strong> Doutorado, tem como objetivo geral investigar que significados que<br />
foram construídos na experiência <strong>de</strong> sala <strong>de</strong> aula, constituindo-se em<br />
práticas discursivas reveladoras <strong>de</strong> como compreen<strong>de</strong>m e <strong>de</strong>codificam o<br />
contexto <strong>de</strong> sua escolarização no que se refere às aulas <strong>de</strong> português.<br />
Para dar conta <strong>de</strong> tal objetivo, o corpus <strong>de</strong>sta pesquisa constitui-se <strong>de</strong><br />
textos produzidos pelos estudantes <strong>de</strong> Letras a respeito das suas<br />
vivências nas aulas <strong>de</strong> língua portuguesa no período em que eram<br />
estudantes no Ensino Básico. Como embasamento teórico para as<br />
análises recorro aos estudos críticos, mais precisamente à Análise<br />
Crítica do Discurso <strong>de</strong> Fairclough (1989; 1992; 1997; 2001), bem<br />
como, aos estudos sobre i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, conforme Silva (2000), Hall<br />
(2006); e docência, conforme Arroyo (2011), Tardiff (2002), entre<br />
outros.<br />
491
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ANÁLISE SOBRE UMA POSSÍVEL INTEGRAÇÃO<br />
EDUCACIONAL FRONTEIRIÇA<br />
Elisangela Vasconcellos Gomes<br />
Palavras-chave: Fronteira, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, educação.<br />
Este trabalho procura analisar questões <strong>de</strong> diferenças e semelhanças<br />
existentes na formação histórica e educacional <strong>de</strong> seres que habitam o<br />
mesmo espaço territorial --€ “a fronteira uruguaio-brasileira” -- e as<br />
possíveis razões que os tornam, na atualida<strong>de</strong>, cidadãos distintos<br />
culturalmente. Busca-se verificar até que ponto a questão educacional<br />
influenciou nesse 'afastamento cultural' entre esses dois habitantes<br />
fronteiriços que, embora possuindo idiomas e nacionalida<strong>de</strong>s distintas,<br />
apresentavam uma cultura semelhante em suas origens. Segundo<br />
Padrós(1994): “Paradoxalmente, no momento em que há possibilida<strong>de</strong>s<br />
reais <strong>de</strong> integração supranacional entre os Estados da região, os<br />
interesses locais das áreas fronteiriças (...) correm o risco <strong>de</strong> não serem<br />
contemplados”€ . A questão que ora analisamos é a da integração<br />
cultural. A precarieda<strong>de</strong> ou inexistência <strong>de</strong>la, atualmente, é o que se<br />
traz à tona para se alcançar o objetivo <strong>de</strong> uma maior homogeneização<br />
educacional e cultural. Para tanto, enfoca-se a questão educacional dos<br />
dois países, centrando-se no ensino curricular e na sua relevà¢ncia na<br />
diferenciação cultural atual entre uruguaios e brasileiros, verificando-se,<br />
principalmente, a distinção dos temas abordados no aprendizado<br />
escolar; o que, em tese, levou seres <strong>de</strong> origens idênticas a se tornarem<br />
cidadãos culturalmente distintos, incapazes <strong>de</strong> verem o “outro”€<br />
como um igual.<br />
AS IDENTIDADES RESSIGNIFICADAS DE ALUNOS PROEJA<br />
Evanir Piccolo Carvalho<br />
Palavras-chave: PROEJA, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, ressignificação.<br />
O trabalho objetiva analisar as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s ressignificadas <strong>de</strong> alunos<br />
PROEJA <strong>de</strong> um Instituto Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul e discutir os<br />
conflitos no estabelecimento <strong>de</strong>ssas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, isto é, como os alunos<br />
se percebem no novo contexto do curso profissionalizante, após um<br />
período significativo <strong>de</strong> afastamento do meio escolar. A investigação<br />
pauta-se na linha <strong>de</strong> pesquisa qualitativa, com ênfase no formato <strong>de</strong><br />
investigação da história <strong>de</strong> vida, a partir <strong>de</strong> dados coletados em<br />
entrevistas narrativas e grupo focal com uma turma <strong>de</strong> PROEJA. O<br />
referencial teórico tem como bases os estudos culturais, as questões<br />
492
Resumo dos Trabalhos<br />
i<strong>de</strong>ntitárias e a perspectiva dialógica bakhtiniana. Os resultados<br />
preliminares apontam para i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>slocadas, em negociação entre<br />
o passado e o presente; alterando-se conforme os modos como os<br />
sujeitos agem socialmente, as posições assumidas e as <strong>de</strong>cisões<br />
tomadas nos novos contextos sociais. A interpretação dos dados<br />
permite trazer para o contexto educacional as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s que<br />
caracterizam um grupo significativo <strong>de</strong> estudantes do PROEJA a partir<br />
<strong>de</strong> seus discursos.<br />
A OCORRÊNCIA DE HAPLOLOGIA NA CIDADE DE BAGÉ<br />
Fabiana Urrutia Amaral<br />
A ocorrência <strong>de</strong> haplologia na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé Fabiana Urrutia Amaral<br />
(UNIPAMPA) Palavras-chave: Haplologia, Variação linguística,<br />
Língua Portuguesa Esta pesquisa teve como objetivo verificar a<br />
ocorrência <strong>de</strong> haplologia na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé/RS e também fazer uma<br />
comparação com um trabalho realizado por Battisti (2005) na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Porto Alegre a respeito <strong>de</strong>sse mesmo assunto. A haplologia é um tipo<br />
<strong>de</strong> fenômeno fonológico em que ocorre a queda total da primeira sílaba<br />
em uma sequência <strong>de</strong> duas sílabas semelhantes, como em<br />
vonta<strong>de</strong>conhecer ao invés <strong>de</strong> vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> conhecer. Para que fosse<br />
possível a execução <strong>de</strong>sse trabalho foram realizadas <strong>de</strong>z entrevistas<br />
com pessoas com nível superior <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong>, concluído ou em<br />
andamento, foi feita a transcrição <strong>de</strong> parte das entrevistas e os dados<br />
obtidos foram lançados no programa GOLDVARB 2001 para que<br />
pu<strong>de</strong>ssem ser analisadas a variável <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, no caso, a ocorrência<br />
<strong>de</strong> haplologia e as quatro variáveis in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes selecionadas para<br />
esse trabalho. Verificar a ocorrência <strong>de</strong> haplologia é <strong>de</strong> total<br />
importância para acabar com o preconceito linguístico presente nas<br />
escolas, pois a partir dos resultados obtidos é possível dar visibilida<strong>de</strong> a<br />
presença <strong>de</strong> variação linguística na fala dos alunos. A partir do que foi<br />
comprovado neste estudo po<strong>de</strong>mos afirmar que a haplologia ocorre<br />
com maior frequência <strong>de</strong>ntro da frase fonológica, com vogais idênticas<br />
e com consoantes <strong>de</strong> igual vozeamento. O que foi possível constatar é<br />
que a ocorrência <strong>de</strong> haplologia na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé foi <strong>de</strong> 40%, já no<br />
trabalho <strong>de</strong> Battisti (2005) a ocorrência foi <strong>de</strong> 21%, comprovando que<br />
em Bagé o fenômeno é realizado com maior frequência.<br />
493
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
ANÁLISE SINTÁTICA NO MANUAL DIDÁTICO E SUAS<br />
IMPLICAÇÕES<br />
Gisele Ro<strong>de</strong>gheiro De Moraes Anthonisen<br />
Bárbara Vargas Abott<br />
O ensino da língua portuguesa tem sido alvo <strong>de</strong> muitas críticas nessas<br />
últimas décadas. Como futuros docentes <strong>de</strong> língua portuguesa,<br />
preten<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>senvolver no presente artigo algumas consi<strong>de</strong>rações<br />
sobre os manuais didáticos e o ensino da língua nos diferentes níveis <strong>de</strong><br />
educação médio e fundamental. São vários os motivos que, muitas<br />
vezes, não contribuem para um bom ensino <strong>de</strong> língua portuguesa e um<br />
<strong>de</strong>sses é o próprio livro didático utilizado em sala <strong>de</strong> aula. Salzano<br />
(2004) enten<strong>de</strong> que professores, pais e alunos queixam-se <strong>de</strong>sse<br />
material, por se resumir a um livro composto <strong>de</strong> textos e exercícios,<br />
geralmente, pouco criativos. Dias (2010, p. 113-114), por sua vez,<br />
chama atenção para outros problemas, tais como, a falta <strong>de</strong> clareza<br />
sobre o papel do conhecimento gramatical no ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa e a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> interação dos estudos gramaticais com os<br />
estudos do texto e do discurso. Os manuais acabam representando<br />
essas contradições do campo disciplinar em que se situa o ensino <strong>de</strong><br />
língua. Dessa forma preten<strong>de</strong>mos observar o modo como a análise<br />
sintática é apresentada no livro <strong>de</strong> Português Projeto Araribá da 6ª série<br />
(5° ano) do ensino fundamental da Editora Mo<strong>de</strong>rna, o qual foi<br />
utilizado no ano letivo <strong>de</strong> 2009 a 2011 numa escola estadual <strong>de</strong> ensino<br />
fundamental do município <strong>de</strong> Candiota/RS. O livro <strong>de</strong>senvolve em<br />
cada unida<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leitura, <strong>de</strong> estudo do texto, <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
texto, estudo da língua, ortografia e projeto em equipe. A parte<br />
<strong>de</strong>stinada ao estudo <strong>de</strong> sintaxe situa-se no item estudo da língua. Na<br />
unida<strong>de</strong> analisada – Unida<strong>de</strong> 6 -, o estudo da língua é intitulado Da<br />
morfologia para a sintaxe. A partir das diferentes classes <strong>de</strong> palavras, o<br />
aluno é levado inicialmente a produzir frases; aparecem exercícios <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação, <strong>de</strong> classificação e são apresentadas distinções entre frase,<br />
oração e período, tendo por base conceitos que as caracterizam e<br />
exemplos <strong>de</strong>ssas estruturas. A análise aponta para a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
estabelecer relações entre os aspectos textuais e discursivos e os<br />
gramaticais; aponta também para a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> relacionar os estudos<br />
gramaticais com as situações <strong>de</strong> uso da língua, lacuna que a edição tenta<br />
preencher com o item intitulado A gramática em contexto, on<strong>de</strong> há um<br />
esforço em propor exercícios que observem os efeitos <strong>de</strong> sentido<br />
produzidos por uma <strong>de</strong>terminada estrutura, ou a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
apresentar i<strong>de</strong>ias semelhantes através <strong>de</strong> estruturas diferentes. O<br />
494
Resumo dos Trabalhos<br />
estudo dos manuais didáticos não só materializa contradições teóricas<br />
com repercussões no que se refere a sua aplicação nas práticas da sala<br />
<strong>de</strong> aula, mas também constitui-se em um exercício <strong>de</strong> valor para a<br />
nossa formação docente, proporcionando uma visão mais aguçada em<br />
relação à utilização <strong>de</strong> multimeios didáticos.<br />
ESCOLA: ESPAÇO PERMEADO DE VARIAÇÃO<br />
LINGUÍSTICA<br />
Glece Valério Kerchiner<br />
Rosemeri Vasconcellos Soares<br />
Palavras- chave: Variação línguística – ensino/aprendizagem – norma<br />
padrão.<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID) na<br />
área <strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA).<br />
Trata-se <strong>de</strong> um projeto em que trabalhamos com a temática da<br />
sociolinguística em turmas <strong>de</strong> primeiro ano do ensino médio <strong>de</strong> uma<br />
escola estadual da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé/RS. Os alunos elaboraram e<br />
aplicaram uma entrevista com a comunida<strong>de</strong> escolar a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>scobrir<br />
como ocorre a ênclise, a próclise e a mesóclise na fala e na escrita<br />
<strong>de</strong>stes informantes. As respostas foram tabuladas e, com o auxílio dos<br />
professores <strong>de</strong> matemática, houve a criação <strong>de</strong> gráficos com os<br />
resultados obtidos. Cabe ressaltar a constatação dos alunos <strong>de</strong> que,<br />
quanto à fala, houve a predominância do uso da próclise e que a<br />
ênclise aparece esporadicamente enquanto a uso da mesóclise é<br />
praticamente nulo. Também concluíram que na escrita há a<br />
predominância do uso da ênclise. Os pilares que subsidiaram esta<br />
prática foram Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2007). Segundo os<br />
autores, a língua e socieda<strong>de</strong> estão indissoluvelmente entrelaçadas,<br />
uma influenciando a outra, uma constituindo a outra. Deste modo é<br />
importante que os alunos tenham acesso à norma padrão da língua sem,<br />
no entanto, <strong>de</strong>sprestigiar a sua própria varieda<strong>de</strong> linguística. O trabalho<br />
realizado além <strong>de</strong> valorizar a varieda<strong>de</strong> linguística da comunida<strong>de</strong>,<br />
buscou levar os alunos a se apropriarem também das regras<br />
linguísticas que gozam <strong>de</strong> prestigio e enriquecer o seu repertório.<br />
495
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
PROJETO FRONTEIRAS INTEGRADAS: ESPAÇOS<br />
EDUCATIVOS, PRÁTICAS SOCIAIS E CULTURAIS<br />
Grazielle Da Silva Dos Santos<br />
Nédilã Espindola Chagas<br />
O projeto “Fronteiras integradas: espaços educativos, práticas sociais e<br />
culturais”, integrado ao Programa das Licenciaturas – PROLICEN –<br />
pela Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Maria (UFSM), tem por objetivo<br />
<strong>de</strong>senvolver ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> línguas e interculturalida<strong>de</strong> por<br />
meio do intercâmbio, sendo ele em suporte virtual com vistas também<br />
a promovê-lo em vivências presencias entre os grupos envolvidos. Para<br />
<strong>de</strong>senvolvê-lo, participam do projeto uma escola pública do entorno da<br />
UFSM e uma escola da comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cerro Pelado, localizada no<br />
interior <strong>de</strong> Rivera, Uruguai. Todas as ações <strong>de</strong>senvolvidas fazem parte<br />
também do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> troca <strong>de</strong> experiências<br />
previstas no projeto Fronteiras, sob a coor<strong>de</strong>nação das pró-reitorias <strong>de</strong><br />
Extensão das universida<strong>de</strong>s envolvidas (UNIPAMPA – UFSM –<br />
UDELAR). Espera-se que a realização <strong>de</strong>ste projeto contribua para<br />
qualificar a formação inicial dos estudantes <strong>de</strong> Letras - Espanhol e<br />
Português, em especial, ao promover uma prática docente que<br />
consi<strong>de</strong>ra uma abordagem para o ensino <strong>de</strong> línguas permeado pelo<br />
reconhecimento e promoção da interculturalida<strong>de</strong> das comunida<strong>de</strong>s nas<br />
quais as escolas envolvidas se encontram.<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA ESCOLA: ANÁLISE DE UMA<br />
EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO<br />
Greice Kelly Oliveira Jorge<br />
Clara Dornelles<br />
Palavras-Chaves: Língua Portuguesa, Variação Linguística e Estágio<br />
Supervisionado<br />
As inovações sugeridas pelas diretrizes oficiais <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa não ocorrem, na escola, com a mesma rapi<strong>de</strong>z em que são<br />
produzidas nos documentos. Além disso, há, em geral, uma <strong>de</strong>scrença<br />
do professor em relação aos benefícios que as mudanças nas políticas<br />
<strong>de</strong> ensino po<strong>de</strong>m trazer para a sua prática pedagógica (PEDRA, 2011),<br />
e, quando há tentativa <strong>de</strong> inovação, nem sempre ela tem sucesso. Por<br />
enten<strong>de</strong>rmos que é relevante investigarmos essas tentativas, analisamos<br />
(i) o modo como uma estagiária da licenciatura em Letras da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA) didatiza<br />
496
Resumo dos Trabalhos<br />
(CHEVALLARD, 1985) variação linguística na escola e (ii) os<br />
<strong>de</strong>safios <strong>de</strong>sse processo. Os dados analisados são os textos escritos pela<br />
professora em formação durante o estágio supervisionado em língua<br />
portuguesa e literatura. Assumimos, para a análise e discussão, uma<br />
abordagem transdisciplinar (SIGNORINI, 1998) e dialógica<br />
(BAKHTIN, 2002). Os resultados evi<strong>de</strong>nciaram que o trabalho<br />
realizado mobilizou as atitu<strong>de</strong>s linguísticas dos estudantes em relação<br />
às varieda<strong>de</strong>s da língua portuguesa, bem como sua reflexão linguística<br />
a respeito dos usos da língua. O maior <strong>de</strong>safio da professora em<br />
formação foi construir, nesse processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem, um<br />
espaço que não fosse, apenas, <strong>de</strong> militância, mas <strong>de</strong> compreensão dos<br />
fenômenos linguísticos.<br />
AS IDENTIDADES DE PROFESSOR “DISCURSADAS” PELA<br />
IMPRENSA BRASILEIRA<br />
Hilário I. Bohn<br />
Palavras-chave: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s), professor, mídia nacional.<br />
A educação tem sido uma das principais preocupações da socieda<strong>de</strong> ao<br />
longo da história. Mesmo na antiguida<strong>de</strong>, nas culturas greco-romanas, a<br />
formação da juventu<strong>de</strong> era uma das principais responsabilida<strong>de</strong>s do<br />
Estado. Isto torna-se mais claro na Ida<strong>de</strong> Média e com o movimento<br />
racionalista-iluminista do renascimento. O século XX caracteriza-se<br />
pela universalização da educação, ainda que às vezes se resuma às<br />
habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ler e escrever, o valor simbólico <strong>de</strong> uma boa educação<br />
torna-se um dos bens mais cobiçados. Assim, os professores e a escola<br />
começam a ocupar um espaço privilegiado na organização e construção<br />
da socieda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna. Perante esta realida<strong>de</strong>, a mídia nacional procura<br />
<strong>de</strong>screver, e, muitas vezes, i<strong>de</strong>alizar e <strong>de</strong>signar i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s para os<br />
professores, atores principais do processo educativo. No <strong>de</strong>bate surge<br />
um “campo <strong>de</strong> significados” (significados construídos, THOMPSON,<br />
2000) produzidos e recebidos pelos indivíduos num <strong>de</strong>terminado<br />
contexto sócio- histórico. Neste estudo procura-se averiguar como a<br />
mídia escrita brasileira, um lugar <strong>de</strong> exercício <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, apresenta a<br />
“figura” (ou o ‘quadro’, segundo Arroyo) do professor no dia a ele<br />
<strong>de</strong>dicado, 15-10-2011. A esta figura <strong>de</strong>senhada (discursada) pela mídia<br />
escrita procura-se contrapor “uma matriz <strong>de</strong> conexões e <strong>de</strong>sconexões”,<br />
quase sempre aleatórias, próprias da pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>, com “um<br />
volume infinito <strong>de</strong> permutações” (BAUMAN, 2007) que vêm hoje<br />
acrescidas pelos variados contextos em que se realizam as experiências<br />
humanas, levadas a uma potência também infinitamente variada com a<br />
497
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
disponibilida<strong>de</strong> do “mundo” da web. É <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>sta complexida<strong>de</strong> que<br />
se procura discutir a(s) i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>(s) <strong>de</strong> professor.<br />
EM BUSCA DE SUBSÍDIOS PARA UMA PEDAGOGIA DA<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS DOCUMENTOS<br />
CURRICULARES NACIONAIS<br />
Jorama De Quadros Stein<br />
Gisele Benck De Moraes<br />
Palavras-chave: norma culta, norma-padrão, pedagogia da variação<br />
linguística<br />
Este texto tem por objetivo buscar nos Parâmetros Curriculares<br />
Nacionais (PCN) <strong>de</strong> ensino fundamental (BRASIL, 1998) e médio<br />
(BRASIL, 2000) subsídios para uma pedagogia da variação linguística.<br />
Especificamente, investigamos se e como esses documentos abordam a<br />
questão da variação. Nossa investigação parte das propostas <strong>de</strong> Faraco<br />
(2008) e Zilles (2008), ambos autores que contribuem<br />
significativamente para a construção <strong>de</strong> uma pedagogia da variação.<br />
Vale dizer que consi<strong>de</strong>ramos necessária uma prática educativa atenta<br />
aos fenômenos <strong>de</strong> variação, <strong>de</strong> forma a oferecer ao aluno meios para<br />
que ele seja capaz <strong>de</strong> avaliar a a<strong>de</strong>quação das formas linguísticas a sua<br />
disposição a cada nova situação interlocutiva. Acreditamos que, por<br />
meio <strong>de</strong> um ensino que privilegie a norma culta em <strong>de</strong>trimento da<br />
norma-padrão e leve em conta as varieda<strong>de</strong>s linguísticas conhecidas<br />
pelos alunos, é possível promover uma educação linguística em que se<br />
combata o preconceito linguístico e se possibilite aos educandos o<br />
aprimoramento <strong>de</strong> sua competência linguístico-discursiva. Nossa leitura<br />
dos PCN permitiu-nos observar que, apesar <strong>de</strong> preocupados com a<br />
questão da variação linguística, os documentos não diferenciam<br />
claramente entre as noções <strong>de</strong> norma-padrão e norma culta. Há,<br />
também, uma certa inconsistência no que diz respeito aos usos dos<br />
termos sociolinguísticos e uma enorme quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conceitos<br />
advindos <strong>de</strong> variadas áreas da linguística, o que torna a leitura dos<br />
documentos altamente complexa.<br />
498
Resumo dos Trabalhos<br />
EM BUSCA DE SUBSÍDIOS PARA UMA PEDAGOGIA DA<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS DOCUMENTOS<br />
CURRICULARES NACIONAIS<br />
Jorama De Quadros Stein<br />
César Augusto González<br />
Palavras-chave: norma culta, norma-padrão, pedagogia da variação<br />
linguística<br />
Este texto tem por objetivo buscar nos Parâmetros Curriculares<br />
Nacionais (PCN) <strong>de</strong> ensino fundamental (BRASIL, 1998) e médio<br />
(BRASIL, 2000) subsídios para uma pedagogia da variação linguística.<br />
Especificamente, investigamos se e como esses documentos abordam a<br />
questão da variação. Nossa investigação parte das propostas <strong>de</strong> Faraco<br />
(2008) e Zilles (2008), ambos autores que contribuem<br />
significativamente para a construção <strong>de</strong> uma pedagogia da variação.<br />
Vale dizer que consi<strong>de</strong>ramos necessária uma prática educativa atenta<br />
aos fenômenos <strong>de</strong> variação, <strong>de</strong> forma a oferecer aos alunos meios para<br />
que eles sejam capazes <strong>de</strong> avaliar a a<strong>de</strong>quação das formas linguísticas a<br />
sua disposição a cada nova situação interlocutiva. Acreditamos que, por<br />
meio <strong>de</strong> um ensino que privilegie a norma culta em <strong>de</strong>trimento da<br />
norma-padrão e leve em conta as varieda<strong>de</strong>s linguísticas conhecidas<br />
pelos alunos, é possível promover uma educação linguística em que se<br />
combata o preconceito linguístico e se possibilite aos educandos o<br />
aprimoramento <strong>de</strong> sua competência linguístico-discursiva. Nossa leitura<br />
dos PCN permitiu-nos observar que, apesar <strong>de</strong> preocupados com a<br />
questão da variação linguística, os documentos não diferenciam<br />
claramente as noções <strong>de</strong> norma-padrão e norma culta. Há, também, uma<br />
certa inconsistência no que diz respeito aos usos dos termos<br />
sociolinguísticos e uma enorme quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conceitos advindos <strong>de</strong><br />
variadas áreas da linguística, o que torna a leitura dos documentos<br />
altamente complexa.<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE<br />
SINAIS-LIBRAS EM ESCOLAS DE SURDOS<br />
Karina Ávila Pereira<br />
Palavras-chave: Variação linguística, Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais,<br />
Cultura Surda<br />
O presente artigo <strong>de</strong>stina-se a divulgar uma pesquisa <strong>de</strong> mestrado em<br />
<strong>Educação</strong> que objetivou analisar se alunos do ensino fundamental<br />
499
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
apresentavam variações linguísticas em seus discursos.<br />
Metodologicamente a pesquisa se inscreveu em uma abordagem<br />
qualitativa em que alunos surdos <strong>de</strong> uma escola <strong>de</strong> surdos e <strong>de</strong> uma<br />
escola com classes específicas foram entrevistados. Os dados coletados<br />
foram analisados por tradutoras da Libras com a intenção <strong>de</strong> encontrar<br />
variações linguísticas. Nos dados, foi perceptível constatar que os<br />
alunos apresentavam variações linguísticas e que a escolha <strong>de</strong> uma<br />
<strong>de</strong>terminada variante não acarretava confusão para os alunos surdos, e<br />
que a criação <strong>de</strong> novas variantes, se bem aceita pelo grupo, constitui-se<br />
como processo natural, se <strong>de</strong>ntro dos padrões aceitáveis por esse grupo.<br />
Há, porém, uma resistência por parte dos professores em apren<strong>de</strong>r<br />
tantos sinais novos, <strong>de</strong>monstrando uma fragilida<strong>de</strong> linguística e<br />
cultural no ambiente escolar, <strong>de</strong>vido às relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r na escolha <strong>de</strong><br />
qual língua utilizar ainda se remetem ao português.<br />
VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO COMO TENTATIVA DE<br />
DEMONIZAR IDENTIDADES EM UM SITE REDE SOCIAL<br />
Letícia Schinestsck<br />
Palavras-chave: violência em re<strong>de</strong>; discriminação; Orkut; favela;<br />
comunicação mediada pelo computador<br />
Este trabalho investiga <strong>de</strong> que maneiras membros <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s da<br />
internet disseminam diferentes tipos <strong>de</strong> violência e discriminação contra<br />
moradores <strong>de</strong> favelas, tentando <strong>de</strong>monizar sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e, no<br />
processo, mostrar-se superiores. Com esse fim, selecionamos o site <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong> social Orkut e escolhemos três comunida<strong>de</strong>s específicas para<br />
análise, cada uma <strong>de</strong>las com uma atitu<strong>de</strong>. Com base nos elementos<br />
i<strong>de</strong>ntificados, é possível observar como a Web influencia essas<br />
relações, os valores construídos e a potencialização das atitu<strong>de</strong>s que,<br />
com a abrangência da ferramenta, são capazes <strong>de</strong> atingir um conjunto<br />
muito maior <strong>de</strong> usuários e consolidar – ou pelo menos encontrar apoio –<br />
enunciados preconceituosos <strong>de</strong> caráter permanentes, passíveis <strong>de</strong> busca<br />
e que geram efeitos em seus receptores, seja o <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação com os<br />
<strong>de</strong>tratores ou <strong>de</strong> rejeição da imagem criada dos moradores <strong>de</strong> favela.<br />
500
Resumo dos Trabalhos<br />
RE-PENSANDO O PENSAMENTO IDENTITÁRIO NA PÓS-<br />
MODERNIDADE<br />
Lucia Grigoletti<br />
O presente trabalho visa refletir sobre o lugar da I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> na Pós-<br />
mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>, época <strong>de</strong> intensas e constantes transformações e, sua<br />
relação com o pensamento do sujeito contemporâneo. Se por um lado<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> fala <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>, cada sujeito tem a sua, por outro fala<br />
<strong>de</strong> pertencimento. A i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> se constrói no pertencimento, na<br />
ambivalência <strong>de</strong> sentimentos e na complexida<strong>de</strong> do processo<br />
interrelacional e <strong>de</strong> interinfluências entre a subjetivida<strong>de</strong> e a<br />
coletivida<strong>de</strong>. Essa i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> metamorfoseada contém no hífen da Pósmo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong><br />
o caos do pensamento vivido na differancé: da or<strong>de</strong>m do<br />
não pensar – sensação <strong>de</strong> o sujeito estar vivo é o transitar constante –<br />
passa para a consciência da frustração frente a utopia da Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>,<br />
re-pensando o sentido <strong>de</strong> sua vida. Pensar é diferente <strong>de</strong> pensar sobre o<br />
que se pensa. E, é na re-flexão, numa atitu<strong>de</strong> mais consciente e ética<br />
que encontra novas estratégias para viver na contemporaneida<strong>de</strong>.<br />
Portanto, ao voltar-se sobre si mesmo o sujeito conecta-se, novamente,<br />
com seus sentidos (havia distanciado-se direcionando-se para a<br />
tecnologia, a produção, o racional). Hoje consciente da interinfluência<br />
e da interelacão com o Outro e seu habitat, re(i)nova seus paradigmas.<br />
A sensibilida<strong>de</strong> atual é <strong>de</strong>finitivamente outra, <strong>de</strong> outras épocas/espaços.<br />
Assim, é a sensibilida<strong>de</strong> Pós-mo<strong>de</strong>rna que, ao transitar pelos sentidos<br />
pensados/mentalizados, resgata <strong>aqui</strong>lo que ao longo dos milênios<br />
garantiu a configuração do humano: o sentimento <strong>de</strong> si mesmo, sua<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> re-criada no microkairos da vida.<br />
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA EM LIVROS DIDÁTICOS<br />
DE ENSINO MÉDIO<br />
Márcia Froehlich<br />
Este trabalho expõe os resultados <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> pesquisa cujo<br />
objetivo foi verificar e analisar a presença da literatura afro-brasileira<br />
em livros didáticos <strong>de</strong> Língua Portuguesa e Literatura Brasileira<br />
<strong>de</strong>stinados ao Ensino Médio. O corpus da pesquisa foi composto pelas<br />
obras participantes do PNLD 2012 (Programa Nacional do Livro<br />
Didático), as quais, portanto, receberam avaliação positiva do MEC. A<br />
Lei 10.639/2003 alterou a Lei <strong>de</strong> Diretrizes e Bases da <strong>Educação</strong><br />
Nacional incluindo a obrigatorieda<strong>de</strong> do ensino <strong>de</strong> História e Cultura<br />
501
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
Afro-brasileira nos currículos da educação básica. Sendo a língua e a<br />
literatura elementos constituintes e constituídos pela cultura, tal<br />
<strong>de</strong>terminação legal exige modificações no currículo das disciplinas <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Assim, o projeto surgiu da<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se examinar os manuais didáticos voltados para o<br />
Ensino Médio a fim <strong>de</strong> avaliar sua a<strong>de</strong>quação e profundida<strong>de</strong> no<br />
tratamento da produção literária afro-brasileira, a partir <strong>de</strong> subsídios<br />
teóricos <strong>de</strong> estudos sobre cultura, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e literatura afro-brasileira.<br />
Os resultados mostram que a presença <strong>de</strong>ssa produção literária ainda é<br />
bastante tímida. Em contrapartida, percebe-se um aumento no espaço<br />
<strong>de</strong>stinado às literaturas africanas <strong>de</strong> expressão portuguesa.<br />
A LATERAL PÓS-VOCÁLICA /L/ : UMA ABORDAGEM COM<br />
BASE NO PORTUGUÊS FALADO NA CIDADE DE PELOTAS<br />
Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas<br />
Este estudo tem por objetivo analisar, a partir da perspectiva<br />
fonológica, a realização variável da lateral pós-vocálica /l/ no<br />
português brasileiro falado na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul.<br />
A cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pelotas encontra-se situada na região sul do estado do Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul. Foi colonizada por portugueses, africanos, italianos,<br />
alemães. Por sua localização, recebe inúmeras influências, inclusive do<br />
país vizinho, Uruguai. A fala dos nativos possui características bem<br />
distintas das <strong>de</strong>mais regiões do país e <strong>de</strong> outras regiões do estado<br />
também. No português brasileiro, a lateral em posição <strong>de</strong> final <strong>de</strong><br />
sílaba é realizada <strong>de</strong> forma variável como /l/ alveolar, /l/ velar ou [w]<br />
variante vocalizada (semivogal) (cf. SILVA, 2011, p. 140-141). Além<br />
disso, a literatura tem nos mostrado que essa variação ocorre em função<br />
<strong>de</strong> condicionantes que po<strong>de</strong>m ser tanto sociais quanto linguísticas. Para<br />
Labov (2008[1972], p.19), “a explicação da mudança linguística parece<br />
envolver três problemas distintos: a origem das variações linguísticas;<br />
a difusão e propagação das mudanças linguísticas; e a regularida<strong>de</strong> da<br />
mudança linguística.” Este norte <strong>de</strong> investigação apontado pelo autor<br />
constitui um dos eixos <strong>de</strong> nossa pesquisa no que tange a variação.<br />
Dessa forma, neste estudo <strong>de</strong>stacamos, principalmente, três<br />
motivadores linguísticos para a análise: i) a posição do acento – se a<br />
sílaba porta o acento e se este influencia ou não na variação do /l/<br />
(monossílabo, sílaba tônica, pretônica e pós-tônica; ii) a posição da<br />
lateral (final <strong>de</strong> sílaba e concomitantemente em final <strong>de</strong> palavra, i.e.,<br />
502
Resumo dos Trabalhos<br />
diante <strong>de</strong> pausa ou não) ; iii) a qualida<strong>de</strong> vocálica anterior e/ou<br />
posterior (alta, média-alta, média-baixa, baixa) que o prece<strong>de</strong>.<br />
A IMPORTÂNCIA DO PODER DE ENCANTAMENTO E DAS<br />
RELAÇÕES VINCULARES NA CONSTRUÇÃO DAS<br />
IDENTIDADES APRENDENTES ENTRE PROFESSORES-<br />
ALUNO<br />
Maria da Graça Gonçalves Cunha Neves<br />
Palavras-chave: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, relações vinculares, encantamento,<br />
apren<strong>de</strong>nte, ensinante.<br />
O trabalho busca refletir sobre a importância do po<strong>de</strong>r do encantamento<br />
e das relações vinculares na construção das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s apren<strong>de</strong>ntes<br />
entre professores-alunos, colocando como <strong>de</strong>safio essencial do<br />
professor na atualida<strong>de</strong>, o "encantar-se" pelo que faz (distinguindo<br />
trabalho <strong>de</strong> emprego) e o "encantar" o aluno a tal ponto em que ele<br />
queira estar, envolver-se com a aprendizagem e permanecer na escola.<br />
FRONTEIRA JAGUARÃO- RIO BRANCO: ESPANHOL<br />
FALADO E IDENTIDADES “CONSTRUÍDAS”<br />
Maria Do Socorro De Almeida Farias-Marques<br />
Adail Sobral<br />
Palavras-chave: fronteira, espanhol falado, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
A fronteira Brasil-Uruguai é alvo <strong>de</strong> muitas iniciativas e projetos<br />
políticos, sociais, institucionais e <strong>de</strong> pesquisa. Percebemos contudo que<br />
gran<strong>de</strong> parte <strong>de</strong>ssas investigações que evi<strong>de</strong>nciam a fronteira<br />
concentram-se na zona fronteiriça Rivera-Santana do Livramento,<br />
<strong>de</strong>ixando um tanto ofuscada a fronteira Rio Branco-Jaguarão, apesar <strong>de</strong><br />
alguns relevantes trabalhos já realizados na região. Des<strong>de</strong> 2011, a<br />
UNIPAMPA- Jaguarão <strong>de</strong>senvolve um projeto institucional na<br />
fronteira em questão: seleção <strong>de</strong> ingresso aos cursos <strong>de</strong> graduação para<br />
fronteiriços uruguaios que resi<strong>de</strong>m em Rio Branco. As vagas ofertadas<br />
nesta modalida<strong>de</strong> aten<strong>de</strong>m ao Decreto 5.105/2004, em que consta a<br />
permissão <strong>de</strong> residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços<br />
brasileiros e uruguaios. O ingresso <strong>de</strong>sses fronteiriços na Instituição<br />
nos instigou a <strong>de</strong>senvolver um estudo que contemple as relações entre<br />
a condição <strong>de</strong> fronteira dos sujeitos e a(s) varieda<strong>de</strong>(s) do espanhol<br />
falado, características <strong>de</strong>sse espaço. Assim, este trabalho se justifica<br />
503
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conhecer e reconhecer o espanhol falado dos<br />
fronteiriços e objetiva i<strong>de</strong>ntificar no discurso <strong>de</strong> sujeitos fronteiriços,<br />
alunos da UNIPAMPA Jaguarão, marcas linguísticas que caracteriza<br />
a(s) varieda<strong>de</strong>(s) coloquial(ais)/faladas na fronteira Jaguarão- Rio<br />
Branco consi<strong>de</strong>rando seu valor sócioi<strong>de</strong>ntitário e verificar <strong>de</strong> que<br />
maneira esses sujeitos <strong>de</strong> veem a si mesmos como falantes <strong>de</strong> uma<br />
varieda<strong>de</strong> não-padrão e <strong>de</strong> que maneira julgam serem vistos no<br />
ambiente universitário.<br />
O COMPORTAMENTO DA VOGAL /E/ EM CLÍTICOS<br />
PRONOMINAIS E NÃO PRONOMINAIS<br />
Maria José Blaskovski Vieira<br />
Palavras-chave: clíticos, vogal média, neutralização vocálica<br />
O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir das<br />
perspectivas variacionista e fonológica, a forma <strong>de</strong> realização da vogal<br />
/e/ nos clíticos “me”, “te”, “se”, “lhe” e “<strong>de</strong>”, buscando i<strong>de</strong>ntificar<br />
fatores lingüísticos e sociais que possam condicionar a preservação ou<br />
a elevação <strong>de</strong>ssa vogal. Para tanto, estão sendo analisadas, do Banco <strong>de</strong><br />
Dados VARSUL, 12 entrevistas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Curitiba, selecionadas<br />
com base nos fatores ida<strong>de</strong> e escolarida<strong>de</strong>. Optou-se por investigar o<br />
comportamento dos clíticos nessa cida<strong>de</strong>, em função dos altos níveis <strong>de</strong><br />
preservação da vogal /e/ átona final. Os fatores lingüísticos<br />
consi<strong>de</strong>rados são: tipo <strong>de</strong> clítico, tipo <strong>de</strong> onset da sílaba seguinte,<br />
natureza da vogal da sílaba seguinte, distância do clítico em relação à<br />
sílaba tônica e tipo <strong>de</strong> juntura. A partir dos resultados encontrados,<br />
torna-se possível verificar se a sequência clítico-hospe<strong>de</strong>iro é domínio<br />
<strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong> regras fonológicas lexicais ou pós-lexicais, o que em<br />
parte permitiria a <strong>de</strong>finição da natureza prosódica <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong><br />
vocábulo. Os dados coletados até o momento foram codificados <strong>de</strong><br />
acordo com as variáveis e submetidos a tratamento estatístico com os<br />
programas do pacote VARBRUL, versão Goldvarb 2003 para ambiente<br />
Windows. O programa selecionou as variáveis tipo <strong>de</strong> juntura,<br />
qualida<strong>de</strong> da vogal da sílaba seguinte, consoante da sílaba seguinte e<br />
tipo <strong>de</strong> clítico como fatores que influenciam o tipo <strong>de</strong> vogal – alta ou<br />
média – que irá se manifestar.<br />
504
Resumo dos Trabalhos<br />
A PROPOSTA DAS ESCOLAS INTERCULTURAIS BILÍNGUES<br />
DE FRONTEIRA NO CHUÍ-CHUY<br />
María Josefina Israel Semino<br />
Palavras-chave: fronteira linguística; Chuí-Chuy; escolas interculturais<br />
bilíngues.<br />
Este trabalho tem por objetivos apresentar, em primeiro lugar um<br />
brevíssimo panorama da situação <strong>de</strong> bilinguismo no Chuí-Chuy; em<br />
segundo lugar <strong>de</strong>screver o perfil do programa <strong>de</strong>senhado pela<br />
Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública (ANEP) do Uruguai<br />
para as escolas bilíngues na fronteira com o Brasil; em terceiro lugar<br />
lembrar a experiência brasileira para as escolas interculturais bilíngues<br />
<strong>de</strong> fronteira e apresentar a nossa proposta para esse tipo <strong>de</strong> escolas<br />
existentes no Chuí-Chuy; por último faremos um primeiro balanço das<br />
ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssa proposta que já foram <strong>de</strong>senvolvidas. Nossa<br />
metodologia combina o estudo bibliográfico com a pesquisa<br />
participante. As nossas principais fontes bibliográficas são Espiga<br />
(2001), Amaral (2009) e Semino (2007 e 2011).<br />
DA CARTA DE CAMINHA ÀS MENSAGENS DE TEXTO:<br />
FORMAS ABREVIADAS E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO<br />
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA<br />
Maria Luci De Mesquita Prestes<br />
Palavras-chave: Variação linguística. Formas abreviadas. Ensino <strong>de</strong><br />
língua portuguesa.<br />
Com o advento e a ampla circulação <strong>de</strong> meios eletrônicos, há muitos<br />
professores que se queixam <strong>de</strong> que as formas utilizadas para<br />
mensagens <strong>de</strong> texto, seja em celulares, seja em outros suportes,<br />
prejudicam a escrita dos alunos, os quais transferem literalmente o tipo<br />
<strong>de</strong> escrita próprio <strong>de</strong>sses gêneros para outros, cujo grau <strong>de</strong> formalida<strong>de</strong><br />
não o permitiria. Há até quem diga que essa linguagem ameaça a<br />
integrida<strong>de</strong> da língua portuguesa. Afora os que preconizam inclusive a<br />
morte do idioma. Nesta comunicação, tratando especificamente <strong>de</strong><br />
formas abreviadas, preten<strong>de</strong>mos cotejar trechos da Carta <strong>de</strong> Caminha<br />
com trechos <strong>de</strong> mensagens que circulam hoje nos meios eletrônicos,<br />
procurando mostrar que essas formas, em épocas diferentes, têm seus<br />
propósitos <strong>de</strong> uso e que não se trata <strong>de</strong> uma ameaça à língua<br />
portuguesa. Quanto à atualida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>mos que não é o caso <strong>de</strong><br />
tentar banir da escola essas e outras formas próprias <strong>de</strong> gêneros que<br />
505
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
circulam nos meios eletrônicos, mas trabalhar, em sala <strong>de</strong> aula, no<br />
sentido <strong>de</strong> abordar diferentes gêneros <strong>de</strong> textos com os usos <strong>de</strong><br />
linguagem que lhe são próprios. Postulamos que é preciso consi<strong>de</strong>rar,<br />
conforme Bakhtin (1997, p. 280, grifo do autor), que cada enunciado é<br />
reflexo das condições específicas e das finalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada uma das<br />
esferas da ativida<strong>de</strong> humana, “não só por seu conteúdo (temático) e por<br />
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua<br />
— recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e<br />
sobretudo, por sua construção composicional”, sendo que “cada esfera<br />
<strong>de</strong> utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis <strong>de</strong><br />
enunciados, [...] que <strong>de</strong>nominamos gêneros do discurso.”<br />
“SER” E “ESTAR” PROFESSOR DE INGLÊS NA PÓS-<br />
MODERNIDADE: DICOTOMIA OU DIVERSIDADE?<br />
Maria Waleska Siga Peil<br />
Palavras-chave: Professor <strong>de</strong> inglês; i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s; estudos culturais.<br />
Este trabalho tem por objetivo investigar as diferentes i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s do<br />
professor <strong>de</strong> inglês na pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>, tomando-se como referência<br />
os principais pressupostos dos estudos culturais e <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Qual é<br />
o perfil <strong>de</strong> sujeitos que atuam como professor <strong>de</strong> língua inglesa sem<br />
possuir formação acadêmica específica? O que os leva a atuar na área<br />
<strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> idiomas ao lado <strong>de</strong> profissionais graduados? É a partir <strong>de</strong><br />
tais questionamentos com respeito à atuação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> inglês<br />
com diferentes formações que se faz possível investigar o possível<br />
caráter transitório e contraditório da profissão nos dias atuais. O<br />
trabalho aborda a atuação <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> inglês graduados e o modo<br />
como se i<strong>de</strong>ntificam e se relacionam com os profissionais que não<br />
possuem formação em Letras. O trabalho propõe, nesse sentido, uma<br />
reflexão sobre a diferença entre o “ser” e o “estar” professor <strong>de</strong> inglês,<br />
apontando, assim, para uma oscilação fronteiriça entre a estabilida<strong>de</strong> e<br />
a instabilida<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntitária que o mundo mo<strong>de</strong>rno apresenta.<br />
506
Resumo dos Trabalhos<br />
"ESSE SEU CURSINHO DE INGLÊS ONLINE!": ANÁLISE DE<br />
DISCURSOS SOBRE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LE<br />
PRESENTES EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS<br />
Matheus Trinda<strong>de</strong> Velasques<br />
Este trabalho propõe-se a analisar peças publicitárias que compõem a<br />
divulgação <strong>de</strong> um curso online <strong>de</strong> Inglês como língua estrangeira a fim<br />
<strong>de</strong> mapear que discursos e representações acerca dos professores <strong>de</strong><br />
Inglês estão presentes em suas narrativas e as reações provocadas na<br />
comunida<strong>de</strong> docente <strong>de</strong> Inglês como LE. A partir <strong>de</strong>stes referidos<br />
discursos e representações acerca do professor <strong>de</strong> língua inglesa,<br />
preten<strong>de</strong>-se analisar que “verda<strong>de</strong>s” (FOUCAULT, 1979; VEIGA-<br />
NETO, 2003) sobre ele são difundidas e reafirmadas. Para fins <strong>de</strong><br />
análise, parte-se das noções <strong>de</strong> narrativa (MOITA LOPES, 2001),<br />
representação (WOODWARD, 2000) e discurso (HALL, 1997;<br />
KUMARAVADIVELO, 2006). Preten<strong>de</strong>-se também analisar as<br />
reações em fóruns e re<strong>de</strong>s sociais dos professores <strong>de</strong> Inglês como LE<br />
<strong>de</strong> cursos presenciais frente à polêmica causada pela narrativa<br />
publicitária. As análises apontam que as narrativas publicitárias<br />
exploram imagens estereotipadas <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> Inglês, recorrendo<br />
a discursos do senso comum acerca do professor nativo como garantia<br />
<strong>de</strong> aprendizado e ignorando as pesquisas recentes em Linguística<br />
Aplicada acerca da temática.<br />
LOS GÉNEROS DISCURSIVOS SON EL LOCUS DE LA<br />
IDENTIDAD LINGÜÍSTICA<br />
Matil<strong>de</strong> Contreras<br />
Palabras-clave: LE - valor axiológico - géneros discursivos<br />
El nativo adquiere la LM en contexto y luego apren<strong>de</strong> sus reglas<br />
normativas. En la adquisición la usa en un entorno <strong>de</strong>terminado que<br />
tiene carácter concreto, único y refleja finalidad, lo que Bajtín (1999)<br />
llama <strong>de</strong> “enunciado”. Cuando llega a la etapa <strong>de</strong>l conocimiento <strong>de</strong> las<br />
prescripciones ya posee lo que las teorías bajtinianas (cit. op.)<br />
<strong>de</strong>nominan “valor axiológico”, el cual <strong>de</strong>termina la construcción <strong>de</strong>l<br />
enunciado, colocando la palabra y la estructura como pasivas a ese<br />
valor. Por ello, se entien<strong>de</strong> que se <strong>de</strong>fine la i<strong>de</strong>ntidad lingüística no por<br />
las imposiciones prescriptiva y sí por lo que se estime necesario según<br />
dón<strong>de</strong>, cuándo y con quién se use la lengua. Esa necesidad controla la<br />
“construcción o composición” que para Bajtín (1997) son las “esferas<br />
507
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
<strong>de</strong> comunicación verbal” o “géneros discursivos”. Pero, ¿qué suce<strong>de</strong>ría<br />
si se apren<strong>de</strong> sólo la norma <strong>de</strong> la LE, sin lo que el nativo evalúa como<br />
necesario en cada género discursivo, o se usa la nueva lengua con el<br />
valor axiológico <strong>de</strong> la LM? Esas dudas dirigieron este estudio, <strong>de</strong>dicado<br />
a analizar producciones escritas con pronombres átonos en LM <strong>de</strong><br />
brasileños e hispánicos y en español como lengua extranjera (ELE) <strong>de</strong><br />
futuros profesores en Brasil, con el objetivo <strong>de</strong> distinguir cuál es el uso<br />
<strong>de</strong> dichos pronombres. Después <strong>de</strong> examinarse opiniones <strong>de</strong> teóricos<br />
pertinentes y el material colectado, se concluye que el brasileño oscila<br />
entre el uso <strong>de</strong> los oblíquos, el reemplazo o ausencia, según el género<br />
discursivo, siguiendo el valor axiológico otorgado a cada enunciado,<br />
actitud lingüística que no se distingue cuando los hispanos usan los<br />
pronombres personales átonos y sí en las producciones en ELE <strong>de</strong> los<br />
académicos.<br />
A INSERÇÃO DE A GENTE NA LINGUAGEM JORNALÍSTICA<br />
DE ZERO HORA<br />
Morgana Paiva Da Silva<br />
Palavras-Chave: Variação Pronominal. Escrita.<br />
A inserção <strong>de</strong> a gente na linguagem jornalística <strong>de</strong> Zero Hora. Este<br />
trabalho tem por objetivo apresentar os resultados referentes à análise<br />
da inserção da forma pronominal a gente em linguagem escrita<br />
jornalística, tomando por base textos do jornal Zero Hora. Procurou-se<br />
verificar a intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uso da variante a gente nos diferentes<br />
gêneros textuais jornalísticos e i<strong>de</strong>ntificar os fatores linguísticos e os<br />
extralinguísticos que condicionam esse uso. Para sua realização<br />
buscou-se fundamentos na teoria Sociolinguística Variacionista<br />
instaurado por William Labov; na Teoria da Gramaticalização<br />
postulada por P. Hopper; e nos resultados <strong>de</strong> pesquisas sobre variação<br />
entre nós e a gente. Para a investigação, foram coletados 565 dados,<br />
provenientes da análise <strong>de</strong> 829 textos <strong>de</strong> autoria – textos do tipo<br />
argumentativo, mas <strong>de</strong> gêneros variados. Os dados coletados foram<br />
codificados e submetidos a tratamento estatístico utilizando-se o<br />
programa Goldvarb 2003 (programa proveniente <strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong><br />
outros programas computacionais conhecido como Varbrul). Tendo<br />
em vista que a pesquisa está em fase inicial, chegou-se,<br />
preliminarmente, à conclusão <strong>de</strong> que os fatores gênero textual,<br />
realização explícita ou implícita da forma pronominal e paralelismo<br />
formal são relevantes para o uso <strong>de</strong> a gente nos textos jornalísticos.<br />
508
Resumo dos Trabalhos<br />
A VIDA DE NELSON MANDELA NA CONCEPÇÃO DE<br />
SUJEITO SOCIOLÓGICO DE STUART HALL<br />
Olga Maria Lima Pereira<br />
Palavras-chaves: Man<strong>de</strong>la, Apartheid, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, sujeito sociológico.<br />
O presente artigo tem como objetivo <strong>de</strong>screver a trajetória <strong>de</strong> vida <strong>de</strong><br />
Nelson Man<strong>de</strong>la, o gran<strong>de</strong> lí<strong>de</strong>r africano que, em nome <strong>de</strong> um i<strong>de</strong>al<br />
coletivo, lutou e <strong>de</strong>dicou sua existência à busca da liberda<strong>de</strong> na África<br />
do Sul. Num primeiro momento, <strong>de</strong>screvemos a vida <strong>de</strong> Man<strong>de</strong>la. Num<br />
segundo momento, iremos tecer algumas consi<strong>de</strong>rações sobre o regime<br />
<strong>de</strong> segregação racial, o Apartheid, que, ao discriminar o negro na<br />
socieda<strong>de</strong> africana, maculou para sempre as páginas da história, numa<br />
<strong>de</strong>gradante forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>srespeito e preconceito à humanida<strong>de</strong>. Num<br />
terceiro e último momento e, amparados nas concepções <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e<br />
sujeito sociológico <strong>de</strong> Stuart Hall, relacionar e abrir discussões sobre a<br />
importância <strong>de</strong> um homem que, para além <strong>de</strong> interesses pessoais,<br />
<strong>de</strong>dicou sua vida a <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r uma coletivida<strong>de</strong>, no caso uma nação.<br />
COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO DE /S/ NAS VOZES DE<br />
MACAPÁ-AP<br />
Renata Conceição Neves Monteiro<br />
Reconhecendo a variabilida<strong>de</strong> da língua, muitos estudos têm sido<br />
realizados a fim <strong>de</strong> explicar os fenômenos linguísticos ocorrentes no<br />
Português Brasileiro. A palatalização <strong>de</strong> /S/, por exemplo, é um<br />
processo que já foi objeto <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong> falares <strong>de</strong> diversas regiões no<br />
país: Rio <strong>de</strong> Janeiro-RJ (CALLOU & MARQUES, 1975); Natal-RN<br />
(PESSOA,1986); Corumbá-MS (SILVA, 1996); João Pessoa-PB<br />
(HORA, 2000); Salvador-BA (CANOVAS, 1996); Rio <strong>de</strong> Janeiro-RJ<br />
(SCHERRE & MACEDO, 2000); Florianópolis-SC (BRESCANCINI,<br />
2002); Recife-PE (MACEDO, 2004). Sendo, pois, a produção<br />
palatoalveolar da fricativa coronal anterior em final <strong>de</strong> sílabas um<br />
fenômeno que busca explicação à luz da análise variacionista (LABOV,<br />
1969), buscamos, nesta pesquisa, traçar o perfil linguístico do falante<br />
macapaense em relação ao fenômeno estudado, consi<strong>de</strong>rando os fatores<br />
sociais (externos) e estruturais (internos) que estão envolvidos neste<br />
processo. Para alcançarmos nosso objetivo principal, buscamos<br />
também apresentar <strong>de</strong>scritivamente o fenômeno, verificando quais são<br />
os fatores condicionantes e os inibidores do processo <strong>de</strong> palatalização<br />
<strong>de</strong> /S/; fazer uma análise quantitativa dos dados (GOLDVARB 3.0 -<br />
509
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
SANKOFF, TAGLIAMONTE e SMITH, 2005), verificando a<br />
ocorrência <strong>de</strong> realizações palatoalveolares <strong>de</strong> /S/ em contraste com a<br />
produção da sibilante; comparar os resultados obtidos com outros<br />
estudos já <strong>de</strong>senvolvidos; e levantar novas hipóteses com base nas<br />
primeiras constatações.<br />
ESCOLA: ESPAÇO PERMEADO DE VARIAÇÃO<br />
LINGUÍSTICA<br />
Rosemeri Vasconcellos Soares<br />
Glece Valério Kerchiner<br />
A presente comunicação tem por objetivo relatar uma experiência<br />
didática advinda do Programa <strong>de</strong> Iniciação à Docência (PIBID) na<br />
área <strong>de</strong> Letras da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Pampa (UNIPAMPA).<br />
Trata-se <strong>de</strong> um projeto em que trabalhamos com a temática da<br />
sociolinguística em turmas <strong>de</strong> primeiro ano do ensino médio <strong>de</strong> uma<br />
escola estadual da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé/RS. Os alunos elaboraram e<br />
aplicaram uma entrevista com a comunida<strong>de</strong> escolar a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>scobrir<br />
como ocorre a ênclise, a próclise e a mesóclise na fala e na escrita<br />
<strong>de</strong>stes informantes. As respostas foram tabuladas e, com o auxílio dos<br />
professores <strong>de</strong> matemática, houve a criação <strong>de</strong> gráficos com os<br />
resultados obtidos. Cabe ressaltar a constatação dos alunos <strong>de</strong> que,<br />
quanto à fala, houve a predominância do uso da próclise e que a<br />
ênclise aparece esporadicamente enquanto a uso da mesóclise é<br />
praticamente nulo. Também concluíram que na escrita há a<br />
predominância do uso da ênclise. Os pilares que subsidiaram esta<br />
prática foram Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2007). Segundo os<br />
autores, a língua e socieda<strong>de</strong> estão indissoluvelmente entrelaçadas,<br />
uma influenciando a outra, uma constituindo a outra. Deste modo é<br />
importante que os alunos tenham acesso à norma padrão da língua sem,<br />
no entanto, <strong>de</strong>sprestigiar a sua própria varieda<strong>de</strong> linguística. O trabalho<br />
realizado além <strong>de</strong> valorizar a varieda<strong>de</strong> linguística da comunida<strong>de</strong>,<br />
buscou levar os alunos a se apropriarem também das regras<br />
linguísticas que gozam <strong>de</strong> prestigio e enriquecer o seu repertório.<br />
510
Resumo dos Trabalhos<br />
CONTATO LINGUÍSTICO E ENSINO DE LÍNGUA<br />
PORTUGUESA<br />
Sanimar Busse<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é apresentar os resultados da pesquisa sobre<br />
os fenômenos <strong>de</strong> variação linguística do português falado em áreas <strong>de</strong><br />
contato linguístico e sua manifestação em produções escritas escolares.<br />
Os dados foram coletados em pesquisas geossociolinguísticas sobre a<br />
fala do Oeste paranaense e produções escritas <strong>de</strong> alunos do 5º Ano, do<br />
Ensino Fundamental, <strong>de</strong> municípios que participam do Programa<br />
Observatório da Pesquisa/CAPES/UNIOESTE. A região Oeste,<br />
conforme estudos <strong>de</strong>senvolvidos por Aguilera (1994) e Busse (2010),<br />
po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>scrita pelo plurilinguismo que é resultado do convívio<br />
grupos oriundos <strong>de</strong> diferentes regiões do Brasil, falantes <strong>de</strong> dialetos<br />
alemães e italianos, do espanhol e do guarani. O <strong>de</strong>safio do professor<br />
das séries iniciais do Ensino Fundamental, diante <strong>de</strong>sta realida<strong>de</strong><br />
multicultural, está em reconhecer e valorizar a diversida<strong>de</strong> linguística<br />
da comunida<strong>de</strong> e, a partir <strong>de</strong>la, inserir o aluno no mundo letrado. A<br />
aprendizagem da escrita e o convívio com as formas escolarizadas da<br />
língua não <strong>de</strong>vem prescindir do trabalho com a diversida<strong>de</strong> linguística,<br />
mas, <strong>de</strong>ve tomá-la como ponto <strong>de</strong> partida, valorizando e reconhecendo<br />
a face cultural, social e histórica da língua. Para tal, é preciso<br />
reconhecer as varieda<strong>de</strong>s linguísticas como resultado das interações<br />
entre falantes <strong>de</strong> diferentes línguas, como diferentes estágios dos<br />
processos <strong>de</strong> mudança linguística, e, principalmente, como aspecto que<br />
caracteriza os grupos, os situa social e geograficamente. A partir dos<br />
dados, preten<strong>de</strong>-se refletir sobre o papel da escola em contextos<br />
multilíngues e sobre a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma metodologia <strong>de</strong> ensino que<br />
contemple os fenômenos <strong>de</strong> variação como conteúdos <strong>de</strong> ensino.<br />
ENTRE O DESCRITIVISMO E O PRESCRITIVISMO: O PAPEL<br />
DA SOCIOLINGUÍSTICA NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA<br />
Taís Bopp Da Silva<br />
Palavras-chave: ensino <strong>de</strong> língua materna - <strong>de</strong>scrição do português –<br />
sociolinguística educacional<br />
Os trabalhos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrição do português brasileiro avançaram no sentido<br />
<strong>de</strong> documentar a língua falada no Brasil, contribuindo, assim, para<br />
<strong>de</strong>smitificar velhas crenças. Contrariamente a isso, perpetua-se nas<br />
escolas a idéia <strong>de</strong> unida<strong>de</strong> linguística. Nesse sentido, percebe-se um<br />
511
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
abismo separando ensino e pesquisa, uma vez que o conhecimento<br />
produzido pelos pesquisadores brasileiros não têm extrapolado as<br />
fronteiras dos muros acadêmicos. É pertinente, pois, nos questionarmos<br />
como esses estudos estão sendo aproveitados para a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
letramento. Apesar do evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>scompasso entre ensino e pesquisa,<br />
observa-se que o mercado editorial sobre ensino <strong>de</strong> língua materna<br />
cresce com vigor. Essa produção bibliográfica, contudo, ocupa-se ainda<br />
muito timidamente com a <strong>de</strong>scrição linguística. Sua preocupação mais<br />
básica, segundo temos observado, é a normativização <strong>de</strong> práticas <strong>de</strong><br />
ensino e <strong>de</strong> condutas. Com isso, é importante refletirmos não só sobre<br />
que língua <strong>de</strong>vemos ensinar, como também se estamos ensinando<br />
alguma língua. Se há alguns anos atrás formavam-se professores<br />
voltados para o purismo linguístico, hoje formam-se professores<br />
apenas treinados em condutas pedagógicas; professores que, se já não<br />
praticam o normativismo, tampouco conhecem a realida<strong>de</strong> linguística<br />
brasileira. Percebe- se, portanto, que a Sociolinguística ainda não<br />
atingiu plenamente seu papel <strong>de</strong> auxiliar no ensino <strong>de</strong> língua. De um<br />
lado, as pesquisas acadêmicas – que <strong>de</strong>screvem a realida<strong>de</strong> da língua e<br />
fornecem explicação aos fenômenos – são marginalmente abordadas na<br />
literatura <strong>de</strong>stinada aos professores, tornando-se um <strong>de</strong>scritivismo<br />
vazio. Por outro lado, a produção que chega aos professores <strong>de</strong> língua<br />
materna enfatiza o como se <strong>de</strong>ve ensinar, relegando aos fatos<br />
linguísticos papel coadjuvante e constituindo não mais que um conjunto<br />
normativo <strong>de</strong> práticas.<br />
BANCO DE DADOS DE LÍNGUA FALADA DE BAGÉ:<br />
RELAÇÕES ENTRE PESQUISA E ENSINO<br />
Taíse Simioni<br />
Palavras-chave: banco <strong>de</strong> dados; variação linguística; sociolinguística<br />
O Banco <strong>de</strong> Dados <strong>de</strong> Língua Falada <strong>de</strong> Bagé tem por objetivo a<br />
formação <strong>de</strong> um banco <strong>de</strong> dados constituído por entrevistas gravadas<br />
com falantes da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé (RS). Os pressupostos teóricos que<br />
norteiam as etapas <strong>de</strong> construção <strong>de</strong>ste banco <strong>de</strong> dados encontram-se na<br />
sociolinguística quantitativa (Labov, 1972). Bagé localiza-se em um<br />
região <strong>de</strong> fronteira com um país <strong>de</strong> língua espanhola, e isto certamente<br />
exerce influência sobre a fala <strong>de</strong> seus habitantes. Será possível verificar,<br />
por exemplo, a variação entre os sufixos <strong>de</strong> diminutivo -inho/-zinho e -<br />
ito/-zito a partir da hipótese <strong>de</strong> que -ito/-zito ocorrerão com mais<br />
frequência <strong>aqui</strong> do que em outras regiões do estado por influência do<br />
512
Resumo dos Trabalhos<br />
espanhol. Os dados coletados permitirão que se realizem pesquisas que<br />
<strong>de</strong>screvam as varieda<strong>de</strong>s linguísticas encontradas na região. A<br />
divulgação <strong>de</strong> tais pesquisas, entre professores da re<strong>de</strong> básica <strong>de</strong> ensino,<br />
por exemplo, po<strong>de</strong> abrir caminho para a discussão sobre a variação<br />
linguística, <strong>de</strong> maneira que se <strong>de</strong>sfaçam mitos e se construa o respeito<br />
às diferentes varieda<strong>de</strong>s linguísticas. Tal iniciativa possibilitará que se<br />
crie um ambiente em que sejam (re)conhecidas e, consequentemente,<br />
respeitadas as varieda<strong>de</strong>s linguísticas características da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé.<br />
A FALA PELOTENSE: UM ESTUDO PRELIMINAR DE<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA BASEADO NA TEORIA<br />
LABOVIANA<br />
Talita De Cássia Sigales Gonçalves<br />
Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas<br />
A presente pesquisa consiste em verificar as características da fala<br />
pelotense. Tais características envolverão tão somente a variação<br />
linguística influenciada, ou não, pelo meio, tais como faixa etária,<br />
ruralida<strong>de</strong> ou urbanida<strong>de</strong>, convivência e fluxo <strong>de</strong> turistas que passam<br />
pela cida<strong>de</strong>. O estudo terá por base a teoria laboviana (Labov, 1972).<br />
Desta forma <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>remos que a lingua(gem) é uma estrutura viva que<br />
po<strong>de</strong>, ao sofrer influências, ser modificada através da convivência seja<br />
por fusão, por contaminação ou qualquer outro modo <strong>de</strong> absorção<br />
sonora da fala. A experiência <strong>de</strong>scrita por Labov (1972) na Ilha <strong>de</strong><br />
Martha's Vineyard <strong>de</strong>monstra que algumas palavras produzidas por<br />
falantes nativos daquela região po<strong>de</strong>m ser alteradas sonoramente<br />
<strong>de</strong>vido à convivência com pessoas não nativas daquela região. Desta<br />
forma, este estudo, visa ainda, verificar o que ocorre com o falante<br />
nativo pelotense ao entrar em contato com pessoas que possuem a fala<br />
distinta em função <strong>de</strong> sua naturalida<strong>de</strong> e colonização. Pelotas,<br />
localizada na região sul do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, foi colonizada por povos<br />
diferentes, é dividida em zonas e em cada uma <strong>de</strong>las, fica clara a<br />
influência <strong>de</strong> etnias distintas. Na Zona norte da cida<strong>de</strong>, no bairro das<br />
Três Vendas, por exemplo, po<strong>de</strong>-se perceber que a fala é levemente<br />
influenciada com características alemãs/pomeranas, já que esta região<br />
foi ocupada, primeiramente, por alemães. Na Zona Sul, local em que o<br />
centro da cida<strong>de</strong> está localizado, a influência é visívelmente<br />
portuguesa.<br />
513
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNO, ESCOLA E<br />
PROFESSORES NA ERA TECNOLÓGICA PELOS ATORES DA<br />
SALA DE AULA<br />
Vanessa Doumid Damasceno<br />
Palavras-chave: Aluno; contextos sócio-educacionais; TICs<br />
A presente pesquisa refletirá sobre a presença da tecnologia nos<br />
contextos sócio-educacionais. Para isso, analisar-se-á as vozes <strong>de</strong> um<br />
grupo <strong>de</strong> alunos da última série do Ensino Médio, da re<strong>de</strong> particular <strong>de</strong><br />
ensino, os sentidos que essas vozes produzem para o analista e como<br />
esses sentidos se relacionam às concepções <strong>de</strong> linguagem. A iniciativa<br />
<strong>de</strong> realizar este estudo surgiu a partir <strong>de</strong> reflexões e questionamentos<br />
feitos pela pesquisadora, durante sua prática docente na <strong>Educação</strong><br />
Básica, a respeito da importância da tecnologia no aprendizado dos<br />
alunos. O trabalho ancora-se na abordagem qualitativa, que é um<br />
campo da investigação que por, sua essência naturalista, permite ao<br />
pesquisador estudar e analisar os dados em seus cenários naturais, <strong>de</strong><br />
forma mais líquida. A análise dos dados será realizada sob a ótica da<br />
concepção bakhtiniana <strong>de</strong> linguagem, que é <strong>de</strong> caráter social, histórica,<br />
i<strong>de</strong>ológica, dialógica e cuja unida<strong>de</strong> básica <strong>de</strong> análise é o enunciado.<br />
SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE: INTERSECÇÕES EM<br />
BAKHTIN<br />
Vera Lucia Pires<br />
A construção <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s passa pelas<br />
práticas <strong>de</strong> significação. Neste trabalho abordamos os conceitos <strong>de</strong><br />
subjetivida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, verificando indicadores <strong>de</strong><br />
subjetivida<strong>de</strong> que produzem posicionamentos, visões <strong>de</strong> mundo e<br />
construções i<strong>de</strong>ntitárias. Para isso, seguimos a proposta<br />
metodológica <strong>de</strong> Bakhtin (1992, 2009), que abrange as duas esferas<br />
da enunciação, a dimensão social e a verbal. Naquela, consi<strong>de</strong>ramos o<br />
sujeito como histórico e social, levando em conta todos os<br />
participantes do gênero discursivo (produtor e consumidor dos textos) e<br />
o contexto em que se <strong>de</strong>senvolve. A esfera verbal, por sua vez, é<br />
a da análise linguística das marcas <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>. Tentaremos<br />
comprovar que tal materialida<strong>de</strong> linguística dá suporte para a<br />
construção <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>s e i<strong>de</strong>ntificações na publicida<strong>de</strong>. A<br />
i<strong>de</strong>ntificação é um processo, portanto, e as construções i<strong>de</strong>ntitárias<br />
são inconclusas. Também não há classificações ou processos<br />
514
Resumo dos Trabalhos<br />
i<strong>de</strong>ntitários absolutamente isentos ou objetivos. Em outras palavras,<br />
somos relativos ao mundo e ao tempo em que vivemos, sendo<br />
assim, nossa vivência é compartilhada com muitos. O fundamento<br />
da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> é ser um espaço <strong>de</strong> “compartilhamento<br />
intersubjetivo” (Ewald e Soares 2007, p. 24). Santos (1996, p.<br />
136) enfatiza que “o primeiro nome mo<strong>de</strong>rno da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> é a<br />
subjetivida<strong>de</strong>.” A subjetivida<strong>de</strong> é o que fundamenta nossa percepção<br />
<strong>de</strong> ser humano. É ela que viabiliza nossa i<strong>de</strong>ntificação com alguns e<br />
nosso “olhar enviesado” para outros. A subjetivida<strong>de</strong> é o que funda as<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. Eu, um ser humano que diz “eu”, me apoio, me i<strong>de</strong>ntifico<br />
com uma cultura que me engendrou. Ou seja, o ser humano só é<br />
possível por meio do pertencimento a uma comunida<strong>de</strong> social.<br />
ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ANÁLISE DE ERROS EM<br />
REDAÇÕES DE ESPANHOL COM LÍNGUA ESTRANGEIRA<br />
Vera Pinto Vigil<br />
Palavras-chave: língua espanhola, análise <strong>de</strong> erros, concepção <strong>de</strong><br />
linguagem.<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é analisar erros em produções escritas em<br />
língua espanhola <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong> uma escola pública <strong>de</strong> ensino<br />
fundamental e médio da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bagé, RS. Para tal empreendimento,<br />
selecionamos cinco textos produzidos em sala <strong>de</strong> aula. A partir <strong>de</strong> uma<br />
concepção <strong>de</strong> linguagem entendida como sistema, tomamos os critérios<br />
(lingüístico, gramatical, etiológico e pedagógico) propostos pela<br />
análise <strong>de</strong> erros <strong>de</strong>scritos em Durão (2007). Tomamos conceitos como<br />
interlíngua, entendida como um sistema lingüístico em construção que<br />
está inserido entre a língua materna e a língua estrangeira do aprendiz,<br />
<strong>de</strong> modo a interferir no processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição/aprendizagem. Também<br />
usamos o conceito <strong>de</strong> fossilização que é entendido como a permanência<br />
do erro, ou seja, em um <strong>de</strong>terminado nível <strong>de</strong> interlíngua o aprendiz<br />
estanca o seu processo <strong>de</strong> <strong>aqui</strong>sição do sistema da língua estrangeira.<br />
As análises nos mostraram que embora possamos classificar os erros<br />
em critérios, tal classificação não é suficiente para enten<strong>de</strong>rmos a<br />
complexida<strong>de</strong> do processo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> uma língua estrangeira,<br />
espanhol no nosso caso. Desse modo, faz-se necessário, pensar em<br />
propostas pedagógicas que contemplem uma concepção <strong>de</strong> linguagem<br />
que consi<strong>de</strong>re as condições <strong>de</strong> produções e o sujeito que está inserido<br />
no processo educacional.<br />
515
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
SOBRE O “ESTRANGEIRO” NA LÍNGUA MATERNA:<br />
APRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS EM SALA DE AULA DE<br />
LEITURA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PRÓXIMAS<br />
Virginia Orlando<br />
Palavras-chave: leitura em língua materna e língua estrangeira, gêneros<br />
discursivos, comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> práticas.<br />
Esta pesquisa revisa as formas <strong>de</strong> relacionamento entre a dimensão<br />
ativo- dialógica da compreensão, i.e., seu elemento valorativo<br />
(BAKHTIN, [1974]-2003), e, gêneros discursivos (BAKHTIN, [1952-<br />
3]-2003) em cursos <strong>de</strong> leitura em línguas estrangeiras próximas<br />
(francês, italiano e português) para aprendizes adultos hispano-falantes.<br />
O cenário <strong>de</strong> pesquisa consiste em aulas <strong>de</strong> leitura, concebidas como<br />
apoio para a leitura <strong>de</strong> bibliografia especializada, en<strong>de</strong>reçadas a alunos<br />
<strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> pública do Uruguai. As disciplinas <strong>de</strong> leitura em<br />
francês, italiano e português foram analisadas sob a perspectiva <strong>de</strong> uma<br />
constelação <strong>de</strong> práticas (WENGER, 1999), <strong>de</strong> letramentos (SOARES,<br />
2006, entre outros) em línguas estrangeiras próximas e, cada uma<br />
<strong>de</strong>las, como comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> prática (WENGER, 1999) <strong>de</strong> letramentos<br />
em francês, italiano ou português. A diferença existente, do ponto <strong>de</strong><br />
vista <strong>de</strong> gêneros discursivos, entre os textos que sustentam o trabalho<br />
das disciplinas em francês e em italiano (textos jornalísticos<br />
exclusivamente), <strong>de</strong> uma parte, e português (textos jornalísticos e<br />
acadêmicos), <strong>de</strong> outra, é uma característica importante <strong>de</strong>ssa<br />
constelação. No caso das aulas <strong>de</strong> leitura em português, as filiações<br />
i<strong>de</strong>ntitárias evi<strong>de</strong>nciadas na compreensão ativa das enunciações dos<br />
aprendizes-leitores os apresentam “autorando” (FARACO, 2006) os<br />
textos acadêmicos lidos em sala <strong>de</strong> aula <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diversos<br />
posicionamentos, <strong>de</strong> forma dinâmica e, por momentos, conflituosa.<br />
VARIAÇÃO E IDENTIDADE NAS COMUNIDADES<br />
KATUKINA E KANAMARI: ELABORAÇÃO DO SISTEMA<br />
ORTOGRÁFICO<br />
Zorai<strong>de</strong> Dos Anjos Gonçalves Da Silva<br />
Katukina-Kanamari, língua indígena brasileira falada no sudoeste da<br />
Amazônia por cerca <strong>de</strong> 2.200 pessoas, é composta por dois dialetos:<br />
Kanamari e Katukina do Biá (Anjos: 2011). No que se refere aos<br />
aspectos fonológicos, po<strong>de</strong>-se dizer que a diferença mais significativa<br />
entre o Kanamari e o Katukina do Biá é a existência da variação livre<br />
516
Resumo dos Trabalhos<br />
dos ditongos fonéticos com as vogais longas altas /i:/ e /u:/ na<br />
varieda<strong>de</strong> Katukina do Biá. A variante Kanamari não possui essa<br />
variação, apresentando apenas as realizações longas das vogais altas.<br />
No nível lexical também se observam diferenças, visto que não há<br />
correspondência total entre os vocábulos Kanamari e Katukina do Biá.<br />
Em média, entre cada <strong>de</strong>z palavras, uma não apresenta<br />
correspondência. Ao se tratar das questões relacionadas ao ensino da<br />
língua, bem como <strong>de</strong> seu estudo e registro escrito, as comunida<strong>de</strong>s<br />
Katukina do Biá e Kanamari apresentam realida<strong>de</strong>s distintas. O<br />
presente trabalho tem por objetivo apresentar a experiência da<br />
elaboração da ortografia feita o dialeto Katukina do Biá realizada pela<br />
proponente <strong>de</strong>ssa comunicação juntamente com as comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas Katukina que optaram por adotar uma ortografia distinta da<br />
utilizada pelas comunida<strong>de</strong>s Kanamari <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos 80, produzida em<br />
cooperação com a organização missionária Novas Tribos. Essa atitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>monstra <strong>de</strong> forma clara que o dialeto é visto como marca <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> para as comunida<strong>de</strong>s Katukina e que, por essa razão,<br />
optaram registrar sua “língua” <strong>de</strong> forma distinta daquela utilizada pelas<br />
comunida<strong>de</strong>s Kanamari.<br />
517
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
EMENTAS DOS MINICURSOS<br />
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: COMPREENDENDO SUAS<br />
ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS A PARTIR DE PRÁTICAS<br />
DE INTERLOCUÇÃO NA LÍNGUA<br />
Ana Cláudia Balieiro Lodi (USP)<br />
Elomena Barboza Almeida (UFSCar)<br />
Este minicurso tem como objetivo apresentar e discutir os aspectos<br />
visuais e espaciais constitutivos da Língua Brasileira <strong>de</strong> Sinais por meio<br />
<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s práticas <strong>de</strong> interlocução na língua.<br />
PROJETOS DIDÁTICOS DE GÊNERO NUM PROCESSO<br />
COOPERATIVO DE FORMAÇÃO CONTINUADA<br />
Ana Mattos Guimarães (UNISINOS<br />
Dorotea Frank Kersch (UNISINOS<br />
An<strong>de</strong>rson Carnin (UNISINOS<br />
Vanessa Dagostim Pires (UNISINOS<br />
Este curso é resultado <strong>de</strong> projeto que <strong>de</strong>senvolvemos há quase 2 anos,<br />
com apoio CAPES/Programa Observatório da <strong>Educação</strong>, junto à re<strong>de</strong><br />
municipal <strong>de</strong> Novo Hamburgo, cida<strong>de</strong> gaúcha <strong>de</strong> porte médio, com<br />
257.746 habitantes. Nesse sentido, planejou-se um processo <strong>de</strong><br />
formação continuada cooperativa, em que o letramento acadêmico dos<br />
formadores interage com a prática social dos professores e seus alunos,<br />
com vistas a propostas didático-pedagógicas que formem um educador<br />
apto ao manejo crítico do conhecimento, capaz <strong>de</strong> estar à frente dos<br />
<strong>de</strong>safios educacionais do terceiro milênio. Essa experiência, ainda em<br />
<strong>de</strong>senvolvimento, marca uma relação fundamental entre formadores e<br />
formandos, <strong>de</strong> modo que todos tenham voz e possam realmente<br />
construir juntos um processo cooperativo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> ensino<br />
<strong>de</strong> Língua Portuguesa. O processo está respaldado em uma concepção<br />
interativa <strong>de</strong> linguagem, a partir da qual se introduz a noção <strong>de</strong> gênero<br />
(Voloshinov, 2006, Bakhtin, 2003, Bronckart,1999), que serve como<br />
âncora para a co-construção <strong>de</strong> propostas didáticas. O conceito <strong>de</strong><br />
sequência didática (Schneuwly e Dolz, 2004) foi ampliado para colocar<br />
a produção <strong>de</strong> leitura lado a lado com a produção textual e tomá-las<br />
518
Resumo dos Trabalhos<br />
como práticas sociais efetivas, centradas em tema gerado em conjunto<br />
por alunos e professor. Essas características constituem o que estamos<br />
chamando <strong>de</strong> projetos didáticos <strong>de</strong> gêneros (PDG). A experiência do<br />
primeiro ano <strong>de</strong> trabalho mostrou o acerto da escolha <strong>de</strong>sta noção para<br />
alavancar o ensino <strong>de</strong> Língua Portuguesa na formação continuada<br />
proposta, <strong>de</strong>senvolvida em encontros presenciais e a distância. Para<br />
operacionalizar possibilida<strong>de</strong>s curriculares <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> trabalho,<br />
consi<strong>de</strong>rando a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seriação dos temas/gêneros, passamos a<br />
trabalhar com agrupamentos dos gêneros em domínios diversos: do<br />
narrar, do instruir, do argumentar, do <strong>de</strong>screver. O curso preten<strong>de</strong><br />
discutir a noção <strong>de</strong> PDG, a partir <strong>de</strong> projetos já <strong>de</strong>senvolvidos.<br />
LECTURA, ESCRITURA Y ARGUMENTACIÓN<br />
ACADÉMICAS: APORTES TEÓRICOS Y PROPUESTAS<br />
DIDÁCTICAS<br />
Constanza Padilla <strong>de</strong> Zérdan (Universidad Nacional <strong>de</strong> Tucumán)<br />
Hipótesis actuales sobre lectura y escritura académica: procesos<br />
cognitivos, prácticas sociales situadas, prácticas epistémicas y prácticas<br />
argumentativas. Aportes teóricos interdisciplinarios. Principales ejes <strong>de</strong><br />
discusión en torno a la lectura, escritura y argumentación en la<br />
universidad: prácticas generalizables vs. prácticas ligadas a las<br />
disciplinas; docentes <strong>de</strong> lingüística vs. docentes <strong>de</strong> las disciplinas;<br />
talleres específicos vs. seguimiento a lo largo <strong>de</strong>l cursado; enseñanza<br />
explícita vs. inmersión en las prácticas. Propuestas didácticas:<br />
experiencias en curso en la Argentina.<br />
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ESTILO<br />
Dermeval da Hora Oliveira (UFP)<br />
Discussão sobre as restrições que norteiam os estudos variacionistas:<br />
sociais, lingüísticas e estilísticas. Abordagens sobre a variação<br />
estilística <strong>de</strong>s<strong>de</strong> W. Labov (1966), com ilustrações <strong>de</strong> estudos<br />
realizados no exterior e no Brasil.<br />
519
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
CARTOGRAFIA GEOPOÉTICA SIMONEANA<br />
Gilnei Oleiro Corrêa (IFSUL)<br />
A proposta do minicurso é promover a leitura da obra "Contos<br />
Gauchescos", <strong>de</strong> João Simões Lopes Neto, afastando-se do<br />
regionalismo, para oferecer uma abordagem nova, com referencial<br />
teórico embasado na Geopoética, <strong>de</strong> Keneth White. Essa abordagem<br />
possibilita conhecer outros Simões e oportunizar novas possibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> leitura para os contos.<br />
A SÍLABA, UNIDADE DE ORGANIZAÇÃO MELÓDICA DA<br />
FONOLOGIA<br />
Gisela Collischonn (UFRGS)<br />
A sílaba tem sido uma parte integrante do <strong>de</strong>senvolvimento das teorias<br />
da representação fonológica bem como uma parte importante do<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da teoria <strong>de</strong> regras, restrições, e <strong>de</strong> suas interações.<br />
Mas o estudo da sílaba não tem tido um <strong>de</strong>senvolvimento linear. Neste<br />
minicurso retomamos a sílaba à luz <strong>de</strong> discussões recentes referentes à<br />
sua estrutura. Vamos cotejar principalmente dois textos <strong>de</strong> Blevins<br />
(1995, 2003). Temas como evidências para sílaba como unida<strong>de</strong><br />
fonológica, a estrutura da sílaba, tipologia silábica e marcação, bem<br />
como a formalização da sonorida<strong>de</strong> serão abordados.<br />
SEGMENTOS VOCÁLICOS E CONSONANTAIS NO PB:<br />
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS<br />
Izabel Christine Seara (FONAPLI/UFSC)<br />
Este minicurso apresentará alguns dos parâmetros acústicos que<br />
caracterizam segmentos vocálicos e consonantais no PB. Mostrará<br />
também: (a) algumas das etapas para coleta e análise <strong>de</strong>sses segmentos<br />
e (b) quais os cuidados para o levantamento <strong>de</strong>sses parâmetros em<br />
função das características <strong>de</strong> cada segmento.<br />
520
INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA COGNITIVA<br />
Liliane Prestes (UCPEL)<br />
Luiz Fernando Matos Rocha (UFJF)<br />
Resumo dos Trabalhos<br />
A Linguística Cognitiva é uma área da Linguística que focaliza a<br />
linguagem como uma parte integrada da cognição humana, em<br />
interação com e nas mesmas bases e princípios que outras faculda<strong>de</strong>s<br />
cognitivas, tais como: experiências físicas e mentais, esquemas<br />
imagéticos, percepção, atenção, memória, enquadramentos focais,<br />
categorização, pensamento abstrato, emoção, raciocínio, inferência, etc.<br />
Enten<strong>de</strong>-se que é através da linguagem, estrutura simbólica cujas<br />
unida<strong>de</strong>s são formadas pelo pareamento entre forma e significado, que<br />
o ser humano socialmente interage entre si e constrói a socieda<strong>de</strong> e a<br />
cultura. O objetivo do minicurso é apresentar os princípios gerais da<br />
Linguística Cognitiva e suas aplicações para análises <strong>de</strong> cunho<br />
gramatical e discursivo, levando-se em conta a hipótese da continuida<strong>de</strong><br />
entre esquemas cognitivos e formas linguísticas, sob visão processual,<br />
no enquadre comunicativo do uso da linguagem.<br />
ANÁLISE DO DISCURSO: RESISTÊNCIA E RUPTURAS<br />
Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS)<br />
A análise do discurso, especialmente no Brasil, vem construindo novos<br />
laços <strong>de</strong> aliança teórica que impõem <strong>de</strong>limitações constantes na<br />
tentativa <strong>de</strong> assegurar a singularida<strong>de</strong> do campo <strong>de</strong> pesquisa.<br />
Preten<strong>de</strong>mos trabalhar com algumas <strong>de</strong>ssas fronteiras, apontando, a<br />
partir da mobilização <strong>de</strong> conceitos, como sujeito, i<strong>de</strong>ologia, história e<br />
inconsciente, os principais pontos <strong>de</strong> resistência e <strong>de</strong> ruptura que a AD<br />
enfrenta, enquanto dispositivo teórico e analítico.<br />
521
VII SENALE – Seminário Nacional sobre Linguagens e Ensino<br />
GÊNEROS DO DISCURSO: QUESTÕES TEÓRICAS E<br />
PRÁTICAS<br />
Maria da Glória di Fanti (PUCRS)<br />
Este minicurso tem o propósito <strong>de</strong> discutir noções e conceitos que<br />
integram a teoria dos gêneros do discurso na obra <strong>de</strong> Bakhtin e seu<br />
Círculo, observando possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> operacionalização <strong>de</strong> análises e<br />
sua produtivida<strong>de</strong> para o ensino <strong>de</strong> leitura e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> textos.<br />
DISCURSO (DE/SOBRE A POBREZA) E ENSINO<br />
Maria José Coracini (UNICAMP)<br />
Partindo da constatação <strong>de</strong> que o discurso <strong>de</strong>/sobre a pobreza, tão<br />
característica da socieda<strong>de</strong> brasileira, permanece ao lado <strong>de</strong> outros<br />
discursos, igualmente apagados, inabordável na escola. Por essa razão,<br />
propomo-nos a discutir essa situação <strong>de</strong> exclusão, a partir da análise<br />
discursivo-<strong>de</strong>sconstrutivista, <strong>de</strong> textos escritos encontrados na mídia e<br />
<strong>de</strong> relatos <strong>de</strong> pessoas em situação <strong>de</strong> extrema pobreza (chamados<br />
“moradores <strong>de</strong> rua”). Será ainda discutida a relação <strong>de</strong> <strong>de</strong> discursos<br />
<strong>de</strong>/sobre situações <strong>de</strong> exclusão e o ensino <strong>de</strong> língua portuguesa.<br />
Apoiamo-nos em teorias do discurso, sobretudo na obra <strong>de</strong> Michel<br />
Foucault, <strong>de</strong> noções da psicanálise lacaniana, sobretudo no que diz<br />
respeito ao sujeito e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, atravessadas umas e outras pelo<br />
pensamento <strong>de</strong>sconstrutivista, que tem em Jacques Derrida seu<br />
representante legítimo. Questões relacionadas à ética ligada à<br />
metodologia serão também abordadas, levando em conta o momento<br />
histórico-social em que vivemos e as condições <strong>de</strong> produção dos<br />
participantes <strong>de</strong> pesquisa.<br />
ESTUDO DE LÍNGUA NA VIVÊNCIA DA LINGUAGEM<br />
Maria Helena <strong>de</strong> Moura Neves (UNESP/Mackenzie)<br />
Partindo da organização da língua em classes <strong>de</strong> palavras, e <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
uma concepção da gramática que valoriza o papel do falante na<br />
produção <strong>de</strong> seu texto, estudam-se enunciados reais da língua<br />
contemporânea, buscando <strong>de</strong>screver os processos gramaticais<br />
envolvidos na produção <strong>de</strong> sentido, na língua em função, e buscando<br />
fixar bases para o trabalho com a gramática na escola.<br />
522
Resumo dos Trabalhos<br />
O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO SOCIAL EM FILMES<br />
E DOCUMENTÁRIOS<br />
Suzy Lagazzi (DL/IEL/UNICAMP)<br />
Este minicurso se propõe a apresentar e discutir o dispositivo discursivo<br />
materialista em práticas analíticas sobre filmes e documentários que<br />
tematizam as relações sociais em diferentes abordagens. Tem, como<br />
objetivo, dar visibilida<strong>de</strong> ao confronto teoria e prática na análise<br />
discursiva, assim como especificar compreensões <strong>de</strong> modos pelos quais<br />
a diferença constitui o social.<br />
A POÉTICA DAS MEMÓRIAS E SUAS RE(A)PRESENTAÇÕES<br />
Tânia Ramos (UFSC)<br />
Nosso curso objetiva a leitura das escritas <strong>de</strong> si e como elas po<strong>de</strong>m se<br />
transformar n<strong>aqui</strong>lo que Pedro Nava <strong>de</strong>nominou “uma esmagadora<br />
oportunida<strong>de</strong> poética”. Egohistórias, autobiografias, autoficções,<br />
autorretratos, correspondências, fotografias, narrativas em primeira<br />
pessoa, dicções masculinas e femininas, marcam o encontro entre vidas<br />
e grafias, entre as lembranças e o sujeito lírico, entre o po<strong>de</strong>r da<br />
linguagem enquanto fabulação e o controverso teor documental.<br />
523