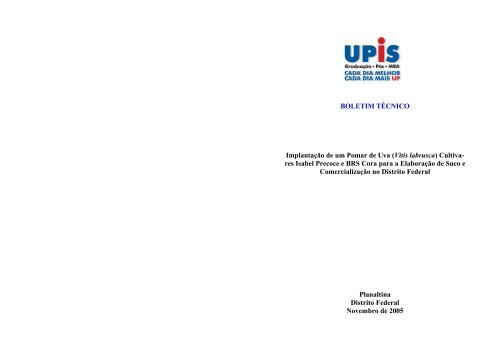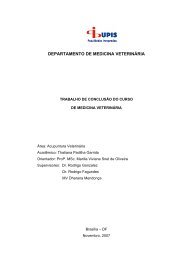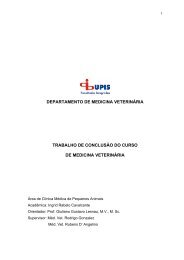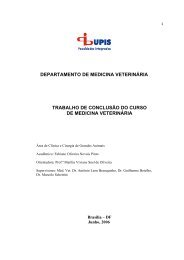BOLETIM TÉCNICO Implantação de um Pomar de Uva (Vitis ... - Upis
BOLETIM TÉCNICO Implantação de um Pomar de Uva (Vitis ... - Upis
BOLETIM TÉCNICO Implantação de um Pomar de Uva (Vitis ... - Upis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>BOLETIM</strong> <strong>TÉCNICO</strong><br />
<strong>Implantação</strong> <strong>de</strong> <strong>um</strong> <strong>Pomar</strong> <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> (<strong>Vitis</strong> labrusca) Cultivares<br />
Isabel Precoce e BRS Cora para a Elaboração <strong>de</strong> Suco e<br />
Comercialização no Distrito Fe<strong>de</strong>ral<br />
Planaltina<br />
Distrito Fe<strong>de</strong>ral<br />
Novembro <strong>de</strong> 2005
www.upis.br<br />
Boletim Técnico<br />
<strong>Implantação</strong> <strong>de</strong> <strong>um</strong> <strong>Pomar</strong> <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> (<strong>Vitis</strong> labrusca) Cultivares<br />
Isabel Precoce e BRS Cora para a Elaboração <strong>de</strong> Suco e<br />
Comercialização no Distrito Fe<strong>de</strong>ral<br />
Kenia Gracielle da Fonseca<br />
Planaltina<br />
Distrito Fe<strong>de</strong>ral<br />
Novembro <strong>de</strong> 2005
UPIS - Faculda<strong>de</strong>s Integradas<br />
Departamento <strong>de</strong> Agronomia<br />
Rodovia BR 020 Km 12<br />
DF 335 Km 4,8<br />
Planaltina-DF<br />
En<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> correspondência:<br />
Sep/Sul Eq. 712/912 Conjunto A<br />
CEP: 70390-125 Brasília (DF) Brasil<br />
Fone/Fax: (0XX61) 3488 99 09<br />
www.upis.br<br />
agronomia@upis.br<br />
Supervisores: Profa. Dra. Janine Tavares Camargo<br />
Prof. Ms. Adilson Jayme <strong>de</strong> Oliveira<br />
Orientadora: Profa. Dra. Janine Tavares Camargo<br />
Coorientador: Prof. Ms. Antônio Alberto Fonseca Filho<br />
Profa. Ms. Eliane Maria Molica<br />
Membros da Banca: Profa. Dra. Janine Tavares Camargo<br />
Prof. Ms. Antônio Alberto Fonseca Filho<br />
Prof. Júlio Sérgio <strong>de</strong> Moraes<br />
Data da Defesa: 09/11/2005
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA
SUMÁRIO<br />
RESUMO.................................................................................11<br />
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA..................................13<br />
2. OBJETIVO...........................................................................16<br />
3. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA..........................................17<br />
3.1. Escolha da Área ............................................................17<br />
3.2. Preparo do Solo.............................................................17<br />
3.3. Adubação e Nutrição Mineral.......................................18<br />
3.3.1. Adubação <strong>de</strong> correção............................................18<br />
3.3.2. Adubação <strong>de</strong> plantio ..............................................18<br />
3.3.3. Adubação <strong>de</strong> crescimento ......................................19<br />
3.3.4. Adubação <strong>de</strong> produção...........................................20<br />
3.4. Instalação do Sistema <strong>de</strong> Condução..............................20<br />
3.5. Uso <strong>de</strong> Quebra-Ventos..................................................23<br />
3.6. Irrigação ........................................................................24<br />
3.7. Plantio ...........................................................................25<br />
3.8. Tratos Culturais.............................................................26<br />
3.8.1. Poda <strong>de</strong> formação...................................................26<br />
3.8.2. Poda <strong>de</strong> frutificação ...............................................26<br />
3.8.3. Poda ver<strong>de</strong>..............................................................27<br />
3.8.3.1. Desbrota ..............................................................28<br />
3.8.3.2. Desnetamento e eliminação <strong>de</strong> gavinhas ............28<br />
3.8.3.3. Desfolha ..............................................................29<br />
3.9. Repouso.........................................................................29<br />
3.10. Doenças.......................................................................30<br />
3.10.1. Antracnose ...........................................................30<br />
3.10.2. Míldio...................................................................31<br />
3.10.3.Oídio......................................................................33<br />
3.10.4. Podridão seca .......................................................34<br />
3.10.5. Cancro bacteriano ................................................34<br />
3.10.6. Vírus do enrolametno da folha da vi<strong>de</strong>ira............35<br />
3.11. Pragas..........................................................................38<br />
3.11.1. Pérola-da-terra......................................................38<br />
7
8<br />
3.11.2. Filoxera ................................................................39<br />
3.11.3. Cochonilha-parda.................................................40<br />
3.11.4. Cochonilhas da parte aérea ..................................41<br />
3.11.5. Cochonilha-algodão .............................................41<br />
3.11.6. Ácaro-rajado.........................................................41<br />
3.11.7. Formigas corta<strong>de</strong>iras............................................43<br />
3.12. Colheita .......................................................................45<br />
3.13. Transporte ...................................................................45<br />
3.14. Instalação da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Processamento ...................46<br />
3.15. Higiene na Produção ...................................................47<br />
3.16.Análise <strong>de</strong> Perigos e Pontos Críticos <strong>de</strong> Controle........48<br />
3.17. Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> ................................................................49<br />
3.17.1. Recepção ..............................................................51<br />
3.17.2. Desengaçamento/esmagamento ...........................51<br />
3.17.3. Enzimagem...........................................................52<br />
3.17.4. Pasteurização........................................................52<br />
3.17.5. Envase ..................................................................52<br />
3.17.6. Armazenamento ...................................................53<br />
4. ESTUDO DE CASO............................................................53<br />
4.1. Localização ...................................................................53<br />
4.2. Escolha da Área ............................................................53<br />
4.3. Preparo do Solo.............................................................54<br />
4.4. Talhões..........................................................................54<br />
4.5. Adubação <strong>de</strong> Correção..................................................54<br />
4.6. Adubação ......................................................................55<br />
4.7. Uso <strong>de</strong> Quebra-ventos...................................................56<br />
4.8. Instalação do Sistema <strong>de</strong> Condução..............................57<br />
4.9. Irrigação ........................................................................57<br />
4.10. Espaçamento ...............................................................59<br />
4.11. Cultivares ....................................................................59<br />
4.12. Aquisição <strong>de</strong> Mudas....................................................60<br />
4.13. Tratos Culturais...........................................................60<br />
4.13.1. Controle <strong>de</strong> plantas daninhas ..............................61<br />
4.13.2. Poda <strong>de</strong> formação.................................................61
4.13.3. Poda <strong>de</strong> frutificação .............................................61<br />
4.13.4. Poda ver<strong>de</strong>............................................................61<br />
4.13.4.1. Desbrota ............................................................61<br />
4.13.4.2. Desnetamento e eliminação <strong>de</strong> gavinhas ..........61<br />
4.13.4.3. Desfolha ............................................................61<br />
4.13.4.4. Desbaste dos cachos..........................................62<br />
4.14. Doenças.......................................................................62<br />
4.15. Pragas..........................................................................63<br />
4.16. Colheita .......................................................................64<br />
4.17. Transporte ...................................................................65<br />
4.18. Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Processamento .........................................65<br />
4.19. Instruções e Supervisões .............................................67<br />
4.20. Higiene na Produção...................................................67<br />
4.21. Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> ................................................................69<br />
4.21.1. Recepção ..............................................................69<br />
4.21.2. Lavagem...............................................................69<br />
4.21.3. Desengaçamento/Esmagamento...........................69<br />
4.21.4. Enzimagem...........................................................70<br />
4.21.5. Prensagem ............................................................70<br />
4.21.6. Filtragem ..............................................................70<br />
4.21.7. Pasteurização........................................................70<br />
4.21.8. Envase ..................................................................70<br />
4.22. Estratégia <strong>de</strong> Marketing ..............................................71<br />
4.23. Comercialização..........................................................71<br />
4.24. Coeficientes Técnicos ................................................71<br />
4.25. Equipamentos e Materiais Necessários para a<br />
Agroindustria <strong>de</strong> Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> Integral................................74<br />
5. DISCUSSÃO ......................................................................74<br />
6. CONCLUSÃO ....................................................................75<br />
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................75<br />
9
RESUMO<br />
11<br />
O Boletim técnico objetiva estudar a viabilida<strong>de</strong> técnica<br />
da implantação <strong>de</strong> <strong>um</strong> pomar <strong>de</strong> uva e o processamento da produção<br />
para a elaboração <strong>de</strong> suco, a ser comercializado no Distrito<br />
Fe<strong>de</strong>ral. Serão implantados 10 ha <strong>de</strong> uva Isabel Precoce e<br />
BRS Cora por serem cultivares <strong>de</strong> fácil adaptação, apresentarem<br />
tolerância à antracnose (Elsinoe ampelina) e oídio (Uncinula<br />
necator) e precocida<strong>de</strong> em relação às <strong>de</strong>mais cultivares. O<br />
Distrito Fe<strong>de</strong>ral é <strong>um</strong> local que possui condições climáticas favoráveis<br />
para o cultivo <strong>de</strong> uva, permitindo 2 safras por ano. É<br />
<strong>um</strong>a ativida<strong>de</strong> que <strong>de</strong>manda gran<strong>de</strong> quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mão-<strong>de</strong>-obra,<br />
principalmente, nos tratos culturais e colheita. O sistema <strong>de</strong><br />
condução escolhido será o espal<strong>de</strong>ira que permite maior penetração<br />
<strong>de</strong> raios solares, melhorando a qualida<strong>de</strong> da fruta, além<br />
<strong>de</strong> facilitar as operações mecanizadas e manuais. O sistema <strong>de</strong><br />
irrigação adotado será o gotejamento. O espaçamento será <strong>de</strong><br />
2,0 x 2,5 m correspon<strong>de</strong>ndo a 2.000 plantas/ha. As uvas serão<br />
<strong>de</strong>stinadas ao processamento, originando suco integral <strong>de</strong> uva,<br />
em <strong>um</strong>a agroindústria que será implantada na proprieda<strong>de</strong>. É<br />
<strong>um</strong>a ativida<strong>de</strong> que possui viabilida<strong>de</strong> técnica <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que as recomendações<br />
técnicas para a produção da uva sejam seguidas,<br />
bem como as normas <strong>de</strong> Boas Práticas <strong>de</strong> Fabricação (BPF) e a<br />
Análise <strong>de</strong> Perigos e Pontos Críticos <strong>de</strong> Controle (APPCC) para<br />
a elaboração do suco.<br />
PALAVRAS-CHAVE: <strong>Pomar</strong>, <strong>Uva</strong>, Processamento
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA<br />
13<br />
Segundo a Embrapa/CNPUV (2005), a vi<strong>de</strong>ira é <strong>um</strong>a<br />
espécie frutífera cultivada há séculos, possui <strong>um</strong> mercado crescente<br />
tanto para a fruta in natura como para os seus <strong>de</strong>rivados.<br />
A produção <strong>de</strong> uvas no Brasil se localiza nas regiões<br />
Sul, Su<strong>de</strong>ste e Nor<strong>de</strong>ste. Constitui-se em ativida<strong>de</strong> consolidada,<br />
com importância sócio–econômica, nos Estados do Rio Gran<strong>de</strong><br />
do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia,<br />
e Minas Gerais.<br />
Houve <strong>um</strong> a<strong>um</strong>ento da área colhida e da produção <strong>de</strong><br />
uva na maioria das regiões produtoras, nos anos <strong>de</strong> 2003 para<br />
2004.<br />
O principal Estado produtor <strong>de</strong> uva é o Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Sul que contribuiu com aproximadamente 54 % (tabela 1) da<br />
produção nacional no ano <strong>de</strong> 2004. Além disso, apresenta a<br />
maior área plantada correspon<strong>de</strong>nte a 57 % da área total plantada<br />
nesse mesmo ano.<br />
Pernambuco e Bahia não apresentam a maior área plantada,<br />
porém em 2004, apresentaram a maior produtivida<strong>de</strong> (32<br />
ton/ha e 25 ton/ha, respectivamente) em relação aos outros Estados,<br />
que é <strong>de</strong> 16 ton/ha em média (tabela 1), Embrapa/CNPUV<br />
(2005).<br />
Segundo Kuhn (2003), a maioria das áreas brasileiras <strong>de</strong><br />
produção <strong>de</strong> uvas para processamento está localizada na região<br />
Sul, em regiões <strong>de</strong> relevo montanhoso e <strong>de</strong> difícil mecanização,<br />
sendo geralmente exploradas <strong>de</strong> forma artesanal com mão-<strong>de</strong>obra<br />
familiar. É <strong>um</strong>a ativida<strong>de</strong> agrícola típica <strong>de</strong> pequenas proprieda<strong>de</strong>s,<br />
on<strong>de</strong> a área média <strong>de</strong> vinhedos é geralmente <strong>de</strong> 2<br />
hectares.<br />
Essa ativida<strong>de</strong> tem gran<strong>de</strong> importância econômica e social,<br />
por sua alta rentabilida<strong>de</strong> por unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> área e por <strong>de</strong>sempenhar<br />
a gran<strong>de</strong> função <strong>de</strong> fixar o homem ao meio rural,<br />
especialmente nas pequenas proprieda<strong>de</strong>s.
14<br />
Tabela 1 - Área colhida e produção <strong>de</strong> uvas em 2003 e 2004.<br />
2003 2004<br />
Estado/Ano Área Produção Área Produção<br />
(ha) (ton) (ha) (ton)<br />
RS 38.517 489.012 40.351 696.557<br />
SP 12.398 224.468 11.600 193.300<br />
PR 6.500 94.250 5.794 96.660<br />
SC 3.671 41.709 3.771 44.612<br />
PE 3.423 104.506 4.692 151.699<br />
BA 2.911 87.435 3.407 85.910<br />
MG 903 13.455 916 13.060<br />
Brasil 68.323 1.054.835 70.531 1.281.798<br />
Fonte: Embrapa/CNPUV (2005).<br />
Em 2004, a produção <strong>de</strong> uvas no Brasil foi <strong>de</strong> 1.281.798<br />
toneladas (tabela 1) e 48,72 % <strong>de</strong>ssa produção foi <strong>de</strong>stinada ao<br />
processamento. Houve <strong>um</strong> incremento <strong>de</strong> 51,18 % comparado<br />
ao ano anterior (Embrapa/CNPUV, 2005).<br />
Mais recentemente, começou a ser cultivada uvas nas<br />
regiões <strong>de</strong> clima tropical e semi-árido, mais especificamente no<br />
Submédio do Vale do São Francisco. Isso ocorre por causa do<br />
hábito perene da cultura submetida a diferentes formas <strong>de</strong> estresse<br />
no campo (Farjado, 2003).<br />
A viticultura nessa região vem se <strong>de</strong>stacando no cenário<br />
nacional não apenas pela expansão da área cultivada e pelo vol<strong>um</strong>e<br />
<strong>de</strong> produção, mas principalmente pelos altos rendimentos<br />
alcançados e pela qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uva produzida (Leão e Soares,<br />
2000).<br />
Convém ressaltar a especificida<strong>de</strong> da viticultura da Região<br />
Semi-Árida nor<strong>de</strong>stina, em virtu<strong>de</strong> da adaptação e do<br />
comportamento diferenciado das plantas nessas condições climáticas.<br />
Assim, os processos fisiológicos são acelerados, a propagação<br />
e o crescimento inicial das plantas são rápidos e, a-
15<br />
proximadamente <strong>um</strong> ano e meio após o plantio, tem-se a primeira<br />
safra.<br />
Consi<strong>de</strong>rando-se que o ciclo <strong>de</strong> produção da uva oscila<br />
em torno <strong>de</strong> 120 dias, po<strong>de</strong>-se obter até duas safras e meia por<br />
ano, com manejo da irrigação e a realização <strong>de</strong> podas programadas.<br />
Isso possibilita a produção durante todo o ano a <strong>um</strong>a<br />
produtivida<strong>de</strong> média da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 40 t/ha/ano, a partir do quinto<br />
ano. Esse procedimento permite a colheita dos frutos nos períodos<br />
<strong>de</strong> preços mais elevados, o que torna a viticultura <strong>um</strong>a ativida<strong>de</strong><br />
que apresenta menor grau <strong>de</strong> incerteza e elevada rentabilida<strong>de</strong><br />
econômica (Leão, 2001).<br />
Em doc<strong>um</strong>ento publicado pelo Ministério da Agricultura<br />
e do Abastecimento, <strong>de</strong>staca a uva cultivada no Nor<strong>de</strong>ste<br />
como a cultura que apresenta a maior receita entre as principais<br />
frutas cultivadas (Leão, 2001).<br />
No Distrito Fe<strong>de</strong>ral, a área plantada e a produção <strong>de</strong><br />
uva têm a<strong>um</strong>entado consi<strong>de</strong>ravelmente nos últimos anos, a produtivida<strong>de</strong><br />
situa-se em torno <strong>de</strong> 8 a 12 ton/ha. No primeiro semestre<br />
<strong>de</strong> 2005, a área colhida ocupou 5,1 ha (tabela 2) e a<br />
área em formação correspon<strong>de</strong> a 5,5 ha. As cida<strong>de</strong>s produtoras<br />
são Brazlândia, Ceilândia, Gama, PAD-DF e Planaltina, (Bernardino,<br />
informação pessoal, 2005).<br />
Tabela 2- Área colhida e produção <strong>de</strong> uva no DF.<br />
Ano 2003 2004 2005<br />
Área colhida(ha) 1,32 1,67 5,1<br />
Produção (ton) 12,3 15 63,5<br />
Fonte: Bernardino, 2005 (informação pessoal)<br />
A vantagem da implantação da cultura <strong>de</strong> uva no Distrito<br />
Fe<strong>de</strong>ral é a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> programar a colheita na época da<br />
seca, já que a chuva, nesse estágio da cultura, prejudica a produção.<br />
Assim po<strong>de</strong>-se ter safra durante 10 meses do ano.
16<br />
O motivo da escolha do processamento da uva para suco<br />
é reflexo do crescimento <strong>de</strong>sse segmento. De acordo com o Instituto<br />
Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), as vendas do suco <strong>de</strong><br />
uva integral no primeiro semestre <strong>de</strong> 2005 foi maior que o dobro<br />
em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2005,<br />
foram vendidos 3,73 milhões <strong>de</strong> litros, ante os 1,65 milhão em<br />
2004. As vinícolas, que geralmente produzem esse suco como<br />
ativida<strong>de</strong> secundária, não estão conseguindo aten<strong>de</strong>r a procura e<br />
estão investindo em ampliações (Gazeta Mercantil, 2005).<br />
Foi realizada <strong>um</strong>a pesquisa orientada não registrada sobre<br />
<strong>de</strong> suco <strong>de</strong> uva integral em 8 supermercados e 3 lojas especializadas<br />
em vinhos do DF. Entrevistou-se os gerentes <strong>de</strong>sses<br />
estabelecimentos, interrogando-os se esse suco tem bastante<br />
procura e; caso o suco <strong>de</strong> uva fosse produzido no Distrito Fe<strong>de</strong>ral,<br />
haveria interesse pelo produto.<br />
Obteve-se como resultado que o cons<strong>um</strong>o do suco <strong>de</strong><br />
uva integral vem a<strong>um</strong>entando nos últimos anos e que se o suco<br />
fosse produzido nessa região teria gran<strong>de</strong> aceitação nos estabelecimentos<br />
porque seria <strong>um</strong> produto mais barato, pois o frete<br />
seria bem menor, já que os sucos existentes, na sua maioria,<br />
vêm <strong>de</strong> São Paulo e Rio Gran<strong>de</strong> do Sul.<br />
O suco integral apresenta os mesmos benefícios à saú<strong>de</strong><br />
que o vinho (proteção adicional <strong>de</strong> 13% contra o câncer pulmonar,<br />
é, também <strong>um</strong> aliado do coração, pois a<strong>um</strong>enta o HDL e<br />
reduz a quantida<strong>de</strong> do LDL <strong>de</strong> acordo com BOA SAÚDE,<br />
2005) porém sem a presença <strong>de</strong> álcool.<br />
2. OBJETIVO<br />
Instalar <strong>um</strong> pomar <strong>de</strong> 10 ha <strong>de</strong> uva Isabel Precoce e<br />
BRS Cora no Distrito Fe<strong>de</strong>ral e processar a produção em suco<br />
<strong>de</strong> uva integral para comercialização no DF.
3. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA<br />
3.1. Escolha da Área<br />
17<br />
A vi<strong>de</strong>ira se adapta a ampla varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> solos, no entanto,<br />
dá-se preferência a solos com textura franca e bem drenados<br />
e com pH variando <strong>de</strong> 5,0 a 6,0 (Leão e Soares, 2000).<br />
Deve-se, também, consi<strong>de</strong>rar para a escolha do terreno,<br />
a <strong>de</strong>clivida<strong>de</strong> do terreno e exposição para o norte, permitindo<br />
maior incidência <strong>de</strong> raios solares. Os melhores terrenos são os<br />
planos porque facilita o preparo do solo e as práticas culturais<br />
(Pommer, 2003).<br />
Juntamente com esses fatores, <strong>de</strong>ve-se atentar que os<br />
solos mais profundos são os mais a<strong>de</strong>quados para o cultivo da<br />
vi<strong>de</strong>ira <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que estejam bem supridos, pois estes têm o maior<br />
potencial para o <strong>de</strong>senvolvimento radicular (Kuhn, 2003).<br />
Além disso, <strong>um</strong> outro fator importante é a latitu<strong>de</strong>, pois<br />
a viticultura, <strong>de</strong>stinada à agroindústria no Brasil, encontra-se<br />
em latitu<strong>de</strong>s baixas a médias, situando-se entre 8° e 32° S, diferentemente<br />
dos outros países on<strong>de</strong> essa ativida<strong>de</strong> é <strong>de</strong>senvolvida<br />
em latitu<strong>de</strong>s mais elevadas, chegando até 52° N <strong>de</strong> latitu<strong>de</strong><br />
(Kuhn, 2003).<br />
3.2. Preparo do Solo<br />
Essa é <strong>um</strong>a etapa muito importante para garantir que as<br />
mudas plantadas possam expressar todo o seu potencial produtivo.<br />
Fazem parte <strong>de</strong>sse processo: a roçagem, que tem como<br />
principal objetivo a eliminação da vegetação existente, po<strong>de</strong>ndo<br />
ser feita manualmente ou com tratores; o <strong>de</strong>stocamento, visando<br />
a retirada dos tocos maiores, no caso da área ser coberta por<br />
mata ou outra vegetação maior; a aração que consiste na mobilização<br />
total do solo, à profundida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 20 a 25 cm; e a gradagem,<br />
que visa nivelar o terreno revolvido possibilitando a dis-
18<br />
tribuição uniforme dos adubos e facilitando a <strong>de</strong>marcação e<br />
abertura da covas (50 x 50 x 50 cm) para o plantio (Kuhn,<br />
2003).<br />
3.3. Adubação e Nutrição Mineral<br />
A vi<strong>de</strong>ira é <strong>um</strong>a cultura bastante exigente em nutrientes,<br />
assim, torna-se necessário <strong>um</strong> aporte <strong>de</strong> macro e micronutrientes<br />
suficientes para a obtenção <strong>de</strong> alta produtivida<strong>de</strong> e frutos <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong> (Leão e Soares, 2000).<br />
3.3.1. Adubação <strong>de</strong> correção<br />
A distribuição <strong>de</strong> calcário po<strong>de</strong> ser efetuada após a aração<br />
e incorporado com o uso <strong>de</strong> gradagem, pelo menos três meses<br />
antes do plantio, para que o corretivo seja distribuído <strong>de</strong><br />
maneira uniforme na superfície e em profundida<strong>de</strong> a<strong>de</strong>quada <strong>de</strong><br />
20 a 25 cm no perfil do solo (Leão e Soares, 2000). Tem por<br />
objetivo corrigir os teores <strong>de</strong> cálcio e magnésio do solo e eliminar<br />
prováveis efeitos tóxicos dos elementos que po<strong>de</strong>m ser prejudiciais<br />
às plantas, como, por exemplo, o al<strong>um</strong>ínio, manganês<br />
e ferro nos solos do cerrado (Malavolta, 1989). Normalmente,<br />
há necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fazer novamente outra calagem, após 3 a 4<br />
anos (Kuhn, 2003).<br />
3.3.2. Adubação <strong>de</strong> plantio<br />
Os fertilizantes minerais e orgânicos são colocados na<br />
cova e misturados com a terra da própria cova, antes <strong>de</strong> se fazer<br />
o transplantio das mudas. Deve-se utilizar aproximadamente 20<br />
kg/cova <strong>de</strong> esterco <strong>de</strong> curral curtido ou outro produto similar.<br />
Para a recomendação <strong>de</strong> fertilizantes minerais <strong>de</strong>ve-se utilizar<br />
a tabela 3, que indica as quantida<strong>de</strong>s necessárias <strong>de</strong> nitrogênio,<br />
fósforo e potássio (g/planta) para cada tipo <strong>de</strong> solo, sendo im-
19<br />
portante para essa recomendação a análise química do solo.<br />
Nessa adubação po<strong>de</strong>-se, também, adicionar 4 g/planta<br />
<strong>de</strong> zinco e 1 g/planta <strong>de</strong> boro, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do tipo <strong>de</strong> solo, segundo<br />
Leão e Soares (2000).<br />
Tabela 3 – Recomendações gerais <strong>de</strong> adubação para vi<strong>de</strong>ira<br />
Fases da planta<br />
Plantio Crescimento Produção (ciclo)<br />
1° 2° 3° 4° 5 °<br />
Nitrogênio<br />
Fósforo-Melich<br />
(mg/dm³ P)<br />
------------------- N (g/planta) ----------------------<br />
170 60 70 80 100 120<br />
------------------- P2O5 (g/planta) ------------------<br />
< 11 160 100 80 80 90 100 100<br />
11 a 20 120 80 70 70 80 90 100<br />
21 a 40 80 60 60 60 70 80 100<br />
> 40 60 40 50 50 60 70 100<br />
Potássio-Melich<br />
(cmolc/dm³ K)<br />
-------------------- K2O (g/planta) ------------------<br />
< 0,16 90 90 90 100 120 160 160<br />
0,16 a 0,30 70 70 70 80 100 140 160<br />
0,31 a 0,45 50 50 50 60 80 120 160<br />
> 0,45 30 30 30 40 60 100 160<br />
Fonte: Leão e Soares, 2000.<br />
3.3.3. Adubação <strong>de</strong> crescimento<br />
Consiste em aplicações <strong>de</strong> fertilizantes minerais (nitrogênio,<br />
fósforo e potássio). As adubações nitrogenadas e o potássio<br />
por planta, <strong>de</strong>vem ser parcelados em aplicações quinzenais.<br />
O fósforo juntamente com 20 kg <strong>de</strong> esterco <strong>de</strong> curral por<br />
planta, <strong>de</strong>ve ser aplicado apenas <strong>um</strong>a vez, seis meses após o<br />
plantio (Leão e Soares, 2000).<br />
3.3.4. Adubação <strong>de</strong> produção
20<br />
Deve-se utilizar fósforo, potássio e nitrogênio, segundo<br />
a quantida<strong>de</strong> recomendada na tabela 3, logo após a poda <strong>de</strong><br />
frutificação. Até o quinto ciclo <strong>de</strong> produção da vi<strong>de</strong>ira, a análise<br />
<strong>de</strong> solo que foi feita antes do plantio, associada às análises<br />
foliares, ainda po<strong>de</strong> ser útil para <strong>de</strong>terminação das doses <strong>de</strong> fósforo<br />
e potássio. Posteriormente, as análises foliares ass<strong>um</strong>em<br />
maior importância nos critérios das recomendações <strong>de</strong> adubação<br />
(Leão e Soares, 2000).<br />
3.4. Instalação do Sistema <strong>de</strong> Condução<br />
Para a escolha do sistema <strong>de</strong> condução, vários fatores<br />
<strong>de</strong>vem ser levados em consi<strong>de</strong>ração, tais como, a cultivar que<br />
será utilizada; o método <strong>de</strong> colheita, se é manual ou mecanizado;<br />
a topografia do terreno; o custo <strong>de</strong> implantação; a rentabilida<strong>de</strong><br />
do viticultor; as condições climáticas e a tradição (Kuhn,<br />
2003).<br />
Os sistemas <strong>de</strong> condução mais utilizados no Brasil são:<br />
latada e espal<strong>de</strong>ira.<br />
O sistema <strong>de</strong> condução do tipo latada (figura 1) permite<br />
<strong>um</strong>a área do dossel vegetativo extensa, com gran<strong>de</strong> carga <strong>de</strong><br />
gemas, proporcionando <strong>um</strong> gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> cachos e alta<br />
produtivida<strong>de</strong>; apresenta fácil adaptação à topografia das regiões<br />
montanhosas; facilita a locomoção dos viticultores, que po<strong>de</strong><br />
ser feita em todas as direções.<br />
Entretanto, os custos <strong>de</strong> implantação e <strong>de</strong> manutenção<br />
são elevados; a posição do dossel vegetativo e dos frutos situados<br />
acima do trabalhador causa transtornos às práticas culturais;<br />
não é o sistema mais apropriado para a colheita mecânica,<br />
ainda que já existam na Europa máquinas com esta finalida<strong>de</strong>;<br />
a posição horizontal do dossel vegetativo e o vigor excessivo<br />
das vi<strong>de</strong>iras po<strong>de</strong>m causar sombreamento, afetar a fertilida<strong>de</strong><br />
das gemas e a qualida<strong>de</strong> da uva e do vinho e o elevado índice
21<br />
<strong>de</strong> área foliar proporciona maior <strong>um</strong>ida<strong>de</strong> na região do cacho e<br />
das folhas, o que favorece o aparecimento <strong>de</strong> doenças fúngicas,<br />
segundo a Embrapa/CNPUV (2005).<br />
Figura 1. Sistema <strong>de</strong> condução da vi<strong>de</strong>ira em latada: a) cantoneira;<br />
b) poste externo; c) rabicho; d) poste interno; e) cordão<br />
primário; f) cordão secundário; g) cordão-rabicho; h) fio simples<br />
(Kuhn, 2003).<br />
Nesse sistema, as vi<strong>de</strong>iras são alinhadas em fileiras distanciadas,<br />
geralmente, <strong>de</strong> 2,0 m a 3,0 m, sendo 2,5 m o mais<br />
usual. A distância entre plantas é <strong>de</strong> 1,5 m a 2,0 m, conforme a<br />
varieda<strong>de</strong> e o vigor da vi<strong>de</strong>ira. A zona <strong>de</strong> produção da uva situa-se<br />
a aproximadamente 1,8 m do solo (Embrapa/ CNPTIA,<br />
2005).<br />
O sistema <strong>de</strong> condução do tipo espal<strong>de</strong>ira, é <strong>um</strong> dos<br />
mais utilizados pelos viticultores na maioria dos países produtores.<br />
Não fornece a maior produtivida<strong>de</strong>, porém, permite a melhor<br />
penetração dos raios solares e aeração do pomar, trazendo<br />
benefícios na qualida<strong>de</strong> da uva produzida, além <strong>de</strong> facilitar a
22<br />
execução dos tratos culturais e operações mecanizadas.<br />
Na construção da espal<strong>de</strong>ira (figura 2), os fios são dispostos<br />
<strong>de</strong> forma vertical semelhante a <strong>um</strong>a cerca, ao contrário<br />
da latada on<strong>de</strong> são dispostos horizontalmente formando <strong>um</strong>a<br />
re<strong>de</strong>. Emprega-se 3 ou 4 fios <strong>de</strong> arame, sendo o primeiro colocado<br />
a 1,0 m a 1,2 m do solo; o segundo, a 0,35 m do primeiro;<br />
o terceiro, a 0,35 m do segundo e o quarto, a 0,3 m do terceiro.<br />
A posteação é individual por fila e a distância entre postes po<strong>de</strong><br />
variar <strong>de</strong> 5 a 6 m, sendo que os postes das extremida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vem<br />
estar presos a rabichos para que os fios permaneçam sempre<br />
bem estendidos, <strong>de</strong> acordo com Kuhn (2003).<br />
Figura 2. Sistema <strong>de</strong> Condução da vi<strong>de</strong>ira em espal<strong>de</strong>ira: a)<br />
poste externo; b) poste interno, c) fio da produção; d) fios fixos<br />
do dossel vegetativo; e) fio móvel do dossel vegetativo (Kuhn,<br />
2003).<br />
3.5. Uso <strong>de</strong> Quebra-Ventos<br />
A ocorrência <strong>de</strong> ventos muito fortes prejudica o <strong>de</strong>sen-
23<br />
volvimento da vi<strong>de</strong>ira, danificando os brotos novos, arrancando-os<br />
da planta ou causando danos físicos aos tecidos vegetais<br />
por fricção, além da perda <strong>de</strong> água e a<strong>um</strong>ento das áreas necrosadas<br />
nas folhas, provocando reduções na produção (Pommer,<br />
2003).<br />
Recomenda-se implantar quebra-ventos para <strong>de</strong>ter os<br />
ventos dominantes, <strong>de</strong> preferência em forma <strong>de</strong> L, dispostas em<br />
filas duplas ou triplas para fornecer melhor proteção (figura 3).<br />
No caso <strong>de</strong>sse exemplo, os ventos dominantes são provenientes<br />
do su<strong>de</strong>ste.<br />
Figura 3. Localização e disposição <strong>de</strong> quebra-ventos em pomares<br />
(Fachinello et al., 1996).<br />
Quando forem utilizadas espécies <strong>de</strong> crescimento lento,<br />
recomenda-se que o quebra-vento seja implantado <strong>de</strong> 1 a 3 anos<br />
antes do plantio da cultura. Como isso nem sempre é possível,
24<br />
po<strong>de</strong>-se utilizar <strong>um</strong>a espécie <strong>de</strong> porte mais baixo, porém com<br />
crescimento inicial rápido. Com isso, consegue-se <strong>um</strong>a proteção<br />
na fase inicial da cultura, que é <strong>um</strong>a fase bastante <strong>de</strong>licada<br />
para a maioria das espécies, <strong>de</strong>pois, com o passar do tempo,<br />
po<strong>de</strong>-se eliminar essas espécies, <strong>de</strong>ixando-se o quebra-vento<br />
<strong>de</strong>finitivo, segundo Fachinello et al. (1996).<br />
3.6. Irrigação<br />
De acordo com Pommer (2003), a irrigação po<strong>de</strong> ser<br />
superficial, localizada ou subterrânea. Os principais sistemas <strong>de</strong><br />
irrigação localizada são gotejamento e microaspersão.<br />
No gotejamento, a água é aplicada pontualmente em gotas<br />
através dos gotejadores, que possuem orifícios <strong>de</strong> diâmetro<br />
muito reduzido, diretamente sobre a zona radicular da planta.<br />
Na microaspersão, a água é aspergida pelos emissores,<br />
em círculos <strong>de</strong> 1 a 3 m <strong>de</strong> raio, po<strong>de</strong>ndo atingir até 5 m.<br />
Esses sistemas apresentam como vantagem alta eficiência<br />
<strong>de</strong> aplicação, redução no escoamento artificial, economia <strong>de</strong><br />
água, energia e mão-<strong>de</strong>-obra, além <strong>de</strong> permitir fertirrigação e<br />
não interferir nos tratos fitossanitários.<br />
A irrigação localizada é usada, geralmente, sob a forma<br />
<strong>de</strong> sistema fixo constituído <strong>de</strong> tantas linhas laterais quantas forem<br />
necessárias para suprir toda a área e, portanto, não há movimento<br />
das linhas laterais. Porém, somente <strong>de</strong>terminado número<br />
<strong>de</strong> linhas laterais funciona por vez a fim <strong>de</strong> minimizar a capacida<strong>de</strong><br />
do cabeçal <strong>de</strong> controle, conforme po<strong>de</strong> ser observado<br />
na figura 14 na página 58 (Bernardo, 1995).<br />
3.7. Plantio<br />
Para essa prática po<strong>de</strong>-se adquirir a muda <strong>de</strong> <strong>um</strong>a fonte
25<br />
idônea, proporcionando <strong>um</strong>a maior segurança <strong>de</strong> estarem isentas<br />
<strong>de</strong> viroses ou outras doenças.<br />
A enxertia <strong>de</strong> campo é <strong>um</strong>a modalida<strong>de</strong> muito utilizada<br />
no Brasil, sendo a muda enxertada em local <strong>de</strong>finitivo na maioria<br />
das vezes. Nesse caso, as mudas do porta-enxerto são plantadas<br />
durante os meses <strong>de</strong> julho e agosto e após <strong>um</strong> ano é realizada<br />
a enxertia, sendo as mais comuns garfagem (figura 4) e<br />
borbulhia, segundo Kuhn (2003).<br />
Figura 4. Encaixe do garfo no porta-enxerto (Embrapa/<br />
CNPTIA, 2005)<br />
Em regiões <strong>de</strong> clima tropical com manejo da irrigação, a<br />
enxertia ou o plantio das mudas já enxertadas po<strong>de</strong>m ser feitos<br />
em qualquer época do ano porque a planta vegeta durante todo<br />
esse período. Entretanto, <strong>de</strong>ve-se dar preferência à realização<br />
durante a estação chuvosa, pois as temperaturas mais amenas e<br />
a maior disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> água favorecem o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
mais rápido das plantas.<br />
O plantio <strong>de</strong>ve ser efetuado pelo menos 30 dias após a<br />
adubação básica em covas previamente preparadas. Após o<br />
plantio das mudas enxertadas ou após a brotação da enxertia <strong>de</strong><br />
campo, as mudas <strong>de</strong>vem ser conduzidas em haste única, mediante<br />
a eliminação <strong>de</strong> brotações laterais, mantendo-se o tronco<br />
ereto, amarrado ao tutor (Leão e Soares, 2000).
26<br />
3.8. Tratos Culturais<br />
3.8.1. Poda <strong>de</strong> formação<br />
O objetivo <strong>de</strong>ssa poda é dar a forma a<strong>de</strong>quada à planta<br />
proporcionando <strong>um</strong>a altura <strong>de</strong> tronco, do solo às primeiras ramificações<br />
da copa, e <strong>um</strong>a boa estrutura <strong>de</strong> ramos para a exploração<br />
vitícola (Pommer, 2003).<br />
Essa poda é realizada no inverno, antes do início da brotação.<br />
As mudas são conduzidas mediante sucessivas amarrações<br />
junto ao tutor e podadas <strong>de</strong> maneira que permaneçam até 8<br />
gemas no ramo. Se o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>ssas mudas não for<br />
satisfatório, <strong>de</strong>vem ser podados a <strong>um</strong>a altura <strong>de</strong> 2 a 3 gemas <strong>de</strong><br />
sua base. No ano seguinte é feito <strong>um</strong> <strong>de</strong>sponte na muda, na altura<br />
do primeiro arame, forçando a brotação lateral e o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
das feminelas (brotação, ramo antecipado) que serão<br />
conduzidas no arame, dando origem aos braços da vi<strong>de</strong>ira.<br />
A poda <strong>de</strong> formação (figura 5) é concluída no terceiro ano<br />
(Kuhn, 2003).<br />
3.8.2. Poda <strong>de</strong> frutificação<br />
Essa poda é feita quando a planta está em repouso vegetativo.<br />
Consiste em preparar a vi<strong>de</strong>ira para a produção da próxima<br />
safra, eliminando os sarmentos mal localizados ou fracos<br />
e ramos ladrões (Kuhn, 2003).<br />
Para as varieda<strong>de</strong>s americanas é indicado a poda curta<br />
em que os ramos podados ficam com no máximo três gemas,<br />
passando a constituir os esporões. Na poda longa, os ramos podados<br />
apresentam quatro ou mais gemas, dando origem às varas<br />
e a poda mista é aquela em que as plantas ficam com varas e<br />
esporões (Pommer, 2003).
27<br />
Figura 5. Poda <strong>de</strong> formação: A - enxerto ou muda; B – condução<br />
da muda; C – <strong>de</strong>sponta; D – condução das feminelas; E –<br />
poda seca (Kuhn, 2003).<br />
3.8.3. Poda ver<strong>de</strong><br />
Segundo Leão e Soares (2000), a poda ver<strong>de</strong> compreen<strong>de</strong><br />
as seguintes operações manuais: <strong>de</strong>sbrota, <strong>de</strong>sfolha, eliminação<br />
<strong>de</strong> gavinhas, <strong>de</strong>sponte e <strong>de</strong>sbaste <strong>de</strong> cachos.<br />
Os principais objetivos da poda ver<strong>de</strong> são: conduzir a<br />
seiva para os órgãos da planta que estão requerendo em maior<br />
quantida<strong>de</strong>, alcançando-se <strong>um</strong> equilíbrio <strong>de</strong> vigor das brotações<br />
e favorecendo a frutificação; facilitar o pegamento dos frutos, a<br />
maturação a<strong>de</strong>quada e a obtenção <strong>de</strong> cachos com excelente aspecto<br />
visual; corrigir erros, eventualmente, cometidos na poda<br />
seca (podar os braços da vi<strong>de</strong>ira que foram <strong>de</strong>spontados, <strong>de</strong>i-
28<br />
xando no máximo seis gemas; Kuhn, 2003) e; permitir <strong>um</strong>a<br />
melhor distribuição dos ramos e da área foliar da planta, a<strong>um</strong>entando<br />
a eficiência fotossintética e promovendo <strong>um</strong> melhor<br />
controle fitossanitário.<br />
3.8.3.1. Desbrota<br />
Os ramos que nascem do caule, brotações fracas e em<br />
excesso e brotações duplas ou triplas, originadas da mesma<br />
gema, <strong>de</strong>vem ser eliminados nessa operação. Evita-se <strong>de</strong>ssa<br />
maneira, o <strong>de</strong>sperdício <strong>de</strong> seiva para essas partes supérfluas,<br />
favorecendo o seu aproveitamento para as partes mais importantes<br />
da planta.<br />
Essa operação é realizada quando as brotações atingem<br />
o comprimento <strong>de</strong> 8 a 15 cm, aproximadamente. Deve-se <strong>de</strong>ixar<br />
em torno <strong>de</strong> duas a três brotações <strong>de</strong> forma bem distribuída em<br />
cada vara produtiva e, sempre que possível, <strong>um</strong>a na extremida<strong>de</strong><br />
e outra na base.<br />
Nos esporões, <strong>de</strong>ve-se manter <strong>um</strong>a brotação, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte<br />
da presença ou não <strong>de</strong> cacho, nunca <strong>de</strong>ixar duas brotações<br />
na mesma gema, eliminando-se sempre a mais fraca.<br />
Nos ramos mais velhos, para dar origem aos esporões<br />
da poda seguinte, <strong>de</strong>ve-se manter todas as brotações que apresentarem<br />
condições <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento nos braços primários e<br />
secundários (Leão e Soares, 2000).<br />
3.8.3.2. Desnetamento e eliminação <strong>de</strong> gavinhas<br />
O <strong>de</strong>snetamento é a eliminação dos ramos secundários<br />
que aparecem nas axilas das folhas, pois impe<strong>de</strong>m a aeração da<br />
planta e consomem substâncias nutritivas. Quando já se encontra<br />
<strong>de</strong>senvolvido, o neto é cortado no ápice, ficando as folhas<br />
basais. Se, porém, for recém-formado, o corte é feito na base<br />
junto ao ramo do qual se originou (Pommer, 2003).
29<br />
Essa operação é realizada durante a fase <strong>de</strong> crescimento<br />
vegetativo ou pré-floração juntamente com a eliminação <strong>de</strong> gavinhas,<br />
ramos terciários da vi<strong>de</strong>ira que surgem nas axilas das<br />
folhas, e também funcionam como ladrão da seiva além <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />
causar o enforcamento dos ramos.<br />
O crescimento excessivo <strong>de</strong>sses ramos provoca <strong>de</strong>sequilíbrio<br />
nutricional da planta e prejudica o <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
brotação, segundo Leão e Soares (2000).<br />
3.8.3.3. Desfolha<br />
A <strong>de</strong>sfolha é executada geralmente 30 dias antes da colheita,<br />
quando a vi<strong>de</strong>ira apresenta vegetação muito <strong>de</strong>nsa, impossibilitando<br />
boa aeração e, em casos extremos, impe<strong>de</strong> que os<br />
tratamentos fitossanitários atinjam, <strong>de</strong> forma eficiente, todas as<br />
partes da planta. Deve-se evitar a retirada das folhas opostas ao<br />
cacho ou basais, priorizando a retirada das folhas que encobrem<br />
os cachos, pois essas atrapalham na aeração, insolação e tratamentos<br />
fitossanitários nos cachos (Pommer, 2003).<br />
3.9. Repouso<br />
Deve haver <strong>um</strong> período <strong>de</strong> repouso <strong>de</strong> 30 dias entre <strong>um</strong>a<br />
safra e outra. Esse período é <strong>de</strong>terminado pela diminuição quase<br />
total da irrigação, tomando o cuidado <strong>de</strong> manter o nível correto<br />
<strong>de</strong> <strong>um</strong>ida<strong>de</strong> para evitar o estresse hídrico das plantas. Logo<br />
após esse repouso, <strong>de</strong>ve-se realizar a poda <strong>de</strong> frutificação, dando<br />
início a <strong>um</strong> novo ciclo (Pommer, 2003).<br />
3.10. Doenças<br />
3.10.1. Antracnose<br />
Segundo Farjado (2003), a antracnose da vi<strong>de</strong>ira é causada<br />
pelo fungo Elsinoe ampelina, originária da Europa, ocorre
30<br />
em todas as regiões vitícolas e é consi<strong>de</strong>rada <strong>um</strong>a das mais importantes<br />
doenças.<br />
Produz lesões circulares, com margens escuras em todas<br />
as partes ver<strong>de</strong>s da planta (folhas, ramos, gavinhas, inflorescências<br />
e frutos), principalmente quando em <strong>de</strong>senvolvimento inicial,<br />
em tecidos tenros. No limbo, pecíolo e nervura das folhas,<br />
aparecem, inicialmente, pequenas manchas castanho-escuras<br />
que posteriormente necrosam e causam <strong>de</strong>formações e/ou perfurações<br />
(figura 6). As lesões nas folhas, freqüentemente muito<br />
n<strong>um</strong>erosas, po<strong>de</strong>m permanecer isoladas ou coalescer, formando<br />
gran<strong>de</strong>s áreas necróticas. A paralisação do crescimento da parte<br />
afetada provoca a formação <strong>de</strong> pregas que levam ao enrugamento<br />
da folha.<br />
Figura 6. Lesões <strong>de</strong> antracnose na folha (Pearson e Goheen,<br />
1988)<br />
Aparecem cancros profundos <strong>de</strong> contorno irregular e<br />
bem <strong>de</strong>finido nos ramos (figura 7); nas pontas dos brotos surgem<br />
lesões que coalescem, dando impressão <strong>de</strong> queimaduras<br />
(Grigoletti e Sônego, 1993).
31<br />
Quando o ataque ocorre na fase <strong>de</strong> floração, observa-se<br />
<strong>um</strong> escurecimento e <strong>de</strong>struição das flores, nas bagas há ocorrência<br />
<strong>de</strong> manchas arredondadas, que tornam o tecido m<strong>um</strong>ificado<br />
e escuro (Kuhn et al., 1996).<br />
Figura 7. Lesões <strong>de</strong> antracnose no ramo (Pearson e Goheen,<br />
1988)<br />
3.10.2.Míldio<br />
Segundo Grigolletti e Sônego (1993), o míldio causado<br />
pelo fungo Plasmopara viticola é consi<strong>de</strong>rado a doença fúngica<br />
<strong>de</strong> maior importância para a viticultura no Brasil.<br />
Afeta todas as partes ver<strong>de</strong>s e em <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
vi<strong>de</strong>ira, sendo que os estágios mais críticos ocorrem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
pré-floração até início da frutificação (Sônego e Czermainski,<br />
1999).<br />
Nas folhas, o primeiro sintoma se caracteriza pelo aparecimento<br />
da mancha-<strong>de</strong>-óleo na face superior (figura 8), <strong>de</strong><br />
coloração ver<strong>de</strong>-clara. Na face inferior aparecem estruturas esbranquiçadas<br />
que são os órgãos <strong>de</strong> frutificação do fungo. As<br />
áreas da folha infectada sofrem <strong>de</strong>ssecamento e tornam-se marrons.<br />
Freqüentemente, toda a folha seca e posteriormente cai.
32<br />
Figura 8. Sintoma <strong>de</strong> míldio na folha <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>ira (mancha óleo)<br />
Na floração, o patógeno provoca o escurecimento e a<br />
<strong>de</strong>struição das flores afetadas, sintomas muito semelhantes aos<br />
ocasionados pela antracnose.<br />
As bagas, quando atingem mais da meta<strong>de</strong> do seu <strong>de</strong>senvolvimento<br />
ao sofrerem ataque do fungo, apresentam coloração<br />
pardo-escura, e são facilmente <strong>de</strong>stacadas do cacho (figura<br />
9). Os ramos infectados apresentam coloração marromescura,<br />
com aspecto escaldado. Os nós são mais sensíveis do<br />
que os entrenós, <strong>de</strong> acordo com Farjado (2003).
Figura 9. Sintoma <strong>de</strong> míldio nas bagas <strong>de</strong> uva (Pearson e Goheen,<br />
1988)<br />
3.10.3. Oídio<br />
33<br />
Essa doença é causada pelo fungo Uncinula necator e<br />
também é conhecida por cinza ou mufeta. Ocorre com maior<br />
freqüência nas regiões <strong>de</strong> clima quente e com baixa <strong>um</strong>ida<strong>de</strong><br />
relativa do ar (Kuhn et al., 1996).<br />
Desenvolve-se na superfície dos órgãos ver<strong>de</strong>s (brotos,<br />
folhas e bagas), <strong>de</strong>ixando <strong>um</strong> pó acinzentado (figura 10) que se<br />
<strong>de</strong>spren<strong>de</strong> facilmente (Kuhn et al., 1996).<br />
As bagas apresentam cicatrizes que posteriormente po<strong>de</strong>m<br />
rachar, expondo as sementes, permitindo a entrada <strong>de</strong> organismos<br />
que causam podridões (Farjado, 2003).
34<br />
Figura 10. Sintoma <strong>de</strong> oídio nas bagas <strong>de</strong> uva<br />
3.10.4.Podridão seca<br />
Causada pelo fungo Botryodiplodia theobromae, essa<br />
doença também é conhecida por “morte <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte”.<br />
Apresenta queima ou seca <strong>de</strong> ponteiros e folhas; necrose<br />
<strong>de</strong> cor escura, manchas escuras, geralmente longitudinais e salteadas;<br />
diminuição do vigor ou crescimento vegetativo; dimuinuição<br />
da produtivida<strong>de</strong>, perda <strong>de</strong> turgescência e morte.<br />
A penetração do fungo, em sua maioria, ocorre através<br />
<strong>de</strong> ferimentos causados à planta ou através <strong>de</strong> aberturas naturais<br />
do tecido vegetal, quando a incidência do fungo no pomar é<br />
alta. Como esse fungo não é sistêmico, não é disseminado pela<br />
seiva no interior da planta. A infecção é localizada e progressiva,<br />
<strong>de</strong>struindo célula por célula, até penetrar no interior do lenho,<br />
segundo Leão e Soares (2000).<br />
3.10.5.Cancro bacteriano<br />
Causada pela bactéria Xanthomonas campestris pv. viticola,<br />
é responsável pela morte <strong>de</strong> plantas e eliminação <strong>de</strong> po-
35<br />
mares na Região do Vale do São Francisco, po<strong>de</strong> ocorrer <strong>de</strong><br />
forma sistêmica (infecta toda a planta). O patógeno é transmitido<br />
principalmente através do material propagativo infectado e<br />
por meio <strong>de</strong> ferramentas utilizadas nas operações <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbrota,<br />
poda, raleio <strong>de</strong> bagas e colheita (Embrapa/CNPTIA, 2005).<br />
Nos ramos, pecíolos e engaços po<strong>de</strong> provocar manchas<br />
<strong>de</strong> coloração escura, alongadas e irregulares. Com a evolução<br />
da infecção as lesões se transformam em cancros.<br />
Nas folhas, observam-se lesões escuras, angulares, pequenas<br />
e que ao coalescerem necrosam gran<strong>de</strong>s áreas do limbo<br />
foliar.<br />
Po<strong>de</strong>m ocorrer lesões arredondadas, atingindo <strong>de</strong> 1 a 3<br />
mm nos frutos, segundo Freire e Oliveira (2001).<br />
No Brasil, ainda não há produtos registrados no Ministério<br />
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o controle<br />
do cancro-bacteriano. Entretanto, produtos à base <strong>de</strong> cobre têm<br />
sido utilizados em pulverizações e pincelamentos (Farjado,<br />
2003).<br />
3.10.6.Vírus do enrolamento da folha da vi<strong>de</strong>ira<br />
A virose do enrolamento da folha ocorre <strong>de</strong> forma generalizada<br />
em todos os países vitícolas do mundo. Causa sérios<br />
prejuízos, afetando o número, o peso e o tamanho dos cachos,<br />
além <strong>de</strong> diminuir o teor <strong>de</strong> açúcar da uva e a longevida<strong>de</strong> da<br />
planta. (Embrapa/CNPTIA, 2005).<br />
Esta doença é causada por <strong>um</strong> complexo <strong>de</strong> oito vírus<br />
(Grapevine leafroll-associated virus, GLRaV-1 a -8), embora<br />
cada <strong>um</strong> dos vírus do complexo possa ocorrer <strong>de</strong> forma isolada<br />
(Embrapa/CNPTIA, 2005).<br />
Os sintomas variam com as condições climáticas, época<br />
do ano, fertilida<strong>de</strong> do solo, com a cultivar, etc. Em plantas muito<br />
afetadas, os sintomas po<strong>de</strong>m começar a se pronunciar a partir<br />
da floração, porém o mais com<strong>um</strong> é na época próxima à matu-
36<br />
ração da uva. O sintoma mais característico da doença é o enrolamento<br />
dos bordos da folha para baixo, observado com relativa<br />
facilida<strong>de</strong> nas cultivares viníferas tintas e brancas, embora possa<br />
ocorrer infecção sem ocorrer enrolamento dos bordos.<br />
Os sintomas aparecem sempre a partir da base dos ramos,<br />
evoluindo para as <strong>de</strong>mais folhas da extremida<strong>de</strong>. Na cultivar<br />
Isabel, a redução no crescimento é o sintoma mais evi<strong>de</strong>nte.<br />
Nos cachos <strong>de</strong> plantas muito afetadas, a maturação é irregular e<br />
retardada; o número e o tamanho dos cachos são menores e as<br />
plantas tornam-se totalmente <strong>de</strong>finhadas (Farjado, 2003).<br />
O controle <strong>de</strong> viroses <strong>de</strong>ve ser feito com a utilização <strong>de</strong><br />
materiais propagativos sadios; seleção sanitária; termoterapia<br />
associada ao cultivo in vitro e controle <strong>de</strong> vetores.<br />
A tabela 4 apresenta os princípios ativos que são indicados<br />
para o controle cada doença e suas respectivas eficácias,<br />
doses, intervalos entre aplicações e classe toxicológica.<br />
Tabela 4. Doenças fúngicas da vi<strong>de</strong>ira e recomendações para o<br />
controle químico. Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, Bento<br />
Gonçalves, 2003.
Doença/<br />
Patógeno<br />
Antracnose<br />
(Elsinoe ampelina)<br />
Míldio<br />
(Plasmopara<br />
vitícola)<br />
Podridão seca<br />
(Botryodiplodia<br />
theobromae)<br />
Oídio (Uncinula<br />
necator)<br />
Princípio<br />
Ativo<br />
Captan<br />
Folpet<br />
Diathianon<br />
Clorothalonil<br />
Difenoconazole<br />
Imibenconazole<br />
Tiafanato<br />
metílico<br />
Propineb<br />
Diathinon<br />
Fenemidone<br />
Mancozeb<br />
Folpet<br />
Metalaxyl +<br />
Mancozeb<br />
Cymoxanil +<br />
Famoxadone<br />
Cymoxanil +<br />
Maneb<br />
Iprovalicarb +<br />
Propineb<br />
Benalaxyl +<br />
Mancozeb<br />
Azoxystrobin<br />
Fosetyl-Al<br />
Captan<br />
Calda bordalesa<br />
(pulverização)<br />
Pasta bordalesa<br />
(pincelamento)<br />
Tebuconazole +<br />
Tinta plástica<br />
látex (pincela-<br />
mento)<br />
Enxofre<br />
Fanarimol<br />
Triadimenol<br />
Tebuconazole<br />
Difeconazole<br />
Pyrazophos<br />
Eficácia<br />
(a)<br />
X<br />
X<br />
XXX<br />
X<br />
XXX<br />
XXX<br />
XX<br />
XX<br />
XXX<br />
SI<br />
XX<br />
XX<br />
XXX<br />
XX<br />
XXX<br />
XXX<br />
XX<br />
XX<br />
XX<br />
XX<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
XXX<br />
XXX<br />
XXX<br />
XXX<br />
XX<br />
Dose (i.a)<br />
(g/100L)<br />
125<br />
65<br />
93,75<br />
200<br />
2 a 3<br />
15<br />
49<br />
210<br />
93,75<br />
15<br />
200 a 280<br />
65<br />
216<br />
31,5<br />
180<br />
135<br />
146<br />
12<br />
200<br />
120<br />
1,50%<br />
2%<br />
2 ml em 1<br />
litro <strong>de</strong><br />
tinta látex<br />
240 a 320<br />
2,4<br />
15,5 a<br />
18,7<br />
25<br />
2 a 3<br />
18<br />
Intervalo<br />
entre<br />
aplicações<br />
(dias)<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
12 a 14<br />
7 a 15<br />
10 a 12<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
5 a 7<br />
5 a 7<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
7 a 10<br />
5 a 7<br />
7 a 10<br />
10 a 15<br />
10 a 15<br />
10 a 14<br />
12 a 14<br />
7 a 14<br />
Perído<br />
<strong>de</strong><br />
carência<br />
1<br />
1<br />
21<br />
7<br />
21<br />
7<br />
14<br />
(a) Eficácia observada a campo. X = até 70%; XX = 70% a 90%; XXX = > 90% e SI = sem informação<br />
*CT = Classe Toxicológica<br />
Fonte: Farjado (2003)<br />
7<br />
21<br />
7<br />
21<br />
1<br />
21<br />
7<br />
7<br />
10<br />
21<br />
7<br />
15<br />
1<br />
7<br />
15<br />
30<br />
14<br />
21<br />
35<br />
37<br />
CT<br />
*<br />
III<br />
IV<br />
II<br />
II<br />
I<br />
II<br />
III<br />
II<br />
II<br />
III<br />
III<br />
IV<br />
II<br />
III<br />
III<br />
III<br />
III<br />
IV<br />
IV<br />
III<br />
IV<br />
II<br />
III<br />
II<br />
I<br />
II
38<br />
3.11. Pragas<br />
3.11.1. Pérola-da-terra<br />
A pérola-da-terra (Eurhizococcus brasiliensis) é <strong>um</strong>a<br />
cochonilha subterrânea que ataca as raízes <strong>de</strong> várias frutíferas<br />
(figura 11), entretanto, é consi<strong>de</strong>rada praga chave apenas na<br />
cultura da vi<strong>de</strong>ira (Hickel, 1996).<br />
Figura 11. Pérola-da-terra em raízes da vi<strong>de</strong>ira (Embrapa/CNPTIA,<br />
2005)<br />
As plantas afetadas, geralmente, apresentam lesões superficiais<br />
pretas nas raízes por causa das exsudações da praga,<br />
po<strong>de</strong> provocar murchamento progressivo, secamento e queda<br />
das folhas e, conseqüentemente, a morte da planta (Gallo et al.,<br />
2002).<br />
O controle químico da pérola-da-terra po<strong>de</strong> ser feito<br />
com o Tiametoxam 1% e Imidacloprid 70 % (tabela 5)<br />
Tabela 5 - Inseticidas recomendados para o controle da pérolada-terra<br />
(Eurhizococcus brasiliensis) na cultura da<br />
vi<strong>de</strong>ira. Bento Gonçalves, RS, 2002.
Inseticida<br />
Ida<strong>de</strong><br />
das<br />
plantas<br />
(anos)<br />
Dose ( em<br />
g <strong>de</strong> produtocomercial<br />
/<br />
planta)<br />
Actara 10 GR 1 12-20<br />
(Tiametoxam,<br />
1%)<br />
3 30-40<br />
Premier 700 1 0,2-0,3<br />
(Imidacloprid,<br />
70%)<br />
3 0,5-0,8<br />
Fonte: Kuhn (2003)<br />
3.11.2. Filoxera<br />
Classe toxicológica<br />
39<br />
Carência<br />
(dias)<br />
2 20-30 IV 45<br />
2 0,3-0,5 IV 60<br />
A filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) é <strong>um</strong> inseto sugador<br />
que se apresenta na forma alada ou áptera (Kuhn, 2003).<br />
As plantas atacadas por esse inseto, apresentam <strong>um</strong><br />
crescimento retardado, com ramos mais curtos e folhas menores;<br />
as bagas quase não se <strong>de</strong>senvolvem e mudam <strong>de</strong> cor precocemente.<br />
Nas varieda<strong>de</strong>s americanas ocorre formação <strong>de</strong> galhas<br />
avermelhadas nas folhas em reação às picadas do inseto (Gallo<br />
et al., 2002).<br />
O controle químico da filoxera <strong>de</strong>verá ser realizado com<br />
Fenitrotiom ou Paration metil, que são os inseticidas registrados<br />
pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, para o<br />
controle <strong>de</strong> filoxera (tabela 6).<br />
Tabela 6 - Inseticidas registrados no Ministério da Agricultura,<br />
Pecuária e Abastecimento para o controle <strong>de</strong> filoxera.<br />
Bento Gonçalves, RS, 2000.<br />
Praga Inseticidas Dosagem Carência Classe toxi-
40<br />
Filoxera<br />
(Daktulosphaira<br />
vitifoliae)<br />
Ingrediente<br />
ativo<br />
Fenitrotiom<br />
Paration<br />
metil<br />
Fonte: Farjado (2003)<br />
Produto<br />
comercial<br />
S<strong>um</strong>ithion<br />
500<br />
Bravik<br />
600 CE<br />
Folidol<br />
600<br />
Folisuper<br />
3.11.3. Cochonilha-parda<br />
(mL/100L) (dias) cológica<br />
150 14<br />
100 15<br />
A cochonilha-parda (Parthenolecani<strong>um</strong> persicae) apresenta<br />
<strong>um</strong>a carapaça oval convexa <strong>de</strong> coloração pardaacizentada,<br />
com estrias escuras no dorso. É <strong>um</strong> inseto que suga<br />
a seiva da planta, provocando fitotoxida<strong>de</strong>; <strong>de</strong>positam excreções<br />
açucaradas nas folhas resultando no aparecimento da f<strong>um</strong>agina<br />
e, às vezes, transmitem agentes patogênicos.<br />
Figura 12. Grupamento da cochonilha parda em ramos <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>ira<br />
(Embrapa/CNPTIA, 2005).<br />
Ataca, geralmente, os ramos mais novos <strong>de</strong> forma agregada<br />
(figura 12); as brotações tem <strong>um</strong>a redução do crescimento;<br />
a produção é afetada e em ataques intensos, a planta po<strong>de</strong> secar,<br />
segundo Kuhn (2003).<br />
II<br />
I<br />
I<br />
I
3.11.4. Cochonilhas da parte aérea<br />
41<br />
Essas cochonilhas (Hemiberlesia lataniae, Pseudaulacaspis<br />
pentagona) também conhecidas como cochonilhas do<br />
tronco ou cochonilhas do lenho são circulares, os machos são<br />
alados enquanto as fêmeas são ápteras.<br />
Elas formam gran<strong>de</strong>s colônias ao longo do tronco e haste,<br />
sugando a seiva e po<strong>de</strong>ndo <strong>de</strong>bilitar os ramos, levando-os à<br />
morte (Gallo et al., 2002).<br />
3.11.5. Cochonilha-algodão<br />
A cochonilha-algodão (Icerya schrottkyi) é oval, rosada,<br />
<strong>de</strong>sprovida <strong>de</strong> carapaça e com o corpo coberto por <strong>um</strong>a massa<br />
<strong>de</strong> cera branca. Inci<strong>de</strong> sobre ramos e tronco, enfraquecendo a<br />
planta e causando perda da produção (Kuhn, 2003).<br />
As cochonilhas po<strong>de</strong>rão ser controladas quimicamente<br />
com os inseticidas registrados, que são Paration metil, Óleo<br />
emulsionável e Fenitrotiom (tabela 7).<br />
3.11.6. Ácaro-rajado<br />
Segundo Farjado (2003), o ácaro-rajado (Tetranychus<br />
urticae) me<strong>de</strong> aproximadamente 0,5 mm <strong>de</strong> comprimento, sua<br />
coloração é amarelo-esver<strong>de</strong>ada com duas manchas escuras no<br />
dorso do corpo. Vive principalmente na página inferior das folhas<br />
e tece teia.<br />
O sintoma inicial é o aparecimento <strong>de</strong> pequenas manchas<br />
cloróticas nas folhas, entre nervuras principais e posteriormente,<br />
o local <strong>de</strong> ataque fica necrosado. Na página superior<br />
das folhas correspon<strong>de</strong>nte às lesões, surgem tons avermelhados.<br />
Altas infestações po<strong>de</strong>m causar <strong>de</strong>sfolhamento e também ataque<br />
aos cachos, causando bronzeamento das bagas.
42<br />
O controle químico <strong>de</strong> ácaro-rajado po<strong>de</strong> ser feito com<br />
Abamectin, que apresenta <strong>um</strong>a carência <strong>de</strong> 28 dias e classe toxicológica<br />
III (tabela 8).<br />
Tabela 7 - Inseticidas registrados no Ministério da Agricultura,<br />
Pecuária e Abastecimento para o controle <strong>de</strong> cochonilhas.<br />
Bento Gonçalves, RS, 2000.<br />
Inseticidas<br />
Praga Ingrediente Produto<br />
ativo comercial<br />
Cochonilha-parda<br />
(Parthenolecani<strong>um</strong><br />
Paration<br />
metil +<br />
Óleo emulsionável<br />
Bravik<br />
600 CE<br />
Folidol<br />
600<br />
Folisuper<br />
persicae) e Cocho- Fenitrotiom<br />
nilha-algodão(I- + óleo emul- S<strong>um</strong>ithion<br />
cerya schrottkyi) sionável 500<br />
Óleo emulsi- Iharol<br />
onável Triona<br />
Cochonilhas da<br />
parte aérea<br />
Paration<br />
metil<br />
SR: sem restrições<br />
Fonte: Farjado (2003)<br />
Bravik<br />
600 CE<br />
Folidol<br />
600<br />
Folisuper<br />
Dosagem<br />
(mL/100L)<br />
Carência<br />
(dias)<br />
100 15<br />
150<br />
500 a 1000<br />
500 a 1000<br />
14<br />
SR<br />
SR<br />
100 15<br />
Classe toxicológica<br />
Tabela 8 - Inseticidas registrados no Ministério da Agricultura,<br />
Pecuária e Abastecimento para o controle <strong>de</strong> ácarorajado<br />
na vi<strong>de</strong>ira. Bento Gonçalves, RS, 2000.<br />
Praga Inseticidas Dosagem Carência Classe toxi-<br />
I<br />
I<br />
I<br />
II<br />
IV<br />
IV<br />
I<br />
I<br />
I
Ácaro rajado<br />
(Tetranychus urticae)<br />
Ingrediente<br />
ativo<br />
Abamectin<br />
Fonte: Farjado (2003)<br />
Produto<br />
comercial<br />
Vertimec<br />
18 CE<br />
3.11.7. Formigas corta<strong>de</strong>iras<br />
43<br />
(mL/100L) (dias) cológica<br />
80 a 100 28 III<br />
As formigas quenquém (Acromymex spp.) são as que<br />
ocorrem com maior freqüência nos vinhedos. Os formigueiros<br />
são pequenos e com poucas panelas, muitas vezes, <strong>um</strong>a só, parcialmente<br />
enterradas. Essas formigas são mais ativas à noite e<br />
nas horas <strong>de</strong> temperatura mais amena do dia.<br />
As formigas saúva (Atta spp.) têm ocorrência esporádica<br />
no vinhedo, porém seus formigueiros são gran<strong>de</strong>s, com muitas<br />
panelas e indivíduos, tendo alto potencial <strong>de</strong>strutivo. Também<br />
são mais ativas à noite e em dias nublados (Hickel, 1996).<br />
Causam sérios danos à vi<strong>de</strong>ira <strong>de</strong>vido ao corte <strong>de</strong> folhas,<br />
brotos e cachos. O ataque <strong>de</strong> formigas é prejudicial em<br />
qualquer fase do ciclo, porém, o dano é maior na fase <strong>de</strong> formação<br />
da planta, quando paralisa o crescimento (Embrapa/CNPUV).<br />
A tabela 9 indica os formicidas empregados para o controle<br />
químico das formigas corta<strong>de</strong>iras, os mais utilizados são<br />
as iscas formicidas.<br />
Tabela 9 - Inseticidas empregados no controle <strong>de</strong> formigas corta<strong>de</strong>iras<br />
Ingrediente<br />
ativo<br />
Nome comercial<br />
Dosagem * Formulação C.T.<br />
Sulfluramida Mirex S S = 8-10 g/m² Isca IV
44<br />
Fipronil<br />
Clorpirifós<br />
Fluramim<br />
Formicida<br />
Gran. Pikapau-<br />
S<br />
Isca Formicida<br />
Atta Mex-S<br />
Blitz<br />
Isca Formicida<br />
Landrin<br />
Isca Formicida<br />
Pyrineus<br />
QQ=10-12 g/m²<br />
formigueiro<br />
S = 6-10g/m³<br />
formigueiro<br />
QQ = 10-30<br />
g/formigueiro<br />
S = 6-10 g/m² <strong>de</strong><br />
formigueiro<br />
S = 6-10 g/m² <strong>de</strong><br />
formigueiro<br />
S = 10 g/m²<br />
QQ = 5<br />
g/formigueiro<br />
QQ = 8-10 g/<br />
formigueiro<br />
S = 5-10 g/m²<br />
formigueiro<br />
Deltametrina<br />
S e QQ = 10<br />
K-Othrine 2P<br />
g/m² formigueiro<br />
* S = Saúva; QQ = quenquém<br />
Fonte: Embrapa/ CNPTIA (2005)<br />
3.12. Colheita<br />
Isca<br />
Isca<br />
Isca<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
Isca IV<br />
Isca<br />
Isca<br />
III<br />
III<br />
Pó IV<br />
Para obter <strong>um</strong> bom suco assim como <strong>um</strong> bom <strong>de</strong>rivado<br />
<strong>de</strong> uva, vários fatores <strong>de</strong>vem ser consi<strong>de</strong>rados como por exemplo<br />
o teor <strong>de</strong> açúcar da uva, que <strong>de</strong>ve ser o maior possível, <strong>um</strong>a
45<br />
aci<strong>de</strong>z equilibrada e <strong>um</strong>a coloração intensa, que lhe confere<br />
<strong>um</strong>a característica mais atrativa (Guerra, 2003).<br />
Depen<strong>de</strong>ndo da varieda<strong>de</strong> e das condições climáticas, os<br />
frutos atingem a maturação geralmente 100 a 130 dias após a<br />
poda <strong>de</strong> frutificação e o surgimento da brotação vegetativa<br />
(Choudhury, 2001).<br />
Essa etapa <strong>de</strong>verá ser realizada nos horários mais frescos<br />
do dia, para evitar a <strong>de</strong>sidratação dos cachos. Não é aconselhável<br />
que a colheita seja realizada em dias chuvosos ou quando<br />
houver a presença <strong>de</strong> orvalho sobre as frutas (Choudhury,<br />
2001).<br />
3.13. Transporte<br />
O transporte da uva até a unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> processamento <strong>de</strong>ve<br />
ser rápido e cuidadoso, para evitar seu esmagamento, porque<br />
esse juntamente com <strong>um</strong>a má sanida<strong>de</strong>, manipulação e processamento<br />
po<strong>de</strong>rá provocar o avinagramento total ou parcial do<br />
suco (Kuhn, 2003).<br />
Os veículos <strong>de</strong> transporte <strong>de</strong>vem estar limpos, dotados<br />
<strong>de</strong> cobertura para proteção da carga e não <strong>de</strong>vem transportar<br />
animais, produtos saneantes, produtos tóxicos ou outros materiais<br />
contaminantes que possam comprometer a qualida<strong>de</strong> sanitária<br />
da matéria-prima (Anvisa, 2005).<br />
3.14. Instalação da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Processamento<br />
A posição <strong>de</strong>verá ser no sentido leste-oeste para permitir<br />
a maior penetração <strong>de</strong> luz solar, durante a manhã e à tar<strong>de</strong>,<br />
através das aberturas e sua forma <strong>de</strong>verá ser retangular ou qua-
46<br />
drada visando aproveitar melhor o espaço físico (Rizzon et al.,<br />
2003).<br />
Segundo ABIA apud Carvalho (2005), a unida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
processamento <strong>de</strong>ve ser dimensionada em local amplo, acima<br />
da sua capacida<strong>de</strong>, para permitir, quando necessário, futuras<br />
expansões na linha <strong>de</strong> produção; o local <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarte dos resíduos<br />
<strong>de</strong>verá ser distante da unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> processamento; <strong>de</strong>ve ter<br />
água <strong>de</strong> boa qualida<strong>de</strong>; disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mão-<strong>de</strong>-obra para o<br />
processamento e vias rodoviárias com condições <strong>de</strong> uso e <strong>de</strong><br />
fácil acesso.<br />
O local <strong>de</strong>ve ser bem ventilado, ter fácil acesso para a<br />
matéria-prima, ins<strong>um</strong>os e produtos finais e apresentar <strong>um</strong>a<br />
rampa com inclinação <strong>de</strong> no máximo 8% com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
conduzir a uva para a parte mais elevada construção (Rizzon et<br />
al., 2004).<br />
O piso <strong>de</strong>ve ser liso, <strong>de</strong> cerâmica impermeável, anti<strong>de</strong>rrapante,<br />
resistente à impactos e <strong>de</strong> fácil limpeza (ABIA, 2003<br />
apud Carvalho, 2005), <strong>de</strong>ve apresentar <strong>um</strong>a inclinação <strong>de</strong> 1% (1<br />
cm/m) para escoar rapidamente a água <strong>de</strong> lavagem para o exterior<br />
(Rizzon et al., 2003).<br />
Os líquidos <strong>de</strong>vem escorrer até ralos (tipo sifão ou similar),<br />
impedindo, <strong>de</strong>sta maneira, a formação <strong>de</strong> poças (ANVISA,<br />
2005).<br />
Com o objetivo <strong>de</strong> preservar o meio ambiente, a água <strong>de</strong><br />
lavagem da agroindústria <strong>de</strong>ve ser conduzida para <strong>um</strong> <strong>de</strong>pósito<br />
<strong>de</strong> tratamento <strong>de</strong> efluentes.<br />
Suas pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vem ser <strong>de</strong> alvenaria, impermeáveis,<br />
lisas e <strong>de</strong> fácil lavagem, <strong>de</strong> acordo com Rizzon et al. (2003).<br />
As janelas e outras aberturas <strong>de</strong>vem ser construídas <strong>de</strong><br />
maneira a evitar o acúmulo <strong>de</strong> sujeira e as que se comunicam<br />
com o exterior <strong>de</strong>vem ser providas <strong>de</strong> proteção anti-pragas<br />
(ANVISA, 2005). Tanto as portas como as janelas <strong>de</strong>vem apresentar<br />
aberturas fixas protegidas por telas <strong>de</strong> malha <strong>de</strong> 1 mm,<br />
que po<strong>de</strong>m ser facilmente retiradas para a limpeza.
47<br />
A área <strong>de</strong> processamento <strong>de</strong>verá ter quatro metros, no<br />
mínimo, para permitir <strong>um</strong>a boa ventilação e evitar acúmulo <strong>de</strong><br />
<strong>um</strong>ida<strong>de</strong>, segundo ABIA (2003) apud Carvalho (2005).<br />
Os estabelecimentos <strong>de</strong>vem ter il<strong>um</strong>inação natural ou<br />
artificial. A il<strong>um</strong>inação artificial <strong>de</strong>ve ser feita com lâmpadas<br />
fluorescentes protegidas contra quebras com canaletas acrílicas<br />
(ABIA,2003 apud Carvalho, 2005). As instalações elétricas <strong>de</strong>vem<br />
ser externas revestidas por tubulações isolantes e presas a<br />
pare<strong>de</strong>s e tetos (ANVISA, 2005).<br />
O teto <strong>de</strong> laje permite <strong>um</strong>a melhor vedação comparado a<br />
outros materiais e facilita a limpeza, melhorando a resistência à<br />
<strong>um</strong>ida<strong>de</strong> e vapores, segundo ABIA (2003) apud Carvalho<br />
(2005).<br />
Os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiros <strong>de</strong> limpeza<br />
pessoal auxiliar do estabelecimento <strong>de</strong>vem estar completamente<br />
separados dos locais <strong>de</strong> manipulação <strong>de</strong> alimentos e não<br />
<strong>de</strong>vem ter acesso direto e nem comunicação com estes locais<br />
(ANVISA, 2005).<br />
Deve-se evitar o uso <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira ou outro material <strong>de</strong><br />
difícil higienização porque po<strong>de</strong> ser fonte <strong>de</strong> contaminação<br />
(ANVISA, 2005).<br />
3.15. Higiene na Produção<br />
Os manipuladores <strong>de</strong> alimentos <strong>de</strong>vem ser capacitados<br />
em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças<br />
transmitidas por alimentos.<br />
Deve-se adotar procedimentos que minimizem o risco<br />
<strong>de</strong> contaminação dos alimentos e bebidas preparados, por meio<br />
da lavagem das mãos e pelo uso <strong>de</strong> luvas <strong>de</strong>scartáveis ou utensílios.<br />
O manipulador <strong>de</strong> alimentos <strong>de</strong>verá apresentar atestado<br />
médico, pois em casos <strong>de</strong> enfermida<strong>de</strong> que tenha a probabilida-
48<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong> contaminar os alimentos, ele será impedido <strong>de</strong> entrar em<br />
qualquer área <strong>de</strong> manipulação.<br />
Toda pessoa que trabalhe n<strong>um</strong>a área <strong>de</strong> manipulação <strong>de</strong><br />
alimentos <strong>de</strong>ve, enquanto em serviço, lavar e <strong>de</strong>sinfetar as mãos<br />
freqüentemente e <strong>de</strong> maneira cuidadosa com <strong>um</strong> agente <strong>de</strong> limpeza<br />
autorizado e com água corrente potável fria ou fria e quente;<br />
<strong>de</strong>ve usar uniformes brancos, botas emborrachadas, touca<br />
protetora <strong>de</strong>scartável, máscaras e luvas. Durante a manipulação,<br />
<strong>de</strong>vem ser retirados todos os objetos <strong>de</strong> adorno pessoal e é proibido<br />
todo o ato que possa originar <strong>um</strong>a contaminação <strong>de</strong> alimentos<br />
como: comer, f<strong>um</strong>ar, tossir ou outras práticas antihigiênicas,<br />
<strong>de</strong> acordo com a ANVISA (2005).<br />
A sanitização <strong>de</strong> vasilhames, utensílios metálicos e mesas<br />
em aço inox po<strong>de</strong> ser feita espalhando água fervente sobre o<br />
material, segundo Silva et al. (1999) apud Carvalho (2005).<br />
3.16. Análise <strong>de</strong> Perigos e Pontos Críticos <strong>de</strong> Controle<br />
(APPCC)<br />
De acordo com CNI/SENAI/SEBRAE (2000), para a<br />
instalação da agroindústria será adotado o Sistema APPCC (Análise<br />
<strong>de</strong> Perigos e Pontos Críticos <strong>de</strong> Controle) que associado<br />
às Boas Práticas <strong>de</strong> Fabricação (BPF), tem-se revelado <strong>um</strong>a ferramenta<br />
básica do sistema mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong> nas<br />
indústrias <strong>de</strong> alimentos.<br />
Esse sistema proporciona garantia da segurança do alimento;<br />
diminuição dos custos operacional e a<strong>um</strong>ento da lucrativida<strong>de</strong>,<br />
já que minimiza as perdas e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recolher,<br />
<strong>de</strong>struir ou reprocessar o alimento final por razões <strong>de</strong> segurança;<br />
maior credibilida<strong>de</strong> junto ao cliente (cons<strong>um</strong>idor); maior<br />
competitivida<strong>de</strong> do produto na comercialização; etc.<br />
As Boas Práticas <strong>de</strong> Fabricação são pré-requisitos fundamentais<br />
para a implantação do Sistema APPCC, pois são necessárias<br />
para controlar as possíveis fontes <strong>de</strong> contaminação
49<br />
cruzada e para garantir que o produto atenda às especificações<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e qualida<strong>de</strong>.<br />
As Portarias n° 326 <strong>de</strong> 30/07/97 da Secretaria <strong>de</strong> Vigilância<br />
Sanitária e n° 368 <strong>de</strong> 04/09/97 do Ministério da Agricultura<br />
e do Abastecimento regulamentam as condições higiênicosanitária<br />
e <strong>de</strong> boas práticas <strong>de</strong> fabricação para estabelecimentos<br />
produtores/industrializadores <strong>de</strong> alimentos.<br />
3.17. Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong><br />
Os padrões <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e qualida<strong>de</strong> para suco <strong>de</strong> uva<br />
<strong>de</strong>terminam que suco é a bebida não fermentada e não diluída<br />
através <strong>de</strong> processo tecnológico a<strong>de</strong>quado.<br />
Conforme a legislação brasileira, o suco <strong>de</strong> uva <strong>de</strong>ve apresentar<br />
no mínimo 14°Brix e aci<strong>de</strong>z total <strong>de</strong> 0,41 g/100g e no<br />
máximo 20 g/100g <strong>de</strong> açúcares totais, naturais da uva (tabela<br />
10), Ministério da Agricultura (2005).<br />
Tabela 10 - Limites analíticos estabelecido pela legislação brasileira<br />
para o suco <strong>de</strong> uva.<br />
Limite<br />
Variável<br />
Sólidos solúveis<br />
em °Brix, a 20°C<br />
Mínimo Máximo<br />
14,0 -<br />
Aci<strong>de</strong>z total ex- 0,41 -
50<br />
pressa em ácido<br />
tartárico (g/100g)<br />
Açucares totais,<br />
naturais da uva<br />
(g/100g)<br />
Aci<strong>de</strong>z volátil em<br />
ácido acético<br />
(g/100g)<br />
- 20,0<br />
- 0,05<br />
Sabores solúveis<br />
(% v/v)<br />
- 5,00<br />
Fonte: Ministério da Agricultura (2005)<br />
A elaboração <strong>de</strong>sse produto consiste no leve esmagamento,<br />
<strong>de</strong>sengaçamento, seguido <strong>de</strong> enzima (enzimagem), segue<br />
para <strong>um</strong> recipiente <strong>de</strong> aço inoxidável, on<strong>de</strong> é submetido a<br />
<strong>um</strong> aquecimento, logo após é engarrafado a vácuo em recipientes<br />
<strong>de</strong> vidro esterilizados conforme po<strong>de</strong> ser observado no fluxograma<br />
(figura 13), Guerra, 2003.<br />
Recepção Lavagem Desengaçamento/<br />
esmagemento<br />
Filtragem<br />
Prensagem<br />
Enzimagem<br />
Pasteurização Envase Armazenamento<br />
Figura 13. Fluxograma do suco <strong>de</strong> uva
3.17.1. Recepção<br />
51<br />
De acordo com a Portaria n° 326 <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1997<br />
da Secretaria <strong>de</strong> Vigilância Sanitária, a matéria-prima <strong>de</strong>ve ser<br />
recebida em local protegido, limpo, livre <strong>de</strong> objetos em <strong>de</strong>suso<br />
e estranhos ao ambiente, <strong>de</strong>ve ser avaliada visualmente no ato<br />
<strong>de</strong> sua aquisição para verificar as condições higiênicosanitárias,<br />
a presença <strong>de</strong> vetores e pragas e ou <strong>de</strong> seus vestígios,<br />
bem como <strong>de</strong> materiais contaminantes. A matéria-prima em<br />
condições higiênico-sanitárias insatisfatórias (cachos doentes,<br />
amassados, etc.) <strong>de</strong>ve ser rejeitada (ANVISA, 2005).<br />
De acordo com a Legislação Brasileira, o local <strong>de</strong> recepção<br />
<strong>de</strong>ve ter <strong>um</strong>a superfície <strong>de</strong> 12 m², no mínimo, suas pare<strong>de</strong>s<br />
serão revestidas <strong>de</strong> azulejo até a superficie <strong>de</strong> 2 m.<br />
3.17.2. Desengaçamento/ Esmagamento<br />
Para o processamento será necessário adquirir <strong>um</strong>a máquina<br />
<strong>de</strong>sengaça<strong>de</strong>ira-esmagadora, que tem a função <strong>de</strong> separar<br />
a ráquis da baga da uva e, <strong>de</strong>pois esmagá-la. Essa máquina é<br />
formada por <strong>um</strong> cilindro horizontal <strong>de</strong> teflon perfurado que não<br />
permite triturar a película e a ráquis. No interior do cilindro,<br />
gira <strong>um</strong> eixo com pás <strong>de</strong> tamanho variável no sentido contrário<br />
e em baixa velocida<strong>de</strong>. A baga da uva é esmagada pela passagem<br />
entre os dois rolos revestidos <strong>de</strong> borracha.<br />
Esse processo <strong>de</strong>ve ser realizado <strong>de</strong> forma lenta para<br />
não triturar a ráquis e conseqüentemente não provocar sabores<br />
in<strong>de</strong>sejáveis no produto final (Miele e Miolo, 2003).<br />
3.17.3. Enzimagem<br />
A produção do suco <strong>de</strong> uva tinta das uvas vitis labrusca,<br />
que são extremamente ricas em pectinas, necessita da utilização
52<br />
<strong>de</strong> enzimas pectolíticas afim <strong>de</strong> reduzir o muco do esmagamento<br />
prensável (Janda, 1985).<br />
3.17.4. Pasteurização<br />
Essa técnica foi <strong>de</strong>senvolvida por Lois Pasteur (1822-<br />
1895) e consiste no aquecimento do suco a 75°C a 80°C durante<br />
15 minutos eliminando as leveduras e inativando a maior<br />
parte dos microrganismos. A temperatura não <strong>de</strong>ve exce<strong>de</strong>r 90°<br />
C para evitar a caramelização, com possível gosto <strong>de</strong> cozido no<br />
suco <strong>de</strong> uva (Rizzon et al, 1998).<br />
3.17.5. Envase<br />
O engarrafamento anti-séptico necessita que a temperatura<br />
mínima do suco seja <strong>de</strong> 75° C. A seguir, à medida que o<br />
vapor vai extraindo o suco, ele é ac<strong>um</strong>ulado no fundo do recipiente<br />
e engarrafado a quente em recipientes <strong>de</strong> vidro previamente<br />
esterilizados.<br />
O suco <strong>de</strong>ve encher completamente o recipiente, e conforme<br />
vai esfriando, o nível baixa. O fechamento da garrafa<br />
<strong>de</strong>ve ser feito imediatamente, <strong>de</strong> preferência com tampinha tipo<br />
corona, sem permitir contaminação por microrganismos. O rendimento<br />
do suco <strong>de</strong> uva, por esse processo, alcança entre 50% e<br />
60% do peso da uva (Rizzon et al, 1998).<br />
As embalagens ou recipientes não <strong>de</strong>vem ter sido anteriormente<br />
utilizados para nenh<strong>um</strong>a finalida<strong>de</strong> que possam contaminar<br />
o produto. Devem ser inspecionados imediatamente<br />
antes do uso, limpos e/ou <strong>de</strong>sinfetados; quando lavados <strong>de</strong>vem<br />
ser secos antes do uso (ANVISA, 2005).<br />
3.17.6. Armazenamento<br />
Segundo a Portaria n° 326 <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1997 da
53<br />
Secretaria <strong>de</strong> Vigilância Sanitária, os ins<strong>um</strong>os <strong>de</strong>vem ser armazenados<br />
sobre estrados limpos. Não <strong>de</strong>vem ser armazenados<br />
em contato direto com o piso.<br />
4. ESTUDO DE CASO<br />
4.1. Localização<br />
A proprieda<strong>de</strong> on<strong>de</strong> a cultura e a agroindústria serão<br />
implantadas é a Fazenda Lagoa Bonita /UPIS, Campus II, que<br />
fica localizada na Rodovia BR 020 Km 12, DF 335 Km 4,8<br />
(Planaltina-DF).<br />
4.2.Escolha da Área<br />
O terreno escolhido é classificado como latossolo vermelho<br />
com latitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 15° 34’ S, permitindo <strong>um</strong>a maior insolação;<br />
longitu<strong>de</strong> 47° 43’ W; altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1.005 m, com<strong>um</strong> para o<br />
cultivo <strong>de</strong> uva (Kuhn, 2003) e 3% <strong>de</strong> <strong>de</strong>clivida<strong>de</strong>.<br />
4.3. Preparo do Solo<br />
Como a área escolhida já teve outros cultivos, serão realizadas,<br />
60 dias antes do plantio, <strong>um</strong>a roçagem utilizando-se<br />
<strong>um</strong>a roça<strong>de</strong>ira RPP 1500 própria, <strong>um</strong>a aração <strong>de</strong> 27 cm e duas<br />
gradagens niveladoras através <strong>de</strong> terceirização para a incorporação<br />
do calcário. Para o plantio das mudas serão feitos sulcos<br />
utilizando <strong>um</strong> sulcador, esse serviço também será terceirizado e<br />
as covas serão abertas com <strong>um</strong> perfurador <strong>de</strong> solo <strong>de</strong> 18” que<br />
será adquirido.<br />
Será necessário adquirir <strong>de</strong> <strong>um</strong> trator <strong>de</strong> 60 cv; <strong>um</strong>a carreta<br />
R15, com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2 ton para a distribuição do adubo<br />
e das mudas e também para servir <strong>de</strong> auxilio na colheita (Agri-
54<br />
anual, 2005).<br />
4.4. Talhões<br />
Para permitir a colheita em 10 meses do ano, a área será<br />
dividida em cinco talhões <strong>de</strong> dois hectares. Cada talhão produzirá<br />
duas vezes por ano.<br />
4.5. Adubação <strong>de</strong> Correção<br />
O solo utilizado para o estabelecimento do pomar foi<br />
analisado quimicamente, apresenta <strong>um</strong> pH <strong>de</strong> 5,5; ausência <strong>de</strong><br />
al<strong>um</strong>ínio e o teor <strong>de</strong> matéria orgânica <strong>de</strong> 51,80% (tabela 11).<br />
Tabela 11 - Análise química do solo da proprieda<strong>de</strong>. Centro<br />
Nacional <strong>de</strong> Pesquisa <strong>de</strong> Hortaliças. Laboratório<br />
<strong>de</strong> Fertilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Solos. Embrapa.<br />
pH P Na S Al H+Al K Ca+Mg Ca Mg M.O Al<br />
H2O 1:2,5<br />
mg/dm³ cmolc/dm³ g/dm³ %<br />
5,50 1,10 53 1,70 0,00 8,60 0,25 9,80 7,60 2,20 51,80 0,00<br />
Para saber a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcário a ser distribuída no<br />
terreno utilizará como indicador a saturação <strong>de</strong> bases e PRNT =<br />
100%.<br />
NC = (V1 – V2) x T<br />
PRNT<br />
O solo on<strong>de</strong> será estabelecido o pomar apresenta CTC<br />
potencial (T) = 18,65 cmolc/dm³ e saturação por bases (V1) <strong>de</strong><br />
53,9 %, portanto, serão necessárias 4,87 ton/ha <strong>de</strong> calcário dolomítico,<br />
por ter que elevar a saturação por base (V2) para 80 %<br />
para essa cultura, <strong>de</strong> acordo com Pommer (2003). A distribuição<br />
<strong>de</strong> calcário será realizada em toda a área, três meses antes<br />
da implantação da cultura, através <strong>de</strong> terceirização.
4.6. Adubação<br />
55<br />
De acordo com a análise química do solo, a quantida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) a ser utilizada por<br />
planta, nas fases <strong>de</strong> plantio, crescimento e produção, encontrase<br />
na tabela 12.<br />
Na adubação <strong>de</strong> plantio será adicionado 4 g/planta <strong>de</strong><br />
zinco e 1 g/planta <strong>de</strong> boro, além <strong>de</strong> 20 kg <strong>de</strong> esterco <strong>de</strong> curral<br />
curtido/planta.<br />
Para a adubação <strong>de</strong> plantio se utilizará 1,067 ton/ha da<br />
formulação 00-15-10, é a que mais se aproxima da recomendação<br />
da tabela 12, porque meta<strong>de</strong> do fósforo será disponibilizado<br />
com 571 kg <strong>de</strong> fosfato natural reativo, além <strong>de</strong>sses adubos será<br />
adicionado 40 kg/ha <strong>de</strong> sulfato <strong>de</strong> zinco e 18,18 kg/ha <strong>de</strong> bórax<br />
.<br />
Precisará <strong>de</strong> 772,73 kg/ha <strong>de</strong> uréia; 1,11 ton/ha <strong>de</strong> superfosfato<br />
simples e 298,84 kg/ha <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> potássio, na adubação <strong>de</strong><br />
crescimento.<br />
Serão utilizados para a adubação do 1° ciclo <strong>de</strong> produção<br />
272,72 kg/ha <strong>de</strong> uréia; 889 kg/ha <strong>de</strong> superfosfato simples e<br />
241,38 kg/ha <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> potássio.<br />
No 2° ciclo, serão usados 318,18 kg/ha <strong>de</strong> uréia; 889<br />
kg/ha <strong>de</strong> superfosfato simples e 275,86 kg/ha <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> potássio.<br />
Para o 3° ciclo serão necessários 363,64 kg/ha <strong>de</strong> uréia;<br />
1 ton/ha <strong>de</strong> superfosfato simples e 344,83 kg/ha <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong><br />
potássio.<br />
No 4° ciclo precisará <strong>de</strong> 454,55 kg/ha <strong>de</strong> uréia; 1,11<br />
ton/ha <strong>de</strong> superfosfato simples e 482,76 kg/ha <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> potássio.<br />
Para o 5° ciclo em diante, serão utilizados 545,45 kg/ha<br />
<strong>de</strong> uréia; 1,11 ton/ha <strong>de</strong> superfosfato simples e 551,72 kg/ha <strong>de</strong><br />
cloreto <strong>de</strong> potássio.
56<br />
Tabela 12 - Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nutriente necessário com base na<br />
análise <strong>de</strong> solo<br />
Fases da planta<br />
Plantio Crescimento Produção (ciclo)<br />
1° 2° 3° 4° 5 °<br />
Nitrogênio<br />
Fósforo-Melich<br />
(mg/dm³ P)<br />
----------------------- N (g/planta) ---------------------<br />
170 60 70 80 100 120<br />
---------------------- P2O5 (g/planta) ------------------<br />
< 11 160 100 80 80 90 100 100<br />
Potássio-Melich<br />
(cmolc/dm³ K)<br />
--------------------- K2O (g/planta) -------------------<br />
0,16 a 0,30 70 70 70 80 100 140 160<br />
Fonte: Leão e Soares (2000)<br />
4.7. Uso <strong>de</strong> Quebra-Ventos<br />
Para evitar possíveis problemas <strong>de</strong>scritos na recomendação<br />
técnica, será utilizado o sansão-do-campo (Mimosa caesalpineafolia)<br />
como quebra-vento para proteger a área externa e<br />
permitir a passagem apenas <strong>de</strong> <strong>um</strong>a porção do vento para o vinhedo.<br />
As mudas serão plantadas na forma <strong>de</strong> L, dispostas em<br />
filas duplas para fornecer melhor proteção (Fachinello et al.,<br />
1996), 1 ano antes da implantação do vinhedo, para atingirem a<br />
ida<strong>de</strong> adulta, sendo o espaçamento entre plantas <strong>de</strong> 25 cm. As<br />
mudas serão adquiridas <strong>de</strong> viveiro certificado do DF.<br />
4.8. Instalação do Sistema <strong>de</strong> Condução<br />
O sistema <strong>de</strong> condução escolhido será o do tipo espal<strong>de</strong>ira,<br />
por facilitar os tratos culturais, pelo fato da produção se<br />
situar em <strong>um</strong>a altura menor em relação ao sistema latada e,<br />
principalmente, por oferecer <strong>um</strong>a melhor penetração <strong>de</strong> raios
57<br />
solares no dossel vegetativo que produzirá uvas mais doces, <strong>um</strong><br />
fator importante para a fabricação do suco <strong>de</strong> uva, já que não se<br />
adicionará açúcar.<br />
Para a construção <strong>de</strong>sse sistema, empregar-se-á 3 fios <strong>de</strong><br />
arame, sendo o primeiro colocado a 1,0 m <strong>de</strong> altura e os <strong>de</strong>mais<br />
a cada 0,35 m. A distância entre postes será <strong>de</strong> 6 m.<br />
4.9. Irrigação<br />
O sistema <strong>de</strong> irrigação adotado será o gotejamento que<br />
consiste na aplicação <strong>de</strong> água n<strong>um</strong>a fração do vol<strong>um</strong>e explorado<br />
pelas raízes das plantas. Esse vol<strong>um</strong>e do solo é <strong>de</strong>nominado<br />
<strong>de</strong> bulbo molhado quando é por <strong>um</strong> gotejador. Deve-se dar <strong>um</strong>a<br />
atenção especial às formas e dimensões do bulbo molhado na<br />
camada <strong>de</strong> 0 a 20 cm por ser o local <strong>de</strong> maior concentração do<br />
sistema radicular da vi<strong>de</strong>ira (Leão e Soares, 2000).<br />
O croqui da irrigação po<strong>de</strong> ser visto na figura 14.<br />
Figura 14. Croqui <strong>de</strong> Irrigação<br />
O projeto <strong>de</strong> irrigação constará <strong>de</strong>:
58<br />
• 5 unida<strong>de</strong>s operacionais;<br />
• 1000 linhas laterais, com diâmetro <strong>de</strong> 12,5 mm, 50 m <strong>de</strong><br />
comprimento e 20 gotejadores espaçados entre si <strong>de</strong> 2,5<br />
m;<br />
• 5 linhas <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivação; com 75 mm <strong>de</strong> diâmetro e 200 m<br />
<strong>de</strong> comprimento, em cada linha serão conectadas 200 linhas<br />
laterais, 100 <strong>de</strong> cada lado espaçadas entre si <strong>de</strong> 2,0<br />
m;<br />
• Uma linha principal com 150 mm <strong>de</strong> diâmetro e 500 m<br />
<strong>de</strong> comprimento, na qual será conectada as cinco linhas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rivação;<br />
• Um cabeçal <strong>de</strong> controle, constando <strong>de</strong> <strong>um</strong> filtro <strong>de</strong> disco,<br />
<strong>um</strong> filtro <strong>de</strong> tela,<br />
• 7 registros e 2 manômetros;<br />
• Conjunto motobomba: vazão <strong>de</strong> 4,64 L/s e pressão <strong>de</strong><br />
50,75 m.c.a;<br />
• 20.000 gotejadores com vazão <strong>de</strong> 4 L/s;<br />
• Cinco válvulas reguladoras <strong>de</strong> pressão.<br />
4.10. Espaçamento<br />
O espaçamento utilizado será <strong>de</strong> 2,0 X 2,5 m, por ser<br />
recomendado tanto para as cultivares <strong>de</strong> uva utilizada como para<br />
o sistema <strong>de</strong> condução adotado. O espaçamento entre linhas<br />
<strong>de</strong> 2,5 m foi <strong>de</strong>terminado para facilitar as operações mecanizadas.<br />
A população será 2.000 plantas por hectare.<br />
4.11. Cultivares<br />
As cultivares adotadas serão a Isabel Precoce e BRS<br />
Cora (<strong>Vitis</strong> labrusca) por serem vigorosas, adaptarem facilmente<br />
às diferentes condições climáticas, comportam-se bem em<br />
relação à antracnose (Elsinoe ampelina) e ao oídio (Uncinula<br />
necator), apresentam relativa susceptibilida<strong>de</strong> ao míldio da vi-
59<br />
<strong>de</strong>ira (Plasmopora viticola), à requeima (Alternaria sp) e à ferrugem<br />
(Phakospora euvitis).<br />
A Isabel Precoce (figura 15) possui boa qualida<strong>de</strong>, dando<br />
origem à produtos típicos com boa aceitação no mercado.<br />
Nas regiões tropicais é recomendada como alternativa prioritária<br />
para a elaboração <strong>de</strong> vinhos <strong>de</strong> mesa e suco <strong>de</strong> uva.<br />
Seu cacho é cilindrico-cônico, alado, cheio, em média<br />
com 110 g. Difere da cultivar Isabel por apresentar coloração<br />
do mosto mais intensa, maturação uniforme e antecipada em<br />
cerca <strong>de</strong> 33 dias, seu ciclo é <strong>de</strong> aproximadamente 140 dias, o<br />
que possibilita duas colheitas durante o período <strong>de</strong> estiagem<br />
em regiões tropicais, segundo Camargo (2004).<br />
A BRS Cora (Figura 16) apresenta cachos <strong>de</strong> aproximadamente<br />
150 gramas, ciclo médio <strong>de</strong> 130 a 140 dias nas regiões<br />
tropicais. Origina suco <strong>de</strong> uva intensamente colorido, indicado<br />
para a melhoria da coloração <strong>de</strong> sucos <strong>de</strong>ficientes em coloração.<br />
No caso <strong>de</strong> sucos <strong>de</strong> Isabel, obtem-se bom padrão em cortes<br />
contendo 85 a 90% <strong>de</strong> suco <strong>de</strong>sta cultivar e 10 a 15% <strong>de</strong> suco<br />
<strong>de</strong> BRS Cora (Camargo e Maia, 2004).<br />
Figura 15 - Isabel Precoce Figura 16- BRS Cora<br />
(Embrapa/CNPUV, 2005) (Embrapa/CNPUV, 2005)
60<br />
4.12. Aquisição <strong>de</strong> Mudas<br />
Serão adquiridas da Embrapa <strong>de</strong> Campinas (SP), 17.600<br />
mudas enxertadas <strong>de</strong> Isabel Precoce e 4.400 <strong>de</strong> BRS Cora, já<br />
consi<strong>de</strong>rando <strong>um</strong> acréscimo <strong>de</strong> 10 % para reposição no caso <strong>de</strong><br />
eventuais perdas. Meta<strong>de</strong> das mudas será com o porta-enxerto<br />
IAC-572 e a outra meta<strong>de</strong> com o porta-enxerto IAC-766, <strong>de</strong><br />
modo a evitar a perda total do pomar por doenças. Tanto os<br />
porta-enxertos como as cultivares são adaptadas para regiões<br />
tropicais.<br />
4.13. Tratos Culturais<br />
Os tratos culturais serão realizados constantemente, para<br />
tal ativida<strong>de</strong> é fundamental mão-<strong>de</strong>-obra capacitada.<br />
4.13.1. Controle <strong>de</strong> plantas daninhas<br />
As plantas daninhas serão controladas com o uso <strong>de</strong><br />
<strong>um</strong>a roça<strong>de</strong>ira nas entrelinhas e capinas manuais nas linhas.<br />
4.13.2. Poda <strong>de</strong> formação<br />
A muda será conduzida após o plantio em haste única até <strong>um</strong>a<br />
altura <strong>de</strong> 0,8 m, on<strong>de</strong> será feito <strong>um</strong> <strong>de</strong>sponte <strong>de</strong>ixando-se 3 gemas,<br />
sendo <strong>um</strong>a em cada lateral e 1 para cima (Figura 3).<br />
4.13.3. Poda <strong>de</strong> frutificação<br />
A poda <strong>de</strong> frutificação será do tipo esporão (poda curta),<br />
que consiste em <strong>de</strong>ixar 2 gemas por esporão. Após 120 a 140<br />
dias começa a colher os frutos.<br />
4.13.4. Poda ver<strong>de</strong>
4.13.4.1. Desbrota<br />
61<br />
Será mantida <strong>um</strong>a brotação, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da presença<br />
ou não <strong>de</strong> cacho, a brotação mais fraca será eliminada (Leão e<br />
Soares, 2000).<br />
4.13.4.2. Desnetamento e eliminação <strong>de</strong> gavinhas<br />
Eliminará os ramos terciários que aparecem nas axilas<br />
das folhas durante a fase <strong>de</strong> crescimento vegetativo (Leão e Soares,<br />
2000).<br />
4.13.4.3. Desfolha<br />
Quando a vi<strong>de</strong>ira apresentar a vegetação muito <strong>de</strong>nsa,<br />
será realizada a <strong>de</strong>sfolha próximo aos cachos, evitando-se fazer<br />
<strong>um</strong>a eliminação exagerada, que po<strong>de</strong> comprometer o vigor da<br />
planta (Pommer, 2003).<br />
4.13.4.4. Desbaste dos cachos<br />
Deve-se <strong>de</strong>ixar a produção bem distribuída, melhorando<br />
a relação entre as folhas e os cachos. O <strong>de</strong>sbaste dos cachos é<br />
realizado quando há <strong>de</strong>ficiências, doenças ou abafamento por<br />
excesso <strong>de</strong> ramos e folhas (Leão e Soares, 2000). Se houver<br />
<strong>um</strong>a sobrecarga da produção também será realizado esse trato<br />
cultural.<br />
4.14. Doenças<br />
As doenças mais importante da cultura nessa região é o<br />
míldio e oídio. Como as cultivares escolhidas são relativamente<br />
tolerantes ao oídio, a principal doença, então, é o míldio. Não
62<br />
existem estudos a respeito das outras doenças no DF por ser<br />
<strong>um</strong>a ativida<strong>de</strong> recente nesse local.<br />
O tratamento do míldio será feito com o Folpet por ser<br />
<strong>um</strong> produto <strong>de</strong> toxicida<strong>de</strong> baixa (tabela 13). Para realizar a pulverização<br />
da área será necessário adquirir <strong>um</strong> pulverizador atomizador<br />
400 L (Agrianual, 2005), para que ambos os lados da<br />
folha sejam atingidos com os produtos.<br />
Tabela 13 - Doenças fúngicas da vi<strong>de</strong>ira e recomendações para<br />
o controle químico. Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, Bento<br />
Gonçalves, 2003.<br />
Doença/<br />
Patógeno<br />
Míldio<br />
(Plasmopara<br />
vitícola)<br />
Princípio<br />
Ativo<br />
Folpet<br />
*CT = Classe Toxicológica<br />
Fonte: Kuhn, 2005.<br />
Eficácia<br />
XX<br />
Dose (i.a)<br />
(g/100L)<br />
65<br />
Intervalo entre<br />
aplicações (dias)<br />
5 a 7<br />
Perído <strong>de</strong><br />
carência<br />
Utilizará <strong>um</strong>a calda <strong>de</strong> 400 L/ha <strong>de</strong>sse produto para fazer<br />
aplicação na área. A pulverização será realizada no início da<br />
brotação até o início da maturação (Andrei, 1999).<br />
4.15. Pragas<br />
Como as mudas adquiridas são certificadas, não terá<br />
problemas com filoxera e pérola-da-terra. Deve-se ter cuidado<br />
com as formigas, cochonilhas e ácaros que po<strong>de</strong>rão prejudicar o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da vi<strong>de</strong>ira.<br />
Se na área houver incidência <strong>de</strong> pragas será realizado o<br />
controle químico com Paration metil, óleo-emulsionável e Abamectin<br />
(tabela 14).<br />
Tabela 14 - Inseticidas registrados no Ministério da<br />
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o<br />
controle das principais pragas da vi<strong>de</strong>ira.<br />
1<br />
CT<br />
*<br />
IV
Bento Gonçalves, RS, 2000.<br />
Praga<br />
Inseticidas<br />
Ingrediente Produto<br />
ativo comercial<br />
Paration<br />
Dosagem<br />
(mL/100L)<br />
Carên<br />
cia<br />
(dias)<br />
Classe toxicológica<br />
Cochonilha-parda<br />
(Parthenolecani<strong>um</strong><br />
metil +<br />
Óleo emul-<br />
Folisuper<br />
100 15<br />
I<br />
persicae) e Cochosionávelnilha-algodão(I- Óleo emulsicerya<br />
schrottkyi) onável Triona 500 a 1000 SR IV<br />
Cochonilhas da<br />
parte aérea<br />
Ácaro rajado (Tetranychus<br />
urticae)<br />
SR: sem restrições<br />
Fonte: Farjado (2003)<br />
Paration<br />
metil<br />
Abamectin<br />
Folisuper<br />
Vertimec<br />
18 CE<br />
100 15<br />
80 a 100<br />
28<br />
63<br />
Utilizará <strong>um</strong>a calda <strong>de</strong> 200L/ha do produto para cochonilha-parda<br />
e para cochonilhas-da-parte-aérea; 1500 L/ha <strong>de</strong><br />
calda <strong>de</strong> óleo emulsionável e o vol<strong>um</strong>e <strong>de</strong> calda a ser aplicado<br />
para ácaro-rajado será <strong>de</strong> 1000 L/ha (Andrei, 1999).<br />
Para o controle das formigas saúvas serão utilizadas 10<br />
gramas/m² do fipronil e para as formigas quenquém 5<br />
g/formigueiro do mesmo produto (Embrapa/CNPTIA, 2005).<br />
Não <strong>de</strong>ve colocar o produto <strong>de</strong>ntro dos olheiros ativos. A aplicação<br />
será realizada nos períodos em que as formigas estão em<br />
plena ativida<strong>de</strong> ou ao entar<strong>de</strong>cer, já que o carregamento po<strong>de</strong>rá<br />
ser feito durante toda noite e sem interrupção (Andrei, 1999).<br />
4.16. Colheita<br />
A colheita <strong>de</strong> cada talhão será feita em 20 dias para processá-la<br />
diariamente, evitando o armazenamento por <strong>um</strong> tempo<br />
prolongado.<br />
I<br />
III
64<br />
Para <strong>de</strong>terminar o ponto <strong>de</strong> colheita se utilizará <strong>um</strong>a<br />
amostra representativa da área a ser colhida. Para essa amostra,<br />
serão coletadas duas bagas <strong>de</strong> lado opostos na parte superior,<br />
mediana e inferior do cacho, logo após serão espremidas em <strong>um</strong><br />
refratômetro portátil para medir o °Brix da fruta, que <strong>de</strong>ve ser<br />
<strong>de</strong> 18° a 20° Brix em média.<br />
Os cachos serão colhidos utilizando-se tesoura apropriada,<br />
com lâminas curtas e pontas arredondadas. O corte <strong>de</strong>verá<br />
ser realizado rente aos ramos <strong>de</strong> produção na porção lignificada<br />
(Choudhury, 2001).<br />
Serão colhidos por dia 1.500 kg <strong>de</strong> uva a partir do quinto<br />
ciclo, quando a produção se estabiliza. Consi<strong>de</strong>rando <strong>um</strong>a<br />
perda <strong>de</strong> 10 % durante colheita e transporte, estima-se o processamento<br />
<strong>de</strong> 1.350 kg <strong>de</strong> uva por dia.<br />
A uva será acondicionada em caixas <strong>de</strong> plástico com<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 20 kg, furadas na parte inferior, que po<strong>de</strong>m ser<br />
empilhadas sem danificar a uva, facilitando o transporte (Kuhn,<br />
2003).<br />
4.17. Transporte<br />
O transporte das uvas até a agroindústria será feito diariamente<br />
durante toda a colheita em <strong>um</strong>a carreta agrícola própria,<br />
on<strong>de</strong> as caixas plásticas serão acondicionadas.<br />
4.18. Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Processamento<br />
A construção terá <strong>um</strong>a área <strong>de</strong> 342 m² (figura 16), foi<br />
dimensionada para a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> processamento <strong>de</strong> 300 kg<br />
<strong>de</strong> uva/hora. Constará <strong>de</strong> <strong>um</strong> escritório para as negociações e<br />
controle da agroindústria; laboratório para testes <strong>de</strong> cor, aci<strong>de</strong>z,<br />
etc; vestiário para os funcionários se trocarem; <strong>um</strong>a recepção<br />
on<strong>de</strong> as uvas sofrerão <strong>um</strong>a pré-lavagem; câmara fria com temperatura<br />
<strong>de</strong> 0°C a 2°C e <strong>um</strong>ida<strong>de</strong> relativa em torno <strong>de</strong> 90% a
65<br />
95% (Choudhury, 2001) para armazenar as frutas colhidas no<br />
final da tar<strong>de</strong> até a manhã do dia seguinte tendo a capacida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> armazenar a colheita <strong>de</strong> até 6 dias; área <strong>de</strong> processamento,<br />
on<strong>de</strong> as uvas serão transformadas em suco, nessa área terá <strong>um</strong><br />
lavatório, papel toalha e lixeira, para higienização das mãos dos<br />
funcionários e <strong>um</strong>a sala <strong>de</strong> estocagem com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> armazenamento<br />
para 3.500 caixas, aproximadamente.<br />
O piso terá inclinação <strong>de</strong> 1 % no sentido dos drenos coletores<br />
e será revestido <strong>de</strong> cerâmica industrial antiácida porque<br />
os ácidos orgânicos e açúcares da uva tem ação corrosiva (Rizzon<br />
et al., 2003).<br />
As pare<strong>de</strong>s serão revestidas <strong>de</strong> azulejo até a altura <strong>de</strong> 2<br />
m para permitir a higienização.<br />
As portas e janelas serão protegidas com telas <strong>de</strong> malha<br />
<strong>de</strong> 1 mm; as esquadrias serão <strong>de</strong> al<strong>um</strong>ínio. A il<strong>um</strong>inação artificial<br />
da área <strong>de</strong> manipulação será <strong>de</strong> 250 lux/ m² e terão proteção<br />
contra quebras. As instalações elétricas serão externas revestidas<br />
por tubulações isolantes para não danificar a construção<br />
no caso <strong>de</strong> prevenções e reparos, segundo ABIA apud Carvalho<br />
e Anvisa (2005).<br />
Os vestiários e banheiros serão in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes da área <strong>de</strong><br />
processamento.<br />
A agroindústria fica próxima às fontes <strong>de</strong> abastecimento<br />
<strong>de</strong> água potável, esgoto e energia elétrica, permitindo <strong>um</strong> bom<br />
funcionamento.
66<br />
Figura 16. Planta Baixa da Agroindústria<br />
Legenda:<br />
1)Esteira lavadora/tombadora caixas; 2) Cal<strong>de</strong>ira geradora <strong>de</strong><br />
vapor; 3) Desengaça<strong>de</strong>ira; 4)Boiler-aquecedor <strong>de</strong> água vapor;<br />
5) Tanque pulmão; 6) Aquecedor/retardador/resfriador; 7) Tanque<br />
<strong>de</strong> tratamento enzimático; 8) Torre <strong>de</strong> resfriamento; 9) Esgotador;<br />
10) Prensa contínua; 11) Tanque Pulmão; 12) Filtro a<br />
vácuo; 13) Tanque pulmão; 14) Gás inerte; 15) Tanques <strong>de</strong> estocagem<br />
e 16) Pasteurização/engarrafamento.
4.19. Instruções e Supervisões<br />
67<br />
Quando a agroindústria estiver pronta será chamada a<br />
vigilância sanitária do DF para liberação do alvará <strong>de</strong> funcionamento.<br />
Devem ser realizadas avaliações periódicas <strong>de</strong> efetivida<strong>de</strong><br />
do treinamento e dos programas instrucionais e <strong>de</strong> capacitação,<br />
assim como as supervisões rotineiras e as avaliações que<br />
assegurem que os procedimentos estão sendo conduzidos com<br />
eficiências (CNI/SENAI/SEBRAE, 2000).<br />
Gerentes e supervisores <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> alimentos <strong>de</strong>vem<br />
ter o conhecimento necessário nos princípios <strong>de</strong> boas práticas<br />
<strong>de</strong> produção <strong>de</strong> alimentos para serem capazes <strong>de</strong> avaliar e<br />
intervir nos possíveis riscos (CNI/SENAI/SEBRAE, 2000).<br />
4.20. Higiene na Produção<br />
As etapas <strong>de</strong> limpeza e sanificação consistem na remoção<br />
<strong>de</strong> resíduos (limpeza grosseira, retirada mecânica dos resíduos<br />
em contato com a superficie); pré-lavagem (remoção dos<br />
resíduos através da água); lavagem (utilização <strong>de</strong> soluções <strong>de</strong>tergentes,<br />
com ou sem auxílio <strong>de</strong> abrasivos); enxágüe (retirada<br />
dos resíduos <strong>de</strong> <strong>de</strong>tergente da superficie através da água); sanificação<br />
(aplicação da solução sanificante para redução <strong>de</strong> microrganismos<br />
ainda presentes na superfície) e enxágüe (remoção<br />
dos resíduos da sanificante, quando necessário), segundo<br />
CNI/SENAI/SEBRAE (2000).<br />
Para a sanificação, será utilizado o cloro porque é efetivo<br />
contra gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> bactérias e por ser relativamente<br />
barato comparado com o iodo. Apenas nas borrachas será utilizado<br />
o iodo por não ser recomendado o cloro para a sanificação<br />
do mesmo.<br />
Será realizada a limpeza com água e <strong>de</strong>tergente neutro<br />
bio<strong>de</strong>gradável e sanificação dos equipamentos antes e logo a-
68<br />
pós o uso. As pare<strong>de</strong>s e pisos também receberão, diariamente,<br />
limpeza com água e sabão.<br />
A concentração do sanitizante é igual para a maioria dos<br />
equipamentos e áreas (200 g/l), o iodo é utilizado em menor<br />
proporção quando comparado ao cloro (tabela 15).<br />
Tabela 15- Recomendações <strong>de</strong> principais sanitizante para equipamentos,<br />
áreas específicas e manipuladores<br />
Equipamentos/áreas/manipuladores Sanitizante Concentração<br />
(mg/l)<br />
Tubulações (CIP) CRL 100<br />
Superfícies porosas CRL 200<br />
Equipamentos <strong>de</strong> aço inoxidável CRL 200<br />
Borrachas IRL 25<br />
Azulejos CRL 200<br />
Pare<strong>de</strong>s CRL 200<br />
Prateleiras CRL 200<br />
Recipientes plásticos CRL 200<br />
IRL – Iodo Residual Livre<br />
CRL – Cloro Residual Livre<br />
Fonte: Andra<strong>de</strong> e Macêdo (1994)<br />
4.21. Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong><br />
A matéria-prima (uva) passa por <strong>um</strong>a série <strong>de</strong> etapas<br />
até virar o suco <strong>de</strong> uva integral. Essas etapas estão indicadas na<br />
figura 13.<br />
4.21.1. Recepção<br />
A recepção apresenta <strong>um</strong>a área <strong>de</strong> 22 m² e <strong>um</strong>a plataforma<br />
<strong>de</strong> 1 m <strong>de</strong> altura, correspon<strong>de</strong>nte a altura da carroceria do
69<br />
caminhão ou do trator transportador da matéria-prima, <strong>de</strong> modo<br />
a favorecer o trabalho <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga da uva.<br />
Na recepção as uvas sofrerão <strong>um</strong> processo <strong>de</strong> prélavagem,<br />
ainda nas caixas, em <strong>um</strong> tanque com água para a retirada<br />
<strong>de</strong> terra, sujeiras, etc. Logo após serão guardadas na câmara<br />
fria até o dia seguinte para o início do processamento.<br />
4.21.2. Lavagem<br />
A lavagem da matéria-prima será feita com água, água<br />
clorada (100 ppm) e água corrente novamente. Em <strong>um</strong>a mesa<br />
próxima a esteira, as uvas serão selecionadas, retirando-se as<br />
bagas e cachos doentes, rachados ou com outro aspecto higiênico-sanitários<br />
insatisfatórios. Imediatamente após a retirada da<br />
uva, as caixas são higienizadas, lavadas com água <strong>de</strong> boa qualida<strong>de</strong><br />
sob pressão, segundo Rizzon et al. (2004).<br />
4.21.3. Desengaçamento/ Esmagamento<br />
O <strong>de</strong>sengaçamentp será feito em <strong>um</strong>a <strong>de</strong>sengaça<strong>de</strong>iraesmaga<strong>de</strong>ira,<br />
com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> liberar o mosto pela ruptura<br />
da película da baga.<br />
Em seguida, o material irá para <strong>um</strong> tanque pulmão.<br />
Os resíduos serão <strong>de</strong>stinados à adubação orgânica, porém<br />
não será <strong>de</strong>talhado neste trabalho.<br />
4.21.4. Enzimagem<br />
A enzimagem será feita com enzimas pectolíticas, em<br />
dois tanques <strong>de</strong> tratamento enzimático em aço inox.<br />
4.21.5. Prensagem
70<br />
inox.<br />
Sofrerá <strong>um</strong> prensagem em <strong>um</strong>a prensa contínua em aço<br />
4.21.6. Filtragem<br />
Para retirar o excesso <strong>de</strong> resíduos da baga da uva, será<br />
realizada <strong>um</strong>a filtragem em <strong>um</strong> filtro a vácuo em aço inox com<br />
sistema auto-limpante, <strong>de</strong>pois irá outro tanque pulmão e posteriormente<br />
para três tanques <strong>de</strong> estocagem.<br />
4.21.7. Pasteurização<br />
A pasteurização é <strong>um</strong> dos últimos processos, consite no<br />
aquecimento do suco visando eliminar as leveduras e inativar a<br />
maior parte dos microrganismos.<br />
4.21.8. Envase<br />
O engarrafamento será feito por <strong>um</strong>a envasadora para<br />
suco em aço inox e as garrafas serão fechadas por <strong>um</strong>a rosqueadora<br />
<strong>de</strong> tampas. A rotulagem será realizada manualmente com<br />
rótulos a<strong>de</strong>sivos.<br />
4.22. Estratégia <strong>de</strong> Marketing<br />
Como estratégia <strong>de</strong> marketing serão distribuídos panfletos<br />
com informações do suco; será construída <strong>um</strong>a página na<br />
Internet contendo informações do produto e atendimento ao<br />
cons<strong>um</strong>idor para possíveis sugestões; participações em eventos<br />
nacionais e locais fazendo exposição do produto; <strong>de</strong>gustação<br />
em supermercados, mercados e mercearias; fol<strong>de</strong>r explicativo<br />
em cada garrafa; rótulos feitos artesanalmente com papel reciclado;<br />
testes <strong>de</strong> experimentação para o <strong>de</strong>senvolvimento do
produto com base na preferência do cons<strong>um</strong>idor.<br />
4.23. Comercialização<br />
71<br />
Meta<strong>de</strong> do suco será comercializada em garrafas <strong>de</strong> 1<br />
litro e a outra meta<strong>de</strong> em garrafas <strong>de</strong> 2 litros, correspon<strong>de</strong>ndo a<br />
<strong>um</strong>a produção <strong>de</strong> 6.750 garrafas <strong>de</strong> 1 litro e 3.375 garrafas <strong>de</strong> 2<br />
litros por mês. Um quinto da produção mensal será armazenada<br />
e vendida no próximo mês para que nos meses improdutivos<br />
por causa das chuvas, o comércio não fique sem o produto.<br />
O suco será distribuído em supermercados, mercados e<br />
mercearias do Distrito Fe<strong>de</strong>ral, através <strong>de</strong> <strong>um</strong> pré-contrato <strong>de</strong><br />
compra e venda.<br />
4.24. Coeficientes Técnicos<br />
Para a instalação do pomar recomendam-se os seguintes<br />
coeficientes técnicos (tabela 16 e 17). As tabelas referem-se às<br />
quantida<strong>de</strong>s necessárias <strong>de</strong> ins<strong>um</strong>os e serviços para a implantação<br />
<strong>de</strong> <strong>um</strong> pomar <strong>de</strong> <strong>um</strong> hectare <strong>de</strong> uva utilizando o sistema <strong>de</strong><br />
condução do tipo espal<strong>de</strong>ira e espaçamento <strong>de</strong> 2 x 2,5<br />
Tabela 16. Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ins<strong>um</strong>os/ha<br />
DESCRIÇÃO ESPECIF QTDE<br />
Ano 1 Ano 2 Ano 3 a 10<br />
A – Ins<strong>um</strong>os<br />
1 – Sementes/mudas<br />
Mudas <strong>de</strong> uva Isabel Precoce e BRS Cora Unid. 2.200 - -<br />
Mudas <strong>de</strong> quebra-vento<br />
2 – Fertilizantes/corretivos<br />
unid. 5.600 - -<br />
Calcário dolomítico ton 4,87 - -<br />
Fosfato Natural ton 0,57 - -<br />
Superfosfato Simples ton 2,00 1,89 2,22<br />
Cloreto <strong>de</strong> Potássio ton 0,54 0,62 1,03
72<br />
Uréia ton 1,05 0,68 1,0<br />
Bórax kg 18,18 - -<br />
Sulfato <strong>de</strong> zinco kg 40 - -<br />
Formulação 00-15-10 ton 1,06 - -<br />
Esterco bovino<br />
3 – Defensivos<br />
ton 80 - -<br />
Paration Metil L 0,4 0,4 0,4<br />
Abamectin L 3,00 3,00 3,00<br />
Folpet kg 3,78 3,78 3,78<br />
Óleo emulsionável<br />
4 – Outros<br />
L 15,00 15,00 15,00<br />
Trator 60 cv unid 1 - -<br />
Roça<strong>de</strong>ira unid 1 - -<br />
Pulverizador unid 1 - -<br />
Perfurador 18" unid 1 - -<br />
Carreta unid 1 - -<br />
Tesoura <strong>de</strong> poda unid 10 - -<br />
Postes externos (250 x 10 x 10cm) unid 80 - -<br />
Rabichos (120 x 10 x 10 cm) unid 80 - -<br />
Postes internos (220 x 8 x 8 cm) unid 640 - -<br />
Arame 14 x 16 m 16.000 - -<br />
Caixa 20 kg unid 450 - -<br />
Tutores unid 2000 - -<br />
Conj. Irrigação unid 1,00 - -<br />
Tabela 17 – Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> serviços/ha<br />
DESCRIÇÃO ESPECIF QTDE<br />
B – Serviços<br />
Ano 1 Ano 2 Ano 3 a 10<br />
1 – Preparo do solo/plantio<br />
Plantio do quebra-vento DH 17,5 - -<br />
Roçagem HM 0,93 - -<br />
Distribuição <strong>de</strong> calcario HM 2,11 - -<br />
Aração HM 1,71 - -<br />
Gradagem HM 0,93 - -<br />
Abertura <strong>de</strong> sulcos HM 1,33 - -
Abertura das covas HM 68,00 - -<br />
Abertura <strong>de</strong> cova para posteação DH 6,23 - -<br />
Colocação dos postes e rabichos DH 10,89 - -<br />
Colocação <strong>de</strong> arame DH 5,99 - -<br />
Transporte Interno <strong>de</strong> adubo HM 0,93 0,93 0,93<br />
Misturar adubos DH 0,21 0,21 0,21<br />
Distribuição <strong>de</strong> adubo DH 1,01 1,01 1,01<br />
Distribuição <strong>de</strong> mudas HM 2,85 - -<br />
Distribuição <strong>de</strong> mudas DH 0,36 - -<br />
Plantio<br />
2 – Tratos culturais<br />
DH 10,42 - -<br />
Tutoramento DH 41,67 - -<br />
Poda <strong>de</strong> formação DH 8,33 - -<br />
Poda <strong>de</strong> frutificação DH 14,58 14,58 14,58<br />
Desbrota DH 25 25 25<br />
Desnetamento DH 25 25 25<br />
Desfolha DH 2,08 2,08 2,08<br />
Roçagem HM 0,93 0,93 0,93<br />
Capina DH 0,86 0,86 0,86<br />
Pulverização<br />
3 – Colheita<br />
HM 0,32 0,32 0,32<br />
Colheita DH - 1,89 3,15<br />
4.25. Equipamentos e Materiais Necessários Para a Agroindústria<br />
<strong>de</strong> Suco <strong>de</strong> <strong>Uva</strong> Integral<br />
73<br />
A tabela 18 correspon<strong>de</strong> aos materiais necessários para<br />
<strong>um</strong>a agroindústria <strong>de</strong> suco <strong>de</strong> uva com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> processamento<br />
<strong>de</strong> 300 kg/hora.<br />
Tabela 18 – Equipamentos da Agroindústria<br />
Quantida<strong>de</strong><br />
Equipamentos Especif. Ano 0 Ano 1 Ano 2 a<br />
10<br />
Esteira lavadora/ tombadora caixas Unid 1 - -<br />
Cal<strong>de</strong>ira geradora <strong>de</strong> vapor Unid 1 - -
74<br />
Esmaga<strong>de</strong>ira Unid 1 - -<br />
Aquecedor água vapor Unid 1 - -<br />
Tanque pulmão Unid 3 - -<br />
Aquecedor/retardador/resfriador Unid 1 - -<br />
Tanques <strong>de</strong> tratamento enzimático Unid 1 - -<br />
Torre <strong>de</strong> resfriamento Unid 1 - -<br />
Esgotador Unid 1 - -<br />
Prensa contínua Unid 1 - -<br />
Filtro a vácuo Unid 1 - -<br />
Gás inerte Unid 1 - -<br />
Tanques <strong>de</strong> estocagem Unid 3 - -<br />
Pasteurização/ Engarrafamento Unid 1 - -<br />
Caixas <strong>de</strong> papelão (12 garrafas <strong>de</strong> 1 litro) Unid - 2.532 4219<br />
Caixas <strong>de</strong> papelão (6 garrafas <strong>de</strong> 2 litros) Unid - 2.532 4.219<br />
Garrafas <strong>de</strong> vidro <strong>de</strong> 1 litro Unid - 30.375 50.625<br />
Garrafas <strong>de</strong> vidro <strong>de</strong> 2 litros Unid - 15,187 25.312<br />
Rótulos Unid - 45.562 75.937<br />
Tampas Unid - 45.562 75.937<br />
Computador Unid 1 - -<br />
Mesa Unid 2 - -<br />
Arquivo Unid 1 - -<br />
Armário Unid 1 - -<br />
Bebedouro Unid 2 - -<br />
Frigobar Unid 1 - -<br />
Vidrarias diversas do Laboratório Unid 100 - -<br />
5. DISCUSSÃO<br />
As máquinas que serão adquiridas não estão sendo utilizadas<br />
por <strong>um</strong> tempo integral, sugere-se que pelo menos dobre a<br />
área plantada do pomar, para que as esses equipamentos não<br />
fiquem ociosos, ou então, iniciar a produção <strong>de</strong> suco artesanalmente<br />
para viabilizar o projeto.<br />
A compra da matéria-prima <strong>de</strong> outros produtores da região<br />
do DF não seria viável porque a área plantada e a produção<br />
<strong>de</strong> uva do DF são baixas. Logo, acredita-se que não teria<br />
uvas Isabel Precoce e BRS Cora para completar as horas ociosas<br />
das máquinas da agroindústria.<br />
6. CONCLUSÃO<br />
Po<strong>de</strong>-se afirmar que a produção <strong>de</strong> uva, a elaboração do<br />
suco e a comercialização no Distrito Fe<strong>de</strong>ral possuem viabili-
75<br />
da<strong>de</strong> técnica, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que sigam as técnicas <strong>de</strong> implantação do<br />
pomar e as normas <strong>de</strong> boas práticas <strong>de</strong> fabricação para o processamento,<br />
analisadas neste estudo.<br />
Existe <strong>de</strong>manda para o suco <strong>de</strong> uva integral nas principais<br />
re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> supermercados no DF.<br />
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AGRIANUAL – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA AGRI-<br />
CULTURA BRASILEIRA. São Paulo: FNP, 2005. 520 p.<br />
ANDREI, E. Compêndio <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensivos agrícolas. 6ª edição.<br />
Revisão atualizada, 1999.<br />
ANDRADE, N.J. e MACÊDO, J.A.B. Higienização na indústria<br />
<strong>de</strong> alimentos. UFV – Viçosa, MG. Julho, 1994. 172 p.<br />
ANVISA, AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI-<br />
TÁRIA - Portaria nº 326 <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1997. Disponível<br />
em: . Acesso em: 09 ago. 2005<br />
BERNADINO, J. Emater. Brasília-DF, 2005.<br />
BERNARDO, S. Manual <strong>de</strong> irrigação. 6ª ed. Viçosa: UFV,<br />
Impr.Univ. 1995. 656 p.<br />
BOA SAÚDE. Disponível em:<br />
Acesso em: 01 <strong>de</strong> março <strong>de</strong><br />
2005.<br />
CAMARGO, U.A. Isabel Precoce: Alternativa para a Vitivinicultura<br />
Brasileira. Comunicado técnico 54. Bento Gonçalves,<br />
RS. 2004.
76<br />
CAMARGO, U.A. e MAIA, J.D.G. BRS Cora: Nova cultivar<br />
<strong>de</strong> uva para suco, adaptada a climas tropicais. Comunicado<br />
Técnico 53. Bento Gonçalves, RS, 2004.<br />
CARVALHO, G.M. Viabilida<strong>de</strong> Técnica do Processamento<br />
<strong>de</strong> pupunha. Brasília, 2005, 48 p.<br />
CHOUDHURY, M.M. <strong>Uva</strong> <strong>de</strong> Mesa Pós-colheita. Embrapa<br />
Semi-Árido (Petrolina-PE). – Brasília: Embrapa Informação<br />
Tecnológica, 2001, 55 p. (Frutas do Brasil; 12).<br />
Embrapa/CNPTIA. Disponível em:<br />
. Acesso em: 14 maio. 2005.<br />
Embrapa/CNPUV. Disponível em:<br />
. Acesso em: 10 mar. 2005.<br />
FACHINELLO, J.C.; NACHTIGAL, J.C. e KERSTEN, E.<br />
Fruticultura: Fundamentos e práticas. Pelotas: Editora UF-<br />
PEL, 1996. 311 p.<br />
FARJADO, T.V.M. <strong>Uva</strong> para processamento. Fitossanida<strong>de</strong>.<br />
Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho (Bento Gonçalves, RS). Brasília: Embrapa<br />
Informação Tecnológica, 2003, 131 p.; (Frutas do Brasil;<br />
35).<br />
FREIRE, F.C.O e OLIVEIRA, A.D.S. Ocorrência do cancrobacteriano<br />
da vi<strong>de</strong>ira no Estado do Ceará. Fortaleza, CE.<br />
Dezembro, 2001 (Comunicado Técnico 62).<br />
GALLO, D. (in memoriam) et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba:<br />
FEALQ, 2002, 920 p.<br />
Gazeta Mercantil, Brasil, 26/07/2005. Disponível em:
. Acesso em: 05 set. 2005.<br />
77<br />
GRIGOLETTI, J. e SÔNEGO, O.R. Principais doenças fúngicas<br />
da vi<strong>de</strong>ira no Brasil. Bento Gonçalves: Embrapa – CN-<br />
PUV, outubro 1993. 36 p. (Embrapa – CNPUV. Circular técnica,<br />
17)<br />
GUERRA, C.C. <strong>Uva</strong> para processamento. Pós-colheita. Embrapa<br />
<strong>Uva</strong> e Vinho (Bento Gonçalves, RS). Brasília: Informação<br />
Tecnológica, 2003. 67 p. ( Frutas do Brasil; 36)<br />
CNI/SENAI/SEBRAE. Guia para elaboração do Plano<br />
APPCC; laticínios e sorvetes. 2.ed. Brasília, SENAI/DN,<br />
2000. 162 p. (Série Qualida<strong>de</strong> e Segurança Alimentar). Projeto<br />
APPCC Indústria.<br />
HICKEL, E.R. Pragas da vi<strong>de</strong>ira e seu controle no Estado <strong>de</strong><br />
Santa Catarina. Florianópolis: EPAGRI, 1996. 52 p.<br />
JANDA, W. Aplicação <strong>de</strong> enzimas na produção <strong>de</strong> suco <strong>de</strong><br />
frutas (maçãs, cítricos e uvas). Revista Alimentos e tecnologia,<br />
n° 3. Julho, 1985. p.20-21.<br />
KUHN, G.B. <strong>Uva</strong> para processamento. Produção. Aspectos<br />
Técnicos. Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho (Bento Gonçalves, RS). Brasília:<br />
Informação Tecnológica, 2003, 134 p. (Frutas do Brasil;<br />
34).<br />
KUNH et al. O cultivo da vi<strong>de</strong>ira: informações básicas. 2. ed.<br />
Bento Gonçalves: Embrapa – CNPUV, 1996. 60 p. (Embrapa –<br />
CNPUV. Circular Técnica, 10).<br />
LEÃO, P.C. <strong>de</strong> S. <strong>Uva</strong> <strong>de</strong> Mesa Produção - Aspectos Técni-
78<br />
cos. Embrapa Semi-Árido (Petrolina, PE). Brasília: Embrapa<br />
Informação Tecnológica, 2001. 128 p., (Frutas do Brasil; 13).<br />
LEÃO, P.C. <strong>de</strong> S. e SOARES, J.M. A viticultura no semiárido<br />
brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2000, 366 p.<br />
MALAVOLTA, E. ABC da Adubação. 5 ª edição. São Paulo.<br />
Ed. Agronômica Ceres. 1989, 304 p.<br />
MIELE, A. e MIOLO, A. O sabor do vinho. Bento Gonçalves:<br />
Vinícola Miolo. Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, 2003, 136 p.<br />
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-<br />
TECIEMNTO. Instrução normativa n° 12 <strong>de</strong> 10 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong><br />
1999. Disponível em: . Acesso<br />
em: 16 ago. 2005.<br />
PEARSON,R.C. e GOHEEN, A.C. Compendi<strong>um</strong> of grape<br />
diseases. 1988, 121 p.<br />
POMMER, C. V. <strong>Uva</strong>: Tecnologia <strong>de</strong> produção, pós colheita,<br />
mercado. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2003, 778 p.<br />
RIZZON, L.A.; MANFROI, V.; MENEGUZZO, J. Elaboração<br />
<strong>de</strong> suco <strong>de</strong> uva na proprieda<strong>de</strong> vitícola. Bento Gonçalves:<br />
Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, 1998. 24 p.<br />
RIZZON, L.A.; MANFROI, L.; MENEGUZZO, J. Iniciando<br />
<strong>um</strong> pequeno gran<strong>de</strong> negócio agroindustrial: Processamento<br />
<strong>de</strong> <strong>Uva</strong>-vinho tinto, graspa e vinagre/ Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho,<br />
Serviço Brasileiro <strong>de</strong> apoio às micro e pequenas empresas. Brasília,<br />
DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 158 p.<br />
RIZZON, L.A.; MANFROI, L.; MENEGUZZO, J. Planeja-
79<br />
mento e instalação <strong>de</strong> <strong>um</strong>a cantina para elaboração <strong>de</strong> vinho<br />
tinto. Bento Gonçalves: Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, 2003. 75<br />
p.<br />
SÔNEGO, O.R. e CZERMAINSKI, A.B.C. Eficácia <strong>de</strong> fungicidas<br />
para o controle do míldio da vi<strong>de</strong>ira cv. Isabel. Bento<br />
Gonçalves: Embrapa <strong>Uva</strong> e Vinho, 1999. 16 p. (Embrapa <strong>Uva</strong> e<br />
Vinho. Boletim <strong>de</strong> Pesquisa, 9).