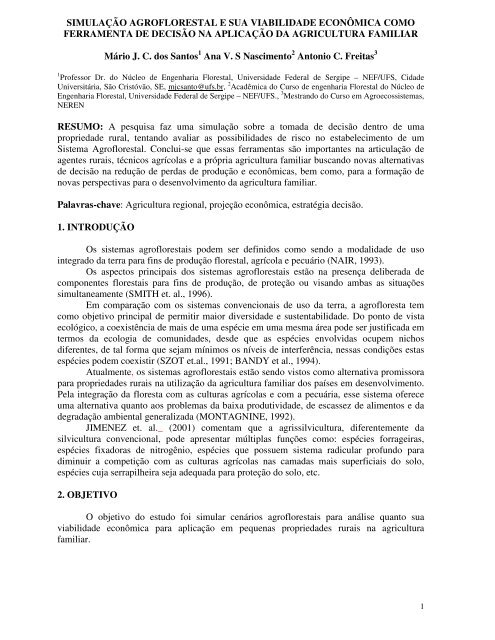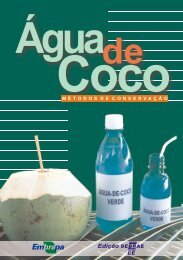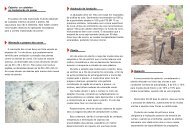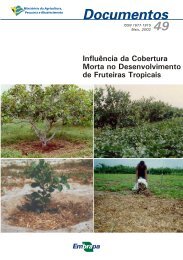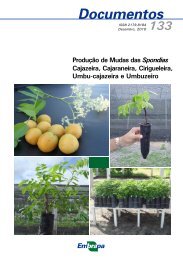faça o download completo do trabalho
faça o download completo do trabalho
faça o download completo do trabalho
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SIMULAÇÃO AGROFLORESTAL E SUA VIABILIDADE ECONÔMICA COMO<br />
FERRAMENTA DE DECISÃO NA APLICAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR<br />
Mário J. C. <strong>do</strong>s Santos 1 Ana V. S Nascimento 2 Antonio C. Freitas 3<br />
1 Professor Dr. <strong>do</strong> Núcleo de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Sergipe – NEF/UFS, Cidade<br />
Universitária, São Cristóvão, SE, mjcsanto@ufs.br, 2 Acadêmica <strong>do</strong> Curso de engenharia Florestal <strong>do</strong> Núcleo de<br />
Engenharia Florestal, Universidade Federal de Sergipe – NEF/UFS., 3 Mestran<strong>do</strong> <strong>do</strong> Curso em Agroecossistemas,<br />
NEREN<br />
RESUMO: A pesquisa faz uma simulação sobre a tomada de decisão dentro de uma<br />
propriedade rural, tentan<strong>do</strong> avaliar as possibilidades de risco no estabelecimento de um<br />
Sistema Agroflorestal. Conclui-se que essas ferramentas são importantes na articulação de<br />
agentes rurais, técnicos agrícolas e a própria agricultura familiar buscan<strong>do</strong> novas alternativas<br />
de decisão na redução de perdas de produção e econômicas, bem como, para a formação de<br />
novas perspectivas para o desenvolvimento da agricultura familiar.<br />
Palavras-chave: Agricultura regional, projeção econômica, estratégia decisão.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Os sistemas agroflorestais podem ser defini<strong>do</strong>s como sen<strong>do</strong> a modalidade de uso<br />
integra<strong>do</strong> da terra para fins de produção florestal, agrícola e pecuário (NAIR, 1993).<br />
Os aspectos principais <strong>do</strong>s sistemas agroflorestais estão na presença deliberada de<br />
componentes florestais para fins de produção, de proteção ou visan<strong>do</strong> ambas as situações<br />
simultaneamente (SMITH et. al., 1996).<br />
Em comparação com os sistemas convencionais de uso da terra, a agrofloresta tem<br />
como objetivo principal de permitir maior diversidade e sustentabilidade. Do ponto de vista<br />
ecológico, a coexistência de mais de uma espécie em uma mesma área pode ser justificada em<br />
termos da ecologia de comunidades, desde que as espécies envolvidas ocupem nichos<br />
diferentes, de tal forma que sejam mínimos os níveis de interferência, nessas condições estas<br />
espécies podem coexistir (SZOT et.al., 1991; BANDY et al., 1994).<br />
Atualmente, os sistemas agroflorestais estão sen<strong>do</strong> vistos como alternativa promissora<br />
para propriedades rurais na utilização da agricultura familiar <strong>do</strong>s países em desenvolvimento.<br />
Pela integração da floresta com as culturas agrícolas e com a pecuária, esse sistema oferece<br />
uma alternativa quanto aos problemas da baixa produtividade, de escassez de alimentos e da<br />
degradação ambiental generalizada (MONTAGNINE, 1992).<br />
JIMENEZ et. al._ (2001) comentam que a agrissilvicultura, diferentemente da<br />
silvicultura convencional, pode apresentar múltiplas funções como: espécies forrageiras,<br />
espécies fixa<strong>do</strong>ras de nitrogênio, espécies que possuem sistema radicular profun<strong>do</strong> para<br />
diminuir a competição com as culturas agrícolas nas camadas mais superficiais <strong>do</strong> solo,<br />
espécies cuja serrapilheira seja adequada para proteção <strong>do</strong> solo, etc.<br />
2. OBJETIVO<br />
O objetivo <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> foi simular cenários agroflorestais para análise quanto sua<br />
viabilidade econômica para aplicação em pequenas propriedades rurais na agricultura<br />
familiar.<br />
1
3. MATERIAL E MÉTODOS<br />
Para a criação e simulação <strong>do</strong>s cenários agroflorestais (SAFs), utilizou-se os<br />
softweares AMAPMOLD para mensuração e arquitetura <strong>do</strong>s módulos agroflorestais e o<br />
softweare 3D Landscape V.5.0 para as montagens <strong>do</strong>s cenários.<br />
As simulações realizadas neste <strong>trabalho</strong>, consideraram os componentes madeireiro<br />
(nativas), em consorciação com as culturas agrícolas (anuais e temporárias) e culturas semiperenes<br />
(frutíferas e leguminosas) em três cenários distintos em zona de transição entre Mata<br />
Atlântica e semi-ári<strong>do</strong> no Esta<strong>do</strong> de Sergipe.<br />
No critério de simulação das culturas agrícolas anuais, perenes e semi-perenes, os<br />
perío<strong>do</strong>s de plantios obedeceram a um calendário regular local de cultivo e sem distúrbios<br />
naturais (geadas, chuva fora de época e etc.). Para uma padronização <strong>do</strong>s módulos simula<strong>do</strong>s,<br />
considerou-se (1) um hectare de SAF implanta<strong>do</strong> para cada propriedade.<br />
3.1 Delineamento experimental<br />
Utilizou-se três cenários distintos (M1, M2 e M3) obedecen<strong>do</strong> aos critérios<br />
socioeconômicos e ambientais na simulação. O delineamento experimental para a implantação<br />
<strong>do</strong>s módulos agroflorestais sucessionais (SAFs) baseou-se na escolha de espécies em culturas<br />
de ciclo curto, tradicionalmente, já cultivadas pelos agricultores, e em culturas de ciclo médio<br />
e longo, que já demonstraram sucesso quan<strong>do</strong> consorciadas em agroflorestas, além de<br />
algumas espécies leguminosas desejadas. Por tanto, foram simula<strong>do</strong>s modelos agroflorestais<br />
composto por espécies Pioneiras, Secundárias e Transicionais.<br />
Para o M1 foram cria<strong>do</strong>s cenários envolven<strong>do</strong> linhas de abacaxis a cada três metros<br />
com espaçamento na linha de 0,75 m, totalizan<strong>do</strong> quatro linhas com 177 plantas. Entre as<br />
linhas de abacaxis foram introduzidas plantas leguminosas e frutíferas usan<strong>do</strong> espaçamento de<br />
1,5m X 3,0 m, totalizan<strong>do</strong> 100 plantas. Seguida <strong>do</strong> mosaico <strong>do</strong> abacaxi, foram introduzidas<br />
1000 plantas de mandioca em 10 linhas com espaçamento de 1,0 m X 1,0 m. e nas entre linhas<br />
da mandioca foram incluídas Curcubitaceae para o consumo familiar (Figura 1).<br />
Figura 1. Perfil estrutural da consorciação de leguminosas com mandioca e milho.<br />
No cenário M2, criou-se módulos denomina<strong>do</strong>s de linhas arbóreas, essas linhas são<br />
composta de frutíferas e leguminosas, o uso da leguminosa tem funções na recomposição <strong>do</strong>s<br />
nutrientes <strong>do</strong> solo e complemento animal. No entorno <strong>do</strong> módulo foram incorporadas 200<br />
plantas leguminosas com função de cerca-viva. Na seqüência foram utilizadas espécies<br />
2
frutíferas com mamão 2,0 m X 3,0 m (166 plantas) com a inclusão da Banana nas entre linhas<br />
1,0 m X 3, m (166 plantas) (Figura 2).<br />
.<br />
Figura 2. Perfil estrutural da consorciação arbóreas leguminosas de cerca viva com frutíferas.<br />
Para a simulação M3, utilizou-se como cultura principal a banana, como espécie de<br />
importância econômica. O desenho básico foi constituí<strong>do</strong> de sete linhas de bananeiras 4 x 3 m<br />
com densidade 233 plantas, foi incluí<strong>do</strong> o milho nas entre linhas utilizan<strong>do</strong> espaçamento de<br />
(0,70 X 0,50 m) em faixas de 5 linhas intercaladas totalizan<strong>do</strong> 1000 plantas por faixas. Após a<br />
segunda faixa <strong>do</strong> milho foi introduzida a mandioca com espaçamento 1,0 X 1,0 m totalizan<strong>do</strong><br />
800 plantas (Figura, 3).<br />
Figura 3. Perfil estrutural da consorciação de frutíferas com culturas anuais e temporárias.<br />
Vale ressaltar que to<strong>do</strong>s os cenários simula<strong>do</strong>s foram replica<strong>do</strong>s até a totalização de<br />
(1) um hectare.<br />
Para a simulação da rentabilidade econômica, utlizou-se os parâmetros <strong>do</strong>s preços<br />
pratica<strong>do</strong>s na região e para a mensuração <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s de produtividade <strong>do</strong>s módulos simula<strong>do</strong>s,<br />
utilizou-se uma planilha eletrônica financeira (MATFIN).<br />
A rentabilidade econômica foi computada utilizan<strong>do</strong> critérios de avaliação econômica<br />
de projetos tais como: Valor Presente Líqui<strong>do</strong> (VPL). SILVA, (2003); REZENDE e<br />
OLIVEIRA, (1993); AZEVEDO FILHO, (1996); CASTRO & MOKATE, (1998). Valor<br />
Anual Equivalente (VAE), Razão Benefício Custo (RB/C), THUESEN (1991) e BUARQUE<br />
(1984). Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Espera<strong>do</strong> da Terra (VET) AZEVEDO FILHO<br />
3
(1996). Os cálculos na simulação utilizaram taxas de desconto de 10% e 12%. Para os<br />
cálculos finais foram consideradas todas as variáveis no estu<strong>do</strong> tais como: Mão-de-obra,<br />
insumo, plantio, replantio e tratos culturais.<br />
4. RESULTADOS<br />
Os indica<strong>do</strong>res econômicos simula<strong>do</strong>s no M1 mostram que as culturas (Abacaxi e<br />
Mandioca) apresentaram viabilidade econômica positiva em 10%, de acor<strong>do</strong> com os critérios<br />
de avaliação de projetos indican<strong>do</strong> que taxas superiores a este valor tornam-se o projeto<br />
economicamente inviável (Figura 4).<br />
Valor Presente (VP)<br />
R$ (1,00)<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
VP Custos VP Receitas<br />
0<br />
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%<br />
Taxa de Juros referente a simulação M1 na consorciação<br />
<strong>do</strong> abacaxi e mandioca como culturas principais.<br />
Figura 4. Simulação da viabilidade econômica da consorciação Abacaxi e Mandioca<br />
como produtos principais.<br />
Já para o M2 o projeto simula<strong>do</strong> foi superior ao M1, a razão da evolução desta<br />
superioridade (15%) esta relacionada a modalidade da cultura consorciada (Banana e Mamão)<br />
que possui um valor diferencia<strong>do</strong> no merca<strong>do</strong> (Figura 5). A produtividade e valor da produção<br />
servem para referenciar técnicos e agricultores, de acor<strong>do</strong> com seus preços, produtividade e<br />
nível tecnológico.<br />
M1<br />
4
Valor Presente (VP)<br />
R$ (1,00)<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
VP Custos VP Receitas<br />
0<br />
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%<br />
Taxa de Juros referente a simulação M2 na consorciação<br />
<strong>do</strong> Banana e Mamão como culturas principais.<br />
Figura 5. Simulação da viabilidade econômica da consorciação Banana com Mamão como<br />
produtos principais.<br />
Na simulação econômica <strong>do</strong> M3 observou-se que ocorreu um aspecto positivo até uma<br />
taxa de desconto de 15%, é importante frisar que para os cultivos de milho e mandioca, apesar<br />
da grande participação <strong>do</strong> plantio direto no desenvolvimento dessas atividades em algumas<br />
partes <strong>do</strong> país, para efeito dessa simulação considerou-se as operações de cultivo realiza<strong>do</strong><br />
através <strong>do</strong> sistema tradicional, ou seja, mecanização com uso da aração e gradeação <strong>do</strong> solo<br />
(Figura 6).<br />
Valor Presente (VP)<br />
R$ (1,00)<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
VP Custos VP Receitas<br />
0<br />
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%<br />
Taxa de Juros referente a simulação M3 na consorciação<br />
<strong>do</strong> Banana e Milho e Mandioca como culturas principais.<br />
Figura 6. Simulação da viabilidade econômica da consorciação Banana, Milho e<br />
Mandioca como produtos principais.<br />
Para o componentes arbóreos leguminosos, foram realizadas projeções de amortização<br />
com função <strong>do</strong> não pagamento da inclusão de insumos nas culturas e posterior uso para<br />
suplementação <strong>do</strong> componente animal na propriedade, ou seja, o agricultor deixaria de pagar<br />
por estes insumos.<br />
M3<br />
M2<br />
5
CONCLUSÂO<br />
Para a simulação determinada neste estu<strong>do</strong>, detectou-se que ferramentas de decisão ou<br />
de projeção para implantação de Sistemas Agroflorestais em propriedades rurais devem ser<br />
incorporadas, administradas e implementadas por técnicos agrícolas conjuntamente com os<br />
agricultores para amenizar futuras perdas econômicas consideráveis no tocante a agricultura<br />
familiar.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AZEVEDO FILHO, O. R. Agricultura familiar e reforma agrária. In. Programa de apoio à<br />
reforma agrária, V.1, n.3, p. 19-22, 1996.<br />
BANDY, D.; GARRATY, D. P.; SANCHES, P. 1994. El problema mundial de la agricultura<br />
de tala y quema. Agroforesteria en las Americas, 1 (3):14-20.<br />
BUARQUE, C. Avaliação econômica de projetos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1984.<br />
p.130-178.<br />
CASTRO,R.;MOKATE,K. Evaluación económica y social de proyectos. Ediciones<br />
Uniandes: Colombia, 1998. 200p.<br />
JIMENEZ, F.; MUSCHLER, R.; KÖPSELL, E. Funciones y aplicaciones de sistemas<br />
agroflorestales. Costa Rica: CATIE, 2001.<br />
MONTAGNINI, F. 1992. Sistemas agroflorestales: principios y aplicaciones en los trópicos.<br />
San José, Costa Rica: IICA. 622p.<br />
NAIR, P.K.R. 1993. Introduction to Agro forestry. Kluwer Academic Publishers,<br />
Dordrecht. 499p.<br />
REZENDE, J. L. P.; OLIVEIRA, A. D. Avaliação de projetos florestais Viçosa: UFV, 1993.<br />
47p.<br />
SILVA, M.A.R. “Economia <strong>do</strong>s recursos naturais” in MAY, P.& LUSTOSA, M.C. &<br />
VINHA, V. Economia <strong>do</strong> Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Campus, 2003, pp 33-60<br />
SMITH, N.J.H.; FALESI, I.C.; ALVIM, P. De T. e SERRÃO, E.A.S. 1996. Agro forestry<br />
trajectories among smallholdrs in the Brasilia Amazon: innovation and resiliency in<br />
pioneer and older settled areas. Ecological Economics 18: 15-27.<br />
SZOT, L.T. FERNABDES, E.C.M. e SANCHEZ, P.A. 1991. Soil-plant interactions in agro<br />
forestry systems. In: Jarvis, P.G. (ed.), Agro forestry: Principles and Practice, pp. 127-<br />
152. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.<br />
THUESEN, H. G; FABRYCKY, W. J; TAVESEN, G. J. Ingenieria economica. Madrid:<br />
1991. 592p.<br />
6