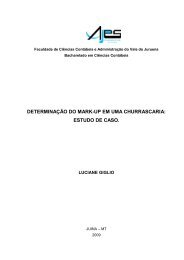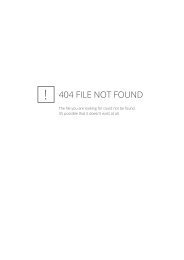gestão escolar com ênfase na educação infantil e ensino - AJES
gestão escolar com ênfase na educação infantil e ensino - AJES
gestão escolar com ênfase na educação infantil e ensino - AJES
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AJES</strong> – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA<br />
CURSO: GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E<br />
ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE<br />
9,5<br />
GESTÃO ESCOLAR: A IMPORTÂNCIA DE PLANEJAR SUAS AÇÕES<br />
Rosemeire Cristiane Ribeiro dos Santos<br />
rosemeirecrs@hotmail.<strong>com</strong><br />
Orientador: Professor Ilso Fer<strong>na</strong>ndes do Carmo<br />
JUINA/2012
<strong>AJES</strong> – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA<br />
CURSO: GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E<br />
ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE<br />
GESTÃO ESCOLAR: A IMPORTÂNCIA DE PLANEJAR SUAS AÇÕES<br />
Rosemeire Cristiane Ribeiro dos Santos<br />
Orientador: Professor Ilso Fer<strong>na</strong>ndes do Carmo<br />
“Trabalho apresentado <strong>com</strong>o exigência<br />
parcial para a obtenção do título de<br />
Especialização em Gestão Escolar <strong>com</strong><br />
Ênfase em Educação Infantil e Ensino<br />
Fundamental de 1ª a 4ª série.”<br />
JUINA/2012
Dedico a todos os educadores que acreditam<br />
<strong>na</strong> educação para formação de cidadãos <strong>com</strong><br />
senso crítico. Dedico também a toda família<br />
pelo incentivo para concluir mais um projeto.
Talvez não tenhamos conseguido fazer o<br />
melhor,<br />
Mas lutamos para que o melhor fosse feito.<br />
Não somos o que deveríamos ser,<br />
Não somos o que iremos ser,<br />
Mas, graças a Deus,<br />
Não somos o que éramos.<br />
Martin Luther King
AGRADECIMENTOS<br />
jor<strong>na</strong>da.<br />
Agradeço primeiro a Deus por ilumi<strong>na</strong>r meu caminho durante esta<br />
Ao meu filho Vicente Leo<strong>na</strong>rdo e minha filha Mayara Christiane por<br />
<strong>com</strong>preender minha ausência e por incentivar para eu não desanimasse nesta<br />
trajetória.<br />
A meu pai e minha mãe que me ajudou e estimulou nos momentos de<br />
dificuldades e por <strong>com</strong>preender minha ausência em suas vidas.<br />
Aos colegas de turma pelos momentos agradáveis e descontraídos durante<br />
o tempo que passamos juntos.<br />
Às minhas amigas que colaboraram para vencer mais esta batalha.<br />
Agradeço a meus irmãos, sobrinhos, cunhadas e cunhados, enfim,<br />
reconheço todos que colaboram nesta jor<strong>na</strong>da direta e indiretamente.<br />
Agradeço incansavelmente meu esposo, Robervaldo, pelo apoio e incentivo<br />
para eu concluir todos os projetos pensados e por não deixar eu desistir de meus<br />
objetivos.<br />
A todos que citei devo meu respeito, amor e amizade incondicio<strong>na</strong>lmente.
RESUMO<br />
Este trabalho aborda a gestão <strong>escolar</strong> e democrática <strong>na</strong> escola pública, bem<br />
<strong>com</strong>o a importância de elaborar e revisar o Projeto Político Pedagógico, visando o<br />
bom andamento da escola. Este tema foi pensado por entender que Gestão Escolar<br />
e Democrática anda paralela garantindo assim, a transparência das ações realizadas<br />
<strong>na</strong>s diferentes dimensões da escola, <strong>com</strong> fim específico de garantir <strong>ensino</strong> de<br />
qualidade. Para tanto, requer divisão de tarefas, trabalho coletivo e <strong>com</strong>promisso<br />
dos profissio<strong>na</strong>is, pais e alunos. Fazer <strong>com</strong> que todos assumam responsabilidades e<br />
participem das tomadas de decisões é muito difícil. O Projeto Político Pedagógico<br />
por ser o principal instrumento de gestão, deve estar em constante atualização feita<br />
por toda a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>, o que nem sempre é fácil, já que percebemos certa<br />
falta de interesse os segmentos em se envolver <strong>na</strong>s tomadas de decisões ao<br />
participar das assembléias, cabendo à equipe gestora dar condições para que haja<br />
participação efetiva de todos. Essa realidade os autores descrevem bem quais são<br />
os motivos dessa não participação efetiva da <strong>com</strong>unidade, onde não alcança cem<br />
por cento da <strong>com</strong>unidade, mas que as escolas estão trabalhando para alcançar este<br />
objetivo.<br />
Palavras-chave: gestão, participação, <strong>com</strong>unidade.
SUMÁRIO<br />
Introdução ................................................................................................................. 07<br />
1. Gestão Escolar ..................................................................................................... 09<br />
2. Gestão Democrática ............................................................................................. 16<br />
3. Projeto Político Pedagógico ................................................................................. 24<br />
3.1 Formas de Participação ...................................................................................... 28<br />
3.1.1 Participação <strong>com</strong>o Presença ........................................................................... 29<br />
3.1.2 Participação <strong>com</strong>o Expressão Verbal e Discussão de Ideias ......................... 29<br />
3.1.3 Participação <strong>com</strong>o Representação ................................................................. 30<br />
3.1.4 Participação <strong>com</strong>o Tomada de Decisão ...........................................................31<br />
3.1.5 Participação <strong>com</strong>o Engajamento ......................................................................31<br />
Considerações Fi<strong>na</strong>is ................................................................................................33<br />
Bibliografia ............................................................................................................... .34
INTRODUÇÃO<br />
O Projeto Político Pedagógico – PPP é uma ferramenta gerencial que auxilia<br />
não ape<strong>na</strong>s a dimensão administrativa, mas principalmente <strong>na</strong> dimensão<br />
pedagógica onde se define as prioridades que resulta <strong>na</strong>s metas para medir a<br />
aprendizagem dos educandos e construído de forma coletiva oferece mecanismos<br />
para uma educação de qualidade.<br />
Diante disso, oferece transparências em suas estratégias e ações<br />
desenvolvidas no espaço <strong>escolar</strong>, proporcio<strong>na</strong>ndo a equipe <strong>escolar</strong> autonomia e<br />
segurança <strong>na</strong> execução dos projetos nele contidos.<br />
Desenvolvemos este trabalho <strong>com</strong> os seguintes embasamentos teóricos:<br />
Vasconcelos, Gandin, Oliveira, Lûck, Veiga entre outros. Assim tem <strong>com</strong>o principal<br />
objetivo realizar estudo de caso <strong>na</strong> escola pública estadual 7 de Setembro, para<br />
verificar a existência da não participação efetiva dos segmentos da <strong>com</strong>unidade<br />
<strong>escolar</strong> <strong>na</strong> elaboração e revisão do Projeto Político Pedagógico da escola.<br />
O atual estudo pretende identificar o que leva a mínima participação das<br />
pessoas que formam os segmentos pais, alunos, professores e administrativos,<br />
tendo em vista a necessidade do envolvimento de todos <strong>na</strong> elaboração e atualização<br />
do PPP, uma vez que estes são os maiores interessados no desenvolvimento das<br />
ações.<br />
PROBLEMATIZAÇÃO<br />
O que é necessário para que haja participação de todos os segmentos<br />
(professores, funcionários, pais e alunos) da <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong> <strong>na</strong> formulação e<br />
revisão do Projeto Político Pedagógico da escola?<br />
HIPOTESE<br />
A dificuldade em fazer que todos os segmentos participem das assembléias<br />
para revisão e atualização do PPP. Tendo em vista, a dupla jor<strong>na</strong>da e rotatividade<br />
dos professores <strong>na</strong>s unidades <strong>escolar</strong>es, a falta de interesse dos pais em<br />
<strong>com</strong>parecer <strong>na</strong>s reuniões que são desti<strong>na</strong>das a este fim especifico.
08<br />
JUSTIFICATIVA<br />
O Projeto Político Pedagógico – PPP é de suma importância para o<br />
desenvolvimento das ações da unidade <strong>escolar</strong>. É o espelho da escola, ou seja,<br />
mostra sua identidade.<br />
Porém, existem ainda alguns <strong>com</strong>plicadores o qual prejudica a elaboração,<br />
avaliação e revisão deste planejamento.<br />
O enfoque dado a este trabalho será identificar os problemas existentes e<br />
buscar possíveis soluções para saná-los.<br />
A participação de toda a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong> garante a participação<br />
democrática e inclusão social e conseqüentemente o sucesso da escola diante da<br />
sociedade.<br />
OBJETIVOS<br />
Realizar estudos bibliográficos para verificar o porque há dificuldade <strong>na</strong><br />
participação efetiva dos segmentos da <strong>com</strong>unidade escola <strong>na</strong> elaboração e<br />
revisão do PPP <strong>na</strong>s escolas.<br />
Verificar qual é o principal motivo que leva os segmentos da <strong>com</strong>unidade<br />
<strong>escolar</strong> a não participar da elaboração e revisão do Projeto Político<br />
Pedagógico;<br />
ESTRUTURA DO TRABALHO<br />
No primeiro capítulo abordará sobre a gestão <strong>escolar</strong> <strong>com</strong>o estratégia de<br />
intervenção organizadora para desenvolver os processos educacio<strong>na</strong>is. O segundo<br />
capitulo contará no que diz respeito a gestão democrática e a participação de todos<br />
<strong>na</strong>s tomadas de decisões. Em seguida a importância do Projeto Político Pedagógico<br />
<strong>com</strong>o instrumento de construção da identidade da escola.
1. GESTÃO ESCOLAR<br />
Durante longo período, a administração da educação, em nível da escola<br />
fundamental, consistiu numa tarefa bastante rudimentar. O diretor era encarregado<br />
de zelar pelo bom funcio<strong>na</strong>mento de sua escola, concebida para distribuir um<br />
mínimo de conhecimentos iguais. Hoje tal perspectiva está ultrapassada.<br />
(VALERIEN, 2009. p. 78).<br />
Portanto, VALERIEN (2009. p. 81), afirma que, as transformações que<br />
surgiram, tanto no interior do sistema de <strong>ensino</strong>, quanto no meio social, provocaram<br />
mudanças <strong>na</strong> concepção da educação, do papel da escola <strong>na</strong> sociedade e do papel<br />
do professor no processo de aprendizagem.<br />
Para LÜCK (2008. p. 13), a gestão <strong>escolar</strong> constitui dimensão<br />
importantíssima da educação, uma vez que, por meio dela se observa a escola e os<br />
problemas educacio<strong>na</strong>is globalmente e se busca, por uma visão estratégica e ações<br />
interligadas, abranger, tal <strong>com</strong>o <strong>com</strong> uma rede, os problemas que, de fato,<br />
funcio<strong>na</strong>m e se mantêm em rede.<br />
“A administração, [...] não se ocupa de esforço despendido por pessoas<br />
isoladamente, mas <strong>com</strong> o esforço humano coletivo.” (PARO, 2008. p. 23).<br />
De acordo <strong>com</strong> PARO (2008. p. 32):<br />
Existe uma diferença entre a empresa capitalista e a escola. A primeira<br />
alcança <strong>com</strong> grande eficiência seu objetivo último de realizar a mais valia,<br />
atendendo, assim, os interesses de uma classe minoritária, que são<br />
antagônicos aos interesses da sociedade <strong>com</strong>o um todo, já a escola, pela<br />
sua ineficiência <strong>na</strong> busca de seus objetivos educacio<strong>na</strong>is, acaba por<br />
colocar-se também contra os interesses gerais da sociedade, <strong>na</strong> medida em<br />
que mantém ape<strong>na</strong>s <strong>na</strong> aparência sua função especifica de distribuir a<br />
todos o saber historicamente acumulado.<br />
É imperioso dizer que a escola precisa preparar-se para se organizar, para<br />
reconquistar o seu espaço no âmbito da credibilidade e seus objetivos, quanto a sua<br />
fi<strong>na</strong>lidade primordial, que é de formar cidadãos críticos, participativos. (SANTOS,<br />
2005. p. 18).<br />
A gestão educacio<strong>na</strong>l dos sistemas de <strong>ensino</strong> e de suas escolas constitui<br />
uma dimensão e um enfoque de atuação <strong>na</strong> estruturação organizada e orientação<br />
da ação educacio<strong>na</strong>l que objetiva promover a organização, a mobilização e a<br />
articulação de todas as condições estruturais, funcio<strong>na</strong>is, materiais e huma<strong>na</strong>s
10<br />
necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacio<strong>na</strong>is. (LÜCK, 2009.<br />
p. 26).<br />
Conforme OLIVEIRA (2008. p. 13):<br />
Gestão <strong>escolar</strong> [...] constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que<br />
objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as<br />
condições materiais e huma<strong>na</strong>s necessárias para garantir o avanço dos<br />
processos socioeducacio<strong>na</strong>is dos estabelecimentos de <strong>ensino</strong> orientadas<br />
para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a tornálos<br />
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade<br />
globalizada e da economia centrada no conhecimento.<br />
De acordo <strong>com</strong> LUCK (2008. p. 14), o trabalho de gestão <strong>escolar</strong> exige, pois,<br />
o exercício de múltiplas <strong>com</strong>petências específicas e dos mais variados matizes.<br />
Segundo PARO (2008), a direção <strong>escolar</strong> precisa saber procurar <strong>na</strong><br />
<strong>na</strong>tureza própria da escola e dos objetivos que ela persegue os princípios, métodos<br />
e técnicas adequadas no incremento de sua racio<strong>na</strong>lidade.<br />
Conforme SOUZA (2007), gestão educacio<strong>na</strong>l acontece associada a um<br />
contexto de outras idéias <strong>com</strong>o, por exemplo, transformação e cidadania. Isto admite<br />
pensar gestão no sentido de uma articulação consciente entre ações que se<br />
realizam no cotidiano da instituição <strong>escolar</strong> e o seu significado político e social.<br />
Conforme VALERIEN (2009. p. 80), a transferência de responsabilidade da<br />
gestão para as próprias escolas tornou-se uma das idéias mestras da administração<br />
<strong>escolar</strong> dos dias atuais, não ape<strong>na</strong>s por se constituir numa solução mais<br />
democrática, mas também porque responde as dificuldades crescentes enfrentadas<br />
pelos sistemas de <strong>ensino</strong> para gerirem um número de escolas que vem<br />
ultrapassando sua capacidade de controle.<br />
A gestão <strong>escolar</strong> é uma estratégia de intervenção organizadora e<br />
mobilizadora – de caráter abrangente e orientado para promover mudanças e<br />
desenvolver processos educacio<strong>na</strong>is – de modo que se tornem cada vez mais<br />
potentes <strong>na</strong> formação e aprendizagem dos alunos. (LUCK, 2008. p. 14).<br />
O diretor transforma-se em animador da equipe, responsável por estimular e<br />
regular os diferentes grupos, e nesta qualidade deve adquirir determi<strong>na</strong>das<br />
<strong>com</strong>petências no domínio das relações huma<strong>na</strong>s, de forma a tor<strong>na</strong>r-se capaz de<br />
resolver conflitos. (VALERIEN, 2009. p. 15).<br />
De acordo <strong>com</strong> Santos, (2005. p. 82):
11<br />
Gestão da Educação: de e Avaliação <strong>na</strong> Construção da Gestão Participativa<br />
apresentam embasamentos ricos e muito bem fundamentados, numa<br />
perspectiva de constituição de valores de Gestão Escolar Participativa,<br />
dando contribuições relevantes <strong>com</strong> os modelos de Planejamento e<br />
Avaliação.<br />
Atualmente verificamos no perfil do gestor a necessidade de repensar alguns<br />
fundamentos <strong>na</strong> educação, e de <strong>com</strong>o iniciar conceitos sobre a educação,<br />
quebrando novos paradigmas, <strong>com</strong>o relação à interdiscipli<strong>na</strong>ridade, pedagogia de<br />
projetos, temas geradores de pesquisa em sala de aula, uma construção do<br />
conhecimento e habilidades. (OLIVEIRA, 2008).<br />
De acordo <strong>com</strong> VALERIEN (2009. p. 23), o diretor é cada vez mai obrigado a<br />
levar em consideração a evolução da idéia de democracia, que conduz o conjunto<br />
de professores, e mesmo os agentes locais, à maior participação, à maior implicação<br />
<strong>na</strong>s tomadas de decisão.<br />
Descentralização, democratização da escola, construção da autonomia,<br />
participação são facetas múltiplas da gestão democrática, diretamente associada<br />
entre si e que têm a ver <strong>com</strong> as estruturas e expressões de poder <strong>na</strong> escola.<br />
(MARTINS, 2002, apud LÜCK, 2009. p. 58).<br />
Assim, para obter bom desempenho é necessário traçar estratégias <strong>na</strong> qual<br />
possa dar subsídios ao que a escola espera do gestor, no que se refere, a<br />
construção de projetos no coletivo e desenvolve-los de forma contínua, ter um<br />
ambiente de promoção do ser e conviver, do conhecer e fazer.<br />
A gestão realizada pelas escolas pode produzir maior qualidade e eficiência<br />
da educação, mas para que funcione eficientemente precisa ser concebida tendo em<br />
conta as condições especificas das sociedades em que é aplicada. (VALERIEN,<br />
2009. p. 9).<br />
Conforme XAVIER (1996. p. 7), a escola faz diferença, sim, no desempenho<br />
dos alunos, e que sua adequada gestão é indiscutível para o adequado atingimento<br />
de seus objetivos. Há provas contundentes de que a gestão é uma <strong>com</strong>ponente<br />
decisiva da eficácia <strong>escolar</strong>.<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009. p. 61), a autonomia de gestão da escola, a<br />
existência de recursos sob controle local, junto <strong>com</strong> a liderança pelo diretor e<br />
participação da <strong>com</strong>unidade e a <strong>com</strong>petência pedagógica são considerados <strong>com</strong>o<br />
pilares sobre os quais se assenta a eficácia <strong>escolar</strong>.
12<br />
Para HALLAK (1992), apud VALERIEN (2009)<br />
As principais características da gestão realizada pelas escolas – que supõe<br />
uma significativa delegação de autoridade e de direção as escolas – podem<br />
ser descritas em três palavras:<br />
Autonomia permite à escola a busca de soluções próprias, mais<br />
adequadas às necessidades e aspirações dos alunos e de suas famílias;<br />
Participação abre espaço para a tomada democrática de decisões,<br />
bem <strong>com</strong>o a captação e incorporação de recursos da <strong>com</strong>unidade: alunos,<br />
professores, funcionários, pais de alunos e outras pessoas genui<strong>na</strong>mente<br />
interessadas no bom desempenho da escola.<br />
Autocontrole é corolário das condições precedentes e permite o<br />
retorno de informações, indispensável para um funcio<strong>na</strong>mento adequado da<br />
escola e para uma participação efetiva. (p. 9).<br />
Conforme LEITE (2010. p. 25), autonomia de uma instituição significa ter<br />
poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se<br />
relativamente independente do poder central, administrar livremente recursos<br />
fi<strong>na</strong>nceiros.<br />
Considerando a gestão de sistemas educacio<strong>na</strong>is, os fatores que têm sido<br />
apontados <strong>com</strong>o essenciais para a qualidade do <strong>ensino</strong> são: o <strong>com</strong>prometimento<br />
político do dirigente, a busca por alianças e parcerias, a valorização dos profissio<strong>na</strong>is<br />
da educação, a gestão democrática, o fortalecimento e a modernização da gestão<br />
<strong>escolar</strong>, e a racio<strong>na</strong>lização e a produtividade do sistema educacio<strong>na</strong>l. (XAVIER,<br />
1996. p. 10).<br />
De acordo <strong>com</strong> VALERIEN (2009. p. 15), a escola já não se limita a simples<br />
instrução, mas coopera cada vez mais <strong>com</strong> os outros setores da <strong>com</strong>unidade, <strong>com</strong><br />
vista à preparação dos jovens para a vida social, familiar e profissio<strong>na</strong>l.<br />
Conforme XAVIER (1996. p. 8), os estudos que vêm sendo realizados<br />
apontam para as seguintes conclusões quanto às características das escolas<br />
eficazes:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Forte liderança do diretor;<br />
Clareza quanto aos objetivos;<br />
Clima positivo de expectativas quanto ao sucesso;<br />
Clareza quanto aos meios para atingir os objetivos;<br />
Forte espírito de equipe;<br />
Envolvimento dos diferentes agentes educacio<strong>na</strong>is;<br />
Capacitação dirigida dos profissio<strong>na</strong>is da escola;<br />
Planejamento, a<strong>com</strong>panhamento e avaliação sistemáticos dos<br />
processos que ocorrem <strong>na</strong> escola; e
13<br />
<br />
Foco centrado no cliente principal da escola, o aluno.<br />
Segunda GABLER (2007. P. 8), é falso pensar que para fazer um trabalho<br />
de qualidade é preciso ter muita rigidez, voz ativa, imposição. Um trabalho de<br />
qualidade realmente acontece quando a gestão é democrática, aberta a opiniões e<br />
sugestões. Ouvir pais, funcionários, alunos e dividir responsabilidades são fatores<br />
essenciais para se fazer um bom trabalho.<br />
Compartilhar tarefas e responsabilidades não é, apesar de tudo, o único<br />
meio de instaurar uma participação sadia <strong>na</strong>s decisões e somente é eficaz quando<br />
exercida no quadro de m verdadeiro trabalho de equipe permanente. (VALERIEN,<br />
2009. p. 104).<br />
A escola deve intermediar no processo de <strong>ensino</strong>-aprendizagem, deve dar<br />
suporte ao aluno para que construa suas próprias teias do conhecimento. Deve<br />
despertar no aluno, também a criatividade, a motivação pelo estudo, pelo que ele<br />
representa <strong>na</strong> sociedade e que o estudo é umas das formas de reverter às<br />
desigualdades sociais. (LEITE, 2010. p. 17)<br />
Considerando XAVIER (1996. p. 10), seis dimensões devem ser<br />
consideradas quando se fala em qualidade da educação: qualidade política e à<br />
qualidade formal da educação; custo para se obter essa educação para a<br />
organização e ao seu preço para o cliente; atendimento; moral da equipe envolvida<br />
no processo; segurança e ética.<br />
De acordo <strong>com</strong> VALERIEN (2009. p. 116), a escola não é somente um lugar<br />
de aprendizagem, é também um lugar de socialização, onde a criança e o jovem<br />
aprendem a viver e a desenvolver-se no seio de uma coletividade, que tem <strong>com</strong>o<br />
função fundamental favorecer sua inserção social e profissio<strong>na</strong>l.<br />
Para LÜCK (2009. p. 62):<br />
A autonomia da gestão <strong>escolar</strong> evidencia-se <strong>com</strong>o uma necessidade<br />
quando a sociedade pressio<strong>na</strong> as instituições para que promovam<br />
mudanças urgentes e consistentes, em vista do que aqueles responsáveis<br />
pelas ações devem, do ponto de vista operacio<strong>na</strong>l, tomar decisões rápidas<br />
para que as mudanças ocorram no momento certo da forma mais efetiva, a<br />
fim de não se perder o momentum de transformação.<br />
Conforme PARO (2008. p. 136), uma administração <strong>escolar</strong> que pretenda<br />
promover a racio<strong>na</strong>lização das atividades no interior da escola deve <strong>com</strong>eçar,<br />
portanto, por exami<strong>na</strong>r a própria especificidade do processo de trabalho.
14<br />
Segundo LEITE (2010. p. 17), a escola que nos dá o conceito funcio<strong>na</strong>l da<br />
educação deve oferecer à criança um meio social e <strong>na</strong>tural. Um meio favorável ao<br />
intercâmbio de reações e experiências, sensibilizando-a para o trabalho e ação de<br />
acordo <strong>com</strong> os seus interesses e <strong>com</strong> as suas necessidades.<br />
Para FERREIRA e AGUIAR (2008, p. 161), o modelo burocrático de gestão<br />
tem sua origem <strong>na</strong>s teorias organizacio<strong>na</strong>is clássicas e cientifica, incorporando as<br />
remodelagens das teorias mais recentes, gestadas no caldo da cultura positivista,<br />
cartesia<strong>na</strong>mente concebidas dando-lhe sua feição estrutural-funcio<strong>na</strong>lista. Assim, o<br />
eixo central de umas e outras é baseado no poder central, de superintendência,<br />
delegação e distribuição de tarefas mantida a unidade de <strong>com</strong>ando e os controles,<br />
onde o sujeito é o poder e o objetivo é a subordi<strong>na</strong>ção.<br />
De acordo <strong>com</strong> FERREIRA e AGUIAR (2008, p. 171), a gestão da “escola<br />
cidadã” requer a reconstrução do paradigma de gestão. [...] assim, a construção de<br />
novas praticas, de processos democráticos de gestão, novas concepções, novo<br />
paradigma.<br />
Conforme FERREIRA e AGUIAR (2008,. p. 163):<br />
Na escola cidadã, o poder está no todo e é feito de processos dinâmicos<br />
construídos coletivamente pelo conhecimento e pela afetividade,<br />
constituindo-se em espaço aberto de criação e vivência. Assim, o paradigma<br />
da escola cidadã, autônoma, concebe uma gestão democrática:<br />
<br />
<br />
Voltada para a inclusão social;<br />
Fundada no modelo cognitivo/afetivo;<br />
Com clareza de propósitos, subordi<strong>na</strong>dos ape<strong>na</strong>s ao interesse dos<br />
cidadãos a que serve;<br />
Com processos decisórios participativos e tão dinâmicos quanto a<br />
realidade, geradores de <strong>com</strong>promissos e responsabilidades;<br />
<br />
Com ações transparentes;<br />
Com processo auto-avaliativos geradores da critica institucio<strong>na</strong>l e<br />
fiadores da construção coletiva;<br />
A teoria conservadora da Administração Escolar, ao detectar algumas<br />
peculiaridades <strong>na</strong> escola que a diferenciam da empresa, já o faz partindo do<br />
pressuposto de uma identidade dos princípios administrativos que devem nortear as<br />
atividades de ambas. (PARO, 2008. p. 136).<br />
Segundo VALERIEN (2009), a escola não é somente um lugar de<br />
aprendizagem, é também um lugar de socialização, onde os educandos aprendem a
15<br />
viver e a desenvolver-se no seio de uma coletividade, que tem <strong>com</strong>o função<br />
fundamental beneficiar sua inclusão social e profissio<strong>na</strong>l.<br />
De acordo <strong>com</strong> VALERIEN (2009, p. 150), as principais pesquisas realizadas<br />
sobre a melhoria da qualidade do <strong>ensino</strong> evidenciam o papel extremamente<br />
importante que nela desempenham “os elementos da supervisão pedagógica” e,<br />
especialmente, os diretores de escola.<br />
VALERIEN (2009) acredita que:<br />
O papel do diretor de estabelecimento <strong>escolar</strong> é incontestavelmente de uma<br />
importância considerável nesta organização tão sensível a que se dá o<br />
nome da “escola primária” e assume uma importância ainda maior quando<br />
se trata da questão da inovação.”<br />
“O termo inovação desig<strong>na</strong> idéias novas e mudanças positivas que se<br />
ajustam aos esforços visando a realização dos objetivos definidos.”<br />
“As inovações pedagógicas podem apresentar várias formas: substituição,<br />
modificação, reestruturação. A inovação envolve todos os setores do<br />
sistema educativo: função da instituição <strong>escolar</strong>, programas<br />
individualizados, currículos, organização, utilização do pessoal docente,<br />
organização das instalações, orientações metodológicas... (p.150).<br />
Considerando PARO (2008. p. 164), as vantagens de uma administração<br />
<strong>escolar</strong> participativa, em que as decisões são tomadas pelo grupo, não se referem<br />
ape<strong>na</strong>s à democratização inter<strong>na</strong> da escola, mas também ao fortalecimento da<br />
unidade <strong>escolar</strong> exter<strong>na</strong>mente.<br />
CURY (2001), apud GRACINDO (2009), afirma que, o gestor da educação e<br />
da educação <strong>escolar</strong>, em especial, deve ser contemplado <strong>com</strong> processos de<br />
formação geral iguais a todo e qualquer educador. Ao mesmo tempo, ele deve<br />
receber uma formação especifica que o habilitem as inúmeras tarefas e<br />
desempenhos que se lhe são exigidas.<br />
Para VALERIEN (2009, p. 152), o diretor de escola já não é ape<strong>na</strong>s um<br />
administrador: ele deve se também um inovador. E estas duas funções não são<br />
contraditórias: tor<strong>na</strong>m-se <strong>com</strong>patíveis quando a direção da escola se tor<strong>na</strong> mais<br />
democrática quando atribuem poderes mais amplos aos conjuntos dos agentes da<br />
escola: professores, pais, coletividade local.<br />
A qualificação e a motivação do diretor de escola são hoje a dimensão que<br />
mais atenções requerem, não só porque o diretor é o pólo integrador de todos os<br />
demais, mas também porque é o elemento determi<strong>na</strong>nte da eficácia da ação<br />
educativa. (VALERIEN, 2009. p. 165).
2. GESTÃO DEMOCRÁTICA<br />
No marco legal, a gestão democrática está estabelecida <strong>na</strong> Constituição<br />
Federal do Brasil, de 1988, <strong>com</strong>o um dos princípios que deve nortear o <strong>ensino</strong><br />
público, regulamentada pela LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação<br />
Nacio<strong>na</strong>l, Lei nº. 9.394/96. No estado de Mato Grosso este tipo de gestão e<br />
fortalecida pela Lei 7.040/98.<br />
A gestão democrática da escola cumpre um papel de extraordinária<br />
importância para o aprofundamento da democracia e para a realização da cidadania,<br />
trata-se do espaço <strong>escolar</strong> que contribui <strong>com</strong> a construção de uma cultura<br />
democrática capaz de dissemi<strong>na</strong>r-se no corpo social. (MAMEDES, 2005. p. 43).<br />
Conforme LEITE (2010, p. 24), os gestores das escolas para exercerem a<br />
função de direção têm que agregar em suas funções um imperativo social e<br />
pedagógico, além de coorde<strong>na</strong>r todo o processo organizacio<strong>na</strong>l que a função lhes<br />
atribui.<br />
LEITE (2010. p. 25) acredita:<br />
A direção <strong>escolar</strong> citada trata de universo maior onde o principal objetivo é o<br />
ser humano, o intelecto, é o direcio<strong>na</strong>r todas as ações em prol de sua<br />
<strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>. Essa direção implica em intencio<strong>na</strong>lidade, pois<br />
contribui para a tomada de posição perante a sociedade em que atua.<br />
Segundo MAMEDES (2005. p. 43), a gestão democrática está associada a<br />
um sistema descentralizado que dota a escola de autonomia administrativa,<br />
pedagógica e fi<strong>na</strong>nceira e, principalmente, permite-lhe contar <strong>com</strong> a participação dos<br />
membros, que fazem parte dessa <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>, para tomar decisões<br />
coletivamente, sem eximir as responsabilidades do Estado para <strong>com</strong> a manutenção.<br />
De acordo <strong>com</strong> LEITE (2010. p. 13), a gestão democrática é um processo de<br />
aprendizado e de luta que vislumbra <strong>na</strong>s especificidades da prática social e em sua<br />
relativa autonomia, a possibilidade de criação de meios de efetiva participação de<br />
toda a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong> <strong>na</strong> gestão da escola.<br />
A Gestão Democrática é um objetivo cujas condições de existência<br />
implicam, de uma parte, a responsabilidade coletiva e de outra, a vontade individual<br />
de transformar a própria consciência, pelo autoconhecimento, autocrítica e
17<br />
humildade de aceitar a diferença, <strong>com</strong>o condição de diálogo e a ação conjunta.<br />
(SANTOS, 2005. p. 70).<br />
Para MAMEDES (2005. p. 45), se <strong>na</strong> sociedade <strong>com</strong>o um todo, a<br />
participação de cada um é condição essencial para uma melhor qualidade de vida;<br />
<strong>na</strong> escola essa participação é o que caracteriza o processo educativo ideal. Assim,<br />
<strong>na</strong> escola, quando não há participação, não há democratização.<br />
De acordo <strong>com</strong> ZANINI (2008, p. 15), os princípios e fins da educação<br />
brasileira proclamam a gestão democrática <strong>com</strong>o forma de dirigir as escolas,<br />
situação que provocou a reflexão e o repensar sobre a organização <strong>escolar</strong> e sua<br />
estrutura do ponto de vista interno, bem <strong>com</strong>o <strong>na</strong> sua projeção exterior e social.<br />
Conforme VALERIEN (2009. p. 151), além das atribuições que normalmente<br />
<strong>com</strong>petem à <strong>com</strong>unidade local, a legislação deixa freqüentemente às escolas certa<br />
autonomia no que diz respeito ao processo de sua ligação a <strong>com</strong>unidade e a<br />
participação <strong>na</strong> ação de diversos organismos.<br />
Numerosas experiências morreram por falta de participação, devido a<br />
resistência muito freqüente dos professores que acham que ela representa uma<br />
atividade suplementar não remunerada e por causa da ausência progressiva dos<br />
pais. (VALERIEN, 2009. p. 141).<br />
Conforme PARO (1998, p. 270):<br />
A democratização da gestão da escola básica não pode restringir-se aos<br />
limites do próprio estado, _ promovendo a participação coletiva ape<strong>na</strong>s dos<br />
que atuam em seu interior _ mas envolver principalmente os usuários e a<br />
<strong>com</strong>unidade em geral, de modo que se possa produzir, por parte da<br />
população, uma real possibilidade de controle democrático do Estado no<br />
provimento de educação <strong>escolar</strong> em quantidade e qualidade <strong>com</strong>patíveis<br />
<strong>com</strong> as obrigações do poder público e de acordo <strong>com</strong> os interesses da<br />
sociedade.<br />
A gestão democrática da escola só tem êxito se a <strong>com</strong>unidade participar de<br />
forma efetiva e ativamente direta, ou através dos órgãos colegiados da escola <strong>com</strong>o<br />
Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil e APMF – associação de pais, mestres e<br />
funcionários. (LEITE, 2010. p. 12).<br />
De acordo <strong>com</strong> SANTOS (2005), a construção da Gestão Democrática esta<br />
sujeito ao <strong>com</strong>promisso de todos os grupos que lidam <strong>com</strong> a educação: governo,<br />
escola (equipe gestora) e sociedade em geral.<br />
Conforme, PARO (2007, p. 25):
18<br />
Se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela<br />
participação ativa dos cidadãos <strong>na</strong> vida pública, considerados não ape<strong>na</strong>s<br />
<strong>com</strong>o “titulares de direito”, mas também <strong>com</strong>o “criadores de novos direitos”,<br />
é preciso eu a educação se preocupe <strong>com</strong> dotá-los das capacidades<br />
culturais exigidas para exercer essas atribuições, justificando-se, portanto, a<br />
necessidade de a escola pública cuidar, de modo planejado e não ape<strong>na</strong>s<br />
difuso, de uma autentica formação do democrata.<br />
Segundo FERREIRA e AGUIAR (2008. p. 54), por mais que uma cultura de<br />
conselhos de educação ainda impregne seus atos, a expectativa hoje é de que eles<br />
devem conter em alto grau, a dinâmica da participação, da abertura e do diálogo.<br />
LEITE (2010), acredita que, a gestão democrática busca salientar a<br />
importância <strong>na</strong> busca das soluções em que o educador procure refletir sobre as<br />
queixas, os lamentos de uma forma crítica, procurando a valorização <strong>na</strong> construção<br />
do conhecimento e da aprendizagem.<br />
A convivência democrática em todos os espaços ocorre satisfatoriamente,<br />
quando as pessoas participam e decidem sobre os problemas que afetam tanto sua<br />
vida individual quanto coletiva. A participação tor<strong>na</strong>-se, portanto, um mecanismo<br />
social de formação e vivência de democracia, de conquista da autonomia pessoal e<br />
política. (MAMEDES, 2005. p. 48).<br />
O elemento fundamental que sustenta a gestão democrática é o Conselho<br />
Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), afirma LEITE (2010, p. 22):<br />
Conselho <strong>escolar</strong> é um elemento fundamental da gestão democrática da<br />
escola, pois é através dele que as discussões <strong>com</strong> a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong><br />
surgem e <strong>com</strong> objetivo de implantar as ações em conjunto <strong>com</strong> a coresponsabilidade<br />
de todos no processo educativo. Através deste mecanismo<br />
de ação coletiva é que efetivamente serão ca<strong>na</strong>lizados os esforços da<br />
<strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong> em direção à renovação da escola, <strong>na</strong> busca da<br />
melhoria do <strong>ensino</strong> e de uma sociedade huma<strong>na</strong> mais democrática.<br />
De acordo <strong>com</strong> FERREIRA e AGUIAR (2008. p. 48), conselho é<br />
também o lugar onde se delibera. Deliberar implica a tomada de uma decisão,<br />
precedida de uma a<strong>na</strong>lise e de um debate que, por sua vez, implica a publicidade<br />
dos atos <strong>na</strong> audiência e <strong>na</strong> visibilidade dos mesmos.<br />
Para XAVIER (1996), a escola faz diferença, sim, no desempenho dos<br />
educandos, e que a gestão é indiscutível para atingir seus objetivos. [...] Inúmeros<br />
estudos, no Brasil e no exterior, vêm <strong>com</strong>provando que as escolas bem dirigidas e<br />
organizadas são eficazes.<br />
Conforme FERREIRA e AGUIAR (2008), a gestão democrática é igualmente<br />
a presença no processo e no produto de políticas de governo. Os cidadãos querem
19<br />
mais do que ser executores de políticas, querem ser ouvidos e ter presença nos<br />
momentos de elaboração.<br />
Segundo LEITE (2010. p. 25), a prática da gestão e da direção participativa<br />
tem <strong>com</strong>o rumo à elaboração e execução do projeto numa visão de espaço<br />
educativo aberto <strong>com</strong> a participação da <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>.<br />
Os conselhos <strong>escolar</strong>es representam importante espaço para a<br />
democratização da escola, através da articulação do trabalho entre os vários<br />
segmentos que a <strong>com</strong>põem. (VASCONCELOS, 2008).<br />
Dentre os traços marcantes desse “novo padrão de gestão” destacam-se:<br />
XAVIER (1996, p. 8):<br />
Participação dos agentes <strong>na</strong> gestão <strong>escolar</strong> <strong>com</strong> conteúdos e níveis<br />
mais definidos;<br />
Mecanismos de avaliação que induzem à responsabilização das<br />
escolas por seus resultados;<br />
Redefinição de papeis no nível central, visando à maior<br />
descentralização e descontração; e<br />
Produtividade, eficiência e desempenho <strong>com</strong>o ingredientes<br />
importantes do sucesso;<br />
Conforme LEITE (2010. p. 27), a concepção democrática de gestão valoriza<br />
o desenvolvimento pessoal, a qualificação profissio<strong>na</strong>l e a <strong>com</strong>petência técnica. A<br />
escola é um espaço educativo, lugar de aprendizagem em que todos aprendem a<br />
participar dos processos decisórios, mas e também o local em que os profissio<strong>na</strong>is<br />
desenvolvem sua profissio<strong>na</strong>l idade.<br />
A Associação de pais, Mestres e Funcionários – é outro mecanismo de<br />
fortalecimento do processo democrático, considerando <strong>com</strong>o entidade civil <strong>com</strong><br />
perso<strong>na</strong>lidade jurídica própria, sem caráter lucrativo, formado pelos pais dos alunos<br />
regulamente matriculados <strong>na</strong> escola, tendo <strong>com</strong>o objetivo o estabelecimento de<br />
vinculo entre escola e família <strong>com</strong>o contribuição necessária para o processo<br />
educativo. (LEITE, 2010. p. 24).<br />
XAVIER (1996, p. 10) acredita:<br />
Os estudos que vêm sendo realizados apontam para as seguintes<br />
conclusões quanto à características das escolas eficazes:<br />
<br />
<br />
<br />
Forte liderança do diretor;<br />
Clareza quanto aos objetivos;<br />
Clima positivo de expectativas quanto ao sucesso;
20<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Clareza quanto aos meios para atingir os objetivos;<br />
Forte espírito de equipe;<br />
Envolvimento dos diferentes agentes educacio<strong>na</strong>is;<br />
Capacitação dirigida dos profissio<strong>na</strong>is da escola;<br />
Planejamento, a<strong>com</strong>panhamento e avaliação sistemáticos dos<br />
processos que ocorrem <strong>na</strong> escola; e<br />
<br />
Foco centrado no cliente principal da escola, o aluno.<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, p. 30), a mudança de paradigma é marcada<br />
por uma forte tendência à adoção de práticas interativas, participativas e<br />
democráticas, caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais pelos quais<br />
dirigentes funcionários e clientes ou usuários estabelecem alianças, redes e<br />
parcerias, <strong>na</strong> busca de superação de problemas enfrentados e alargamento de<br />
horizontes e novos estágios de desenvolvimento.<br />
Para LÜCK (2009, p. 41). é inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e emerge <strong>com</strong> características de<br />
reforma nos países cujo governo foi caracterizado pela centralização, sobretudo<br />
daqueles que tiveram regimes autoritários de governo.<br />
Assim, LÜCK (2009, p. 41) acredita que:<br />
Esse movimento está relacio<strong>na</strong>do a vários entendimentos:<br />
a) De que as escolas apresentam características diferentes, em vista do<br />
que qualquer previsão de recursos decidida centralmente deixa de atender<br />
as necessidades especificas da forma e no tempo que não são<br />
demandadas;<br />
b) De que a escola é uma organização social e que o processo<br />
educacio<strong>na</strong>l que promove é altamente dinâmico, não podendo ser<br />
adequadamente previsto, atendido e a<strong>com</strong>panhado em âmbito externo e<br />
central;<br />
c) Os ideais democráticos que devem orientar a educação, a fim de que<br />
contribua para a correspondente formação de seus alunos, necessitam de<br />
ambiente democrático e participativo;<br />
d) A aproximação entre tomada de decisão e ação não ape<strong>na</strong>s garante<br />
a maior adequação das decisões e efetividade das ações correspondentes,<br />
<strong>com</strong>o também é condição para a formação de sujeitos de sue destino e a<br />
maturidade social.<br />
A fim de que a democratização da escola fosse ple<strong>na</strong>, seria necessário<br />
ocorrer uma verdadeira democratização no sistema de <strong>ensino</strong> <strong>com</strong>o um todo,<br />
envolvendo os níveis superiores de gestão. Assim, estes deveriam, também, sofrer o<br />
processo de gestão democrática, mediante a participação da <strong>com</strong>unidade em geral e<br />
de representantes das escolas, <strong>na</strong> tomada de decisões. (LÜCK, 2009, p. 46).
21<br />
Segundo FERREIRA e AGUIAR (2008, p. 56), a nova lei de diretrizes e<br />
bases, em seu artigo 14, trata da gestão democrática do <strong>ensino</strong> publico. Ela delega<br />
maiores detalhamentos aos sistemas. Contudo, o inciso II diz que um dos<br />
<strong>com</strong>ponentes desta gestão é a participação das <strong>com</strong>unidades <strong>escolar</strong> e locar em<br />
conselhos <strong>escolar</strong>es ou equivalentes.<br />
Para LÜCK (2009, p. 58), a proposição da democratização da escola aponta<br />
para o estabelecimento de um sistema de relacio<strong>na</strong>mento e de tomada de decisão<br />
em que todos tenham a possibilidade de participar e contribuir a partir de seu<br />
potencial que por essa participação se expande, criando um empoderamento<br />
pessoal de todos em conjunto <strong>com</strong> a instituição.<br />
Conforme GRACINDO (2009, p. 170):<br />
O conselho <strong>escolar</strong> tem papel decisivo <strong>na</strong> gestão democrática da escola,<br />
quando utilizado <strong>com</strong>o instrumento <strong>com</strong>prometido <strong>com</strong> a construção de uma<br />
escola cidadã. Assim constitui-se <strong>com</strong>o um órgão colegiado que representa<br />
a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong> e local, atuando em sintonia <strong>com</strong> os gestores<br />
<strong>escolar</strong>es e definindo caminhos para a tomada de decisões administrativas,<br />
fi<strong>na</strong>nceiras e político-pedagógica, que sejam condizentes <strong>com</strong> as<br />
necessidades e potencialidades da escola.<br />
A gestão democrática exige uma ruptura <strong>na</strong> pratica administrativa da escola<br />
<strong>com</strong> o enfrentamento das questões da exclusão e reprovação e da permanência do<br />
aluno <strong>na</strong> sala de aula, o que vem provocando a margi<strong>na</strong>lização das classes<br />
populares. (VEIGA, 2009, p. 166).<br />
Conforme VEIGA (2009, p. 167), a escola conta <strong>com</strong> instâncias colegiadas,<br />
entre elas, o Conselho de Escola, Conselho de Classe, etc. Portanto, participação<br />
requer o sentido da construção de algo que envolve todos os interessados e que tem<br />
a ver <strong>com</strong> educação de qualidade.<br />
De acordo SOUZA (2009, p. 199), as discussões acerca da gestão<br />
democrática da educação envolvem diferentes perspectivas, haja vista a diversidade<br />
de aspectos de dimensões, tanto do campo educacio<strong>na</strong>l (gestão <strong>escolar</strong>, de<br />
sistemas, de políticas, de currículo, gestão de sala de aula, de projetos, etc.) quanto<br />
do próprio conceito, este nem sempre apreendido para além de uma prescrição<br />
constitucio<strong>na</strong>l.<br />
Segundo SANTOS (2005, p. 69):<br />
Entende-se que haja uma tendência a pensar que a existência de um<br />
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a Eleição do Diretor e a
22<br />
possibilidade de a própria escola planejar e viabilizar a utilização de seus<br />
recursos fi<strong>na</strong>nceiros constitua por si mesmos, créditos suficientes para uma<br />
definitiva caracterização da escola <strong>com</strong>o democrática.<br />
Dentre as várias dimensões ou possibilidades de entrada <strong>na</strong> discussão<br />
sobre a gestão democrática <strong>escolar</strong>, uma se destaca, inicialmente, pelo seu<br />
significado político-pedagógico e pela condição imprescindível para o livre exercício<br />
democrático no âmbito social: referimo-nos à autonomia institucio<strong>na</strong>l. (SOUZA, 2009,<br />
p. 203).<br />
De acordo <strong>com</strong> MAMEDES (2005, p. 56):<br />
No setor educacio<strong>na</strong>l, a descentralização, a democratização da gestão<br />
<strong>escolar</strong> e a autonomia da escola aparecem de forma correlata, muitas<br />
vezes, inclusive, encontradas <strong>com</strong>o “sinônimos”, tanto em documentos<br />
oficiais <strong>com</strong>o <strong>na</strong> literatura que aborda o tema. Os instrumentos de<br />
construção de uma escola pública democrática, segundo esses<br />
documentos, são os projetos políticos pedagógicos, os Conselhos<br />
Escolares, a eleição de diretores, que são as instâncias de decisão que têm<br />
a função de gerir a escola democraticamente, representando os diferentes<br />
segmentos da <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>, <strong>com</strong> papel ativo <strong>na</strong> construção do<br />
projeto político pedagógico, em sua implantação, a<strong>com</strong>panhamento e<br />
avaliação sistemática.<br />
BORDIGNON e GRACINDO (2008, p. 158), para possibilitar o<br />
desenvolvimento de cidadão democrático, a escola precisa de um clima<br />
organizacio<strong>na</strong>l favorável ao cultivo do saber e da cultura, do prazer e da<br />
sensibilidade, desenvolvendo nos alunos capacidades técnicas, políticas e huma<strong>na</strong>s,<br />
que os tornem: capazes de aprender; <strong>com</strong>petentes técnicas e politicamente; éticos;<br />
autônomos e emancipados.<br />
MAMEDES (2005, p. 57), autonomia de uma escola significa ter poder de<br />
decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, administrar livremente<br />
as questões administrativas, pedagógicas e os recursos fi<strong>na</strong>nceiros. Sendo assim, a<br />
escola pode traçar seu próprio caminho, envolvendo os professores e os demais<br />
segmentos da <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>.<br />
Para ARAUJO (2009, p. 254), a gestão democrática, assim, passou a ser<br />
entendida <strong>com</strong>o meio de democratização das instâncias do poder no interior da<br />
escola e <strong>com</strong>o forma de garantia da participação efetiva e permanente da<br />
<strong>com</strong>unidade nos rumos da educação.<br />
ARAUJO (2000), apud ARAUJO (2009, p. 254):<br />
Acredita que é necessário exercitar quatro elementos constitutivos<br />
importantes <strong>na</strong> construção de um processo de gestão democrática:<br />
Participação, Autonomia, Pluralismo e Transparência. Cada um desses
23<br />
elementos tem sua relevância por si só, e, juntos, colaboram para a<br />
ampliação do entendimento de <strong>com</strong>o se articula e se manifesta uma<br />
educação democrática, que considera, realmente, a <strong>com</strong>unidade <strong>escolar</strong>.<br />
Gestão democrática é o processo de coorde<strong>na</strong>ção das estratégias de ação<br />
para alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada <strong>na</strong> <strong>com</strong>petência,<br />
legitimidade e credibilidade. [...] Em boa medida, portanto, escolher um diretor é<br />
escolher os rumos e a qualidade dos processos de gestão da escola. (BORDIGNON<br />
e GRACINDO, 2008,. p. 165).<br />
Conforme LÜCK (2009, p. 108), os principais princípios para a const5rução e<br />
prática da gestão autônoma são: <strong>com</strong>prometimento, <strong>com</strong>petência, liderança,<br />
mobilização coletiva, transparência, visão estratégica, visão proativa, iniciativa e<br />
criatividade.<br />
Para ARAUJO (2009, p. 258), a democratização da escola não é tarefa fácil,<br />
envolve as múltiplas relações <strong>com</strong> os diferentes sujeitos sociais, bem <strong>com</strong>o passa<br />
pela afirmação e pela criação de espaços de participação dos alunos <strong>na</strong>s discussões<br />
políticas e pedagógicas da escola.<br />
Segundo BORDIGNON e GRACINDO (2008. p. 165), a gestão democrática<br />
deve ser <strong>com</strong>preendida não ape<strong>na</strong>s <strong>com</strong>o um principio do novo paradigma, mas<br />
também <strong>com</strong>o um objetivo a ser sempre perseguido e aprimorado, além de<br />
configurar-se <strong>com</strong>o uma prática cotidia<strong>na</strong> nos ambientes educativos.<br />
De acordo <strong>com</strong> ARAUJO (2009. p. 261), no âmbito <strong>escolar</strong>, o envolvimento<br />
direto dos diferentes segmentos <strong>na</strong> construção de regras, normas e regimentos<br />
<strong>escolar</strong>es, a partir de um debate franco e transparente, visando uma melhor<br />
convivência inter<strong>na</strong> parece um exercício democrático importante.<br />
LÜCK (2009, p. 128), a autonomia de gestão <strong>escolar</strong> estabelece parâmetros<br />
de qualidade ao trabalho coletivo, norteando as responsabilidades do conjunto dos<br />
profissio<strong>na</strong>is da escola, estabelecendo oportunidades de exercício de criatividade e<br />
espírito de inovação, de renovação das práticas profissio<strong>na</strong>is e de <strong>com</strong>promisso<br />
social da escola.
3. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO<br />
A LDB (Lei 9.394/96), em seu artigo 12, inciso I, prevê que “os<br />
estabelecimentos de <strong>ensino</strong>, respeitadas as normas <strong>com</strong>uns e as do seu sistema de<br />
<strong>ensino</strong>, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica.”<br />
De acordo <strong>com</strong> GRACINDO (2004), apud GRACINDO (2009), o projeto<br />
político pedagógico, assim esboçado não deve ser visto <strong>com</strong>o um instrumento<br />
“neutro”, estanque das demais ações administrativas. Nem mesmo precisa ser<br />
(<strong>com</strong>o tem sido) um documento tecnicista e meramente formal. Ele é <strong>na</strong> verdade<br />
ferramenta eficaz <strong>na</strong> constituição da educação que se deseja e que tem, por isso,<br />
<strong>com</strong>o ponto de sustentação, a escolha consciente e intencio<strong>na</strong>l do tipo de educação<br />
e de escola que se quer construir.<br />
Conforme VEIGA (2009, p. 163), a <strong>com</strong>preensão do papel do PPP <strong>na</strong> escola<br />
e do conceito de gestão democrática que baliza seu desempenho tem sido<br />
influenciada de forma significativa pelas políticas públicas, tanto <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is quanto<br />
inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is. O que se espera da escola hoje é uma educação de qualidade, tendo<br />
<strong>com</strong>o sustentáculos o projeto político pedagógico e a gestão democrática.<br />
Para LÜCK (2009), vale lembrar que toda pessoa tem um poder de<br />
influência sobre o contexto de que faz parte, exercendo-o, involuntariamente de sua<br />
consciência desse fato e da direção e intenção de sua atividade.<br />
A gestão democrática <strong>na</strong> escola tem o objetivo de envolver toda <strong>com</strong>unidade<br />
<strong>escolar</strong> através da participação efetiva <strong>na</strong> construção do Projeto Político Pedagógico<br />
e em todas as decisões que imergirem desta gestão, afirma LEITE (2010, p. 12).<br />
MARQUES (1990) apud VEIGA (2009, p. 164):<br />
Ao nos referirmos ao projeto político pedagógico fica claro que construí-lo,<br />
executá-lo e avaliá-lo é tarefa da escola; tarefa que não se limita ao âmbito<br />
das relações interpessoais, mas que se tor<strong>na</strong> “realisticamente situada <strong>na</strong>s<br />
estruturas e funções especificas da escola, nos recursos e limites que<br />
singularizam, envolvendo ações continuadas em prazos distintos.”<br />
Conforme LÜCK (2009, p. 133)... a participação assume uma dimensão<br />
política de construção de bases de poder pela autoria que constitui o autentico<br />
sentido de autoridade, a qual, por sua vez é qualificada pela participação, tendo em<br />
vista que, pelas intervenções participativas <strong>com</strong>petentes no trabalho, aumenta a sua<br />
<strong>com</strong>petência e capacidade de participação.
25<br />
Projeto Político Pedagógico da escola e gestão democrática trazem<br />
intencio<strong>na</strong>lmente em seus termos a articulação e o significado postulados para a<br />
construção dos marcos da educação de qualidade. (VEIGA, 2009, p. 163).<br />
A participação em sentido pleno é caracterizada pela mobilização efetiva dos<br />
esforços individuais para a superação de atitudes de a<strong>com</strong>odação, de alie<strong>na</strong>ção, de<br />
margi<strong>na</strong>lidade, e reversão desses aspectos pela elimi<strong>na</strong>ção de <strong>com</strong>portamentos<br />
individualistas pela construção de espírito de equipe, visando a efetivação de<br />
objetivos sociais que são adequadamente entendidos e assumidos por todos (LÜCK,<br />
2009, p. 144).<br />
Para VEIGA (2009), a escola, no procedimento de construção da educação<br />
de qualidade, deve transformar-se numa <strong>com</strong>unidade do diálogo coletivo.<br />
Para LÜCK (2009. p. 147):<br />
A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de<br />
atuação consciente pela qual os membros de uma unidade social<br />
reconhecem e assumem seu poder de exercer influencia de determi<strong>na</strong>ção<br />
da dinâmica dessa unidade, de sua cultura e de seus resultados, poder<br />
esse resultante de sua <strong>com</strong>petência e vontade de <strong>com</strong>preender, decidir e<br />
agir sobre questões que lhe são afetas, dando-lhe unidade, vigor e<br />
direcio<strong>na</strong>mento firme.<br />
Segundo LÜCK (2009, p. 151) <strong>na</strong> escola, a participação tem sido evocada<br />
em várias circunstâncias, das quais destacamos algumas, ape<strong>na</strong>s para exemplificar<br />
certas práticas levadas a efeito sob essa denomi<strong>na</strong>ção.<br />
O projeto político pedagógico, <strong>com</strong>o proposta, deve constituir-se em tarefa<br />
<strong>com</strong>um do corpo diretivo e da equipe <strong>escolar</strong> e, mais especificamente, dos serviços<br />
pedagógicos (coorde<strong>na</strong>ção pedagógica, orientação educacio<strong>na</strong>l). A esses cabe o<br />
papel de liderar o processo de construção, execução e avaliação desse projeto<br />
pedagógico. (VEIGA, 2009, p. 165).<br />
Assim, LÜCK (2009, p. 158), afirma que uma das situações <strong>escolar</strong>es mais<br />
<strong>com</strong>uns sobre as quais se demanda a participação de professores diz respeito à<br />
realização de atividades extracurriculares, <strong>com</strong>o, por exemplo, festas juni<strong>na</strong>s,<br />
promoções de campanhas, atividades de campo ou transversalidade no currículo, ou<br />
outras atividades desse gênero.<br />
Outra circunstância constitui-se <strong>na</strong> tomada de decisões a respeito de<br />
problemas apontados pela direção da escola, cujas soluções alter<strong>na</strong>tivas são
26<br />
sugeridas pela própria direção, servindo assembléia para referendar tais decisões<br />
(LÜCK, 2009, p. 158).<br />
VEIGA (2009, p. 167), afirma que:<br />
O processo de construção do projeto pedagógico da escola amplia a visão<br />
de tempo em duas dimensões: o tempo cronológico e o tempo pedagógico.<br />
O tempo cronológico é aquele em que a realidade é representada, <strong>na</strong> forma<br />
que ocorreu no passado. É o tempo marcado pelo relógio, pelo horário,<br />
pelas horas, minutos e segundos.<br />
Por tempo pedagógico entendemos aquele tempo da experiência vivida. É o<br />
tempo predomi<strong>na</strong>nte <strong>na</strong> sala de aula, onde o processo <strong>ensino</strong>aprendizagem<br />
deve ocorrer de forma continua, onde as decisões<br />
pedagógicas são tomadas, onde um conhecimento é construído, onde<br />
ocorre o dialogo, o <strong>com</strong>partilhamento, a solidariedade.<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, p. 159) é importante ressaltar que essas<br />
circunstâncias deixam de caracterizar a participação efetiva dos professores, uma<br />
vez que os mesmos sentem-se usados, no primeiro caso <strong>com</strong>o simples mão de obra<br />
e, no segundo caso, <strong>com</strong>o avalistas de decisões prévias e exteriores ao grupo.<br />
Segundo AGUIAR (2009, p. 177), o processo de elaboração e<br />
implementação do PPP numa perspectiva democrática requer a participação de<br />
todos os segmentos que interagem <strong>na</strong> instituição <strong>com</strong> a fi<strong>na</strong>lidade de por em debate<br />
as fi<strong>na</strong>lidades e objetivos da educação e da escola de forma contextualizada, assim<br />
<strong>com</strong>o os processo curriculares e pedagógicos e os resultados do esforço coletivo em<br />
prol das aprendizagens significativas dos estudantes e da sua formação cidadã.<br />
Conforme LÜCK (2009, p. 152):<br />
[...] essa prática embora pareça oferecer, do ponto de vista de quem a<br />
conduz, alguns resultados positivos, do ponto de vista socioeducacio<strong>na</strong>l, a<br />
médio prazo, produz resultados altamente negativos deterioram a cultura<br />
organizacio<strong>na</strong>l da escola por várias razoes:<br />
a) Por destruir qualquer possibilidade de colaboração benéfica;<br />
b) Por promover o descrédito <strong>na</strong>s ações de direção e <strong>na</strong>s pessoas que<br />
detêm autoridade;<br />
c) Por gerar desconfiança, insegurança e, ainda<br />
d) Por destruir as sementes e motivações de participação efetiva que<br />
existem <strong>na</strong>s pessoas que, ao se sentirem usadas, passam a negar esse<br />
processo e até mesmo a legitimidade...<br />
A observação, a análise e a <strong>com</strong>preensão dos processos e das formas de<br />
participação constituem-se em condição para que se possa aprimorar esse processo<br />
<strong>na</strong> escola. Como um processo social, apresenta vários desdobramentos e nuances,
27<br />
demandando de todos os participantes, e, sobretudo de seus líderes, habilidades<br />
específicas e atitudes especiais (LÜCK, 2009, p. 149).<br />
O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da instituição. Trata-se de um<br />
importante caminho para a constituição da identidade da instituição. É um<br />
instrumento teórico-metodológico para transformação da realidade.<br />
(VASCONCELOS, 2008, p. 32).<br />
Conforme VEIGA (2009, p. 167), o projeto político pedagógico, ao dar uma<br />
nova identidade à escola, contempla em suas reflexões a questão da educação de<br />
qualidade, entendida aqui <strong>na</strong>s suas dimensões indissociáveis: a formal ou técnica, a<br />
social e a política.<br />
Segundo AGUIAR (2009, p. 177), a construção do PPP requer, portanto, de<br />
todos os segmentos disposição pra enfrentar o diálogo em torno de questões<br />
centrais da sociedade contemporânea, da formação huma<strong>na</strong> e cidadã, das<br />
perspectivas de futuro, da educação, da pratica pedagógica e do cotidiano <strong>escolar</strong>.<br />
VASCONCELOS (2002), apud ZANINI (2008, p. 13), destaca que, diante dos<br />
avanços e da <strong>com</strong>plexidade da prática educativa, sente-se a necessidade da criação<br />
de novos instrumentos para gerir o dia-a-dia da escola, âmbito em que o PPP se<br />
estabelece <strong>com</strong>o necessidade aos educadores e às instituições de <strong>ensino</strong>.<br />
Para ZANINI (2008, p. 13), a forma <strong>com</strong>o o PPP é formulado ou utilizado<br />
pelas escolas, nem sempre contribui para a efetivação do processo de<br />
democratização da gestão <strong>escolar</strong>, limitando sua existência a um mero documento<br />
legal e obrigatório, ape<strong>na</strong>s existe no campo burocrático.<br />
Segundo PEREIRA, ROCHA e ARAÚJO (2008, p. 20), as discussões sobre<br />
projetos político-pedagógicos aferem um olhar global sobre o processo educacio<strong>na</strong>l,<br />
<strong>na</strong> busca, sobretudo, de tecer um olhar sobre o caráter legal das ações previstas<br />
para sua implantação.<br />
PEREIRA, ROCHA e ARAÚJO (2008, p. 20), enfatizar que:<br />
Antes de tudo, estas discussões devem ter o objetivo de convidar o<br />
educador a construir, em primeiro plano, a sua autonomia individual para,<br />
posteriormente, sobre os reais condicio<strong>na</strong>ntes que envolvem a prática<br />
pedagógica contemporânea, pois pensar um projeto de educação implica<br />
pensar o tipo e qualidade de escola, a concepção de homem e de<br />
sociedade que se pretende construir.
28<br />
Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos<br />
intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, <strong>com</strong> base no que temos,<br />
buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente. (Veiga, 2002, p.<br />
154).<br />
Para VEIGA (2002, p. 155):<br />
O projeto não é algo que construído e em seguida arquivado ou<br />
encaminhado às autoridades educacio<strong>na</strong>is <strong>com</strong>o prova do cumprimento de<br />
tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos,<br />
por todos os envolvidos <strong>com</strong> o processo educativo da escola.<br />
Segundo LONGHI e BENTO (2006, p. 3), o projeto político-pedagógico é,<br />
portanto, um documento que facilita e organiza as atividades, sendo mediador de<br />
decisões, da condução das ações e da análise dos seus resultados e impactos.<br />
Ainda se constitui num retrato de memória histórica construída, num registro que<br />
permite à escola rever a sua intencio<strong>na</strong>lidade histórica.<br />
3.1 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO<br />
A participação tem sido exercida sob inúmeras formas e nuances no<br />
contexto <strong>escolar</strong>, desde a participação <strong>com</strong>o manifestação de vontades<br />
individualistas, algumas vezes camufladas, até a expressão efetiva de <strong>com</strong>promisso<br />
social e organizacio<strong>na</strong>l, traduzida em atuações concretas e objetivas, voltadas para<br />
a realização conjunta de objetivos (LÜCK, 2009, p. 35).<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, p. 35) em decorrência dessa variação, o<br />
sentido efetivo da participação se expressa pela peculiaridade da prática exercida e<br />
seus resultados. Assim, é que se pode observar, em diferentes contextos, a prática<br />
diferenciada da participação por sua abrangência e seu poder de influência.<br />
Certamente a participação da <strong>com</strong>unidade <strong>na</strong> gestão <strong>escolar</strong>, ainda enfrenta<br />
sérios problemas, que dificultam seu pleno estabelecimento, mas é de fundamental<br />
importância <strong>com</strong>o pré-requisito para sua concretização e reconhecimento de sua<br />
relevância e necessidade. (PARO, 2002, apud ZANINI, 2008, p. 15).<br />
Segundo LÜCK (2009, p. 50), a ação participativa, <strong>com</strong>o prática social<br />
segundo o espírito de equipe, depende de que seja realizada mediante a orientação<br />
por certos valores substanciais, <strong>com</strong>o éticas, solidariedade, equidade e
29<br />
<strong>com</strong>promisso, entre vários outros correlacio<strong>na</strong>dos, sem os quais a participação no<br />
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico.<br />
Essas categorias apresentam diferentes intensidades de envolvimento e<br />
<strong>com</strong>promisso, que vão do <strong>com</strong>promisso ape<strong>na</strong>s formal e distanciado ao<br />
envolvimento pleno e engajado. (LÜCK, 2009, p. 62).<br />
3.1.1 PARTICIPAÇÃO COMO PRESENÇA<br />
Segundo o entendimento da participação <strong>com</strong>o presença, é participante<br />
quem pertence a um grupo ou organização, independente de sua atuação nele,<br />
<strong>com</strong>o, por exemplo, quem é membro de uma escola, de um grupo de professores,<br />
de associação de pais e mestres etc. (LÜCK (2009, p. 36).<br />
Para LÜCK (2009, p. 36):<br />
Essa participação pode, muitas vezes, ocorrer por obrigatoriedade, por<br />
eventualidade ou por necessidade e não por intenção e vontade própria.<br />
Outras vezes, porém, <strong>com</strong>o mera concessão. Essas circunstâncias são<br />
expressas em caso <strong>com</strong>o, por exemplo, de alunos que vão para a escola<br />
por obrigação, por determi<strong>na</strong>ção de seus pais, sem entenderem o sentido<br />
dessa necessidade em sua vida e que, durante o processo educacio<strong>na</strong>l, não<br />
tem seus interesses próprios e motivação despertados para o mesmo; no<br />
caso de professores e funcionários que encaram seu trabalho meramente<br />
<strong>com</strong>o emprego do qual escapariam caso tivessem outra alter<strong>na</strong>tiva; de pais<br />
em Associação de Pais e Mestres ou Conselhos Escolares de existência<br />
ape<strong>na</strong>s formal, nos quais atuam limitando-se a solicitações da direção da<br />
escola, de forma reativa.<br />
Evidencia-se, pois, a significação i<strong>na</strong>dequada e falsa de participação, [...]<br />
deixa-se de considerar que o termo em si pressupõe, além de fazer parte de, a ação<br />
efetiva de contribuição para o desenvolvimento da organização ou unidade social<br />
(LÜCK, 2009. p. 37).<br />
Verifica-se <strong>na</strong>s escolas, no entanto, certo ressentimento em relação ao<br />
<strong>com</strong>portamento passivo, embora ele seja muito dissemi<strong>na</strong>do e freqüente (LÜCK,<br />
2009, p. 38).<br />
3.1.2 PARTICIPAÇÃO COMO EXPRESSÃO VERBAL E DISCUSSÃO DE IDÉIAS<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, P. 38), é muito freqüente interpretar o<br />
envolvimento de pessoas <strong>na</strong> discussão de idéias, <strong>com</strong>o um indicador de sua
30<br />
30<br />
participação em relação a questão em causa.<br />
Para LÜCK (2009, p. 39):<br />
A oportunidade que é dada às pessoas de expressarem suas opiniões, de<br />
falarem, de debaterem, de discutirem sobre idéias e pontos de vista – enfim,<br />
o uso da liberdade de expressão -, é considerada <strong>com</strong>o espaço democrático<br />
de participação e, portanto, a grande evidencia de participação. Porém, a<br />
atenta observação do que acontece no contexto educacio<strong>na</strong>l ode<br />
demonstrar um espírito totalmente diverso.<br />
É in<strong>com</strong>um perceber, <strong>com</strong>o [...] escolas em que as decisões tomadas por<br />
sua direção têm no espaço de reuniões de professores o objetivo de referendar<br />
decisões tomadas, constituindo-se, desse modo, em processo de falsa democracia e<br />
participação. (LÜCK, 2009, p. 39).<br />
Segundo LÜCK (2009,. p. 40), é impossível observar, em tais reuniões, que<br />
se manifestam situações de tensão e conflito sem quem, no entanto, se dê atenção<br />
a elas, o que seria necessário para <strong>com</strong>preendê-las e resolvê-las, de modo que não<br />
interfiram <strong>na</strong>s ações que devem ser adotadas posteriormente.<br />
A efetiva interação participativa, para além do discurso, do conhecimento de<br />
<strong>com</strong>o as pessoas pensam e da oportunidade de se fazerem ouvir, pressupõe a<br />
interação de pontos de vista, de idéias e de concepções. Isto é, só se tor<strong>na</strong> efetiva<br />
essa discussão quando associada a um esforço de diálogo efetivo que permite a<br />
<strong>com</strong>preensão abrangente da realidade e das pessoas em sua construção. (LÜCK,<br />
2009, p. 41).<br />
3.1.3 PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO<br />
Conforme LÜCK (2009, p. 41), a representação é considerada <strong>com</strong>o uma<br />
forma significativa de participação: nossas idéias, nossas expectativas, nossos<br />
valores, nossos direitos são manifestados e levados em consideração por meio de<br />
um representante acolhido <strong>com</strong>o pessoa capaz de traduzi-los em um contexto<br />
organizado para esse fim.<br />
Tal concepção é necessária em grupos sociais grandes que não permitem a<br />
participação direta de todos, e se efetiva pela instituição de organizações formais em<br />
que o caráter representativo é garantido pelo voto (LÜCK, 2009, p. 42).
31<br />
Nas escolas, essas organizações são os conselhos <strong>escolar</strong>es, associações<br />
de pais e mestres, grêmios estudantis ou similares, constituídos por representantes<br />
escolhidos mediante o voto. Essa situação constitui-se em um principio de gestão<br />
democrática definido no artigo 14, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da<br />
Educação Nacio<strong>na</strong>l (9.294/96). (LÜCK, 2009, p. 43).<br />
3.1.4 PARTICIPAÇÃO COMO TOMADA DE DECISÃO<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, p. 44), participar implica <strong>com</strong>partilhar poder,<br />
vale dizer, implica <strong>com</strong>partilhar responsabilidades por decisões tomadas em<br />
conjunto <strong>com</strong>o uma coletividade e o enfrentamento dos desafios de promoção de<br />
avanços, no sentido da melhoria contínua e transformações necessárias.<br />
Identifica-se que a prática participativa <strong>na</strong> tomada de decisões em vários<br />
estabelecimentos de <strong>ensino</strong> tem gerado uma situação de falsa democracia, pela<br />
qual tudo se decide em reuniões <strong>com</strong>o corpo docente (ou não se decide pela falta de<br />
espaço para realizar reuniões) até sem considerar a relevância da questão para a<br />
realização do projeto pedagógico da escola. (LÜCK, 2009, p. 45).<br />
LÜCK (2009. p. 46) verifica-se, nessa prática de se envolver todos para<br />
discutir e decidir questões de menor significado e muitas vezes sem as informações<br />
básicas necessárias, uma série de aspectos negativos, interligados:<br />
a) O gasto do tempo precioso de todos e da energia coletiva para<br />
discutir questões secundárias e operacio<strong>na</strong>is;<br />
b) O enfraquecimento do poder e da responsabilidade de discernimento<br />
<strong>na</strong> tomada de decisão <strong>na</strong> gestão <strong>escolar</strong>;<br />
c) A delonga <strong>na</strong> tomada de decisão colegiada que, por ser morosa,<br />
tor<strong>na</strong>-se inoperante e enfraquecida;<br />
d) A delonga e hesitação em assumir decisões mais fundamentais da<br />
problemática educacio<strong>na</strong>l;<br />
e) A criação de um clima fictício de participação e desgaste desse<br />
processo.<br />
3.1.5 PARTICIPAÇÃO COMO ENGAJAMENTO<br />
O engajamento representa o nível mais pleno de participação. Sua prática<br />
envolve o estar presente, o oferecer idéias e opiniões, o expressar o pensamento, o<br />
a<strong>na</strong>lisar de forma interativa as situações, o tomar decisões sobre o encaminhamento
32<br />
de questões, <strong>com</strong> base em análises <strong>com</strong>partilhadas e envolver-se de forma<br />
<strong>com</strong>prometida no encaminhamento e <strong>na</strong>s ações necessárias e adequadas para a<br />
efetivação das decisões tomadas. (LÜCK, 2009, p. 47).<br />
De acordo <strong>com</strong> LÜCK (2009, p. 47):<br />
Conforme indicado <strong>na</strong> discussão sobre as expressões de poder <strong>na</strong> escola, a<br />
separação e entre tomada de decisão e ação, entre o pensar e o fazer,<br />
produz fragmentação e resultados negativos no processo pedagógico e <strong>na</strong><br />
cultura <strong>escolar</strong>, de que resulta virem todos a pagar o preço desse resultado,<br />
dentre os quais, além da baixa efetividade, o desperdício de oportunidade<br />
de desenvolvimento de <strong>com</strong>petência profissio<strong>na</strong>l e institucio<strong>na</strong>l e autonomia.<br />
Segundo LÜCK (2009, p. 48), a qualidade do <strong>ensino</strong> depende de que as<br />
pessoas afetadas por decisões institucio<strong>na</strong>is exerçam o direito de participar desse<br />
processo de decisões, assim <strong>com</strong>o tenham o dever de agir para implementá-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O presente trabalho esclarece a importância em gerir uma escola <strong>com</strong><br />
democracia e transparência, sobre os “tabus” já rompidos de uma visão que<br />
diferencia administrar de gestar escola é acreditar que podemos transformar,<br />
melhorar a qualidade da aprendizagem <strong>com</strong> ações pensadas coletivamente e<br />
principalmente voltadas para a realidade da escola, dos educandos e da<br />
<strong>com</strong>unidade.<br />
Fazer gestão <strong>escolar</strong> <strong>com</strong> democracia garante autonomia no processo de<br />
desenvolvimento de todas as dimensões da escola, sobretudo a pedagógica já que<br />
esta a principal de existir o espaço educativo.<br />
Vivemos em um país capitalista, onde a sociedade trabalha<br />
demasiadamente e às vezes as famílias não dá importância devida ao que acontece<br />
no ambiente onde seus filhos passam duzentos dias letivos, cabendo a nós<br />
gestores, profissio<strong>na</strong>is da escola propor artifícios para estas famílias participarem do<br />
processo pedagógico.<br />
A escola onde a gestão prima pela participação de toda a <strong>com</strong>unidade tem<br />
menos riscos de errar <strong>na</strong>s ações desenvolvidas, justamente por conhecer melhor a<br />
realidade do ambiente <strong>escolar</strong>, pois desta forma a pessoa do gestor não decide<br />
sozinho, a decisão acontece coletivamente.<br />
Para que as ações pedagógicas sejam executadas <strong>com</strong> sucesso o Projeto<br />
Político Pedagógico da escola deve ser muito bem pensado, avaliado e planejado<br />
pela <strong>com</strong>unidade, uma vez que este instrumento norteia os projetos desenvolvidos<br />
<strong>na</strong> escola, ou seja, é a identidade da escola.<br />
Contudo é transparente quando há participação da <strong>com</strong>unidade <strong>na</strong>s<br />
tomadas de decisões, assim a responsabilidade é dividida e não existem culpados e<br />
sim colaboradores de sucesso.
BIBLIOGRAFIA<br />
AGUIAR, Márcia Angela da S. Conselhos Escolares – espaço de cogestão da<br />
escola. Revista Retratos da Escola, Brasília, v.3, n. 4, p. 173-183, jan./jun. 2009.<br />
ARAUJO, Adilson Cesar de. A gestão democrática e os ca<strong>na</strong>is de participação dos<br />
estudantes. Revista Retratos da Escola, Brasília, v.3, n. 4, p. 253-266, jan./jun. 2009.<br />
ARAUJO, Adilson Cesar de. A gestão democrática e os ca<strong>na</strong>is de participação dos<br />
estudantes. Revista Retratos da Escola, Brasília, v.3, n. 4, p. 253-266, jan./jun.<br />
2009.<br />
ARAUJO, Adilson César de. Gestão democrática da educação: a posição dos<br />
docentes. Brasília, 2000. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Educação,<br />
Universidade de Brasília,<br />
BORDIGNON, Genuino e GRACINDO, Regi<strong>na</strong> Vinhaes. Gestão da educação: o<br />
município e a escola. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Angela<br />
da S. Gestão da educação: impasses, perspectivas e <strong>com</strong>promissos. 6. ed. São<br />
Paulo: Cortez, 2008.<br />
BRASIL. Lei Federal nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.<br />
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.<br />
FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Angela da S. Gestão da<br />
educação: impasses, perspectivas e <strong>com</strong>promisso. 6. ed. São Paulo. Cortez. 2008.<br />
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão da educação: origens, fundamentos e<br />
<strong>com</strong>promissos <strong>na</strong> sociedade mundializada. Disponível em: .<br />
Acesso em 14 mar 2011.<br />
GABLER, Sandra Santos da Costa. Gestão participativa realmente funcio<strong>na</strong>? Gestão<br />
em Rede, Castanheiras, n. 82, p. 08-09, nov. 2007.<br />
GANDIN, Danilo. GANDIN, Luís Armando. Temas para um projeto políticopedagógico.<br />
8. ed. Petrópolis. Vozes, 1999.<br />
GRACINDO, Regi<strong>na</strong> Vinhaes. O gestor <strong>escolar</strong> e as demandas da gestão<br />
democrática – exigências, práticas, perfil e formação. Revista Retratos da Escola,<br />
Brasília, v.3, n. 4, p. 135-147, jan../jun. 2009.<br />
HALLAK, Jacques. Gestio<strong>na</strong>r lãs escuelas <strong>com</strong> más eficiência y equidad. Carta<br />
informativa Del Iipe. Vol. X, n. 2, abr./jun, 1996. In: VALERIEN, Jean. Gestão da<br />
Escola fundamental: subsídios para análise e sugestão de aperfeiçoamento. 10.<br />
ed. São Paulo. Cortez; [Paris]: UNESCO; Brasilia: Ministério da Educação e Cultura,<br />
2009.
35<br />
LEITE, Roseli Candida. Gestão democrática <strong>na</strong> escola pública. Medianeira:<br />
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2010.<br />
LONGHI, Simone Raquel Pagel, e BENTO, Karla Lucia. Projeto políticopedagógico<br />
– uma construção coletiva. 2006. Disponível em:<br />
. Acesso em 24<br />
ago. 2010.<br />
LÜCK, Heloísa. A gestão participativa <strong>na</strong> escola. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.<br />
LÜCK, Heloísa. Planejamento em orientação educacio<strong>na</strong>l. 17. ed. Petrópolis:<br />
Vozes, 2008.<br />
LUCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos de gestão educacio<strong>na</strong>l.<br />
4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.<br />
MAMEDES, Cleuza Ber<strong>na</strong>dete Larranhagas. Democracia <strong>na</strong> escola pública e<br />
participação de professores. Cáceres: UNEMAT, 2005.<br />
MARQUES, Mário Osório. Projeto pedagógico: a marca da escola. In: Revista<br />
Contexto e Educação, Ijuí, Unijuí, n. 18, abr/jun. 1990. Apud. VEIGA, Ilma Passos<br />
Alencastro. Projeto Político Pedagógico e gestão democrática – novos marcos para<br />
a educação de qualidade. Revista Retratos da Escola, Brasília, v.3, n. 4, p. 163-<br />
171, jan./jun. 2009..<br />
MATO GROSSO. Lei Estadual nº. 7.040 de 1º de outubro de 1998.<br />
OLIVEIRA, Lucia<strong>na</strong> Paula de. Conceito de gestão <strong>escolar</strong>. 2008. Disponível em:<br />
.<br />
Acesso em 23 ago. 2010.<br />
PARO, Vitor Henrique. A Gestão da Educação ante as exigências de qualidade e<br />
produtividade da escola pública. V seminário inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l sobre reestruturação<br />
curricular. Porto Alegre, 1998. In:: Silva, Luiz Heron da; (org.). A escola cidadã no<br />
contexto da globalização. Petropolis. Vozes, 1998.<br />
PARO, Vitor Henrique. Administração <strong>escolar</strong>: introdução crítica. 15. ed. São<br />
Paulo. Cortez, 2008.<br />
PARO, Vitor Henrique. Gestão <strong>escolar</strong>, democracia e qualidade de <strong>ensino</strong>. São<br />
Paulo: Ática, 2007.<br />
PEREIRA, Fabíola Andrade. ROCHA, Eva Gomes. ARAÚJO, Nataniel da Vera-Cruz<br />
Gonçalves. O projeto político pedagógico <strong>na</strong> escola: alguns elementos. Revista<br />
Gestão em Rede, Tocantinópolis: CONSED, nº 90. p.20-23, nov. 2008.<br />
SANTOS, José Olimpio dos. Gestão da escola: planejamento e avaliação <strong>na</strong><br />
construção da gestão participativa. Cuiabá: Publishing House, 2005.
36<br />
SOUZA, Antônio Lisboa Leitão de. Gestão democrática e eleição de diretor – do<br />
exercício da autonomia à socialização do direito. Revista Retratos da Escola,<br />
Brasília, v.3, n. 4, p. 173-183, jan./jun. 2009.<br />
SOUZA, Valdivino Alves de. A Gestão Escolar. 2007. Disponível em:<br />
.Acesso<br />
em 23 ago. 2010.<br />
VALERIEN, Jean. Gestão da escola fundamental: subsídios para análise e<br />
sugestão de aperfeiçoamento. 10. ed. São Paulo. Cortez; [Paris]: UNESCO; Brasilia:<br />
Ministério da Educação e Cultura, 2009.<br />
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coorde<strong>na</strong>ção do trabalho pedagógico – do<br />
projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 9. ed. São Paulo: Libertad,<br />
2008.<br />
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org). Projeto político-pedagógico da escola:<br />
uma construção possível. 14. ed. Campi<strong>na</strong>s: Papirus, 2002.<br />
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político Pedagógico e gestão democrática –<br />
novos marcos para a educação de qualidade. Revista Retratos da Escola, Brasília,<br />
v.3, n. 4, p. 163-171, jan./jun. 2009.<br />
XAVIER, Antonio Carlos da R. A gestão da qualidade e a excelência dos serviços<br />
educacio<strong>na</strong>is: custos e benefícios de sua Implantação. Rio de Janeiro: IPEA –<br />
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Serviço Editorial, 1996.<br />
ZANINI, Simone Magalhães Wolff. Apud. VASCONCELOS, – 2002. O papel do<br />
projeto político-pedagógico <strong>na</strong> gestão democrática da escola. 2008. In:. Revista<br />
Gestão em Rede, Santa Maria, CONSED, nº. 88. p. 13-21, set. 2008,<br />
ZANINI, Simone Magalhães Wolff. O papel do projeto político-pedagógico <strong>na</strong> gestão<br />
democrática da escola. 2008. In: Gestão em Rede, Santa Maria, CONSED, nº. 88.<br />
p. 13-21, set. 2008.<br />
SOUZA, Valdivino Alves de. A Gestão Escolar. 2007. Disponível em:<br />
.Acesso<br />
em 23 ago. 2010.<br />
VALERIEN, Jean. Gestão da escola fundamental: subsídios para análise e<br />
sugestão de aperfeiçoamento. 10. ed. São Paulo. Cortez; [Paris]: UNESCO; Brasilia:<br />
Ministério da Educação e Cultura, 2009.<br />
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coorde<strong>na</strong>ção do trabalho pedagógico – do<br />
projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 9. ed. São Paulo: Libertad,<br />
2008.<br />
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org). Projeto político-pedagógico da escola:<br />
uma construção possível. 14. ed. Campi<strong>na</strong>s: Papirus, 2002.
37<br />
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político Pedagógico e gestão democrática –<br />
novos marcos para a educação de qualidade. Revista Retratos da Escola, Brasília,<br />
v.3, n. 4, p. 163-171, jan./jun. 2009.<br />
XAVIER, Antonio Carlos da R. A gestão da qualidade e a excelência dos serviços<br />
educacio<strong>na</strong>is: custos e benefícios de sua Implantação. Rio de Janeiro: IPEA –<br />
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Serviço Editorial, 1996.<br />
ZANINI, Simone Magalhães Wolff. Apud. VASCONCELOS, – 2002. O papel do<br />
projeto político-pedagógico <strong>na</strong> gestão democrática da escola. 2008. In:. Revista<br />
Gestão em Rede, Santa Maria, CONSED, nº. 88. p. 13-21, set. 2008,<br />
ZANINI, Simone Magalhães Wolff. O papel do projeto político-pedagógico <strong>na</strong> gestão<br />
democrática da escola. 2008. In: Gestão em Rede, Santa Maria, CONSED, nº. 88.<br />
p. 13-21, set. 2008.
AINDA FALTA PROVIDENCIAR O QUE SOLICITO<br />
ABAIXO:<br />
Na pági<strong>na</strong> 17 (numeração do <strong>com</strong>putador) você cita a Constituição Federal do<br />
Brasil, de 1988, a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio<strong>na</strong>l, Lei<br />
nº. 9.394/96 e a Lei 7.040/98 e não possui nenhum destes documentos <strong>com</strong><br />
estes anos em sua bibliografia. (reveja <strong>com</strong>o fazer referência bibliográfica de<br />
Leis) .<br />
Na pági<strong>na</strong> 26 (numeração do <strong>com</strong>putador) você novamente cita a LDB (Lei<br />
9.394/96) e não a possui em sua bibliografia.<br />
Numere o restante do trabalho, conforme feito até o fi<strong>na</strong>l de seu primeiro<br />
capítulo e depois arrume o sumário.<br />
Em sua bibliografia falta colocar o local de publicação (cidade) da obra de<br />
LIBÂNEO e refazer a bibliografia das leis e da constituição.<br />
Seu trabalho está muito bem fundamentado em autores, necessitando ainda<br />
que você providencie o que solicito acima. Prof. Ilso.