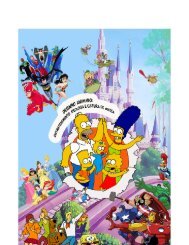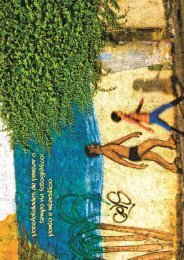artigo pdf - Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
artigo pdf - Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
artigo pdf - Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 1<br />
TABU: FIGURAÇÃO DA HISTÓRIA E FIGURAS DO TEMPO<br />
Luiz Cláudio da Costa<br />
Resumo<br />
Esse <strong>artigo</strong> analisa o filme Tabu <strong>de</strong> Julio Bressane procurando compreen<strong>de</strong>r o tratamento heterogêneo da<br />
história da cultura musical do samba no Rio <strong>de</strong> Janeiro através <strong>de</strong> três personagens que perambulam pela<br />
cida<strong>de</strong>: João do Rio, Oswald <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> e Lamartine Babo. As referências t<strong>em</strong>porais criam probl<strong>em</strong>as para a<br />
representação do t<strong>em</strong>po histórico no filme que privilegia uma imag<strong>em</strong> do t<strong>em</strong>po como abertura para uma<br />
diferença não‐reconciliável entre dois momentos na cultura brasileira, o Pré‐mo<strong>de</strong>rnismo e o Mo<strong>de</strong>rnismo.<br />
Palavras‐Chave: cin<strong>em</strong>a brasileiro, samba, t<strong>em</strong>po, história.<br />
Abstract<br />
The article analyses Julio Bressane’s film, named Tabu, in the att<strong>em</strong>pt to un<strong>de</strong>rstand the heterogeneous<br />
treatment of the history of Samba in Rio <strong>de</strong> Janeiro through three characters that wan<strong>de</strong>r around the city:<br />
João do Rio, Oswald <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> e Lamartine Babo. The film t<strong>em</strong>poral references present probl<strong>em</strong>s for the<br />
representation of the historical time and constructs a image of time as an opening to a difference between<br />
two moments in Brazilian culture, Pre‐Mo<strong>de</strong>rnism and Mo<strong>de</strong>rnism.<br />
Key‐words: Brazilian film, samba, time, history.
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 2<br />
Em Tabu <strong>de</strong> Júlio Bressane, v<strong>em</strong>os três personagens perambular pelo Rio <strong>de</strong> Janeiro que assumimos ser a<br />
cida<strong>de</strong> do início do século, época <strong>em</strong> que João do Rio escrevia suas crônicas, Oswald visitava a capital e<br />
Lamartine a cantava <strong>em</strong> sua marchas populares.<br />
O t<strong>em</strong>po nesse filme é, no entanto, bastante complexo para fixarmos uma época representada. Por um<br />
lado, a cida<strong>de</strong> representada <strong>em</strong> Tabu po<strong>de</strong> ser o Rio dos carnavais cantado por Lamartine Babo, Francisco<br />
Alves e Mário Reis, algumas das várias personagens do filme. Esse era o início da época das reproduções<br />
sonoras, o começo da fase áurea do rádio, a orig<strong>em</strong> da nossa cultura industrial possibilitada pelas novas<br />
técnicas <strong>de</strong> impressão, difusão e reprodução. O sucesso <strong>de</strong> Lamartine foi rápido <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> suas primeiras<br />
composições. A primeira gravação do compositor é anterior, do ano <strong>de</strong> 1926, às gravações elétricas que<br />
iniciaram <strong>em</strong> 1927. Ela se intitulava, “Os calças largas” (VALENÇA, 1989, p.46). A marcha, que satirizava a<br />
moda das calças <strong>de</strong> boca larga e teve seu sucesso ainda mais realçado quando da estréia <strong>de</strong> uma revista<br />
teatral com o mesmo título dois anos <strong>de</strong>pois da gravação da marcha pela O<strong>de</strong>on, faria parte do repertório<br />
da revista. Mas os gran<strong>de</strong>s sucessos <strong>de</strong> Lamartine datam do início da década <strong>de</strong> 30: “O teu cabelo não<br />
nega” (1932), “Linda Morena”, “Aí, hein!”, “Moleque indigesto” (1933) e outros. Nessa fase <strong>de</strong> absoluto<br />
sucesso, mais precisamente, <strong>em</strong> 1932, Lamartine se apresentará com Francisco Alves e Mário Reis no<br />
espetáculo carnavalesco “Os ases do samba” no palco do Teatro Eldorado (VALENÇA, 1989).<br />
Baseando‐nos pela presença <strong>de</strong> “Os ases do Samba” no filme <strong>de</strong> Bressane e pelos sucessos musicais que o<br />
filme nos coloca a ouvir por sua banda sonora, a época figurada <strong>em</strong> Tabu são os primeiros anos da terceira<br />
década do século XX. Nada, porém, da história <strong>de</strong> Lamartine Babo nos é contada no filme. Não v<strong>em</strong>os<br />
representada sua primeira gravação, a formação do grupo Ases do Samba ou quaisquer outras situações da<br />
vida do sambista. Há fragmentos <strong>de</strong> encontros como o representado na Lapa entre João do Rio, Mário Reis<br />
e Lamartine. Mas as situações que fizeram história não aparec<strong>em</strong> – o ano do nascimento do poeta popular<br />
que coincidiu com a gran<strong>de</strong> reforma da avenida Central (hoje Rio Branco), a adolescência no colégio São<br />
Bento, o <strong>em</strong>prego como office‐boy do Departamento Comercial da Light, a primeira gravação <strong>em</strong> 1926, o<br />
programa “Tr<strong>em</strong> da alegria” na Rádio Mayrink Veiga – nada disso aparece. O que aparece é justamente o<br />
que não apareceu jamais, aquilo que ficou na exteriorida<strong>de</strong> dos acontecimentos importantes da história da<br />
cultura. O que aparece são acontecimentos marginais e insignificantes, como um encontro qualquer na Lapa<br />
on<strong>de</strong> não se diz n<strong>em</strong> se faz nada <strong>de</strong> fundamental.<br />
Não é dizer que o filme não narra, que não há história <strong>em</strong> Tabu. V<strong>em</strong>os várias situações como aquela na<br />
qual Lamartine ironiza a comparação com James Joyce que Oswald faz do poeta popular ou o encontro da
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 3<br />
nata musical carioca no bor<strong>de</strong>l <strong>de</strong> Madame Xavier, on<strong>de</strong> v<strong>em</strong>os cantorias, conversas, muita sensualida<strong>de</strong> e<br />
volúpia. Mas essas situações não se conectam para narrar uma história, um t<strong>em</strong>po. Elas aparec<strong>em</strong><br />
fragmentariamente e tiram seu sentido não da conexão com outros acontecimentos ou reações às situações<br />
primeiras, mas da relação que ativam com a m<strong>em</strong>ória inativa e as sensações <strong>de</strong>sconectadas do espectador.<br />
O sentido e o t<strong>em</strong>po que se po<strong>de</strong> apreen<strong>de</strong>r não estão submetidos às ações dos personagens, às situações<br />
<strong>em</strong> que se vêm metidos, n<strong>em</strong> aos movimentos da câmera organizados pela montag<strong>em</strong>. As ações, as<br />
situações, os movimentos que v<strong>em</strong>os na tela são potencializadores <strong>de</strong> uma abertura para os sentidos e o<br />
t<strong>em</strong>po. Não há um acontecimento anterior que se liga a um posterior, como um movimento contínuo. Com<br />
efeito, não há um acontecimento anterior (um evento passado) a que o filme se propõe representar, mas<br />
um acontecimento que parece se produzir no mesmo instante <strong>em</strong> que se relata o passado. V<strong>em</strong>os vários<br />
indícios <strong>de</strong> um filme que está sendo rodado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a apresentação: a claquete sendo batida, o diretor<br />
<strong>de</strong>terminando o início <strong>de</strong> uma filmag<strong>em</strong>, os atores se colocando <strong>em</strong> seus personagens, etc. É o narrador<br />
aparecendo <strong>em</strong> seu ato <strong>de</strong> narrar. O acontecimento pertence, simultaneamente, ao passado (Lamartine e<br />
Oswald) e ao futuro (Bressane). Não há uma integração <strong>de</strong> momentos significantes no t<strong>em</strong>po (enredo<br />
tradicional), mas coexistência <strong>de</strong> t<strong>em</strong>pos diferenciados.<br />
Os diversos acontecimentos que não fizeram parte da história aportam na imag<strong>em</strong> como figuras do t<strong>em</strong>po,<br />
que não sendo mais <strong>de</strong>sdobramento linear <strong>de</strong> um acontecimento único tornou‐se dobras simultâneas <strong>de</strong><br />
um mesmo acontecimento diferenciado e múltiplo. Com efeito, os movimentos, os personagens e as<br />
situações <strong>em</strong> que estão envolvidos não se <strong>de</strong>senrolam. Suas ações, o próprio cenário, os planos, as imagens<br />
parec<strong>em</strong> movimentos s<strong>em</strong> propósito, pelo menos no que diz respeito a uma encenação, a um enredo, a<br />
uma história. O t<strong>em</strong>po está a cada vez fissurado entre o passado e o futuro, entre o fazer e o refletir sobre a<br />
ação feita. A imag<strong>em</strong> não <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> mais das ações e do movimento para fazer surgir o sentido e a figura do<br />
t<strong>em</strong>po.<br />
Caetano Veloso, personificando Lamartine Babo <strong>em</strong> pé diante <strong>de</strong> um portão Art Nouveau, revela essa<br />
fissura no t<strong>em</strong>po. Caetano Veloso no papel <strong>de</strong> Lamartine não <strong>de</strong>saparece para dar lugar ao personag<strong>em</strong> que<br />
interpreta, pois é imediatamente reconhecível como o compositor popular que é. Na verda<strong>de</strong> a idéia <strong>de</strong> que<br />
o ator incorpora seu personag<strong>em</strong> e faz sumir aquele que ele é não existe <strong>em</strong> Tabu e nunca existiu na<br />
cin<strong>em</strong>atografia <strong>de</strong> Júlio Bressane. A direção <strong>de</strong> atores do cineasta t<strong>em</strong> sido bastante peculiar. A falsida<strong>de</strong><br />
aparente na personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> Helena Ignez <strong>em</strong> Família do barulho, seu auto‐<strong>de</strong>boche permitia que víss<strong>em</strong>os<br />
a atriz gerando e comentando a cada vez seu personag<strong>em</strong>. Mas se Helena Ignez mostrou uma nova maneira<br />
<strong>de</strong> atuar no cin<strong>em</strong>a <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos 70, Júlio Bressane continuou esse trabalho utilizando mesmo não‐atores.
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 4<br />
A opção feita pela direção do filme não foi a <strong>de</strong> utilizar um ator <strong>de</strong>sconhecido (n<strong>em</strong> mesmo um ator<br />
conhecido do qual se espera interpretar personagens). Ao contrário, o diretor preferiu o compositor famoso<br />
e marcado pela cultura popular <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos 70. Necessariamente, o espectador brasileiro que vê esse<br />
filme não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> perceber o Caetano na frente (e não por trás) do personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> Lamartine. Assim, dois<br />
momentos chaves, os anos 30 <strong>de</strong> Lamartine e a época atual do cantor tropicalista aparec<strong>em</strong> <strong>de</strong>sdobrados<br />
na superfície da imag<strong>em</strong>. Com efeito, são dois momentos marcados por uma certa relação com a técnica:<br />
aquele <strong>em</strong> que surgia Lamartine e se inventava a gravação e o rádio; aquele outro, o do tropicalismo <strong>em</strong><br />
que se questiona a relação hierárquica entre a cultura popular nacional‐regional e a cultura urbana técnica<br />
e <strong>de</strong> massa. Mas esses sentidos não estão na imag<strong>em</strong> atual que v<strong>em</strong>os, são virtualida<strong>de</strong>s que po<strong>de</strong>m ser<br />
geradas na cabeça do espectador.<br />
O t<strong>em</strong>po figurado no filme é essa superfície bidimensional, <strong>de</strong>sdobrada e com múltiplas direções,<br />
s<strong>em</strong>elhante ao lençol usado pela figura f<strong>em</strong>inina e t<strong>em</strong>atizado pelo personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> Lamartine: “Esse lençol<br />
é uma velha pele <strong>de</strong> pescadores que <strong>de</strong>v<strong>em</strong>os pendurar nas pare<strong>de</strong>s <strong>em</strong> dia <strong>de</strong> casamento”. Por um lado, o<br />
lençol po<strong>de</strong> fazer referência à perda da virginda<strong>de</strong> da mulher; por outro, carrega essa sensação da<br />
superfície múltipla e <strong>de</strong>sdobrada. A narrativa <strong>em</strong> Tabu implica incluir os movimentos e acontecimentos que<br />
estão na marg<strong>em</strong> do sentido e da história. Não falta, entretanto, humor, ainda que falte direção na<br />
figuração <strong>de</strong>sses acontecimentos.<br />
Há graça, muito humor e um tom <strong>de</strong> brinca<strong>de</strong>ira e jogo na falta <strong>de</strong> sentido dos acontecimentos figurados no<br />
filme como <strong>de</strong>monstram os vários trocadilhos no diálogo entre os personagens. Oswald diz ao amigo: “Você<br />
é o James Joyce brasileiro. Que tal? Achas pouco?” E Lamartine respon<strong>de</strong>: “James joça. Mas por que será?”.<br />
Há outros trocadilhos saídos <strong>de</strong> referências históricas. O personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> Oswald, admirado, diz sobre uma<br />
mulher no filme: “Essa mulher é alga”. Ao que Lamartine respon<strong>de</strong>: “Essa mulher é algo”, admirando suas<br />
formas. A frase dita pelo primeiro está na autobiografia <strong>de</strong> Oswald <strong>em</strong> referência a Isadora Duncan. A frase<br />
completa é: “Essa mulher é alga, sacerdotisa, paisag<strong>em</strong>”. (ANDRADE, 1971, p.96). Ainda que se retome<br />
referências históricas ou autobiográficas, essas são <strong>de</strong>sautorizadas <strong>em</strong> seu sentido, dificultando a<br />
localização do acontecimento, sua historicização. O fragmento não é colocado no interior <strong>de</strong> ações e<br />
situações que figuram uma t<strong>em</strong>poralida<strong>de</strong> e um sentido cuja direção po<strong>de</strong> ser claramente compreendida. O<br />
fragmento aparece solto, mas com uma imensa capacida<strong>de</strong> vibratória, uma potência falsificante, isto é,<br />
criadora, simuladora <strong>de</strong> acontecimentos. Afinal o que importa <strong>em</strong> Tabu (e no cin<strong>em</strong>a <strong>de</strong> Bressane como um<br />
todo) não é a figuração do acontecido na história, mas a própria figura do t<strong>em</strong>po, como uma fratura entre o<br />
passado e o futuro.
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 5<br />
Justo por isso, o acontecimento <strong>em</strong> Tabu não <strong>de</strong>termina uma direção no t<strong>em</strong>po. Não explica sua or<strong>de</strong>m. Ele<br />
apenas surge como uma dobra entre o passado e o futuro. Trata‐se <strong>de</strong> apresentar o t<strong>em</strong>po exterior à<br />
t<strong>em</strong>poralida<strong>de</strong> da história. O que não significa dizer que Júlio Bressane <strong>de</strong>spreza a história. Poucos diretores<br />
<strong>de</strong> cin<strong>em</strong>a no Brasil foram tão obcecados pelos acontecimentos e personagens que marcaram a história da<br />
cultura <strong>de</strong> nosso país e até do mundo (como São Jerônimo e Nietzsche). Narrar esses acontecimentos não<br />
significa para Bressane organizá‐los no t<strong>em</strong>po, mas apresentá‐los pelas margens, abordando seus traços<br />
variantes e <strong>de</strong>sprivilegiados. Trata‐se <strong>de</strong> abordar um acontecimento <strong>em</strong> seu estado <strong>de</strong> mudança,<br />
aventurando‐se a perdê‐lo e a per<strong>de</strong>r‐se para encontrá‐lo.<br />
O risco faz parte <strong>de</strong> todo jogo, <strong>de</strong> toda aventura. A narração é a narração <strong>de</strong>ssa aventura arriscada e não a<br />
do acontecimento ele mesmo, <strong>em</strong> sua unida<strong>de</strong> vivida. Por isso, o tom jocoso. A brinca<strong>de</strong>ira não é apenas<br />
um sentido dado pelo t<strong>em</strong>a do carnaval. Bressane já havia filmado o jogo <strong>em</strong> O rei do baralho. O jogo é a<br />
aventura arriscada na qual o narrador se coloca e se vê como outro, seu personag<strong>em</strong>. Faz parte do jogo o<br />
risco trazido pelo acaso. O narrador é, portanto, aquele que lança os dados e se entrega ao acaso. Não é<br />
aquele que t<strong>em</strong> autorida<strong>de</strong> para mostrar a verda<strong>de</strong> do que aconteceu no t<strong>em</strong>po. Não há <strong>em</strong> Tabu<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se <strong>de</strong>cidir entre o verda<strong>de</strong>iro e o falso. Tanto Caetano é Lamartine quanto é Caetano, o<br />
ator tanto representa seu personag<strong>em</strong> quanto se apresenta, se mostra como ele mesmo e como outro. Mas<br />
esse jogo ou brinca<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> mascarada constitui o processo mesmo da narração <strong>de</strong> Bressane. Os dados<br />
(cubos numerados para jogos <strong>de</strong> mesa) lançados sobre uma planilha <strong>de</strong> produção do filme figuram o<br />
processo <strong>de</strong> construção e narração fílmicas que Bressane opera – sendo ainda uma possível referência a<br />
Mallarmé e a certos escritores mo<strong>de</strong>rnos como Joyce mencionado por Oswald.<br />
Narrar é multiplicar os sentidos do acontecimento narrado, é mostrá‐lo e, simultaneamente, comentá‐lo.<br />
Não se trata <strong>de</strong> mostrar sua veracida<strong>de</strong> e unicida<strong>de</strong>. Ao contrário, narra‐se para simular o acontecimento,<br />
para torná‐lo falso, para dar a ele sua outra face, suas múltiplas verda<strong>de</strong>s. Por um lado, Oswald aproxima<br />
Lamartine à Joyce, por outro, Lamartine <strong>de</strong>bocha. Por um lado, Bressane se articula à Joyce e a Mallamé,<br />
por outro, ele se auto‐ironiza. É um “mundo carente <strong>de</strong> fundamentos”, como já disse Matos sobre o cin<strong>em</strong>a<br />
<strong>de</strong> Bressane (MATOS, 1995, p.20). O narrador não é fundamento para as imagens e o espectador não po<strong>de</strong><br />
julgá‐las por sua verossimilhança.<br />
Trat<strong>em</strong>os dos personagens e, <strong>em</strong> primeiro lugar, do personag<strong>em</strong>‐guia das perambulações, João do Rio.<br />
Conhec<strong>em</strong>os Oswald e Lamartine pelos seus nomes, quando João do Rio os apresenta um ao outro diante
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 6<br />
da câmera. O nome do guia, porém, não é jamais mencionado no filme a não ser quando Oswald o<br />
menciona no Bor<strong>de</strong>l <strong>de</strong> Madame Xavier. Por que João do Rio não é tratado pelo nome <strong>em</strong> Tabu? Talvez por<br />
que Paulo Barreto (nome <strong>de</strong> batismo) e a cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro da Belle Époque tropical se refletiram um<br />
no outro como o resumiu muito b<strong>em</strong> Renato Cor<strong>de</strong>iro Gomes: “O perfil do Rio conjuga‐se com o perfil <strong>de</strong><br />
João do” (GOMES, 1996, p.11). Talvez ainda por que Paulo Barreto com seus diferentes pseudônimos<br />
figurasse esse “ser outro” sendo ele mesmo, a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> s<strong>em</strong>pre probl<strong>em</strong>ática que Bressane preten<strong>de</strong><br />
figurar. João do Rio era Godofredo <strong>de</strong> Alencar, José Antônio José, Joe, Barão <strong>de</strong> Belford. Cada um <strong>de</strong>sses<br />
nomes i<strong>de</strong>ntificava uma persona literária, uma máscara que não <strong>de</strong>ixava n<strong>em</strong> mesmo Paulo Barreto ileso<br />
nesse jogo <strong>de</strong> mascaradas.<br />
Essa figura inominável e falsificante é qu<strong>em</strong> apresenta, no filme, Oswald a Lamartine Babo. É ele, enquanto<br />
guia, qu<strong>em</strong> proporciona esse encontro e qu<strong>em</strong> possibilita a perambulação pelas ruas da cida<strong>de</strong>. João do Rio,<br />
que teve a rua como foco <strong>de</strong> suas observações, apresenta no filme essa estranha dimensão das ruas à qual<br />
ele chamou <strong>de</strong> “alma encantadora”. Ele é o guia flaneur que leva dois poetas aos cantos escondidos da<br />
cida<strong>de</strong>, como a casa <strong>de</strong> Madame Xavier, trazendo o que é tabu, a sexualida<strong>de</strong> e a perversão, para o campo<br />
visível da imag<strong>em</strong>. É ele como guia qu<strong>em</strong> apresenta a perversão da casa <strong>de</strong> Madame Xavier, os <strong>de</strong>svios,<br />
como urinar <strong>em</strong> plena rua à luz do sol. É ele qu<strong>em</strong> li<strong>de</strong>ra as direções diversas da imag<strong>em</strong>. Mas enquanto<br />
personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> Tabu, João do Rio não se insere <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um meio claro ou uma situação <strong>de</strong> conflito que,<br />
por meio <strong>de</strong> sua ação, possibilitará suas transformações. Não é tampouco um personag<strong>em</strong> que percebendo<br />
e vivenciando uma situação terrível se sente impotente para modificá‐la, sendo essa impotência a própria<br />
fonte <strong>de</strong> um conhecimento mais profundo sobre aquela realida<strong>de</strong>.<br />
De alguma maneira, po<strong>de</strong>‐se dizer que, a contar pelo personag<strong>em</strong> <strong>de</strong> João do Rio e as marcas da arquitetura<br />
Art Nouveau, o filme mostra o período do Pré‐mo<strong>de</strong>rnismo que se esten<strong>de</strong> entre as duas últimas décadas<br />
do século XIX e as duas primeiras do século seguinte, antes <strong>de</strong> 1921, ano da morte do escritor flaneur. De<br />
qualquer forma, esse t<strong>em</strong>po representado fica probl<strong>em</strong>atizado pela figura <strong>de</strong> Lamartine e pelo contexto da<br />
terceira década do século XX (os Ases do samba). Durante a fase do Pré‐mo<strong>de</strong>rnismo, a arte no Brasil<br />
passava pela crise das técnicas e buscava re<strong>de</strong>finir sua prática. Mas como João do Rio seria escolhido por<br />
Bressane enquanto guia‐<strong>de</strong>sviante <strong>de</strong> Tabu se, como escritor, não po<strong>de</strong> reelaborar a técnica narrativa no<br />
início do século, ainda que seus personagens se tornass<strong>em</strong> “quase figurinos <strong>de</strong> revistas, propositalmente<br />
s<strong>em</strong> fundo, só‐superfície” (SUSSEKIND, 1987, p.47)?
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 7<br />
Motivado pelo aparecimento das novas técnicas, João do Rio estava seduzido pela imagens <strong>de</strong> superfície,<br />
como mostra seu gosto e interesse pela crônica fotográfica que se torna um “cin<strong>em</strong>atógrafo <strong>de</strong> letras”. Para<br />
Flora Sussekind, entretanto, a aproximação com o horizonte técnico <strong>em</strong> João do Rio é basicamente <strong>de</strong><br />
encantamento, pois se o escritor carioca buscava <strong>em</strong> sua escrita a imag<strong>em</strong> da vida cont<strong>em</strong>porânea com<br />
seus personagens‐figurinos bidimensionais, ele não abandonou a figura do narrador centralizador e<br />
organizador <strong>de</strong> ações enca<strong>de</strong>adas. Júlio Bressane, ao contrário, abandona o foco do narrador tradicional<br />
sobre seu personag<strong>em</strong>, e se imiscui reflexivamente como uma outra máscara <strong>de</strong> João do Rio. Mais que<br />
representado no presente <strong>de</strong> seu t<strong>em</strong>po, João do Rio é presentificado <strong>em</strong> Tabu. Ele é essa existência<br />
bifurcada <strong>de</strong> um presente vivo, que está entre o passado e o futuro, entre o eu e o ele. João do Rio não é o<br />
mero motor do t<strong>em</strong>po com suas ações. Não está tampouco fora do t<strong>em</strong>po, i<strong>de</strong>alizado. Ao contrário, João do<br />
Rio aparece como um presente qualquer, nesse caso, dividido entre o passado do pré‐mo<strong>de</strong>rnismo e o<br />
futuro pretérito mo<strong>de</strong>rnista <strong>de</strong> Oswald, entre o passado e o futuro cont<strong>em</strong>porâneo ao presente <strong>de</strong><br />
Bressane. João do Rio vive na narrativa <strong>de</strong> Tabu entre dois momentos na história da cultura brasileira,<br />
aquela representada por ele mesmo e por Lamartine enquanto poeta das novas técnicas (gravação e rádio)<br />
e Oswald, escritor que reelaborará as novas técnicas da narrativa mo<strong>de</strong>rna no Brasil. Dividido, João do Rio<br />
vive as novas inflexões do Mo<strong>de</strong>rno com seus personagens bidimensionais, através da modalida<strong>de</strong> narrativa<br />
do futuro longínquo <strong>de</strong> Oswald e Bressane. João do Rio concretiza essa bifurcação do T<strong>em</strong>po, essa abertura<br />
para as novas inflexões e mudanças do t<strong>em</strong>po, s<strong>em</strong> que essas transformações sejam função das ações. Essa<br />
é a razão <strong>de</strong> João do Rio não ter nome e <strong>de</strong> ser o guia. Ele é o guia, enquanto é estado <strong>de</strong> mudança e<br />
transição. Ele é aquele que transporta, que leva o passado ao futuro. Mas essa passag<strong>em</strong> é também um<br />
fosso, uma ausência <strong>de</strong> presente, porque é já futuro e ainda passado. João do Rio é o guia, mas não é a<br />
causa do futuro.<br />
E se João do Rio, o escritor, não parece ainda reelaborar criticamente o influxo técnico a ponto <strong>de</strong> uma<br />
re<strong>de</strong>finição das técnicas e práticas artísticas, tal não ocorreu com a literatura mo<strong>de</strong>rnista. Flora Sussekind<br />
nos diz que “montagens e cortes” passariam a invadir a técnica literária somente com a prosa mo<strong>de</strong>rnista,<br />
nos romances, além <strong>de</strong> outros, M<strong>em</strong>órias sentimentais <strong>de</strong> João Miramar (1924) e Serafim Ponte Gran<strong>de</strong><br />
(1933) <strong>de</strong> Oswald <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>. Flora assegura: “Aí sim se encontra uma literatura‐<strong>de</strong>‐corte, <strong>em</strong> sintonia com<br />
uma concepção diversa do cin<strong>em</strong>a, e pouco preocupada <strong>em</strong> parecer com as fitas, <strong>em</strong> falar <strong>de</strong> biógrafos e<br />
cin<strong>em</strong>atógrafos” (SUSSEKIND, 1987, p.48).<br />
Assim é que a figura <strong>de</strong> Oswald toma importância nessa narrativa, on<strong>de</strong> o que se figura é o tabu, o proibido.<br />
O Oswald que v<strong>em</strong>os não é uma representação oficial da cultura mo<strong>de</strong>rna. Não v<strong>em</strong>os uma representação
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 8<br />
da S<strong>em</strong>ana <strong>de</strong> 22, n<strong>em</strong> tampouco sua fase crítica ‐ momento <strong>em</strong> que é influenciado por idéias marxistas ‐<br />
n<strong>em</strong> a retomada das idéias <strong>de</strong> antropofagia cultural nos anos 50. N<strong>em</strong> v<strong>em</strong>os esses acontecimentos<br />
organizados linear, dialética, ou hierarquicamente <strong>de</strong> algum modo. V<strong>em</strong>os todos ao mesmo t<strong>em</strong>po. Oswald<br />
que se encontra com João do Rio no filme <strong>de</strong> Bressane t<strong>em</strong> várias dobras t<strong>em</strong>porais que não são unificáveis<br />
justamente porque o que se figura é aquilo que está entre as situações, isto é, um acontecimento<br />
puramente t<strong>em</strong>poral e não histórico.<br />
São vários os Oswald <strong>de</strong> Tabu. O escritor mo<strong>de</strong>rnista esteve várias vezes no Rio <strong>de</strong> Janeiro, inclusive <strong>em</strong><br />
1921 – ano da morte <strong>de</strong> João do Rio –, com Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> e Armando Pamplona para a conquista <strong>de</strong><br />
novos a<strong>de</strong>ptos para o Mo<strong>de</strong>rnismo e sua S<strong>em</strong>ana, cuja campanha preparatória Oswald já iniciara <strong>em</strong> <strong>artigo</strong>s<br />
<strong>de</strong> jornais e reuniões com amigos. Outra viag<strong>em</strong> ao Rio feita pelo escritor mo<strong>de</strong>rnista foi para encontrar a<br />
bailarina admirada, Isadora Duncan. A bailarina americana dançou no Teatro Municipal do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
<strong>em</strong> 1916 quando ficou amiga do cronista João do Rio que, com Gilberto Amado, a viu dançar nua na<br />
Cascatinha da Floresta da Tijuca (GOMES, 1996, p.120). Há uma figuração <strong>de</strong>ssa histórica dança no filme. O<br />
escritor mo<strong>de</strong>rnista das viagens ao Rio é ainda um pré‐mo<strong>de</strong>rnista. Segundo suas m<strong>em</strong>órias, Oswald estava<br />
vidrado com Isadora e a segue até o Rio. Ele conta <strong>em</strong> Um hom<strong>em</strong> s<strong>em</strong> profissão: “Isadora Duncan está<br />
dando espetáculos no Rio. Sigo <strong>de</strong> novo para lá” (ANDRADE, 1971, p.92). Nessa época (1916), Oswald estava<br />
tendo um affair com uma bailarina chamada Landa Kosbach que ele conhecera <strong>em</strong> sua primeira viaj<strong>em</strong> à<br />
Europa <strong>em</strong> 1912, quando ela fora estudar bailado no Scala <strong>de</strong> Milão (ANDRADE, 1971, p.62). O romance<br />
com Landa começou <strong>em</strong> 1915, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> efetuada a separação <strong>de</strong> Kamiá, a francesa com qu<strong>em</strong> teve seu<br />
filho, Nonê. Oswald viria ao Rio, nessa fase, diversas vezes, para se encontrar com Landa: “Vivo entre o Rio<br />
e São Paulo” (ANDRADE, 1971, p.85), l<strong>em</strong>bra <strong>em</strong> suas m<strong>em</strong>órias. Nessa época, mais precisamente <strong>em</strong> 1916,<br />
Oswald publica, com Guilherme <strong>de</strong> Almeida, Mon Coeur Balance e Leur Âme, peças que daria <strong>de</strong> l<strong>em</strong>brança<br />
à dançarina americana Isadora Duncan (ANDRADE, 1971, p.93). O modo como o filme apresenta essa figura<br />
f<strong>em</strong>inina não nos diz nada sobre ela. Tabu não explicita qu<strong>em</strong> é a dançarina que esses personagens<br />
masculinos apreciam na Cascatinha. O que interessa ao filme é apenas a presença leve da dançarina, sua<br />
sensualida<strong>de</strong>, seu lenço esvoaçante ao vento – esses movimentos que teriam necessariamente sido<br />
excluídos caso o interesse do filme fosse a or<strong>de</strong>m histórica.<br />
A história interessa, mas não porque seja culturalmente relevante e muito menos por sua or<strong>de</strong>m (linear ou<br />
dialética), pois afinal essa tiraniza os movimentos, os sentidos. Oprime, ao submeter o movimento a um<br />
todo e ao absorver a adversida<strong>de</strong> (oposição) <strong>em</strong> uma unida<strong>de</strong> final. O interesse na história <strong>em</strong> Tabu não<br />
está na figuração or<strong>de</strong>nada e or<strong>de</strong>nadora, mas na sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>em</strong>prestar seus acontecimentos, <strong>de</strong>
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 9<br />
confiar seus movimentos a uma <strong>em</strong>presa falsificante que produza <strong>de</strong>sdobramentos e multiplique a<br />
dissonância.<br />
Mas se Oswald do pré‐mo<strong>de</strong>rnismo é personag<strong>em</strong> do filme, surge também o escritor da segunda fase do<br />
Mo<strong>de</strong>rnismo, época <strong>em</strong> que <strong>de</strong>senvolveu o Manifesto Antropófago. Essa fase aparece figurada no início do<br />
filme num plano <strong>em</strong> que Lamartine lê a Revista <strong>de</strong> Antropofagia fundada por Oswald <strong>em</strong> 1928. Há, ainda, a<br />
referência a um momento mais avançado do Mo<strong>de</strong>rnismo, o início da década <strong>de</strong> 40 quando se formava um<br />
novo grupo <strong>de</strong> jovens intelectuais <strong>em</strong> São Paulo que editaria a revista Clima. Em sua biografia, consta que<br />
Oswald teria chamado aqueles jovens da nova revista <strong>de</strong> “chato‐boys”, por ser<strong>em</strong> <strong>de</strong>masiados acadêmicos.<br />
No filme, o personag<strong>em</strong> do poeta mo<strong>de</strong>rnista, <strong>em</strong> um momento <strong>de</strong> plena admiração ao poeta popular,<br />
afirma: “Lamartine, você é minha espinha dorsal. Eu vou te levar para Paris. Aqui os chato‐boys não vão te<br />
sacar nunca.” Mais uma vez, uma referência histórica é <strong>de</strong>slocada; ou melhor, surge como um fragmento<br />
marginal e <strong>de</strong>sprivilegiado e não no interior <strong>de</strong> uma situação dramática que se <strong>de</strong>senvolve no t<strong>em</strong>po. Esses<br />
são fragmentos <strong>de</strong> um movimento que não retornam para ele mesmo (situação dramática), impedindo a<br />
sua i<strong>de</strong>ntificação. Lyotard já explicitara essa relação da figura do retorno na narrativa cin<strong>em</strong>atográfica e sua<br />
relação com o capital, que elimina os movimentos aberrantes para tornar os acontecimentos e movimentos<br />
reconhecíveis para o olho. A chamada “boa forma” implica o retorno do mesmo: “é precisamente através<br />
do retorno com fins <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação que a forma cin<strong>em</strong>atográfica, entendida como a síntese do bom<br />
movimento, é articulada seguindo a organização cíclica do capital” (LYOTARD, 1986). Cenas como a que<br />
Lamartine fala dos “chatos boys” ou aquela <strong>em</strong> que Isadora Duncan/Landa Kobash dança na Cascatinha não<br />
passam <strong>de</strong> movimentos adversos e dissonantes que não beneficiam a i<strong>de</strong>ntificação do movimento no<br />
interior <strong>de</strong> um todo que se <strong>de</strong>senrolaria no t<strong>em</strong>po.<br />
Por um lado, as referências <strong>de</strong> Oswald são as do Pré‐mo<strong>de</strong>rnismo, as do final da década <strong>de</strong> 20 ou mesmo as<br />
dos anos 40, círculos da vida <strong>de</strong> Oswald que se conciliam num t<strong>em</strong>po não‐conciliado[1]. Por outro lado, a<br />
paisag<strong>em</strong> tarsiliana <strong>de</strong> Tabu força nossa mente aos t<strong>em</strong>pos do início do mo<strong>de</strong>rnismo no Brasil. Os morros<br />
contra o céu, as ilhas no mar, os coqueiros e bananeiras presentes <strong>em</strong> vários filmes <strong>de</strong> Bressane já foram<br />
abordados e comparados aos <strong>de</strong>senhos <strong>de</strong> Tarsila, ambos “i<strong>de</strong>ogramas mo<strong>de</strong>rnistas”, como b<strong>em</strong> colocou<br />
Mariarosaria Fabris (FABRIS, 1998). Sobre esse “caligrafismo <strong>de</strong> inspiração nitidadmente tarsiliana”, Fabris<br />
afirma que ainda que Bressane não possa s<strong>em</strong>pre focalizar os mesmos lugares que a pintora percorreu, já<br />
contaminados pela expansão da cida<strong>de</strong>, seus i<strong>de</strong>ogramas recuperam o traço <strong>de</strong> Tarsila revisitando a cultura<br />
do país, projeto que a partir <strong>de</strong> 1924, os mo<strong>de</strong>rnistas <strong>em</strong>preen<strong>de</strong>ram (FABRIS, 1998, p.95). De qualquer<br />
forma, os t<strong>em</strong>pos continuam a se misturar<strong>em</strong> como fragmentos irreconciliáveis, ainda mais quando
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 10<br />
l<strong>em</strong>bramos do t<strong>em</strong>a‐título do filme. A palavra “tabu” nos r<strong>em</strong>ete ao ano da escritura do Manifesto<br />
Antropófago, 1928, mas também ao ano <strong>em</strong> que Oswald escreveu a tese “A crise da filosofia messiânica”,<br />
1950 (ANDRADE, 1970).<br />
Desse modo, po<strong>de</strong>mos entrever pelo menos os seguintes círculos <strong>de</strong> passado na textura da imag<strong>em</strong> do filme<br />
<strong>de</strong> Bressane: o ano <strong>de</strong> 1916, quando Isadora Duncan veio ao Rio <strong>de</strong> Janeiro e conheceu João do Rio; os anos<br />
iniciais do Mo<strong>de</strong>rnismo brasileiro que vão <strong>de</strong> 1922 até 1924 quando Tarsila ilustrou os po<strong>em</strong>as Pau‐Brasil <strong>de</strong><br />
Oswald; o ano <strong>de</strong> 1928, culminando no manifesto Antropófago; os anos dourados dos “Ases dos samba”,<br />
1932; os anos das <strong>de</strong>savenças intelectuais <strong>de</strong> Oswald com os jovens intelectuais da Revista Clima e os anos<br />
50 <strong>de</strong> “A crise da filosofia messiânica”. Esses t<strong>em</strong>pos não são presentes que passaram, pois não há ninguém<br />
que os l<strong>em</strong>bra. São t<strong>em</strong>pos que insist<strong>em</strong> na imag<strong>em</strong> atual que está sendo produzida pela equipe <strong>de</strong><br />
produção que v<strong>em</strong>os <strong>em</strong> muitos momentos no filme. Mas os fragmentos não se organizam no sentido <strong>de</strong><br />
dar uma direção, eles surg<strong>em</strong> como figuras do t<strong>em</strong>po, dobras <strong>de</strong> um presente estendido que po<strong>de</strong> incluir a<br />
atualida<strong>de</strong> da produção do filme que aparece <strong>em</strong> quadro.<br />
Seriam essas as únicas camadas <strong>de</strong> sentido que insist<strong>em</strong> na textura do filme? Para complicar ainda mais<br />
essa t<strong>em</strong>poralida<strong>de</strong> não‐conciliável, on<strong>de</strong> os acontecimentos não <strong>de</strong>terminam seu sentido na linha da<br />
história, o filme insere imagens do filme Tabu, <strong>de</strong> Murnau e Flaherty. O filme <strong>de</strong> Murnau, produzido no ano<br />
<strong>de</strong> 1931, t<strong>em</strong> a função <strong>de</strong> manter um diálogo cin<strong>em</strong>atográfico fundamental. Afinal Murnau com seu filme<br />
t<strong>em</strong>atizou o probl<strong>em</strong>a da proibição original. Mas se há um diálogo, é difícil <strong>de</strong>terminar qual a direção que<br />
ele toma. No filme <strong>de</strong> 1931, Murnau conta a história <strong>de</strong> um amor proibido entre um rapaz, Matahi e uma<br />
jov<strong>em</strong> maori (povo indígena da Nova Zelândia), Heri, <strong>de</strong>stinada aos Deuses e <strong>de</strong>clarada tabu pelo Sacerdote<br />
e chefe da tribo, Hitu. No filme <strong>de</strong> Bressane, os inserts <strong>de</strong> Murnau são basicamente provenientes da<br />
primeira parte do filme do diretor al<strong>em</strong>ão, isto é, antes da instauração da interdição original feita pelo chefe<br />
da tribo. Todas as ações que se enca<strong>de</strong>iam para construir o t<strong>em</strong>po da história e as idéias sobre o t<strong>em</strong>a do<br />
tabu, provenientes do filme <strong>de</strong> Murnau, são rejeitadas. Só interessa a Bressane a luz <strong>de</strong> Murnau, os reflexos<br />
na água, os corpos e suas sensações brilhantes. Só interessa a Bressane o movimento da luz e dos corpos<br />
antes da or<strong>de</strong>nação das ações dos personagens, antes da composição que, indiretamente, através dos<br />
movimentos dos personagens, po<strong>de</strong> figurar a idéia <strong>de</strong> tabu pelas ações e movimentos dos personagens.<br />
Dessa maneira, Bressane conjuga imagens encenadas por personagens‐figurinos ‐ Oswald, Lamartine, João<br />
do Rio e a bailarina esvoaçante ‐ e os inserts do momento idílico do filme <strong>de</strong> Murnau. Além da encenação e<br />
das imagens <strong>de</strong> Murnau, Júlio Bressane inclui ainda um terceiro bloco <strong>de</strong> imagens. São os inserts <strong>de</strong> filmes
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 11<br />
pornográficos antigos que serv<strong>em</strong> <strong>de</strong> contraponto ao idílio inocente dos primitivos <strong>de</strong> Murnau e às músicas<br />
aparent<strong>em</strong>ente inocentes <strong>de</strong> Lamartine Babo. Com efeito essas imagens <strong>de</strong> filmes pornôs “primitivos” não<br />
funcionam como mero contraponto, elas faz<strong>em</strong> nascer o proibido. O jogo <strong>de</strong> Bressane <strong>em</strong> Tabu, sua<br />
colag<strong>em</strong> <strong>de</strong> fragmentos <strong>de</strong> filmes <strong>de</strong> autores ou <strong>de</strong> anônimos e das canções <strong>de</strong> Lamartine, faz surgir uma<br />
heterogeneida<strong>de</strong> <strong>de</strong> relações inusitadas <strong>de</strong> sentidos, incluindo a perversão que tanto as imagens <strong>de</strong> Murnau<br />
e as músicas <strong>de</strong> Lamartine <strong>de</strong>ixavam marginalizadas ou escondidas. O filme traz, portanto, para a superfície<br />
das imagens e dos sons aquilo que só existia por trás, num fundo escondido ou proibido. Tabu faz surgir os<br />
sentidos que não podiam estar aparentes, torna explícitos os acontecimentos adversos. Em Tabu, os<br />
sentidos marginais <strong>de</strong> um acontecimento e os <strong>de</strong>sejos proibidos <strong>em</strong> nossa cultura surg<strong>em</strong> na superfície<br />
aparente da imag<strong>em</strong>, s<strong>em</strong>pre envolvidos numa multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> outros sentidos. Com efeito, o filme <strong>de</strong><br />
Bressane constrói a noção do proibido, não pela afirmação do que é proibido, mas por sua própria negação,<br />
isto é, faz aparecer o que antes estava escondido. O que é proibido e marginalizado é justamente o que é<br />
mostrado. O filme <strong>de</strong> Bressane talvez po<strong>de</strong>ria ser chamado “Não‐tabu”.<br />
O método <strong>de</strong> Bressane é estrangeiro ao <strong>de</strong> Murnau, ainda que sua admiração pelo cineasta al<strong>em</strong>ão o leve a<br />
uma homenag<strong>em</strong> tão transparente. Seu filme inscreve uma figura virtual <strong>em</strong> que nada é tabu, porque as<br />
relações <strong>de</strong> sentido não aparec<strong>em</strong> na <strong>de</strong>pendência indireta da composição <strong>de</strong> seqüências, da organização<br />
dos movimentos e das ações dos personagens. Ou seja, n<strong>em</strong> o próprio t<strong>em</strong>po é proibido <strong>de</strong> aparecer <strong>em</strong><br />
suas conjunções estravagantes. O filme <strong>de</strong> Bressane não representa uma unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ação como o <strong>de</strong><br />
Murnau, ação organizada pelo narrador seja nos movimentos e ângulos da câmera, na profundida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
campo e na montag<strong>em</strong>. As situações no filme <strong>de</strong> Murnau aparec<strong>em</strong> enca<strong>de</strong>adas por uma consciência que dá<br />
organicida<strong>de</strong> às imagens formando um todo, que produz uma afetivida<strong>de</strong> nesse todo, um pathos que<br />
conduz o espectador a uma i<strong>de</strong>ntificação, impulsionando‐o a uma ligação <strong>em</strong>ocional com os dois<br />
personagens da história, metaforizando as vidas dos homens sob os <strong>de</strong>sígnios das proibições que permit<strong>em</strong><br />
a cultura e a civilização. Essa consciência narrativa ainda induz uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> dos sentidos da imag<strong>em</strong> e do<br />
todo significado.<br />
Esse processo foi teorizado por Eisenstein como monólogo interior. No cin<strong>em</strong>a <strong>de</strong> Bressane, essa<br />
consciência é dividida. O narrador não apenas narra, mas comenta, refletindo sobre esse do qual fala. Com<br />
efeito, o personag<strong>em</strong> se reflete no narrador ou no intérprete e vice‐versa, impossibilitando a i<strong>de</strong>ntificação<br />
<strong>em</strong>ocional do espectador. O afeto que se produz não se dá por i<strong>de</strong>ntificação, mas como diferença entre a<br />
imag<strong>em</strong> que se vê na tela e as relações que a m<strong>em</strong>ória do espectador permite. A realida<strong>de</strong> da imag<strong>em</strong> é,<br />
portanto, dispersiva e dissimulada e t<strong>em</strong> o acaso como o único fio condutor. A instância narrativa aparece
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 12<br />
nas imagens como equipe <strong>de</strong> produção, o que implica a afirmação da multiplicida<strong>de</strong> do sujeito narrador: há<br />
um alguém que bate a claquete, há outro que dirige os atores. O que falta é a hierarquia que instaura o<br />
sujeito artista como alguém privilegiado na condição visionária da verda<strong>de</strong>. Os narradores (diretor,<br />
montador, atores, etc.) fabulam seus personagens e se fabulam no ato <strong>de</strong> narrar, como uma percepção<br />
simultaneamente subjetiva e objetiva como na pseudo‐narrativa que Pasolini <strong>de</strong>screveu do cin<strong>em</strong>a <strong>de</strong><br />
poesia (PASOLINI, 1982).<br />
Os personagens não surg<strong>em</strong> pela voz ou da visão <strong>de</strong> um narrador que organiza o t<strong>em</strong>po da ficção e que<br />
permite o entendimento da or<strong>de</strong>m do espaço e do t<strong>em</strong>po diegéticos. Ao contrário, os personagens são ação<br />
e comentário, simultaneamente, como um diálogo entre ele e seu outro. A narração é s<strong>em</strong>pre esse diálogo<br />
entre o que acontece e sua reflexão, s<strong>em</strong> hierarquia. Assim, os acontecimentos são s<strong>em</strong>pre eles mesmos<br />
que v<strong>em</strong>os na tela e, simultaneamente, outro que não v<strong>em</strong>os. Mas esse outro acontecimento que não<br />
v<strong>em</strong>os não está no espaço fora <strong>de</strong> campo, pois nenhum movimento <strong>de</strong> câmera po<strong>de</strong>ria mostrá‐lo. E se está<br />
na cabeça do espectador não é um todo, pois as máscaras e a contínua dissimulação não permit<strong>em</strong> a<br />
i<strong>de</strong>ntificação entre a imag<strong>em</strong> (acontecimento na tela) e o pensamento (acontecimento fora da tela). O que<br />
há é s<strong>em</strong>pre essa tentativa <strong>de</strong> aproximação e a ininterrupta impossibilida<strong>de</strong> que afasta um do outro. Dessa<br />
maneira, os acontecimentos têm s<strong>em</strong>pre muitos sentidos s<strong>em</strong>pre vagos, incertos, falsificantes,<br />
dissimulantes.<br />
A narrativa falsificante <strong>de</strong> Tabu coloca seus acontecimentos num t<strong>em</strong>po múltiplo, torna seus personagens e<br />
eventos agentes <strong>de</strong> uma mascarada, <strong>de</strong> jogo, que faz i<strong>de</strong>ntificar e introduzir uma diferença no i<strong>de</strong>ntificado.<br />
Assim, o sujeito ou sujeitos criadores do discurso fílmico são eles mesmos personagens‐figurinos, imagens,<br />
signos. Eles não atestam para um contexto menos falsificante e dissimulador. São figuras que misturadas às<br />
outras têm o mesmo estatuto <strong>de</strong> figuras simuladas. Não há o ator que é verda<strong>de</strong>iro e o personag<strong>em</strong> que é<br />
falso, ficção. Ambos são falsos e verda<strong>de</strong>iros, simultaneamente. Do mesmo modo, não há o autor‐diretor<br />
verda<strong>de</strong>iro e suas personagens <strong>de</strong> ficção. Todos faz<strong>em</strong> parte da ficcionalização, inclusive o contexto. Todos<br />
são personagens, imagens, simulacros entre outros.<br />
O organizador é <strong>de</strong> fato esse que impõe a divisão, a diferença no acontecimento. As imagens, os sons e os<br />
sentidos não surg<strong>em</strong> na <strong>de</strong>pendência da construção <strong>de</strong> uma ação narrativa unificada. Ao contrário, surg<strong>em</strong><br />
<strong>em</strong> sua autonomia lacunar e múltipla. A figura do t<strong>em</strong>po, insubordinada ao movimento e às ações, surge<br />
como a força <strong>de</strong> um fora que não é o mundo, mas a potência <strong>de</strong> inscrever no mundo inocente das imagens<br />
e das canções a perversão, a diferença, o <strong>de</strong>sejo. Tabu ao narrar faz poesia com essa t<strong>em</strong>poralida<strong>de</strong> não‐
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 13<br />
reconciliável; produz relações múltiplas sobre a transformação da cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro e da cultura<br />
mo<strong>de</strong>rna brasileira. Aparec<strong>em</strong> as imagens da arquitetura art‐nouveau, os personagens‐figurinos <strong>de</strong> uma<br />
dada época, o samba, o carnaval a proibição, a negação da proibição e a explicitu<strong>de</strong> do <strong>de</strong>sejo, o<br />
aparecimento da cultura industrial, a vaga relação com a cultura pop pós‐Tropicália, o vagar dos boêmios, a<br />
errância das figuras como signos do t<strong>em</strong>po.<br />
Po<strong>de</strong>‐se mesmo dizer que a multiplicida<strong>de</strong> das relações <strong>de</strong> sentidos produzidas pelo filme contradiz a<br />
noção‐título, tabu, uma vez que o filme proporciona justo o oposto: tudo po<strong>de</strong> surgir no âmbito do sentido.<br />
Isso é o que explica o interesse <strong>de</strong> Júlio Bressane pela profundida<strong>de</strong> <strong>de</strong> campo <strong>em</strong> planos seqüências,<br />
quando os personagens‐figurinos são só‐superfície. Há s<strong>em</strong>pre esse paradoxo no filme <strong>de</strong> Bressane: o que<br />
parece profundo como o espaço é superfície bidimensional e o que é só‐superfície, como os personagens,<br />
t<strong>em</strong> a profundida<strong>de</strong> s<strong>em</strong> fundo do t<strong>em</strong>po. O cin<strong>em</strong>a conceitual <strong>de</strong> Bressane <strong>de</strong>ssacraliza o profundo e o<br />
coloca numa superfície <strong>de</strong>sdobrada, fazendo das dobras superfícies profundas.<br />
Tabu constrói seu conceito e coloca a negação no sentido produzido. Isto é, <strong>de</strong>seja proporcionar o tabu um<br />
não‐tabu. A gran<strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong> que o filme proporciona é <strong>de</strong> não submeter esses paradoxos a uma<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Bressane pressupõe que o sentido inclui sua própria negação e esse processo é infinito. Mas não<br />
<strong>de</strong> forma dialética, uma vez que nos paradoxos não‐reconciliáveis <strong>de</strong> Júlio Bressane os sentidos não se<br />
unificam, mas pululam <strong>em</strong> sua própria diferença. Júlio Bressane transforma, portanto, a noção da figuração<br />
cin<strong>em</strong>atográfica. A figura fundamental não é o movimento, seja do personag<strong>em</strong>, da ação ou da imag<strong>em</strong>.<br />
Isso porque seu cin<strong>em</strong>a não figura um mundo que lhe é simétrico, mesmo que <strong>em</strong> mudança contínua como<br />
o brilho das águas do filme <strong>de</strong> Murnau. O cin<strong>em</strong>a <strong>de</strong> Júlio Bressane figura o mudar, a ação mesma do t<strong>em</strong>po<br />
proporcionando as diferenças ao hom<strong>em</strong>, às suas ações, à sua história. Os muitos fragmentos, a relação<br />
disjuntiva e paradoxal que há entre eles, os sentidos proibidos, tudo po<strong>de</strong> aparecer porque não há figuração<br />
<strong>de</strong> mundo. Há sim relação com o mundo e com a história, mas para retirar seus acontecimentos do<br />
aprisionamento da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e imputar‐lhes apenas a diferença.<br />
Perdida a inocência das imagens e das canções, o filme não figura algo que aconteceu, mas o próprio t<strong>em</strong>po<br />
como acontecimento impróprio. Tabu é uma figura do t<strong>em</strong>po ao sobrepor t<strong>em</strong>pos distantes: t<strong>em</strong>pos <strong>de</strong><br />
m<strong>em</strong>ória, t<strong>em</strong>pos da história do mo<strong>de</strong>rnismo no Brasil, t<strong>em</strong>pos do jogo e do mascarada, abrindo a inocência<br />
à perversão, a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> à diferença, tudo como força do <strong>de</strong>sejo que agora po<strong>de</strong> aparecer nas canções e<br />
imagens inocentes do passado.
Revista El<strong>em</strong>enta. Comunicação e <strong>Cultura</strong>. Sorocaba, v.1, n.1, jan./jun. 2009. 14<br />
Notas<br />
[1] A expressão é <strong>de</strong> Peter Pál Pelbart <strong>em</strong> seu livro homônimo com a qual o autor trabalha a concepção <strong>de</strong><br />
t<strong>em</strong>po no pensamento do fílósofo Gilles Deleuze. Com essa expressão Pelbart contrapõe a noção linear e<br />
homogênea <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po com a noção Deleuziana <strong>de</strong> um t<strong>em</strong>po múltiplo e paradoxal. (PELBART, 1998)<br />
Referências bibliográficas<br />
ANDRADE, O. <strong>de</strong>. Do Pau‐Brasil à Antropofagia e às utopias. Obras Completas. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira,<br />
1970.<br />
ANDRADE, O. <strong>de</strong>. Um hom<strong>em</strong> s<strong>em</strong> profissão. Obras Completas. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 1971<br />
GOMES, R. C. João do Rio: vielas do vlício, ruas da Graça. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Relume‐Dumará / Prefeitura, 1996.<br />
EISNER, L. Murnau. Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1973.<br />
FABRIS, M. I<strong>de</strong>ogramas mo<strong>de</strong>rnistas: <strong>de</strong> Tasrsila a Bressane. Artebrasil, São Paulo, v.1, n.1, p.92‐95, ago.1998.<br />
FONSECA, M. A. Oswald <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, 1890‐1954: Biografia. São Paulo: Art Editora / Secretaria do Estado <strong>de</strong> São Paulo,<br />
1990.<br />
LYOTARD, F. Acin<strong>em</strong>a. In Narrative, apparatus, i<strong>de</strong>ology. ROSEN, Philip. (org.). New York: Columbia University Press,<br />
1986.<br />
MATOS, O. C. F. A or<strong>de</strong>m e seus avessos: Júlio Bressane: a cida<strong>de</strong> dos homens, a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Deus. In Júlio Bressane,<br />
Cinepoética. VOROBOW, Bernardo; ADRIANO, Carlos (org.). São Paulo: Massao Ohno, 1995.<br />
PASOLINI, P. P. Empirismo Hereje. Lisboa: Assírio e Alvim. 1982.<br />
PELBART, P. P. O t<strong>em</strong>po não‐reconciliado. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 1998.<br />
VALENÇA, S. S. Tra‐la‐lá. Lamartine Babo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Velha Lapa, 1989.<br />
SUSSEKIND, F. Cin<strong>em</strong>atógrafo <strong>de</strong> letras: literatura, técnica e mo<strong>de</strong>rnização no Brasil. São Paulo: Companhia das<br />
letras, 1987.<br />
Luiz Cláudio da Costa.<br />
Doutor pela Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Luiz Cláudio é professor do Instituto <strong>de</strong> Artes da<br />
Universida<strong>de</strong> do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro. Publicou o livro Cin<strong>em</strong>a brasileiro (anos 60‐70), dissimetria,<br />
oscilação e simulacro (7 letras). Costa pesquisa atualmente o papel dos dispositivos técnicos <strong>de</strong> registro e<br />
arquivamento nas artes plásticas.<br />
l.claudiodacosta@uol.com.br