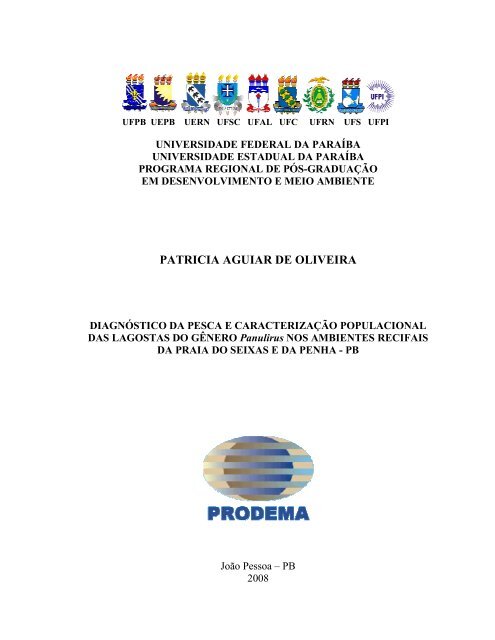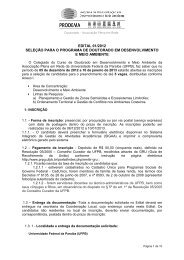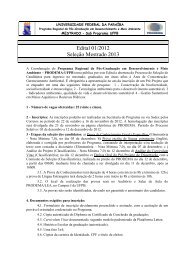Dissertação - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPB
Dissertação - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPB
Dissertação - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>UFPB</strong> UEPB UERN UFSC UFAL UFC UFRN UFS UFPI<br />
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA<br />
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA<br />
PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO<br />
EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE<br />
PATRICIA AGUIAR DE OLIVEIRA<br />
DIAGNÓSTICO DA PESCA E CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL<br />
DAS LAGOSTAS DO GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS<br />
DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA - PB<br />
João Pessoa – PB<br />
2008
PATRICIA AGUIAR DE OLIVEIRA<br />
DIAGNÓSTICO DA PESCA E CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL<br />
DAS LAGOSTAS DO GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS<br />
DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA - PB<br />
Dissertação apresenta<strong>da</strong> ao Programa<br />
Regional <strong>de</strong> Pós-Graduação em<br />
Desenvolvimento e Meio Ambiente –<br />
PRODEMA, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong><br />
Paraíba, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Estadual <strong>da</strong> Paraíba<br />
em cumprimento às exigências para obtenção<br />
<strong>de</strong> grau <strong>de</strong> Mestre em Desenvolvimento e<br />
Meio Ambiente.<br />
Orientadora: Profª. Dr.ª Maria Cristina Basílio Crispim <strong>da</strong> Silva (<strong>UFPB</strong>)<br />
João Pessoa – PB<br />
2008
OLIVEIRA, Patricia Aguiar <strong>de</strong><br />
Diagnóstico <strong>da</strong> pesca e caracterização populacional <strong>da</strong>s lagostas do<br />
gênero Panulirus nos ambientes recifais <strong>da</strong> Praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha<br />
– PB /<br />
Patricia Aguiar <strong>de</strong> Oliveira – João Pessoa, 2008.<br />
129p.<br />
Orientadora: Profª. Drª. Maria Cristina Basílio Crispim <strong>da</strong> Silva<br />
Dissertação – (Mestrado) – <strong>UFPB</strong> – CCEN<br />
1. Lagosta. 2. Biologia quantitativa. 3. Pesca.<br />
<strong>UFPB</strong>/BC
PATRICIA AGUIAR DE OLIVEIRA<br />
DIAGNÓSTICO DA PESCA E CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL<br />
DAS LAGOSTAS DO GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS<br />
DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA - PB<br />
Dissertação apresenta<strong>da</strong> ao Programa<br />
Regional <strong>de</strong> Pós-Graduação em<br />
Desenvolvimento e Meio Ambiente –<br />
PRODEMA, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong><br />
Paraíba, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Estadual <strong>da</strong> Paraíba<br />
em cumprimento às exigências para obtenção<br />
<strong>de</strong> grau <strong>de</strong> Mestre em Desenvolvimento e<br />
Meio Ambiente.<br />
Aprovado em: 19/02/2008<br />
BANCA EXAMINADORA<br />
______________________________________________<br />
Profª Drª. Maria Cristina Basílio Crispim <strong>da</strong> Silva - <strong>UFPB</strong><br />
Orientadora<br />
_________________________________________<br />
Profª. Drª. Marlene Campos Peso <strong>de</strong> Aguiar – UFBA<br />
Examinadora<br />
_________________________________________<br />
Prof. Dr. José <strong>da</strong> Silva Mourão - UEPB<br />
Examinador
To<strong>da</strong> honra e to<strong>da</strong> glória sejam <strong>da</strong><strong>da</strong>s<br />
a Deus.
“Para que todos vejam, e saibam, e consi<strong>de</strong>rem, e juntamente enten<strong>da</strong>m que a<br />
mão do Senhor fez isso”.<br />
Is 41:20
AGRADECIMENTOS<br />
Agra<strong>de</strong>ço ao Senhor meu Deus, fonte <strong>de</strong> amor, sabedoria e vi<strong>da</strong>, que possibilitou a realização<br />
<strong>de</strong>ste trabalho por to<strong>da</strong> Sua bon<strong>da</strong><strong>de</strong>, misericórdia e amor incondicional. O Senhor sempre<br />
esteve ao meu lado em todos os momentos <strong>de</strong> minha vi<strong>da</strong> e sou muito grata por isso.<br />
Em especial a minha Família, meus pais Guilherme e Elenita, irmãos Alex e Guilherme<br />
Júnior que são a base <strong>de</strong> tudo o que sou, e que mesmo distante sempre pu<strong>de</strong> contar com seu<br />
apoio e compreensão, indispensáveis no <strong>de</strong>correr <strong>de</strong>sta experiência.<br />
A Cristina Crispim que além <strong>de</strong> Orientadora é uma amiga, agra<strong>de</strong>ço pela confiança,<br />
compreensão, <strong>de</strong>dicação, orientação e serie<strong>da</strong><strong>de</strong> durante o tempo em que trabalhamos juntas e<br />
por ter investido e acreditado na realização <strong>de</strong> mais uma etapa tão importante na minha vi<strong>da</strong>.<br />
Minha Madrinha, Amiga e Co-orientadora Ana Lúcia Ven<strong>de</strong>l por ser minha maior<br />
incentivadora, pelo apoio, companhia, paciência, carinho e amor. Agra<strong>de</strong>ço a Deus por ter<br />
colocado você no meu caminho.<br />
A todos <strong>da</strong> Coor<strong>de</strong>nação do PRODEMA, representa<strong>da</strong> pela Profª Drª Loreley Garcia, pelo<br />
apoio necessário à finalização <strong>de</strong>ste curso.<br />
Ao Amigo Prof Dr. Alexandre Palma pelas contribuições e sugestões apresenta<strong>da</strong>s na<br />
qualificação <strong>da</strong> pesquisa e pelo incentivo constante.<br />
A Profª Drª Marlene Aguiar e Prof. Dr. José Mourão por se fazerem presentes como<br />
membros <strong>da</strong> Banca examinadora <strong>de</strong> minha Dissertação <strong>de</strong> Mestrado aju<strong>da</strong>ndo a melhorar o<br />
material aqui apresentado.<br />
Meu Padrinho Onildo Monteiro, pelo carinho, amiza<strong>de</strong>, pelas idéias e conselhos prestados ao<br />
<strong>de</strong>correr <strong>de</strong>ssa jorna<strong>da</strong>.<br />
Aos Professores do PRODEMA que me passaram valiosos conhecimentos durante as aulas e<br />
seminários apresentados ao <strong>de</strong>correr do curso.
Aos colegas do PRODEMA Shirley, Guilherme, Mauricio, Ricardo Arru<strong>da</strong>, Daniel,<br />
Juliana Moreira, Juliana Furtado, Juliana Louysa, Lilian Késia, Bráulio, Rodolfo,<br />
Kallyne, Karen, Rogério, Edimilson, Janine, Paula e Suer<strong>da</strong>, foi um imenso prazer e<br />
honra em termos dividido espaço e trocado idéias e discutidos variados temas <strong>da</strong> área, bem<br />
como os momentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontração que ocorriam nas aulas e viagens que realizarmos juntos,<br />
a estes um gran<strong>de</strong> abraço.<br />
Ao amigo Emanuel Luiz pelo incentivo e esforço para superar minhas limitações <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
seleção do mestrado ao término <strong>da</strong> pesquisa. Pela amiza<strong>de</strong> que mantemos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as disciplinas<br />
como aluno especial, formando uma bela dupla. Lembrando que: ”Nenhum caminho é longo<br />
<strong>de</strong>mais quando amigos nos acompanham”.<br />
Tenho muito a agra<strong>de</strong>cer a Secretária Amélia que sempre nos auxiliou nos momentos <strong>de</strong><br />
dúvi<strong>da</strong>s sobre assuntos relacionados ao mestrado, principalmente, os assuntos burocráticos.<br />
A amiga Flavia Oliveira meus sinceros agra<strong>de</strong>cimentos pela sua amiza<strong>de</strong>, bem como pelos<br />
momentos difíceis, em que tivemos <strong>de</strong> trabalhar em dobro, com trocas <strong>de</strong> idéias e discussões<br />
para as melhorias <strong>de</strong> nossos trabalhos.<br />
Ao Amigo Leonardo pela paciência e aju<strong>da</strong> nas análises estatísticas e no auxilio a impressão.<br />
Aos amigos Bill, Jarbas e Zeca, que prestaram um apoio incondicional nas coletas, tornando<br />
meu trabalho mais ameno. Agra<strong>de</strong>ço pela força.<br />
Ao amigo Daniel Silva pela enorme disposição em aju<strong>da</strong>r. Muito Obriga<strong>da</strong>!<br />
Ao casal Hênio Júnior e Zoetânia, por tudo o que aprendi como pessoa e profissional e por<br />
to<strong>da</strong> a disponibili<strong>da</strong><strong>de</strong> e atenção ao longo <strong>de</strong>sta caminha<strong>da</strong>.<br />
Á Família Anglicana Comunhão, pelas orações e por todos que direta ou indiretamente<br />
contribuíram para a conclusão <strong>de</strong> mais esta etapa <strong>de</strong> minha vi<strong>da</strong>....meu muito obriga<strong>da</strong>, pois<br />
meu jardim floresce por causa <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> semente que vocês plantam em meu coração!!!!
Ao casal Sadrak e Simone, pessoas que eu amo, que foram e continuarão a ser presentes <strong>de</strong><br />
Deus que enchem meus dias <strong>de</strong> intensa luz e amor. A certeza <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r contar com a amiza<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> vocês conforta meu coração.<br />
Ao casal Charles e Marília Galvão, meus lí<strong>de</strong>res, por transformar pequenos instantes em<br />
gran<strong>de</strong>s momentos tornando nossos encontros ocasiões inesquecíveis <strong>de</strong> intensa alegria e<br />
aprendizagem.<br />
A “voz na minha consciência”, Constance Gualberto, pelas conversas encantadoras, pelo<br />
apoio e incentivo nas horas <strong>de</strong> “pane” e por me proporcionar momentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scoberta sobre<br />
mim mesma, sendo um instrumento <strong>de</strong> Deus em minha vi<strong>da</strong>.<br />
A Amiga Shirley Oliveira pelo investimento na minha vi<strong>da</strong> espiritual e por, através <strong>de</strong> sua<br />
voz melodiosa, me levar on<strong>de</strong> eu posso ouvir a voz <strong>de</strong> Deus.<br />
A minha tia e madrinha Lúcia, pelo incentivo e orações mesmo distante sempre presente<br />
durante to<strong>da</strong> a minha vi<strong>da</strong>.<br />
Ao CIE – Colégio e Curso e as minhas diretoras Socorro, Salete, Ana e Lora (Maria <strong>de</strong><br />
Fátima), que sempre me auxiliaram na minha caminha<strong>da</strong> acadêmica, enten<strong>de</strong>ndo as faltas e<br />
pelo apoio e incentivo para continuar a trilhar a minha jorna<strong>da</strong> <strong>de</strong> pesquisadora.<br />
A minha Família, Avô, Tias, Tios, Primas e Primos por ter sempre acreditado e apoiado o<br />
meu projeto para a vi<strong>da</strong> profissional.<br />
A Copiadora Bancários nas pessoas <strong>de</strong> Filipy, Jerônimo, Diosthenes, Rodrigo e<br />
Marcilene, que sempre me aju<strong>da</strong>ram com as “xerox”, impressões e enca<strong>de</strong>rnações, nunca<br />
<strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r nenhuma <strong>da</strong>s minhas emergências. Obriga<strong>da</strong> por serem sempre eficientes<br />
e eficazes.<br />
A Família <strong>da</strong> Cruz Silva: Sr. Fernando, Dona Luzimar, Joelma, Luiz Cassiano, Harryson e<br />
Fernan<strong>da</strong> Angélica, pela compreensão e carinho com o qual me acolheram nas diversas vezes<br />
que investi contra sua privaci<strong>da</strong><strong>de</strong>.
A Vereadora Paula Francinete pela atenção em nos receber e pela contribuição na<br />
implantação do projeto na Comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> Penha.<br />
Ao Engenheiro Agrônomo Roberto <strong>da</strong> Costa Vital, coor<strong>de</strong>nador do Empreen<strong>de</strong>r-João<br />
Pessoa, pelo auxilio ao emprestar a balança analítica para uso em campo.<br />
A amiga Josélia Gouveia pela palavra amiga na hora certa e pelo carinho e atenção<br />
dispensados.<br />
A amiga Lidyane Lima pela luz e paz transmiti<strong>da</strong>s a todo o momento.<br />
Ao amigo e discipulador Obadias pela paciência e carinho durante os estudos extraacadêmicos<br />
que foram primordiais para manutenção do meu equilíbrio emocional.<br />
Aos meus Alunos, que continuam sendo fonte <strong>de</strong> inspiração para meu aprimoramento<br />
científico, pois o conhecimento não foi feito pra ser acumulado e sim transmitido.<br />
Ao Conselho Nacional <strong>de</strong> Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério<br />
<strong>da</strong> Ciência e Tecnologia pela bolsa <strong>de</strong> Mestrado concedi<strong>da</strong>.<br />
Enfim, várias pessoas contribuíram para a realização <strong>da</strong> presente dissertação. A participação<br />
<strong>de</strong> ca<strong>da</strong> pessoa, à sua maneira, voluntariamente ou involuntariamente, foi indispensável para a<br />
forma final do trabalho. Se alguém se consi<strong>de</strong>rar omisso na lista, isso aconteceu, meramente,<br />
por esquecimento do autor e não significa que esta pessoa seja menos reconheci<strong>da</strong>.
xi<br />
LISTA DE FIGURAS<br />
Figura 1 - Filosoma <strong>de</strong> lagosta em estágio inicial. Fonte (a): KITTAKA et al., 1997<br />
a<strong>da</strong>ptado por SANTIAGO, 2001. (b) Foto <strong>de</strong> filosomas ao microscópio. Fonte:<br />
National Geographic apud BIOLOGY, 2008 ......................................................... 18<br />
Figura 2 - Puerulus, pós larva <strong>de</strong> lagosta do gênero Panulirus. Fonte: National Geographic<br />
apud BIOLOGY, 2008 .......................................................................................... 19<br />
Figura 3 - Etapas a serem analisa<strong>da</strong>s em um sistema <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> lagostas espinhosas<br />
(RAHMAN & SRIKRISHNADHAS, 1994) .......................................................... 21<br />
Figura 4 - Localização dos bairros do Seixas e Penha no litoral <strong>de</strong> João Pessoa, PB. .............. 23<br />
Figura 5 - Entrevista com pescadores no Seixas (a) e na Penha (b)(Foto: Emanuel Silva,<br />
2007)..................................................................................................................... 24<br />
Figura 6 - Manzuá usado pelos pescadores <strong>da</strong> praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha (Foto: Patricia<br />
Oliveira, 2007) ...................................................................................................... 25<br />
Figura 7 - Pescador recolhendo a caçoeira (Foto: Patricia Oliveira, 2007) ............................. 26<br />
Figura 8 - Mergulhador caçando lagosta na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Karen<br />
Viana, 2007).......................................................................................................... 26<br />
Figura 9 - Bicheiro usado na pesca <strong>da</strong> lagosta na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto:<br />
Patricia Oliveira, 2007).......................................................................................... 27<br />
Figura 10 - Mergulhador capturando lagostas com uso <strong>de</strong> compressor. (Foto: Ricardo<br />
Stangorlini, 2007) ............................................................................................... 27<br />
Figura 11 - Pescador acen<strong>de</strong>ndo um facho sobre o ambiente recifal (Foto: Patricia<br />
Oliveira, 2001).................................................................................................... 28<br />
Figura 12 - Bote à remo na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2007). ................................................................................................................. 29<br />
Figura 13 - Canoa na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007) ........... 29<br />
Figura 14 - Janga<strong>da</strong> na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007)......... 30<br />
Figura 15 - Bote motorizado na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2007). ................................................................................................................. 30<br />
Figura 16 - Lancha na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007) .......... 31<br />
Figura 17 - Freqüência <strong>de</strong> i<strong>da</strong><strong>de</strong> dos pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha,<br />
entrevistados entre julho/07 e outubro/07............................................................ 32<br />
Figura 18 - Tempo <strong>de</strong> pesca dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados<br />
entre julho/07 e outubro/07 ................................................................................. 33<br />
Figura 19 - Ren<strong>da</strong> obti<strong>da</strong> com a captura <strong>de</strong> lagosta dos pescadores <strong>da</strong>s praias <strong>da</strong>s Seixas e<br />
<strong>da</strong> Penha, entrevistados entre julho/07 e outubro/07............................................ 35<br />
Figura 20 - Local <strong>de</strong> pesca dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados<br />
entre julho/07 e outubro/07 ................................................................................. 36<br />
Figura 21 - Artes <strong>de</strong> captura dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados<br />
entre julho/07 e outubro/07 ................................................................................. 37<br />
Figura 22 - Pescador confeccionando re<strong>de</strong>. (Foto: Patricia Oliveira, 2007)............................. 38<br />
Figura 23 - Filho <strong>de</strong> pescador (a) e pescador (b) fabricando covo (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2007) .................................................................................................................. 38<br />
Figura 24 - Destino <strong>da</strong>s lagostas captura<strong>da</strong>s pelos pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha, entrevistados entre julho/07 e outubro/07 ................................................ 39<br />
Figura 25 - Panulirus echinatus: Morfologia externa dorsal (MELO, 1999). .......................... 54<br />
Figura 26 - Panulirus echinatus: Morfologia externa dorsal. (Foto: Patricia Oliveira, 2007)... 54<br />
Figura 27 - Panulirus argus: Morfologia externa dorsal (MELO, 1999). ................................ 56<br />
Figura 28 - Panulirus argus: Morfologia externa dorsal (Foto: Patricia Oliveira, 2007).......... 56
Figura 29 - Panulirus laevicau<strong>da</strong>: Morfologia externa dorsal (MELO, 1999)......................... 58<br />
Figura 30 - Panulirus laevicau<strong>da</strong>: Morfologia externa dorsal (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2007) .................................................................................................................. 58<br />
Figura 31 - Seqüência do processo <strong>de</strong> ecdise na lagosta do gênero Panulirus (Foto:<br />
DEBELIUS, 1999).............................................................................................. 60<br />
Figura 32 - Mapa <strong>de</strong> localização dos ambientes recifais do Seixas (a<strong>da</strong>ptado <strong>de</strong> MELO,<br />
2006). ................................................................................................................. 67<br />
Figura 33 - Vista aérea dos ambientes recifais <strong>da</strong> praia do Seixas. (Foto: Viana, 2005) .......... 67<br />
Figura 34 - Vista aérea dos ambientes recifais <strong>da</strong> praia <strong>da</strong> Penha. (Foto: Viana, 2005) ........... 68<br />
Figura 35 - Ambiente recifal do Seixas, partes <strong>de</strong>sintegra<strong>da</strong>s <strong>de</strong> algas calcárias do gênero<br />
Halime<strong>da</strong> (Foto: Rodrigo Melo, 2005). ............................................................... 68<br />
Figura 36 - Esquema do comprimento total (Ct) e do comprimento do cefalotórax (Cc)......... 70<br />
Figura 37 - Realização <strong>da</strong> medi<strong>da</strong> do comprimento total (Ct mm) (Foto: Claudia Valle) ........ 70<br />
Figura 38 - Realização <strong>da</strong> medi<strong>da</strong> do comprimento do cefalotórax (Cc mm)(Foto: Claudia<br />
Valle) ................................................................................................................. 71<br />
Figura 39 - Realização do peso total (Pt g) (Foto: Patricia Oliveira, 2007) ............................. 71<br />
Figura 40 - Dimorfismo sexual. A seta mostra o endopodito do pleiópodo <strong>da</strong> lagosta fêmea<br />
(Foto: Patricia Oliveira) ...................................................................................... 72<br />
Figura 41 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas por classes <strong>de</strong> comprimento total na<br />
população <strong>de</strong> lagostas no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong><br />
abr/06 a set/07 .................................................................................................... 85<br />
Figura 42 - Variação do comprimento total <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P.<br />
laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a<br />
set/07.................................................................................................................. 85<br />
Figura 43 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total<br />
(mm), por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus echinatus no ambiente recifal<br />
<strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07 .............................................. 86<br />
Figura 44 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total<br />
(mm), por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................................................... 87<br />
Figura 45 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total<br />
(mm), por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal<br />
<strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ............................................. 88<br />
Figura 46 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total<br />
(Ct) <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas<br />
e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ............................................................................. 89<br />
Figura 47 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total<br />
(Ct) <strong>da</strong>s lagostas Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e<br />
<strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07................................................................................. 90<br />
Figura 48 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total<br />
(Ct) <strong>da</strong>s lagostas Panulirus laevicu<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas<br />
e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ............................................................................. 90<br />
Figura 49 - Dispersão temporal <strong>da</strong>s médias mensais do Fator <strong>de</strong> Condição amostrado na<br />
população <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no<br />
ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................... 92<br />
Figura 50 - Distribuição mensal <strong>da</strong>s freqüências <strong>de</strong> machos e fêmeas amostrados na<br />
população <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no<br />
ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................... 93<br />
Figura 51 - Ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> lagosta P. argus (a<strong>da</strong>ptado <strong>de</strong> IZQUIERDO et al., 1990)........... 93<br />
Figura 52 - Migração <strong>da</strong> lagosta espinhosa. (Foto: DEBELIUS, 1999)................................... 94<br />
xii
xiii<br />
LISTA DE TABELAS<br />
Tabela 1 - Produção por espécie dos maiores produtores mundiais <strong>de</strong> lagostas, entre 2002<br />
e 2005, em tonela<strong>da</strong>s métricas................................................................................ 06<br />
Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira: Setor <strong>de</strong> Lagostas. Período: 1996 a 2006 a .<br />
Valores em US$ FOB ............................................................................................ 08<br />
Tabela 3 - Estados brasileiros exportadores. Período: Janeiro a <strong>de</strong>zembro 2006/2005.<br />
Valores em US$ FOB ............................................................................................ 08<br />
Tabela 4 - Resumo dos Boletins Estatísticos <strong>de</strong> Pesca do CEPENE <strong>de</strong>1999 a 2005 ................ 14<br />
Tabela 5 - Tabela <strong>de</strong> freqüência <strong>da</strong> relação entre as variáveis Tempo <strong>de</strong> pesca e I<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre julho/07 e<br />
outubro/07 ............................................................................................................. 33<br />
Tabela 6 - Tabela <strong>de</strong> freqüência <strong>da</strong> relação entre as variáveis Ganho mensal e I<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre julho/07 e<br />
outubro/07. ............................................................................................................ 36<br />
Tabela 7 - Súmula <strong>da</strong>s características biológicas e parâmetros vitais <strong>da</strong> lagosta-vermelha,<br />
Panulirus argus, e <strong>da</strong> lagosta-ver<strong>de</strong>, Panulirus laevicau<strong>da</strong>, ao longo <strong>da</strong>s<br />
costas norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil ............................................................................ 52<br />
Tabela 8 - Valores médios do Comprimento total (Ct), Comprimento do cefalotórax (Cc)<br />
e Peso total (Pt) <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong><br />
captura<strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a<br />
set/07..................................................................................................................... 78<br />
Tabela 9 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos comprimentos totais (mm) <strong>da</strong>s lagostas<br />
Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................................................................ 79<br />
Tabela 10 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos comprimentos dos cefalotórax <strong>da</strong>s<br />
Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................................................................ 81<br />
Tabela 11 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos pesos (g) <strong>de</strong> Panulirus echinatus, P.<br />
argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong><br />
abr/06 a set/07. ...................................................................................................... 82<br />
Tabela 12 - Distribuição <strong>da</strong>s classes <strong>de</strong> comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s classes<br />
(Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %) na<br />
população <strong>de</strong> lagostas captura<strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ....................................................................................... 84<br />
Tabela 13 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s<br />
classes (Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por<br />
período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus echinatus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07. ................................................................ 86<br />
Tabela 14 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s<br />
classes (Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por<br />
período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07 ...................................................................... 87<br />
Tabela 15 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s<br />
classes (Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por<br />
período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07 ................................................................. 88
xiv<br />
Tabela 16 - Fator <strong>de</strong> condição mensal (Fc) <strong>da</strong> população <strong>de</strong> lagostas Panulirus echinatus,<br />
P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha<br />
<strong>de</strong> abr/06 a set/07................................................................................................... 91<br />
Tabela 17 - Valores estimados para avaliação <strong>da</strong> proporção sexual <strong>da</strong> população amostral<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal<br />
<strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07 ................................................. 93<br />
Tabela 18 - Participação relativa (%) <strong>de</strong> indivíduos <strong>da</strong> fauna acompanhante na pesca <strong>de</strong><br />
lagosta, nas praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07, capturados com<br />
re<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-espera. ...................................................................................................... 95<br />
Tabela 19 - Relação <strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong> peixes, crustáceos, tartarugas, elasmobrânquios,<br />
moluscos, equino<strong>de</strong>rmes capturados nas pescarias <strong>de</strong> lagostas, para diferentes<br />
autores, locais e períodos. 1- Dados analisados neste trabalho; 2- Rocha et al.<br />
(1997); 3- Ivo et al. (1996); 4- Fausto-Filho et al. (1966); 5- Paiva et al.<br />
(1973).................................................................................................................... 96<br />
LISTA DE QUADRO<br />
Quadro 1 - Principais espécies comercialmente explora<strong>da</strong>s <strong>da</strong> família Palinuri<strong>da</strong>e e<br />
respectivas áreas <strong>de</strong> pesca...................................................................................... 05
xv<br />
RESUMO<br />
A ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> lagosteira no Brasil teve seu início no Ceará na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 50 e <strong>de</strong> lá até os dias<br />
atuais, vários tipos <strong>de</strong> embarcações e artes-<strong>de</strong>-pesca foram utiliza<strong>da</strong>s para a captura <strong>da</strong><br />
lagosta. No entanto, com o início <strong>da</strong> exploração comercial <strong>de</strong>ste crustáceo, veio a diminuição<br />
dos estoques naturais, <strong>de</strong>vido à gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>da</strong> <strong>de</strong> consumo, que forçou <strong>de</strong>ssa maneira a<br />
exploração <strong>de</strong>ste recurso. Devido à gran<strong>de</strong> importância econômica <strong>da</strong> lagosta espinhosa para a<br />
Região Nor<strong>de</strong>ste, e a sobrexplotação em que esse crustáceo encontra-se atualmente, pesquisas<br />
vêm sendo realiza<strong>da</strong>s com o intuito <strong>de</strong> contribuir para o conhecimento populacional <strong>da</strong>s<br />
espécies do gênero Panulirus. Dessa forma, o objetivo <strong>da</strong> presente pesquisa foi realizar um<br />
diagnóstico <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha e obter<br />
informações que subsidiem a estimativa <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> suporte do ecossistema, visando a<br />
gestão dos recursos extrativistas. Para traçar um perfil <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta, partimos <strong>da</strong><br />
reali<strong>da</strong><strong>de</strong> mundial à local, apresentando uma cronologia histórica <strong>da</strong> pesca e comercialização<br />
<strong>de</strong>sse crustáceo. Através <strong>de</strong> um suporte teórico-conceitual sobre o gênero estu<strong>da</strong>do são<br />
apresenta<strong>da</strong>s informações sobre os aspectos quantitativos <strong>da</strong> biologia populacional <strong>de</strong> lagosta<br />
local, bem como a composição <strong>da</strong> sua fauna acompanhante. O diagnóstico <strong>da</strong> pesca foi<br />
realizado entre julho/07 e outubro/07, através <strong>de</strong> entrevistas basea<strong>da</strong>s em 37 questões (15<br />
questões sobre o perfil do pescador e 22 questões sobre a pesca <strong>da</strong> lagosta) visando o<br />
levantamento socioeconômico <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> pesqueira, investigando o interesse <strong>de</strong>ssa<br />
população em participar <strong>de</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s produtivas que complementassem a sua ren<strong>da</strong> familiar.<br />
Foram entrevistados 100% dos pescadores em ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> na região, após a realização <strong>de</strong> um<br />
censo prévio na comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>. A ren<strong>da</strong> mensal média dos lagosteiros varia entre R$ 200,00 e<br />
R$ 400,00. Aqueles que têm ren<strong>da</strong> inferior a R$ 200,00 complementam a mesma com<br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s paralelas como construção civil, ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> caráter informal e comércio. A<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha caracteriza-se pela diminuição no<br />
número <strong>de</strong> indivíduos que fazem uso do recurso, pela modificação na arte <strong>de</strong> pesca, <strong>de</strong>vido ao<br />
aumento <strong>da</strong> consciência ambiental, e pela ausência <strong>de</strong> fiscalização quanto às políticas públicas<br />
que visam a sustentabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> captura <strong>da</strong> lagosta na região. Quanto à caracterização <strong>da</strong><br />
população <strong>de</strong> lagostas, os <strong>da</strong>dos coletados <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2006 a setembro <strong>de</strong> 2007 foram<br />
agrupados em três períodos, <strong>de</strong>terminados pelo grau <strong>de</strong> pluviosi<strong>da</strong><strong>de</strong>. Foram amostrados 512<br />
indivíduos. A espécie <strong>de</strong> maior ocorrência foi Panulirus laevicau<strong>da</strong> (186 indivíduos). Foram<br />
i<strong>de</strong>ntifica<strong>da</strong>s as épocas <strong>de</strong> recrutamento mais intensas no período chuvoso <strong>de</strong> 2007 para as<br />
três espécies. A proporção entre os sexos revela uma predominância <strong>de</strong> machos em relação às<br />
fêmeas para Panulirus echinatus. Quanto aos índices <strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>, e dominância dos<br />
valores calculados para a fauna acompanhante <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong> lagosta, foram semelhantes em<br />
todos os períodos.<br />
Palavras-chaves: Lagosta, pesca, pescador <strong>de</strong> lagosta, Panulirus echinatus, Panulirus argus,<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong>.
xvi<br />
ABSTRACT<br />
The Brazilian lobster fishing had its beginning in Ceará State in 50’s. From then, several boat<br />
types and fishing equipments have been used. Nevertheless, the natural lobster stocks<br />
<strong>de</strong>creased due the great consume, which lead to the over exploration of this resource. Due the<br />
great economic importance of the spiny lobster for the Northeastern Brazil, and the higher<br />
exploration of the three local species, researches have actually been <strong>de</strong>veloped in or<strong>de</strong>r to<br />
contribute to the knowledge of the Panulirus genera’s population dynamics. In this way, the<br />
aim of this work was to <strong>de</strong>velop a diagnosis of the lobster fishing in the reef environment of<br />
Seixas and Penha beaches to bring information to subsidize the estimation of support capacity<br />
of this exploration, looking for the management of the lobster fishery. To show the profile of<br />
lobster fishery, we came from a world reality to a local one, showing a chronological <strong>da</strong>ta of<br />
fishery and commerce of these crustaceans. Through a theoretical and conceptual support<br />
about the studied genera, are presented here information about population dynamics<br />
quantitative aspects of local lobsters as well the companion fauna brought by nets. The<br />
diagnosis of lobster catchers was <strong>de</strong>veloped between july/07 and October/07, through<br />
interviews composed by 37 questions (15 about the lobster catchers profile and 22 about the<br />
lobster fishery) aiming the socio economic knowledge of the lobster catchers community,<br />
investigating the motivation of that community in to participate of productive activities, in<br />
or<strong>de</strong>r to complement their salary. 100% of the lobster catchers were interviewed after a<br />
research in the community. The mensal income of most of them is between R$ 200.00 and R$<br />
400.00. Those who have a lower salary then complement it with other activities, such as civil<br />
construction, commerce and informal ones. This community is characterized by the<br />
<strong>de</strong>creasing number of lobster catchers by the change in the kind of fishery equipments, due<br />
the increase in environmental conscience and for the absence of fiscalization by government<br />
institutions who work for the lobster sustainability of fishery. About lobster population, the<br />
<strong>da</strong>ta collected from April 2006 to September 2007 were grouped in 3 periods, <strong>de</strong>fined by the<br />
precipitation levels. 512 individuals were sampled. The most abun<strong>da</strong>nt species was Panulirus<br />
laevicau<strong>da</strong> (186 individuals). The more intense recruitment period was in rainy period of<br />
2007 for all sampled species. Sex proportion revealed a male predominance for P. echinatus<br />
and similar numbers for the other species. The diversity and dominance indices for the<br />
companion fauna were similar in all analyzed periods.<br />
Key words: Lobster, fishering, lobster catchers, Panulirus echinatus, Panulirus argus,<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong>.
xvii<br />
SUMÁRIO<br />
Lista <strong>de</strong> Figuras ............................................................................................................. xi<br />
Lista <strong>de</strong> Tabelas ............................................................................................................. xiii<br />
Resumo.......................................................................................................................... xv<br />
Abstract ......................................................................................................................... xvi<br />
Sumário ......................................................................................................................... xvii<br />
Apresentação ................................................................................................................ 01<br />
Capítulo I: DIAGNÓSTICO DA PESCA DA LAGOSTA NO AMBIENTE<br />
RECIFAL DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA - PB<br />
1. Introdução................................................................................................................ 03<br />
2. Fun<strong>da</strong>mentação Teórica ........................................................................................... 04<br />
2.1. A pesca <strong>da</strong> lagosta no Mundo............................................................................ 04<br />
2.2. A pesca <strong>da</strong> lagosta no Brasil.............................................................................. 07<br />
2.3. A pesca <strong>da</strong> lagosta no Nor<strong>de</strong>ste ......................................................................... 11<br />
2.4. A pesca <strong>da</strong> lagosta na Paraíba............................................................................ 14<br />
2.5. Aspectos legais.................................................................................................. 15<br />
2.5.1. Or<strong>de</strong>namento <strong>da</strong> pesca ............................................................................ 15<br />
2.6. Perspectiva <strong>de</strong> cultivo........................................................................................ 17<br />
3. A pesca <strong>da</strong> lagosta na Praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha..................................................... 22<br />
3.1. Introdução......................................................................................................... 22<br />
3.2. Área <strong>de</strong> Estudo.................................................................................................. 22<br />
3.3. Materiais e Métodos.......................................................................................... 24<br />
3.4. Resultados e Discussão ..................................................................................... 25<br />
3.4.1. Artes <strong>de</strong> pesca utiliza<strong>da</strong>s nas capturas <strong>de</strong> lagosta..................................... 25<br />
3.4.2. Frota lagosteira <strong>da</strong> Paraíba ...................................................................... 28<br />
3.4.3. Perfil sócio econômico dos pescadores.................................................... 31<br />
3.5. Conclusão ......................................................................................................... 40<br />
3.6. Recomen<strong>da</strong>ções................................................................................................. 41<br />
3.7. Referencias bibliográficas ................................................................................. 42
xviii<br />
Capítulo II: CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DAS LAGOSTAS DO<br />
GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS DA PRAIA DO<br />
SEIXAS E DA PENHA - PB<br />
1. Introdução................................................................................................................ 49<br />
1.1. A lagosta do gênero Panulirus........................................................................... 49<br />
2. Fun<strong>da</strong>mentação teórica............................................................................................. 53<br />
2.1. Panulirus echinatus........................................................................................... 53<br />
2.2. Panulirus argus................................................................................................. 55<br />
2.3. Panulirus laevicau<strong>da</strong>......................................................................................... 57<br />
2.4. Fisiologia Nutricional........................................................................................ 59<br />
2.4.1. Digestão e excreção ................................................................................ 59<br />
2.4.2. Alimentação............................................................................................ 59<br />
2.5. Mu<strong>da</strong> e Crescimento.......................................................................................... 60<br />
2.5.1. Ciclo <strong>de</strong> Mu<strong>da</strong> ........................................................................................ 60<br />
2.5.2. Crescimento............................................................................................ 62<br />
2.6. Barriga Preta “Black Spot”................................................................................ 63<br />
3. Caracterização Populacional..................................................................................... 65<br />
3.1. Introdução......................................................................................................... 65<br />
3.2. Área <strong>de</strong> estudo .................................................................................................. 65<br />
3.3. Materiais e Métodos.......................................................................................... 65<br />
3.3.1. Amostragem ........................................................................................... 69<br />
3.3.1.1.Coleta <strong>de</strong> indivíduos.......................................................................... 69<br />
3.3.1.2.Biometria populacional ..................................................................... 69<br />
3.3.2. Tratamento estatístico ............................................................................. 72<br />
3.3.2.1.Estatística <strong>de</strong>scritiva.......................................................................... 73<br />
3.3.3. Distribuição <strong>da</strong>s Freqüências dos Tamanhos na População...................... 73<br />
3.3.4. Relação Peso X Comprimento ................................................................ 74<br />
3.3.5. Fator <strong>de</strong> Condição................................................................................... 74<br />
3.3.6. Proporção Sexual.................................................................................... 75<br />
3.3.7. Fauna acompanhante............................................................................... 75<br />
3.4. Resultados e Discussão ..................................................................................... 78<br />
3.4.1. Biometria................................................................................................ 78<br />
3.4.2. Tamanho dos indivíduos na população.................................................... 79<br />
3.4.2.1.Comprimento total ............................................................................ 79<br />
3.4.2.2.Comprimento do cefalotórax............................................................. 80<br />
3.4.2.3.Peso total .......................................................................................... 82<br />
3.4.3. Distribuição <strong>da</strong>s Freqüências dos Tamanhos na População...................... 84<br />
3.4.4. Relação Peso X Comprimento ................................................................ 89<br />
3.4.5. Fator <strong>de</strong> Condição................................................................................... 91<br />
3.4.6. Proporção Sexual.................................................................................... 92<br />
3.4.7. Fauna acompanhante............................................................................... 94<br />
3.5. Conclusões........................................................................................................ 98<br />
3.6. Recomen<strong>da</strong>ções................................................................................................. 98<br />
3.7. Referências Bibliográficas................................................................................. 99<br />
3.8. Apêndices ......................................................................................................... 108
1<br />
1. APRESENTAÇÃO<br />
Em virtu<strong>de</strong> <strong>da</strong> gran<strong>de</strong> redução <strong>da</strong> captura <strong>de</strong> recursos marinhos <strong>de</strong> alto valor comercial<br />
e em especial dos estoques <strong>de</strong> lagosta, acarretando a que<strong>da</strong> <strong>da</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> dos pescadores<br />
e suas famílias, este trabalho foi <strong>de</strong>senvolvido com o objetivo <strong>de</strong> realizar um diagnóstico <strong>da</strong><br />
pesca <strong>da</strong> lagosta no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha que subsidie a<br />
estimativa <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> suporte do ecossistema, visando a gestão <strong>de</strong>ste recurso extrativista,<br />
através <strong>da</strong> consecução dos seguintes objetivos específicos:<br />
Descrever as artes <strong>de</strong> pescas e embarcações usa<strong>da</strong>s nas praias do Seixas e Penha;<br />
Traçar um perfil socioeconômico dos pescadores <strong>de</strong> lagosta;<br />
Analisar as variáveis biométricas <strong>da</strong> população <strong>de</strong> lagostas em períodos sazonais;<br />
Avaliar a relação mensal entre peso e comprimento dos indivíduos e a distribuição<br />
temporal do fator <strong>de</strong> condição médio na população;<br />
Estimar a distribuição <strong>de</strong> tamanho dos indivíduos ao longo do tempo;<br />
Registrar a fauna acompanhante <strong>da</strong> lagosta na região.<br />
A presente dissertação encontra-se estruturalmente dividi<strong>da</strong> em dois capítulos, que por<br />
sua vez, foram subdivididos em sub-itens, permitindo compor dois artigos científicos. O<br />
primeiro capítulo: DIAGNÓSTICO DA PESCA DA LAGOSTA NO AMBIENTE<br />
RECIFAL DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA-PB consiste em um perfil <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong><br />
lagosta partindo <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> mundial à local, apresentando uma cronologia histórica <strong>da</strong> pesca e<br />
comercialização <strong>de</strong>sse crustáceo, como forma <strong>de</strong> subsidiar as discussões que tratam <strong>da</strong> pesca nas<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha-PB.<br />
O segundo capítulo: CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DAS LAGOSTAS<br />
DO GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS DA PRAIA DO SEIXAS E DA<br />
PENHA-PB, apresenta, um suporte teórico-conceitual sobre o gênero estu<strong>da</strong>do, ao tempo em<br />
que apresenta os resultados dos aspectos quantitativos <strong>da</strong> biologia populacional <strong>de</strong> lagosta no<br />
local, bem como a composição <strong>da</strong> sua fauna acompanhante.<br />
Nas consi<strong>de</strong>rações finais foram relacionados os resultados e discussões dos dois<br />
capítulos <strong>da</strong> dissertação, ressaltando a interdisciplinari<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ste trabalho.
Capítulo I: DIAGNÓSTICO DA PESCA DA LAGOSTA NO AMBIENTE<br />
RECIFAL DA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA-PB<br />
2
3<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
A pesca <strong>da</strong> lagosta <strong>da</strong>s famílias Neophropi<strong>da</strong>e (clawfish lobster) e Palinuri<strong>da</strong>e (spiny<br />
lobster) encontra-se entre as pescarias mais disputa<strong>da</strong>s e valoriza<strong>da</strong>s do mundo (FORD, 1980).<br />
Os representantes <strong>da</strong> família Palinuri<strong>da</strong>e ocorrem nas áreas tropicais, subtropicais e<br />
tempera<strong>da</strong>s. Na região tropical, a distribuição é caracteriza<strong>da</strong> por um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong><br />
espécies, com pequena <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> populacional. Isto é comprovado pelo fato <strong>de</strong> que <strong>da</strong>s doze<br />
espécies <strong>de</strong> ocorrência conheci<strong>da</strong>, somente três (Panulirus argus. P. polyphagus e P.<br />
laevicau<strong>da</strong>) suportam uma exploração comercial (MORGAN, 1980).<br />
Entre os Palinurí<strong>de</strong>os mais capturados e comercializados encontram-se a lagosta<br />
vermelha, Panulirus argus (Latreille, 1804), a lagosta ver<strong>de</strong>, Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille,<br />
1817) e a lagosta pinta<strong>da</strong>, Panulirus echinatus (Smith, 1869). As duas primeiras espécies<br />
habitam fundos <strong>de</strong> águas claras, quentes e bem oxigena<strong>da</strong>s, com formações <strong>de</strong> algas calcárias,<br />
conhecidos como cascalho, ocorrendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 20 m <strong>de</strong> profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> até a bor<strong>da</strong> <strong>da</strong> plataforma<br />
continental. A terceira espécie prefere fundos rochosos e áreas insulares próximas <strong>da</strong> costa<br />
(PAIVA, 1997).<br />
A pesca <strong>da</strong> lagosta tem proporcionado o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> pesqueira na<br />
Região Nor<strong>de</strong>ste, em virtu<strong>de</strong> <strong>da</strong> consi<strong>de</strong>rável receita auferi<strong>da</strong> com a exportação do produto para<br />
o mercado internacional, <strong>de</strong>stacando-se os Estados Unidos, Japão e alguns países <strong>da</strong> Europa<br />
como principais compradores. A pesca <strong>da</strong> lagosta tornou-se o maior gerador <strong>de</strong> divisas no setor<br />
pesqueiro no Ceará, em função <strong>da</strong> razoável abundância <strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong> lagostas explora<strong>da</strong>s<br />
comercialmente no País (GALDINO, 1995).<br />
Avaliações pretéritas do potencial <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> lagostas realiza<strong>da</strong>s por Paiva (1997),<br />
ao longo <strong>da</strong> costa nor<strong>de</strong>ste do Brasil, possibilitam os seguintes <strong>de</strong>staques, com inclusão do<br />
estado do Maranhão:<br />
Lagosta-vermelha - máximos <strong>de</strong> 6.900 t/ano para to<strong>da</strong> a região, com 5.300 t/ano para<br />
o nor<strong>de</strong>ste setentrional e 1.800 t/ano para o nor<strong>de</strong>ste oriental;<br />
Lagosta-ver<strong>de</strong> - máximos <strong>de</strong> 1.800 t/ano para to<strong>da</strong> a região com 1.500 t/ano para o<br />
nor<strong>de</strong>ste setentrional e 450 t/ano para o nor<strong>de</strong>ste oriental;<br />
Apesar <strong>da</strong> proposta <strong>de</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> suporte para as populações <strong>de</strong> lagostas, não há um<br />
controle <strong>de</strong> tudo o que é pescado, e fica difícil <strong>de</strong> se respeitar a capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssas<br />
espécies.<br />
A pesca <strong>da</strong> lagosta nas praias do Seixas e Penha envolve uma problemática sócioambiental<br />
fortemente liga<strong>da</strong> ao sustento <strong>de</strong> várias famílias <strong>da</strong> região. A pressão exerci<strong>da</strong> pelo
4<br />
mercado consumidor, relaciona<strong>da</strong> com o crescente turismo regional, contribui para a<br />
necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ações que favoreçam o <strong>de</strong>senvolvimento sustentável <strong>de</strong>ste recurso natural na<br />
região.<br />
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
2.1 A PESCA DA LAGOSTA NO MUNDO<br />
A Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s para Alimentação (FAO) em seu relatório sobre o<br />
Estado <strong>da</strong>s Pescarias Mundiais <strong>de</strong> 1995, evi<strong>de</strong>ncia que já no início <strong>de</strong>ssa déca<strong>da</strong>, 69% <strong>da</strong>s<br />
principais espécies captura<strong>da</strong>s se encontravam “plenamente explota<strong>da</strong>s ou sob excesso <strong>de</strong><br />
explotação ou até esgota<strong>da</strong>s ou se recuperando <strong>de</strong> tal nível <strong>de</strong> utilização” (FAO, 2007).<br />
Historicamente, a utilização dos recursos pesqueiros mundiais apresenta uma tendência<br />
inevitável <strong>de</strong> atingir um estágio <strong>de</strong> sobreexplotação biológica e econômica <strong>da</strong>s populações<br />
(GUIMARÃES, 1999). Nessa perspectiva, observa-se atualmente um <strong>de</strong>clínio do pescado <strong>de</strong><br />
origem marinha. Segue que tal fato foi corroborado pelo <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico, o qual<br />
favoreceu o aumento <strong>da</strong> captura e a expansão do comércio do pescado num ritmo superior à<br />
reprodução <strong>da</strong>s espécies, gerando como resultado o colapso dos principais recursos pesqueiros<br />
dos oceanos (FONTELES-FILHO, 1997ª).<br />
O Quadro 1 lista as principais espécies comercialmente explora<strong>da</strong>s <strong>da</strong> Família<br />
Palinuri<strong>da</strong>e que ocorrem no mundo e suas respectivas áreas <strong>de</strong> pesca (BEZERRA, 1998).<br />
Bowen (1980) cita o Brasil entre os maiores produtores <strong>de</strong> lagosta do mundo, o mesmo<br />
ocorre em Lins-Oliveira et al. (1993), que <strong>de</strong>stacam o País como o quinto maior produtor<br />
mundial <strong>de</strong> lagosta e o segundo na América Latina. A Tabela 1 apresenta a produção por<br />
espécie dos maiores produtores mundiais <strong>de</strong> lagostas, entre 2002 e 2005, em que o Brasil se<br />
encontra na sétima posição (FAO, 2007).<br />
Nesse contexto, o recurso lagosta faz parte <strong>de</strong>ssa ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> extrativa com fins<br />
comerciais, sendo as espécies <strong>de</strong> águas tropicais e subtropicais representa<strong>da</strong>s, principalmente,<br />
pelo gênero Panulirus, que apresentam maior significância do ponto <strong>de</strong> vista econômico. Entre<br />
elas <strong>de</strong>stacamos, P. argus (captura<strong>da</strong> no Brasil, Caribe e Flóri<strong>da</strong>), P. homarus (captura<strong>da</strong> no<br />
leste <strong>da</strong> África e Indonésia) e P. laevicau<strong>da</strong> (captura<strong>da</strong> no Brasil). As espécies P. inflatus, P.<br />
cygnus e P. japonicus são <strong>de</strong> mares subtropicais e captura<strong>da</strong>s no México, Austrália e Japão,<br />
respectivamente (LIPCIUS & COBB, 1994).
5<br />
Quadro 1 - Principais espécies comercialmente explora<strong>da</strong>s <strong>da</strong> família Palinuri<strong>da</strong>e e respectivas<br />
áreas <strong>de</strong> pesca.<br />
Espécies<br />
Áreas <strong>de</strong> pesca<br />
Tropical<br />
Panulirus guttatus<br />
Caribe, México<br />
Panulirus longipes - -<br />
Panulirus polyphagus<br />
Tailândia, Índia, Paquistão, Su<strong>de</strong>ste <strong>da</strong> Ásia<br />
Panulirus versicolor - -<br />
Panulirus ornatus<br />
Nova Guiné<br />
Panulirus penisullatus<br />
Reunião, Ilhas do Pacífico, Galápagos<br />
Panulirus homarus<br />
Leste <strong>da</strong> África, Indonésia<br />
Panulirus argus<br />
Caribe, Brasil<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
Brasil<br />
Panulirus regius<br />
Nor<strong>de</strong>ste <strong>da</strong> África, Portugal<br />
Panulirus gracilis<br />
Equador, Panamá<br />
Panulirus echinatus<br />
Cabo Ver<strong>de</strong>, Brasil<br />
Subtropical<br />
Panulirus marginatus<br />
Hawaii<br />
Panulirus stimpsoni<br />
Hong Kong<br />
Panulirus japonicus<br />
Japão, Mar do Sul <strong>da</strong> China<br />
Panulirus cygnus<br />
Oeste <strong>da</strong> Austrália<br />
Panulirus inflatus<br />
Costa Oeste do México, Guatemala<br />
Panulirus pascuensis<br />
Ilhas Oeste<br />
Panulirus <strong>de</strong>lagoae<br />
Sudoeste <strong>da</strong> África<br />
Jasus verroauxi<br />
Oeste <strong>da</strong> Austrália, Nova Zelândia<br />
Panulirus mauritanicus<br />
Mauritânia, Oeste <strong>da</strong> África<br />
Panulirus interruptus<br />
Califórnia<br />
Panulirus charlestoni<br />
Ilhas Cabo Ver<strong>de</strong><br />
Tempera<strong>da</strong>s<br />
Panulirus elephas<br />
França, Espanha, Reino Unido, Itália<br />
Panulirus gilchristi<br />
Costa Sul <strong>da</strong> África<br />
Jasus lalandii<br />
Sudoeste <strong>da</strong> África<br />
Jasus novaehollandiae<br />
Sul e Su<strong>de</strong>ste <strong>da</strong> Austrália<br />
Jasus paulensis<br />
Ilhas St. Paul e New Amster<strong>da</strong>m<br />
Jasus edwardsii<br />
Austrália, Nova Zelândia<br />
Jasus tristani<br />
Tristan <strong>da</strong> Cunha<br />
Jasus frontalis<br />
Juan Fernan<strong>de</strong>z<br />
Fonte: BEZERRA, 1998.
Tabela 1 - Produção por espécie dos maiores produtores mundiais <strong>de</strong> lagostas, entre 2002 e<br />
2005, em tonela<strong>da</strong>s métricas.<br />
PAÍSES 2002 2003 2004 2005<br />
Austrália 13.783 16.959 19.589 18.002<br />
Jasus edwar<strong>da</strong>il 4.403 4.271 4.500 4.412<br />
Panulirus spp. 330 1.211 1.344 1.286<br />
Panulirus cygnus 9.050 11.477 13.745 12.304<br />
Bahamas 10.012 10.378 9.317 9.317<br />
Panulirus argus 10.012 10.378 9.317 9.317<br />
Brasil 6.807 6.320 8.689 6.927<br />
Panulirus argus 6.807 6.320 8.689 6.927<br />
Canadá 45.111 48.772 47.446 43.819<br />
Homarus americanus 45.111 48.772 47.446 43.819<br />
Chile 2.499 1.254 809 1.085<br />
Pleuronco<strong>de</strong>s monodon 2.499 1.254 809 1.085<br />
Cuba 7.972 5.265 7.601 5.834<br />
Panulirus argus 7.972 5.265 7.601 5.834<br />
Dinamarca 5.439 4.893 5.209 5.303<br />
Nephrops novegieus 5.439 4.893 5.209 5.303<br />
França 7.588 7.598 6.314 6.764<br />
Nephrops novegieus 7.588 7.598 6.314 6.764<br />
Indonésia 4.758 5.348 5.439 4.950<br />
Panulirus spp. 4.758 5.348 5.439 4.950<br />
Irlan<strong>da</strong> 6.983 6.808 6.791 7.097<br />
Nephrops novegieus 6.983 6.808 6.791 7.097<br />
Itália 2.051 2.550 2.355 4.493<br />
Nephrops novegieus 2.051 2.550 2.355 4.493<br />
Malásia 2.039 2.087 1.566 1.812<br />
Panulirus spp. 2.039 2.087 1.566 1.812<br />
México 2.993 2.970 2.552 2.535<br />
Panulirus argus 1.070 926 795 790<br />
Panulirus ssp. 1.923 2.044 1.757 1.745<br />
Nicarágua 4.326 3.851 4.257 3.787<br />
Panulirus argus 4.326 3.851 4.257 3.787<br />
Tailândia 2.035 2.474 2.179 1.750<br />
Thenus orientalis 2.035 2.474 2.179 1.750<br />
Reino Unido 29.690 29.092 31.473 28.291<br />
Homarus gammarus 1.188 1.325 1.278 1.212<br />
Nephrops norvegicus 28.502 27.767 30.195 27.079<br />
Estados Unidos 39.662 34.732 36.813 41.538<br />
Homarus americanus 37.309 32.539 34.169 39.663<br />
Panulirus argus 2.047 1.887 2.266 1.532<br />
Panulirus ssp. 306 306 378 343<br />
Fonte: FAO, 2007.<br />
6
7<br />
2.2 A PESCA DA LAGOSTA NO BRASIL<br />
Dentre as pescarias brasileiras, a <strong>da</strong> lagosta apresenta-se como uma <strong>da</strong>s mais<br />
importantes, com uma produção média anual acima <strong>de</strong> 8 mil tonela<strong>da</strong>s <strong>de</strong> lagostas inteiras. Este<br />
comércio é responsável por cerca <strong>de</strong> 100.000 empregos diretos e indiretos e, através <strong>da</strong><br />
exportação, gera cerca <strong>de</strong> 2,5 mil tonela<strong>da</strong>s anuais, que representam divisas entre 50 milhões e<br />
70 milhões <strong>de</strong> dólares/ano (IVO & PEREIRA, 1996).<br />
O Brasil é um dos maiores fornecedores <strong>de</strong> lagosta no mercado internacional (Tabela<br />
2), ain<strong>da</strong> assim o preço do nosso produto é bastante inferior aos outros em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua baixa<br />
quali<strong>da</strong><strong>de</strong> e pela <strong>de</strong>ficiência tecnológica encontra<strong>da</strong> no transporte e estocagem. A níti<strong>da</strong><br />
caracterização do estágio <strong>de</strong> sobrepesca <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong> lagosta no Brasil e a acentua<strong>da</strong> crise<br />
financeira dos diversos segmentos do setor produtivo levou o Instituto Brasileiro <strong>de</strong> Meio<br />
Ambiente e <strong>de</strong> Recursos Renováveis - IBAMA a promover uma ampla discussão com estes<br />
setores com vistas à elaboração e implementação, <strong>de</strong> forma participativa, <strong>de</strong> um novo Plano <strong>de</strong><br />
Or<strong>de</strong>namento <strong>da</strong> Pesca <strong>de</strong> Lagosta no Brasil.<br />
O recurso lagosteiro do Brasil é constituído por três espécies do gênero Panulirus (P.<br />
argus, P. laevicau<strong>da</strong> e P. echinatus) e duas espécies representa<strong>da</strong>s pelos gêneros Scyllari<strong>de</strong>s e<br />
Parribacus (S. brasiliensis e P. antarticus), sendo que as duas primeiras espécies do gênero<br />
Panulirus são as mais captura<strong>da</strong>s na costa brasileira e P. echinatus é captura<strong>da</strong> ocasionalmente.<br />
As espécies dos gêneros Scyllari<strong>de</strong>s e Parribacus vêm obtendo, a ca<strong>da</strong> ano, maior representação<br />
nas capturas, fato atribuído à <strong>de</strong>pleção dos estoques naturais <strong>da</strong>s lagostas mais visa<strong>da</strong>s pela frota<br />
pesqueira (FONTELES-FILHO & GUIMARÃES, 1999).<br />
Nos últimos anos, a prática <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s pesqueiras vem sendo efetua<strong>da</strong> <strong>de</strong> forma<br />
<strong>de</strong>sor<strong>de</strong>na<strong>da</strong>. A pesca pre<strong>da</strong>tória vem contribuindo ca<strong>da</strong> vez mais para a redução e possível<br />
esgotamento dos estoques naturais (SANTOS, 2000), assim, como a poluição e a <strong>de</strong>struição dos<br />
ecossistemas costeiros.<br />
Segundo <strong>da</strong>dos <strong>da</strong> Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s para Alimentação e Agricultura –<br />
FAO (2007), a produção mundial <strong>de</strong> lagostas foi <strong>de</strong> 232.922 t no ano <strong>de</strong> 2004, obtendo um<br />
aumento <strong>de</strong> 3,3% em relação ao ano anterior, on<strong>de</strong> registrou-se 225.132 t captura<strong>da</strong>s. Este<br />
crustáceo representou em 2003, cerca <strong>de</strong> 4% <strong>da</strong> produção total brasileira <strong>de</strong> pescado e está entre<br />
os produtos que geram as maiores receitas <strong>de</strong> exportações, aproxima<strong>da</strong>mente U$<br />
50.000.000/ano. Ain<strong>da</strong> <strong>de</strong> acordo com o citado órgão, a produção mundial <strong>da</strong> lagosta espinhosa<br />
P. argus teve um incremento <strong>de</strong> 12,1% no período 2003/2004, on<strong>de</strong> foi registrado um total <strong>de</strong><br />
39.314 t no ano <strong>de</strong> 2004 contra 34.552 t em 2003.
8<br />
Existe uma gran<strong>de</strong> flutuação no saldo comercial brasileiro do setor <strong>de</strong> lagostas, entre<br />
1996 e 2006, com tendência <strong>de</strong> crescimento, a partir <strong>de</strong> 2000, relacionado à inexistência <strong>de</strong><br />
importações (Tabela 2).<br />
Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira: Setor <strong>de</strong> Lagostas. Período: 1996 a 2006 a . Valores em<br />
US$ FOB 1 .<br />
Ano Valor exportado Valor importado Saldo comercial Var. (%)<br />
1996 55.263.327 23.147 55.240.180 *<br />
1997 47.040.957 321.189 46.719.768 -14,9<br />
1998 41.701.083 51.194 41.649.889 -11,4<br />
1999 40.114.646 8.469 40.106.177 -3,8<br />
2000 50.690.667 - 50.690.667 26,4<br />
2001 58.571.987 - 58.571.987 15,5<br />
2002 70.981.554 - 70.981.554 21,2<br />
2003 65.324.489 - 65.324.489 -8,0<br />
2004 81.370.968 11 81.370.957 24,6<br />
2005 77.760.510 - 77.760.510 -4,4<br />
2006 1 83.674.766 - 83.674.766 7,6<br />
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional <strong>de</strong> Negócios/FIEC. FEDERAÇÃO, 2006.<br />
Observações: a Dados disponíveis até <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006. (-) Não houve registro <strong>de</strong> importações. (*) não se aplica.<br />
Dentre os 10 principais estados brasileiros exportadores <strong>de</strong> lagosta, a Paraíba ocupava o<br />
quinto lugar em 2005, passando a sexta posição atualmente (Tabela 3).<br />
Tabela 3 - Estados brasileiros exportadores. Período: Janeiro a <strong>de</strong>zembro 2006/2005. Valores<br />
em US$ FOB.<br />
EXPORTAÇÕES PARTICIPAÇÃO EXPORTAÇÕES PARTICIPAÇÃO<br />
ESTADOS<br />
2005<br />
2005 (%)<br />
2006<br />
2006 (%)<br />
1 Ceará 44.222.003 56,9 37.620.672 45,0<br />
2 Pernambuco 17.631.346 22,7 28.802.591 34,4<br />
3 Pará 1.148.664 1,5 7.098.903 8,5<br />
4<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Norte<br />
6.871.054 8,8 5.748.056 6,9<br />
5 Bahia 3.895.429 5,0 2.817.874 3,4<br />
6 Paraíba 1.778.714 2.3 938.791 1.4<br />
7 Maranhão 1614555 2,1 555311 0,7<br />
8 Espírito Santo 156.220 0,2 52.308 0,1<br />
9 São Paulo 141.931 0,2 12.111 0,0<br />
10 Piauí 91.449 0,1 - *<br />
Demais estados 209.145 0,3 28.149 0,0<br />
Valor Exportado<br />
77.760.510 100,0 83.674.766 100,0<br />
pelo Brasil<br />
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Centro Internacional <strong>de</strong> Negócios/FIEC. FEDERAÇÃO, 2006. (*) não se aplica.<br />
1 Iniciais <strong>da</strong> expressão inglesa Free On Board, que atribui ao exportador a responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> pela mercadoria até que<br />
a mesma esteja <strong>de</strong>ntro do navio, para transporte, no porto indicado pelo comprador.
9<br />
De acordo com o relatório do Grupo Permanente <strong>de</strong> Estudos (GPE) <strong>da</strong> lagosta<br />
(IBAMA, 1994), a pesca estava inicialmente, quase que exclusivamente restrita a P. argus e P.<br />
laevicau<strong>da</strong>, sendo que a área <strong>de</strong> exploração tradicional <strong>de</strong>stas espécies compreendia o litoral,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Ceará até Pernambuco. Como conseqüência dos baixos rendimentos, houve uma<br />
consi<strong>de</strong>rável expansão <strong>de</strong> sua área <strong>de</strong> pesca, que passou a abranger a costa dos estados do Pará,<br />
Maranhão, Alagoas, Bahia e Espírito Santo.<br />
Novas espécies passaram a ser explora<strong>da</strong>s, como a lagosta pinta<strong>da</strong> (P. echinatus) e as<br />
lagostas sapateiras (Scyllari<strong>de</strong>s brasiliensis Rathbun, 1906 e Scyllari<strong>de</strong>s <strong>de</strong>lfosi Holthuis 1960),<br />
recursos pesqueiros que ain<strong>da</strong> têm pouca participação na pauta <strong>de</strong> exportações (IBAMA, 1994).<br />
Nomura (1977) relata, que em 1935 realizava-se com gran<strong>de</strong> facili<strong>da</strong><strong>de</strong> a pesca <strong>de</strong><br />
lagostas no Atol <strong>da</strong>s Rocas. Bastava dirigir-se ao local à noite, munir-se <strong>de</strong> fachos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira<br />
embebidos em óleo e acendê-los ao repontar <strong>da</strong> maré. Em apenas quatro horas, eram capturados<br />
1.000 exemplares, alguns com 36cm <strong>de</strong> comprimento. Em 1955, a exportação atingiu 40<br />
tonela<strong>da</strong>s <strong>de</strong> cau<strong>da</strong>s congela<strong>da</strong>s, subindo para 155 t em 1956, para atingir 2070 t em 1962,<br />
diminuindo para 1578 t em 1964. Esta diminuição teria como causa a sobrepesca, sendo que, já<br />
em 1968 parece que o estoque se refez, uma vez que a exportação foi <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 1683<br />
tonela<strong>da</strong>s.<br />
A área total <strong>da</strong> explotação lagosteira ao longo <strong>da</strong> costa do Brasil (1974-1993)<br />
correspon<strong>de</strong> a 74.607 km 2 , que po<strong>de</strong> ser dividi<strong>da</strong> em três sub-regiões: Norte, Nor<strong>de</strong>ste<br />
Setentrional e Nor<strong>de</strong>ste Oriental. Em virtu<strong>de</strong> <strong>da</strong> heterogenei<strong>da</strong><strong>de</strong> do substrato nos diversos<br />
blocos geográficos, a área total ocupa<strong>da</strong> pelas formações <strong>de</strong> algas calcárias é bem menor do que<br />
a área total indica<strong>da</strong>. Por outro lado, observa-se uma gra<strong>da</strong>tiva redução <strong>da</strong> ocorrência do<br />
cascalho e <strong>da</strong> abundância <strong>de</strong> lagostas, à medi<strong>da</strong> que aumenta a profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> (MENEZES, 1992;<br />
FONTELES-FILHO, 1997 b ).<br />
Segundo Paiva (1997), a distribuição espacial <strong>da</strong>s capturas <strong>de</strong> lagostas reflete tanto a<br />
relação bioecológica dos indivíduos com o substrato, como a variabili<strong>da</strong><strong>de</strong> interespecífica: a<br />
lagosta-vermelha, <strong>de</strong> maior porte, tem distribuição mais ampla, vivendo em fundos <strong>de</strong> maior<br />
profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>; a lagosta-ver<strong>de</strong>, <strong>de</strong> menor porte, vive em áreas mais costeiras e menos profun<strong>da</strong>s.<br />
O autor propôs a divisão <strong>da</strong> captura em sub-regiões:<br />
Sub-região Norte - está localiza<strong>da</strong> entre as latitu<strong>de</strong>s 42°-48°W, forma<strong>da</strong> por 42 blocos<br />
geográficos <strong>de</strong> 30 milhas <strong>de</strong> lado, com a área total <strong>de</strong> 25.341 km 2 . Seu substrato é caracterizado<br />
pela predominância <strong>da</strong> fácies sedimentar arenosa (COUTINHO & MORAIS, 1970), on<strong>de</strong> se<br />
<strong>de</strong>staca a presença <strong>de</strong> areia, juntamente com material organogênico, que favorece a presença <strong>de</strong><br />
camarões e moluscos bentônicos. A fácies sedimentar <strong>de</strong> algas calcárias está em faixa <strong>de</strong> largura
10<br />
reduzi<strong>da</strong> e mais afasta<strong>da</strong> <strong>da</strong> costa, on<strong>de</strong> a influência dos estuários dos gran<strong>de</strong>s rios já se encontra<br />
bastante reduzi<strong>da</strong> ou mesmo nula. Portanto, a produção <strong>de</strong> lagostas, <strong>de</strong> certo modo, é<br />
proporcional à área coberta pelas algas calcárias, mas também <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> frota<br />
pesqueira ter acesso aos indivíduos, distribuídos com baixa <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> e em pesqueiros mais<br />
profundos.<br />
Sub-região Nor<strong>de</strong>ste Setentrional - está localiza<strong>da</strong> entre as longitu<strong>de</strong>s 35°-42°W,<br />
sendo forma<strong>da</strong> por 44 blocos geográficos, com 30 milhas <strong>de</strong> lado, com área total <strong>de</strong> 26.745 km 2 .<br />
A plataforma continental é predominantemente coberta por fáceis <strong>de</strong> algas calcárias, em<br />
conseqüência <strong>da</strong> escassez <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s rios, o que explica a sua importância como maior<br />
produtora <strong>de</strong> lagostas.<br />
Sub-região Nor<strong>de</strong>ste Oriental - está localiza<strong>da</strong> entre as latitu<strong>de</strong>s 5 o -18°S,<br />
compreen<strong>de</strong>ndo 25 blocos geográficos <strong>de</strong> 30 milhas <strong>de</strong> lado, com área total <strong>de</strong> 22.521 km 2 . Aqui<br />
predomina o substrato rochoso, com recifes <strong>de</strong> arenito que se esten<strong>de</strong>m ao longo <strong>de</strong> todo o<br />
litoral e formações coralinas na sua parte sul, on<strong>de</strong> se encontra o arquipélago <strong>de</strong> Abrolhos. A<br />
abundância <strong>de</strong> lagostas parece ser a menor <strong>de</strong>ntre as três sub-regiões, <strong>de</strong>vido à baixa <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> e<br />
tamanho <strong>da</strong> área habita<strong>da</strong>.<br />
Segundo Fonteles-Filho (1997 b ), as lagostas apresentam os seguintes coeficientes <strong>de</strong><br />
capturabili<strong>da</strong><strong>de</strong> 2 , na or<strong>de</strong>m apresenta<strong>da</strong> <strong>da</strong>s sub-regiões: 16%, 90% e 34%, com valor médio<br />
geral <strong>de</strong> 53%. Tais <strong>da</strong>dos revelam que as sub-regiões norte e nor<strong>de</strong>ste oriental apresentam<br />
maiores potenciais para o crescimento <strong>da</strong> produção <strong>de</strong> lagostas, na hipótese <strong>de</strong> um<br />
remanejamento do esforço <strong>de</strong> pesca <strong>da</strong> sub-região nor<strong>de</strong>ste setentrional, on<strong>de</strong> os estoques já<br />
estão sobrexplotados e a produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> no período 1989-1994 representou apenas 49,3% <strong>da</strong><br />
CPUE (= 0,353 kg/covo-dia).<br />
Paiva (1997) relata que ain<strong>da</strong> existe potencial para o aumento <strong>da</strong> produção <strong>de</strong> lagostas<br />
no Brasil, embora o nível sustentável já tenha sido atingido na maior parte <strong>da</strong>s regiões norte e<br />
nor<strong>de</strong>ste, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que haja um a<strong>de</strong>quado manejo do esforço <strong>de</strong> pesca, evitando-se o agravamento<br />
<strong>da</strong> sobrepesca. Devem ser evita<strong>da</strong>s práticas que comprometam as condições ambientais dos<br />
pesqueiros, tais como: o abandono <strong>de</strong> covos, a pesca com re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> emalhar (caçoeiras) e o<br />
abandono <strong>da</strong>s mesmas quando imprestáveis, bem como o lançamento ao mar <strong>da</strong>s cabeças <strong>da</strong>s<br />
lagostas captura<strong>da</strong>s. Tais práticas poluem os pesqueiros, <strong>de</strong>stroem o substrato <strong>de</strong> algas calcárias<br />
e atraem pre<strong>da</strong>dores.<br />
2 Fração <strong>da</strong> biomassa que é captura<strong>da</strong> por uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> esforço <strong>de</strong> pesca (CPUE).
11<br />
A frota lagosteira opera na costa brasileira entre os Estados do Pará (48º00’W) e do<br />
Espírito Santo (20º00’S) (IVO, 2000). A pesca lagosteira ocorre com maior intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> no<br />
Nor<strong>de</strong>ste Setentrional, região que compreen<strong>de</strong> o <strong>de</strong>lta do Rio Parnaíba até o Cabo <strong>de</strong> São Roque<br />
(PAIVA, 1997).<br />
As pescarias <strong>da</strong> lagosta no Brasil apresentam algumas peculiari<strong>da</strong><strong>de</strong>s que as<br />
diferenciam do sistema <strong>de</strong> exploração adotado em outros países, tais como: (a) emprego<br />
simultâneo <strong>de</strong> vários aparelhos e métodos <strong>de</strong> pesca, com <strong>de</strong>staque para a coleta manual por<br />
mergulho, uma prática restrita à pesca armadora em todo mundo (FONTELES-FILHO, 1994);<br />
(b) utilização <strong>de</strong> barcos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte, com autonomia <strong>de</strong> mar e geração <strong>de</strong> custos<br />
operacionais proporcionalmente elevados; (IBAMA, 1993) (c) permissão para <strong>de</strong>scabeçar a<br />
lagosta a bordo dos barcos <strong>de</strong> pesca (BEZERRA, 1998); e (d) ausência <strong>de</strong> tanques com água<br />
salga<strong>da</strong> nos barcos, o que inviabiliza a estocagem <strong>de</strong> lagostas vivas em quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> suficiente<br />
para seu aproveitamento sob diversas formas (CASTRO E SILVA & ROCHA, 1999). No<br />
entanto, existe um <strong>de</strong>clínio <strong>da</strong> produção <strong>de</strong> pescado <strong>de</strong> origem marinha e <strong>de</strong> lagostas, inseri<strong>da</strong>s<br />
neste contexto geral, embora as causas <strong>de</strong> tal <strong>de</strong>clínio possam ter origens diversas, quando são<br />
consi<strong>de</strong>rados os sistemas <strong>de</strong> exploração industrial ou artesanal (FONTELES-FILHO &<br />
GUIMARÃES, 1999).<br />
O <strong>de</strong>sembarque <strong>da</strong> lagosta no Brasil já foi consi<strong>de</strong>rado o maior do mundo em espécies <strong>de</strong><br />
água quente. Os <strong>de</strong>sembarques mostraram uma tendência ascen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> 1965 a 1979. No entanto,<br />
até os dias atuais tem havido um <strong>de</strong>clínio gradual <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> indicando que a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> pesqueira<br />
<strong>da</strong> lagosta encontra-se ameaça<strong>da</strong>. Este fato po<strong>de</strong> estar associado às mu<strong>da</strong>nças nos regimes<br />
oceanográficos e biológicos sobre os quais se percebe um completo <strong>de</strong>scaso dos responsáveis pelo<br />
gerenciamento <strong>da</strong> pesca, para mu<strong>da</strong>r o seu or<strong>de</strong>namento e <strong>de</strong>ter o <strong>de</strong>clínio. Esta ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> é exerci<strong>da</strong><br />
em um ambiente complexo e sujeito a uma série <strong>de</strong> efeitos internos e externos, cuja correlação ain<strong>da</strong><br />
hoje não é conheci<strong>da</strong>. Assim, o ambiente aquático e, conseqüentemente, os seres vivos que o<br />
habitam sofrem influências <strong>de</strong> oscilações climáticas e oceanográficas naturais, tornando difíceis as<br />
previsões em termos <strong>de</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> pesqueira (COIMBRA, 2004).<br />
2.3 PESCA DA LAGOSTA NO NORDESTE<br />
Segundo <strong>da</strong>dos do Projeto <strong>de</strong> Estatística Pesqueira – ESTATPESCA (CEPENE, 2004),<br />
<strong>de</strong>senvolvido pela Gerência Executiva do IBAMA/CE, a que<strong>da</strong> <strong>da</strong> produção <strong>da</strong> lagosta é
12<br />
incontestável. A estimativa é que <strong>de</strong> 1991 até o ano <strong>de</strong> 2003, ela tenha <strong>de</strong>crescido em torno <strong>de</strong><br />
70%.<br />
Nessa mesma linha, o Sistema Alice, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento<br />
<strong>da</strong> Indústria e Comércio Exterior (MDIC) informou que o volume <strong>de</strong> exportação <strong>de</strong> lagosta do<br />
Estado do Ceará (principal exportador do Brasil) <strong>de</strong>cresceu <strong>de</strong> 279.220 tonela<strong>da</strong>s, em maio <strong>de</strong><br />
2005, para 124.687 tonela<strong>da</strong>s no mesmo mês no ano <strong>de</strong> 2006, representando uma redução <strong>de</strong><br />
55,3%. Somente no período 2004/2005, o valor <strong>da</strong>s exportações cearenses diminuiu cerca <strong>de</strong> 10<br />
milhões <strong>de</strong> dólares (MDIC – ALICEWEB, 2006).<br />
Levando-se em conta to<strong>da</strong> a área <strong>de</strong> pesca <strong>de</strong> lagostas, compreen<strong>de</strong>ndo as regiões norte<br />
e nor<strong>de</strong>ste do Brasil, bem como ambas as espécies explota<strong>da</strong>s, a produção máxima sustentável<br />
correspon<strong>de</strong> a 9.468 t/ano; <strong>de</strong>sta produção máxima sustentável, a lagosta-vermelha participa<br />
com 6.706 t/ano (± 71%) e a lagosta-ver<strong>de</strong> com 2.744 t/ano (± 29%) (PAIVA, 1997).<br />
Segundo Teixeira (1992 apud GALDINO, 1995), o parque industrial lagosteiro<br />
cearense modificou-se ao longo do tempo, saindo <strong>de</strong> uma condição <strong>de</strong> principal executor <strong>de</strong><br />
to<strong>da</strong>s as fases do processo produtivo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a captura até a exportação, para tornar-se uma<br />
indústria <strong>de</strong> beneficiamento e exportação, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo dos armadores autônomos e<br />
intermediários para conseguir o recurso, oriun<strong>da</strong> principalmente do setor artesanal.<br />
No entanto, com um mercado insatisfeito com a oferta do produto, a exploração <strong>da</strong><br />
lagosta passou a ser pratica<strong>da</strong> <strong>de</strong> forma mais intensa. Isso veio a acarretar numa série <strong>de</strong> efeitos<br />
negativos em sua captura, trazendo-lhes alguns problemas suficientemente graves que<br />
provocaram crises com repercussões multilaterais no setor (GALDINO, 1995).<br />
Diante disto, o IBAMA estabeleceu um período <strong>de</strong> <strong>de</strong>feso para os estoques lagosteiros<br />
<strong>da</strong> Região Nor<strong>de</strong>ste do Brasil, baseado no período pré-estabelecido <strong>de</strong> maior ocorrência <strong>de</strong><br />
indivíduos em processo <strong>de</strong> reprodução. Dessa forma, o <strong>de</strong>feso <strong>da</strong> lagosta vai <strong>de</strong> 1° <strong>de</strong> janeiro a<br />
31 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> ano, porém, <strong>de</strong>ve-se atentar que na costa brasileira ocorrem duas espécies<br />
distintas (P. argus e P. laevicau<strong>da</strong>) que merecem <strong>de</strong>staque em relação à sua participação nas<br />
capturas. O período <strong>de</strong> <strong>de</strong>feso é estipulado para a mesma época do ano para as duas espécies, o<br />
que po<strong>de</strong> resultar num erro, já que ambas as espécies ocorrem na mesma área <strong>de</strong> abrangência,<br />
mas em profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s diferentes. Além disso, por serem duas espécies diferentes, po<strong>de</strong> ocorrer<br />
que seus períodos reprodutivos sejam em épocas distintas.<br />
A exploração do recurso lagosteiro do Nor<strong>de</strong>ste brasileiro até o ano <strong>de</strong> 1962 foi<br />
exerci<strong>da</strong> praticamente por embarcações artesanais, tais como paquetes, janga<strong>da</strong>s e botes a vela,<br />
com realização <strong>de</strong> viagens diárias e com <strong>de</strong>sembarque <strong>de</strong> lagostas ain<strong>da</strong> vivas (FREDERICK &<br />
WEIDNER, 1978 apud CASTRO E SILVA & ROCHA, 1999). No entanto, estes tipos <strong>de</strong>
13<br />
embarcações dificultavam o controle <strong>da</strong>s operações <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta, já que as mesmas<br />
<strong>de</strong>sembarcavam em locais distantes <strong>da</strong>s instalações industriais.<br />
A partir <strong>de</strong> 1963, <strong>de</strong>u-se início o processo <strong>de</strong> substituição <strong>da</strong> frota lagosteira artesanal<br />
por embarcações motoriza<strong>da</strong>s mais eficientes e <strong>de</strong> maior autonomia <strong>de</strong> pesca. Com a introdução<br />
<strong>de</strong>ssas uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s e o distanciamento <strong>da</strong>s áreas <strong>de</strong> captura, a pesca passou a obter os melhores<br />
rendimentos e a apresentar características industriais. Com o passar dos anos, a pesca <strong>da</strong> lagosta<br />
realiza<strong>da</strong> por embarcações industriais tornou-se economicamente inviável, o retorno financeiro<br />
era menor que o investido na manutenção, motivo pelo qual a frota artesanal envolvi<strong>da</strong> com a<br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> lagosteira cearense tem aumentado a ca<strong>da</strong> ano, tratam-se <strong>de</strong> embarcações cujos custos<br />
operacionais são muito reduzidos (CASTRO E SILVA & ROCHA, 1999).<br />
A pesca no Nor<strong>de</strong>ste do Brasil caracteriza-se pela gran<strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> espécies e<br />
baixa produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong>, características relaciona<strong>da</strong>s com a região Tropical. Estas circunstâncias<br />
geram uma <strong>de</strong>sagregação <strong>da</strong>s uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> produção, <strong>de</strong>lineando a pesca artesanal. No caso <strong>da</strong><br />
lagosta, a pesca artesanal é realiza<strong>da</strong> por barcos geleiros e janga<strong>da</strong>s, que participam com mais<br />
<strong>de</strong> 60% <strong>da</strong> produção total. Estes barcos não dispõem <strong>de</strong> recursos tecnológicos <strong>de</strong> auxílio à<br />
produção, navegação e à conservação do produto, portanto são barcos <strong>de</strong> pouca autonomia,<br />
praticam a pesca <strong>de</strong> “ir e vir” todos os dias ou, como no caso dos geleiros maiores que ficam no<br />
máximo 15 dias no mar e enfrentam, com freqüência, problemas <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioração e “barriga<br />
preta” (OGAWA et al.,1970 e PERDIGÃO et al., 1984). Segundo Ogawa et al. (1970), as<br />
lagostas conserva<strong>da</strong>s em gelo por um período <strong>de</strong> 13 dias tornam-se impróprias para o consumo,<br />
sem consi<strong>de</strong>rar a má manipulação do pescado a bordo neste período, e todo o circuito do<br />
produto, em gelo, nos canais <strong>de</strong> intermediação.<br />
A pesca <strong>da</strong> lagosta é realiza<strong>da</strong> por uma gran<strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> embarcações, sendo que<br />
sua classificação neste trabalho ficará restrita ao tipo <strong>de</strong> propulsão <strong>da</strong>s embarcações que operam<br />
na costa paraibana, sendo as abor<strong>da</strong>gens menciona<strong>da</strong>s referentes àquelas que atuam nas praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha.<br />
Diferente <strong>da</strong> pesca industrial, as lagostas captura<strong>da</strong>s artesanalmente são menores e<br />
po<strong>de</strong>m ser transporta<strong>da</strong>s vivas sem necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> outras instalações para este fim. Desta<br />
maneira, po<strong>de</strong>-se atingir as exigências do mercado importador, como o Japão, no caso <strong>da</strong><br />
lagosta inteira cozi<strong>da</strong>, e Europa, no caso <strong>da</strong> lagosta viva (CASTRO E SILVA & ROCHA,<br />
1999).
14<br />
2.4 PESCA DA LAGOSTA NA PARAÍBA<br />
O estado <strong>da</strong> Paraíba possui um litoral com aproxima<strong>da</strong>mente 130 km <strong>de</strong> extensão, on<strong>de</strong><br />
estão localizados 12 municípios costeiros e 36 comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s pesqueiras (CEPENE, 2005). De<br />
acordo com Ivo & Pereira (1996) a exploração lagosteira na plataforma continental do Estado <strong>da</strong><br />
Paraíba normalmente é realiza<strong>da</strong> em substrato vulgarmente conhecido como cascalho, sendo<br />
consi<strong>de</strong>rados bancos lagosteiros, estes substratos são formados por conglomerados <strong>de</strong> algas<br />
calcáreas <strong>da</strong> Família Rhodophyceae <strong>de</strong> variados tamanhos, sendo crustosos e quase sempre<br />
compostos por uma mistura <strong>de</strong> areia quartzosa, com fragmentos <strong>de</strong> algas Clorophyceae do<br />
gênero Halime<strong>da</strong> Lamouroux. Fonteles-Filho & Guimarães (1999) citam que a captura <strong>da</strong><br />
lagosta ocorre em profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s que variam <strong>de</strong> 20-90 m, chegando até à bor<strong>da</strong> do talu<strong>de</strong><br />
continental.<br />
Em relação à sua posição geográfica, a Paraíba possui uma plataforma continental mais<br />
estreita que a dos <strong>de</strong>mais estados. Isto representa maior proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> com as áreas <strong>de</strong> ocorrência<br />
<strong>de</strong> espécies <strong>de</strong> hábitos oceânicos e é consi<strong>de</strong>rado um dos centros <strong>de</strong> pesca oceânica do Brasil<br />
(CEPENE, 2005). A tabela 4 mostra <strong>da</strong>dos obtidos do Projeto <strong>de</strong> Estatística Pesqueira &<br />
ESTATPESCA, <strong>de</strong>senvolvido pelo IBAMA.<br />
Tabela 4: Resumo dos Boletins Estatísticos <strong>de</strong> Pesca do CEPENE <strong>de</strong>1999 a 2005.<br />
Variável<br />
Boletim<br />
Tonela<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> lagosta<br />
captura<strong>da</strong><br />
% <strong>de</strong><br />
lagosta*<br />
Frota<br />
(barcos)<br />
Preço<br />
(R$)/Kg<br />
% do<br />
preço**<br />
1999 321,1 9,8 1612 13,00 38,8<br />
2000 217,9 8,3 1485 12,30 29,4<br />
2001 219,0 10,6 1639 19,57 41,3<br />
2002 241,5 7 1558 25,2 37,0<br />
2003 375,7 11,1 1470 26,43 50,5<br />
2004 669,8 25,7 1425 35,00 78,7<br />
2005 260,2 10,2 1842 21,40 37,3<br />
* Relativo ao total <strong>de</strong> pescado capturado.<br />
** Relativo ao total <strong>de</strong> pescado vendido.<br />
Meses <strong>de</strong><br />
maior<br />
produção<br />
Maio – 51,0t<br />
Jul – 45,2t<br />
Jun – 41,9t<br />
Maio – 36,2t<br />
Out – 37,0t<br />
Nov – 36,2t<br />
Maio – 64,9t<br />
Jun – 33,6t<br />
Maio – 61,8t<br />
Dez – 42,7t<br />
Ago –<br />
117,8t<br />
Jun – 101,0t<br />
Ago – 41,4t<br />
Set – 37,7t<br />
Principal local <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sembarque<br />
Baía <strong>da</strong> Traição<br />
79,0t<br />
Pitimbu 107,1t<br />
Baía <strong>da</strong> Traição<br />
96,5t<br />
Pitimbu 115,2t<br />
Pitimbu<br />
164,4t<br />
Pitimbu 277,5t<br />
Cabe<strong>de</strong>lo 89,8t
15<br />
2.5 ASPECTOS LEGAIS<br />
As primeiras medi<strong>da</strong>s legais <strong>de</strong> regulamentação <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong> lagostas emanaram <strong>da</strong><br />
antiga Divisão <strong>de</strong> Caça e Pesca do Ministério <strong>da</strong> Agricultura, através <strong>da</strong> Portaria n°. 70, <strong>de</strong> 12<br />
<strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1961, que proibia a pesca na plataforma continental, entre os estados do Ceará e<br />
Alagoas, entre 15 <strong>de</strong> fevereiro e 15 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1962 e anos subseqüentes, bem como estabelecia<br />
em 19 cm o comprimento total mínimo <strong>de</strong> captura. Na Portaria n°. 114, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong><br />
1961, foi proibido o uso <strong>de</strong> embarcações que não possuíssem instalações a<strong>de</strong>qua<strong>da</strong>s ao<br />
<strong>de</strong>scabeçamento e armazenamento <strong>da</strong>s cabeças <strong>de</strong> lagostas, bem como o lançamento <strong>da</strong>s<br />
mesmas nos locais <strong>de</strong> pesca (PAIVA, 1997).<br />
2.5.1 ORDENAMENTO DA PESCA<br />
O Código <strong>de</strong> Pesca, em seu artigo 1 o , <strong>de</strong>fine pesca como sendo o “ato ten<strong>de</strong>nte a<br />
capturar ou extrair elementos, animais ou vegetais, que tenham na água seu normal ou mais<br />
freqüente meio <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>” (JESUS, 1995).<br />
O Decreto – Lei 221 <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1967 (MILARÉ, 1991) que regulamenta a<br />
pesca, no seu capítulo IV, concernente a permissões, proibições e concessões, no art. 35 o , diz, in<br />
verbis:<br />
“É proibido pescar:<br />
a) nos lugares e épocas interditados pelo órgão competente; ”<br />
No art. 56 o do capítulo VI, concernente a infração e penas, consta que:<br />
“As infrações aos artigos 29. parágrafos 1 e 2. 30. 33. parágrafos 1 e 2. 34. 35.<br />
alíneas "a" e "b". 39 e 52. serão puni<strong>da</strong>s com a multa <strong>de</strong> um décimo até um salário mínimo<br />
vigente na Capital <strong>da</strong> República. in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>da</strong> apreensão dos apetrechos e do<br />
produto <strong>da</strong> pescaria. dobrando-se a multa na reincidência.”<br />
Portanto, a pesca em épocas <strong>de</strong> <strong>de</strong>feso é proibi<strong>da</strong> por lei, sendo consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> crime<br />
ecológico, <strong>de</strong> âmbito fe<strong>de</strong>ral, e a sua fiscalização e repressão são <strong>de</strong> competência do Governo<br />
Fe<strong>de</strong>ral. Segundo o art. 225 <strong>da</strong> Constituição Fe<strong>de</strong>ral, é <strong>de</strong>ver do Po<strong>de</strong>r Público e <strong>da</strong> coletivi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> vi<strong>da</strong> para as presentes e futuras gerações.<br />
A Portaria do IBAMA n o 137, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1994, que regulamenta a pesca <strong>da</strong><br />
lagosta, no seu art. 1 o diz, in verbis:
16<br />
“Proibir o exercício <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta vermelha (Panulirus argus) e lagosta cabo<br />
ver<strong>de</strong> (Panulirus laevicau<strong>da</strong>), anualmente, no período <strong>de</strong> 1 o <strong>de</strong> janeiro a 30 <strong>de</strong> abril, no<br />
mar territorial brasileiro (faixa <strong>de</strong> doze milhas marítimas) e na zona econômica exclusiva<br />
brasileira (faixa que se esten<strong>de</strong> <strong>da</strong>s doze às duzentas milhas marítimas)”.<br />
Verifica-se, então, a inexistência <strong>de</strong> uma legislação específica sobre o controle <strong>da</strong> pesca<br />
<strong>da</strong> lagosta Panulirus echinatus. Oliveira (2001) trabalhando no arquipélago <strong>de</strong> Tinharé-BA<br />
propôs uma época <strong>de</strong> <strong>de</strong>feso para as lagostas <strong>da</strong>quela região, para os meses <strong>de</strong> setembro,<br />
outubro e novembro, on<strong>de</strong> houve maior ocorrência <strong>de</strong> fêmeas ova<strong>da</strong>s, o Projeto <strong>de</strong> Lei sugerido<br />
ain<strong>da</strong> não foi sancionado.<br />
É importante fixar os tamanhos <strong>da</strong>s capturas com base nas estimativas <strong>de</strong> biomassas<br />
dos estoques explorados, objetivando <strong>de</strong>limitar, para ca<strong>da</strong> um, o volume <strong>de</strong> captura, o qual<br />
jamais <strong>de</strong>ve ser superior àquele calculado como o máximo sustentável, num <strong>da</strong>do momento <strong>da</strong><br />
pescaria. Segundo Aragão & Dias-Neto (1998), no Brasil, atualmente utilizam-se as seguintes<br />
medi<strong>da</strong>s pertencentes a este grupo:<br />
a) Limitação <strong>da</strong> eficiência dos aparelhos <strong>de</strong> pesca<br />
Esta medi<strong>da</strong> é sempre muito vulnerável por ser contrária ao aperfeiçoamento dos<br />
aparelhos e/ou métodos <strong>de</strong> pesca (passa a ser um obstáculo à evolução tecnológica), visando<br />
manter as pescarias em níveis compatíveis com a sustentabili<strong>da</strong><strong>de</strong> dos estoques.<br />
b) Controle do acesso à pesca (limitação do esforço <strong>de</strong> pesca)<br />
A fixação do esforço <strong>de</strong> pesca ótimo ou máximo a ser empregado numa <strong>de</strong>termina<strong>da</strong><br />
pescaria acontece após um prévio conhecimento técnico-científico <strong>da</strong> captura máxima<br />
sustentável ou do volume que se <strong>de</strong>seja capturar <strong>de</strong> um <strong>de</strong>terminado estoque. Neste caso,<br />
controla-se <strong>de</strong> forma quali-quantitativa o esforço, limitando-se o número <strong>de</strong> barcos, e o número<br />
<strong>de</strong> aparelhos <strong>de</strong> pesca.<br />
a) Fechamento <strong>de</strong> estações <strong>de</strong> pesca (<strong>de</strong>feso)<br />
Visa coibir a pesca em épocas <strong>de</strong> reprodução ou recrutamento dos recursos explotados,<br />
<strong>de</strong> forma a assegurar a reposição dos estoques ou o ganho em peso dos indivíduos que os<br />
compõem. Trata-se <strong>de</strong> uma <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s mais drásticas, uma vez que paralisa, por um<br />
<strong>de</strong>terminado tempo, a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> econômica <strong>de</strong> todos os envolvidos, porém, necessária à<br />
preservação dos estoques.<br />
b) Proteção <strong>de</strong> reprodutores<br />
Neste caso, proibe-se a captura <strong>de</strong> animais em fase <strong>de</strong> reprodução, objetivando também
17<br />
assegurar a reposição dos estoques. Tal medi<strong>da</strong> só se justifica se os indivíduos em reprodução,<br />
após capturados, apresentarem boas chances <strong>de</strong> sobrevivência, quando <strong>de</strong>volvidos ao ambiente<br />
aquático.<br />
c) Limite <strong>de</strong> comprimento e peso (tamanho mínimo <strong>de</strong> captura)<br />
A fixação <strong>de</strong> limites mínimos <strong>de</strong> comprimento e peso dos indivíduos a serem<br />
capturados fun<strong>da</strong>menta-se em dois aspectos distintos: possibilitar que os indivíduos jovens<br />
atinjam a maturação e se reproduzam pelo menos uma vez, contribuindo, assim, para a<br />
renovação dos estoques, e tirar proveito do rápido incremento do tamanho e peso dos animais<br />
nesta fase <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>. Estes limites, via <strong>de</strong> regra, correspon<strong>de</strong>m ao comprimento e peso <strong>de</strong> primeira<br />
maturação sexual <strong>da</strong> espécie a ser protegi<strong>da</strong>. Como no caso anterior, esta medi<strong>da</strong> só tem sentido<br />
prático se os indivíduos menores, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> capturados, pu<strong>de</strong>rem ser <strong>de</strong>volvidos ao seu<br />
ambiente com boa expectativa <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> ou se os aparelhos <strong>de</strong> captura apresentarem seletivi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> modo que se possa restringir seus usos, mediante a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> suas características básicas.<br />
d) Restrição sobre aparelhos <strong>de</strong> pesca<br />
Esta medi<strong>da</strong> é adota<strong>da</strong> quando a pesca é exerci<strong>da</strong> com aparelhos seletivos, o que<br />
implica a existência <strong>de</strong> relação entre seus parâmetros e os tamanhos dos indivíduos capturados.<br />
Assim, conhecendo-se o fator <strong>de</strong> seleção do aparelho <strong>de</strong> pesca empregado e sabendo-se o<br />
tamanho mínimo com que se <strong>de</strong>seja capturar <strong>de</strong>termina<strong>da</strong> espécie, regulamentam-se as suas<br />
características principais.<br />
2.6 PERSPECTIVAS DE CULTIVO<br />
As lagostas são recursos marinhos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importância em muitos países. Neste<br />
sentido, empresários e pesquisadores estão preocupados com as baixas produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>correntes <strong>da</strong> sobrepesca a que este recurso tem sido submetido nos últimos anos. Uma <strong>da</strong>s<br />
soluções para este problema, seria o cultivo <strong>da</strong> lagosta em cativeiro, porém, mais pesquisas<br />
neste sentido são necessárias, até que se estabeleça o cultivo em escala comercial.<br />
Ain<strong>da</strong> que, durante muitos anos, as lagostas tenham sido consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>s impróprias para<br />
o cultivo, em conseqüência do seu longo e complexo período larval, os pesquisadores<br />
continuaram investigando o potencial <strong>de</strong> várias espécies para a aqüicultura, tendo sido<br />
gradualmente eluci<strong>da</strong>dos <strong>de</strong>talhes pertinentes ao ciclo vital, comportamento, dinâmica<br />
populacional, ecologia e fisiologia <strong>de</strong> várias espécies. O acasalamento e a <strong>de</strong>sova <strong>de</strong> lagostas
18<br />
têm sido obtidos em cativeiro e várias pesquisas têm sido realiza<strong>da</strong>s para estabelecer uma<br />
metodologia <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> filosomas (fases larvais) (Figura 1), investigando também a<br />
microflora e a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> água (IGARASHI et al., 1990, SHIODA et al., 1997; IGARASHI &<br />
KITTAKA, 2000) e têm <strong>de</strong>monstrado que a engor<strong>da</strong> <strong>da</strong> lagosta necessita <strong>de</strong> uma tecnologia<br />
mais simples (IGARASHI, 1996), quando compara<strong>da</strong> com as técnicas <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> filosomas.<br />
A<br />
B<br />
Figura 1 – Filosoma <strong>de</strong> lagosta em estágio inicial. Fonte (a): KITTAKA et al., 1997 a<strong>da</strong>ptado<br />
por SANTIAGO, 2001. (b) Foto <strong>de</strong> filosomas ao microscópio. Fonte: National<br />
Geographic apud BIOLOGY, 2008.<br />
Segundo Lellis (1991), o trabalho com lagostas vivas po<strong>de</strong> seguir três linhas principais<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento:<br />
1. O controle total do ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> lagosta, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a reprodução em cativeiro até a<br />
eclosão e <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong>s larvas, com posterior crescimento até atingir a<br />
maturi<strong>da</strong><strong>de</strong> sexual;<br />
2. A utilização <strong>de</strong> viveiros marinhos para a manutenção e engor<strong>da</strong> e<br />
3. A coleta <strong>de</strong> indivíduos imaturos do ambiental natural para engor<strong>da</strong> e crescimento sob<br />
condições <strong>de</strong> controle em cativeiro.<br />
Com a super-explotação <strong>de</strong>ste recurso, verificou-se <strong>de</strong> forma crescente o aumento do<br />
<strong>de</strong>semprego no setor lagosteiro (IGARASHI & MAGALHÃES NETO, 2001). De acordo com<br />
Conceição (1993), ficou clara a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> se incrementar a produção <strong>de</strong>ste crustáceo<br />
através <strong>de</strong> cultivo e engor<strong>da</strong> em cativeiro, com o objetivo <strong>de</strong> abastecer a <strong>de</strong>man<strong>da</strong> <strong>de</strong>ste recurso
19<br />
nos mercados externos e internos, consi<strong>de</strong>rando que as populações naturais não po<strong>de</strong>rão<br />
suportar o aumento dos níveis <strong>de</strong> exploração ao longo dos anos.<br />
Portanto, uma <strong>da</strong>s formas encontra<strong>da</strong>s para reverter esse quadro seria expandir a<br />
produção através <strong>da</strong> aqüicultura (KITTAKA & BOOTH, 1994; 2000). Segundo estes autores,<br />
<strong>de</strong>ve-se atentar ao entrave no cultivo comercial <strong>da</strong> lagosta relacionado com a gran<strong>de</strong> dificul<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> seu crescimento e do complexo e prolongado período larval, principalmente, <strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong><br />
interesse para a aqüicultura.<br />
Mesmo com estas dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s, muitos pesquisadores continuam investigando e<br />
explorando o potencial <strong>de</strong> várias espécies, e no ano <strong>de</strong> 1988 no Japão Jiro Kittaka e sua equipe,<br />
conseguiram fechar o ciclo larval <strong>da</strong> espécie Jasus lalandii e anos seguintes completaram o<br />
ciclo larval <strong>de</strong> mais cinco espécies, estando entre elas J. edwardsii, J. verreauxi, Palinurus<br />
elephas, P. japonicus e o híbrido <strong>de</strong> J. edwardsii x J. novaehollandiae (KITTAKA, 1994).<br />
Enquanto a etapa <strong>de</strong> larvicultura <strong>da</strong> lagosta não for amplamente conheci<strong>da</strong> e viável<br />
comercialmente, os trabalhos serão <strong>de</strong>stinados à coleta <strong>de</strong> puerulus (primeira fase após o<br />
período larval <strong>da</strong> lagosta, (Figura 2) e juvenis provenientes <strong>da</strong> natureza, sendo cultiva<strong>da</strong>s até o<br />
tamanho comercial (BOOTH & KITTAKA, 1994; 2000 e KITTAKA & BOOTH, 1994; 2000).<br />
Infelizmente, o cultivo comercial <strong>de</strong> lagostas ain<strong>da</strong> não se viabilizou economicamente.<br />
Figura 2 – Puerulus, pós-larva <strong>de</strong> lagosta do gênero Panulirus. Fonte: National Geographic<br />
apud BIOLOGY, 2008<br />
No Centro <strong>de</strong> Tecnologia em Aqüicultura <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará foram<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s várias pesquisas com engor<strong>da</strong> <strong>de</strong> lagostas, <strong>de</strong>monstrando a viabili<strong>da</strong><strong>de</strong> técnica<br />
<strong>de</strong>ssa ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>. A P. argus foi cultiva<strong>da</strong> em condições <strong>de</strong> laboratório, <strong>de</strong> puerulus ao tamanho<br />
comercial (13 cm <strong>de</strong> comprimento <strong>de</strong> cau<strong>da</strong> e 365 g <strong>de</strong> peso total), em aproxima<strong>da</strong>mente dois<br />
anos (IGARASHI & KOBAYASHI, 1997) e o juvenil recente <strong>de</strong> P. laevicau<strong>da</strong> <strong>de</strong> 1,0 g até o<br />
tamanho comercial (11 cm <strong>de</strong> comprimento <strong>de</strong> cau<strong>da</strong> e 253 g <strong>de</strong> peso total), em<br />
aproxima<strong>da</strong>mente 1,5 ano (IGARASHI, 2000).
20<br />
<strong>Pesquisa</strong>s realiza<strong>da</strong>s no Japão, com a larvicultura <strong>de</strong> algumas espécies, <strong>de</strong>monstraram<br />
resultados promissores, consi<strong>de</strong>rando que os trabalhos com a larvicultura <strong>de</strong> lagosta estão no<br />
mesmo patamar <strong>da</strong> larvicultura <strong>de</strong> peneí<strong>de</strong>os na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30 (SANTOS, 2006).<br />
Dessa forma, existe um gran<strong>de</strong> interesse <strong>da</strong> coleta <strong>de</strong> puerulus e juvenis <strong>da</strong> natureza,<br />
para serem cultivados em cativeiro até o tamanho comercial. Porém, alguns fatores <strong>de</strong>vem ser<br />
levados em consi<strong>de</strong>ração quando se procura retirar indivíduos do seu ambiente natural e levá-los<br />
ao cativeiro. O i<strong>de</strong>al seria que o ciclo <strong>de</strong> produção estivesse tecnologicamente evoluído como a<br />
carcinicultura marinha, mas isto requer ain<strong>da</strong> muita pesquisa no que se refere à maturação <strong>de</strong><br />
indivíduos em cativeiro, larvicultura e engor<strong>da</strong> <strong>de</strong> juvenis até o tamanho comercial. Devem ser<br />
levandos em consi<strong>de</strong>ração fatores como, a alimentação e a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> água, para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma tecnologia <strong>de</strong> cultivo.<br />
O elevado interesse comercial sobre as lagostas reflete-se na intensa pre<strong>da</strong>ção humana,<br />
apesar disso, estudos sobre a ecologia populacional <strong>de</strong>stas espécies no Brasil, são ain<strong>da</strong> escassos,<br />
fato que favorece o <strong>de</strong>sconhecimento sobre o real impacto extrativista e o diagnóstico <strong>de</strong><br />
sobrepesca sobre tais populações. Estudos <strong>de</strong>senvolvidos na Flóri<strong>da</strong> estimaram que 90% <strong>da</strong><br />
mortali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> adultos seria causa<strong>da</strong> pela pesca (HARPER, 1991).<br />
Fatores ecológicos responsáveis pelo fornecimento a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong> alimento e abrigo<br />
<strong>de</strong>sempenham papel fun<strong>da</strong>mental para que a capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> carga seja manti<strong>da</strong> a um nível<br />
compatível com a produção instantânea. Por outro lado, estes po<strong>de</strong>m estar sujeitos a um<br />
processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sestabilização causado pelo emprego intensivo <strong>de</strong> aparelhos colocados em<br />
contato direto com o substrato, como re<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-espera, covos, cangalhas e mangotes (CASTRO E<br />
SILVA, 1998), com reflexos diretos sobre a estrutura etária e o volume <strong>de</strong> captura.<br />
Alguns trabalhos <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> lagosta em cativeiro têm obtido sucesso parcial, Igarashi e<br />
Kobayashi (1997) realizaram o primeiro acasalamento e o primeiro cultivo <strong>da</strong> pós-larva puerulus<br />
até o comprimento comercial no Brasil, mas não obtiveram resultados positivos para o ciclo<br />
completo, não sendo consegui<strong>da</strong>s as metamorfoses <strong>de</strong> filosomas para puerulus. Por ora, as<br />
dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s no cultivo <strong>de</strong> Panulirus spp. são muitas, <strong>de</strong>ntre as quais, o ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> extremamente<br />
complexo; o <strong>de</strong>sconhecimento <strong>de</strong> alguns aspectos biológicos, como por exemplo, a alimentação<br />
<strong>da</strong>s larvas; uma taxa <strong>de</strong> incremento muito baixa; alta vulnerabili<strong>da</strong><strong>de</strong> no período <strong>de</strong> mu<strong>da</strong>s, a<br />
dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> reprodução em cativeiro; alta sensibili<strong>da</strong><strong>de</strong> a <strong>de</strong>jetos orgânicos, como as principais<br />
causas para o insucesso do cultivo <strong>da</strong> lagosta em cativeiro.<br />
De acordo com Rahman & Srikrishnadhas (1994), o cultivo <strong>de</strong> lagostas espinhosas<br />
apresenta um gran<strong>de</strong> potencial, principalmente pelo alto valor <strong>de</strong> mercado, rustici<strong>da</strong><strong>de</strong> e<br />
aceitação ao alimento natural, além <strong>de</strong> praticamente não haver canibalismo quando compara<strong>da</strong>s
21<br />
com as lagostas com pinças (Homarus sp.). Lellis (1991), estu<strong>da</strong>ndo o crescimento <strong>de</strong> lagostas<br />
P. argus, verificou um período <strong>de</strong> 16 meses para que indivíduos capturados como puerulus<br />
atingissem 450g em média.<br />
Rahman & Srikrishnadhas (1994) observaram que um sistema <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> lagostas<br />
<strong>de</strong>ve passar pelas seguintes fases a serem analisa<strong>da</strong>s: custos <strong>de</strong> capital, mão-<strong>de</strong>-obra e energia,<br />
aquisição <strong>de</strong> juvenis, disponibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> alimento, tamanho <strong>de</strong> comercialização e controle do<br />
material bio<strong>de</strong>gradável na água (Figura 3).<br />
Juvenis<br />
Custos <strong>de</strong> capital<br />
Comercialização<br />
Mão-<strong>de</strong>-obra<br />
Energia<br />
Sistema <strong>de</strong> cultivo<br />
<strong>de</strong> lagostas<br />
Alimentação<br />
Resíduos<br />
bio<strong>de</strong>gradáveis<br />
Figura 3 - Etapas a serem analisa<strong>da</strong>s em um sistema <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> lagostas espinhosas<br />
(RAHMAN & SRIKRISHNADHAS, 1994).
22<br />
3. A PESCA DA LAGOSTA NA PRAIA DO SEIXAS E DA PENHA<br />
3.1 INTRODUÇÃO<br />
Os pescadores que trabalham com a pesca <strong>da</strong> lagosta nas praias do Seixas e Penha são<br />
consi<strong>de</strong>rados artesanais. A pesca artesanal é <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>, <strong>de</strong> modo geral, por pessoas que têm<br />
como objetivo principal consumir o pescado capturado, o que po<strong>de</strong> ser observado em to<strong>da</strong>s as<br />
regiões do país e é feita principalmente por consumidores representados pelas comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
ribeirinhas, em que problemas sociais, como o <strong>de</strong>semprego e a baixa escolari<strong>da</strong><strong>de</strong> são evi<strong>de</strong>ntes,<br />
tendo <strong>de</strong>sta forma na pescaria a única maneira <strong>de</strong> se adquirir alimento e alguma remuneração<br />
para a sustentação familiar (RESENDE, 2006).<br />
Para Montenegro et al. (2001), os pescadores fazem parte <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> ecossistêmica e<br />
suas interações não <strong>de</strong>vem ser observa<strong>da</strong>s apenas do ponto <strong>de</strong> vista do uso e apropriação dos<br />
recursos, mas no contexto <strong>da</strong>s relações sociais. No que se refere à toma<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões, eles estão<br />
diariamente agindo não só como “forrageadores” que procuram fazer escolhas ótimas, mas<br />
também, comportando-se como fiscalizadores do ambiente.<br />
Através <strong>da</strong> investigação e <strong>de</strong>scrição dos elementos sociais e ambientais referentes aos<br />
pescadores <strong>de</strong> lagosta <strong>da</strong>s praias do Seixas e Penha, traçou-se o seu perfil socioeconômico pelo<br />
enfoque <strong>de</strong> <strong>de</strong>scritores como i<strong>da</strong><strong>de</strong>, nível <strong>de</strong> instrução, relação <strong>de</strong> trabalho, ren<strong>da</strong>, além dos<br />
aparelhos e locais <strong>de</strong> pesca, or<strong>de</strong>namento e fiscalização <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta. Desta forma, este<br />
estudo objetiva subsidiar informações sobre os pescadores artesanais que permitam aos órgãos<br />
governamentais traçar futuras políticas <strong>de</strong> incentivo, baseado no conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
sustentável.<br />
3.2 ÁREA DE ESTUDO<br />
A comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> do Seixas e Penha está localiza<strong>da</strong> no litoral sul <strong>de</strong> João Pessoa (Figura<br />
4), limita-se ao norte com o bairro Cabo Branco, ao sul com o Pólo Turístico Cabo Branco,<br />
através do riacho do Aratú, a leste o Oceano Atlântico e a oeste o Planalto Cabo Branco através<br />
<strong>da</strong> PB 008. O bairro do Seixas caracteriza-se por uma ocupação <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>na<strong>da</strong> <strong>da</strong> orla marítima,<br />
com predomínio <strong>de</strong> barracas na beira-mar, resi<strong>de</strong>ntes permanentes e temporários, bares e<br />
restaurantes. O bairro <strong>da</strong> Penha, mais conhecido como Praia <strong>da</strong> Penha, distingue-se <strong>da</strong> Praia do<br />
Seixas pelo fato <strong>de</strong> que os principais resi<strong>de</strong>ntes são pescadores e moradores <strong>de</strong> baixa ren<strong>da</strong>. Este<br />
bairro subdivi<strong>de</strong>-se em três núcleos principais: Vila dos Pescadores, Beira-Mar e Praça Oswaldo
23<br />
Pessoa. A população total <strong>da</strong> Penha é <strong>de</strong> 773 habitantes (IBGE, 2000), distribuídos em 150<br />
domicílios, com uma área <strong>de</strong> 41,5 hectares, a <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>mográfica <strong>de</strong> 19,67 hab./ha.<br />
Figura 4: Localização dos bairros do Seixas e Penha no litoral <strong>de</strong> João Pessoa, PB.<br />
3.3 MATERIAIS E MÉTODOS<br />
A organização do trabalho <strong>de</strong> campo foi realiza<strong>da</strong> em etapas e, no primeiro momento,<br />
foram realiza<strong>da</strong>s reuniões na cooperativa e conversas informais com os pescadores, a fim <strong>de</strong><br />
apresentar-lhes os objetivos do estudo. Durante esse contato inicial a observação participativa<br />
foi efetivamente privilegia<strong>da</strong>, possibilitando a inserção gradual na rotina <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>. A<br />
pesquisa <strong>de</strong> campo realizou-se nas praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha.<br />
Seguiu-se a observação participativa <strong>de</strong> on<strong>de</strong> foram obti<strong>da</strong>s informações<br />
complementares, adquiri<strong>da</strong>s ao longo <strong>da</strong>s entrevistas, para complementar os <strong>da</strong>dos obtidos a<br />
partir <strong>da</strong> aplicação <strong>de</strong> questionários.<br />
Para todo o trabalho <strong>de</strong> campo, a observação participativa consiste numa técnica que<br />
possibilita não somente a aproximação com aquilo que se preten<strong>de</strong> conhecer e estu<strong>da</strong>r, como<br />
também permite construir um conhecimento partindo <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> do campo (LOPES, 2000).<br />
A elaboração dos questionários seguiu o proposto por Thompson (1992), e os roteiros<br />
foram sendo elaborados tendo como base o perfil do pescador e as peculiari<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong><br />
lagosta na Praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha.<br />
Os questionários abor<strong>da</strong>ram questões referentes aos aspectos econômicos e sociais dos<br />
entrevistados, bem como questões referentes àquele ambiente.
24<br />
A técnica <strong>de</strong>termina<strong>da</strong> para a coleta <strong>de</strong>stas informações sociais foi a “entrevista<br />
estrutura<strong>da</strong>” (GIL, 1999), composta por 37 questões (15 questões sobre o perfil do pescador e<br />
22 questões sobre a pesca <strong>da</strong> lagosta) (Apêndice A). Anterior à aplicação <strong>de</strong>stas entrevistas, foi<br />
realiza<strong>da</strong> uma abor<strong>da</strong>gem-piloto com <strong>de</strong>z pescadores, para permitir a inserção <strong>de</strong> possíveis<br />
ajustes nos questionários, sendo cinco aplicados no Seixas e cinco na Penha.<br />
As entrevistas foram realiza<strong>da</strong>s entre julho/07 e outubro/07. Após o primeiro momento<br />
<strong>de</strong> aproximação informal com a comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>, iniciou-se a aplicação dos questionários para<br />
compor o perfil socioeconômico dos pescadores. Foi realizado um levantamento <strong>da</strong> quanti<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> pescadores <strong>de</strong> lagosta (37), 100% dos quais foram entrevistados. Primeiramente, aplicou-se<br />
os questionários aos pescadores do Seixas (Figura 5a), em segui<strong>da</strong> <strong>da</strong> Penha (Figura 5b),<br />
visando o levantamento socioeconômico <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> pesqueira e investigação do interesse<br />
<strong>de</strong>ssa população em participar <strong>de</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s produtivas que complementassem sua ren<strong>da</strong><br />
familiar.<br />
Foram <strong>de</strong>scritas as artes <strong>de</strong> pesca usa<strong>da</strong>s pelos pescadores <strong>de</strong> lagosta <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
do Seixas e Penha, bem como as embarcações por eles utiliza<strong>da</strong>s durante a pesca.<br />
A<br />
Figura 5 - Entrevista com pecadores do Seixas (a) e Penha (b) (Foto: Emanuel Luiz Silva).<br />
B
25<br />
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
3.4.1 ARTES-DE-PESCA UTILIZADAS NAS CAPTURAS DE LAGOSTA<br />
Uma característica marcante na pesca <strong>da</strong> lagosta relaciona-se aos apetrechos <strong>de</strong> pesca<br />
utilizados na captura, os quais com o passar dos anos foram sendo modificados e/ou<br />
reintroduzidos <strong>de</strong> acordo com a evolução e a importância <strong>da</strong> pesca, assim como a<strong>de</strong>quação às<br />
novas leis.<br />
As primeiras capturas <strong>de</strong> lagosta no Nor<strong>de</strong>ste brasileiro ocorreram no Estado do Ceará<br />
com o emprego do jereré 3 . Galdino (1995) relatou que no período compreendido entre as<br />
déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong> 50 e 60, utilizava-se na pesca <strong>da</strong> lagosta o jereré, bem como covos <strong>de</strong> bambu.<br />
As artes <strong>de</strong> pesca realiza<strong>da</strong>s na praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha foram <strong>de</strong>scritas <strong>de</strong> acordo<br />
com observações feitas em campo e entrevistas com os pescadores.<br />
Pesca com covo ou manzuá – (Figura 6) é uma armadilha semi-fixa, <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira<br />
(mameleiro), com formato quadrangular, tela<strong>da</strong> com arame galvanizado e com uma abertura na<br />
parte frontal chama<strong>da</strong> sanga. Ao longo dos anos vinha sendo substituído pela caçoeira passando<br />
a ser utilizado somente por embarcações <strong>de</strong> maior porte e por um reduzido número <strong>de</strong><br />
embarcações artesanais. É uma armadilha pesa<strong>da</strong> e <strong>de</strong> custo operacional elevado, sendo que a<br />
partir <strong>de</strong>sse ano, com a proibição <strong>da</strong> caçoeira, será muito utilizado pela frota lagosteira<br />
paraibana. A profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> operação <strong>de</strong>sta arte varia em função do tipo <strong>da</strong> embarcação e <strong>da</strong><br />
pescaria. Existem relatos <strong>de</strong> barcos operando com covos em profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> até 80 m. Sua<br />
utilização teve início na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 50 quando a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> lagosteira começou a ganhar<br />
importância <strong>de</strong>vido às primeiras exportações para os Estados Unidos.<br />
Figura 6 - Manzuá usado pelos pescadores <strong>da</strong> praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha (Foto: Patricia<br />
Oliveira, 2007).<br />
3 Aparelho constituído <strong>de</strong> um aro <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira com cerca <strong>de</strong> 88 cm <strong>de</strong> diâmetro, ao qual se prendia uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> fibra<br />
<strong>de</strong> algodão em forma <strong>de</strong> sacola, com 72 cm <strong>de</strong> profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> e um cabo <strong>de</strong> fibra e agave.
26<br />
Pesca com caçoeira ou re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera (Figura 7) – trata-se <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> que é coloca<strong>da</strong><br />
sobre o ambiente recifal durante aproxima<strong>da</strong>mente um ciclo <strong>de</strong> maré. Existem dois tipos<br />
básicos: <strong>de</strong> nylon azul (nylon mole) são mais usa<strong>da</strong>s por barcos motorizados e <strong>de</strong> nylon branco<br />
(nylon duro), mais utiliza<strong>da</strong>s por barcos à vela e a remo. Segundo Galdino (1995), a introdução<br />
<strong>da</strong> caçoeira <strong>de</strong>u-se a partir <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 70, em razão do <strong>de</strong>créscimo <strong>da</strong> produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
covos. De acordo com o IBAMA (1994), a caçoeira apresenta-se como uma mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
pesca que causa <strong>da</strong>nos ao meio ambiente, quando em operação na captura <strong>da</strong> lagosta. Foi<br />
proibi<strong>da</strong> pela primeira vez em 1971, liberado seu uso em 1992, e novamente proibi<strong>da</strong> em 2007.<br />
Figura 7 - Pescador recolhendo a caçoeira (Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Pesca <strong>de</strong> mergulho – existem dois tipos:<br />
Mergulho livre (Figura 8) on<strong>de</strong> o pescador mergulha equipado com máscara,<br />
snorkel, na<strong>da</strong><strong>de</strong>iras, cinturão com pesos <strong>de</strong> chumbo (geralmente <strong>de</strong> fabricação artesanal), uma<br />
“sacola” inseri<strong>da</strong> em um isopor usa<strong>da</strong> para armazenar as lagosta durante o mergulho, e bicheiro<br />
(Figura 9), cuja função é auxiliar na retira<strong>da</strong> <strong>da</strong>s lagostas dos abrigos.<br />
Figura 8 - Mergulhador caçando lagosta na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Karen<br />
Viana, 2007).
27<br />
Figura 9 - Bicheiro usado na pesca <strong>da</strong> lagosta na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto:<br />
Patricia Oliveira, 2007).<br />
Pesca com compressor (Figura 10), pesca realiza<strong>da</strong> com o auxílio <strong>de</strong> um<br />
compressor conectado ao motor <strong>da</strong> embarcação, que fornece o ar necessário, através <strong>de</strong><br />
mangueiras, ao pescador que <strong>de</strong>sce à procura <strong>de</strong> lagostas. Em alguns casos, o óleo lubrificante<br />
do compressor mistura-se com o ar que é conduzido para o mergulhador. Verifica-se que os<br />
pescadores que empregam este método não possuem nenhum treinamento para o exercício <strong>da</strong><br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>, sendo <strong>de</strong>sconheci<strong>da</strong>s as regras básicas <strong>de</strong> mergulho, como a <strong>de</strong>scompressão, bem<br />
como o tempo máximo <strong>de</strong> permanência submerso. Devido à limitação do pescador, a pesca por<br />
compressor não po<strong>de</strong> ser realiza<strong>da</strong> a profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s superiores a 33 metros. Nos meses <strong>de</strong> ventos<br />
fortes, a prática <strong>de</strong>ssa ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> fica inviável <strong>de</strong>vido à baixa visibili<strong>da</strong><strong>de</strong> na água.<br />
Figura 10 - Mergulhador capturando lagostas com uso <strong>de</strong> compressor. (Foto: Ricardo<br />
STANGORLINI, 2007).<br />
Pesca <strong>de</strong> facho: é uma técnica <strong>de</strong> pescar lagosta, realiza<strong>da</strong> nas noites em que a lua se<br />
encontra na fase nova ou minguante e com a maré vazia. Para fachear é utiliza<strong>da</strong> uma lata <strong>de</strong><br />
alumínio, cheia <strong>de</strong> óleo diesel, com a tampa perfura<strong>da</strong> por on<strong>de</strong> sai um pe<strong>da</strong>ço <strong>de</strong> pano enrolado<br />
que exerce a função <strong>de</strong> pavio (semelhante a um can<strong>de</strong>eiro), com um aparador, para proteção, e<br />
um cabo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira (Figura 11). É realiza<strong>da</strong> sobre o ambiente recifal, on<strong>de</strong> a lagosta é atraí<strong>da</strong>
28<br />
pela luz ficando imóvel, possibilitando ao pescador localizá-las, através <strong>da</strong> visualização <strong>de</strong> seus<br />
olhos e pegá-las, utilizando uma luva <strong>de</strong> pano ou couro.<br />
Figura 11 - Pescador acen<strong>de</strong>ndo um facho sobre o ambiente recifal (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2001)<br />
3.4.2 FROTA LAGOSTEIRA DAS PRAIAS DO SEIXAS E PENHA<br />
A frota motoriza<strong>da</strong> é composta por barcos <strong>de</strong> pequeno, médio e gran<strong>de</strong> porte, que<br />
operam em uma área <strong>de</strong> aproxima<strong>da</strong>mente 8.505 km², limita<strong>da</strong> ao Norte, pelo município <strong>de</strong> Baía<br />
Formosa/RN, ao Sul, por Ponta <strong>de</strong> Pedra/PE e a Leste pelo talu<strong>de</strong> continental (CEPENE, 2004).<br />
Essas embarcações são construí<strong>da</strong>s em ma<strong>de</strong>ira, com comprimento variando entre 7 e<br />
17 metros, propulsiona<strong>da</strong>s por motores, com potência variando entre 30 e 220 HP. A gran<strong>de</strong><br />
maioria opera sem qualquer instrumento <strong>de</strong> navegação, i<strong>de</strong>ntificação e marcação <strong>de</strong> áreas, o que<br />
se traduz em pescarias com pouco tempo real <strong>de</strong> captura e baixa produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong>, operando com<br />
tripulações <strong>de</strong> 3 a 5 pescadores, utilizando como aparelhos <strong>de</strong> pesca a re<strong>de</strong> <strong>de</strong> emalhar, covos e<br />
compressor, em viagens com duração <strong>de</strong> até 15 dias <strong>de</strong> mar. Vale salientar que em 1993, estes<br />
pescadores foram equipados com barcos e todos os aparelhos <strong>de</strong> localização como rádios e<br />
GPSs, mas que atualmente já não os possuem.<br />
A frota pesqueira artesanal é composta por janga<strong>da</strong>, bote e canoa construídos em<br />
ma<strong>de</strong>ira, movidos à vela e a remo, <strong>de</strong>senvolvendo pescarias em águas rasas dos estuários e<br />
próximo à costa, com duração <strong>de</strong> até 24 horas. O processo envolve 2 a 3 pescadores por<br />
embarcação, que utilizam como apetrechos <strong>de</strong> pesca as re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> emalhar.<br />
Bote a remo (Figura 12) - embarcação <strong>de</strong> propulsão a remo, com casco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira <strong>de</strong><br />
forma achata<strong>da</strong>, sem quilha, forrado internamente com isopor, medindo 2,5 m a 3 m <strong>de</strong><br />
comprimento. Com raio <strong>de</strong> ação limitado, realiza viagens <strong>de</strong> i<strong>da</strong> e vin<strong>da</strong> diárias. A tripulação é
29<br />
constituí<strong>da</strong> <strong>de</strong> apenas um pescador, que atua na pesca <strong>da</strong> lagosta, quase que exclusivamente com<br />
caçoeira. Este tipo <strong>de</strong> embarcação também é conhecido como catraia, bateira, paquete a remo.<br />
Figura 12 - Bote a remo na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Canoa (Figura 13) - embarcação propulsiona<strong>da</strong> a remo ou à vela, com casco <strong>de</strong><br />
ma<strong>de</strong>ira (jaqueira ou marmeleiro) <strong>de</strong> fundo chato ou não, com quilha. Há dois tipos <strong>de</strong> canoas<br />
que diferem pelas seguintes características: tamanho (variando entre 3 e 9 m), veloci<strong>da</strong><strong>de</strong>, tipos<br />
<strong>de</strong> convés (semi-aberto e totalmente fechado), tipos <strong>de</strong> leme (estreito/pequeno e largo/gran<strong>de</strong>) e<br />
tipos <strong>de</strong> popa (reta e bicu<strong>da</strong>). Ambos realizam viagens <strong>de</strong> i<strong>da</strong> e volta diárias, porém, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo<br />
<strong>da</strong> época do ano, permanecem no mar por até 5 dias. A tripulação <strong>da</strong>s canoas é constituí<strong>da</strong> por 2<br />
a 4 pescadores (TAHIM et al., 1996 apud CASTRO & SILVA; ROCHA, 1999). As canoas<br />
também po<strong>de</strong>m ser conheci<strong>da</strong>s como bateira, caíco, curicaca, igaraté, biana, patacho, canoa <strong>de</strong><br />
casco, batelão, iole.<br />
Figura 13 - Canoa na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Janga<strong>da</strong>/paquete (Figura 14) - a janga<strong>da</strong> é uma embarcação propulsiona<strong>da</strong> a remo, a<br />
vara ou à vela, com casco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira em forma achata<strong>da</strong>, forra<strong>da</strong> internamente com isopor, sem<br />
quilha, com convés e um pequeno porão acessado por uma escotilha, possui uma urna para<br />
acondicionar o material <strong>da</strong> pesca. (CASTRO-SILVA & ROCHA, 1999).
30<br />
Figura 14 - Janga<strong>da</strong> na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Bote à vela - embarcação propulsiona<strong>da</strong> à vela, com casco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, com quilha,<br />
convés fechado com uma ou duas escotilhas que dão acesso ao porão, on<strong>de</strong> são armazena<strong>da</strong>s as<br />
lagostas captura<strong>da</strong>s, as iscas, o gelo, os materiais <strong>de</strong> pesca (cabos e bóias) e o alimento para<br />
consumo. O porão serve também <strong>de</strong> alojamento para os pescadores, que em geral são 2 ou 3.<br />
Esta embarcação me<strong>de</strong> <strong>de</strong> 6 a 8 m <strong>de</strong> comprimento e realiza viagens geralmente <strong>de</strong> i<strong>da</strong> e volta<br />
diárias.<br />
Bote motorizado (Figura 15) - é a mais simples <strong>da</strong>s embarcações motoriza<strong>da</strong>s<br />
emprega<strong>da</strong>s na pesca <strong>da</strong> lagosta. Tem casco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira ou fibra, com quilha, uma pequena<br />
estrutura localiza<strong>da</strong> próximo à proa ou popa que, em geral, serve somente <strong>de</strong> abrigo para o<br />
motor. O motor é <strong>de</strong> baixa potência, em torno <strong>de</strong> 50 HP. Sob o convés, existem pequenas<br />
câmaras, sendo aí acondicionados gelo, lagostas e iscas, além do espaço on<strong>de</strong> são guar<strong>da</strong>dos os<br />
materiais <strong>de</strong> pesca, mantimentos, óleo combustível e água potável. O convés também po<strong>de</strong> ser<br />
usado pela tripulação para repouso. Raramente existem nessas embarcações aparelhos <strong>de</strong><br />
comunicação ou eletrônicos.<br />
Figura 15 - Bote motorizado na praia do Seixas, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira,<br />
2007).
31<br />
Lancha (Figura 16) - embarcação motoriza<strong>da</strong>, com casco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, comprimento<br />
abaixo <strong>de</strong> 15 m, com casaria (cabine) no convés, po<strong>de</strong>ndo ser na popa ou na proa conheci<strong>da</strong><br />
vulgarmente como barco a motor, saveiro <strong>de</strong> convés, janga<strong>da</strong>, barco motorizado. Po<strong>de</strong>m ser<br />
classifica<strong>da</strong>s como pequeno, médio e gran<strong>de</strong> porte.<br />
Figura 16 - Lancha na praia <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB (Foto: Patricia Oliveira).<br />
3.4.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DE LAGOSTA<br />
Os 100% dos pescadores entrevistados refletiram a gran<strong>de</strong> disposição dos mesmos em<br />
contribuir com o estudo. Não foram registra<strong>da</strong>s mulheres que trabalhem com a pesca <strong>da</strong> lagosta<br />
nas praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha. Mas em pesquisa na mesma comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>, Lima-Silva (2007)<br />
registrou ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> feminina como marisqueiras e pescadoras.<br />
A partir dos <strong>da</strong>dos obtidos através do perfil socioeconômico dos pescadores <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha, 35% dos entrevistados pertenciam à faixa etária entre 21 e 30 anos<br />
(Figura 17). Esta também foi a faixa etária predominante para comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> pescadores do<br />
Município <strong>de</strong> Aquiraz-CE (RODRIGUES & MAIA, 2007). Destaca-se a incidência <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong><br />
20% <strong>de</strong> menores trabalhando <strong>de</strong> forma ilegal na pesca <strong>da</strong> lagosta, em que todos os menores<br />
praticam mergulho livre. Não houve registro <strong>de</strong> lagosteiros com i<strong>da</strong><strong>de</strong> superior a 60 anos.<br />
Quanto ao nível <strong>de</strong> escolari<strong>da</strong><strong>de</strong> predominou o ensino fun<strong>da</strong>mental (43%), 27%<br />
cursaram até o ensino médio, 22% só concluíram o primário e 8% não freqüentaram a escola.<br />
Diferente dos resultados encontrados por SILVA, et al. (2007), em Conceição do Araguaia-PA,<br />
on<strong>de</strong> 57% dos pescadores têm ensino fun<strong>da</strong>mental incompleto e 27% são analfabetos. Os<br />
principais motivos apontados pelos entrevistados para a baixa escolari<strong>da</strong><strong>de</strong> foi a impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
em conciliar estudo e pesca, pois eles começam a trabalhar muito cedo, para prover o próprio
32<br />
sustento e o <strong>de</strong> sua família; por se tratar <strong>de</strong> uma ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> exaustiva, além <strong>da</strong> longa permanência<br />
embarcados, o que os impe<strong>de</strong> <strong>de</strong> se <strong>de</strong>dicarem aos estudos.<br />
40<br />
35<br />
Porcentagem (%)<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
33<br />
05 anos. Os <strong>da</strong>dos indicam que a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> é <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong> por diferentes gerações e o<br />
conhecimento <strong>da</strong> pesca é transmitido aos mais jovens, <strong>de</strong> maneira a proporcionar condições para<br />
a prática <strong>da</strong> pesca, em função <strong>da</strong> falta <strong>de</strong> empregos no mercado formal (SILVA et al., 2007).<br />
70<br />
60<br />
50<br />
Porcentagem (%)<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50<br />
Anos<br />
Figura 18 - Tempo <strong>de</strong> pesca dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados<br />
entre julho/07 e outubro/07.<br />
Tabela 5 - Tabela <strong>de</strong> freqüência <strong>da</strong> relação entre as variáveis Tempo <strong>de</strong> pesca e I<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre julho/07 e<br />
outubro/07.<br />
Tempo <strong>de</strong> pesca<br />
I<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
1-10 anos 11-20 anos 21-30 anos 31-40 anos Total<br />
60<br />
0 1 0 1 2<br />
0,00% 50,00% 0,00% 50,00%<br />
Total 22 9 3 3 37<br />
Em geral, os lagosteiros trabalham <strong>de</strong> 3 a 4 dias por semana, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo <strong>da</strong>s condições<br />
climáticas. No verão, passam mais tempo no mar, mas 100% <strong>de</strong>les afirmam que a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
lagosta está diminuindo a ca<strong>da</strong> ano. Eles atribuem essa diminuição dos estoques à pesca<br />
pre<strong>da</strong>tória (100%), pesca industrial (5%) e captura <strong>de</strong> indivíduos jovens e/ou em período <strong>de</strong>
34<br />
<strong>de</strong>sova (32%), em <strong>de</strong>srespeito ao <strong>de</strong>feso, <strong>de</strong>monstrando conhecimento empírico acerca <strong>da</strong><br />
conservação <strong>da</strong> lagosta. De forma semelhante, Melo (2006) relatou que 80% dos pescadores na<br />
Penha apontaram os fatores antrópicos como responsáveis pelo <strong>de</strong>clínio dos estoques pesqueiros<br />
naturais. Valor que aumenta em 2007, quando Lima-Silva (2007) <strong>de</strong>screve que 90% dos<br />
pescadores no mesmo local, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os mais experientes até aos mais novos na ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>, afirmam<br />
o mesmo. Tais estudos revelam o crescente grau <strong>de</strong> conscientização, referente aos fatores que<br />
conduzem à diminuição <strong>da</strong> pesca nesta comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
Os pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha reclamam <strong>da</strong> presença <strong>de</strong> navios <strong>de</strong><br />
outros estados na costa paraibana. Conforme relatado por um pescador, tal navio leva 25 mil<br />
litros <strong>de</strong> óleo a bordo, 18 mil quilos <strong>de</strong> isca, têm autonomia <strong>de</strong> 10 meses no mar e utilizam<br />
equipamentos mo<strong>de</strong>rnos para a localização dos estoques <strong>de</strong> lagosta. Outro relato <strong>de</strong>screve<br />
barcos com mais <strong>de</strong> 1500 covos, atuando na região. Com relação às queixas realiza<strong>da</strong>s sobre a<br />
presença <strong>da</strong> pesca industrial, verificou-se que não se trata <strong>de</strong> uma insatisfação recente, como<br />
mencionado por Melo (2006). Diferente <strong>da</strong> pesca industrial, a prática <strong>da</strong> pesca artesanal é uma<br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> menos impactante ao meio ambiente, já que a mesma está fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> em técnicas<br />
rudimentares <strong>de</strong> captura, <strong>de</strong> maior seletivi<strong>da</strong><strong>de</strong> e com um índice menor <strong>de</strong> pre<strong>da</strong>ção<br />
(CARDOSO, 2000).<br />
A escassez <strong>de</strong> recursos marinhos, provocados pela sobre-exploração, faz crescer<br />
conflitos. A pesca <strong>da</strong> lagosta está se dirigindo para uma situação impraticável e ameaça<strong>da</strong> pela<br />
pesca pre<strong>da</strong>tória e industrial. A fiscalização existente é insuficiente para coibir a ilegali<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
embora os locais <strong>de</strong> pesca, produção e comercialização dos artefatos ilegais, sejam conhecidos.<br />
Quando in<strong>da</strong>gados sobre as vantagens em ser pescador, a maioria relata a ausência <strong>de</strong><br />
patrão e garantia <strong>de</strong> alimentação, <strong>de</strong>staca-se ain<strong>da</strong> a categoria referente à liber<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> horários<br />
na ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>. Com relação às <strong>de</strong>svantagens, eles relatam a falta <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> trabalho<br />
(62%), dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> crédito e financiamento (43%), que o trabalho é pesado e cansativo<br />
(41%), mal remunerado (35%), que o mercado é fraco (16%) e que existe discriminação <strong>da</strong><br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> (8%). Destaca-se que muitos dos entrevistados reportam-se a mais <strong>de</strong> uma categoria<br />
em suas respostas. Ain<strong>da</strong> assim, 14% dos entrevistados afirmam não ter <strong>de</strong>svantagens. Apesar<br />
<strong>da</strong>s <strong>de</strong>svantagens, 70% dos pescadores afirmam que nunca pensaram em <strong>de</strong>sistir <strong>da</strong> profissão e<br />
51% asseguram que é possível sustentar-se apenas com a pesca <strong>de</strong> lagosta.<br />
Lima-Silva (2007) aponta que o comportamento apresentado pelos entrevistados é<br />
adotado porque eles sabem, ou pensam saber, que é aquilo que o pesquisador quer ouvir, seja<br />
para se apresentarem informados e politicamente corretos ou apenas supõem que o pesquisador
35<br />
possa provi<strong>de</strong>nciar melhorias, por isso, essa conduta é observa<strong>da</strong> com freqüência em pesquisas<br />
<strong>de</strong> cunho social. Comportamento similar foi observado durante este trabalho.<br />
A ren<strong>da</strong> mensal média alcança<strong>da</strong> pelos lagosteiros varia entre R$ 200,00 e R$ 400,00<br />
(Figura 19). Aproxima<strong>da</strong>mente ¼ dos entrevistados tem ren<strong>da</strong> inferior a R$ 200,00 sendo a<br />
mesma complementa<strong>da</strong> por ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s paralelas como construção civil (pintor, aju<strong>da</strong>nte <strong>de</strong><br />
pedreiro), ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> caráter informal (biscates) e comércio. No outro extremo, a maioria dos<br />
lagosteiros com ren<strong>da</strong> superior a R$ 600,00 tem barco próprio. A Tabela 6 mostra que não há<br />
uma relação significativa entre as variáveis I<strong>da</strong><strong>de</strong> e Ganho mensal (Qui-quadrado: 20,3256,<br />
gl=15, p>0,05). Quando questionados se sempre trabalharam unicamente com a pesca, 51%<br />
revelaram que praticam, em paralelo com a pescaria, outras ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s remunera<strong>da</strong>s. Os <strong>de</strong>mais<br />
49% afirmaram que se trata <strong>de</strong> sua única ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> e que <strong>de</strong>sta advém o sustento <strong>de</strong> suas<br />
famílias. Este segundo grupo afirma que nas horas livres, eles assistem televisão, conversam<br />
com os amigos, jogam bola, fazem trabalhos em casa, cui<strong>da</strong>m dos filhos e <strong>de</strong>scansam.<br />
Resultados semelhantes constataram Vasconcelos, et al. (2003) entre os pescadores<br />
artesanais no Rio Gran<strong>de</strong> do Norte on<strong>de</strong> 60,9% possuem ren<strong>da</strong> familiar até um salário mínimo e<br />
32,6% ganham <strong>de</strong> 2 a 3 salários, e 29,9% acumulam outra ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> além <strong>da</strong> pesca como:<br />
construção civil, comerciantes e agricultores.<br />
50<br />
45<br />
40<br />
Porcentagem %<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
até R$ 200,00<br />
R$201,00 a<br />
400,00<br />
R$ 401,00 a<br />
600,00<br />
Mais <strong>de</strong> R$<br />
600,00<br />
R$<br />
Figura 19 - Ren<strong>da</strong> obti<strong>da</strong> com a captura <strong>de</strong> lagosta dos pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha, entrevistados entre julho/07 e outubro/07.
36<br />
Tabela 6 - Tabela <strong>de</strong> freqüência <strong>da</strong> relação entre as variáveis Ganho mensal e I<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre julho/07 e<br />
outubro/07.<br />
Ganho<br />
R$ 201,00 - R$ 401,00 -<br />
< R$ 200,00<br />
I<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
R$ 400,00 R$ 600,00<br />
> R$ 600,00 Total<br />
60<br />
0 0 1 1 2<br />
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%<br />
Total 9 17 3 8 37<br />
Com relação ao local <strong>de</strong> pesca, 73% informaram que pescam nos recifes, 62% após os<br />
recifes, 46% entre os recifes e a praia e 24% em alto mar (Figura 20). O ambiente recifal é o<br />
local <strong>de</strong> pesca preferido dos pescadores <strong>de</strong>vido ao fácil acesso, via barco a remo, à vela ou<br />
mesmo a nado, em oposição ao acesso ao alto mar, exclusivo aos pescadores que possuem barco<br />
a motor.<br />
Figura 20 - Local <strong>de</strong> pesca dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre<br />
julho/07 e outubro/07.
37<br />
Os lagosteiros fazem uso <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> uma arte <strong>de</strong> pesca <strong>de</strong> lagosta. A maioria pratica<br />
mergulho livre (89%), seguido pelo uso <strong>da</strong> re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera (49%), manzuá ou covo (32%)<br />
(Figura 21). Todos os pescadores afirmam saber <strong>da</strong> existência <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> pesca<br />
proibidos por lei para captura <strong>da</strong> lagosta, <strong>de</strong>ntre eles o compressor, e mesmo assim, 24% dos<br />
pescadores afirmam praticar mergulho com compressor. Além <strong>de</strong>stes, 76% reconhecem que a<br />
re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera (caçoeira) também é proibi<strong>da</strong> (Instrução normativa n°138 <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
2006), mas 49% insistem no uso <strong>de</strong>sta arte. Por outro lado, eles <strong>de</strong>sconhecem que o mergulho<br />
livre é proibido pela mesma legislação em seu Artigo 9°, e relatam ain<strong>da</strong> que <strong>de</strong>vido a essas<br />
proibições, previstas na nova lei, muito pescadores passaram a <strong>de</strong>dicar-se à exploração <strong>de</strong> outros<br />
recursos. Observou-se ain<strong>da</strong> que os lagosteiros que permanecem nesta ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> têm a<strong>de</strong>quado<br />
as suas artes <strong>de</strong> pesca, segundo as modificações impostas pela lei. Torna-se difícil confirmar que<br />
tal atitu<strong>de</strong> se relaciona ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma consciência ecológica, mas acredita-se que<br />
não se <strong>de</strong>ve simplesmente à sansão imposta pela legislação, que por enquanto, não tem sido<br />
acompanha<strong>da</strong> <strong>de</strong> uma fiscalização eficiente.<br />
Porcentagem %<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Compressor Facho Manzua Mergulho Re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
espera<br />
Arte <strong>de</strong> pesca<br />
Figura 21 - Artes <strong>de</strong> pesca dos lagosteiros <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, entrevistados entre<br />
julho/07 e outubro/07.<br />
O barco a motor é utilizado por 57% dos pescadores, 41% pescam a nado, 35% usam<br />
barcos à vela e 16% barco a remo. Vários lagosteiros utilizam mais <strong>de</strong> uma forma <strong>de</strong> acesso aos<br />
locais <strong>de</strong> pesca, ou seja, alguns mesmo tendo motor nos barcos, usam vela para economizar<br />
combustível e praticam mergulho livre. A maioria trabalha em barcos <strong>de</strong> parceria (47%) e <strong>de</strong><br />
terceiros (12%), alegando a dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> financiamento para aquisição <strong>de</strong> barco próprio,<br />
mesmo assim 41% possuem seus próprios barcos, os quais obtêm maior lucro.
38<br />
Entre os apetrechos <strong>de</strong> pesca fabricados pelos lagosteiros, os principais foram<br />
bicheiros, re<strong>de</strong>s (Figura 22) e covos (Figura 23 a e b). Com relação à aquisição <strong>de</strong>stes<br />
instrumentos, 70% dos pescadores os fabricam para uso próprio, enquanto 30% adquirem <strong>de</strong><br />
terceiros. No entanto, a manutenção é <strong>de</strong> responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> pescador, seja ele dono,<br />
parceiro ou apenas empregado do barco.<br />
Figura 22 - Pescador confeccionando re<strong>de</strong> (Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Figura 23 - Filho <strong>de</strong> pescador (a) e pescador (b) fabricando covo (Foto:Patricia Oliveira, 2007).<br />
Em se tratando <strong>de</strong> legislação, a maioria dos pescadores (76%) afirma que o <strong>de</strong>feso não<br />
funciona, e unanimemente atribuem a falta <strong>de</strong> fiscalização por parte do po<strong>de</strong>r público e uma
39<br />
pequena parte <strong>de</strong>les cita o <strong>de</strong>srespeito por parte dos próprios pescadores como responsáveis pela<br />
ineficácia do <strong>de</strong>feso.<br />
Com relação ao <strong>de</strong>stino <strong>da</strong> lagosta, 97% pescam para consumo e 62% também a<br />
comercializam, <strong>de</strong>stes 91% ven<strong>de</strong>m a intermediários, localmente conhecidos por pombeiros<br />
(Figura 24). A ineficácia <strong>da</strong>s infra-estruturas <strong>de</strong> armazenagem, processamento e<br />
comercialização <strong>da</strong> lagosta na região colocam o pescador diante <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong><br />
intermediação, obrigando-os a repassar o produto o mais rápido possível, submetendo-se aos<br />
preços estabelecidos pelos pombeiros. De modo semelhante em Aquiraz-CE, a maioria dos<br />
pescadores, cerca <strong>de</strong> 73,5%, repassam sua produção ao atravessador, 25,2% são vendidos para o<br />
consumidor diretamente na praia ou nas barracas, e o restante para o consumo próprio<br />
(RODRIGUES & MAIA, 2007).<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
Porcentagem %<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Ao dono do<br />
barco ou<br />
empresário<br />
A intermediários A comerciantes<br />
ou pombeiros ou feirantes<br />
Diretamente ao<br />
consumidor<br />
A bares e<br />
restaurantes<br />
Figura 24 - Destino <strong>da</strong>s lagostas captura<strong>da</strong>s pelos pescadores <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha,<br />
entrevistados entre julho/07 e outubro/07.<br />
Não existe diferença com relação à escolha <strong>da</strong> espécie pesca<strong>da</strong>. P. laevicau<strong>da</strong> (100%),<br />
P. argus (95%) e P. echinatus (92%) são captura<strong>da</strong>s em proporções semelhantes pelos<br />
pescadores que praticam o mergulho livre, nas praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha.<br />
A maioria dos pescadores relata que na lua nova aumenta a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> indivíduos<br />
capturados, alegam que “na lua cheia a lagosta vê a re<strong>de</strong> e não emalha, na noite <strong>de</strong> escuro ela<br />
vai mariscar e fica presa na re<strong>de</strong>”. Eles afirmam que o verão é o período <strong>de</strong> maior captura <strong>de</strong><br />
lagostas, atribuem tal fato à transparência <strong>da</strong> água e menor influência <strong>de</strong> ventos.
40<br />
Quando questionados sobre o interesse em participar do cultivo <strong>de</strong> lagostas, todos os<br />
entrevistados foram favoráveis alegando a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> aumentar a ren<strong>da</strong> familiar, pois com o<br />
cultivo aumentaria o lucro sem a <strong>de</strong>pendência <strong>da</strong>s condições climáticas. Cerca <strong>de</strong> 30% relataram<br />
que seria mais fácil cultivar do que pescar e 8% têm consciência que, <strong>de</strong>sta forma, o ambiente<br />
seria melhor preservado.<br />
Diante <strong>de</strong>sta situação nota-se a importância <strong>da</strong> implantação <strong>de</strong> projetos que possam<br />
beneficiar os pescadores <strong>de</strong>sta área, tendo como principal objetivo a criação <strong>de</strong> lagosta em<br />
cativeiro.<br />
3.5 CONCLUSÕES<br />
Na comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> pescadores artesanais que atuam na captura <strong>da</strong> lagosta nas praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha ocorre predomínio <strong>de</strong> pescadores jovens, solteiros, que pescam há menos <strong>de</strong><br />
10 anos, trabalham <strong>de</strong> 3 a 4 dias por semana <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo <strong>da</strong>s condições climáticas, têm ren<strong>da</strong><br />
mensal média <strong>de</strong> um salário mínimo que é complementa<strong>da</strong> com ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s paralelas como<br />
construção civil e comércio informal. Estes lagosteiros praticam mais <strong>de</strong> uma arte <strong>de</strong> captura,<br />
como o mergulho livre, a re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera e o covo e a maioria fabrica seus próprios instrumentos<br />
<strong>de</strong> pesca. Eles possuem consciência <strong>de</strong> que a atual metodologia emprega<strong>da</strong> para a captura <strong>da</strong><br />
lagosta contribui <strong>de</strong> forma direta para a sua crescente escassez, assim como eles reconhecem a<br />
ineficácia do <strong>de</strong>feso e a atribuem à falta <strong>de</strong> fiscalização por parte do po<strong>de</strong>r público e ao<br />
<strong>de</strong>srespeito por parte dos próprios pescadores. Eles afirmam que o preço <strong>da</strong> lagosta é<br />
estabelecido pelos intermediários, que têm maior lucro <strong>de</strong>vido à ineficácia <strong>da</strong> infra-estrutura na<br />
região.<br />
A comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> lagosteiros estu<strong>da</strong><strong>da</strong> caracteriza-se pela atual diminuição no número<br />
<strong>de</strong> indivíduos que fazem uso do recurso, tanto <strong>de</strong>vido à modificação na arte <strong>de</strong> pesca exigi<strong>da</strong><br />
pela legislação, quanto à ausência <strong>de</strong> políticas públicas relativas à sustentabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
lagosteira no local.
41<br />
3.6 RECOMENDAÇÕES<br />
<br />
É importante i<strong>de</strong>ntificar os <strong>de</strong>tentores <strong>de</strong> conhecimento ecológico local na comuni<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
para estabelecer regimes <strong>de</strong> manejo, pois gran<strong>de</strong> parte dos pescadores <strong>de</strong>monstra uma<br />
forma <strong>de</strong> controle sobre os recursos naturais basea<strong>da</strong> no conhecimento acumulado e,<br />
sobretudo, vincula<strong>da</strong>s às dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s do dia-a-dia e à pressão direta e imediata pela<br />
subsistência.<br />
<br />
A educação formal precisa ser o elemento emergente no processo <strong>de</strong> transformação para<br />
uma organização social entre esses pescadores, pois sua ausência na atual conjuntura<br />
política e econômica faz-se sentir quando na avaliação dos custos <strong>de</strong> produção e nos<br />
níveis <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>de</strong>ssas comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s.<br />
<br />
Torna-se imprescindível o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> projetos ou programas que mobilizem a<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> na questão “organização e gestão do conhecimento sobre a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
pesqueira”, por parte <strong>da</strong>s associações ou cooperativas <strong>de</strong> pescadores, visando o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento socioeconômico e cultural, baseado no conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
sustentável.<br />
<br />
Em razão do baixo nível <strong>de</strong> ren<strong>da</strong> <strong>da</strong> categoria, há necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> se oferecer<br />
financiamentos mais a<strong>de</strong>quados, tanto em relação ao volume e acesso aos recursos,<br />
quanto a melhores condições <strong>de</strong> pagamento. Tal apoio permitiria um sensível incremento<br />
<strong>da</strong> produção e melhoria nas condições <strong>de</strong> trabalho, pois o financiamento po<strong>de</strong>ria<br />
possibilitar-lhes a compra <strong>de</strong> motores eficientes, tornando a captura mais eficaz,<br />
evitando a distribuição <strong>da</strong> ren<strong>da</strong> por não pescadores, refletindo-se na aumento <strong>da</strong> ren<strong>da</strong>.<br />
<br />
Promover políticas a<strong>de</strong>qua<strong>da</strong>s <strong>de</strong> melhoria <strong>de</strong> ren<strong>da</strong>, que privilegiem alternativas <strong>de</strong><br />
trabalho, principalmente no período do <strong>de</strong>feso, quando a pesca é proibi<strong>da</strong>.<br />
<br />
Verifica-se ain<strong>da</strong> a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> intensificar trabalhos <strong>de</strong> educação ambiental nas<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s pesqueiras voltados para o pescador artesanal, capazes <strong>de</strong> conscientizar e<br />
instrumentalizar os mesmos, visando à utilização dos recursos naturais <strong>de</strong> forma<br />
responsável, garantindo-lhes a sustentabili<strong>da</strong><strong>de</strong> e promovendo a melhoria <strong>da</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s pesqueiras.
42<br />
3.7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
1. ARAGÃO, J. A. N.; DIAS-NETO, J. - Consi<strong>de</strong>rações sobre or<strong>de</strong>namento pesqueiro e sua<br />
aplicação no Brasil. Congresso Brasileiro <strong>de</strong> Engenharia <strong>de</strong> Pesca. Anais. Fortaleza:<br />
AEP/CE, p. 396-418, 1988.<br />
2. BEZERRA, S. N. Manutenção e transporte <strong>de</strong> Lagostas. (Série Meio Ambiente em<br />
Debate), v. 26, Brasília, 1998, 68p.<br />
3. BIOLOGY, Department of. The University of North Carolina at Chapel Hill. The Life<br />
History of the Spiny Lobster. Disponível em:<br />
http://www.unc.edu/<strong>de</strong>pts/oceanweb/lobsters/lobnathist.html . Acesso em: 29 jan 2008.<br />
4. BOOTH, J. D.; KITTAKA, J. Growout of juvenile spiny lobster. (Edited). Spiny lobster:<br />
management. Oxford: Fishing news books. chapter. 27, p. 424-445, 1994.<br />
5. BOOTH, J. D.; KITTAKA, J. Spiny lobster growout. In: PHILLIPS, B. F., KITTAKA, J.<br />
(Edited). Spiny lobster: fisheries and culture. Oxford: Fishing news books. 2º. edition,<br />
chapter 30, p. 556-585, 2000.<br />
6. BOWEN, B. K. - Spiny lobster fisheries management. In: The biology management of<br />
lobsters. Eds. J. Stanley Cobb and Bruce F. Phillips, Aca<strong>de</strong>mic Press, New York, p. 243<br />
– 264, 1980, 390p.<br />
7. CARDOSO, R. O. O Trabalho do Antropólogo. 2 ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo<br />
Editora UNESP, 2000. 220p.<br />
8. CASTRO E SILVA, S. M. M. Pescarias <strong>de</strong> lagosta no Estado do Ceará. Dissertação<br />
(Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia <strong>de</strong> Pesca) - Departamento <strong>de</strong><br />
Engenharia <strong>de</strong> Pesca, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 1998. 169p.<br />
9. CASTRO E SILVA, S. M. M., ROCHA, C. A. S. Embarcações, aparelhos e métodos <strong>de</strong><br />
pesca utilizados nas pescarias <strong>de</strong> lagostas no Estado do Ceará. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do<br />
Mar. Fortaleza, v. 32, p. 7-27, agosto, 1999.<br />
10. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 1999.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2000.<br />
11. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 2000.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2001.
43<br />
12. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 2001.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2002.<br />
13. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 2002.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2003.<br />
14. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 2003.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2004.<br />
15. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil – 2004.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2005.<br />
16. CEPENE, Boletim estatístico <strong>da</strong> pesca marítima e estuarina do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil - 2005.<br />
Centro <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> e Gestão <strong>de</strong> Recursos Pesqueiros do Litoral Nor<strong>de</strong>ste. Taman<strong>da</strong>ré,<br />
PE, 2006.<br />
17. COIMBRA, D. B. A Evolução <strong>da</strong> Gestão Ambiental no Ceará: A Motivação e os<br />
Condicionantes <strong>da</strong>s Maiores Indústrias Exportadoras. Dissertação (Mestrado em<br />
Administração <strong>de</strong> Empresas) - Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Fortaleza, Fortaleza, 2004. 142p.<br />
18. CONCEIÇÃO, R. N. L. Biometria, genética-bioquímica e eco-fisíologia <strong>de</strong> pós-larvas e<br />
juvenis <strong>da</strong> lagosta Panulirus argus (LATREILLE, 1804)(CRUSTACEA,<br />
DECAPODA). Dissertação (Mestrado em Engenharia <strong>de</strong> Pesca) – Facul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Biologia, Centro <strong>de</strong> Investigaciones Marinas, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> La Habana. La Habana –<br />
Cuba. 1993. 108p.<br />
19. COUTINHO, P. N & MORAIS, J.O. Distribución <strong>de</strong> los sedimentos em la plataforma<br />
continental norte Y nor<strong>de</strong>ste <strong>de</strong>l Brasil. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar, Fortaleza, 10<br />
(1): 79-90, 1970.<br />
20. FAO Fisheries Department Fishery Information, Data and Statistics Unit. FISHSTAT PIus:<br />
Universal software for fishery statistical time series. Version 2.3. 2007<br />
21. FEDERAÇÃO <strong>da</strong>s Indústrias do Estado do Ceará – FIEC & Centro Internacional <strong>de</strong><br />
Negócios – CIN Especial Setorial – Lagosta. Fortaleza. Dezembro/2006. 15p.<br />
22. FONTELES-FILHO, A. A. & GUIMARÃES, M. S. C. Ciclos <strong>de</strong> produção e capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
carga dos estoques <strong>de</strong> lagostas do gênero Panulirus na plataforma continental do Estado<br />
do Ceará, Brasil. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar. Fortaleza, v. 32, p. 29-38, agosto,<br />
1999.
44<br />
23. FONTELES-FILHO, A. A. State of the lobster fishery in North-east Brazil. In: PHILLIPS,<br />
B. F., COBB, J. S., KITTAKA, J. (Edited). Spiny lobster: management. Oxford:<br />
Fishing News Books. Chapter 7, p. 108-118, 1994,<br />
24. FONTELES-FILHO, A. A. Diagnóstico e perspectivas do setor pesqueiro artesanal do<br />
Estado do Ceará. In: FONTELES-FILHO (Ed.). Anais do Workshop Internacional<br />
sobre a Pesca Artesanal. Fortaleza: Imprensa Universitária <strong>da</strong> UFC, p. 7-17, 1997.<br />
25. FONTELES-FILHO, A.A., Spatial distribution of the lobster species Panulirus argus and<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong> in northern and northeastern Brazil in relation to the distribution of<br />
fishing effort. Ciência e Cultura, São Paulo, 49 (3): 172-176, 1997.<br />
26. FORD, R. F. - Introduction. pp. 03 - 09, In: The biology management of lobsters. Eds. J.<br />
STANLEY COBB, BRUCE F. PHILLIPS, Aca<strong>de</strong>mic Press, New York, 1980.<br />
27. GALDINO, J. W. A intermediação e os problemas socio-econômicos no <strong>de</strong>feso <strong>da</strong> pesca<br />
<strong>de</strong> lagosta em Redon<strong>da</strong>, Icapuí (CE). Dissertação (Mestrado em Economia Rural) –<br />
Departamento <strong>de</strong> Economia Agrícola, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza,<br />
1995. 134p<br />
28. GIL, A. C. Métodos e Técnicas <strong>de</strong> <strong>Pesquisa</strong> Social. 5ª ed. São Paulo. Atlas. 1999.<br />
29. GUIMARÃES, M. S. S. Aspectos bioecológicos, infraestrutura produtiva e diagnóstico<br />
sócio-econômico <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong> lagosta no Estado do Ceará, Brasil. Dissertação<br />
(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará,<br />
UFC, Fortaleza, 1999. 105 p.<br />
30. HARPER, D. E. Trends in the spiny lobster commercial fishery of Flori<strong>da</strong>, 1960-1990. Natl.<br />
Mar. Fish. Ser. Rep. No. MIN-91/92-01, 1991. 29p.<br />
31. IBAMA. Relatório <strong>da</strong> reunião do grupo permanente <strong>de</strong> estudos <strong>da</strong> lagosta – GPE <strong>da</strong><br />
lagosta. Taman<strong>da</strong>ré: IBAMA/CEPENE. 1994. 232p.<br />
32. IBAMA. Relatório <strong>da</strong> reunião do grupo permanente <strong>de</strong> estudos <strong>da</strong> lagosta – GPE <strong>da</strong><br />
lagosta. Taman<strong>da</strong>ré: IBAMA/CEPENE. 1993. 75p<br />
33. IBGE. Anuário estatístico. 2000.<br />
34. IGARASHI, M. A. Engor<strong>da</strong> <strong>de</strong> lagosta. Fortaleza: Edições SEBRAE, 1996,.40p.<br />
35. IGARASHI, M. A. Nota técnica sobre o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> juvenis recentes <strong>de</strong> lagosta<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong> até o tamanho comercial. Boletim Técnico-Cientifíco do<br />
CEPENE. Taman<strong>da</strong>ré. v. 8, n. 1, p. 297-301, 2000.<br />
36. IGARASHI, M. A.; KITTAKA, J.; KAWAHARA, E. Phyllosoma culture with inoculation<br />
of marine bacteria. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, Kan<strong>da</strong><br />
Jinbo-cho, v. 56, n. 11, p. 1781-1786, 1990.
45<br />
37. IGARASHI, M. A.; KITTAKA, J. Water quality and microflora in the culture water of<br />
phyllosomas. In: PHILLIPS, B. F., J.; KITTAKA, J. (Eds.). Spiny lobster: fisheries and<br />
Culture. London: Fishing News Books, Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK,<br />
p. 533-555, 2000.<br />
38. IGARASHI, M. A.; KOBAYASHI, R. K. Desenvolvimento <strong>de</strong> lagostas Panulirus argus <strong>de</strong><br />
puerulus ao tamanho comercial. Boletim Técnico-Cientifíco do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré,<br />
v. 5, n. 1, p. 147-151, 1997.<br />
39. IGARASHI, M. A. & MAGALHÃES NETO, E. O. Estratégia para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong><br />
aqüicultura no Nor<strong>de</strong>ste Brasileiro. Revista Econômica do Nor<strong>de</strong>ste, Fortaleza, v. 32, n.<br />
2, p. 148-165, abr-jun. 2001.<br />
40. IVO, C. T. C. & PEREIRA, J. A. Sinopse <strong>da</strong>s principais observações sobre as lagostas<br />
Panulirus argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), captura<strong>da</strong>s em águas<br />
costeiras do Brasil, entre os estados do Amapá e do Espírito Santo. Boletim Técnico-<br />
Cientifíco do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré, v. 4, n. 1, p. 7-94. 1996.<br />
41. IVO, C. T. C. Caracterização populacional <strong>da</strong> lagosta Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille),<br />
captura<strong>da</strong> nas regiões Nor<strong>de</strong>ste e Su<strong>de</strong>ste do Brasil. Arquivo <strong>de</strong> Ciências do Mar.<br />
Fortaleza, v. 33, p. 85-92, 2000.<br />
42. JESUS, D.E. – Código Penal Anotado. Ed. Saraiva, 5 a edição amplia<strong>da</strong> e atualiza<strong>da</strong>, São<br />
Paulo/SP, 1995.<br />
43. KITTAKA, J. Larval rearing. In Spiny lobster management. Edited by B. F. Phillips, J. S.<br />
Cobb, and J. Kittaka, Blackwell Scientific Press, Oxford, p. 402-423, 1994.<br />
44. KITTAKA, J., BOOTH, J. D. Prospectus for aquaculture. In: PHILLIPS, B. F., KITTAKA,<br />
J. (Edited). Spiny lobster: fishing and culture. 2º. edition, chapter 25, p. 465-473,<br />
2000.<br />
45. KITTAKA, J., BOOTH, J. D. Prospectus for aquaculture. In: PHILLIPS, B. F., COBB, J. S.,<br />
KITTAKA, J. (Edited). Spiny lobster: management. Oxford: Fishing news books.<br />
chapter 23, p. 365-373, 1994.<br />
46. LELLIS, W. A. Spiny lobster, a mariculture candi<strong>da</strong>te for the Caribbean? World<br />
aquaculture. v. 22, n. 1, p. 60-63. 1991.<br />
47. LIPICIUS, R. N. & COBB, J. S. Ecology and Fishery Biology of Spiny Lobsters. In:<br />
PHILLIPS, B. F.; COBB, J. S.; KITTAKA, J. (Eds.). Spiny lobster management.<br />
Oxford: Fishing News Books. p. 1 - 30. 1994.<br />
48. LIMA-SILVA, Lidyane. Estudo <strong>da</strong> Viabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> Produção em Cativeiro do Peixe Ariacó<br />
(Lutjanus synagris): Proposta <strong>de</strong> Conservação Marinha e <strong>de</strong> Desenvolvimento Local
46<br />
para os Pescadores <strong>da</strong> Praia <strong>da</strong> Penha – PB. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento<br />
e Meio Ambiente – PRODEMA) – Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Paraíba, <strong>UFPB</strong>, João Pessoa,<br />
2007. 106p.<br />
49. LINS-OLIVEIRA, J. E., VASCONCELOS, J. A., REY, H. A problemática <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong><br />
lagostas do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Boletim Técnico Científico do CEPENE -<br />
Taman<strong>da</strong>ré/PE, n. 1, v. 1, 1993.<br />
50. LOPES, I. A. C. Memória Feminina: cultura e socie<strong>da</strong><strong>de</strong> na comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> Penha.<br />
Monografia <strong>de</strong> Graduação. Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Paraíba. 2000. 63p.<br />
51. MDIC - ALICEWEB. Estudo em Comercio Exterior: setor lagosta. Disponível em:<br />
http://aliceweb.<strong>de</strong>senvolvimento.gov.br/<strong>de</strong>fault.asp. Acesso em: 5 ago. 2006.<br />
52. MELO, R.S. Planejamento Turístico-recreativo dos Ambientes Recifais <strong>da</strong>s Praias do<br />
Seixas, Penha e Arraial (PB). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio<br />
Ambiente – PRODEMA) – Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Paraíba, João Pessoa, 2006. 160p.<br />
53. MENEZES, J.T.B. Distribuição especial <strong>da</strong> abundância <strong>de</strong> lagostas do gênero Panulirus,<br />
no Nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Monografia (Bacharel em Engenharia <strong>de</strong> Pesca) – Departamento<br />
<strong>de</strong> Engenharia <strong>de</strong> Pesca, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 1992. 53p.<br />
54. MILARÉ, E. – Legislação Ambiental do Brasil, Edições APMP, São Paulo/SP, 1991.<br />
55. MONTENEGRO, S.C.S.; NORDI, N. & MARQUES, J.G. Contexto cultural e econômico<br />
<strong>da</strong> produção e ocupação dos espaços <strong>de</strong> pesca pelos pescadores <strong>de</strong> Pitu (Macrobrachiu<br />
carcinus) em um trecho do baixo São Francisco, Alagoas-Brasil. Interciência, Caracas,<br />
v. 26, n. 11, p. 535-540, 2001.<br />
56. MORGAN, G. R. Population dynamics of spiny lobster, in Phillips, B. F. & Cobb, J. S.<br />
(eds.), The biology and management of lobster, vol 2. Aca<strong>de</strong>mic Press, New York, p.<br />
189-217, 1980.<br />
57. NOMURA, H. Criação e Biologia <strong>de</strong> Animais Aquáticos. São Paulo: Nobel, 1977.<br />
58. OGAWA, M., G.H.F. VIEIRA & M.C.C. NORONHA & M.I.M. ALVES. Estudo sobre a<br />
conservação <strong>de</strong> cau<strong>da</strong>s <strong>de</strong> lagosta Panulirus argus (Latreille). Arquivo <strong>de</strong> Ciência do<br />
Mar, Fortaleza, v. 10, n.2, p.159-163, 1970.<br />
59. PAIVA, M. P., Levantamento do estado <strong>da</strong> arte <strong>da</strong> pesquisa dos recursos vivos<br />
marinhos do Brasil: Recursos Pesqueiros - Programa REVIZEE. MMA, 1997. 241p.<br />
60. PERDIGÃO, N. B.; MENESES, A. C. S.; CARDONHA, A. M. S. & OGAWA, M. Estudo<br />
<strong>da</strong> barriga-preta em cau<strong>da</strong>s <strong>de</strong> lagosta do gênero Panulirus White. II - Incidência <strong>de</strong><br />
barriga-preta e preservação <strong>de</strong> lagostas a bordo. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar,<br />
Fortaleza-CE, v. 23, p. 51-56, 1984.
47<br />
61. QUINAMO, T.S. Pesca Artesanal e Meio Ambiente em Áreas <strong>de</strong> Manguezais: o caso <strong>de</strong><br />
Itapissuma, no complexo estuarino-costeiro <strong>de</strong> Itamaracá, Pernambuco. Dissertação<br />
(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA) – Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong><br />
Paraíba, <strong>UFPB</strong>, João Pessoa, 2006. 183p.<br />
62. RAHMAN, K. & SRIKRISHNADHAS, B. The potential for spiny lobster culture in India.<br />
Infofish International, 1, 94, 51-53. 1994<br />
63. RESENDE, E. K. A pesca em água interiores. 2006. Disponível em:<br />
http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online. Acesso em: 15 maio 2006<br />
64. RODRIGUES, R. A. & MAIA, L. P. Caracterização sócio-econômica <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pescadores do município <strong>de</strong> Aquiraz-Ceará. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar, Fortaleza-<br />
CE, v. 40, v. 1, p. 16-23, 2007.<br />
65. SANTIAGO, A. P. Instars iniciais <strong>da</strong> lagosta Panulirus echinatus Smith, 186<br />
(Decapo<strong>da</strong>: Palinuri<strong>da</strong>e), cultivados em laboratório. Dissertação (Mestrado em<br />
Recursos Pesqueiros e Engenharia <strong>de</strong> Pesca) Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC,<br />
Fortaleza, 2001. 162p.<br />
66. SANTOS, C.H.A. Engor<strong>da</strong> <strong>de</strong> juvenis recentes <strong>da</strong> lagosta espinhosa Panulirus<br />
laevicau<strong>da</strong> (Latreille, 1817) alimentados com ração comercial para camarão<br />
marinho e os moluscos Mytella falcata e Perna perna, em condições <strong>de</strong> laboratório.<br />
Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia <strong>de</strong> Pesca) Universi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 2006, 122p.<br />
67. SANTOS, F. C. V. Cultivo <strong>de</strong> camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone, 1931),<br />
alimentos com rejeito <strong>de</strong> pesca. Monografia (Bacharel em Engenharia <strong>de</strong> Pesca<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 2000. 22p.<br />
68. SHIODA, K.; IGARASHI, M. A.; KITTAKA, J. Control of water quality in the culture of<br />
early - stage phyllosomas of Panulirus japonicus. Bulletin of Marine Science, USA, v.<br />
61, n.1, p.177-189, 1997.<br />
69. SILVA, M.C.; OLIVEIRA, A.S. & NUNES, G.Q. Caracterização socioeconômica <strong>da</strong> pesca<br />
artesanal no município <strong>de</strong> Conceição do Araguaia, estado do Pará. Amazônia: Ci &<br />
Desenv., Belém, v.2, n.4, jan/jul, p.37-51, 2007.<br />
70. THOMPSON, P. A Voz do Passado: história oral. São Paulo: Paz e Terra, 1992.<br />
71. VASCONCELOS, E.M.S.; Lins, J.E.; Matos, J.A.; Junior, W.; Tavares, M.M. Perfil<br />
socioeconômico dos produtores <strong>da</strong> pesca artesanal marítima do estado do Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Norte. Boletim Técnico do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré, v.11, n.1, p. 277-292, 2003.
Capítulo II: CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DAS LAGOSTAS DO<br />
GÊNERO Panulirus NOS AMBIENTES RECIFAIS DA PRAIA DO SEIXAS<br />
E DA PENHA - PB<br />
48
49<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
1.1 A LAGOSTA DO GÊNERO Panulirus<br />
As lagostas espinhosas (spiny lobster) são crustáceos que pertencem à Família<br />
Palinuri<strong>da</strong>e, Or<strong>de</strong>m Decapo<strong>da</strong>, <strong>de</strong> alto valor comercial, que vêm sofrendo intensa pressão pela<br />
frota lagosteira. A Família Palinuri<strong>da</strong>e engloba 47 espécies (HOLTHUIS, 1991), <strong>da</strong>s quais<br />
aproxima<strong>da</strong>mente 33 sustentam a pesca comercial (WILLIAMS, 1988).<br />
A lagosta do gênero Panulirus possui uma ampla distribuição, sendo encontra<strong>da</strong> no<br />
México, Caribe, Fernando <strong>de</strong> Noronha e costa brasileira. As espécies P. argus, P. laevicau<strong>da</strong> e<br />
P. echinatus ocorrem na costa brasileira (CARVALHO et al., 1999), sendo P. argus (lagosta <strong>de</strong><br />
cabo-ver<strong>de</strong>) e P. laevicau<strong>da</strong> (lagosta vermelha) as mais comercializa<strong>da</strong>s, na região nor<strong>de</strong>ste.<br />
Estes animais possuem um ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> longo, com extensas fases larvais, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo<br />
<strong>da</strong> espécie po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> aproxima<strong>da</strong>mente um ano, período em que estão sujeitas a altas taxas <strong>de</strong><br />
pre<strong>da</strong>ção. Apesar <strong>da</strong>s fêmeas do gênero Panulirus produzirem milhares <strong>de</strong> ovos, a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> indivíduos que atinge a fase adulta é muita baixa. As fases larvais (filosomas) são pre<strong>da</strong><strong>da</strong>s<br />
por peixes pelágicos (BAISRE & RUIZ DE QUEVEDO, 1964), as pós-larvas também servem<br />
<strong>de</strong> alimento a peixes pelágicos, principalmente espécies noturnas (OLSEN & KOBLICK, 1975;<br />
HERRNKIND et al., 1994), enquanto as fases bentônicas juvenis sofrem pre<strong>da</strong>ção por tubarões,<br />
raias, peixes ósseos, polvos e caranguejos (SMITH & HERRNKIND, 1992; MINTZ et al., 1994) e<br />
os juvenis maiores pelo homem. Após adultos, ain<strong>da</strong> sofrem pre<strong>da</strong>ção por tubarões, raias, peixes,<br />
golfinhos e tartarugas, além do homem. Dentre os milhares <strong>de</strong> indivíduos que eclo<strong>de</strong>m, a maioria é<br />
retira<strong>da</strong> <strong>da</strong>s ca<strong>de</strong>ia alimentar marinha, não atingindo a fase adulta.<br />
Durante o dia, as lagostas permanecem em seu abrigo (cavi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> rochas, corais ou<br />
emaranhados <strong>de</strong> algas) com o corpo oculto e as antenas estendi<strong>da</strong>s. À noite, saem em busca <strong>de</strong><br />
alimento, retornando ao abrigo pela manhã. Quando ameaça<strong>da</strong>s, as lagostas dobram o abdômen<br />
com a na<strong>da</strong><strong>de</strong>ira cau<strong>da</strong>l aberta em leque, ao mesmo tempo em que mantêm as patas e antenas<br />
orienta<strong>da</strong>s para a frente, facilitando, assim, um rápido <strong>de</strong>slocamento (OLIVEIRA, 2001).<br />
Segundo Brusca (2007) a lagosta possui um abdômen achatado, chamado <strong>de</strong> pléon,<br />
formado por segmentos, os pleonitos, e é seguido por uma placa ou lobo pós-segmentar<br />
<strong>de</strong>nomina<strong>da</strong> somito anal ou telson, em forma <strong>de</strong> leque cau<strong>da</strong>l, on<strong>de</strong> se localiza o ânus; carapaça<br />
cilíndrica bem <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong> que recobre a câmara branquial. As brânquias são do tipo<br />
tricobrânquias (possui uma série <strong>de</strong> filamentos branquiais não ramificados que irradiam a partir do<br />
eixo central). Possuem três pares <strong>de</strong> maxilípo<strong>de</strong>s, e cinco pares <strong>de</strong> pereópo<strong>de</strong>s. São marinhas e
50<br />
encontra<strong>da</strong>s em uma varie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> habitats em to<strong>da</strong> a região tropical. Produzem som mediante atrito<br />
<strong>de</strong> um processo (o plectro) na base <strong>da</strong> antena contra uma superfície áspera na cabeça. Os embriões<br />
são incubados nos pleópo<strong>de</strong>s <strong>da</strong>s fêmeas.<br />
O ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s lagostas é bastante longo. Os filosomas sofrem 11 mu<strong>da</strong>s que se<br />
prolongam <strong>de</strong> 9 a 12 meses, aumentando <strong>de</strong> aproxima<strong>da</strong>mente <strong>de</strong> 0,5 para 12 mm o comprimento<br />
<strong>de</strong> carapaça (LEWIS, 1951; KITTAKA, 1994), as pós-larvas passam por um período <strong>de</strong> 7 a 21 dias<br />
(FIELD & BUTLER IV 1994; HERRNKIND et al., 1994), e a fase juvenil, alguns anos.<br />
Indivíduos <strong>de</strong>ste gênero efetuam dois tipos <strong>de</strong> migração: a trófica, quando procuram áreas<br />
com maiores concentrações <strong>de</strong> alimento, realizando movimentos aleatórios, paralelos à costa, e a<br />
genética, na busca por áreas favoráveis à reprodução, realizando movimentos direcionais, à procura<br />
<strong>de</strong> locais mais profundos e afastados <strong>da</strong> costa (FONTELES-FILHO & IVO, 1980).<br />
A reprodução <strong>da</strong>s lagostas ocorre por acasalamento emparelhado do macho com a<br />
fêmea, numa posição frontal, com a <strong>de</strong>posição <strong>da</strong> massa espermatofórica sobre o esterno <strong>da</strong><br />
fêmea. Os óvulos fecun<strong>da</strong>dos ficam a<strong>de</strong>ridos à parte ventral do abdômen <strong>da</strong> fêmea, através dos<br />
pleópodos, característica responsável pela alta taxa <strong>de</strong> fertilização e que, em parte, explica a<br />
gran<strong>de</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> resistência <strong>da</strong>s populações <strong>de</strong> lagostas à pre<strong>da</strong>ção e à pesca. As pós-larvas<br />
planctônicas, com cerca <strong>de</strong> 12 meses <strong>de</strong> i<strong>da</strong><strong>de</strong>, são leva<strong>da</strong>s para a zona costeira por correntes<br />
marinhas, on<strong>de</strong> assumem um habitat bentônico e se <strong>de</strong>senvolvem até atingir o estágio juvenil.<br />
Num processo <strong>de</strong> recrutamento, que tem a sua maior intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> durante os meses <strong>de</strong> abril a<br />
agosto, os jovens se dispersam gradualmente, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as áreas costeiras em direção às áreas <strong>de</strong><br />
pesca propriamente ditas, mais afasta<strong>da</strong>s <strong>da</strong> costa e mais profun<strong>da</strong>s, on<strong>de</strong> se tornam adultos e<br />
<strong>de</strong>senvolvem capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> reprodutiva. (LOURENÇO, 2006)<br />
As lagostas do gênero Panulirus têm <strong>de</strong>sova parcela<strong>da</strong>, <strong>de</strong>ste modo, são encontrados<br />
indivíduos em reprodução durante todos os meses do ano, <strong>de</strong>vido a essa característica<br />
reprodutiva e à gran<strong>de</strong> extensão <strong>da</strong> área <strong>de</strong> distribuição. No entanto, existe uma época <strong>de</strong> maior<br />
intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> reprodutiva: em janeiro-abril e setembro-outubro (P. argus), em fevereiro-maio (P.<br />
laevicau<strong>da</strong>) (SOARES & CAVALCANTE, 1985). O período <strong>de</strong> tempo necessário para que a<br />
totali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s fêmeas <strong>de</strong> uma coorte <strong>de</strong>sove equivale a 3,3 meses (FONTELES-FILHO, 1979).<br />
Estas espécies apresentam gran<strong>de</strong> fecundi<strong>da</strong><strong>de</strong>, na lagosta P. argus se manifesta o<br />
maior valor <strong>da</strong> fecundi<strong>da</strong><strong>de</strong> relativa (630 ovos/grama) em relação ao <strong>da</strong> espécie P. laevicau<strong>da</strong><br />
(597 ovos/grama) (FONTLES-FILHO, 1992). O tamanho <strong>da</strong>s fêmeas na primeira maturi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
sexual foi estimado em 20,1 cm (P. argus) e 17,0 cm (P. laevicau<strong>da</strong>) <strong>de</strong> comprimento total.<br />
As lagostas apresentam um dimorfismo sexual, <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>, basicamente pela condição<br />
reprodutiva, assim, os machos têm um maior comprimento do terceiro par <strong>de</strong> pereópo<strong>de</strong>s (utilizado
51<br />
no acasalamento) e um maior cefalotórax. As fêmeas apresentam abdômen maior, com a função <strong>de</strong><br />
carregar externamente a massa <strong>de</strong> ovos a<strong>de</strong>ri<strong>da</strong> aos endopoditos dos pleiópodos, característica que<br />
as torna economicamente mais importantes, pois sua cau<strong>da</strong> tem 2,6% <strong>de</strong> peso a mais que a dos<br />
machos. Estes têm menor comprimento total, mas maior peso (biomassa) <strong>de</strong>vido ao maior<br />
comprimento do cefalotórax, que correspon<strong>de</strong> a 2/3 do peso individual (PAIVA, 1960; SILVA et<br />
al., 1994).<br />
Segundo pesquisa bibliográfica <strong>de</strong> Soares & Peret (1998), diversos autores que<br />
estu<strong>da</strong>ram a relação fecundi<strong>da</strong><strong>de</strong>/comprimento <strong>da</strong> lagosta no Nor<strong>de</strong>ste do Brasil são unânimes<br />
em afirmar a existência <strong>de</strong> uma correlação positiva entre essas variáveis, indicando que as<br />
fêmeas maiores produzem maior número <strong>de</strong> óvulos e, também, incubam maior número <strong>de</strong> ovos<br />
do que fêmeas menores. Assim, fêmeas <strong>de</strong> maior porte são capazes <strong>de</strong> contribuir mais<br />
efetivamente para a recuperação dos estoques.<br />
O caráter do ciclo longo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> funciona como importante mecanismo <strong>de</strong> autoregulação,<br />
pela capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> que têm as diversas coortes <strong>de</strong> recompor a população através do<br />
elevado potencial reprodutivo. Em termos anuais, a taxa <strong>de</strong> mortali<strong>da</strong><strong>de</strong> total e a taxa <strong>de</strong><br />
explotação apresentam valores <strong>de</strong> 70,1% e 61,2% (lagosta-vermelha) e 73,6% e 64,7% (lagostaver<strong>de</strong>).<br />
Isto significa que, uma vez que o indivíduo tenha entrado para o estoque capturável,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>da</strong> espécie, tem uma chance média <strong>de</strong> 28,2% <strong>de</strong> sobreviver para o ano seguinte e<br />
<strong>de</strong> 63% <strong>de</strong> ser capturado por um aparelho <strong>de</strong> pesca que esteja atuando na área on<strong>de</strong> se encontra<br />
(PAIVA, 1997).<br />
Na Tabela 7 é apresenta<strong>da</strong> uma súmula <strong>da</strong>s principais características biológicas e<br />
parâmetros vitais <strong>da</strong>s lagostas, nas águas costeiras <strong>da</strong>s regiões norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil.<br />
Em se tratando <strong>de</strong> um recurso pesqueiro economicamente importante, o gran<strong>de</strong><br />
objetivo <strong>de</strong> se conhecer a estrutura populacional <strong>da</strong> lagosta espinhosa é estabelecer regras para<br />
sua explotação racional. Desta forma, estudos como este, que viabilizam maior conhecimento<br />
sobre os aspectos populacionais <strong>da</strong> lagosta, são <strong>de</strong> fun<strong>da</strong>mental importância tanto como<br />
indicadores do estado atual do recurso, quanto como parâmetros para avaliações nas tendências<br />
futuras <strong>da</strong>s populações, no intuito final <strong>de</strong> direcionar o uso do recurso e, principalmente, uma<br />
regulamentação pesqueira a<strong>de</strong>qua<strong>da</strong> e aplicável.<br />
Da mesma forma, o conhecimento <strong>da</strong> fauna acompanhante nas re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> espera <strong>de</strong><br />
lagosta é importante, para ter-se um conhecimento do real impacto <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta sobre o<br />
ambiente, visto que a maioria dos organismos que fazem parte <strong>de</strong>sta fauna acompanhante são<br />
<strong>de</strong>volvi<strong>da</strong>s ao ambiente sem vi<strong>da</strong>.
52<br />
Tabela 7 - Súmula <strong>da</strong>s características biológicas e parâmetros biométricos <strong>da</strong> lagosta-vermelha,<br />
Panulirus argus, e <strong>da</strong> lagosta-ver<strong>de</strong>, Panulirus laevicau<strong>da</strong>, ao longo <strong>da</strong>s costas<br />
norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil.<br />
Habitat(l) bentônico: plataforma continental<br />
Substrato (3) cascalho - formações <strong>de</strong> algas calcárias<br />
Áreas <strong>de</strong> plataforma continental do norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil, chegando ao Espírito<br />
pesca (12) Santo<br />
Distribuição vertical (1): 1 - 60 m<br />
Distância <strong>da</strong> costa (2): 1 - 50 km<br />
Sistemas <strong>de</strong><br />
pesca (13)<br />
embarcações: janga<strong>da</strong>, bote a vela e barcos motorizado <strong>de</strong> 10 - 22 m <strong>de</strong><br />
comprimento<br />
aparelhos <strong>de</strong> pesca: covo, re<strong>de</strong> <strong>de</strong> emalhar (caçoeira), cangalha e coleta<br />
manual<br />
Período <strong>de</strong> safra (8): março - maio<br />
Período <strong>de</strong> entressafra (8): julho - setembro<br />
Crescimento parâmetros vermelha ver<strong>de</strong><br />
(4el3)<br />
Desova<br />
(5e 14)<br />
amplitu<strong>de</strong>(cm) na pesca<br />
comp. médio (cm)<br />
L∞ (cm) (comprimento)<br />
W∞ (g) (peso)<br />
taxa (cm/ano)<br />
taxa (%/ano)<br />
tipo:<br />
época(s)<br />
11,4-39,3<br />
21,8<br />
43,8<br />
3.018<br />
2,6<br />
24,4<br />
Parcela<strong>da</strong><br />
janeiro – abril<br />
setembro – outubro<br />
10,1-33,5<br />
18,3<br />
38,0<br />
2.006<br />
2,4<br />
25,7<br />
parcela<strong>da</strong><br />
fevereiro - maio<br />
lm (1 a . maturi<strong>da</strong><strong>de</strong>) (cm) (5) 20.1 17,0<br />
Fecundi<strong>da</strong><strong>de</strong> (óvulos) (7) 294.175 166.036<br />
Proporção sexual (%) (8) 51,9 M: 48,1 F 53,7 M : 46,3 F<br />
Recrutamento<br />
(6)<br />
comprimento<br />
médio (cm) época<br />
18,8<br />
abril - julho<br />
Mortali<strong>da</strong><strong>de</strong> taxa(%) 70,1 73,6<br />
total (ano) (10)<br />
Taxa <strong>de</strong> explotação (%) 61.2 64,7<br />
Longevi<strong>da</strong><strong>de</strong> total<br />
37,3<br />
34,7<br />
(ano) na pescaria<br />
13,9<br />
12,5<br />
Relações peso/comprimento WT = 0,000066 LT 2,90<br />
biométricas(11) cau<strong>da</strong>/total<br />
CA = 5,62 +0,612 CT<br />
Dieta alimentar<br />
(9)<br />
Parâmetros do<br />
rendimento<br />
15,8<br />
junho - agosto<br />
WT = 0,000084 LT 2,86<br />
CA = -1,46 +0,641 CT<br />
CC =-1,27 +0,366 CT<br />
cefalotórax/total CC = 4,99 + 0.379 CT<br />
moluscos (gastrópodos e pelecípodos), crustáceos <strong>de</strong>cápodos, equino<strong>de</strong>rmos<br />
(ofiurói<strong>de</strong>s e equínói<strong>de</strong>s), algas, cnidários (antozoários e hidrozoários) e<br />
briozoários<br />
CPUE ms (kg/covo-dia) 0,373<br />
Fontes: (1) PAIVA, 1958; (2) PAIVA, 1970; (3) COUTINHO & MORAIS, 1970; (4) IVO. 1975; (5) SOARES &<br />
CAVALCANTE, 1985; (6): FONTELES-FILHO, 1986; (7) IVO & GESTEIRA, 1986; (8) FONTELES-FILHO,<br />
XIMENES & MQNTEIRO, 1988 (9) MENEZES, 1989; (10) FONTELES-FELHO, 1992; (11) RIOS, 1992; (12)<br />
FERREIRA, 1994; (13) FONTELES-FILHO, 1994; (14) SOARES, 1994.
53<br />
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
2.1 Panulirus echinatus<br />
A lagosta P. echinatus (Figuras 25 e 26) foi <strong>de</strong>scrita por Smith em 1869. É conheci<strong>da</strong><br />
vulgarmente no Brasil como lagosta espinhosa ou pinta<strong>da</strong> e no Seixas e Penha, como lagosta<br />
aranha.<br />
Vive em cavi<strong>da</strong><strong>de</strong>s profun<strong>da</strong>s nas rochas, entre seixos e outros ambientes protegidos.<br />
São espécimes <strong>de</strong> hábito noturno, que vivem em profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> 0 a 35 metros,<br />
preferencialmente a menos <strong>de</strong> 25 metros. Esta espécie ocorre no Atlântico Oci<strong>de</strong>ntal – Brasil<br />
(Rochedos São Pedro - São Paulo, Rocas, Fernando <strong>de</strong> Noronha e Trin<strong>da</strong><strong>de</strong>, e do Ceará ao Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro). Há ain<strong>da</strong> registros <strong>de</strong> ocorrência no Atlântico Central – Ilhas <strong>de</strong> Ascensão e Santa<br />
Helena e no Atlântico Oriental – Ilhas Canárias e <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> (MELO, 1999).<br />
É a única espécie captura<strong>da</strong> comercialmente que não possui regulamentação específica<br />
<strong>de</strong>vido à falta <strong>de</strong> informações sobre a sua biologia e dinâmica populacional. Há poucos estudos<br />
a respeito <strong>de</strong>sta espécie.<br />
Oliveira (2001) trabalhou com base na amostragem mensal <strong>de</strong> indivíduos capturados<br />
no ambiente recifal do Arquipélago <strong>de</strong> Tinharé-BA e verificou a ocorrência <strong>de</strong> fêmeas ova<strong>da</strong>s<br />
durante todo o ano, embora os meses <strong>de</strong> maior intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> reprodutiva tenham ocorrido em<br />
outubro e novembro.<br />
Barreto et al. (2003) <strong>de</strong>terminaram o comprimento médio na primeira maturi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
gona<strong>da</strong>l <strong>de</strong> machos <strong>de</strong> P. echinatus em 37 mm <strong>de</strong> comprimento <strong>de</strong> cefalotórax em indivíduos<br />
capturados em recifes costeiro <strong>de</strong> Taman<strong>da</strong>ré-PE.<br />
Segundo a <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong> Melo (1999), a lagosta Panulirus echinatus possui carapaça<br />
espinhosa, com 2 espinhos supra-oculares gran<strong>de</strong>s, voltados para cima e para a frente, anel<br />
antenular com 2 espinhos distais e o primeiro e segundo maxilípodo apresenta um palpo bem<br />
<strong>de</strong>senvolvido. O terceiro maxilípodo com palpo pequeno e <strong>de</strong>sprovido <strong>de</strong> flagelo. O primeiro<br />
par <strong>de</strong> pereiópodos é mais curto e robusto do que os <strong>de</strong>mais e o terceiro par, o mais longo <strong>de</strong><br />
todos. O terceiro, quarto e quinto somitos abdominais possuem sulcos interrompidos. Os sulcos<br />
anteriores <strong>da</strong>s pleuras não se unem com os sulcos abdominais. O abdômen apresenta inúmeras<br />
manchas claras ocela<strong>da</strong>s, sendo as centrais ligeiramente menores do que as laterais. São<br />
encontra<strong>da</strong>s duas formas <strong>de</strong> coloração: indivíduos com manchas pequenas (“small-spotted<br />
form”) e indivíduos com manchas gran<strong>de</strong>s no abdômen (“large-spotted form”).
54<br />
Figura 25 - Panulirus echinatus: Morfologia externa dorsal (MELO, 1999).<br />
Figura 26 - Panulirus echinatus: Morfologia externa dorsal. (Foto: Patricia Oliveira, 2007).
55<br />
2.2 Panulirus argus<br />
A espécie P. argus (Figuras 27 e 28) foi <strong>de</strong>scrita por Latreille em 1804, conheci<strong>da</strong><br />
vulgarmente no Brasil como lagosta comum e recebendo em outros países o nome <strong>de</strong> “spiny<br />
lobster” e no Seixas e na Penha <strong>de</strong> cabo rosa ou branca. Ocorre ao longo <strong>da</strong> costa leste <strong>da</strong>s<br />
Américas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Beaufort (Carolina do Norte, U.S.A.) até o Rio <strong>de</strong> Janeiro (Brasil) –<br />
(CRAWFORT & SMIDT, 1922; CHACE & DUMONT, 1949; SMITH, 1958; BUESA-MÁS et<br />
al., 1968). Ocorre ain<strong>da</strong> na África (Costa do Marfim) (MELO, 1999).<br />
O número <strong>de</strong> ovos na espécie P. argus varia <strong>de</strong> 220.000 na classe <strong>de</strong> 22 cm a 736.000<br />
na classe <strong>de</strong> 30 cm. Assim, sua fecundi<strong>da</strong><strong>de</strong> é bem eleva<strong>da</strong>. No segundo ano <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>, ela atinge<br />
18 cm, chegando a 30 cm no sexto ano (NOMURA, 1977).<br />
As populações <strong>de</strong> P. argus habitam nos recifes, entre rochas, entre esponjas em<br />
crescimento ou entre outros substratos que lhes ofereçam proteção e <strong>da</strong> região entre-marés até<br />
90 metros. Trata-se <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> hábito gregário (MELO, 1999).<br />
Paiva & Fonteles-Filho (1968) marcaram 3.867 exemplares <strong>de</strong> P. argus, <strong>de</strong> março <strong>de</strong><br />
1964 a março 1965, com uma marca plástica. De março a maio a migração se fez para locais<br />
mais profundos do litoral cearense, correspon<strong>de</strong>ndo à época <strong>de</strong> reprodução. Em junho as<br />
migrações foram ao longo do litoral, procurando áreas <strong>de</strong> alimentos. Já em julho novamente<br />
procuraram locais mais profundos, para um segundo ciclo <strong>de</strong> reprodução em agosto,<br />
regressando aos locais <strong>de</strong> alimento, on<strong>de</strong> permaneceram até o outro ciclo, já referido.<br />
Caracteres diagnósticos <strong>da</strong> espécie consistem em carapaça com fortes espinhos em<br />
linhas longitudinais mais ou menos regulares, espinhos supra-orbitais gran<strong>de</strong>s, comprimidos e<br />
curvados para cima e para frente. Olhos gran<strong>de</strong>s e proeminentes. Antênulas quase 2/3 do<br />
comprimento do corpo, com flagelo externo mais curto e grosso do que o interno, ciliado<br />
distalmente. Segmento antenal com par <strong>de</strong> espinhos na frente. Antenas gran<strong>de</strong>s e pesa<strong>da</strong>s,<br />
pedúnculo com vários espinhos fortes e com flagelo ciliado internamente. Patas ambulatórias<br />
com extremi<strong>da</strong><strong>de</strong>s agu<strong>da</strong>s; as fêmeas com pequena sub-quela na quinta pata. Abdômen liso,<br />
com somitos cruzados por sulcos interrompidos no meio. Pleópodos ausentes do primeiro<br />
somito abdominal. Divisão proximal do télson com alguns fortes espinhos. Abdômen com<br />
manchas ocelares amarela<strong>da</strong>s. (MELO, 1999).
56<br />
Figura 27 - Panulirus argus: morfologia externa dorsal (MELO, 1999).<br />
Figura 28 - Panulirus argus: morfologia externa dorsal (Foto: Patricia Oliveira, 2007).
57<br />
2.3 Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
A lagosta P. laevicau<strong>da</strong>, (Figuras 29 e 30) conheci<strong>da</strong> no Brasil como lagosta-cabover<strong>de</strong><br />
ou lagosta ver<strong>de</strong>, tem sua área <strong>de</strong> ocorrência no Atlântico Oci<strong>de</strong>ntal - Bermu<strong>da</strong>s, Flóri<strong>da</strong>,<br />
Golfo do México, Antilhas, norte <strong>da</strong> América do Sul, Guianas e Brasil - Fernando <strong>de</strong> Noronha e<br />
<strong>da</strong> Paraíba até o Rio <strong>de</strong> Janeiro (MELO, 1999).<br />
As populações <strong>de</strong> P. laevicau<strong>da</strong> concentram-se em águas rasas, distribuindo-se <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
zona <strong>de</strong> marés, abriga<strong>da</strong>s em formações rochosas, até cerca <strong>de</strong> 50 metros <strong>de</strong> profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
Vivem em arrecifes e rochas e em fundos <strong>de</strong> algas calcárias. Próximo à costa, os indivíduos são<br />
pequenos, mas alcançam comprimentos <strong>de</strong> até 30,0 cm, em zonas profun<strong>da</strong>s (PAIVA et<br />
al.,1971).<br />
As informações existentes sobre a biologia reprodutiva <strong>da</strong> lagosta P. laevicau<strong>da</strong> são<br />
bastante escassas e referem-se apenas a regiões <strong>de</strong> pesca na costa Nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Apesar <strong>de</strong><br />
reprodução consistir num dos aspectos mais importantes na dinâmica <strong>de</strong> populações, os<br />
trabalhos quantitativos <strong>de</strong>senvolvidos em campo têm sido escassos e baseados<br />
fun<strong>da</strong>mentalmente no exame <strong>da</strong>s capturas comerciais (SOARES & PERET, 1998).<br />
Como caracteres diagnósticos apresentam carapaça com fortes espinhos em linhas<br />
transversais na frente <strong>da</strong> região cardíaca. Espinhos supra-orbitais gran<strong>de</strong>s, curvados para a<br />
frente. Olhos gran<strong>de</strong>s e proeminentes. Anel antenular com 2 espinhos distais. Antênulas quase<br />
2/3 do comprimento do corpo e com 2 flagelos. Primeiro segmento antenal com par <strong>de</strong> espinhos<br />
na frente. Antenas gran<strong>de</strong>s e fortes, com segmentos espinhosos e flagelo com numerosos<br />
pequenos espínulos. Primeiros e segundos maxilípodos com palpos bem <strong>de</strong>senvolvidos, terceiro<br />
maxilípodo <strong>de</strong>sprovido <strong>de</strong> palpo. Pereiópodos <strong>de</strong>lgados, o primeiro menor do que o segundo e<br />
este menor do que o terceiro; quarto e quinto pereiópodos menores do que os <strong>de</strong>mais. Somitos<br />
abdominais lisos, <strong>de</strong>sprovidos <strong>de</strong> sulcos transversais. Um par <strong>de</strong> manchas ocelares em ca<strong>da</strong><br />
somito abdominal (MELO, 1999).
58<br />
Figura 29 - Panulirus laevicau<strong>da</strong>: Morfologia externa dorsal (MELO, 1999).<br />
Figura 30 - Panulirus laevicau<strong>da</strong>: Morfologia externa dorsal (Foto: Patricia Oliveira, 2007).
59<br />
2.4 FISIOLOGIA NUTRICIONAL<br />
2.4.1 DIGESTÃO E EXCREÇÃO<br />
O trato digestivo <strong>da</strong>s lagostas consiste em uma porção anterior elabora<strong>da</strong> e revesti<strong>da</strong><br />
por uma cutícula, <strong>de</strong> uma porção mediana <strong>de</strong> origem endodérmica com cecos digestivos bem<br />
<strong>de</strong>senvolvidos, e <strong>de</strong> uma porção posterior também revesti<strong>da</strong> por uma cutícula. O papel <strong>da</strong><br />
porção anterior é a trituração, hidrólise e separação <strong>de</strong> partículas pequenas digeríveis <strong>da</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>s não digeríveis. As partículas pequenas e os solutos são encaminhados para os cecos<br />
digestivos, enquanto materiais não aproveitáveis são ou regurgitados pela boca, ou enviados<br />
para a porção mediana do trato digestivo, incorporados em bolotas fecais e eliminados através<br />
do ânus. (RUPPERT et al., 2005)<br />
Os principais compostos nitrogenados são excretados pelas brânquias, intestinos, e em<br />
menor quanti<strong>da</strong><strong>de</strong>, pelas glândulas ver<strong>de</strong>s. O composto excretado em maior quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> pelas<br />
lagostas é a amônia, perfazendo valores acima <strong>de</strong> 72% do nitrogênio total excretado. Os<br />
compostos nitrogenados encontrados na urina <strong>de</strong> lagostas são ain<strong>da</strong> <strong>de</strong>sconhecidos, mas sabe-se<br />
que 21% do total <strong>de</strong> nitrogênio é formado por uréia, amônia e compostos amínicos (COBB et<br />
al., 1980).<br />
2.4.2 ALIMENTAÇÃO<br />
A alimentação <strong>de</strong>stes crustáceos se altera ao longo do seu ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>, passando <strong>de</strong><br />
planctófagos, enquanto larvas (MOE, 1991; KITTAKA, 1994) a bentófagos, alimentando-se <strong>de</strong><br />
invertebrados, preferencialmente moluscos e crustáceos, quando juvenis, (SWEAT, 1969; WOLFE<br />
& FELGENHAUR, 1991) e principalmente <strong>de</strong> moluscos e crustáceos, quando adultos<br />
(HERRNKIND et al., 1975).<br />
Panulirus interruptus e P. argus alimentam-se <strong>de</strong> moluscos (principalmente<br />
gastrópo<strong>de</strong>s), crustáceos, equino<strong>de</strong>rmas e algas coralíneas (LINDBERG, 1955; FERNANDES,<br />
1969). Gray (1992) relata que, para P. cygnus. estudos <strong>de</strong>talhados <strong>de</strong>monstraram uma dieta<br />
alimentar variando consi<strong>de</strong>ravelmente com o ambiente, época do ano e tamanho dos indivíduos.
60<br />
2.5 MUDA E CRESCIMENTO<br />
O conhecimento dos parâmetros do crescimento <strong>da</strong>s populações naturais,<br />
principalmente aquelas pertencentes aos grupos economicamente mais importantes, é<br />
fun<strong>da</strong>mental quando se preten<strong>de</strong> avaliar os efeitos causados por um fator exógeno <strong>de</strong><br />
mortali<strong>da</strong><strong>de</strong> sobre o estoque como, por exemplo, a pesca.<br />
2.5.1 CICLO DE MUDA<br />
A lagosta é coberta pelo exoesqueleto e para crescer, como todos os crustáceos,<br />
<strong>de</strong>spren<strong>de</strong> o exoesqueleto sendo revesti<strong>da</strong> com um novo, maior e mais flexível que o<br />
prece<strong>de</strong>nte. Esse fenômeno é <strong>de</strong>nominado mu<strong>da</strong> ou ecdise (Figura 31). Na mu<strong>da</strong>, o exoesqueleto<br />
velho se rompe ao longo <strong>de</strong> linhas bem <strong>de</strong>fini<strong>da</strong>s e a lagosta libera o exoesqueleto antigo<br />
dorsalmente, entre o cefalotórax e o abdome. A formação do novo exoesqueleto inicia-se sob o<br />
velho antes <strong>da</strong> mu<strong>da</strong>, mas ele só enrijece completamente após alguns dias <strong>da</strong> ecdise. Após<br />
livrar-se do exoesqueleto, a lagosta ingere água, aumentando rapi<strong>da</strong>mente seu tamanho antes do<br />
endurecimento do novo exoesqueleto (IGARASHI, 2007).<br />
Figura 31 - Seqüência do processo <strong>de</strong> ecdise na lagosta do gênero Panulirus (Fotos:<br />
DEBELIUS, 1999).
61<br />
A palavra "mu<strong>da</strong>" inclui to<strong>da</strong>s as modificações fisiológicas e morfológicas envolvi<strong>da</strong>s<br />
na preparação <strong>da</strong> ecdise. A maioria dos crustáceos <strong>de</strong>cápo<strong>de</strong>s passa a vi<strong>da</strong> inteira realizando um<br />
ciclo contínuo <strong>de</strong> eventos <strong>de</strong> mu<strong>da</strong>. Drach (1939) apud Cobb (1980), foi quem reconheceu as<br />
mu<strong>da</strong>nças morfológicas, fisiológicas e cuticulares associa<strong>da</strong>s à mu<strong>da</strong> em crustáceos <strong>de</strong>cápo<strong>de</strong>s,<br />
dividindo o ciclo em quatro períodos básicos (Pós-mu<strong>da</strong>, intermu<strong>da</strong>, pré-mu<strong>da</strong> e mu<strong>da</strong>), cinco<br />
estágios (A-E) e vários sub-estágios. A ecdise é consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> apenas o estado "E", on<strong>de</strong> o<br />
indivíduo realiza a mu<strong>da</strong>nça <strong>de</strong> carapaça. A seguir estão relatados todos os estágios <strong>de</strong> mu<strong>da</strong><br />
para a lagosta americana, Homarus americanus, po<strong>de</strong>ndo ser aplicados para as outras espécies<br />
<strong>de</strong> lagostas (FIGUEIREDO & THOMAS, 1967).<br />
ESTÁGIO A1: O corpo se apresenta flácido; há uma absorção contínua <strong>de</strong> água; as<br />
novas dimensões são alcança<strong>da</strong>s 4 a 8 horas após a ecdise.<br />
ESTÁGIO A2: O tegumento ain<strong>da</strong> está frágil, mas as partes <strong>da</strong> boca e mandíbula já<br />
estão endureci<strong>da</strong>s, quando o indivíduo está apto a ingerir a carapaça. Nesta fase inicia-se a<br />
mineralização <strong>da</strong> exocutícula. Tegumento flexível; exocutícula forma<strong>da</strong>; formação <strong>da</strong> nova<br />
endocutícula.<br />
ESTÁGIO C1: Tegumento continua flexível; início <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> alimentar.<br />
ESTÁGIO C2: Carapaça rígi<strong>da</strong> <strong>da</strong> região postero-dorsal até o rostro, mas flexível no<br />
restante do corpo; endurecimento <strong>da</strong> carapaça antero-dorsal.<br />
ESTÁGIO C3: A carapaça branquial ain<strong>da</strong> sofre <strong>de</strong>pressão quando comprimi<strong>da</strong>, mas a<br />
carapaça já está totalmente rígi<strong>da</strong> no restante do corpo.<br />
ESTÁGIO C4: A membrana endocuticular está forma<strong>da</strong>; to<strong>da</strong>s as partes <strong>da</strong> carapaça<br />
estão rígi<strong>da</strong>s; acúmulo <strong>de</strong> reservas orgânicas.<br />
ESTÁGIO D0: Pré-mu<strong>da</strong> passiva; este estágio po<strong>de</strong> se esten<strong>de</strong>r por um longo período<br />
(anecdise); a epi<strong>de</strong>rme se retrai <strong>da</strong> cutícula; início <strong>da</strong> calcificação gastrolítica.<br />
ESTÁGIO P1: Pré-mu<strong>da</strong> ativa; formação <strong>da</strong> nova epicutícula e imaginação máxima.<br />
ESTÁGIO D2: Formação <strong>da</strong> nova exocutícula.<br />
ESTÁGIO D3: Reabsorção extensiva <strong>de</strong> minerais do exoesqueleto; <strong>de</strong>scalcificação <strong>da</strong><br />
superfície dorsal.<br />
ESTÁGIO E: Fase passiva <strong>da</strong> ecdise; incremento na absorção <strong>de</strong> água; suturas<br />
ecdisiais abertas, mas a membrana toraco-abdominal permanece intacta. Fase ativa; ruptura <strong>da</strong><br />
membrana toraco-abdominal; a carapaça é lança<strong>da</strong> em movimentos para frente; menos <strong>de</strong> 10<br />
minutos para se completar a ecdise em lagostas <strong>da</strong> espécie P. argus.
62<br />
2.5.2 CRESCIMENTO<br />
O crescimento <strong>da</strong>s espécies <strong>da</strong> família Palinuri<strong>da</strong>e tem sido bastante estu<strong>da</strong>do, mas<br />
muito raramente se tem conseguido uma <strong>de</strong>scrição completa do ciclo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong>s<br />
lagostas espinhosas do gênero Panulirus <strong>de</strong>vido à dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> em se separar corretamente os<br />
dois componentes do processo: o crescimento individual entre mu<strong>da</strong>s consecutivas e a<br />
freqüência com que estas ocorrem (MORGAN, 1980).<br />
O incremento <strong>de</strong> tamanho na ecdise tem sido bem estu<strong>da</strong>do em crustáceos, sabe-se que<br />
há maior crescimento relativo para indivíduos jovens (MAUCHLINE, 1976).<br />
No início dos experimentos sobre crescimento <strong>de</strong> lagostas, Kurata (1962) encontrou<br />
uma relação linear para incrementos em peso, expressando esta relação como:<br />
L n+1 = a + b.L n<br />
On<strong>de</strong> L n e L n+1 são os comprimentos pré e pós-mu<strong>da</strong>, e "a" e "b" são constantes que<br />
<strong>de</strong>notam as taxas <strong>de</strong> incremento <strong>de</strong> tamanho nas sucessivas mu<strong>da</strong>s. Este autor observou a<br />
existência <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong> inflexão existentes nessa relação linear ao longo <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> dos animais,<br />
relacionando-os com as fases <strong>de</strong> transição do estágio larval para juvenil, e <strong>de</strong> juvenil para<br />
adulto.<br />
Mauchline (1976) sugeriu que em vez <strong>de</strong> se trabalhar com os comprimentos <strong>de</strong> pósmu<strong>da</strong><br />
para pré-mu<strong>da</strong>, como proposto por Kurata (1962), fosse utilizado o relacionamento linear<br />
obtido ao se plotar, em escala logarítmica, o incremento <strong>de</strong> comprimento contra o comprimento<br />
do indivíduo ou número <strong>de</strong> mu<strong>da</strong>s. Esse incremento linear foi utilizado para se gerar urna<br />
constante chama<strong>da</strong> “Fator <strong>de</strong> Inclinação <strong>da</strong> Mu<strong>da</strong>”, a qual <strong>de</strong>termina a porcentagem <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>créscimo no incremento do tamanho dos indivíduos em sucessivas mu<strong>da</strong>s. Uma relação<br />
similar também existe quando se relaciona o logaritmo do período intermu<strong>da</strong> com o<br />
comprimento ou n° <strong>de</strong> mu<strong>da</strong>s, sendo a constante chama<strong>da</strong> “Fator <strong>de</strong> Inclinação para o Período<br />
Intermu<strong>da</strong>”, a qual <strong>de</strong>fine o incremento <strong>de</strong> tempo intermu<strong>da</strong> para as sucessivas mu<strong>da</strong>s. Esse tipo<br />
<strong>de</strong> relação, também po<strong>de</strong> ser calcula<strong>da</strong> usando-se o logaritmo do fator <strong>de</strong> crescimento<br />
(incremento percentual <strong>de</strong> tamanho a ca<strong>da</strong> mu<strong>da</strong>) versus o comprimento do indivíduo.<br />
O crescimento <strong>de</strong> juvenis <strong>de</strong> P. tygmis foi estu<strong>da</strong>do por Gray (1992). Este autor<br />
<strong>de</strong>screve que as lagostas crescem <strong>de</strong> maneira abrupta, ao relacionar isso à diminuição <strong>da</strong><br />
alimentação à medi<strong>da</strong> em que se aproxima a ecdise, quando o indivíduo mu<strong>da</strong> <strong>de</strong> carapaça e<br />
absorve água rapi<strong>da</strong>mente, ocasionando uma expansão do corpo. A partir <strong>de</strong>sse momento, o<br />
indivíduo passa a se alimentar normalmente, iniciando-se outro ciclo do mu<strong>da</strong>.
63<br />
Apesar do crescimento <strong>de</strong>scontínuo, é possível a aplicação dos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
crescimento, em função do artifício <strong>de</strong> se consi<strong>de</strong>rar que os indivíduos apresentam um intervalo<br />
constante <strong>de</strong> crescimento entre períodos <strong>de</strong> intermu<strong>da</strong> sucessivos, que correspon<strong>de</strong>m aos meses<br />
<strong>de</strong> fevereiro-junho e setembro-janeiro. Deste modo, po<strong>de</strong>-se apresentar as seguintes equações <strong>de</strong><br />
crescimento em comprimento (cm) e peso (g), para sexos em conjunto, pois, segundo Ivo<br />
(1996), não há diferença significante entre as respectivas taxas <strong>de</strong> crescimento:<br />
lagosta-vermelha: L t = 43,8 (1 – e -0,163t )<br />
W t =3.018 (1 – e -0,163t ) 2,90<br />
lagosta-ver<strong>de</strong>: L t = 38,0 (1 – e -0,171t )<br />
W t = 2.006 (1 – e -0,171t ) 2.86<br />
A lagosta-vermelha cresce mais lentamente, mas atinge maior comprimento máximo<br />
que a lagosta-ver<strong>de</strong>. Elas apresentam as seguintes taxas <strong>de</strong> crescimento anual, em termos<br />
absoluto e relativo: 2,6 cm/ano e 24,4% / ano (vermelha), e 2,4 cm/ano e 25,7% / ano (ver<strong>de</strong>).<br />
Em geral, os palinurí<strong>de</strong>os encontram-se no quarto nível trófico <strong>da</strong> ca<strong>de</strong>ia alimentar, tendo<br />
como característica uma taxa <strong>de</strong> crescimento apenas mediana, atingindo cerca <strong>de</strong> 90% do<br />
comprimento assintótico (L) num espaço <strong>de</strong> tempo máximo <strong>de</strong> 15 anos, que correspon<strong>de</strong> à<br />
expectativa <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> na pescaria (PAIVA, 1997).<br />
A redução na freqüência <strong>de</strong> mu<strong>da</strong> com a i<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ve ser o principal fator na<br />
<strong>de</strong>terminação <strong>da</strong> taxa <strong>de</strong> crescimento <strong>de</strong>crescente e do comprimento assintótico, como<br />
<strong>de</strong>corrência do aumento na duração do período intermu<strong>da</strong>s, on<strong>de</strong> indivíduos jovens crescem<br />
mais rápido em função <strong>da</strong> maior freqüência <strong>de</strong> mu<strong>da</strong> (FONTELES-FILHO, 1989).<br />
2.6 BARRIGA PRETA “BLACK SPOT”<br />
A preocupação em se obter alimentos <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> e que não cause <strong>da</strong>nos à saú<strong>de</strong> do<br />
consumidor sempre foi motivo <strong>de</strong> pesquisa. O início do <strong>de</strong>senvolvimento do Sistema APPCC<br />
(Análise <strong>de</strong> Perigos e Pontos Críticos <strong>de</strong> Controle) <strong>de</strong>u-se nos anos 60 (ALBUQUERQUE,<br />
2005). O Sistema APPCC é compatível com o sistema <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> total (ISO), que<br />
significa que a inocui<strong>da</strong><strong>de</strong>, quali<strong>da</strong><strong>de</strong>, integri<strong>da</strong><strong>de</strong> econômica e produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> po<strong>de</strong>m ser<br />
maneja<strong>da</strong>s juntas (OGAWA & MAIA, 1999).<br />
Nos processos <strong>de</strong> beneficiamento, com o objetivo <strong>de</strong> manter a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> e a sani<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
do produto faz-se necessário o uso <strong>de</strong> algumas substâncias químicas <strong>de</strong>nomina<strong>da</strong>s <strong>de</strong> aditivos.<br />
Segundo a Portaria nº 540 (BRASIL, 1997), <strong>de</strong>finem aditivo alimentar como qualquer
64<br />
ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito <strong>de</strong> nutrir, com o objetivo<br />
<strong>de</strong> modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Além disso, o aditivo<br />
<strong>de</strong>ve ser comprova<strong>da</strong>mente não tóxico aos níveis consumidos e não ter efeito cumulativo.<br />
De acordo com a classificação <strong>de</strong> aditivos intencionais o metabissulfito <strong>de</strong> sódio é<br />
compreendido como conservador e antioxi<strong>da</strong>nte, impedindo ou retar<strong>da</strong>ndo a alteração dos<br />
alimentos por microorganismos ou enzimas (BRASIL, 1969). Devido à sua ação antioxi<strong>da</strong>nte, o<br />
metabissulfito <strong>de</strong> sódio seqüestra o oxigênio (O 2 ) tanto <strong>da</strong> água quanto do alimento, gerando<br />
assim um ambiente anaeróbio, o que consequentemente interfere sobre os microorganismos<br />
aeróbios presentes (GÓES et al., 2006).<br />
A primeira prática comum adota<strong>da</strong> no Brasil, foi a adição <strong>de</strong> metabissulfito <strong>de</strong> sódio<br />
em pó em crustáceos a bordo dos barcos para evitar o escurecimento enzimático ou "black spot".<br />
Hoje são utiliza<strong>da</strong>s soluções <strong>de</strong> metabissulfito (NaHSO 3 ) on<strong>de</strong> se mergulha a lagosta, o que<br />
evita problemas antigos <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> sulfito e a per<strong>da</strong> em certos lotes (OETTERER, 2008).<br />
O escurecimento <strong>da</strong> carne <strong>de</strong> crustáceos é causado pela ação <strong>de</strong> polifenoloxi<strong>da</strong>se,<br />
tirosinase, polifenolase, fenolase, catecol oxi<strong>da</strong>se, cresolase e catecolase (CHEN et al., 1992).<br />
A formação <strong>de</strong> “black spot” em cau<strong>da</strong>s <strong>de</strong> lagostas brasileiras, P. argus e P.<br />
laevicau<strong>da</strong>, provavelmente se <strong>de</strong>ve à especifici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas espécies à ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> enzima<br />
fenoloxi<strong>da</strong>se e ao metabolismo do ciclo <strong>de</strong> mu<strong>da</strong> (OGAWA et al., 1984).<br />
Ogawa et al. (1983) sugerem que um bom manuseio <strong>da</strong>s lagostas, evitando injúrias<br />
fisiológicas, tais como traumatismos, sangramentos ou estresse após a captura é importante na<br />
prevenção do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> “black spot”.
65<br />
3. CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL<br />
3.1. INTRODUÇÃO<br />
O dimensionamento <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> sustentação e recarga dos recifes do Seixas e<br />
Penha, relacionado com o extrativismo <strong>de</strong> lagostas, necessita ser conhecido, tendo em vista<br />
tratar-se <strong>de</strong> um ecossistema ain<strong>da</strong> não estu<strong>da</strong>do, cuja produção é obti<strong>da</strong> aleatoriamente, visando,<br />
<strong>de</strong>ste modo, garantir o seu uso sustentado.<br />
A escolha <strong>da</strong>s praias do Seixas e Penha como local <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong>ve-se á gran<strong>de</strong><br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> extrativista <strong>de</strong> lagostas na região, mesmo não sendo cataloga<strong>da</strong>s como portos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sembarque.<br />
A pressão exerci<strong>da</strong> pelo mercado consumidor, relaciona<strong>da</strong> com o turismo regional vem<br />
induzindo à necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> um gerenciamento <strong>da</strong> pesca e à i<strong>de</strong>ntificação do tamanho mínimo<br />
médio <strong>da</strong> primeira maturação sexual, a fim <strong>de</strong> sustentar a elaboração do <strong>de</strong>feso <strong>da</strong> população<br />
<strong>de</strong>ste crustáceo, que se a<strong>da</strong>pte melhor à reali<strong>da</strong><strong>de</strong> local.<br />
3.2 ÁREA DE ESTUDO<br />
A faixa continental <strong>da</strong> Paraíba é caracteriza<strong>da</strong> por apresentar extensas planícies<br />
costeiras, <strong>de</strong> natureza sedimentar, com uma extensão <strong>de</strong> linha <strong>de</strong> costa que alcança<br />
aproxima<strong>da</strong>mente 138 km (COSTA, 2001).<br />
Os ambientes recifais do estado são <strong>de</strong> dois tipos: recifes <strong>de</strong> arenito e recifes <strong>de</strong> corais.<br />
Suas feições morfológicas tiveram origem no período Quaternário, apesar <strong>de</strong> incertezas quanto à<br />
sua i<strong>da</strong><strong>de</strong> (CARVALHO, 1982). Segundo Fernan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Carvalho (1983), os recifes costeiros <strong>da</strong><br />
Paraíba sofrem influência <strong>de</strong> pequenos sistemas <strong>de</strong> correntes costeiras <strong>de</strong> <strong>de</strong>riva orienta<strong>da</strong>s pelos<br />
cordões recifais, <strong>de</strong> veloci<strong>da</strong><strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>, principalmente durante as preamares.<br />
No que se refere à plataforma continental, a Paraíba possui substrato <strong>de</strong> natureza<br />
predominantemente calcária, que ocupa uma faixa <strong>de</strong> 20 milhas náuticas, tendo uma<br />
profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> máxima na margem do talu<strong>de</strong> em torno <strong>de</strong> 200 m (FERNANDES DE<br />
CARVALHO, 1983).<br />
Laborel (1970) afirma que os corais no Brasil enquadram-se em três subor<strong>de</strong>ns<br />
(Astrocoeniina, Fungiina e Faviina) e em nove Famílias (Astrocoenii<strong>da</strong>e, Seriatopori<strong>da</strong>e,<br />
Agaricii<strong>da</strong>e, Si<strong>de</strong>rastrei<strong>da</strong>e, Poriti<strong>da</strong>e, Favii<strong>da</strong>e, Astrangii<strong>da</strong>e, Meandrinii<strong>da</strong>e e Mussi<strong>da</strong>e). Na
66<br />
Praia do Seixas, Areia Vermelha e Picãozinho po<strong>de</strong>m ser encontra<strong>da</strong>s duas Subor<strong>de</strong>ns: Fungiina<br />
(Si<strong>de</strong>rastrea stellata) e Faviina (Montastrea cavernosa. Mussismilia hartti e Mussismilia<br />
hispi<strong>da</strong>). As referi<strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong>stacam-se pela ocorrência na área <strong>de</strong> estudo (COSTA, 2001).<br />
No litoral sul <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> João Pessoa as praias possuem uma configuração espacial<br />
similar: são estreitas e arenosas, formam pequenas ensea<strong>da</strong>s, e em <strong>de</strong>terminados trechos são<br />
interrompi<strong>da</strong>s pelo avanço dos tabuleiros costeiros e pelos vales dos rios que <strong>de</strong>sembocam no<br />
Oceano Atlântico (CARVALHO, 1982).<br />
O ambiente recifal do Seixas e <strong>da</strong> Penha (Figura 32) faz parte <strong>da</strong> formação recifal do<br />
estado <strong>da</strong> Paraíba, localizando-se a aproxima<strong>da</strong>mente 700 m <strong>da</strong> costa litorânea entre as Praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha, na zona sul do município <strong>de</strong> João Pessoa, com uma área aproxima<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
1,18 km 2 .<br />
Esta formação é caracteriza<strong>da</strong> como recife <strong>de</strong> franja (Figuras 33 e 34), cuja base<br />
geológica ain<strong>da</strong> não foi registra<strong>da</strong> e pesquisa<strong>da</strong>. Porém, acredita-se que, assim como em outras<br />
formações recifais do nor<strong>de</strong>ste, elas estejam sobre uma estrutura <strong>de</strong> recifes <strong>de</strong> arenito, não<br />
caracterizando assim um recife <strong>de</strong> coral ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro (MAIDA & FERREIRA, 2004).<br />
Os recifes <strong>de</strong>sta locali<strong>da</strong><strong>de</strong> possuem um fluxo turístico-recreativo diferente <strong>da</strong>queles <strong>de</strong><br />
Picãozinho e Areia Vermelha (OLIVEIRA, 2007). O uso é concentrado nos meses <strong>de</strong> verão e é<br />
especialmente direcionado aos resi<strong>de</strong>ntes e moradores <strong>de</strong> outros bairros, sendo a presença <strong>de</strong><br />
turistas esporádica, no entanto, os recifes <strong>da</strong> Penha já estão sendo explorados turisticamente<br />
(MELO, 2006).
67<br />
Figura 32 - Mapa <strong>de</strong> localização dos ambientes recifais do Seixas (A<strong>da</strong>ptado <strong>de</strong> MELO, 2006).<br />
Figura 33 - Vista aérea dos ambientes recifais <strong>da</strong> praia do Seixas (Foto: Eduardo Viana, 2006).
68<br />
Figura 34 - Vista aérea dos ambientes recifais <strong>da</strong> praia <strong>da</strong> Penha (Foto: Eduardo Viana, 2006).<br />
Ao longo <strong>da</strong> formação a profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> coluna <strong>da</strong> água varia bastante: nos locais mais<br />
rasos entre 50 cm a 1,50 cm na baixamar, em <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s marés parte <strong>de</strong>la fica exposta, já nos<br />
locais mais profundos ela po<strong>de</strong> variar <strong>de</strong> 3 m a 6 m. O sedimento é caracterizado pela presença<br />
<strong>de</strong> material biogênico entre as formações recifais, nota<strong>da</strong>mente por partes <strong>de</strong>sintegra<strong>da</strong>s <strong>de</strong> algas<br />
calcárias do gênero Halime<strong>da</strong>. (Figura 35).<br />
Figura 35 - Ambiente recifal do Seixas, partes <strong>de</strong>sintegra<strong>da</strong>s <strong>de</strong> algas calcárias do gênero<br />
Halime<strong>da</strong> (Foto: Rodrigo Melo, 2005).
69<br />
3.3. MATERIAIS E MÉTODOS<br />
O presente estudo foi realizado com três espécies <strong>de</strong> lagostas espinhosas ocorrentes no<br />
ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, João Pessoa, PB, entre abril 2006 e setembro<br />
2007.<br />
3.3.1 AMOSTRAGEM<br />
O estudo <strong>da</strong>s relações biométricas foi bastante utilizado ao longo <strong>de</strong> muitos anos na<br />
caracterização <strong>da</strong>s espécies e grupos populacionais, mas sua importância tem sido minimiza<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong>vido à evolução dos métodos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> caracteres genéticos, <strong>de</strong>terminantes diretos<br />
<strong>da</strong>s características fisiológicas e morfológicas dos indivíduos <strong>de</strong> uma população. No entanto,<br />
tais relações estão sendo utiliza<strong>da</strong>s atualmente no sentido <strong>de</strong> como os indivíduos <strong>de</strong> uma<br />
população reagem às modificações no meio ambiente e a fatores externos que modificam a<br />
estrutura populacional, sendo os mesmos também utilizados na caracterização <strong>da</strong>s modificações<br />
nas proporções corporais entre machos e fêmeas (IVO, 1996).<br />
3.3.1.1 COLETA DE ORGANISMOS<br />
As amostragens foram realiza<strong>da</strong>s mensalmente durante três dias, através <strong>de</strong> sete re<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> espera com 50 m ca<strong>da</strong>, coloca<strong>da</strong>s em uma profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> 1 a 2 m ao longo do recife,<br />
durante 20h, segui<strong>da</strong> por mergulho livre, com duas horas <strong>de</strong> duração.<br />
A i<strong>de</strong>ntificação <strong>da</strong>s espécies foi realiza<strong>da</strong> por meio <strong>de</strong> bibliografia especializa<strong>da</strong> sobre<br />
espécies <strong>da</strong> Or<strong>de</strong>m Decapo<strong>da</strong> ocorrentes no litoral brasileiro (MELO, 1999).<br />
Para a i<strong>de</strong>ntificação dos sexos foram levados em consi<strong>de</strong>ração somente os caracteres<br />
anatômicos externos <strong>da</strong> lagosta, que exibem um evi<strong>de</strong>nte dimorfismo sexual.<br />
3.3.1.2 BIOMETRIA POPULACIONAL<br />
A medição do comprimento total (Ct), em milímetros, foi feita utilizando um<br />
ictiômetro, com precisão <strong>de</strong> 1,0 mm. O Ct refere-se à distância entre o entalhe formado pelos
70<br />
espinhos rostrais até atingir a extremi<strong>da</strong><strong>de</strong> posterior do télson, sempre consi<strong>de</strong>rando o plano <strong>de</strong><br />
simetria do animal e sobre seu dorso (Figura 36 e Figura 37).<br />
Figura 36 - Esquema do comprimento total (Ct) e do comprimento do cefalotórax (Cc).<br />
Figura 37 - Realização <strong>da</strong> medi<strong>da</strong> do comprimento total (mm) (Foto: Claudia Valle).
71<br />
A medição do comprimento do cefalotórax (Cc) em milímetros (mm) foi realiza<strong>da</strong><br />
utilizando paquímetro SOMET, com precisão <strong>de</strong> 1,0 mm. O Cc correspon<strong>de</strong> à distância entre o<br />
entalhe formado pelos dois espinhos rostrais até a margem posterior do cefalotórax (Figura 38).<br />
Figura 38 - Realização <strong>da</strong> medi<strong>da</strong> do comprimento do cefalotórax (mm) (Foto: Claudia Valle).<br />
Peso total (Pt), em gramas (g), foi aferido através <strong>de</strong> balança analítica Marte, <strong>de</strong> prato<br />
exposto, com precisão <strong>de</strong> 0,01 g (Figura 39).<br />
Figura 39 - Medição do peso total (g) (Fotos: Patricia Oliveira).
72<br />
Para a i<strong>de</strong>ntificação do sexo, foram observados os caracteres anatômicos externos <strong>da</strong><br />
lagosta, relativos ao seu dimorfismo sexual (Figura 40).<br />
Figura 40 - Dimorfismo sexual. A seta mostra o endopodito do pleiópodo <strong>da</strong> lagosta fêmea<br />
(Foto: Patricia Oliveira, 2007).<br />
Após a biometria, to<strong>da</strong>s as lagostas foram <strong>de</strong>volvi<strong>da</strong>s ao seu local <strong>de</strong> captura.<br />
3.3.2 TRATAMENTO ESTATÍSTICO<br />
Consi<strong>de</strong>rando-se que na área estu<strong>da</strong><strong>da</strong> não foram registra<strong>da</strong>s variações climáticas<br />
suficientemente fortes que possam provocar modificações periódicas na estrutura <strong>da</strong><br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>, os <strong>da</strong>dos foram agrupados em dois períodos anuais, <strong>de</strong>terminados pela<br />
pluviosi<strong>da</strong><strong>de</strong>, <strong>de</strong> acordo com as informações obti<strong>da</strong>s no site <strong>da</strong> Agência Executiva <strong>de</strong> Gestão <strong>da</strong>s<br />
Águas do Estado <strong>da</strong> Paraíba (AESA-PB, 2007), com referência à Estação Meteorológica <strong>de</strong><br />
Mangabeira, para o período <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2006 a setembro <strong>de</strong> 2007:<br />
Período 1 (chuvoso 06): abril <strong>de</strong> 2006 a agosto <strong>de</strong> 2006.<br />
Período 2 (seco 06/07): setembro <strong>de</strong> 2006 a fevereiro <strong>de</strong> 2007.<br />
Período 3 (chuvoso 07): março <strong>de</strong> 2007 a setembro <strong>de</strong> 2007.<br />
Gráfico dos índices pluviométricos do período <strong>de</strong> coleta (Apêndice C)
73<br />
3.3.2.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA<br />
As estatísticas <strong>de</strong>scritivas estima<strong>da</strong>s para as variáveis biométricas foram:<br />
- Média aritmética:<br />
X<br />
<br />
X<br />
n<br />
- Desvio padrão:<br />
s <br />
2<br />
s<br />
3.3.3 DISTRIBUIÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DE TAMANHOS NA POPULAÇÃO<br />
A partir <strong>da</strong> biometria realiza<strong>da</strong> obteve-se a distribuição <strong>da</strong> composição percentual dos<br />
tamanhos dos indivíduos amostrados, através <strong>da</strong> distribuição <strong>da</strong>s freqüências <strong>de</strong> Ct, em mm, por<br />
classes <strong>de</strong> comprimento.<br />
A distribuição <strong>da</strong>s freqüências foi realiza<strong>da</strong> por período, com base na <strong>de</strong>finição <strong>de</strong><br />
intervalos <strong>de</strong> classes, consi<strong>de</strong>rando a amplitu<strong>de</strong> observa<strong>da</strong> entre os valores máximos e mínimos<br />
<strong>da</strong> amostra total. O número <strong>de</strong> classes foi <strong>de</strong>terminado através <strong>da</strong> fórmula <strong>de</strong> (Sturges, 1926<br />
apud Peso-Aguiar, 1995) como se segue:<br />
On<strong>de</strong>:<br />
Vi= Intervalo <strong>de</strong> classe<br />
A= Amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> variável (Máx.-Mín.)<br />
K= (*) + 3,32 x log n<br />
Vi <br />
A<br />
K<br />
On<strong>de</strong>:<br />
K= número <strong>de</strong> classes<br />
(*)= valor relativo ao número <strong>de</strong> observações presentes na amostra quando:<br />
n < 100=1<br />
100 < n < 200=2<br />
200 < n < 300=3<br />
300 < n < 400=4<br />
400 < n < 500=5<br />
500 < n < 600=6
74<br />
600 < n < 700=7<br />
700 < n < 800=8<br />
800 < n < 900=9<br />
n > 900=10<br />
A distribuição gráfica <strong>da</strong>s freqüências por classe <strong>de</strong> comprimento levou à i<strong>de</strong>ntificação<br />
<strong>da</strong>s ocorrências <strong>de</strong> mo<strong>da</strong>s, através do tempo, e dos períodos <strong>de</strong> recrutamento <strong>de</strong> jovens à<br />
população susceptível <strong>de</strong> ser pesca<strong>da</strong> na região.<br />
3.3.4 RELAÇÃO PESO X COMPRIMENTO<br />
As estimativas dos parâmetros <strong>da</strong>s relações entre as variáveis do peso e o comprimento<br />
foram obti<strong>da</strong>s através do método dos mínimos quadrados, nas transformações logarítmicas dos<br />
valores empíricos para o cálculo <strong>da</strong> expressão matemática, segundo Santos (1978):<br />
Pt e Ct.<br />
<br />
Pt Fc.<br />
Ct<br />
On<strong>de</strong> Pt=Peso total; Fc= Fator <strong>de</strong> condição e Ct=Comprimento total<br />
Foram estimados os parâmetros <strong>da</strong> expressão matemática para as variáveis biométricas,<br />
A transformação logarítmica: InPt = InFc + . InCt <strong>de</strong>monstrou a ocorrência <strong>de</strong> uma<br />
relação linear entre as duas variáveis logaritmiza<strong>da</strong>s, evi<strong>de</strong>ncia<strong>da</strong> pelo coeficiente <strong>de</strong> correlação<br />
linear <strong>de</strong> Pearson (r).<br />
3.3.5 FATOR DE CONDIÇÃO<br />
Foi estimado o fator <strong>de</strong> condição médio por período, o qual traduz o grau <strong>de</strong> engor<strong>da</strong><br />
ou <strong>de</strong>sempenho nutricional <strong>da</strong> população. Para tal, foram tomados por base os parâmetros <strong>da</strong><br />
equação matemática <strong>da</strong> relação entre o peso total e o comprimento total <strong>de</strong> to<strong>da</strong> a população,<br />
obtendo-se, assim, os parâmetros Fc e comuns para todos os indivíduos coletados.<br />
A estimativa do fator <strong>de</strong> condição ajustado individual foi obti<strong>da</strong> através <strong>da</strong> fórmula:<br />
On<strong>de</strong>:<br />
Fc= fator <strong>de</strong> condição<br />
Fc <br />
Pt<br />
<br />
Ct<br />
è= variável relaciona<strong>da</strong> com o crescimento dos indivíduos
75<br />
Estimou-se então o fator <strong>de</strong> condição (Fc) médio por período obtido <strong>da</strong> relação.<br />
On<strong>de</strong>:<br />
Fc<br />
<br />
<br />
Fc<br />
n<br />
Fc = fator <strong>de</strong> condição médio por período, ajustado<br />
n = número <strong>de</strong> indivíduos por período amostrado<br />
Calculado o “fator <strong>de</strong> condição” (Fc) médio, para ca<strong>da</strong> período, os resultados foram<br />
lançados em gráficos e analisa<strong>da</strong> a sua flutuação em função do tempo.<br />
3.3.6 PROPORÇÃO SEXUAL<br />
A estimativa <strong>de</strong> diferenças estatísticas significativas na proporção entre os sexos foi<br />
realiza<strong>da</strong> através do teste 2 (qui-quadrado) após o estabelecimento <strong>da</strong>s seguintes hipóteses: H 0 =<br />
hipótese <strong>de</strong> nuli<strong>da</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong> N♂ = N♀ e H a = hipótese alternativa on<strong>de</strong> N♂ ≠ N♀. Utilizando a<br />
seguinte fórmula:<br />
On<strong>de</strong>:<br />
2 = qui-quadrado<br />
2<br />
<br />
<br />
<br />
N ♂ N ♀<br />
N♂<br />
N ♀<br />
N♂= número total <strong>de</strong> machos <strong>da</strong> amostra<br />
N♀= número total <strong>de</strong> fêmeas <strong>da</strong> amostra<br />
<br />
2<br />
O 2 calculado foi comparado como 2 (n-1) á=0,05 tabelado.<br />
3.3.7 FAUNA ACOMPANHANTE<br />
Segundo Rocha et al. (1997) os fundos lagosteiros são formados por bancos <strong>de</strong> algas<br />
calcárias bastante extensos, não contínuos e <strong>de</strong> vários tamanhos; esses conglomerados são<br />
crostosos, encontrando-se soltos ou parcialmente enterrados no substrato. Quando as condições
76<br />
ambientais favorecem o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> algas vermelhas, seus conglomerados se fun<strong>de</strong>m,<br />
formando bancos não espessos <strong>de</strong> cascalho. Frequentemente, “ilhas” <strong>de</strong> algas vermelhas são<br />
encontra<strong>da</strong>s <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> extensas formações <strong>de</strong> algas ver<strong>de</strong>s do gênero Halime<strong>da</strong> (ROUND,<br />
1983). Esse tipo <strong>de</strong> substrato propicia a existência <strong>de</strong> uma gran<strong>de</strong> varie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> organismos<br />
bentônicos, os quais o utilizam como ponto <strong>de</strong> fixação (organismos sésseis), refúgio<br />
(organismos perfurantes e/ou crípticos), alimentação (ca<strong>de</strong>ia trófica complexa) e reprodução<br />
(proteção <strong>de</strong> <strong>de</strong>sovas) (ROCHA et al., 1997).<br />
Ivo et al. (1996) afirmam que os peixes e crustáceos que compõem a fauna<br />
acompanhante <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong> lagosta <strong>de</strong>sempenham papel importante na transformação <strong>de</strong> energia,<br />
pelo consumo direto <strong>de</strong> produtores primários, <strong>de</strong>tritos e outros materiais, ou através <strong>da</strong><br />
pre<strong>da</strong>ção. A lagosta, por exemplo, é ao mesmo tempo pre<strong>da</strong>dor <strong>de</strong> pequenos organismos e presa<br />
<strong>de</strong> outros maiores e representa um importante elemento <strong>da</strong> ca<strong>de</strong>ia alimentar.<br />
A coleta foi realiza<strong>da</strong> juntamente com a <strong>da</strong> lagosta, feita com caçoeira, <strong>de</strong> baixo custo e<br />
alta produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong>, é consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> não seletiva e causadora <strong>de</strong> <strong>da</strong>nos ao substrato (MOURA,<br />
1963; MOURA & COSTA, 1966; PAIVA et al., 1973). Por esse motivo, sua utilização foi<br />
proibi<strong>da</strong> no período <strong>de</strong> 1974 a 1995, muito embora, mesmo nesta, época tenha sido largamente<br />
emprega<strong>da</strong>, <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rando-se a legislação. O uso <strong>de</strong> tal apetrecho foi novamente proibido<br />
segundo Instrução Normativa N° 138 <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006 em seu Artigo 6°.<br />
Todos os animais capturados durante as coletas experimentais foram i<strong>de</strong>ntificados ao<br />
nível <strong>de</strong> espécie, quando possível, registrando-se o número <strong>de</strong> indivíduos por espécie. Animais<br />
cuja i<strong>de</strong>ntificação em campo não foi possível foram acondicionados em sacos, etiquetados e<br />
levados ao laboratório, proce<strong>de</strong>ndo-se então a estudos complementares, necessários à sua<br />
i<strong>de</strong>ntificação com auxílio <strong>de</strong> manuais como Melo (1999), Amaral (2006) e Figueiredo (1977).<br />
Segundo Ivo et al. (1996) entre as várias formas possíveis <strong>de</strong> caracterização <strong>de</strong> uma<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>, a abundância relativa (p i ) é a mais simples, estando representa<strong>da</strong> pela relação entre<br />
o número <strong>de</strong> indivíduos <strong>de</strong> to<strong>da</strong>s as espécies presentes (n) em um <strong>de</strong>terminado período e uma<br />
<strong>de</strong>termina<strong>da</strong> área, em termos percentuais, segundo a fórmula:<br />
P i = (n i /n) x 100<br />
Para <strong>da</strong>dos on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>termina a ocorrência <strong>da</strong>s diferentes categorias (espécie) que<br />
compõem um conjunto consi<strong>de</strong>rado (comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>), portanto quando se dispõe apenas <strong>de</strong><br />
registros <strong>da</strong>s freqüências <strong>de</strong> ocorrências <strong>da</strong>s várias espécies <strong>de</strong> uma comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>, não faz sentido<br />
o uso <strong>da</strong> média ou mediana como referência para discutir a dispersão <strong>da</strong>s várias categorias que<br />
compõem o conjunto consi<strong>de</strong>rado (IVO et al., 1996). Neste caso, aplica-se o conceito <strong>de</strong><br />
Shannon e Wiener <strong>da</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> espécies (H’), que analisa a distribuição <strong>da</strong>s espécies na
77<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> (ZAR, 1998), <strong>de</strong>fini<strong>da</strong> por Margalef (1958, in PESO-AGUIAR, 1980), como “uma<br />
função do número <strong>de</strong> espécies presentes (ou abundância) e <strong>da</strong> uniformi<strong>da</strong><strong>de</strong> (ou <strong>da</strong> igual<strong>da</strong><strong>de</strong>)<br />
com as quais os indivíduos estão distribuídos entre as espécies”, representa<strong>da</strong> pela equação<br />
(SHANNON & WIENER, 1949 in PIELOU, 1976):<br />
H ' <br />
k<br />
<br />
i1<br />
pi ln pi<br />
on<strong>de</strong> k = número <strong>de</strong> células (espécies) e p i = proporção <strong>da</strong>s observações encontra<strong>da</strong>s na célula i.<br />
Se n = tamanho <strong>da</strong> amostra, n i = número <strong>de</strong> observações na célula i, tem-se p i = n i /n.<br />
O valor <strong>de</strong> H’ não é afetado apenas pela distribuição dos <strong>da</strong>dos, mas também pelo<br />
número <strong>de</strong> categorias. Assim, teoricamente, o máximo valor possível <strong>da</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> para um<br />
conjunto <strong>de</strong> <strong>da</strong>dos, com k células, é <strong>da</strong>do por (ZAR, 1998):<br />
H máx = ln k<br />
Para testar a igual<strong>da</strong><strong>de</strong> entre as diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>s obti<strong>da</strong>s para duas amostras, utiliza-se o<br />
teste t conforme indicado em Zar (1998).<br />
A comparação dos valores máximo e mínimo <strong>da</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>, feita através do teste t,<br />
po<strong>de</strong> ser sumariza<strong>da</strong> nas seguintes hipóteses, para á = 0,05:<br />
H o : A diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> fauna acompanhante na pesca <strong>da</strong> lagosta é a mesma nos períodos<br />
analisados.<br />
H a : A diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> fauna acompanhante na pesca <strong>da</strong> lagosta não é a mesma nos<br />
períodos analisados.<br />
O estudo <strong>da</strong> equitabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>fine a representativi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> abundância <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> espécie<br />
em relação ao total <strong>de</strong> indivíduos na comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> e foi conduzido utilizando-se o índice<br />
apresentado por Simpson (1949, apud PIELOU, 1976) e Brower & Zar (1979), on<strong>de</strong> a<br />
dominância (ë) é <strong>de</strong>fini<strong>da</strong> como a probabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> dois indivíduos retirados ao acaso <strong>de</strong> uma<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> serem <strong>da</strong> mesma espécie, segundo a fórmula:<br />
ë = Ón i (n i -1)/n(n-1) = Óp 2<br />
Um conjunto <strong>de</strong> espécies com alta diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>, terá baixa dominância e vice-versa.<br />
Para calcular os índices <strong>da</strong> fauna acompanhante foi usado o programa DivEs -<br />
Diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> espécies. Versão 2.0. (RODRIGUES W.C., 2005).
78<br />
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES<br />
3.4.1 Biometria<br />
Foram amostra<strong>da</strong>s 512 lagostas em 18 coletas realiza<strong>da</strong>s entre abril <strong>de</strong> 2006 e setembro<br />
<strong>de</strong> 2007, no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, João Pessoa-PB.<br />
A Tabela 8 apresenta os valores calculados para as variáveis: comprimento total,<br />
comprimento do cefalotórax e peso total <strong>da</strong>s três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s. No período seco 06/07<br />
foram obti<strong>da</strong>s maiores médias <strong>de</strong> comprimento total, comprimento <strong>de</strong> cefalotórax e peso para<br />
to<strong>da</strong>s as espécies. Destaca-se que no período chuvoso 06, as fêmeas <strong>da</strong>s três espécies<br />
apresentaram comprimentos maiores que os machos, mas somente fêmeas <strong>de</strong> P. echinatus<br />
atingiram peso superior. Para P. echinatus Vasconcelos et al., (1994) observaram a mesma<br />
tendência <strong>de</strong> fêmeas maiores que machos, embora estes autores reconhecessem que os machos<br />
<strong>da</strong> maioria <strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong> palinurí<strong>de</strong>os atingem comprimento total consi<strong>de</strong>ravelmente maior do<br />
que as fêmeas.<br />
Tabela 8 - Média±Desvio Padrão do Comprimento total (Ct), Comprimento do cefalotórax (Cc)<br />
e Peso total (Pt) <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong><br />
captura<strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Período Espécie Sexo n Ct (mm) Cc (mm) Pt (g)<br />
P. echinatus M 61 141,57±17,295 61,03±8,060 95,87±39,728<br />
Chuvoso<br />
06<br />
Seco<br />
06/07<br />
Chuvoso<br />
07<br />
F 39 150,85±13,772 62,13±5,836 106,93±27,055<br />
P. argus M 39 140,02±13,309 60,23±6,301 89,75±25,362<br />
F 26 140,31±18,534 57,88±7,870 87,77±29,399<br />
P. laevicau<strong>da</strong> M 43 146,35±17,289 64,02±8,236 106,44±43,593<br />
F 55 146,64±12,383 59,64±5,186 93,74±21,452<br />
P. echinatus M 21 151,24±21,104 66,57±10,747 120,25±50,590<br />
F 10 153,00±22,445 64,00±11,935 117,81±70,600<br />
P. argus M 19 158,63±27,659 69,36±12,490 144,44±67,025<br />
F 27 152,37±18,062 64,26±08,401 117,89±41,304<br />
P. laevicau<strong>da</strong> M 15 153,40±24,456 67,13±11,300 125,94±54,245<br />
F 15 145,60±19,581 60,80±08,562 102,72±42,060<br />
P. echinatus M 41 160,44±18,904 69,19±08,933 140,51±43,554<br />
F 9 138,67±19,261 57,89±07,801 84,08±38,864<br />
P. argus M 17 144,47±29,509 62,23±13,406 109,77±58,004<br />
F 17 147,12±14,194 62,00±06,809 105,69±27,106<br />
P. laevicau<strong>da</strong> M 34 120,44±21,084 51,18±10,068 63,12±55,111<br />
F 24 124,04±25,084 52,46±11,037 68,83±42,245
79<br />
3.4.2 Tamanho dos indivíduos na população<br />
3.4.2.1 Comprimento total<br />
A Tabela 9 apresenta a <strong>de</strong>scrição <strong>da</strong>s médias e <strong>de</strong>svios padrão dos comprimentos totais<br />
obtidos para ca<strong>da</strong> espécie <strong>de</strong> lagosta, por sexo, para todo período estu<strong>da</strong>do, mostra também a<br />
amplitu<strong>de</strong> dos valores encontrados para as três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s no ambiente recifal.<br />
Tabela 9 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos comprimentos totais (mm) <strong>da</strong>s lagostas<br />
Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Espécie Sexo n DP<br />
Amplitu<strong>de</strong><br />
Mínimo Máximo<br />
P. echinatus<br />
M 123 149,51 20,234 90 200<br />
F 58 149,33 16,731 110 200<br />
P. argus<br />
M 75 145,75 22,925 71 210<br />
F 70 146,61 17,948 105 191<br />
P. laevicau<strong>da</strong><br />
M 82 137,92 24,281 91 200<br />
F 94 140,70 20,193 88 190<br />
Panulirus echinatus<br />
Nos machos a amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> tamanho variou <strong>de</strong> 90 a 200mm, enquanto o comprimento<br />
médio <strong>da</strong> população foi 149,51mm. Nas fêmeas, a amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> tamanho variou <strong>de</strong> 110 a<br />
200mm, enquanto o comprimento médio <strong>da</strong> população resultou em 149,33mm. Estudos<br />
realizados com a mesma espécie na Reserva Biológica do Atol <strong>da</strong>s Rocas-RN, <strong>de</strong>screveram<br />
amplitu<strong>de</strong> para machos <strong>de</strong> 58 a 257mm e para fêmeas <strong>de</strong> 81 a 228mm, valores que não diferem<br />
significativamente entre os sexos (SILVA et al., 2001). O mesmo ocorreu neste estudo, on<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
acordo com o teste t, não há diferença significativa no Ct entre os sexos para P. echinatus<br />
(t 181 =0,060; p>0,05).<br />
Para os machos o menor comprimento médio (141,57mm) foi obtido no período<br />
chuvoso 06 e o maior (160,44mm) no período chuvoso 07. Para as fêmeas o menor<br />
comprimento médio (138,66mm) foi obtido no período chuvoso 07 e o maior (153,00mm) no<br />
período seco 06/07. Em estudo no ambiente recifal <strong>da</strong> baía <strong>de</strong> Guarapuá-BA, Oliveira (2001)<br />
obteve também comprimento médio maior para P. echinatus associado à menor intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
chuvas.
80<br />
Panulirus argus<br />
Para os machos foi observa<strong>da</strong> a amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos que variou <strong>de</strong> 71 a<br />
210mm, enquanto o comprimento médio foi 145,75mm. Para as fêmeas foi observa<strong>da</strong> a<br />
amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> tamanhos que variou <strong>de</strong> 105 a 191mm, enquanto o comprimento médio resultou<br />
em 146,61mm. Comparado com indivíduos capturados por Ivo & Pereira (1996) no RN e<br />
BA/SE que obtiveram respectivamente, as médias para machos, <strong>de</strong> 159,9mm e 155,9mm e para<br />
fêmeas <strong>de</strong> 125,3mm e 157,9mm, as lagostas do ambiente recifal <strong>da</strong> praia do Seixas e <strong>da</strong> Penha<br />
são menores. Porém não houve diferença significativa no Ct entre os sexos, <strong>de</strong> acordo com o<br />
teste t (t 145 =0,252; p>0,05).<br />
Para os machos o menor comprimento médio (140,03mm) foi obtido no período<br />
chuvoso 06 e o maior (158,63mm) no período seco 06/07. Para as fêmeas o menor comprimento<br />
médio (140,31mm) foi também obtido no período chuvoso 06 e o maior (152,37mm) no período<br />
seco 06/07.<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
Para os machos foi observa<strong>da</strong> a amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos que variou <strong>de</strong> 91 a 200mm,<br />
enquanto o comprimento médio <strong>da</strong> população foi <strong>de</strong> 137,92mm. Para as fêmeas foi observa<strong>da</strong> a<br />
amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos que variou <strong>de</strong> 88 a 190mm, enquanto o comprimento médio <strong>da</strong><br />
população resultou em 140,70mm. No estado do Ceará, P. laevicau<strong>da</strong> apresentou uma<br />
amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimento que variou <strong>de</strong> 118 a 222mm, com um comprimento médio <strong>de</strong><br />
158,1mm (IVO, 2000), sendo portanto, maiores que as encontra<strong>da</strong>s neste estudo. Os <strong>da</strong>dos<br />
mostram que não houve diferença <strong>de</strong> Ct entre os sexos, segundo o teste (t 186 =0,849; p>0,05).<br />
Nos machos, o menor comprimento médio (120,44mm) foi mensurado no período<br />
chuvoso 07 e o maior (153,40mm) no período seco 06/07. Entre as fêmeas o menor<br />
comprimento médio (124,04mm) foi obtido no período chuvoso 07 e o maior (146,64mm) no<br />
período chuvoso 06.<br />
3.4.2.2 Comprimento do cefalotórax<br />
A Tabela 10 apresenta a <strong>de</strong>scrição dos valores <strong>da</strong>s médias e <strong>de</strong>svios padrão dos<br />
comprimentos dos cefalotórax obtidos para ca<strong>da</strong> espécie <strong>de</strong> lagosta, por sexo, para todo o<br />
período estu<strong>da</strong>do, mostra também a amplitu<strong>de</strong> dos valores encontrados nas três espécies<br />
estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha.
81<br />
Tabela 10 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos comprimentos dos cefalotórax <strong>da</strong>s Panulirus<br />
echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Espécie Sexo n DP<br />
Amplitu<strong>de</strong><br />
Mínimo Máximo<br />
P. echinatus<br />
M 123 64,70 9,550 37 91<br />
F 58 61,79 7,555 46 90<br />
P. argus<br />
M 75 63,00 10,574 30 94<br />
F 70 61,34 8,230 43 82<br />
P. laevicau<strong>da</strong><br />
M 82 59,78 11,545 36 90<br />
F 94 57,99 8,219 36 81<br />
Panulirus echinatus<br />
Entre os machos foi observa<strong>da</strong> a amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos <strong>de</strong> 37 a 91mm, enquanto<br />
o comprimento <strong>de</strong> cefalotórax médio foi <strong>de</strong> 64,70mm. Para as fêmeas foi observa<strong>da</strong> a amplitu<strong>de</strong><br />
entre 46 e 90mm, enquanto o comprimento médio resultou em 61,80mm. Foi observa<strong>da</strong> uma<br />
diferença significativa no Cc entre os sexos, conforme o teste t (t 181 =2,035; p0,05). No RN e BA/SE os machos apresentaram um comprimento <strong>de</strong> cefalotórax<br />
médio <strong>de</strong> respectivamente, 78,9 e 88,5mm e as fêmeas 81,6 e 46,1mm (IVO & PEREIRA,<br />
1996).
82<br />
Entre os machos, o menor comprimento <strong>de</strong> cefalotórax médio (60,23mm) foi obtido no<br />
período chuvoso 06 e o maior (69,36mm) no período seco 06/07. Entre as fêmeas, o menor<br />
comprimento médio (57,89mm) foi também obtido no período chuvoso 06 e o maior (64,26mm)<br />
no período seco 06/07.<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
Nos machos foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos que variou <strong>de</strong> 36 a 90mm,<br />
enquanto o comprimento <strong>de</strong> cefalotórax médio foi <strong>de</strong> 59,78mm. Nas fêmeas foi observa<strong>da</strong> uma<br />
amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprimentos que variou <strong>de</strong> 36 a 81mm, enquanto o comprimento médio <strong>da</strong><br />
população resultou em 57,99mm. Uma amplitu<strong>de</strong> variando <strong>de</strong> 39 a 82mm foi encontra<strong>da</strong> em<br />
lagostas no CE, com um comprimento médio <strong>de</strong> cefalotórax <strong>de</strong> 56,5mm (IVO, 2000). Segundo<br />
o teste t (t 186 =0,252; p>0,05), para este estudo, não foram observa<strong>da</strong>s diferença <strong>de</strong> Cc entre os<br />
sexos.<br />
Para os machos o menor comprimento <strong>de</strong> cefalotórax médio (51,18mm) foi obtido no<br />
período chuvoso 07 e o maior (67,13mm) no período seco 06/07. Para as fêmeas o menor<br />
comprimento médio (52,45mm) foi também obtido no período chuvoso 07 e o maior (60,80mm)<br />
no período seco 06/07.<br />
3.4.2.3 Peso total<br />
A Tabela 11 apresenta a <strong>de</strong>scrição dos valores <strong>da</strong>s médias e <strong>de</strong>svios padrão dos pesos<br />
obtidos para ca<strong>da</strong> espécie <strong>de</strong> lagosta, por sexo, para todo o período estu<strong>da</strong>do, mostra também a<br />
amplitu<strong>de</strong> dos valores encontrados nas três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha.<br />
Tabela 11 - Médias () e Desvio padrão (DP) dos pesos (g) <strong>de</strong> Panulirus echinatus, P. argus e<br />
P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a<br />
set/07.<br />
Espécie Sexo n DP<br />
Amplitu<strong>de</strong><br />
Mínimo Máximo<br />
P. echinatus<br />
M 123 114,91 47,162 23,96 289,70<br />
F 58 105,37 39,782 44,62 289,70<br />
P. argus<br />
M 75 108,28 51,401 18,65 314,64<br />
F 70 103,74 36,080 34,93 232,51<br />
P. laevicau<strong>da</strong><br />
M 82 93,61 48,727 19,67 289,70<br />
F 94 88,81 33,517 21,32 221,70
83<br />
Panulirus echinatus<br />
Nos machos foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> peso que variou <strong>de</strong> 23,96 a 289,70g,<br />
enquanto o peso médio foi <strong>de</strong> 114,91g. Nas fêmeas foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pesos que<br />
variou <strong>de</strong> 44,62 a 289,70g, enquanto o peso médio <strong>da</strong> população resultou em 105,37g.<br />
Estatisticamente não foram registra<strong>da</strong>s diferenças em Pt entre os sexos, conforme o teste t<br />
(t 181 =1,3328; p>0,05). Oliveira (2001) obteve uma amplitu<strong>de</strong> que variou <strong>de</strong> 29,63 a 314,64g e<br />
um peso médio <strong>de</strong> 96,05g.<br />
Nos machos, o menor peso (95,87g) foi obtido no período chuvoso 06 e o maior<br />
(140,51g) no chuvoso 07. Nas fêmeas o menor peso médio (84,80g) foi obtido no período<br />
chuvoso 07 e o maior (117,80g) no período seco 06/07. Para P. echinatus em Guarapuá-BA, o<br />
maior peso médio foi obtido no período seco (OLIVEIRA, 2001).<br />
Panulirus argus<br />
Nos machos foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> peso que variou <strong>de</strong> 18,65 a 314,64g,<br />
enquanto o peso médio foi <strong>de</strong> 108,28g. Nas fêmeas foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> peso que<br />
variou <strong>de</strong> 34,93 a 232,51g, enquanto o peso médio resultou em 103,74g. Dados obtidos em<br />
capturas no CE mostram uma maior amplitu<strong>de</strong> tanto nos machos (88,5 a 467,5g) como nas<br />
fêmeas (67,0 a 560,5g), assim como maiores valores médios 227,9 e 221,1g respectivamente<br />
(IVO, 2000). Não houve diferença para Pt entre os sexos, segundo o teste t (t 145 =0,6113;<br />
p>0,05).<br />
Nos machos o menor peso médio (89,75g) foi obtido no período chuvoso 06 e o maior<br />
(144,44g) no período seco 06/07. Nas fêmeas o menor peso médio (87,77g) foi obtido no<br />
período chuvoso 06 e o maior (117,89g) no período seco 06/07.<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
Nos machos foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> peso que variou <strong>de</strong> 19,67 a 289,70g,<br />
enquanto o peso médio foi <strong>de</strong> 93,61g. Nas fêmeas foi observa<strong>da</strong> uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pesos que<br />
variou <strong>de</strong> 21,32 a 221,70g, enquanto o peso médio resultou em 88,81g. O teste t (t 186 =0,7838;<br />
p>0,05), <strong>de</strong>monstrou não haver diferença para Pt entre os sexos. Em estudo similar no RN, Ivo<br />
(2000) obteve uma amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 63 a 610g e um peso médio <strong>de</strong> 183,7g, para lagostas <strong>da</strong> mesma<br />
espécie, o que revela que as lagostas <strong>de</strong>sta espécie são menores nos recifes <strong>da</strong>s Praias do Seixas<br />
e Penha.
84<br />
Nos machos o menor peso médio (63,83g) foi obtido no período chuvoso 06 e o maior<br />
(125,93g) no período seco 06/07. Nas fêmeas o menor peso médio (68,83g) foi também obtido<br />
no período chuvoso 06 e o maior (102,72g) no período seco 06/07.<br />
3.4.3 Distribuição <strong>da</strong> freqüência dos tamanhos na população<br />
O cálculo <strong>da</strong>s freqüências relativas <strong>da</strong> distribuição dos tamanhos por classes <strong>de</strong><br />
comprimento dos indivíduos (Tabela 12) resultou no gráfico <strong>da</strong> distribuição <strong>da</strong>s freqüências em<br />
todo o período, por espécies, apresentado na Figura 40, revelou a existência <strong>de</strong> três grupos<br />
etários, representados em três grupos mo<strong>da</strong>is distintos, arbitrariamente i<strong>de</strong>ntificados pelo ponto<br />
médio como: 1- <strong>de</strong> 76 a 116 mm <strong>de</strong> Ct (recrutas); 2- <strong>de</strong> 126 a 156 mm <strong>de</strong> Ct (jovens) e 3- <strong>de</strong><br />
166 a 206 mm Ct (adultos), sendo a classe <strong>de</strong> 146 mm, a mais freqüente na população durante<br />
todo o período.<br />
Tabela 12 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas por classes <strong>de</strong> comprimento total na população<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Classes<br />
P. echinatus P. argus P. laevicau<strong>da</strong><br />
Ponto<br />
<br />
Fr Fr<br />
Fr ac Fr Fr<br />
Fr ac Fr Fr<br />
Fr ac<br />
ab ac Fr % % ab ac Fr % % ab ac Fr % %<br />
71 ---| 81 76 0 0 0,00 0,00 1 1 0,69 0,69 0 0 0,00 0,00<br />
81 ---| 91 86 1 1 0,55 0,55 0 1 0,00 0,69 2 2 1,08 1,08<br />
91 ---| 101 96 0 0 0,00 0,55 1 2 0,69 1,38 8 10 4,30 5,38<br />
101 ---| 111 106 2 3 1,10 1,65 8 10 5,52 6,90 16 26 8,60 13,98<br />
111 ---| 121 116 5 8 2,76 4,41 5 15 3,45 10,35 12 38 6,45 20,43<br />
121 ---| 131 126 25 33 13,80 18,21 13 28 8,97 19,32 19 57 10,21 30,64<br />
131 ---| 141 136 30 63 16,56 34,77 34 62 23,45 42,77 35 92 18,82 49,46<br />
141 ---| 151 146 38 101 20,98 55,75 25 87 17,23 60,00 41 133 22,04 71,50<br />
151 ---| 161 156 36 137 19,87 75,62 27 114 18,62 78,62 25 158 13,44 84,94<br />
161 ---| 171 166 17 154 9,38 85,00 17 131 11,72 90,34 17 175 9,14 94,08<br />
171 ---| 181 176 18 172 9,94 94,94 10 141 6,90 97,24 5 180 2,69 96,77<br />
181 ---| 191 186 7 179 3,96 98,90 2 143 1,38 98,62 5 185 2,69 99,46<br />
191 ---| 201 196 2 181 1,10 100,00 1 144 0,69 99,31 1 186 0,54 100,00<br />
201 ---| 211 206 0 181 0,00 100,00 1 145 0,69 100,00 0 186 0,00 100,00<br />
Total 181 0 100,00 100,00 145 0 100,00 100,00 186 0 100,00 100,00<br />
A freqüência observa<strong>da</strong> na distribuição <strong>de</strong> classes <strong>de</strong> tamanho dos indivíduos mostrouse<br />
semelhante para as três populações estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s. O ponto médio <strong>da</strong> classe on<strong>de</strong> se observou<br />
maior ocorrência <strong>de</strong> indivíduos foi 146mm, principalmente para P. echinatus e P. laevicau<strong>da</strong><br />
(Figura 41). A malha <strong>da</strong> re<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-espera usa<strong>da</strong> po<strong>de</strong> ter <strong>de</strong>sfavorecido a captura <strong>de</strong> jovens, fato<br />
observado na baixa freqüência dos mesmos nas populações estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s. No Atol <strong>da</strong>s Rocas, Silva
85<br />
et al. (2001), capturando indivíduos manualmente nas piscinas localiza<strong>da</strong>s no platô recifal,<br />
obteve um comprimento total para P. echinatus com amplitu<strong>de</strong> variando <strong>de</strong> 58 a 257mm.<br />
Capturando, portanto, indivíduos menores e maiores do que os contemplados neste estudo<br />
capturados por re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera.<br />
Freqüência observa<strong>da</strong><br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
P. echinatus P. argus P. laevicau<strong>da</strong><br />
76 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 186 196 206<br />
Ponto médio <strong>da</strong>s classes (mm)<br />
Figura 41 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas por classes <strong>de</strong> comprimento total na população<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
O tamanho total variou significativamente entre as espécies (F= 11,43;g.l.= 2; p
86<br />
As distribuições <strong>da</strong>s freqüências <strong>da</strong>s classes <strong>de</strong> Ct, por períodos (Tabelas 13, 14 e 15;<br />
Figuras 43, 44 e 45) mostram <strong>de</strong>slocamento <strong>da</strong>s classes através do tempo, correspon<strong>de</strong>ndo,<br />
provavelmente, à evolução <strong>da</strong>s classes etárias ou coortes <strong>de</strong> períodos <strong>de</strong> recrutamento. Essa<br />
distribuição gráfica mostra períodos <strong>de</strong> recrutamento mais intensos na população no período<br />
chuvoso 07 para as três espécies.<br />
Tabela 13 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s classes<br />
(Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por período <strong>da</strong><br />
população <strong>de</strong> Panulirus echinatus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Classes<br />
Ponto Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
Fr ab Fr ab Fr ab<br />
71 ---| 81 76 0 0 0<br />
81 ---| 91 86 0 0 1<br />
91 ---| 101 96 0 0 0<br />
101 ---| 111 106 2 0 0<br />
111 ---| 121 116 3 2 0<br />
121 ---| 131 126 17 3 5<br />
131 ---| 141 136 17 7 6<br />
141 ---| 151 146 27 4 7<br />
151 ---| 161 156 21 6 9<br />
161 ---| 171 166 8 2 7<br />
171 ---| 181 176 3 4 11<br />
181 ---| 191 186 1 2 4<br />
191 ---| 201 196 1 1 0<br />
201 ---| 211 206 0 0 0<br />
Total 100 31 50<br />
Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
30<br />
Frequência Relativa<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
76 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 186 196 206<br />
Pontos Médios <strong>da</strong>s Classes (mm)<br />
Figura 43 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total (mm),<br />
por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus echinatus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.
87<br />
Tabela 14 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s classes<br />
(Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por período <strong>da</strong><br />
população <strong>de</strong> Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha<br />
<strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Classes<br />
Ponto Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
Fr ab Fr ab Fr ab<br />
71 ---| 81 76 0 0 1<br />
81 ---| 91 86 0 0 0<br />
91 ---| 101 96 0 1 0<br />
101 ---| 111 106 5 1 2<br />
111 ---| 121 116 3 1 1<br />
121 ---| 131 126 9 3 1<br />
131 ---| 141 136 19 5 10<br />
141 ---| 151 146 13 6 6<br />
151 ---| 161 156 13 8 6<br />
161 ---| 171 166 2 11 4<br />
171 ---| 181 176 1 7 1<br />
181 ---| 191 186 0 1 1<br />
191 ---| 201 196 0 1 0<br />
201 ---| 211 206 0 1 0<br />
Total 65 46 33<br />
Frequência relativa<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
76 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 186 196 206<br />
Pontos Médios <strong>da</strong>s Classes (mm)<br />
Figura 44 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total (mm),<br />
por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do<br />
Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.
88<br />
Tabela 15 - Distribuição <strong>da</strong>s freqüências do comprimento total (mm), ponto médio <strong>da</strong>s classes<br />
(Ponto ), freqüência absoluta (Fr ab) e freqüência relativa (Fr %), por período<br />
<strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e<br />
<strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Classes<br />
Ponto Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
Fr ab Fr ab Fr ab<br />
71 ---| 81 76 0 0 0<br />
81 ---| 91 86 0 0 2<br />
91 ---| 101 96 0 0 8<br />
101 ---| 111 106 1 1 14<br />
111 ---| 121 116 1 2 9<br />
121 ---| 131 126 10 3 6<br />
131 ---| 141 136 28 3 4<br />
141 ---| 151 146 24 11 6<br />
151 ---| 161 156 20 1 4<br />
161 ---| 171 166 9 4 4<br />
171 ---| 181 176 3 1 1<br />
181 ---| 191 186 1 4 0<br />
191 ---| 201 196 1 0 0<br />
201 ---| 211 206 0 0 0<br />
Total 98 30 58<br />
Frequência relativa<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
76 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 186 196 206<br />
Ponto Médio <strong>da</strong>s Classes (mm)<br />
Figura 45 - Distribuição <strong>de</strong> freqüências relativas (%) por classes <strong>de</strong> comprimento total (mm),<br />
por período <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Panulirus laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias<br />
do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.
89<br />
3.4.4 Relação Peso X Comprimento<br />
Vários autores têm utilizado a expressão matemática <strong>da</strong> relação entre o peso e o<br />
comprimento em análise <strong>de</strong> biologia quantitativa <strong>de</strong> populações naturais e especialmente na<br />
Aqüicultura com o interesse prático <strong>da</strong> estimativa <strong>de</strong> peso <strong>de</strong> um indivíduo através do<br />
conhecimento do seu comprimento e vice-versa (VAZOLLER, 1982; SANTOS, 1973; PERET,<br />
1980). Este recurso é muito útil em se tratando <strong>de</strong> espécies <strong>de</strong> interesse comercial, já que <strong>da</strong>dos<br />
estatísticos <strong>de</strong> captura em peso po<strong>de</strong>m ser transformados em <strong>da</strong>dos sobre o tamanho médio dos<br />
indivíduos capturados <strong>da</strong> população em estudo (PESO, 1980).<br />
De acordo com a dispersão entre peso e comprimento foi vali<strong>da</strong><strong>da</strong> a equação<br />
Pt .<br />
<br />
Fc Ct para as três populações <strong>de</strong> lagostas estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s. As expressões matemáticas<br />
estima<strong>da</strong>s, para todo o período, estão disponíveis nas Figuras 46, 47 e 48.<br />
O coeficiente <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminação (r 2 ) indica o nível percentual em que as mu<strong>da</strong>nças no<br />
peso po<strong>de</strong>m ser explica<strong>da</strong>s em relação às mu<strong>da</strong>nças no comprimento dos indivíduos. Assim, os<br />
valores <strong>de</strong> r 2 obtidos na equação indicam uma relação em torno <strong>de</strong> 95% entre a variação do peso<br />
e o tamanho obtido pelos indivíduos. O mesmo foi obtido após a linearização dos <strong>da</strong>dos através<br />
<strong>da</strong> transformação logarítmica <strong>da</strong>s variáveis peso e comprimento para ca<strong>da</strong> espécie (PESO-<br />
AGUIAR, 1995).<br />
350<br />
Pt (g)<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
y = 3E-05x 2,9907<br />
r 2 = 0,9528<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Ct (mm)<br />
Figura 46 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total (Ct)<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.
90<br />
350<br />
300<br />
250<br />
y = 6E-05x 2,8819<br />
R 2 = 0,9405<br />
Pt (g)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Ct (mm)<br />
Figura 47 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total (Ct)<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus argus no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha<br />
<strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
350<br />
Pt (g)<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
y = 5E-05x 2,916<br />
R 2 = 0,9563<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Ct (mm)<br />
Figura 48 - Dispersão dos pontos <strong>da</strong> relação entre o peso total (Pt) e o comprimento total (Ct)<br />
<strong>da</strong>s lagostas Panulirus laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.
91<br />
3.4.5 Fator <strong>de</strong> Condição<br />
O fator <strong>de</strong> condição médio mensal (Fc) <strong>da</strong> equação matemática <strong>da</strong> relação entre peso e<br />
comprimento revela a influência <strong>de</strong> fatores intrínsecos e extrínsecos nas populações. Eles<br />
refletem a ocorrência <strong>de</strong> eventos biológicos importantes, <strong>de</strong>vido às variações fisiológicas em<br />
função do ambiente, para os indivíduos ou para diferentes grupos <strong>da</strong> população ao longo do<br />
tempo (PESO-AGUIAR, 1995).<br />
O Fc médio obtido através do parâmetro <strong>da</strong> relação peso/comprimento por espécie<br />
por período (Figuras 46, 47 e 48) estão apresentados na Tabela 16. A Figura 49 mostra que a<br />
variação temporal do fator <strong>de</strong> condição (Fc) foi semelhante entre as três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s, mas<br />
mostrou-se diferente entre os períodos, evi<strong>de</strong>nciando uma melhor condição <strong>da</strong>s lagostas nos<br />
dois períodos chuvosos.<br />
Esta variável po<strong>de</strong> estar liga<strong>da</strong> tanto a índices <strong>de</strong> pluviosi<strong>da</strong><strong>de</strong> (FONTELES-FILHO,<br />
1986) on<strong>de</strong> a redução <strong>da</strong>s chuvas é um fator prepon<strong>de</strong>rante para a que<strong>da</strong> <strong>da</strong> produção <strong>de</strong> lagosta,<br />
quanto à reprodução (PAIVA & FONTELES-FILHO, 1968) já que <strong>de</strong> março a agosto temos a<br />
ocorrência dos ciclos <strong>de</strong> reprodução.<br />
Tabela 16 - Fator <strong>de</strong> condição mensal (Fc) <strong>da</strong> população <strong>de</strong> lagostas Panulirus echinatus, P.<br />
argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong><br />
abr/06 a set/07.<br />
Período Espécie n Fc<br />
P. echinatus 100 0,000033<br />
Chuvoso<br />
P. argus 65 0,000033<br />
06<br />
Seco<br />
06/07<br />
Chuvoso<br />
07<br />
P. laevicau<strong>da</strong> 98 0,000034<br />
P. echinatus 31 0,000024<br />
P. argus 46 0,000025<br />
P. laevicau<strong>da</strong> 30 0,000026<br />
P. echinatus 50 0,000047<br />
P. argus 34 0,000049<br />
P. laevicau<strong>da</strong> 58 0,000049
92<br />
Fc<br />
P. echinatus P. argus P. laevicau<strong>da</strong><br />
0,000055<br />
0,000050<br />
0,000045<br />
0,000040<br />
0,000035<br />
0,000030<br />
0,000025<br />
0,000020<br />
Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
Período<br />
Figura 49 - Dispersão temporal <strong>da</strong>s médias mensais do Fator <strong>de</strong> Condição amostrado na<br />
população <strong>da</strong>s lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no<br />
ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
3.4.6 Proporção sexual<br />
A distribuição dos sexos e a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> encontro entre machos e fêmeas influem<br />
sobre a taxa <strong>de</strong> aumento potencial <strong>de</strong> uma população. Em animais dióicos, cujos encontros,<br />
ocorrem ao acaso, a proporção sexual mais favorável é <strong>de</strong> 1:1. Entretanto, a ocorrência <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sequilíbrio entre o número <strong>de</strong> machos e o número <strong>de</strong> fêmeas <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>termina<strong>da</strong> espécie,<br />
po<strong>de</strong> ser induzi<strong>da</strong> por vários fatores. A pesquisa <strong>da</strong>s características <strong>da</strong> proporção sexual<br />
contribui para o gerenciamento do extrativismo <strong>de</strong>sses recursos naturais <strong>de</strong> modo eficiente e<br />
preservacionista.<br />
A estimativa <strong>da</strong>s freqüências relata<strong>da</strong>s entre machos e fêmeas (Tabela 17) indica que<br />
houve uma diferença significativa na proporção sexual <strong>de</strong> P. echinatus nas praias do Seixas e <strong>da</strong><br />
Penha, para todo o período estu<strong>da</strong>do (Figura 50). Acredita-se que estas diferenças estejam<br />
associa<strong>da</strong>s com a migração genética realiza<strong>da</strong> pela espécie on<strong>de</strong> a mesma <strong>de</strong>ixa as águas<br />
costeiras migrando em direção ao fundo em busca <strong>de</strong> áreas para reprodução, mas <strong>de</strong>vido à falta<br />
<strong>de</strong> outros trabalhos anteriores nesta região, não po<strong>de</strong>mos dizer se isso é um fato comum, ou se é<br />
o resultado <strong>de</strong> algum fator ambiental estressante, que esteja afetando mais esta espécie que as<br />
outras.<br />
Durante o ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>, esquematizado na Figura 51, as lagostas espinhosas habitam<br />
biótopos geograficamente estratificados em função <strong>da</strong> profundi<strong>da</strong><strong>de</strong> e, por analogia, <strong>da</strong> distância<br />
dos mesmos em relação à costa. A <strong>de</strong>sova ocorre distante <strong>da</strong> costa, nas profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> 40-50
93<br />
metros, em um processo que envolve migração (Figura 52) com elevado componente direcional,<br />
à veloci<strong>da</strong><strong>de</strong> média <strong>de</strong> 133 m/dia (FONTELES-FILHO & IVO, 1980).<br />
Tabela 17 - Valores estimados para avaliação <strong>da</strong> proporção sexual <strong>da</strong> população amostral <strong>da</strong>s<br />
lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Período<br />
P. echinatus P. argus P. laevicau<strong>da</strong><br />
Macho Fêmea X² p=0,05 Macho Fêmea X² p=0,05 Macho Fêmea<br />
Fr Fr<br />
Fr Fr<br />
Fr Fr<br />
X² p=0,05<br />
Chuvoso 06 0,61 0,39 4,84 p0,05 0,44 0,56 1,47 p>0,05<br />
Seco 06/07 0,68 0,32 3,90 p0,05 0,5 0,5 0,00 p>0,05<br />
Chuvoso 07 0,82 0,18 20,48 p0,05 0,59 0,41 1,72 p>0,05<br />
1,00<br />
0,90<br />
0,80<br />
0,70<br />
Fr<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07<br />
P. echinatus Macho<br />
P. echinatus Fêmea<br />
P. argus Macho<br />
P. argus Fêmea<br />
P. laevicau<strong>da</strong> Macho<br />
P. laevicau<strong>da</strong> Fêmea<br />
Período <strong>de</strong> Coleta<br />
Figura 50 - Distribuição mensal <strong>da</strong>s freqüências <strong>de</strong> machos amostrados na população <strong>da</strong>s<br />
lagostas Panulirus echinatus, P. argus e P. laevicau<strong>da</strong> no ambiente recifal <strong>da</strong>s<br />
praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07.<br />
Figura 51 - Ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> lagosta Panulirus argus (a<strong>da</strong>ptado <strong>de</strong> IZQUIERDO et al., 1990).
94<br />
Figura 52 - Migração <strong>da</strong> lagosta espinhosa (Foto: DEBELIUS, 1999).<br />
Neste contexto, fica evi<strong>de</strong>nte a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> continui<strong>da</strong><strong>de</strong> dos estudos através <strong>da</strong><br />
implementação <strong>de</strong> um esforço <strong>de</strong> captura mais intenso e que envolva marcação, <strong>de</strong> modo a<br />
contemplar uma maior amplitu<strong>de</strong> dos tamanhos dos indivíduos presentes na população, que<br />
inclua jovens e imaturos nas amostragens.<br />
3.4.7 Fauna Acompanhante<br />
Durante o período <strong>de</strong> amostragem, foram i<strong>de</strong>ntifica<strong>da</strong>s 30 espécies (15 <strong>de</strong> teleósteos, 4<br />
<strong>de</strong> crustáceos, 2 <strong>de</strong> testudines, 3 <strong>de</strong> elasmobrânquios, 5 <strong>de</strong> moluscos e 1 <strong>de</strong> equino<strong>de</strong>rmes) como<br />
mostra a Tabela 18. O número total <strong>de</strong> espécies <strong>de</strong> peixes e crustáceos (19) capturados na pesca<br />
<strong>da</strong> lagosta é mais elevado que os outros taxa, fato esperado para regiões <strong>da</strong> Zona Tropical.<br />
Um total <strong>de</strong> 215 indivíduos foi capturado, sendo a menor ocorrência (59 indivíduos)<br />
registra<strong>da</strong> na estação chuvosa 06, segui<strong>da</strong> pelo período seco 06/07 (74 indivíduos) e chuvoso 07<br />
(82 indivíduos). Da mesma maneira, observou-se que o número <strong>de</strong> espécies aumentou para 23,<br />
27 e 28 espécies, nos respectivos períodos. O nível <strong>de</strong> esforço <strong>de</strong> pesca aplicado nos diferentes<br />
períodos foi o mesmo.<br />
Quanto à abundância relativa, observa-se que a espécie <strong>de</strong> crustáceo: Carpilius<br />
corallinus e peixes: Scomberomorus brasilliensis, Haemulon aurolineatum, Lutjanus synarigris<br />
e H. plumieri foram as mais freqüentes durante o período estu<strong>da</strong>do. A freqüência máxima<br />
(15,85%) foi obti<strong>da</strong> para o guajá (Carpilius corallinus) no período chuvoso 07.
95<br />
Tabela 18 - Participação relativa (%) <strong>de</strong> indivíduos <strong>da</strong> fauna acompanhante na pesca <strong>de</strong> lagosta,<br />
nas praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha <strong>de</strong> abr/06 a set/07, capturados com re<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-espera.<br />
Nome comum<br />
Período Chuvoso 06 Seco 06/07 Chuvoso 07 Total Geral<br />
Espécie<br />
Taxa<br />
n % Pi n % Pi n % Pi n % Pi<br />
Teleósteos 39 66,10 0,66 49 66,22 0,66 49 59,76 0,60 137 63,72 0,64<br />
Ariaco Lutjanus synagris 6 10,17 0,10 3 4,05 0,04 4 4,88 0,05 13 6,05 0,06<br />
Cioba L. analis 4 6,78 0,07 1 1,35 0,01 1 1,22 0,01 6 2,79 0,03<br />
Pirambu Anisotremus surinamensis 0 0,00 0,00 5 6,76 0,07 1 1,22 0,01 6 2,79 0,03<br />
Mercador A. virginicus 2 3,39 0,03 7 9,46 0,09 1 1,22 0,01 10 4,65 0,05<br />
Bagre Arii<strong>da</strong>e 1 1,69 0,02 2 2,70 0,03 4 4,88 0,05 7 3,26 0,03<br />
Serra Scomberomorus brasilliensis 1 1,69 0,02 5 6,76 0,07 11 13,41 0,13 17 7,91 0,08<br />
Garajuba Caranx crysos 3 5,08 0,05 2 2,70 0,03 1 1,22 0,01 6 2,79 0,03<br />
Cambuba Haemulon parrai 4 6,78 0,07 2 2,70 0,03 3 3,66 0,04 9 4,19 0,04<br />
Biquara H. plumieri 4 6,78 0,07 3 4,05 0,04 5 6,10 0,06 12 5,58 0,06<br />
Xiira H. aurolineatum 2 3,39 0,03 6 8,11 0,08 7 8,54 0,09 15 6,98 0,07<br />
Canguito Diplectrum formosum 2 3,39 0,03 2 2,70 0,03 2 2,44 0,02 6 2,79 0,03<br />
Pampu Trachinotus sp. 1 1,69 0,02 5 6,76 0,07 3 3,66 0,04 9 4,19 0,04<br />
Bicu<strong>da</strong> Sphyraena barracu<strong>da</strong> 4 6,78 0,07 1 1,35 0,01 3 3,66 0,04 8 3,72 0,04<br />
Remora Echeneis naucrates 0 0,00 0,00 3 4,05 0,04 1 1,22 0,01 4 1,86 0,02<br />
Agulha Hyporhamphus unifasciatus 5 8,47 0,08 2 2,70 0,03 2 2,44 0,02 9 4,19 0,04<br />
Crustáceos 13 22,03 0,22 15 20,27 0,20 19 23,17 0,23 47 21,86 0,22<br />
Guaja Carpilius corallinus 6 10,17 0,10 8 10,81 0,11 13 15,85 0,16 27 12,56 0,13<br />
Carangueijo Persephona punctata 1 1,69 0,02 1 1,35 0,01 1 1,22 0,01 3 1,40 0,01<br />
Dorminhoco Calappa ocelata 2 3,39 0,03 1 1,35 0,01 1 1,22 0,01 4 1,86 0,02<br />
Sapateira Parribacus antarticus 4 6,78 0,07 3 4,05 0,04 3 3,66 0,04 10 4,65 0,05<br />
Testudines 0 0,00 0,00 2 2,70 0,03 1 1,22 0,01 3 1,40 0,01<br />
Tartaruga <strong>de</strong> pente Eretmochelys imbricata 0 0,00 0,00 1 1,35 0,01 0 0,00 0,00 1 0,47 0,00<br />
Tartaruga ver<strong>de</strong> Chelonia my<strong>da</strong>s 0 0,00 0,00 1 1,35 0,01 1 1,22 0,01 2 0,93 0,01<br />
Elasmobrânquios 1 1,69 0,02 1 1,35 0,01 4 4,88 0,05 6 2,79 0,03<br />
Raia-borboleta Gymnura micrura 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 1,22 0,01 1 0,47 0,00<br />
Cação lixa Gimglimostoma cirratum 1 1,69 0,02 1 1,35 0,01 2 2,44 0,02 4 1,86 0,02<br />
Tubarão-frango Rhizoprionodon porosus 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 1,22 0,01 1 0,47 0,00<br />
Moluscos 5 8,47 0,08 7 9,46 0,09 7 8,54 0,09 19 8,84 0,09<br />
Polvo Octopus vulgaris 1 1,69 0,02 2 2,70 0,03 1 1,22 0,01 4 1,86 0,02<br />
Búzio Turbinella laevigata 1 1,69 0,02 2 2,70 0,03 2 2,44 0,02 5 2,33 0,02<br />
Búzio Murex pomum 0 0,00 0,00 2 2,70 0,03 2 2,44 0,02 4 1,86 0,02<br />
Búzio Cassis tuberosa 2 3,39 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,93 0,01<br />
Búzio Tonna maculosa 1 1,69 0,02 1 1,35 0,01 2 2,44 0,02 4 1,86 0,02<br />
Equino<strong>de</strong>rmes 1 1,69 0,02 2 2,70 0,03 3 3,66 0,04 6 2,79 0,03<br />
Estrela do mar Echinaster brasiliensis 1 1,69 0,02 2 2,70 0,03 3 3,66 0,04 6 2,79 0,03<br />
Total 59 100,00 1,00 74 100,00 1,00 82 100,00 1,00 215 100,00 1,00<br />
Diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Shannon-Weaver (H’) 1,2740 1,3363 1,2927<br />
Diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> Máxima (Hmax) 1,3617 1,4314 1,4472<br />
Dominância <strong>de</strong> Simposn (ë) 0,0456 0,0426 0,0593<br />
Os índices <strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>, dominância e equitabili<strong>da</strong><strong>de</strong> foram semelhantes em todos os<br />
períodos, isto revela que nenhuma espécie domina claramente como fauna acompanhante <strong>da</strong><br />
pesca <strong>de</strong> lagosta.<br />
Dos elasmobrânquios, tidos como principais pre<strong>da</strong>dores <strong>da</strong>s lagostas, foram<br />
encontrados apenas quatro exemplares: dois <strong>de</strong> cações (Gimglimostoma cirratum) no período<br />
chuvoso 07, um <strong>de</strong> raia-borboleta (Gymnura micrura) e um <strong>de</strong> tubarão-frango (Rhizoprionodon
96<br />
porosus). A Tabela 19 mostra a comparação <strong>da</strong>s espécies encontra<strong>da</strong>s neste estudo com outros<br />
trabalhos sobre fauna acompanhante na pesca <strong>de</strong> lagosta.<br />
Tabela 19 – Relação <strong>da</strong>s espécies <strong>de</strong> teleósteos, crustáceos, testudines, elasmobrânquios,<br />
moluscos, equino<strong>de</strong>rmes capturados nas pescarias <strong>de</strong> lagostas, para diferentes<br />
autores, locais e períodos. 1- Dados analisados neste trabalho; 2- Rocha et al.<br />
(1997); 3- Ivo et al. (1996); 4- Fausto-Filho et al. (1966); 5- Paiva et al. (1973).<br />
Taxa 1 2 3 4 5<br />
Teleósteos<br />
Lutjanus synagris + + + +<br />
Anisotremus surinamensis +<br />
Arii<strong>da</strong>e +<br />
Lutjanus analis + + + +<br />
Scomberomorus brasilliensis +<br />
Caranx crysos + +<br />
Anisotremus virginicus + +<br />
Haemulon parrai + +<br />
Diplectrum formosum +<br />
Trachinotus sp. +<br />
Sphyraena barracu<strong>da</strong> + +<br />
Echeneis naucrates +<br />
Hyporhamphus unifasciatus +<br />
Haemulon plumieri + + + + +<br />
H. aurolineatum + + +<br />
Crustáceos<br />
Carpilius corallinus + + + + +<br />
Persephona punctata +<br />
Calappa ocelata + + + + +<br />
Parribacus antarticus + + + + +<br />
Testudines<br />
Eretmochelys imbricata +<br />
Chelonia my<strong>da</strong>s +<br />
Elasmobrânquios<br />
Gymnura micrura +<br />
Gimglimostoma cirratum + +<br />
Rhizoprionodon porosus +<br />
Moluscos<br />
Octopus vulgaris + + +<br />
Turbinella laevigata + +<br />
Murex pomum + + +<br />
Cassis tuberosa + + + +<br />
Tonna maculosa + + +<br />
Equino<strong>de</strong>rmos<br />
Echinaster brasiliensis +
97<br />
Testudines, estrela-do-mar e a maioria dos elasmobrânquios não foram listados pelos<br />
<strong>de</strong>mais autores. Contudo a testudine (Eretmochelys imbricata) e a rêmora (Echeneis naucrates)<br />
foram recentemente registra<strong>da</strong>s em associação simbiótica na mesma área estu<strong>da</strong><strong>da</strong> (SAZIMA &<br />
GROSSMAN, 2006).<br />
Paiva et al. (1973) e Fausto-Filho et al. (1966) fizeram um levantamento <strong>da</strong> fauna<br />
habitante dos bancos <strong>de</strong> algas calcárias captura<strong>da</strong> juntamente com a lagosta, registrando peixes,<br />
crustáceos e moluscos que acompanhavam a captura. Estes autores <strong>de</strong>stacam os prejuízos<br />
causados pelo aparelho <strong>de</strong> pesca ao substrato <strong>de</strong> algas calcárias.<br />
Utilizando covos e re<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-espera, Ivo et al. (1996) coletou <strong>da</strong>dos em três estratos <strong>de</strong><br />
profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>, no período <strong>de</strong> um ano, obtendo 6.647 indivíduos pertencentes a 54 espécies. Os<br />
valores encontrados foram superiores àqueles registrados por Fausto-Filho et al. (1966), Paiva et<br />
al. (1973), Rocha et al. (1997) e pelo presente estudo, pois o autor registrou a ocorrência mensal<br />
<strong>da</strong>s espécies na pesca <strong>da</strong> lagosta em três níveis diferentes <strong>de</strong> profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>, confirmando que a<br />
abundância e diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> aumentam com a profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>.
98<br />
3.5 CONCLUSÕES<br />
Das três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s no ambiente recifal <strong>da</strong>s praias do Seixas e <strong>da</strong> Penha, houve<br />
predomínio <strong>de</strong> Panulirus laevicau<strong>da</strong> com 186 (36,33%) dos 512 indivíduos capturados.<br />
De acordo com a distribuição <strong>da</strong>s classes <strong>de</strong> tamanho, foram <strong>de</strong>finidos três grupos<br />
etários na população (recrutas, jovens e adultos). A época <strong>de</strong> recrutamento mais intensa foi o<br />
período chuvoso 07, para as três espécies.<br />
O fator <strong>de</strong> condição foi semelhante entre as três espécies estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s, mas variou entre os<br />
períodos, evi<strong>de</strong>nciando uma melhor condição <strong>da</strong>s lagostas nos dois períodos chuvosos.<br />
A proporção entre os sexos revela uma predominância <strong>de</strong> machos em relação às fêmeas<br />
para Panulirus echinatus. Não foram encontra<strong>da</strong>s diferenças significativas para Panulirus argus<br />
e Panulirus laevicau<strong>da</strong>.<br />
Os valores dos índices <strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>, dominância e equitabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> fauna<br />
acompanhante foram semelhantes em todos os períodos, revelando a distribuição homogênea<br />
<strong>da</strong>s espécies captura<strong>da</strong>s em conjunto com a pesca <strong>de</strong> lagosta.<br />
3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
<br />
Recomen<strong>da</strong>-se que nos próximos estudos sejam usa<strong>da</strong>s re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pesca <strong>de</strong> menor<br />
malhagem para que indivíduos menores possam ser capturados.<br />
<br />
Estudos mais completos contemplando as fases larvais também <strong>de</strong>verão ser realizados<br />
para se obter uma noção do ciclo completo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> dos organismos. Além <strong>de</strong> estudos<br />
sobre a composição <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s bentônicas que servem <strong>de</strong> alimento às lagostas<br />
para relacionar o crescimento <strong>da</strong>s mesmas com o alimento disponível.<br />
<br />
É importante que trabalhos <strong>de</strong> pesquisa em relação ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> aqüicultura<br />
com estas comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s seja implementado, <strong>de</strong> forma a que outras fontes <strong>de</strong> ren<strong>da</strong>,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes <strong>da</strong> extração dos estoques naturais, sejam implementa<strong>da</strong>s.<br />
<br />
Fatores abióticos que interferem na pesca <strong>da</strong> lagosta como: temperatura, pluviosi<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
veloci<strong>da</strong><strong>de</strong> dos ventos, salini<strong>da</strong><strong>de</strong>, correntes marítimas e visibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> água <strong>de</strong>verão ser<br />
mensurados para que haja melhor embasamento na discussão dos <strong>da</strong>dos obtidos.
99<br />
3.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
1. AESA - PB Agência Executiva <strong>de</strong> Gestão <strong>da</strong>s Águas do Estado <strong>da</strong> Paraíba -<br />
http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.do?metodo=listarChuv<br />
asDiarias Acesso em 21 set 2007<br />
2. ALBUQUERQUE, M.E.P. Processamento do atum fresco para exportação. Relatório<br />
<strong>de</strong> Estagio Supervisionado Obrigatório – ESO <strong>de</strong> Graduação, Curso <strong>de</strong><br />
Graduação em Engenharia <strong>de</strong> Pesca, UFRPE, Recife. 2005, 24p.<br />
3. AMARAL, A. C. Z; RIZZO, A.E.; ARRUDA, E.P. Manual <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação dos<br />
invertebrados Marinhos. 1° Ed. EDUSP: São Paulo. 2006, 288p.<br />
4. BAISRE, J. A.; M. E. RUIZ DE QUEVEDO. Sobre los estudios larvales <strong>de</strong> la langosta<br />
comun, Panulirus argus. Contr. Inst. Nat. Pesca Cuba. n. 19, p. 1-37, 1964.<br />
5. BARRETO, A.V.; IVO, C.T.C. & KATSURAGAWA, M. Comprimento médio na<br />
primeira maturi<strong>da</strong><strong>de</strong> gona<strong>da</strong>l dos machos <strong>da</strong> lagosta pinta<strong>da</strong> Panulirus echinatus<br />
(Smith, 1869) em recifes costeiros <strong>de</strong> Taman<strong>da</strong>ré, PE-Brasil. Boletim Técnico<br />
Científico do CEPENE, v.11, n. 1, p. 91-97, 2003.<br />
6. BRASIL. Leis, <strong>de</strong>cretos, etc. Portaria n°540, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1997, <strong>da</strong> Secretaria<br />
<strong>de</strong> Vigilância Sanitária do Ministério <strong>da</strong> Saú<strong>de</strong>. Diário Oficial <strong>da</strong> República<br />
Fe<strong>de</strong>rativa do Brasil, Brasília, 28 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1997.<br />
7. BRASIL, Ministério <strong>da</strong> Saú<strong>de</strong>. Decreto n° 55871 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 1965. Dispõe sobre<br />
aditivos químicos. Publicação: Diário Oficial <strong>da</strong> União; Po<strong>de</strong>r executivo <strong>de</strong><br />
outubro <strong>de</strong> 1969.<br />
8. BROWER, J.E. & ZAR, J.H. Field and laboratory methods for general ecology.<br />
W.m. C. Brown Company Publishers, Dubuque, 1979, 194p.<br />
9. BRUSCA, R. C. & BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2ª ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Guanabara/Koogan. 2007. 968p.<br />
10. BUESA-MÁS, R. J.; PAIVA, M. P. & COSTA, R. S. Comportamiento biológico <strong>de</strong> la<br />
langosta Panulirus argus (Latreille) en el Brasil y en Cuba. Revista Brasileira <strong>de</strong><br />
Biologia. v. 28, n.1, p. 61-70, 1968.<br />
11. CARVALHO, M. G. R. F. Estado <strong>da</strong> Paraíba: classificação geomorfológica. Editora<br />
Universitária/<strong>UFPB</strong>, João Pessoa, 1982. 72p.
100<br />
12. CARVALHO, M. C.; CORDEIRO, M. R. C. & IGARASHI, M. A. Prospectos para a<br />
engor<strong>da</strong> <strong>da</strong> lagosta no nor<strong>de</strong>ste do Brasil. In: XI Congresso Brasileiro <strong>de</strong> Engenharia<br />
<strong>de</strong> Pesca e I Congresso Latino-Americano <strong>de</strong> Pesca. Anais..., v. 2, p. 629 - 636, 1999.<br />
13. CHACE JR., F. A. & DUMONT, W. H. Spiny lobsters - i<strong>de</strong>ntification, world<br />
distribution, and U. S. tra<strong>de</strong>. Comm. Fish. Rev., v. 11, n.5, p. 1-12, 1949.<br />
14. CHEN, J. C., LIN, M. N., LIN, J. L, TING, Y. Y. Effect of salinity on growth of<br />
Penaeus chinensis juveniles. Comparation Biochemical Physiologic.v. 102, n. 2,<br />
p. 343-346, 1992.<br />
15. COBB, J. S. & PHILLIPS, B.F. The Biology and Management of Lobsters. Vol. I.<br />
Physiology and Behavior Aca<strong>de</strong>mic Press, New York, 1980. 463p.<br />
16. COSTA, C. F. Zooxantelas (Dinoflagelados simbióticos) hospe<strong>da</strong><strong>da</strong>s por corais<br />
(Cni<strong>da</strong>ria, Scleractinia) dos recifes do Picãozinho, João Pessoa, Paraíba,<br />
Brasil. Dissertação. (Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em Ciências Biológicas,<br />
Mestrado em Zoologia), Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Paraíba, <strong>UFPB</strong>. João Pessoa-PB,<br />
2001. 90p.<br />
17. COUTINHO, P. N & MORAIS, J.O. Distribuición <strong>de</strong> los sedimentos em la plataforma<br />
continental norte Y nor<strong>de</strong>ste <strong>de</strong>l Brasil. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar, Fortaleza,<br />
10 (1): 79-90, 1970.<br />
18. CRAWFORD, D. R. & SMIDT, W. J. J. The spiny lobster, Panulirus argus, of southern<br />
Flori<strong>da</strong>: its natural history and utilization. Bull. U. S. Bur. Fish., n. 38, p. 281-310,<br />
1922.<br />
19. DEBELIUS, H. Crustáceos Del Mundo. Espanha: M&G Difusión, p. 47-219, 1999.<br />
20. FAUSTO-FILHO, J; MATTHEWS, H. R. & LIMA, H. H. Nota preliminar sobre a<br />
fauna dos bancos <strong>de</strong> lagostas no Ceará. Arquivos <strong>da</strong> Estação <strong>de</strong> Biologia<br />
Marinha <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Ceará. v. 6, n.2, p.127-130, 1966.<br />
21. FERNANDES, L. M. B. Sobre alimentação <strong>da</strong> lagosta Panulirus argus (Latreille,<br />
1804). Boletim <strong>de</strong> Estudos <strong>da</strong> Pesca. Recife. v. 9, n. 1, p. 21-23, 1969.<br />
22. FERNANDES DE CARVALHO, F. <strong>de</strong> A. Bionomia bêntica do complexo recifal no<br />
litoral do Estado <strong>da</strong> Paraíba, com ênfase nas macrófitas. Tese (Doutorado em<br />
Ciências) USP, Instituto Oceanográfico <strong>de</strong> São Paulo. 1983. 184p.<br />
23. FERREIRA, M. G. Avaliação e distribuição geográfica dos estoques <strong>de</strong> lagosta e<br />
sua capturabili<strong>da</strong><strong>de</strong> nas regiões norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Monografia<br />
(Departamento <strong>de</strong> Engenharia <strong>de</strong> Pesca), Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC,<br />
Fortaleza, 1994, 25p.
101<br />
24. FIELD, J. M. & M. J. BUTLER IV. The influence of temperature, salinity, and postlarval<br />
transport on the distribution of juvenile spiny lobsters, Panulirus argus (Lateille,<br />
1804) in Flori<strong>da</strong> Bay. Crustaceana. n. 67, p. 26-45, 1994.<br />
25. FIGUEIREDO, J.L. Manual <strong>de</strong> peixes marinhos do su<strong>de</strong>ste do Brasil. Vol. I<br />
Introdução: Cações, raias e quimeras. Museu <strong>de</strong> Zoologia. Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> São<br />
Paulo, São Paulo, 1977,104p.<br />
26. FIGUEIREDO, M.J. & THOMAS, H.J. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) Leacha<br />
Review. Oceanogr. Mar. Biol. 5, 371-407, 1967.<br />
27. FONTELES-FILHO, A. A. & IVO, C. T. C. Migratory behaviour of the spiny lobster<br />
Panulirus argus (Latreille), off Ceará state, Brazil. Arquivos <strong>de</strong> Ciências do<br />
Mar, Fortaleza, v. 20, n. ½, p. 25-32, 1980.<br />
28. FONTELES-FILHO, A. A. Population dynamics of spiny lobsters (Crustacea:<br />
Palinuri<strong>da</strong>e) in Northeast Brazil. Ciência e Cultura. São Paulo, v 44, p.192-196,<br />
1992.<br />
29. FONTELES-FILHO, A. A. Biologia pesqueira e dinâmica populacional <strong>da</strong> lagosta<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), no Nor<strong>de</strong>ste Setentrional do Brasil. Arquivos <strong>de</strong><br />
Ciências do Mar. Fortaleza, v. 19, n. 1-2, p. 1-43, <strong>de</strong>zembro, 1979.<br />
30. FONTELES-FILHO, A. A. State of the lobster fishery in North-east Brazil. In:<br />
PHILLIPS, B. F., COBB, J. S., KITTAKA, J. (Edited). Spiny lobster:<br />
management. Oxford: Fishing News Books. Chapter 7, p. 108-118. 1994.<br />
31. FONTELES-FILHO, A.A. Influência do recrutamento e pluviosi<strong>da</strong><strong>de</strong> sobre a<br />
abundância <strong>da</strong>s lagostas Panulirus argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
(Latreille) (Crustacea: Palinuri<strong>da</strong>e), no nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Arquivos <strong>de</strong> Ciências<br />
do Mar. Fortaleza. 25: 13-31. 1986.<br />
32. FONTELES-FILHO, A.A.; XIMENES, M.O.C. & MONTEIRO, P.H.M. Sinopse <strong>de</strong><br />
informações sobre as lagostas Panulirus argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong><br />
(Latreille) (Crustacea: Palinuri<strong>da</strong>e), no nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Arquivo <strong>de</strong> Ciência do<br />
Mar. Fortaleza. 27: 1-19. 1988.<br />
33. FONTELES-FILHO, A. A. Recursos Pesqueiros (Biologia e Dinâmica<br />
Populacional). Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1989. 289 p.<br />
34. GÓES, L.M.N.B.; MENDES, P.P.; MENDES, E.S.; RIBEIRO, C.M.F.; SILVA,<br />
R.P.P. Uso <strong>de</strong> metabissulfito <strong>de</strong> sódio no controle <strong>de</strong> microorganismos em<br />
camarões marinhos Litopenaues vannamei (Boone, 1931). Acta Sci. Biol. Sci.<br />
Maringá, 28 (2): 153-157, 2006.
102<br />
35. GRAY, H. The Western Rock Lobster, Panulirus cygnus. Book one: A Natural<br />
History, p. 78-S3. 1992.<br />
36. HERRNKIND, W. F., J. A. VAN DERWALTER, & L. BARR. Population dynamics,<br />
ecology, and behavior of spiny lobsters, Panulirus argus, of St. John, U.S. V.I.:<br />
Habitation, patterns of movement, and general behavior. Results of the Tektite<br />
Program. Vol. 2. Nat. Hist. Mus. Los Ang. Cty. Sci. Bull, n. 20, p. 31-45, 1975.<br />
37. HERRNKIND, W. F., P. JERNAKOFF, & M. J. BUTLER IV. Puerulus and postpuerulus<br />
ecology. In Spiny lobster management. Edited by B. F. Phillips, J. S. Cobb,<br />
and J. Kittaka. Blackwell Scientific Press, Oxford, p. 213-229, 1994.<br />
38. HOLTHUIS, L. B. FAO species catalogue. Marine lobsters of the world FAO<br />
Fisheries Synopsis, Rome, v. 13, n. 125, 1991 . 292 p.<br />
39. IGARASHI, M. A. Sinopse <strong>da</strong> situação atual, perspectivas e condições <strong>de</strong> cultivo para<br />
lagosta Palinuri<strong>da</strong>e. Ciência Animal Brasileira. v 8, n 2, p. 151-166, abr./jun.,<br />
2007.<br />
40. IVO, C. T. C. & GESTEIRA, T. C. V. Potencial reprodutivo <strong>da</strong>s lagostas Panulirus<br />
argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille) (Crustacea: Palinuri<strong>da</strong>e), no<br />
Nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Arquivo <strong>de</strong> Ciência do Mar. Fortaleza, v. 25, p. 1-12, 1986.<br />
41. IVO, C. T. C. & PEREIRA, J. A. Sinopse <strong>da</strong>s principais observações sobre as lagostas<br />
Panulirus argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), captura<strong>da</strong>s em águas<br />
costeiras do Brasil, entre os estados do Amapá e do Espírito Santo. Boletim<br />
Técnico-Cientifíco do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré, v. 4, n. 1, p. 7-94. 1996.<br />
42. IVO, C. T. C. Biologia, pesca e dinâmica <strong>da</strong>s lagostas Panulirus argus (Latreille) e<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille) (Crustácea: Palinuri<strong>da</strong>e), captura<strong>da</strong>s ao longo<br />
<strong>da</strong> plataforma continental do Brasil, entre os Estados do Amapá e do Espírito<br />
Santo. Tese (Doutorado) Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> São Carlos, São Paulo. 1996.<br />
276p.<br />
43. IVO, C. T. C. Caracterização populacional <strong>da</strong> lagosta Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille),<br />
captura<strong>da</strong> nas regiões Nor<strong>de</strong>ste e Su<strong>de</strong>ste do Brasil. Arquivo <strong>de</strong> Ciências do Mar.<br />
Fortaleza, v. 33, p. 85-92, 2000.<br />
44. IVO, C.T.C; SANTIAGO, M. R. & MONTEIRO-NETO, C. Fauna acompanhante <strong>da</strong>s<br />
lagostas Panulirus argus (Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), no estado<br />
do Ceará, Brasil. Arquivo <strong>de</strong> Ciência do Mar. Fortaleza, v30, n½, p.41-47, 1996.<br />
45. IZQUIERDO, R. C.; ALVAREZ, J. A. B.; IGLESIAS, E. D.; PEREZ, R. B.; DIAZ, C.<br />
G.; AVILES, W. B.; RODRIGUES, C. C. Atlas Biológico-Pesquero <strong>de</strong> la Langosta
103<br />
en el archipiélago Cubano. Pub. Esp. Rev. Cuba. Inv. Pesq. y Rev. Mar y Pesca.<br />
1990. 125 pp.<br />
46. KITTAKA, J. Larval rearing. In Spiny lobster management. Edited by B. F. Phillips, J. S.<br />
Cobb, and J. Kittaka, Blackwell Scientific Press, Oxford, p. 402-423, 1994.<br />
47. KURATA, H. Studies on the age and growth of Crustacea. Bull. Hokkaido Reg. Fish.<br />
Res. Lab. 24, 1-115. 1962.<br />
48. LABOREL, J. Les peuplements <strong>de</strong> madréporaires <strong>de</strong>s cotes tropicales du Brésil.<br />
In: Annales <strong>de</strong> L’Université D’Abidjan (série E) 2(3):1-260. 1970.<br />
49. LEWIS, J. B. The phyllosoma larvae of the spiny lobster Panulirus argus. Bulletin of<br />
marine science of the Gulf and Caribbean. v. 1, p. 89-103, 1951.<br />
50. LINDBERG, R. G. Growth, population dynamics and field behaviour in the spiny<br />
lobster, Panulirus interruptus (Ran<strong>da</strong>ll). University of California Berkeley<br />
publications in zoology. v. 59, p. 157-248, 1955.<br />
51. LOURENÇO, J.A. Desenvolvimento <strong>de</strong> juvenis recentes <strong>de</strong> lagosta espinhosa<br />
Panulirus argus (Latreille, 1804) (Crustacea, Decapo<strong>da</strong>, Palinuri<strong>da</strong>e)<br />
submetidos a diferentes temperaturas em condições <strong>de</strong> laboratório.<br />
Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia <strong>de</strong> Pesca)<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 2006. 147p.<br />
52. MAIDA, M. & FERREIRA, B. P. Recifes Brasileiros. In: Eni<strong>de</strong> Eskinazi-Leça; Sigrid<br />
Neumann-Leitão; Mônica Ferreira <strong>da</strong> Costa (Orgs.). Oceanografia - Um cenário<br />
tropical. 1 ed. Recife: Bagaço, p. 617-640. 2004.<br />
53. MAUCHLINE. J. The Hiatt growth diagram for Crustacea. Mar. Biol. 35, 79-84.<br />
1976.<br />
54. MELO, G. A. S. Manual <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação dos crustácea <strong>de</strong>capo<strong>da</strong> do litoral<br />
brasileiro: anomura, thalassini<strong>de</strong>a, palinuri<strong>de</strong>a, astacitea. São Paulo:<br />
Plêia<strong>de</strong>/FAPESP, 1999. 551p.<br />
55. MELO, R.S. Planejamento Turístico-recreativo dos Ambientes Recifais <strong>da</strong>s Praias<br />
do Seixas, Penha e Arraial (PB). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e<br />
Meio Ambiente – PRODEMA) – Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Paraíba, João Pessoa,<br />
2006. 160p.<br />
56. MENEZES, M. F. Alimentação <strong>de</strong> lagostas do gênero Panulirus White, na plataforma<br />
continental do Ceará, Brasil. Anais. VI Congresso Brasileiro <strong>de</strong> Engenharia <strong>de</strong><br />
Pesca. Terezina, p. 67-80, 1989
104<br />
57. MINTZ, J. D., R. N. LIPCCIUS, D. B. EGGLESTON, & M. S. SEEBO. Survival of<br />
juvenile Caribbean spiny lobster: effects of shelter size, geographic location, and<br />
conspecific abun<strong>da</strong>nce. Mar. Ecol. Prog. Ser. n. 112, p. 255-266, 1994.<br />
58. MOE, M. A. Lobsters: Flori<strong>da</strong>, Bahamas, Caribbean. Green Turtle Publications,<br />
Plantation, FL. 1991. 510p.<br />
59. MORGAN, G. R. Population dynamics of spiny lobster, in Phillips, B. F. & Cobb, J.<br />
S. (eds.), The biology and management of lobster, vol 2. Aca<strong>de</strong>mic Press, New<br />
York, p. 189-217, 1980.<br />
60. MOURA, S. J. C. Experiência com re<strong>de</strong> <strong>de</strong> espera em pescarias <strong>de</strong> lagosta. Boletim <strong>de</strong><br />
Estudos <strong>da</strong> Pesca, Recife, v. 3, n. 3, p. 3-9, 1963.<br />
61. MOURA, S. J. C., COSTA, A. F. Consi<strong>de</strong>rações sobre a ação pre<strong>da</strong>tória <strong>da</strong>s re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
arrasto manual em Ponta <strong>de</strong> pedras - PE. Boletim <strong>de</strong> Estudos <strong>da</strong> Pesca, Recife, v.<br />
6, n. 4, p. 17-19, 1966.<br />
62. NOMURA, H. Criação e Biologia <strong>de</strong> Animais Aquáticos. São Paulo: Nobel, 1977.<br />
63. OETTERER, M. “Pós-captura do pescado: comercialização e armazenamento”.<br />
USP/ESALQ/LAN-1444. Piracicaba, SP. Disponível em<br />
http://www.esalq.usp.br/<strong>de</strong>partamentos/lan/pdf/LAN1444Poscapturadopescado.pdf<br />
Acesso em 05 fev 2008.<br />
64. OGAWA, M.& MAIA, E.L. Manual <strong>de</strong> pesca, ciência e tecnologia do pescado. v.1,<br />
São Paulo: Varela, 1999, 430p.<br />
65. OGAWA, M, MAGALHÃES-NETO, E.O., AGUIAR, Jr., O. & KOZIMA, T.T.<br />
Inci<strong>de</strong>nce of melanosis in the integumentary tissue. Nippon Suisan Gakkaishi, 50,<br />
471-5. 1984.<br />
66. OGAWA, M. KUROTZU, T., OCHIAI, I. A. & KOANIA, T. T. Mechanism of black<br />
discoloration in spiny lobster tails stored in ice. Nippon Suisan Gakkaishi, 49,<br />
1065-75. 1983.<br />
67. OLSEN, D. A. & I. G. KOBLICK. Population dynamics, ecology, and behavior of spiny<br />
lobsters, Panulirus argus, of St. John, U.S. V.I.: growth and mortality. Results of the<br />
Tektite Program, Vol. 2. Nat. Hist. Mus. Los Ang. Cty. Sci. Bull. n. 20, p. 17-21,<br />
1975.<br />
68. OLIVEIRA, P. A. Aspectos <strong>da</strong> biologia quantitativa <strong>da</strong> lagosta vermelha Panulirus<br />
echinatus (Smith, 1869) no ecossistema recifal <strong>da</strong> Vila <strong>de</strong> Guarapuá – Cairu –<br />
BA. Monografia (Curso <strong>de</strong> Medicina Veterinária) Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>da</strong> Bahia,<br />
UFBA, 2001, 93p.
105<br />
69. OLIVEIRA, P. A. Percepção ambiental dos turistas freqüentadores do ambiente<br />
recifal: Praia do Seixas, Areia Vermelha e Picãozinho - João Pessoa-PB.<br />
Especialização (Curso <strong>de</strong> Ciências Ambientais) Facul<strong>da</strong><strong>de</strong>s Integra<strong>da</strong>s <strong>de</strong> Patos,<br />
FIP, João Pessoa-PB. 2006. 52p.<br />
70. PAIVA, M. P. On the spiny lobster fishing in Ceará. Boletim <strong>de</strong> Antropologia.<br />
Fortaleza, v 2, n 1, p. 63-70, 1958.<br />
71. PAIVA, M. P. Sumário <strong>de</strong> informações sobre os crustáceos <strong>de</strong> valor comercial no<br />
norte e nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Anuário <strong>de</strong> Pesca, São Paulo, p. 97-104, 1970.<br />
72. PAIVA, M. P., ALCANTARA-FILHO, P., MATTHEWS, H. R., MESQUITA, A. L.<br />
L., IVO, C. T. C., COSTA, R. S. Pescarias experimentais <strong>de</strong> lagostas com re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
espera, no estado do Ceará (Brasil). Arquivo <strong>de</strong> Ciência do Mar, Fortaleza, v. 13,<br />
n. 2, p. 121-134, 1973.<br />
73. PAIVA, M. P. BEZERRA, R. C. F. & FONTELES-FILHO, A. A. Tentativa <strong>de</strong><br />
avaliação dos recursos pesqueiros do nor<strong>de</strong>ste brasileiro. Arquivo <strong>de</strong> Ciência do<br />
Mar, v. 11, n. 1, p. 1-43, 1971.<br />
74. PAIVA, M.P. & FONTELES-FILHO, A.A. Sobre as migrações e índices <strong>de</strong><br />
exploração <strong>da</strong> lagosta Panulirus argus (Latreille), ao longo <strong>da</strong> costa do Estado do<br />
Ceará. Arquivos <strong>da</strong> Estação <strong>de</strong> Biologia Marinha <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Ceará. v.<br />
8, n.1, p. 15-23, 1968.<br />
75. PAIVA, M. P. Dimorfismo sexual observado em relações <strong>de</strong> peso e comprimento <strong>da</strong><br />
lagosta Panulirus argus (Latreille). Ver. Brasil. Biol., Rio <strong>de</strong> Janeiro, v. 20, n. 1,<br />
p. 51-62, 1960.<br />
76. PAIVA, M. P., Levantamento do estado <strong>da</strong> arte <strong>da</strong> pesquisa dos recursos vivos<br />
marinhos do Brasil: Recursos Pesqueiros - Programa REVIZEE. MMA/SMA.<br />
1997. 241p.<br />
77. PERET, A. C. Aspectos <strong>da</strong> influência <strong>da</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> populacional em cultivo<br />
intensivo com curimatá-comum Prochilodus cearensis. Stein<strong>da</strong>chner<br />
(Characi<strong>da</strong>e – Prochilodinae). Dissertação <strong>de</strong> Mestrado Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
São Carlos, UFCar, São Carlos, 1980. 87p.<br />
78. PESO, M. C., Bivalves comestíveis <strong>da</strong> Baía <strong>de</strong> Todos os Santos, Estudo<br />
quantitativo com especial referência a Anomalocardia brasiliana (Gmelin,<br />
1791) (Bivalvia-Veneri<strong>da</strong>e). Dissertação <strong>de</strong> Mestrado. Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do<br />
Paraná, UFPR, Curitiba, 1980. 74p.
106<br />
79. PESO-AGUIAR, M. C., Macoma contricta (Bruguière, 1792) (BIVALVIA –<br />
TELLINIDAE) como biomonitor <strong>da</strong> presença crônica <strong>de</strong> petróleo na Baía <strong>de</strong><br />
Todos os Santos (BA). Tese (Doutorado em Ciências). Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
São Carlos, UFCar, São Carlos, 1995. 160p.<br />
80. PIELOU, E.C. Mathematical Ecology. John Wiley & Sons, New York, 1976, 358 p.<br />
81. RIOS, G. S. Análise dos caracteres biométricos <strong>da</strong>s lagostas Panulirus argus<br />
(Latreille) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), no estado do Ceará, Brasil.<br />
Monografia <strong>de</strong> graduação. Departamento <strong>de</strong> Engenharia e Pesca. Universi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC, Fortaleza, 1992, 25p.<br />
82. ROCHA, C.A.R.; JÚNIOR, W.F.; DANTAS, N. P.; FARIAS, M. F. & OLIVEIRA, A.<br />
M. E. Fauna acompanhante <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta no nor<strong>de</strong>ste do Brasil. Boletim<br />
Técnico Científico do CEPENE, v.5, n. 1, p.11-22, 1997.<br />
83. RODRIGUES, W.C. DivEs - Diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> espécies. Versão 2.0. Software e Guia<br />
do Usuário. 2005. Disponível em: http://www.ebras.vbweb.com.br. Acesso em: 13<br />
set. 2007.<br />
84. ROUND, F. E. A biologia <strong>da</strong>s algas. 2ª ed., Rio <strong>de</strong> Janeiro: Guanabara Dois, 1983,<br />
263p.<br />
85. RUPPERT, E. E.; FOX, R. S. & BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados – Uma<br />
abor<strong>da</strong>gem Funcional-Evolutiva. 7ª ed. São Paulo: Roca. 2005. 1145p.<br />
86. SANTOS, E. P. Dinâmica <strong>de</strong> População Aplica<strong>da</strong> à Pesca e Piscicultura.<br />
HUCITEC. EDUSP, São Paulo, 1978.<br />
87. SANTOS, E. P.; FILHO, P. A & ROCHA, C. A. S. Curva <strong>de</strong> rendimento <strong>de</strong> lagostas<br />
no Estado do Ceará (Brasil). Arquivos <strong>de</strong> Ciências do Mar, Fortaleza, v. 13, n. 1,<br />
p. 9-12, 1973.<br />
88. SAZIMA, I. & GROSSMAN, A. Turtle ri<strong>de</strong>rs: remoras on marine turtles in Southwest<br />
Atlantic. Neotropical Ichthyology, v. 4, n. 1, p. 123-126, 2006.<br />
89. SILVA, J. R. F.; GESTEIRA, T. C. V. & ROCHA, C. A. S. Relações biométricas<br />
liga<strong>da</strong>s à reprodução <strong>da</strong> lagosta espinhosa, Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille)<br />
(Crustácea: Decapo<strong>da</strong>: Palinuri<strong>da</strong>e) do estado do Ceará - Brasil. Boletim Técnico<br />
Científico do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré, v. 2, n. 1, p. 59-88, 1994.<br />
90. SILVA, M. B.; CAMPOS, C. E. C.; TARGINO, S. G. & MELO, C. E. Aspectos<br />
populacionais <strong>da</strong> lagosta pinta<strong>da</strong>, Panulirus echinatus Smith, 1869 na Reserva<br />
Biológica do Atol <strong>da</strong>s Rocas, Brasil. Holos Environment, v. 1, p. 187-198, 2001.
107<br />
91. SMITH, F. G. W. The spiny lobster industry as the Caribbean and Flori<strong>da</strong>. State as<br />
Flori<strong>da</strong> Board of Conservation, Educ. Ser., n. 11, p. 1-36, 1958.<br />
92. SMITH, K. N. & W.F. HERRNKIND. Pre<strong>da</strong>tion on early juvenile spiny lobsters,<br />
Panulirus argus: influence of size, shelter, and activity period. J. Exp. Mar. Bio.<br />
Ecol. n. 157, p. 3-18, 1992.<br />
93. SOARES, C. N. C. Época <strong>de</strong> reprodução <strong>da</strong> lagosta Panulirus argus (Latreille), no<br />
litoral do Estado do Ceará, Brasil. Dissertação (Mestrado em Recursos<br />
Pesqueiros e Engenharia <strong>de</strong> Pesca) Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Ceará, UFC,<br />
Fortaleza, 1994, 119p..<br />
94. SOARES, C. N. C. & CAVALCANTE, P. L. P. Caribbean spiny lobster (Panulirs<br />
argus) and smoothtail spiny lobster (Panulirus laevicau<strong>da</strong>) reproductive dynamics<br />
on the brazilian northeastern coast. FAO Fish. Rep., n. 327, p. 200-217, 1985.<br />
95. SOARES, C. N. C., PERET, A. C. Tamanho médio <strong>de</strong> primeira maturação <strong>da</strong> lagosta<br />
Panulirus laevicau<strong>da</strong> (Latreille), no litoral do Estado do Ceará, Brasil. Arquivos<br />
<strong>de</strong> Ciência do Mar. Fortaleza, v. 31, n. 1-2, p. 17-27, julho. 1998.<br />
96. SWEAT, D. E. Growth and tagging studies on Panulirus argus (Latreille) in the Flori<strong>da</strong><br />
Keys. Fl. St. Brd. Conserv. Mar. Res. Lab. Tech. Pub. n. 57, 30p, 1969.<br />
97. VASCONCELOS, J.A.; VASCONCELOS, E.M.S. & LINS OLIVEIRA, J.E. Captura<br />
por uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> esforço dos diferentes métodos <strong>de</strong> pesca (re<strong>de</strong>, mergulho e covo)<br />
empregados na pesca lagosteira do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte (Nor<strong>de</strong>ste – Brasil).<br />
Boletim Técnico Científico do CEPENE, Taman<strong>da</strong>ré, v. 2, n. 1, p. 133-153,<br />
1994.<br />
98. VAZOLLER, A. E. A. M. Manual <strong>de</strong> métodos para estudos biológicos <strong>de</strong><br />
populações <strong>de</strong> peixes. Reprodução e crescimento. CNPq, Programa Nacional <strong>de</strong><br />
Zoologia, Brasília, 1982. 106 p.<br />
99. WILLIAMS, A. B. Lobster of the world: an illustrated gui<strong>de</strong>. New York: Osprey<br />
Books Huntington, 1988. 186 p.<br />
100. WOLFE, S. H. & B. E. FELGENHAUR. Mouthparts and foregut ontogeny in larval,<br />
postlarval, and juvenile spiny lobster, Panulirus argus Latreille (Decapo<strong>da</strong>,<br />
Palinuri<strong>da</strong>e). Zool. Scr. n. 20, p. 57-75, 1991.<br />
101. ZAR, J. H. Biostatistical Analysis (4th ed.). Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,<br />
New Jersey. 1998.
APÊNDICE A<br />
108<br />
PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA PRAIA DO<br />
SEIXAS/PENHA<br />
INFORMAÇÕES GERAIS<br />
Data: __________<br />
Questionário nº: __________<br />
PERFIL DO PESCADOR<br />
1. I<strong>da</strong><strong>de</strong>: ( ) ↓ <strong>de</strong> 18 anos ( ) 18-20 anos ( )21-30 anos ( )31-40 anos ( )41-50 anos ( )51-60 anos ( )↑ <strong>de</strong> 60 anos<br />
2. Naturali<strong>da</strong><strong>de</strong>:_________________________________________________________.<br />
3. Escolari<strong>da</strong><strong>de</strong>: ( )1º-4ºsérie ( )5º-8ºsérie ( )Ensino médio ( )Ensino superior ( )Não freqüentou a escola<br />
4. Estado civil: ( )Solteiro ( ) Casado ( ) Mora junto ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( )Outros:__________________<br />
5. Religião: ( )Católico ( )Evangélico ( )Espírita ( )Não tem religião ( )Outros:____________________________<br />
6. Tempo na pesca: ( )1-10anos ( )11-20anos ( )21-30anos ( )31-40anos ( )41-50anos ( )acima <strong>de</strong> 50 anos<br />
7. Com quem o Sr. apren<strong>de</strong>u a pescar? ( )Com parentes ( )Com pescadores mais experientes ( ) Outros______<br />
8. Quantos dias por semana o Sr. sai para pescar?( )1-2dias ( )3-4dias ( )5-6dias ( )Todos os dias<br />
9. Quanto o Sr. ganha por mês com a pesca? ( )Até R$200,00 ( ) R$ 201,00-R$ 400,00 ( )R$ 401,00-R$600,00<br />
( ) Acima <strong>de</strong> R$ 600,00<br />
10. O Sr. sempre trabalhou na pesca? ( )Sim ( )Não<br />
11. Em caso <strong>de</strong> resposta negativa, qual(is) ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>(s) exercia antes? ( ) Agricultura ( )Indústria ( )Comércio<br />
( )Construção civil ( )Funcionário público ( )Emprego doméstico ( )Artesanato ( )Biscate ( )Outras:________<br />
12. O que o Sr. faz nas horas em que não está pescando? ( )Jogo bola ( )Converso com os amigos<br />
( )Assisto televisão ( )Faz trabalho <strong>de</strong> casa ( )Cui<strong>da</strong> dos filhos ( )Faz biscate ( )Descansa ( )Outros:________<br />
13. Na sua opinião, quais as vantagens em ser pescador? ( )Não ter horário ( )Não ter patrão ( )Liber<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
( )Trabalha quando e quanto quer ( )Ganha bem ( )Garantia <strong>de</strong> alimentação ( )Não tem vantagem<br />
( )Outros:_____________________________________________________<br />
14. E quais as <strong>de</strong>svantagens? ( )Falta <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> trabalho ( )Dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> crédito/financiamento<br />
( )Mercado fraco ( )O ganho é pouco ( )Trabalho pesado e cansativo ( )Não tem <strong>de</strong>svantagens ( )Outros:____<br />
15. O Sr. já pensou em <strong>de</strong>sistir <strong>de</strong> ser pescador? ( )Sim ( )Não<br />
PERFIL DA PESCA DA LAGOSTA<br />
16. Local <strong>da</strong> pesca: ( )Nos recifes ( )Entre os recifes e a praia ( )Após os recifes ( )Em alto mar<br />
17. Tipo <strong>de</strong> pesca: ( )Compressor ( )Facho ( )Manzua ( )Diurna-mergulho ( )Noturna-mergulho ( )Re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
espera ( )Outros:______________________<br />
18. Tipo <strong>da</strong> embarcação: ( )Motor ( )Vela ( )Remo ( )a nado ( )a pé<br />
19. O barco é do Sr. mesmo? ( )Próprio ( )Parceria ( )De terceiros Horário: Entra<strong>da</strong>:________ Saí<strong>da</strong>:________<br />
20. O Sr. constrói seus próprios instrumentos? ( )Sim ( )Não Qual(is) ?_______________________________<br />
21. O Sr. sabe quais são os instrumentos <strong>de</strong> pesca proibidos por lei? ( )Sim ( )Não Qual(is):______________<br />
22. O <strong>de</strong>feso funciona aqui? ( ) Sim ( ) Não<br />
23. Se não, porque o Sr. acha que isto está ocorrendo:_____________________________________________<br />
24. O Sr. pesca muita lagosta? ( ) Sim ( ) Não<br />
25. O que o Sr. faz com a lagosta? ( )Consome ( )Ven<strong>de</strong> ( )Outros:__________<br />
26. A quem ven<strong>de</strong> a sua lagosta? ( ) Ao dono do barco ou empresário ( ) A intermediários ou pombeiros<br />
( ) A comerciantes ou feirantes ( ) A bares e restaurantes ( ) Diretamente ao consumidor<br />
27. Quais as principais espécies que o Sr. pesca?_________________________________________________<br />
28. Qual a lua em que o Sr. pesca mais lagostas? ___________________________________________<br />
29. Qual a época do ano que o Sr. pesca mais lagosta?_________________________________________<br />
30. O Sr. tem notado mu<strong>da</strong>nças quanto a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> lagostas nas pescarias: Sim( ) Não( )<br />
31. Se sim, porque o Sr. acha que isto está ocorrendo:_____________________________________________<br />
32. A lagosta é fácil <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>r? ( ) Sim ( ) Não<br />
33. Da pra viver só <strong>da</strong> pesca <strong>da</strong> lagosta? ( )Sim ( )Não<br />
34. Se houvesse forma <strong>de</strong> fazer criação <strong>de</strong> lagosta, você gostaria <strong>de</strong> fazer? ( )Sim ( )Não<br />
35. Porquê? ( ) Porque aumentaria a ren<strong>da</strong> ( ) Produziria mais que pescando ( ) Ficaria mais fácil que pescar<br />
( ) Não <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ria <strong>da</strong>s condições do tempo<br />
36. Se for <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong> essa técnica <strong>de</strong> cultivo gostaria <strong>de</strong> ser informado? ( ) Sim ( ) Não<br />
37. Haveria <strong>da</strong> sua parte interesse em participar <strong>de</strong>ste cultivo experimental? ( ) Sim ( ) Não
APÊNDICE B<br />
109<br />
N° 234, quinta-feira, 7 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006.<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS<br />
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°- 138. DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006<br />
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS<br />
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso <strong>da</strong>s atribuições previstas no art. 26, inciso V, Anexo I <strong>da</strong><br />
Estrutura Regimental aprova<strong>da</strong> pelo Decreto n°. 5.718, <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2006, e no art. 95, item VI do<br />
Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n°. 230, <strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2002,<br />
Consi<strong>de</strong>rando o disposto no Decreto n.° 5.583, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2005, que autoriza o IBAMA a<br />
estabelecer normas para a gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros <strong>de</strong> que trata o § 6 o do art. 27 <strong>da</strong><br />
Lei n.° 10.683, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2003;<br />
Consi<strong>de</strong>rando o Decreto-lei n° 221, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1967, que dispõe sobre a proteção e<br />
estímulos à pesca e a Lei 7.679, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1998, que dispõe sobre a proibição <strong>da</strong> pesca <strong>de</strong><br />
espécies em períodos <strong>de</strong> reprodução e dá outras providências;<br />
Consi<strong>de</strong>rando as propostas conti<strong>da</strong>s no Plano Nacional <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Uso Sustentável <strong>de</strong> Lagostas,<br />
aprova<strong>da</strong>s na 5 a Reunião do Comitê <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Uso Sustentável <strong>de</strong> Lagostas - CGSL, ocorri<strong>da</strong> nos dias 9<br />
e 10 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2006, em Brasília/DF; e,<br />
Consi<strong>de</strong>rando as proposições apresenta<strong>da</strong>s pela Diretoria <strong>de</strong> Fauna e Recursos Pesqueiros - DIFAP<br />
no Processo IBAMA n.° 02007.005286/2001-11, resolve:<br />
Art. 1 o Proibir, nas águas jurisdicionais brasileiras, a captura, o <strong>de</strong>sembarque, a conservação, o<br />
beneficiamento, o transporte, a industrialização, a comercialização e a exportação sob qualquer forma, e em<br />
qualquer local <strong>de</strong> lagostas <strong>da</strong>s espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e Panulirus laevicau<strong>da</strong> (lagosta<br />
cabo ver<strong>de</strong>), <strong>de</strong> comprimentos inferiores aos estabelecidos a seguir:<br />
Espécie Comprimento <strong>de</strong> cau<strong>da</strong> (cm) Comprimento cefalotórax (cm)<br />
Lagosta Vermelha 13 7,5<br />
Lagosta Cabo Ver<strong>de</strong> 11 6,5<br />
§ 1 o Para os efeitos <strong>de</strong>ste artigo fica estabelecido o seguinte:<br />
I - comprimento <strong>de</strong> cau<strong>da</strong> é a distância entre o bordo anterior do primeiro segmento abdominal e a<br />
extremi<strong>da</strong><strong>de</strong> do telson fechado;<br />
II - comprimento do cefalotórax é a distância entre o entalhe formado pelos espinhos rostrais e a<br />
margem posterior do cefalotórax;<br />
III - as medi<strong>da</strong>s acima referi<strong>da</strong>s são toma<strong>da</strong>s com base na linha mediana dorsal do indivíduo ou <strong>da</strong><br />
cau<strong>da</strong>, sobre superfície plana com telson fechado; e,<br />
IV - no caso <strong>de</strong> lagostas inteiras será adotado o comprimento do cefalotórax.<br />
§ 2° Para efeito <strong>de</strong> fiscalização será permiti<strong>da</strong> uma tolerância <strong>de</strong> até 2% <strong>de</strong> lagosta, em relação ao<br />
peso total, com tamanho mínimo inferior ao permitido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que a diferença a menor não ultrapasse a 2<br />
mm (dois milímetros).<br />
§ 3 o No ato <strong>da</strong> fiscalização, será permitido o <strong>de</strong>scabeçamento <strong>da</strong> lagosta para fins <strong>de</strong> medição <strong>da</strong><br />
cau<strong>da</strong>, quando solicitado pelo interessado.
110<br />
Art. 2 o Proibir o <strong>de</strong>sembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, o armazenamento, a<br />
comercialização e a exportação <strong>de</strong> lagostas <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta<br />
cabo ver<strong>de</strong>), sob qualquer forma que venha a <strong>de</strong>scaracterizar a cau<strong>da</strong> do indivíduo, impedindo a sua<br />
i<strong>de</strong>ntificação e medição.<br />
Art. 3 o Proibir a pesca <strong>de</strong> lagostas com qualquer método <strong>de</strong> pesca, nos seguintes criadouros naturais:<br />
I - até a distância <strong>de</strong> 04 (quatro) milhas marítimas <strong>da</strong> costa nos limites:<br />
a) <strong>da</strong> Foz do Rio Megaó à Ponta do Ramalho, no Estado <strong>de</strong> Pernambuco (07° 33' 30" S e 07° 50' 00" S);<br />
b) do Farol <strong>de</strong> Mun<strong>da</strong>ú a Foz do Rio Anil no Estado do ( cara (39° 07' 00" W c 38" 48 99" W):<br />
II - na região <strong>de</strong> Galinhos, no Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, entre as latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 05°05'00"S e<br />
05°07'00"S e as longitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 36° 12' 00" W a 36° 20' 00" W.<br />
Art. 4° Proibir, a partir <strong>de</strong> 1° <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2007, a pesca <strong>de</strong> lagostas <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta<br />
vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta cabo ver<strong>de</strong>), na área compreendi<strong>da</strong> entre o meridiano 51°38'N (fronteira<br />
<strong>da</strong> Guiana Francesa e o Brasil) e o paralelo 21°18'S (divisa dos estados do Espírito Santo e Rio <strong>de</strong> Janeiro)<br />
área <strong>de</strong> ocorrência <strong>da</strong>s espécies, a menos <strong>de</strong> 4 milhas marítimas <strong>da</strong> costa, a partir <strong>da</strong>s Linhas <strong>de</strong> Base Retas<br />
conforme <strong>de</strong>finido no Decreto N. 4.983, <strong>de</strong> 10 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2004.<br />
Art. 5° Permitir, a partir <strong>de</strong> 1° <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2007, a captura <strong>de</strong> lagosta <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta<br />
vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta cabo ver<strong>de</strong>), somente com emprego <strong>de</strong> armadilhas do tipo covo ou<br />
manzuá e cangalha.<br />
Parágrafo único. A malha do covo ou manzuá e <strong>da</strong> cangalha, <strong>de</strong>verá ser quadra<strong>da</strong> e ter no mínimo 5,0<br />
cm (cinco centímetros) entre nós consecutivos, com uma tolerância <strong>de</strong> 0,25 cm (vinte e cinco centésimos <strong>de</strong><br />
centímetros).<br />
Art. 6 o Proibir, a partir <strong>de</strong> 1 o <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2007, a captura <strong>de</strong> lagostas <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta<br />
vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta cabo ver<strong>de</strong>), com o emprego <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> espera do tipo caçoeira.<br />
Art. 7 o Proibir, a partir <strong>de</strong> 1 o <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2007, a utilização <strong>de</strong> marambaias, feitas <strong>de</strong> material <strong>de</strong><br />
qualquer natureza, como instrumento auxiliar <strong>de</strong> agregação <strong>de</strong> organismos aquáticos vivos, na captura <strong>de</strong><br />
lagostas <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta cabo ver<strong>de</strong>).<br />
Parágrafo único. Para efeito <strong>de</strong>sta Instrução Normativa enten<strong>de</strong>-se por marambaia, todo e qualquer<br />
conjunto <strong>de</strong> estrutura artificial utilizado para concentrar organismos aquáticos vivos<br />
Art. 8 o Permitir, a partir <strong>de</strong> 1 o <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2007, na pesca <strong>de</strong> lagostas <strong>da</strong>s espécies P.argus (lagosta<br />
vermelha) e P.laevicau<strong>da</strong> (lagosta cabo ver<strong>de</strong>), a operação somente <strong>de</strong> embarcações cujo comprimento total<br />
seja superior a 4 m (quatro metros), respeita<strong>da</strong> a legislação específica.<br />
Art. 9 o Proibir a captura <strong>de</strong> lagostas por meio <strong>de</strong> mergulho <strong>de</strong> qualquer natureza.<br />
Parágrafo único As embarcações que operam na pesca <strong>de</strong> lagostas não po<strong>de</strong>rão portar qualquer tipo<br />
<strong>de</strong> aparelho <strong>de</strong> ar comprimido e instrumentos a<strong>da</strong>ptados à captura <strong>de</strong> lagostas por meio <strong>de</strong> mergulho.<br />
Art. 10. Aos infratores <strong>de</strong>sta Instrução Normativa serão aplica<strong>da</strong>s as sanções previstas na Lei n.°<br />
9.605, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1998 e no Decreto n.° 3.179, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1999.<br />
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na <strong>da</strong>ta <strong>de</strong> sua publicação.<br />
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
111<br />
APÊNDICE C<br />
36<br />
34<br />
32<br />
30<br />
28<br />
26<br />
24<br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
27/4/2006<br />
28/4/2006<br />
29/4/2006<br />
27/5/2006<br />
28/5/2006<br />
29/5/2006<br />
25062006<br />
26/6/2006<br />
27/6/2006<br />
25/7/2006<br />
26/7/2006<br />
27/7/2006<br />
23/8/2006<br />
24/8/2006<br />
25/8/2006<br />
23/9/2006<br />
24/9/2006<br />
25/9/2006<br />
22/10/2006<br />
23/10/2006<br />
24/10/2006<br />
20/11/2006<br />
21/11/2006<br />
22/11/2006<br />
21/12/2006<br />
22/12/2006<br />
23/12/2006<br />
20/1/2007<br />
21/1/2007<br />
22/1/2007<br />
17/2/2007<br />
18/2/2007<br />
19/2/2007<br />
21/3/2007<br />
22/3/2007<br />
23/3/2007<br />
17/4/2007<br />
18/4/2007<br />
19/4/2007<br />
16/5/2007<br />
17/5/2007<br />
18/5/2007<br />
15/6/2007<br />
16/6/2007<br />
17/6/2007<br />
15/7/2007<br />
16/7/2007<br />
17/7/2007<br />
13/8/2007<br />
14/8/2007<br />
15/8/2007<br />
11/9/2007<br />
12/9/2007<br />
13/9/2007<br />
Data<br />
Gráfico <strong>da</strong> precipitação em (mm) dos dias <strong>de</strong> coleta entre abril/06 a setembro/07. Fonte:<br />
http://www.cptec.inpe.br/proclima2/balanco_hidrico/balancohidrico.shtml