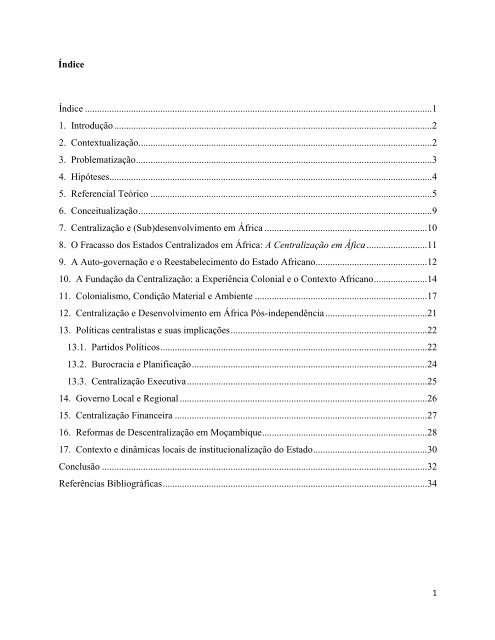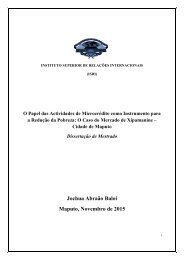O_Fracasso_dos_Estados_Centralizados_em
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Índice<br />
Índice ............................................................................................................................................... 1<br />
1. Introdução ................................................................................................................................... 2<br />
2. Contextualização......................................................................................................................... 2<br />
3. Probl<strong>em</strong>atização .......................................................................................................................... 3<br />
4. Hipóteses..................................................................................................................................... 4<br />
5. Referencial Teórico .................................................................................................................... 5<br />
6. Conceitualização ......................................................................................................................... 9<br />
7. Centralização e (Sub)desenvolvimento <strong>em</strong> África ................................................................... 10<br />
8. O <strong>Fracasso</strong> <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> Centraliza<strong>dos</strong> <strong>em</strong> África: A Centralização <strong>em</strong> Áfica ......................... 11<br />
9. A Auto-governação e o Reestabelecimento do Estado Africano.............................................. 12<br />
10. A Fundação da Centralização: a Experiência Colonial e o Contexto Africano ...................... 14<br />
11. Colonialismo, Condição Material e Ambiente ....................................................................... 17<br />
12. Centralização e Desenvolvimento <strong>em</strong> África Pós-independência .......................................... 21<br />
13. Políticas centralistas e suas implicações ................................................................................. 22<br />
13.1. Parti<strong>dos</strong> Políticos .............................................................................................................. 22<br />
13.2. Burocracia e Planificação ................................................................................................. 24<br />
13.3. Centralização Executiva ................................................................................................... 25<br />
14. Governo Local e Regional ...................................................................................................... 26<br />
15. Centralização Financeira ........................................................................................................ 27<br />
16. Reformas de Descentralização <strong>em</strong> Moçambique .................................................................... 28<br />
17. Contexto e dinâmicas locais de institucionalização do Estado ............................................... 30<br />
Conclusão ...................................................................................................................................... 32<br />
Referências Bibliográficas ............................................................................................................. 34<br />
1
1. Introdução<br />
Este ensaio intitulado “O <strong>Fracasso</strong> <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> Africanos Centraliza<strong>dos</strong>” propõe a explicar as<br />
origens do Estado africano centralizado e os efeitos que criou para o desenvolvimento do<br />
continente, discutir e analisar os esforços desencadea<strong>dos</strong> para r<strong>em</strong>ediar este modelo b<strong>em</strong> como<br />
iniciar debate sobre uma nova estratégia que pode fortalecer a ideia de uma prosperidade no<br />
desenvolvimento.<br />
O ensaio está divido <strong>em</strong> três partes, nomeadamente, na primeira onde se apresenta o modelo de<br />
análise à luz do qual pode-se explicar a centralização e o seu impacto nos países africanos; na<br />
segunda, apresentamos os conteú<strong>dos</strong> que suportam as análises <strong>em</strong> torno do probl<strong>em</strong>a e, por fim a<br />
conclusão.<br />
Pretende-se com este ensaio abrir um debate sobre as causas, os efeitos e as explicações sobre o<br />
estágio de subdesenvolvimento que se vive e mais do que a metade <strong>dos</strong> países africanos, b<strong>em</strong> como<br />
o impacto da dominação colonial e os sist<strong>em</strong>as administrativos adopta<strong>dos</strong> pelos Esta<strong>dos</strong> pósindependência.<br />
Por fim, pretende-se refletir sobre os efeitos, positivos e negativos que a relação de dependência<br />
(mais tarde de cooperação) entre o norte (ocidente-rico) e o sul (subdesenvolvido e pobre).<br />
2. Contextualização<br />
Depois das lutas pelas independências <strong>em</strong> África, os Esta<strong>dos</strong> e governos do continente<br />
perspetivavam o início de uma nova era caracterizada pela construção das d<strong>em</strong>ocracias africanas,<br />
como resultado da convivência colonial com o ocidente, com base nos princípios de construção de<br />
Esta<strong>dos</strong> modernos.<br />
Porém, se na europa este processo pode ter sido pacífico, <strong>em</strong> África não aconteceu da mesma<br />
forma. Enquanto se pensava na (re)construção <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos, ao mesmo t<strong>em</strong>po foi<br />
desencadeada uma série de conflitos arman<strong>dos</strong> bastante sangrentos. Para além das guerras, a<br />
economia entrou <strong>em</strong> colapso, caracterizada pelas altas taxas de inflação e um crescimento<br />
2
económico na ord<strong>em</strong> de 1,3% a 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) contra a média de 3,5% do<br />
PIB nos países <strong>em</strong> desenvolvimento (Wunsch e Olowu, 1990:02).<br />
Alguns Esta<strong>dos</strong> africanos tentaram contornar este momento de estagnação. Trata-se daquelas<br />
economias com uma substancial reserva petrolífera ou aquelas que tiveram que sacrificar parte da<br />
sua autonomia <strong>em</strong> beneplácito de uma relação de dependência neo-colonial (Ibid:02 1 ). Ainda<br />
assim, olhando para a componente social nota-se que entre 1960-1982 estes Esta<strong>dos</strong> não registaram<br />
avanços no capítulo de desenvolvimento apesar <strong>dos</strong> recursos de que dispunham.<br />
Estes aspectos <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos agravaram a instabilidade b<strong>em</strong> como tornou lento o<br />
desenvolvimento económico do que se esperava. Quatro el<strong>em</strong>entos ajudam a explicar o cenário:<br />
a) Mudanças no sist<strong>em</strong>a económico internacional;<br />
b) Mudanças no sist<strong>em</strong>a de preços no sector agrário e mineral;<br />
c) O advento da África do Sul e;<br />
d) A escalada <strong>dos</strong> desastres naturais.<br />
Os conflitos étnicos e a instabilidade política, a ineficácia das políticas públicas, a fraqueza <strong>dos</strong><br />
sist<strong>em</strong>as administrativos e a estagnação económica, pod<strong>em</strong> ser compreendi<strong>dos</strong> à parte como tendo<br />
sido causa<strong>dos</strong>, nas últimas duas décadas, pela tentativa de impor alto nível de centralização <strong>dos</strong><br />
Esta<strong>dos</strong> africanos modernos e estes argumentos explicam as mudanças na estrutura política e nas<br />
estratégias de desenvolvimento (Wunsch e Olowu, 1990:04).<br />
3. Probl<strong>em</strong>atização<br />
A abordag<strong>em</strong> da centralização na ord<strong>em</strong> política foi fort<strong>em</strong>ente defendida pelos cientistas sociais<br />
durante o período do nascimento de novos Esta<strong>dos</strong>, como corolário do fim <strong>dos</strong> impérios coloniais<br />
depois da Segunda Guerra Mundial. Contudo, hoje há qu<strong>em</strong> defenda que a estratégia de<br />
“centralização” para todo processo de desenvolvimento teve resulta<strong>dos</strong> positivos <strong>em</strong> África pós-<br />
1<br />
Cfr. Para melhor entendimento da dependência neo-colonial pode consultar as seguintes obras: PEET, Richard e<br />
HARTWICK, Elaine (2009). Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. Second Edition. The<br />
Guilford Press. New York and London; e TODARO, Michael P. e SMITH Stephen C. (2012). Economic Development.<br />
11 th Edition. Addison-Wesley; Boston;<br />
3
independência (Hyden, 1980, citado por Wunsch e Olowu, 1990:06 2 ). Porém, foram constata<strong>dos</strong><br />
erros nas políticas do desenvolvimento, a <strong>em</strong>ergência <strong>dos</strong> governos autocráticos e corruptos, a<br />
exploração da massa rural pelas minorias de elites urbanas e o dispêndio de avulta<strong>dos</strong> recursos <strong>em</strong><br />
projectos de desenvolvimento mal planifica<strong>dos</strong> (Ekpo 1979, Austin 1984, Jackson e Roseberg<br />
1982, cita<strong>dos</strong> por Wunsch e Olowu, 1990:06 3 ).<br />
A outra disfunção inclui a incapacidade de administração efectiva a partir do centro (<strong>em</strong> contraste<br />
a periferia), escassez de recursos, adopção de sist<strong>em</strong>as de gestão inapropria<strong>dos</strong>, a autodefesa das<br />
população rural <strong>em</strong> relação à economia de mercado, o efeito erosivo que as políticas públicas<br />
tiveram na economia e a adopção, <strong>em</strong> poucos casos, de sist<strong>em</strong>as de tirania brutal para a manutenção<br />
do poder (Jackson e Rosberg 1982; Austin 1984; Decalo 1985, cita<strong>dos</strong> por Wunsch e Olowu,<br />
1990:07 4 ).<br />
A centralização relacionada com a desigualdade regional e étnica é também um aspecto importante<br />
a considerar. Mas a questão central é: porque é que a estratégia de economias centralmente<br />
planificadas <strong>em</strong> África falhou?<br />
4. Hipóteses<br />
As regras são mecanismos cria<strong>dos</strong> pelos homens que guiam, facilitam e reforçam a habilidade<br />
humana no trabalho colectivo. Na ausência de habilidades para formular regras (devido a<br />
inabilidade económica, política e social) ou na presença de regras que encorajam a predação e<br />
exploração de uns pelos outros, pode criar um declínio ou estagnação do desenvolvimento<br />
(Ibid.:10). Assim, Wunsch e Olowu (1990:10) propõ<strong>em</strong> duas hipóteses:<br />
2<br />
HYDEN, Goran (1980). Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and Uncaptured Peasantry. Berkeley.<br />
University of California Press. USA;<br />
3<br />
EKPO, M.U et all (1979). Bureaucratic Corporation in Sub-Saharan Africa . Washington D.C. University Press,<br />
EUA; AUSTIN, Dennis (1984). Politics in Africa. Hanover. H.H. University Press of New England, London;<br />
JACKSON, Robert and ROSEBERG, Carl (1982). Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant.<br />
Berkeley: University of California Press. EUA;<br />
4<br />
DECALO, Samuel (1976). Coups and Army Rule in Africa: studies in military rule. New Haven, Conn.: Yale<br />
University Press, EUA.<br />
4
i. A fragilidade das autoridades para formular e impl<strong>em</strong>entar regras a nível subnacional nas<br />
esferas pública e privada (por ex<strong>em</strong>plo, limites no contrato, propriedade e relações de<br />
mercado) pode impedir uma organização pública necessária para o desenvolvimento;<br />
ii. As regras que centralizam toda autoridade nas mãos de uma minoria pod<strong>em</strong> facilitar a<br />
exploração <strong>dos</strong> que lidam directamente com os conflitos sociais e económicos,<br />
fragmentação e assim, o declínio do desenvolvimento.<br />
5. Referencial Teórico<br />
O conceito de Estado é, <strong>em</strong> grande medida, tributário das contribuições teóricas da sociologia<br />
weberiana. Com efeito, fundando a sua definição de Estado numa concepção teórica que considera<br />
a sociedade como um universo marcado por conflitos de interesses e antagonismos, Weber<br />
identifica essencialmente dois critérios fundamentais que entram na análise do Estado:<br />
administração burocrática e monopólio da violência física legítima (Weber, 1971, Ibid. 5 ).<br />
Segundo Brito et all (2010: 23), para Weber, a administração burocrática, mais concretamente a<br />
direcção administrativa burocrática, constitui o tipo puro da dominação legal-racional, cujas<br />
principais características se resum<strong>em</strong> nos seguintes aspectos: funcionários que obedec<strong>em</strong><br />
unicamente as obrigações objectivas das suas funções; a existência de uma hierarquia;<br />
competências da função solidamente estabelecidas; predominância do princípio de nomeação <strong>dos</strong><br />
funcionários segundo uma qualificação profissional; uma retribuição fixa <strong>em</strong> moeda; a existência<br />
de carreiras; a submissão <strong>dos</strong> funcionários à uma disciplina estrita e homogénea (Weber, 1971:<br />
226, Ibid. 6 ).<br />
Baseada <strong>em</strong> textos jurídicos, supõe-se que a administração burocrática seja impessoal e formal,<br />
facto que inspira confiança aos cidadãos, na medida <strong>em</strong> que o exercício do poder do Estado tornase<br />
previsível (Braud, 1997: 71, Ibid. 7 ).<br />
5<br />
WEBER, Max (1971). Economie et Société, Paris, Librairie Plon;<br />
6<br />
WEBER, Max (1971). Economie et Société, Paris, Librairie Plon<br />
7<br />
BRAUD, Philippe (1997). Science politique. L’État, Tomo 2, Paris, Editions du Seuil.<br />
5
Neste sentido, o fenómeno burocrático esta intrinsecamente ligado ao processo de<br />
institucionalização que nos r<strong>em</strong>ete a existência de funções definidas por regras, normas objectivas.<br />
Dai a ideia de “<strong>em</strong>presa política de carácter institucional” presente na definição weberiana do<br />
Estado.<br />
Relativamente a violência física, Weber considera que o monopólio da violência física legítima é<br />
um <strong>dos</strong> meios, entre outros, de que o Estado se serve para alcançar os seus objectivos (Weber,<br />
1971, Ibid. 8 ).<br />
Na perspectiva weberinana, outros grupos políticos diferentes do Estado também pod<strong>em</strong> fazer uso<br />
da violência física. Todavia, a diferença desses outros grupos, o Estado é a única entidade que<br />
reclama o uso legítimo da violência física com a finalidade de garantir o cumprimento <strong>dos</strong> seus<br />
regulamentos, facto que exige a existência de uma administração burocrática (Weber, 1971,<br />
Ibid. 9 ).<br />
A perspectiva weberiana, a sociologia politica cont<strong>em</strong>porânea, sob influência do modelo<br />
eastoniano (Easton, 1965, Ibid.: 23 10 ), acrescenta a ideia de interacção contínua entre o Estado e o<br />
seu meio e sublinha essencialmente três actividades ligadas ao funcionamento do Estado,<br />
nomeadamente a actividade extractiva (recrutamento de meios humanos e cobrança de impostos);<br />
actividade dispensadora (capacidade reguladora e capacidade distributiva); actividade responsiva<br />
(antecipação e gestão de conflitos) (Braud, 2000: 133 – 145, Ibid. 11 ).<br />
No entanto, e importante referir que o modelo weberiano acima exposto constitui, na linguag<strong>em</strong><br />
do próprio Weber, tipo-ideal, uma representação da realidade. O tipo-ideal não existe<br />
<strong>em</strong>piricamente na sua pureza conceptual <strong>em</strong> nenhuma parte (Weber, 1971, Ibid. 12 ). Neste sentido,<br />
o valor da definição weberiana releva fundamentalmente da sua função metodológica de<br />
elucidação da realidade.<br />
8<br />
Op. Cit.;<br />
9<br />
Op. Cit.;<br />
10<br />
EASTON, David (1965). Analyse du système politique. Paris: A. Colin; 11<br />
BRAUD, Philippe (2000). Sociologie Politique, Paris, L.G.D.J., 5a edição; 12<br />
Op. Cit.<br />
6
Por conseguinte, os mecanismos de funcionamento do Estado, na prática, revelam a ideia de<br />
coabitação, <strong>em</strong> menor ou maior grau, de el<strong>em</strong>entos da dominação legal-racional com el<strong>em</strong>entos de<br />
outros tipos de dominação. É aqui onde intervém a ideia de institucionalização. Com efeito, uma<br />
forte presença de el<strong>em</strong>entos da dominação legal-racional traduz-se numa forte institucionalização<br />
do Estado e na consequente previsibilidade <strong>dos</strong> mecanismos do seu funcionamento, na medida <strong>em</strong><br />
que a administração burocrática funciona numa lógica formal e impessoal, facto que reforça a<br />
distinção entre o público e o privado.<br />
Um fraco grau de institucionalização constitui, assim, um <strong>dos</strong> principais sinais de crise de<br />
funcionamento do Estado, tal como aconteceu, por ex<strong>em</strong>plo, <strong>em</strong> muitos países da África<br />
subshariana, particularmente a partir <strong>dos</strong> anos 1980. A este propósito, desenvolveu-se uma vasta<br />
literatura, que vai desde a simples relação entre o Estado e a sociedade a ideia de<br />
instrumentalização da desord<strong>em</strong> pelas elites políticas africanas (Hyden, 1980; Hyden, 2000;<br />
Migdal, 1988; Rothchild & Chazan, 1988; Olowu & Wunsch, 1990; Chabal & Daloz, 1999 11 ).<br />
A persistência de sinais de crise do Estado <strong>em</strong> África, que se traduziu numa sist<strong>em</strong>ática confusão<br />
do público e privado, levou alguns autores a <strong>em</strong>pregar o conceito de neopatrimonialismo para dar<br />
conta <strong>dos</strong> mecanismos do funcionamento do Estado. Estu<strong>dos</strong> de autores como Medard (1990,<br />
1991, Ibid. 12 ) ou ainda Bratton & Van de Walle (1997, Ibid 13 .), sublinham a ideia da fraca<br />
institucionalização do Estado <strong>em</strong> África.<br />
Com origens na categoria de patrimonialismo de Weber (1971, Ibid. 16 ), o conceito de<br />
neopatrimonialismo foi sist<strong>em</strong>atizado por Eisenstadt (1973, Ibid 14 ) nos anos 1970 para designar os<br />
11<br />
HYDEN, Goran (1980). Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry. Londres,<br />
Ibadan, Nairobi: Hein<strong>em</strong>ann; HYDEN, Goran (2000). The Governance challenge in Africa. In Goran Hyden et al.,ed.<br />
African Perspectives on Governance. Trenton, Asmara: AWP. p. 5-32; MIGDAL, Joel (1988). Strong Societies and<br />
Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press;<br />
ROTHCHILD, Donald & CHAZAN, Naomi (1988). The Precarious Balance: State and Society in Africa, Boulder,<br />
Colo, Westview Press; WUNSCH, James & OLOWU, Dele (1990). The Failure of the Centralised<br />
State: Institutions and self-Governance in Africa, Boulder: Westview Press e CHABAL, Patrick, DALOZ, Jean-<br />
Pascal (1999). L’Afrique est partie. Du désordre comme instrument politique. Paris, Economica;<br />
12<br />
MEDARD, Jean-Francois (1991). “L’Etat neo-patrimonial en Afrique noire”. In Jean-Francois; e MEDARD<br />
(dir.), Etats d’Afrique Noire. Formation, Mécanismes et Crises, Paris, Karthala, p. 323 – 353;<br />
13<br />
BRATTON, Michael, VAN DE WALLE, Nicolas (1997). D<strong>em</strong>ocratic Experiments in Africa: Regime Transition in<br />
Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press; 16 Op. Cit.<br />
14<br />
EISENSTADT, Samuel (1973). Traditional Patrimonialism and Modern Neo-patrimonialism, Baverly<br />
Hills, Sage Publications;<br />
7
sist<strong>em</strong>as políticos <strong>dos</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. O neo-patrimonialismo descreve, assim,<br />
“um sist<strong>em</strong>a político essencialmente estruturado à volta da pessoa do príncipe, que tende a<br />
reproduzir um modelo de dominação personalizado, essencialmente orientado para a protecção da<br />
elite no poder e que procura limitar, ao máximo, o acesso da periferia aos recursos deti<strong>dos</strong> pelo<br />
centro. O jogo desta elite consiste então <strong>em</strong> assegurar o monopólio da representação e controlar,<br />
<strong>em</strong> seu proveito, o processo de modernização económica” (Badie & Hermet, 2001, ibid 15 ).<br />
Segundo Cammack et all, (2007, citado por Brito et all, 2010:24 16 ), do conceito de<br />
neopatrimonialismo pode destacar-se alguns aspectos tais como: hibridismo institucional;<br />
coexistência de el<strong>em</strong>entos da dominação patrimonial e legal racional; fraca previsibilidade das<br />
regras, normas que ditam o funcionamento do Estado; fraca separação entre o público e o privado<br />
(cristalizada no uso de recursos públicos para legitimação política); primazia de relações verticais<br />
<strong>em</strong> detrimento de relações horizontais.<br />
A Redução da Dependência Externa e seu Impacto na Impl<strong>em</strong>entação das Políticas Públicas <strong>em</strong><br />
Moçambique será examinada à luz da Teoria de Dependência.<br />
Com a incapacidade do capitalismo (1930 e 1940) de reproduzir nos países periféricos, alguns suas<br />
ex-colónias, experiências b<strong>em</strong>-sucedidas de desenvolvimento e, portanto, com o início da crise na<br />
Teoria do Desenvolvimento, motivada pelo fracasso do processo de substituição de importações e<br />
do projecto nacional desenvolvimentista, que pretendia criar as bases de um capitalismo autónomo<br />
na região, surge a Teoria da Dependência <strong>em</strong> 1960.<br />
Dentro desse escopo, o que os principais autores da Comissão Económica para a América Latina<br />
e Caribe (CEPAL), criada pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas, no final da<br />
década de 1940, propunham era um modelo de desenvolvimento pela via industrial, uma vez que<br />
entendiam que a industrialização era o el<strong>em</strong>ento aglutinador e articulador do desenvolvimento,<br />
progresso, modernidade, civilização e d<strong>em</strong>ocracia política, além deste ser o único modelo capaz<br />
15<br />
BADIE, Bertrand & HERMET, Guy (2001). La Politique Comparée, Paris: Armand Colin;<br />
16<br />
CAMMACK, Diana, GOLOOBA-MUTEBI, Fred, KANYONGOLO, Fidelis O’Neil, Tam (2007). “Neopatrimonial<br />
Politics, Decentralisation and Local Government: Uganda and Malawi in 2006”, Working Paper 2, Londres, Overseas<br />
Development Institute.<br />
8
de superar a tendência permanente à deterioração <strong>dos</strong> termos de troca, que desfavorece os países<br />
exportadores de bens primários ao transferir renda da periferia <strong>em</strong> direcção ao centro (Duarte e<br />
Graciolli, sd: 1).<br />
A Teoria da Dependência é uma formulação teórica proposta pela corrente weberiana desenvolvida<br />
na América Latina por Fernando Henrique Car<strong>dos</strong>o e Enzo Falleto, e a marxista que t<strong>em</strong> <strong>em</strong> Ruy<br />
Mauro Marini seu principal expoente. Para além destes autores há que destacar igualmente os<br />
trabalhos desenvolvi<strong>dos</strong> por André Gunder Frank, Theotónio <strong>dos</strong> Santos, Vania Bambirra, Orlando<br />
Caputo, Roberto Pizarro e outros, que consiste numa leitura crítica e marxista não-dogmática <strong>dos</strong><br />
processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo mundial, <strong>em</strong><br />
contraposição às posições marxistas convencionais <strong>dos</strong> parti<strong>dos</strong> comunistas e à visão estabelecida<br />
pela (CEPAL).<br />
6. Conceitualização<br />
A presente dissertação avança alguns conceitos que vão permitir melhor entendimento do debate<br />
a que nos propus<strong>em</strong>os retomar.<br />
1. Capacidade cívica refere-se à capacidade legal da população de se engajar <strong>em</strong> diversas<br />
acções clectivas<br />
2. Concentração constitucional refere-se à tendência de concentrar o poder constitucional nas<br />
mãos de um ou de uma minoria.<br />
3. Entende-se espaço, neste contexto como sendo o lugar onde ocorre a auto-organização<br />
política e económica e, segundo, a estrutura como conjunto de instituições e regras.<br />
4. A “auto-governação” refere-se ao lugar (político) onde as pessoas pod<strong>em</strong> procurar e firmar<br />
parcerias entre elas no processo de desenvolvimento: onde elas pod<strong>em</strong> completar o seu<br />
potencial para a auto-organização a vários níveis nos quais asseguram os direitos legais<br />
diversos recursos para acções colectivas.<br />
5. Neste contexto, os pobres refere-se a um grupo de pessoas que não t<strong>em</strong> poder e que por via<br />
disso obedec<strong>em</strong> a regras estabelecidas por aqueles que concentram o poder, os os<br />
poderosos, não necessariamente ricos.<br />
9
6. O sist<strong>em</strong>a de governação forte pode ser conceitualizado como sendo a composição de<br />
vários organizações estabelecedoras de regras interligadas entre si numa relação que<br />
permite uma reciprocidade geral e variações na escolha da política dentro de um quadro<br />
(Ostrom, 1985, citado por Wunsch e Olowu 1990:17 17 ).<br />
7. Centralização e (Sub)desenvolvimento <strong>em</strong> África<br />
Em conformidade com Wunsch e Olowu (1990:07), um <strong>dos</strong> probl<strong>em</strong>as que impede o crescimento<br />
da áfrica é a sua super centralizada organização estadual.<br />
O argumento é de que a centralização excessiva das instituições governamentais <strong>em</strong> África desde<br />
as independências (1960) impediu seriamente a capacidade do continente de promover o<br />
desenvolvimento e apostar na auto-governação. Para melhor compreender o assunto é preciso<br />
tomar <strong>em</strong> conta dois pré-requisitos: o espaço e a estrutura (Wunsch e Olowu, 1990:09).<br />
Sumarizando, as instituições e regras são importantes porquanto necessárias para proteger e<br />
facilitar a auto-organização entre os homens e, porque eles constitu<strong>em</strong> o único caminho no qual o<br />
conhecimento gerado por este processo é generalizado para toda sociedade. A auto-organização<br />
r<strong>em</strong>ete-nos a auto-governação.<br />
A política de centralização teve três grandes efeitos no desenvolvimento humano <strong>em</strong> África.<br />
Primeiro, facilitou a exploração e abuso <strong>dos</strong> pobres 18 pelos poderosos. Quando o poder político<br />
está concentrado nas mãos de alguns e efectivamente retirado das mãos <strong>dos</strong> outros, requer a<br />
assunção da propensão humana, auto-interesse, ou mesmo, o paternalismo que impõe que os não<br />
poderosos prossigam políticas públicas que visam a satisfação não <strong>dos</strong> seus interesses, mas sim<br />
<strong>dos</strong> interesses das elites poderosas. Esta situação conduz a um conflito político, disrupção<br />
económica e a deterioração social (Ibid.).<br />
17<br />
OSTROM, Elinor (1985). The Rudiments of the Revised Theory of the Origins, Survival, an Performance of<br />
Institutions for Collective Actions. Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Bloomington, Ind. Indiana<br />
University, USA;<br />
18<br />
Neste contexto, os pobres refere-se a um grupo de pessoas que não t<strong>em</strong> poder e que por via disso obedec<strong>em</strong> a regras<br />
estabelecidas por aqueles que concentram o poder, os poderosos, não necessariamente ricos. 22 CROZIER, Michael<br />
(1964). The Bureaucratic Phenomenon. University of Chicago Press. Chicago, USA;<br />
10
Segundo, o efeito erosivo da centralização t<strong>em</strong> como base as limitações cognitivas humanas e<br />
institucionais: estimula a propensão para o erro. Como sugere Crozier (1964, citado por Wunsch<br />
e Olowu, 1990:12 22 ), a organização burocrática não pode corrigir o comportamento com base na<br />
aprendizag<strong>em</strong> gerada pelos seus próprios erros, o que <strong>em</strong> parte faz com que o modelo weberiano<br />
seja interpretado como sendo contraproducente na gestão do desenvolvimento. Assim, a burocracia<br />
torna-se parte do probl<strong>em</strong>a e não da solução <strong>em</strong> si.<br />
Estes argumentos conduz<strong>em</strong>-nos ao terceiro impacto negativo da centralização. É que ela tende a<br />
eliminar algumas ferramentas socias ou as tecnologias da acção humana. Assim, ela enfraqueceu<br />
diversas organizações de pequena escala necessárias para o desenvolvimento (Ibid.).<br />
A hostilidade do Estado centralizado para as instituições não estatais torna-se mais evidente do que<br />
a etnicidade. Antes, quando a intensa competição “Soma Zero” engendrada pelos Esta<strong>dos</strong><br />
centraliza<strong>dos</strong> é r<strong>em</strong>ovida, a etnicidade não é claramente uma força negativa (Wunsch e Olowu,<br />
1990:14). Por isso, Nisbet (1962, citado por Wunsch e Olowu, 1990:14 19 ) defende que os<br />
agrupamentos pod<strong>em</strong> contribuir para a micro-organização e b<strong>em</strong> como para o desenvolvimento,<br />
mas muitas vezes às expensas do Estado centralizado.<br />
8. O <strong>Fracasso</strong> <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> Centraliza<strong>dos</strong> <strong>em</strong> África: A Centralização <strong>em</strong> Áfica<br />
Os Esta<strong>dos</strong> africanos modernos pod<strong>em</strong> ser caracteriza<strong>dos</strong> pelo centralismo dentro de uma<br />
variedade de medidas. A proporção entre a despesa pública realizada pela população comparada<br />
com a <strong>dos</strong> governantes, o aumento <strong>dos</strong> impostos sobre a população <strong>em</strong> relação à contribuição <strong>dos</strong><br />
governantes, a proporção do PIB gasto pelo governo, a fraqueza jurídica <strong>dos</strong> governos<br />
subnacionais e a ausência de parti<strong>dos</strong> políticos competitivos ou a contestação <strong>dos</strong> resulta<strong>dos</strong><br />
eleitorais são alguns <strong>dos</strong> indicadores convencionais (Ibid.).<br />
A crítica diferença entre os Esta<strong>dos</strong> africanos e o d<strong>em</strong>ais assenta numa dimensão quantitativa,<br />
especificamente na distribuição da autoridade, responsabilidade e recursos para o governo central<br />
<strong>em</strong> relação ao local.<br />
19<br />
NISBET, Robert (1962). Community and Power. Oxford University Press. New York, USA.<br />
11
A centralização pode, finalmente, ser vista fora da governação ou seja <strong>em</strong> organizações privadas<br />
quase sob controlo governamental. As acções colectivas privadas foram destruídas. Dentro do<br />
cenário político, os parti<strong>dos</strong> políticos competitivos foram coloca<strong>dos</strong> de fora, enquanto que as<br />
associações de voluntários, sindicatos, entre outras entidades foram colocadas numa relação de<br />
serviliência. Os poderes foram retira<strong>dos</strong> do judicial e legislativo <strong>em</strong> quase to<strong>dos</strong> países africanos<br />
para o executivo (Wunsch e Olowu, 1990:05).<br />
A centralização de instituições formais do governo t<strong>em</strong> bloqueado negociações e cooperação com<br />
os segmentos sociais que anseiam ver o cometimento e os esforços para o desenvolvimento porque<br />
os Esta<strong>dos</strong> africanos não tiveram poder suficiente para compelir os el<strong>em</strong>entos-chave da sociedade<br />
de modo a agir como d<strong>em</strong>anda do Estado.<br />
Em geral, o que se pode chamar de “capacidade cívica” foi reduzido e a “concentração<br />
constitucional” aumentou. Estas duas tendências, segundo Wunsch e Olowu (1990:05)<br />
desaceleraram o crescimento económico e enfraqueceram a capacidade política <strong>dos</strong> africanos.<br />
Esta centralização multifacetada requer proporcionalmente uma descentralização que inclui os<br />
seguintes aspectos:<br />
i. A devolução da responsabilidade real e autoridade na escolha<br />
e provisão <strong>dos</strong> serviços sociais e desenvolvimento de projectos<br />
<strong>dos</strong> governos locais;<br />
ii. Uma substancial ruptura do papel do Estado na economia;<br />
iii. Maior abertura política <strong>em</strong> relação à participação popular;<br />
iv. Protecção e legalização das organizações não estaduais e;<br />
v. Concentrar o papel e poder <strong>dos</strong> agentes públicos naquelas acções necessárias para a<br />
administração pública (Wunsch e Olowu, 1990:06).<br />
9. A Auto-governação e o Restabelecimento do Estado Africano<br />
De acordo com Wunsch e Olowu (1990:14) com o regime de auto-governação, o papel primário<br />
do Estado é de agir como sendo uma plataforma de regras que <strong>em</strong>poderam e facilitam as pessoas,<br />
12
encorajam relações de respeito mútuo e cooperação reduzindo as oportunidades de predação e<br />
exploração.<br />
Sob este regime pode-se organizar, aprender e agir uns com os outros de modo a criar as mais<br />
complexas relações políticas, económicas e sociais necessárias para o que o desenvolvimento<br />
ocorra. O papel do Estado é de estabelecer o nível, do que desenhar o modelo (Wunsch e Olowu<br />
1990:15).<br />
Entretanto, esta abordag<strong>em</strong> ignora uma diversidade de caminhos nos quais os seres humanos t<strong>em</strong><br />
participado e influenciado decisões políticas sobre as quais viv<strong>em</strong>. Inadvertidamente, encoraja as<br />
assimetrias no poder, onde a elite-centrista torna-se mais hábil para explorar a periferia.<br />
Esta abordag<strong>em</strong> ignora igualmente a realidade <strong>em</strong> que várias decisões são tomadas <strong>em</strong> diversos<br />
níveis dentro de um Estado e que o controlo “d<strong>em</strong>ocrático” nominal do centro permite um pequeno<br />
controlo efectivo pelos indivíduos <strong>em</strong> torno das decisões e políticas púbicas que directa e<br />
imediatamente afectam a sua vida, por um lado, como concede-lhes oportunidade ou incentivos<br />
para tomar responsabilidade no melhoramento da sua vida e das comunidades onde estão inseri<strong>dos</strong>,<br />
por outro. Ambas perspectivas são necessárias para que ocorra a auto-organização.<br />
Um Estado centralizado não significa um Estado forte (Migdal, 2001:58 e segts), mas também não<br />
é o posto de Estado Fraco. Mas a questão de fundo que se coloca é como é que os Esta<strong>dos</strong><br />
centraliza<strong>dos</strong> <strong>em</strong> África tornaram-se extr<strong>em</strong>amente fracos e que os mecanismos de autogovernação<br />
essenciais para o desenvolvimento pod<strong>em</strong> somente <strong>em</strong>ergir numa estrutura política que permite<br />
organizações humanas descentralizadas (Wunsch e Olowu 1990:16).<br />
A experiência africana d<strong>em</strong>ostra que a governação efectiva não deriva da soberania centralizada,<br />
tomada de decisões e domínio da vida política. Os Esta<strong>dos</strong> africanos encontraram estes três<br />
critérios e continuam a facilitar relações de produção sustentáveis geralmente aceites como<br />
essenciais para o desenvolvimento (Zolberg, 1966; Lofchie, 1985; Jackson e Rosberg, 1986 e<br />
Hyden, 1983, op.cit., cita<strong>dos</strong> por Wunsch e Olowu 1990:16).<br />
13
Uma forte governação pode requerer não uma autoridade “centralizada”, mas sim indivíduos<br />
capazes de estabelecer e alcançar metas através de acções colectivas a vários níveis e dentro de<br />
uma diversidade das comunidades.<br />
O desafio para uma análise institucional é determinar que relação precisa de consistência e coesão<br />
e como estruturar as relações <strong>em</strong> várias organizações, de modo a manter a uma relativa autoridade,<br />
autonomia e independência nas suas esferas de acção (Madison, Hamilton e Jay, 1966 e Ostrom<br />
V., 1987, Ibid. 20 ).<br />
Wunsch e Olowu (1990:17) entend<strong>em</strong> que as forças que estão por detrás da centralização persist<strong>em</strong><br />
no mundo actual e requer<strong>em</strong> igualmente fortes medidas para desafiar o seu progresso.<br />
As forças centralizadoras inclu<strong>em</strong> a impaciência humana perante o sofrimento.<br />
Portanto, os Esta<strong>dos</strong> altamente centraliza<strong>dos</strong> estabelec<strong>em</strong> regras e instituições expostas à erros na<br />
formulação de políticas públicas b<strong>em</strong> como tornam moroso o reconhecimento e a recuperação <strong>dos</strong><br />
tais erros cometi<strong>dos</strong>; o crescimento de uma elite sustentada pelo aparato estatal, e a entropia rural<br />
e urbana como organizações locais co-opta<strong>dos</strong> e comprometi<strong>dos</strong> pelo Estado centralizado.<br />
O sist<strong>em</strong>a centralizado é o último e talvez, o mais sério vestígio do colonialismo ocidental.<br />
10. A Fundação da Centralização: a Experiência Colonial e o Contexto Africano<br />
O colonialismo deve ser visto, segundo Wunsch e Olowu (1990:23), como sendo um evento de<br />
uma determinada época da história de África. A colonização trouxe regimes centristas, elitistas e<br />
absolutistas e serviu fundamentalmente para desvalorizar os “indígenas”, descentralizar as<br />
infraestrututuras sociais baseadas <strong>em</strong> mecanismos centraliza<strong>dos</strong> e hierarquiza<strong>dos</strong> para ordenar as<br />
relações humanas. Porém, ela não ocorreu da mesma forma <strong>em</strong> África, pois, as colónias britânicas<br />
priorizaram a administração de benefícios mútuos para os próprios africanos b<strong>em</strong> como para a<br />
economia mundial, diferent<strong>em</strong>ente das colónias francesas e portuguesas, onde o governo não<br />
20<br />
MADISON, James, HAMILTON, Alexander & JAY, John (1966). The Federalist Paper. Roy FairField Edition.<br />
Garden City, NY, Anchor Books. USA.<br />
14
existia como um agente <strong>dos</strong> governa<strong>dos</strong> para facilitar as suas acções, mas sim como um<br />
instrumento externo que reconstruiu a periferia e os supostos interesses periféricos.<br />
Como resultado dessas caraterísticas registou-se a ausência de uma lei constitucional forte b<strong>em</strong><br />
como de estruturas que institucionalizass<strong>em</strong> os esforços do desenvolvimento local. Os detentores<br />
do poder, os administradores e/ou governadores muitas vezes tentaram buscar melhorias tangíveis<br />
para as suas circunscrições administrativas, com base no desenvolvimento organizacional a longoprazo<br />
– Paternalistas, ad hoc e efémeros – e não nos processos políticos locais n<strong>em</strong> <strong>em</strong><br />
procedimentos nacionais consistentes, políticas públicas ou rotinas. Este modelo fez com que logo<br />
que os dirigentes abandonass<strong>em</strong> o poder, ao mesmo t<strong>em</strong>po as políticas públicas por si formuladas<br />
foss<strong>em</strong> ignoradas. As instituições que facilitavam ou sustent<strong>em</strong> a organização local também foram<br />
abandonadas (Wunsch e Olowu, 1990:26).<br />
Aqui, o ponto-chave é: a administração colonial, quer britânica como francesa, negligenciou,<br />
distorceu e nalgumas vezes destruiu o sist<strong>em</strong>a de regras localmente (entenda-se África)<br />
concebidas, através das quais os indivíduos desencadeavam as acções colectivas. Mesmo <strong>em</strong><br />
colónias onde este sist<strong>em</strong>a foi “benevolente”, a administração colonial desabilitou a essência das<br />
sociedades locais, como também retirou a necessidade <strong>dos</strong> indivíduos de descobrir e resolver os<br />
probl<strong>em</strong>as colectivos locais. Este sist<strong>em</strong>a gerou o subdesenvolvimento. Assim, a estrutura política<br />
moderna permite apenas aos Esta<strong>dos</strong> centraliza<strong>dos</strong> e os seus agentes tomar acção (Wunsch e<br />
Olowu, 1990:27).<br />
A colonização transformou as estruturas locais <strong>em</strong> paternalisticas, ad hoc e personalísticas, devido<br />
a distância entre o centro (metrópole) e a periferia (colónia), pelo que o suporte logístico foi<br />
centralizado, moroso mas não irresoluto. Mas isto não quer dizer que todas organizações locais<br />
foram erradicadas. O que sucede é que tais organizações não estavam estruturadas conforme a lei,<br />
mas também foram marginalizadas. Assim, a força e os níveis organizacionais no continente<br />
africano estavam largamente fora das estruturas formais locais de desenvolvimento que,<br />
futuramente, poderiam acolher os poderes devolucionários e sustentar a autonomia local numa<br />
relação de troca de políticas com as instituições nacionais (Ibid.).<br />
15
Um <strong>dos</strong> marcos importantes de progresso foi a devolução da autoridade para os concelhos locais<br />
eleitos e o retorno do poder para as estruturas administrativas locais. Porém, as reformas iniciadas<br />
a partir de 1947 não tiveram muito impacto nos conflitos pós-independência <strong>em</strong> África. Mas ainda<br />
não está claro como é que esta experiência afectou geralmente os governos africanos.<br />
Seria simples sugerir que os líderes que lutaram pelas independências escangalharam modelo<br />
colonial, mas os procedimentos administrativos e o controlo burocrático permaneceram intocáveis.<br />
O aparato centralizador, absolutista e elitista sobreviveu <strong>em</strong> África pós-independência (Wunsch e<br />
Olowu, 1990:28).<br />
Portanto, as regras do regime colonial deixaram alguns instrumentos do poder disponíveis para os<br />
líderes africanos da pós-independência. Mais adiante, estes líderes encontraram nestes<br />
instrumentos, ferramentas para resolver probl<strong>em</strong>as políticos controversos. Talvez o mais<br />
importante é que o regime colonial destorceu as organizações políticas alternativas, por um lado,<br />
ou apenas mais tarde permitiu o seu restabelecimento, por outro. Assim, as organizações<br />
governamentais locais que pod<strong>em</strong> ter sido capazes de resistir a esta centralização tornaram-se<br />
altamente subdesenvolvidas.<br />
Finalmente, o colonialismo predispôs os regimes africanos pós-independência à constituições<br />
centralizadas, com enfoque para os sist<strong>em</strong>as de governação tradicionais. Em muitas situações foi<br />
cooptado e, de alguma forma, corrompi<strong>dos</strong> pelo poder do sist<strong>em</strong>a colonial exercido sobre elas. As<br />
estruturas legais e de participação local foram eliminadas, enquanto novas d<strong>em</strong>andas iam sendo<br />
colocadas nelas e nos indivíduos (Ibid.).<br />
A sua evolução dentro <strong>dos</strong> instrumentos modernos de auto-governação ficou ofuscada pela<br />
suspensão da relação constitucional com os indivíduos b<strong>em</strong> como pelas restrições das suas<br />
capacidades tributárias, de estabelecimento de regras e contratos. Estas quatro mudanças, a<br />
suspensão das constituições tradicionais e leis, a não prestação de contas à população, o controlo<br />
de políticas públicas pelo poder colonial e restrições na autoridade, efectivamente <strong>em</strong>perrou a sua<br />
evolução. Por isso, o enclave entre o sist<strong>em</strong>a tradicional de prestação de contas e as políticas<br />
públicas impopulares estabelecidas pelos regimes coloniais e a roptura das relações constitucionais<br />
históricas, nalguns casos, reduziu a legitimidade de funcionar como um todo. Assim, as estruturas<br />
16
tradicionais locais não constituíram alternativa para os governos centrais e estruturas hierárquicas<br />
burocráticas após a independência <strong>em</strong> África (Ibid.:30).<br />
11. Colonialismo, Condição Material e Ambiente<br />
A política colonial reforçou o centralismo e o elitismo nos aspectos físico e humano. As<br />
infraestruturas administrativas e de suporte foram concentradas numa única cidade: a sede da<br />
administração, serviços educacionais, serviços de utilidade pública, merca<strong>dos</strong> e telecomunicações<br />
(Ibid.:31).<br />
As estruturas de leis coloniais nas colónias francesas e portuguesas reforçaram o desenvolvimento<br />
das elites, agregando igualmente a dimensão cultural. Nestas colónias, para escapar do regime<br />
opressor e absolutista, a única via era de assimilar o modus-vivendi do ocidente colonizador 21<br />
(Ibid.:32).<br />
A política cultural britânica foi menos dramática se comparada com a francesa e portuguesa, mas<br />
também funcionou no estabelecimento de uma ambição <strong>dos</strong> africanos <strong>em</strong> integrar as elites<br />
ocidentais, facto que encorajou o desenvolvimento de uma elite com grandes oportunidades de<br />
assegurar e exercer o poder político <strong>em</strong> relação aos indivíduos (Ibid.).<br />
O futuro social e económico da maioria esteve associado a um governo orientado pelo ocidente,<br />
centralizado e elitista, conforme escreve Lofche (1985:159-184, citado por Wunsch e Olowu,<br />
1990:32 22 ).<br />
O impacto do colonialismo centralizado pode também ser visto na perspectiva das condições<br />
económicas <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos <strong>em</strong> face à independência. As políticas derivadas das condições<br />
de centralização foram reforçadas pelas condições naturais b<strong>em</strong> como pelo ambiente internacional<br />
no qual os líderes africanos estavam inseri<strong>dos</strong>.<br />
21<br />
O processo de transformação <strong>dos</strong> indígenas para assimila<strong>dos</strong> não só fortaleceu as colónias mas também constituiu<br />
factor para o seu colapso porque o colonizado assimilado ganhou experiência de vida ocidentalizada que inspirou, de<br />
certo modo, o despertar da necessidade de luta pelas independências <strong>em</strong> África, através de movimentos sóciopolíticos<br />
como a Negritude, <strong>dos</strong> renascentistas africanos Leopold Senghor, William Du Bois, Houphouet Boigny, entre outros;<br />
22<br />
LOFCHIE, Michael F (1985). The Roots of Economic Crisis In Tanzania. Current History.<br />
17
De acordo com o Banco Mundial (1981:9, Ibid. 23 ), quando os Esta<strong>dos</strong> da África Subsahariana<br />
ganharam a independência (política) encararam constrangimentos para o desenvolvimento. Tais<br />
constrangimentos inclu<strong>em</strong> o subdesenvolvimento <strong>dos</strong> recursos humanos, fragilidade política,<br />
insegurança institucional, clima e geografia hostis para o desenvolvimento e o rápido crescimento<br />
populacional. Posto isto, as economias africanas na pós-independência foram descritas como tendo<br />
as seguintes características: pequenas, abertas, dependentes, desintegradas, com sérios probl<strong>em</strong>as<br />
na gestão de recursos naturais, e enroladas <strong>em</strong> sociedades étnicas fragmentadas. Estas economias<br />
estiveram até à data da independência dependentes do comércio externo (Banco Mundial, 1981:9,<br />
Hyden, 1980; 1983, Ibid. 24 ), tendo mais tarde atingido cerca de 25% do PIB.<br />
Os recursos minerais foram cruciais para o aumento das exportações b<strong>em</strong> como serviram de<br />
referências cambiais para os governos africanos. Mas também constituíram um foco de<br />
vulnerabilidade. A expansão da produção, as descobertas e o desenvolvimento de recursos<br />
adicionais esteve fora do controlo <strong>dos</strong> líderes africanos (Banco Mundial, 1981, Crowder,<br />
1968:273-331, 345-355, ibid.:34 25 ).<br />
A abertura da produção agrícola e mineira e o legado institucional do colonialismo reforçaram a<br />
necessidade de um aparente benefício das políticas económicas <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> centraliza<strong>dos</strong> depois<br />
da independência <strong>em</strong> África (Banco Mundial, 1981, Crowder, 1968:273-331, 345-355, Bates,<br />
1981, ibid.:34 26 ).<br />
A complexidade étnica que caracterizou os Esta<strong>dos</strong> africanos à data das independência influenciou<br />
o período pós-independência pois, alguns grupos étnicos acabaram por assumir posições políticas<br />
dominantes nos Governos (por ex<strong>em</strong>plo, o ANC e a África do Sul cuja direcção circunda entre os<br />
23<br />
World Bank (1981). Accelerated Development in Sub-Saharan Africa. Washington D.C.;<br />
24<br />
World Bank (1981). Accelerated Development in Sub-Saharan Africa. Washington D.C; HYDEN, Goran (1980).<br />
Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and Uncaptured Peasantry. Berkeley. University of California Press.<br />
USA e HYDEN, Goran (1983). No shotcuts to Progress: African Development Manag<strong>em</strong>ent in Perspective.<br />
Berkeley. University of California Press. USA;<br />
25<br />
CROWDER, Michael (1968). West Africa Under Colonial Rule. Hutchinson;<br />
26<br />
CROWDER, Michael (1968). West Africa Under Colonial Rule. Hutchinson, BATES, Robert H. (1981). Market<br />
and States in Tropical Africa: The political basis of agricultural policies. Berkeley. University of California Press.<br />
USA.<br />
18
zulus e thlosas), facto que gerou rivalidades e, nalguns casos, até mesmo hostilidades (Wunsch e<br />
Olowu, 1990:35).<br />
É importante notar que a maioria <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos viv<strong>em</strong> <strong>em</strong> paz e <strong>em</strong> cooperação com os<br />
seus multi-étnicos países vizinhos. A etnicidade raramente se desenvolveu na violência, e nalguns<br />
casos <strong>em</strong> que se notabilizou, por ex<strong>em</strong>plo no Sudão, Nigéria, Ruanda, Uganda e<br />
Burundi, pode estar directamente relacionada com as políticas e constituições herdadas do poder<br />
colonial – a maioria, e nalguns casos a minoria, conferiram vantagens a outros grupos e<br />
estabeleceram uma estrutura constitucional que pode ter melhorado ou mesmo piorado a situação<br />
(Rothchild e Olorunsola, 1983, cita<strong>dos</strong> por Wunsch e Olowu, 1990:35 27 ).<br />
Os Esta<strong>dos</strong> independentes não tiveram uma identidade cultural única e clara vista nas ciências<br />
sociais do t<strong>em</strong>po como necessária para a estaticidade. Se aconteceu, no caso da Somália, as<br />
identidades nacionalistas foram constituídas como uma mistura de bênção. Isto levou aos Esta<strong>dos</strong><br />
a guerras destrutivas, mais tarde com os Somalis a tencionar<strong>em</strong> a unificação com os seus<br />
compatriotas no Quénia e na Etiópia. A política cultural coesiva derivada na nacionalidade<br />
dominante (Modelo de Karl Deutsch) foi a mais desejada <strong>em</strong> maior parte <strong>dos</strong> casos. O dil<strong>em</strong>a real<br />
para os líderes africanos foi a fraqueza <strong>dos</strong> paradigmas alternativos de explicação de como as<br />
relações sociais multi-étnicas dentro de um Estado pod<strong>em</strong> conduzir para um moderno<br />
“Estado-nação” na tradição ocidental (Gellar, 1972, citado por Wunsch e Olowu, 1990:36 28 ).<br />
Assim, os líderes africanos são ambivalentes sobre a etnicidade: pod<strong>em</strong> não ignorar, mas poucas<br />
vezes viram a necessidade de construir e criar uma forte estrutura constitucional. A pequenez, a<br />
abertura e a dependência económica fizeram com que os Esta<strong>dos</strong> se tornass<strong>em</strong> altamente<br />
vulneráveis aos efeitos externos à economia. O crescimento económico deixa de ser sinónimo de<br />
desenvolvimento.<br />
27<br />
ROTHCHILD, Donald & OLORUNSOLA, V. (1983). State versus Ethnic Claims: African Policies Dil<strong>em</strong>mas.<br />
Boulder. Colorado. Westview Press. USA;<br />
28<br />
GELLAR, Sheldon (1972). State-bluilding and Nation-bluilding in West Africa. Bloomington, Indiana.<br />
International Developmente Research Center. Indiana University Press, USA;<br />
19
Segundo Jackson e Rosberg (1982:51, cita<strong>dos</strong> por Wunsch e Olowu, 1990:37 29 ) os líderes <strong>dos</strong><br />
Esta<strong>dos</strong> independentes tinham muita expectativa e fizeram promessas à população como também<br />
compreenderam que a tarefa que tinham pela frente não era fácil. Por isso, o processo de politização<br />
que ocorreu antes da independência tornou a tarefa <strong>dos</strong> líderes africanos mais difícil, como por<br />
ex<strong>em</strong>plo a identidade étnica, insegurança regional, e outros aspectos internos que se intensificaram<br />
durante a luta pelas independências.<br />
Por fim, o ambiente internacional <strong>dos</strong> novos Esta<strong>dos</strong> africanos do pós-independência enfatizaram<br />
de novo a necessidade de apostar nas políticas nacionais. As organizações internacionais e os<br />
Esta<strong>dos</strong> doadores estavam prepara<strong>dos</strong> para prestar ajuda a poucos Esta<strong>dos</strong>, mas requeriam<br />
governos hospitaleiros com os quais pudess<strong>em</strong> celebrar complexos acor<strong>dos</strong> de longo prazo para<br />
ser<strong>em</strong> elegíveis à sua assistência (Wunsch e Olowu, 1990:37).<br />
Aqui, a aborgag<strong>em</strong> internacional desenvolvida pelos Esta<strong>dos</strong> ocidentais foi a assistência ao<br />
desenvolvimento <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> novos ou pós-independência <strong>em</strong> África e mais tarde a ajuda ao<br />
desenvolvimento.<br />
A década 1960 foi caracterizada pelo uso intensivo do capital, tecnologia orientada para<br />
agricultura, urbanização, industrialização, racionalidade burocrática como modelos dominantes<br />
(Owens, 1972, citado por Wunsch e Olowu, 1990:38 30 ), que parec<strong>em</strong> requerer um ma tomada de<br />
decisão nacional e centralizada.<br />
Estes factores ideais e materiais foram desde logo focaliza<strong>dos</strong> nos novos modelos de constituição<br />
presidencialista e parlamentar – algumas que não priorizavam a filosofia, experiência e instituições<br />
internas. Os líderes, as vezes, descreveram este cenário como elitista e acreditavam que podiam<br />
construir um centro, do qual estabeleceriam a autoridade para governar, resolver os probl<strong>em</strong>as<br />
económicos e manter a unidade nacional.<br />
29<br />
JACKSON, Robert and ROSEBERG, Carl (1982). Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant.<br />
Berkeley: University of California Press. EUA;<br />
30<br />
OWENS, E. & SHAW, R. (1972). Development Reconsidered: Bridging the Gap Between Government and<br />
People. Lexington, Mass: Lexington Books. USA.<br />
20
12. Centralização e Desenvolvimento <strong>em</strong> África Pós-independência<br />
Depois da independência, a ideia <strong>dos</strong> líderes africanos era de criar Esta<strong>dos</strong> socialistas basea<strong>dos</strong> no<br />
sist<strong>em</strong>a de economia centralmente planificada alicerçada no sist<strong>em</strong>a de partido único, resultante,<br />
muitas vezes <strong>dos</strong> vários movimentos nacionalistas que surgiram <strong>em</strong> África com as ideias <strong>dos</strong><br />
renascentistas, que lutaram pelas independências.<br />
De acordo com Wunsch e Olowu (1990:43), quase to<strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos independentes<br />
adoptaram uma estratégia de desenvolvimento económico e político estatista e centralizada,<br />
durante os últimos 30 anos. Alguns líderes africanos renascentistas 31 engajaram-se numa<br />
abordag<strong>em</strong> essencialmente estatista de desenvolvimento. Para muitos países africanos, apenas<br />
mais tarde descobriram que esta estratégia enfraqueceu o seu desenvolvimento.<br />
A preposição fundamental que norteia esta estratégia é de que os governos fortes 32 centraliza<strong>dos</strong><br />
eram essenciais para a unidade nacional 33 e modernização das sociedades africanas (Wunsch e<br />
Olowu, 1990:44). Os autores defend<strong>em</strong> ainda que esta preposição não iria constituir uma surpresa,<br />
pois, era consistente com as estruturas e hábitos do sist<strong>em</strong>a administrativo do Estado colonial; foi<br />
adoptada numa altura <strong>em</strong> que os modelos de desenvolvimento ocidental e do leste enfatizavam o<br />
sist<strong>em</strong>a de economia centralmente planificada; compl<strong>em</strong>entava a expectativa das organizações de<br />
assistência internacional para a planificação “racional”, gestão e negociação <strong>dos</strong> programas de<br />
assistência; enfatizava relativamente uma forte intenção jurídica de reconhecimento internacional<br />
supra-soberana; encorajada pelo racionalismo ocidental e centralização; e aparent<strong>em</strong>ente foi tida<br />
como solução perante o desafio <strong>dos</strong> líderes africanos.<br />
O Estado centralizado foi uma aparente solução para muitos desafios. O continente africano é vasto<br />
e comporta uma diversidade de sociedades <strong>em</strong> 50 Esta<strong>dos</strong>, com uma população vivendo hábitos e<br />
31<br />
As ideias <strong>dos</strong> renascentistas africanos foi defendida por líderes como Houphouet-Boigney da Costa do Marfim,<br />
Kwame Nkrumah do Ghana, Ahmed Sekó Toure do Guiné, Jomo Kenyatta do Quénia e Julius Nyerere da Tanzania.<br />
32<br />
Cfr. MIGDAL, Joel S. (2001). State in Society: Studying how states and societies transform and constitute one<br />
another. Cambridge University Press. New York, USA. Pp. 58 e segts.<br />
33<br />
Nalguns casos, os Esta<strong>dos</strong> africanos aparent<strong>em</strong>ente eram mais uni<strong>dos</strong> antes da independência do que depois dela,<br />
segundo Aristide Zolberg (1966).<br />
21
costumes diferentes, b<strong>em</strong> como vivendo desafios diversos deriva<strong>dos</strong> da herança colonial e da<br />
variedade das escolas ideológico-filosóficas (Wunsch e Olowu, 1990:45).<br />
As preposições <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> centraliza<strong>dos</strong> estão relaciona<strong>dos</strong> com 5 estratégias compl<strong>em</strong>entares, a<br />
saber:<br />
i. Reposição de políticas competitivas por um ou por nenhum sist<strong>em</strong>a partidário visando a<br />
unidade nacional;<br />
ii. Realiança entre as estruturas burocráticas e um governo central que comanda todas<br />
actividades através de um plano nacional;<br />
iii. A não legitimação de um papel significativo que seja aprovado pelo governo, incluindo<br />
grupos étnicos e tradicionais, b<strong>em</strong> como as instituições modernas <strong>dos</strong> governos realmente<br />
locais;<br />
iv. A maximização da autoridade executiva <strong>em</strong> detrimento <strong>dos</strong> outros poderes,<br />
nomeadamente, o judicial e legislativo, <strong>dos</strong> governos regionais, da imprensa b<strong>em</strong> como<br />
das instituições privadas;<br />
v. O orçamento nacional visto como fonte primária de financiamento da agenda de<br />
desenvolvimento com maior peso para os sectores agrícola e de extracção mineral.<br />
Neste contexto, a questão central é de saber qual foi o impacto destas estratégias na política,<br />
economia e sociedades africanas depois da independência. Nesta perspectiva, o desenvolvimento<br />
foi visto como um processo de consolidação nacional onde a unidade perante as metas de<br />
crescimento económico e coesão política anulam uma contenção subversiva de qualquer estratégia.<br />
Mas será que isto pode ajudar a explicar o fracasso?<br />
13. Políticas centralistas e suas implicações<br />
13.1.Parti<strong>dos</strong> Políticos<br />
A maioria <strong>dos</strong> líderes africanos iniciaram as suas tarefas de desenvolvimento aquando das<br />
independências com a preposição primária de que: um Estado forte e unificado era necessariamente<br />
o actor primário para o desenvolvimento. Como consequência desta preposição, os líderes<br />
22
africanos propenderam mais <strong>em</strong> sist<strong>em</strong>as de partido único ou regimes apartidários para reduzir os<br />
conflitos políticos e reforçar a unidade nacional (Wunsch e Olowu, 1990:46). Porém, com o andar<br />
do t<strong>em</strong>po, alguns países começaram a adoptar sist<strong>em</strong>a multipartidário e hoje já <strong>em</strong> grande número.<br />
Wunsch e Olowu (1990:46) acrescentam que muitas d<strong>em</strong>ocracias liberais e multipartidárias<br />
tornaram-se, de facto, Esta<strong>dos</strong> de parti<strong>dos</strong> únicos ou Esta<strong>dos</strong> militares antes de 1970.<br />
As implicações da adopção do sist<strong>em</strong>a de partido único depend<strong>em</strong> da assunção <strong>em</strong> torno da<br />
natureza, tamanho e o significado da diversidade social <strong>em</strong> África pós-independência. Também<br />
depende da interpretação da legitimidade política. Por fim, varia do entendimento de se o<br />
desenvolvimento é um processo político ou técnico.<br />
Em quase to<strong>dos</strong> países africanos do pós-independência (Wunsch e Olowu, 1990:48), a combinação<br />
de políticas distributivas e coercivas enfraqueceu os parti<strong>dos</strong> políticos da oposição e fez com que<br />
houvesse divisão entre os legisladores e outros líderes dentro <strong>dos</strong> parti<strong>dos</strong> maioritários. Outras<br />
estratégias foram usadas para impulsionar o processo incluindo a manipulação do sist<strong>em</strong>a eleitoral,<br />
intimidação <strong>dos</strong> candidatos da oposição, cooptação <strong>dos</strong> m<strong>em</strong>bros da oposição, detenções<br />
arbitrárias e exílios. Entre estas estratégias, a cooptação foi, segundo Wunsch e Olowu (1990:48),<br />
a mais usada para a criação do sist<strong>em</strong>a de partido único permitindo que muitos m<strong>em</strong>bros <strong>dos</strong><br />
parti<strong>dos</strong> da oposição foss<strong>em</strong> integra<strong>dos</strong> no partido maioritário.<br />
Os probl<strong>em</strong>as que estão por detrás desta divisão nunca foram realmente resolvi<strong>dos</strong> e os regimes de<br />
partido único tornaram-se arbitrários e autoritários. Porém, estes regimes de partido único foram<br />
largamente impotentes e irrelevantes b<strong>em</strong> como os resulta<strong>dos</strong> por si produzi<strong>dos</strong>. Foram<br />
substituí<strong>dos</strong> por Esta<strong>dos</strong> administrativistas que funcionaram primeiramente para distribuir<br />
benefícios entre as elites e retirar os recursos das zonas rurais (Wunsch e Olowu, 1990:49).<br />
Em muitos países ideologicamente radicais, uma violência severa foi o preço pago pela adopção<br />
<strong>dos</strong> regimes de partido único (Ibid.).<br />
Os regimes de partido único não foram adequa<strong>dos</strong> às tarefas de desenvolvimento. Os governos<br />
africanos continuaram apega<strong>dos</strong> às mesmas estratégias de desenvolvimento até a crise <strong>dos</strong> anos<br />
1980 e as organizações internacionais forçaram os países africanos a escolher<strong>em</strong> novos modelos.<br />
23
A redução gradual do sector para-estatal marcou um progresso significante nas economias <strong>dos</strong><br />
Esta<strong>dos</strong> africanos. Ainda assim, as políticas púbicas adoptadas não funcionaram como devia ser.<br />
Quando as instituições paralelas e independentes são elimina<strong>dos</strong>, os regimes torna-se vulneráveis<br />
à quedas nas organizações monoculturais herdadas.<br />
13.2.Burocracia e Planificação<br />
A burocracia é uma tentativa de rotinizar a aplicação das soluções pré-determinadas para perceber<br />
a categoria <strong>dos</strong> probl<strong>em</strong>as (Wunsch e Olowu, 1990:51). A planificação nacional, tal como foi<br />
geralmente compreendida <strong>em</strong> África, t<strong>em</strong> sido o processo pelo qual as burocracias t<strong>em</strong> estabelec<strong>em</strong><br />
uma ligação com outros Esta<strong>dos</strong> para produzir um programa de desenvolvimento coordenado e<br />
sinergético.<br />
Virtualmente, to<strong>dos</strong> assuntos públicos são resolvi<strong>dos</strong> através de um sist<strong>em</strong>a burocrático<br />
hierarquizado e centralizado <strong>em</strong> África. Assim, as decisões burocráticas resultam <strong>dos</strong> planos<br />
nacionais. Ainda assim, raramente se vislumbram <strong>em</strong> África estes pré-requisitos. Portanto, a<br />
planificação nacional geralmente t<strong>em</strong> uma grande autoridade nominal mas t<strong>em</strong> uma limitação <strong>em</strong><br />
termos de recursos, responsabilidade operacional e poder. Quando estes probl<strong>em</strong>as, talvez<br />
crónicos, deriva<strong>dos</strong> <strong>dos</strong> sist<strong>em</strong>as administrativos complexos foram confundi<strong>dos</strong> por ambientes<br />
turvos b<strong>em</strong> como pela incompreensão das tarefas, o fracasso <strong>dos</strong> projectos e planos passou a ser a<br />
regra. As burocracias africanas t<strong>em</strong> sido geralmente inefectivas (Wunsch e Olowu, 1990:53).<br />
A inflexibilidade da planificação e a burocracia t<strong>em</strong> sido, muitas vezes, a causa do fracasso devido<br />
à inadequação regional, ou mesmo por causa <strong>dos</strong> instrumentos comuns de assistência nacional,<br />
instruções sobre o uso <strong>dos</strong> inputs, taxas de re<strong>em</strong>bolso a nível local.<br />
Portanto, a planificação centralizada necessária para desenvolver as soluções <strong>dos</strong> probl<strong>em</strong>as <strong>dos</strong><br />
Esta<strong>dos</strong> africanos pós-independência foi um imperativo da coerência organizacional do que das<br />
considerações técnicas e os programas e projectos por impl<strong>em</strong>entar fracassaram.<br />
Mesmo onde os líderes t<strong>em</strong> sido mais flexíveis na programação para o desenvolvimento, mas que<br />
ainda insist<strong>em</strong> no monopólio da autoridade púbica no meio da burocracia centralizada, o<br />
24
desenvolvimento <strong>dos</strong> serviços públicos deixou de ser relevante contrariamente ao que os cidadãos<br />
esperavam.<br />
Contudo, uma vez eliminada a capacidade das instituições subnacionais pelos governos nacionais<br />
no aumento da capacidade tributária, no desenvolvimento de programa ou projectos, surgiu uma<br />
entropia organizacional que afectou to<strong>dos</strong> sectores. Os esforços de descentralização começam a<br />
ganhar campo. Por isso, a passividade local e a dependência cresceram já que as estruturas<br />
nacionais eram inefectivas. Assim, Wunsch e Olowu (1990:55) consideram que a estratégia de um<br />
sist<strong>em</strong>a aberto foi um grande parâmetro de acção e decisão, no qual o juízo e o erro, a geração<br />
indutiva de soluções, respostas abertas para fluir d<strong>em</strong>andas, informação e recursos constitu<strong>em</strong> uma<br />
abordag<strong>em</strong>. Aqui, o que foi chamado de processo de pensamento “intuitivo sintético” pode ter<br />
desenvolvido. Entretanto, a centralização burocrática geralmente não permite melhor metodologia<br />
de percepção, análise e escolha.<br />
13.3.Centralização Executiva<br />
A terceira estratégia aliada à preposição segundo a qual um Estado forte, centralizado e unificado<br />
era necessário para o desenvolvimento foi a concentração da autoridade legítima no poder<br />
executivo (Ibid.). Este processo iniciou logo após as independências e foi baseado nos regimes de<br />
partido único, a centralização da planificação e das instituições burocráticas, o poder discricionário<br />
sobre os recursos económicos controlado pelo Governo, o crescimento paralelo do sist<strong>em</strong>a político<br />
de distribuição e a erosão <strong>dos</strong> limites constitucional do poder executivo (Wunsch e Olowu,<br />
1990:57).<br />
Num primeiro plano, o valor do controlo das instituições políticas foi relacionado à intensa<br />
competição política e conflitos étnicos b<strong>em</strong> como ao precário balanceamento das acções onde<br />
obtendo a coalizão do interesse étnico-regional, poderia torná-las mais fortes e militarmente<br />
intervencionadas. Em segundo, o personalismo e a desinstitucionalização permitiram com que as<br />
instituições se tornass<strong>em</strong> mais fortes e que funcionass<strong>em</strong> com base <strong>em</strong> regras fortes. Porém, isto<br />
traz consigo algumas implicações, a saber:<br />
• Fragilidade e instabilidade na transferência da autoridade de uma pessoa ou geração, para<br />
outra;<br />
25
• Grande discrepância no comportamento público e as normas;<br />
• Baixa capacidade de mudanças <strong>dos</strong> procedimentos e regras constitucionais do regime e;<br />
• Permanente a capacidade destrutiva des<strong>em</strong>penhada pelas vantagens ilimitadas das elites<br />
contra os que estão fora do regime (Wunsch e Olowu, 1990:58).<br />
O aspecto central da institucionalização é a diferenciação entre vários níveis de regras usadas para<br />
renovar as políticas e a utilização da tal diferenciação para limitar o poder para qualquer um (Ibid.).<br />
A consolidação constitucional trazida pela centralização política destruiu maior parte da<br />
diferenciação entre os níveis de regras estabelecidas nas constituições anteriores. Ad<strong>em</strong>ais, a<br />
diferenciação de uma função ou autoridade <strong>em</strong> mais de uma instituição num único nível de escolha<br />
tende a colapsar desde cidadão comum, os líderes e chefes de governo. Similarmente, as funções<br />
executiva, judicial e legislativa também tend<strong>em</strong> a colapsar (Wunsch e Olowu, 1990:59).<br />
A extr<strong>em</strong>a centralização política tende para a desinstitucionalização e r<strong>em</strong>ete para personalização<br />
das regras políticas. Esta personalização enfrentou crise de legitimidade <strong>em</strong> governos africanos<br />
nacionalistas. Os regimes heg<strong>em</strong>ónicos são b<strong>em</strong> conheci<strong>dos</strong> como sendo mecanismos primários<br />
de distribuição do auxílio do Estado (Wunsch e Olowu, 1990:61).<br />
14. Governo Local e Regional<br />
O federalismo, os sist<strong>em</strong>as eleitorais, o multipartidarismo, as <strong>em</strong>endas constitucionais,<br />
representação étnica, o status e a autoridade da unidade do governo regional foram rapidamente<br />
eliminadas <strong>em</strong> contraposição da autoridade centralizada. Estes aspectos foram vistos pelos líderes<br />
do pós-independência como imposição de custos inaceitáveis no processo de tomada de decisão<br />
b<strong>em</strong> como para reflectir uma desconfiança nos governos africanos.<br />
Uma vez assumido depois da independência que o desenvolvimento e a unidade requer<strong>em</strong> um<br />
Estado forte e altamente centralizado, o papel das instituições governamentais locais tornou-se<br />
probl<strong>em</strong>ático. Instituições que tiveram capacidade de organizar indivíduos para adopção de acções<br />
colectivas, para aumentar recursos e resolver conflitos fora da direcção central do Estado,<br />
competiriam com os governos locais. Da melhor forma, ocupariam um espaço político que o<br />
26
Estado almejava para monopolizar, da pior forma, pode tornar obstáculos para o Estado <strong>em</strong> ternos<br />
de políticas e programas (Wunsch e Olowu, 1990:62).<br />
Em quase to<strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong>, s<strong>em</strong> excepção, os primeiros anos de independência marcaram a<br />
eliminação <strong>dos</strong> governos locais genuínos. De facto, a descentralização serviu os propósitos de<br />
construção de um movimento nacionalista e líderes nacionalistas muitas vezes usaram eleições<br />
locais para estimular a mobilização política.<br />
Dentro de poucos anos, os governos locais se tornaram administrações locais e os modelos<br />
coloniais e pré-independência foram reestabeleci<strong>dos</strong>. As autoridades nacionais redefiniram o poder<br />
<strong>dos</strong> governos locais e reestabeleceram os modelos administrativos coloniais de tipo familiar.<br />
Porém, no período pós-indepenência, muitos Esta<strong>dos</strong> aboliram os redutos das autoridades legais<br />
coloniais que ainda persistiam e implantaram os modelos de instituições tradicionais com a<br />
excepção de alguma autoridade baseada no sist<strong>em</strong>a administrativo tipo francês, ou seja, civil law<br />
(Wunsch e Olowu, 1990:63).<br />
Mesmo onde a cooptação e a erosão <strong>dos</strong> governos locais <strong>em</strong> geral, e as instituições tradicionais <strong>em</strong><br />
particular conviveram simultaneamente de uma forma pacífica, houve custos.<br />
15. Centralização Financeira<br />
A chave do modelo estatista de desenvolvimento é o papel des<strong>em</strong>penhado pelo orçamento<br />
nacional. Assumindo uma relativa competência pelas instituições políticas e comprometido na<br />
eficiência e efectividade da metodologia de desenvolvimento baseada na planificação centralizada<br />
e burocratizada, a mobilização central e gestão <strong>dos</strong> recursos para o desenvolvimento passaram a<br />
ser necessários. Ad<strong>em</strong>ais, como a tarefa de desenvolvimento foi massiva e requer<br />
proporcionalmente uma massiva escala de recursos. O resultado foi um movimento intenso de uma<br />
extr<strong>em</strong>a centralização financeira.<br />
Tal abordag<strong>em</strong> de desenvolvimento t<strong>em</strong> tido sérias consequências para o desenvolvimento <strong>dos</strong><br />
Esta<strong>dos</strong> africanos. Primeiro porque encabeça os custos de tal estratégia: quanto dinheiro será gasto<br />
para planificar, administrar e coordenar o desenvolvimento e quanto é que poderá ajudar o sector<br />
27
produtivo? Segundo é o perigo da corrupção sobre os benefícios da impl<strong>em</strong>entação desta<br />
estratégia: será que existe capacidade de diferenciação de interesses <strong>dos</strong> líderes e da população e<br />
como as oportunidades de usar tais recursos afecta o seu comportamento? Terceiro é o impacto<br />
deste sist<strong>em</strong>a nos indivíduos que geram riqueza para o desenvolvimento (Wunsch e Olowu,<br />
1990:65).<br />
Entretanto, a centralização financeira aumentou as despesas públicas com os serviços públicos<br />
através do pagamento de salários, uma vez que eram ou são necessárias muitas pessoas para<br />
trabalhar<strong>em</strong> para o Estado na provisão do b<strong>em</strong>-estar social, e menos serviu para aumentar a<br />
poupança para o investimento.<br />
A adopção da centralização constitui uma tentativa de desinstitucionalização <strong>dos</strong> regimes<br />
nacionalistas e sua reposição com sist<strong>em</strong>as personalísticos. Contudo, tais sist<strong>em</strong>as requer<strong>em</strong><br />
muitos recursos que envolv<strong>em</strong> os serviços civis, <strong>em</strong>prego nas <strong>em</strong>presas paraestatais, serviços<br />
púbicos, estu<strong>dos</strong>, entre outros. Mais ainda, a eficiência na performance do trabalho e na<br />
racionalidade económica no investimento capital são muitas vezes retira<strong>dos</strong> como sendo critérios<br />
de avaliação dadas suas implicações.<br />
16. Reformas de Descentralização <strong>em</strong> Moçambique<br />
Em conformidade com Wunsch e Olowu (2004, cita<strong>dos</strong> por Brito et all, 2010: 19 34 ), as reformas<br />
de descentralização constitu<strong>em</strong> um <strong>dos</strong> el<strong>em</strong>entos mais marcantes do processo político <strong>dos</strong> anos<br />
1990 na África sub-sahariana.<br />
Com efeito, num contexto de Estado centralizado e, <strong>em</strong> muitos casos <strong>em</strong> crise, não só do ponto de<br />
vista de regulação política como também de controlo efectivo <strong>dos</strong> respectivos territórios (Hyden,<br />
1980; Migdal, 1988; Olowu & Wunsch, 1990; Olowu & Wunsch, 2004; Chabal & Daloz, 1999,<br />
34<br />
WUNSCH, James & OLOWU, Dele (2004). Local Governance in Africa. The Challenges of D<strong>em</strong>ocratic<br />
Decentralization, Boulder e London: Lynne Rienner Publishers;<br />
28
Ibid. 35 ), elas foram associadas à ideia do reforço do processo de d<strong>em</strong>ocratização e de uma<br />
governação participativa, transparente, capaz de conduzir a redução da pobreza.<br />
Integradas, assim, no pacote de “boa governação”, numa abordag<strong>em</strong> marcadamente normativa, as<br />
reformas de descentralização t<strong>em</strong> vindo a ser promovidas pelas instituições internacionais como<br />
factor importante no processo de redução da pobreza – uma ideia reproduzida pelos governos de<br />
muitos países africanos – s<strong>em</strong>, no entanto, tomar<strong>em</strong> <strong>em</strong> devida consideração a natureza e os<br />
mecanismos de funcionamento do Estado a nível local.<br />
Em Moçambique, com a aprovação da Lei <strong>dos</strong> Órgãos Locais do Estado (Lei 8/2003), as reformas<br />
de descentralização administrativa deram orig<strong>em</strong> a uma série de instituições de participação e<br />
consulta comunitária (conselhos locais), visando a integração das populações locais no processo<br />
de busca de soluções para o melhoramento das condições de vida a nível local. Além disso, a partir<br />
de 2006, o governo central t<strong>em</strong> vindo a atribuir aos distritos, anualmente, fun<strong>dos</strong> adicionais<br />
destina<strong>dos</strong> ao financiamento de iniciativas locais, o Orçamento de Investimento de Iniciativa Local<br />
(OIIL).<br />
Se é verdade que a criação <strong>dos</strong> conselhos locais e a atribuição de fun<strong>dos</strong> aos distritos constitu<strong>em</strong><br />
um aspecto de grande importância no processo das reformas de descentralização, pouca ou quase<br />
nenhuma análise t<strong>em</strong> sido desenvolvida no sentido de captar a pertinência destas reformas para o<br />
melhoramento das condições de vida a nível local.<br />
Dito de outra forma, pouca análise t<strong>em</strong> sido feita sobre o contexto <strong>em</strong> que estas reformas (conselhos<br />
locais e OIIL) t<strong>em</strong> vindo a ser impl<strong>em</strong>entadas. Tudo se passa como se a descentralização levasse<br />
necessariamente a redução da pobreza, ignorando-se que os efeitos das reformas, <strong>em</strong> grande<br />
35<br />
HYDEN, Goran (1980). Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry. Londres,<br />
Ibadan, Nairobi: Hein<strong>em</strong>ann; MIGDAL, Joel (1988). Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and<br />
State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press; WUNSCH, James & OLOWU, Dele<br />
(1990). The Failure of the Centralised State: Institutions and self-Governance in Africa, Boulder: Westview Press;<br />
WUNSCH, James & OLOWU, Dele (2004). Local Governance in Africa. The Challenges of D<strong>em</strong>ocratic<br />
Decentralization, Boulder e London: Lynne Rienner Publishers; CHABAL, Patrick, DALOZ, Jean-Pascal (1999).<br />
L’Afrique est partie. Du désordre comme instrument politique. Paris, Economica;<br />
29
medida, são determina<strong>dos</strong> pelas características do contexto sócio-político <strong>em</strong> que elas ocorr<strong>em</strong><br />
(Boone, 2003, citado por Brito et all, 2010:20 36 ).<br />
Assim, por ex<strong>em</strong>plo, num contexto de Estado neo-patrimonial, as reformas de descentralização,<br />
<strong>em</strong> lugar de “<strong>em</strong>poderar” os cidadãos locais, pod<strong>em</strong> simplesmente reforçar os intermediários do<br />
poder ao nível local ou os agentes do Estado (muitas vezes simpatizantes ou m<strong>em</strong>bros do partido<br />
no poder). E aqui onde este artigo se propõe a trazer um contributo para o debate acerca da relação<br />
entre reformas de descentralização e redução da pobreza.<br />
Relativamente a Moçambique, a fraca institucionalização do Estado foi, mais tarde, agravada pela<br />
guerra civil, que retirou parte do território nacional do controlo da administração burocrática do<br />
Estado. Por conseguinte, as reformas de descentralização impl<strong>em</strong>entadas a partir <strong>dos</strong> finais <strong>dos</strong><br />
anos 1990 t<strong>em</strong> estado a acontecer num contexto de Estado fragilizado não só pelo<br />
neopatrimonialismo (Le Meur, 2003, Ibid. 37 ), como também pelas consequências da própria guerra<br />
civil que, <strong>em</strong> algumas zonas, tinha destruído completamente a administração burocrática do Estado<br />
como, por ex<strong>em</strong>plo, nos distritos de Maringue, Cheringoma e partes do distrito de Gorongosa na<br />
provincial de Sofala.<br />
17. Contexto e dinâmicas locais de institucionalização do Estado<br />
À s<strong>em</strong>elhança do que aconteceu aquando das independências africanas nos anos 1960, o processo<br />
de impl<strong>em</strong>entação das reformas de descentralização nos finais <strong>dos</strong> anos 1980 e começos <strong>dos</strong> anos<br />
1990, parece não ter posto <strong>em</strong> causa a existência do Estado <strong>em</strong> África. Com efeito, <strong>em</strong> muitos<br />
casos assumiu-se simplesmente que se estava <strong>em</strong> presença de um Estado centralizado, distante <strong>dos</strong><br />
cidadãos e incapaz de prover serviços de qualidade. Neste contexto, pressupunha-se que as<br />
reformas de descentralização alargariam a base de participação <strong>dos</strong> cidadãos nos processos de<br />
tomada de decisões e, por isso mesmo, tornariam o Estado mais próximo <strong>dos</strong> cidadãos.<br />
Por conseguinte, o processo de impl<strong>em</strong>entação das reformas de descentralização parece ter dado<br />
pouca atenção a natureza do próprio Estado, objecto de descentralização, ou seja, o saber se havia<br />
36<br />
BOONE, Catherine (2003). Political Topographies of the African State. Territorial Authority and Institutional<br />
Choice, Cambridge: Cambridge University Press;<br />
37<br />
Op. Cit.<br />
30
ealmente “algo a descentralizar” e uma questão que nunca chegou a ser colocada com a devida<br />
profundidade (Le Meur, 2003, citado por Brito et all, 2010: 21 38 ).<br />
Tal como Le Meur (2003, citado por Brito et all, 2010: 22 43 ) sublinha ao falar das reformas de<br />
descentralização como técnica institucional, provavelmente, “o probl<strong>em</strong>a não é tanto de<br />
descentralizar um Estado centralizado, mas sim de reconstruir sob bases d<strong>em</strong>ocráticas e<br />
descentralizadas um Estado profundamente enfraquecido pela sua dupla herança neopatrimonial<br />
colonial e pos-colonial” (Le Meur, 2003: 9, citado por Brito et all, 2010: 22 44 ). A natureza do<br />
Estado pode ser captada através da análise <strong>dos</strong> mecanismos do seu funcionamento. Para o meu<br />
propósito, essa analise passa pela discussão, ainda que sucinta, do próprio conceito de Estado,<br />
essencialmente baseado na sociologia weberiana.<br />
38<br />
LE MEUR, Pierre-Yves (2003). Décentralisation et développ<strong>em</strong>ent local. Espace public, legitimite et controle des<br />
ressources, Paris : GRET, document de travail n° 34; 43 Op. Cit.; 44 Op. Cit.<br />
31
Conclusão<br />
Os líderes africanos entenderam que o papel do Estado para o desenvolvimento era a centralização,<br />
mas esta trouxe consequências negativas para muitos países do continente. A adopção <strong>dos</strong> regimes<br />
de partido único confinou, erodiu e escangalhou as instituições necessárias para sustentar o debate<br />
sobre as estratégias de desenvolvimento, legitimar e assistir a impl<strong>em</strong>entação das políticas públicas<br />
e dar retorno sobre o seu impacto nos Esta<strong>dos</strong>.<br />
As funções política, económica e social continuaram a ser formuladas por instituições extragovernamentais<br />
tais como as associações de voluntariado, uniões comerciais, associações de<br />
cooperativas comunais e outras. Mesmo assim, estas instituições não beneficiaram de qualquer<br />
apoio estadual, mas pelo contrário sofreram alguma interferência governamental e oposição às suas<br />
acções.<br />
A dependência financeira da estratégia de centralização nas zonas rurais e a quantidade de dinheiro<br />
alocado nelas tornou as instituições mais probl<strong>em</strong>áticas ainda. Esta situação deve-se à fraqueza na<br />
gestão financeira associada ao desconhecimento <strong>dos</strong> modelos de gestão que pudess<strong>em</strong> permitir<br />
desenvolvimento a partir do investimento <strong>em</strong> sectores produtivos e a poupança.<br />
A ideia fundamental era de que um Estado forte e unificado (unidade nacional) seria necessário<br />
para promover o desenvolvimento, adoptando o modelo de economia centralmente planificada.<br />
Politicamente, a centralização permitiria maior controlo político do Estado e evitar conflitos<br />
internos; administrativa e financeiramente porque era necessário transferir os polos de tomada de<br />
decisão do nível local para o central, o que custou a destruição das autoridades locais genuínas.<br />
Desta forma, o modelo de organização do Estado não seria outro, senão a burocracia proposta por<br />
Weber. Mas a corrupção, as calamidades naturais, a miséria e a fome, acabaram por anular estes<br />
esforços implantando-se a instabilidade, a vulnerabilidade (interna e externa) e a fraqueza gerando<br />
o subdesenvolvimento <strong>dos</strong> Esta<strong>dos</strong> africanos do pós-independência. A burocracia não foi a solução<br />
para os Esta<strong>dos</strong> africano pós-independência, mas sim parte do complexo de probl<strong>em</strong>as que<br />
enfrentavam.<br />
Qual seria então a melhor saída deste imbróglio, ou seja, o caminho a seguir? A resposta imediata<br />
foi a descentralização, através da devolução <strong>dos</strong> poderes (genuínos) às autoridades locais que, nesta<br />
32
óptica permitiria o almejado desenvolvimento. Contudo, a descentralização, ela <strong>em</strong> si própria,<br />
mesmo que tenha sido a solução viável para os Esta<strong>dos</strong> africanos do pós-independência, não<br />
conseguiu responder com a devida rapidez ao probl<strong>em</strong>a de desenvolvimento devido à dependência<br />
<strong>dos</strong> países do sul <strong>em</strong> relação aos do norte.<br />
Note-se que muitos países africanos depois de 1960 introduziram reformas políticas,<br />
administrativas e económicas (profundas) visando um rápido desenvolvimento, <strong>em</strong> intervalos que<br />
variam de 10 a 20 anos. Entretanto, na década 80, a chamada década perdida no contexto do<br />
desenvolvimento, estes países viram as suas economias a afundar<strong>em</strong> ainda mais, despontando por<br />
via disso crises internas, fome, miséria, instabilidade política (guerras nalguns casos) e<br />
macroeconómica. Para inverter este cenário, foi necessário adoptar novas estratégias de<br />
desenvolvimento num contexto de alta dependência, pobreza e subdesenvolvimento.<br />
Com isto tira-se a ilação de que as instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo<br />
Monetário Internacional, começam a jogar um papel importante para alavancar as economias<br />
africanas (não só, como de muitos países do chamado terceiro mundo) enfraquecidas. Mesmo<br />
assim, estas estratégias não respond<strong>em</strong> igualmente com a rapidez necessária ao desenvolvimento.<br />
33
Referências Bibliográficas<br />
BOONE, Catherine (2003). Political Topographies of the African State. Territorial Authority and<br />
Institutional Choice, Cambridge: Cambridge University Press;<br />
BRATTON, Michael, VAN DE WALLE, Nicolas (1997). D<strong>em</strong>ocratic Experiments in Africa:<br />
Regime Transition in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press;<br />
BRITO, Luis de, et all (2010.) Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade <strong>em</strong> Moçambique. IESE,<br />
Maputo;<br />
CAMMACK, Diana, GOLOOBA-MUTEBI, Fred, KANYONGOLO, Fidelis O’Neil, Tam<br />
(2007). “Neopatrimonial Politics, Decentralisation and Local Government: Uganda and Malawi in<br />
2006”, Working Paper 2, Londres, Overseas Development Institute; ed. African Perspectives on<br />
Governance. Trenton;<br />
HYDEN, Goran (2000). The Governance Challenge in Africa. In Goran Hyden et al.;<br />
MIGDAL, Joel (1988). Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State<br />
Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press;<br />
_____________ (2001). State in Society: Studying how states and societies transform and<br />
constitute one another. Cambridge University Press. New York, USA;<br />
ROTHCHILD, Donald & CHAZAN, Naomi (1988). The Precarious Balance: State and Society<br />
in Africa, Boulder, Colo, Westview Press;<br />
WUNSCH, James & OLOWU, Dele (1990). The Failure of the Centralized State: Institutions and<br />
Self-Governance in Africa. Westview Press Inc., Boulder, San Francisco & Oxford, USA.<br />
_________________________ (2004). Local Governance in Africa. The Challenges of<br />
D<strong>em</strong>ocratic Decentralization, Boulder e London: Lynne Rienner Publishers.<br />
34