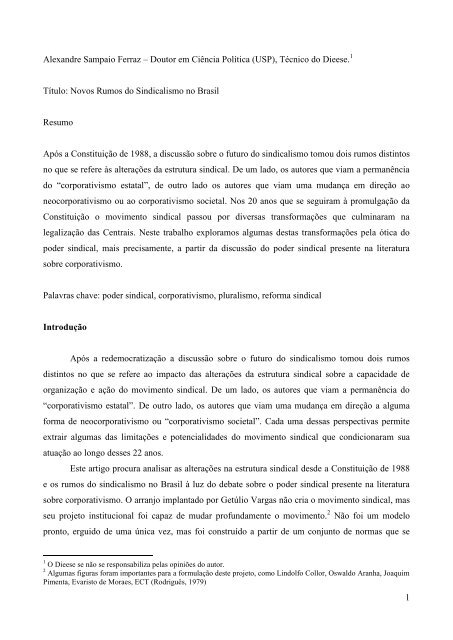1 Alexandre Sampaio Ferraz – Doutor em Ciência Política (USP ...
1 Alexandre Sampaio Ferraz – Doutor em Ciência Política (USP ...
1 Alexandre Sampaio Ferraz – Doutor em Ciência Política (USP ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Alexandre</strong> <strong>Sampaio</strong> <strong>Ferraz</strong> <strong>–</strong> <strong>Doutor</strong> <strong>em</strong> <strong>Ciência</strong> <strong>Política</strong> (<strong>USP</strong>), Técnico do Dieese. 1<br />
Título: Novos Rumos do Sindicalismo no Brasil<br />
Resumo<br />
Após a Constituição de 1988, a discussão sobre o futuro do sindicalismo tomou dois rumos distintos<br />
no que se refere às alterações da estrutura sindical. De um lado, os autores que viam a permanência<br />
do “corporativismo estatal”, de outro lado os autores que viam uma mudança <strong>em</strong> direção ao<br />
neocorporativismo ou ao corporativismo societal. Nos 20 anos que se seguiram à promulgação da<br />
Constituição o movimento sindical passou por diversas transformações que culminaram na<br />
legalização das Centrais. Neste trabalho exploramos algumas destas transformações pela ótica do<br />
poder sindical, mais precisamente, a partir da discussão do poder sindical presente na literatura<br />
sobre corporativismo.<br />
Palavras chave: poder sindical, corporativismo, pluralismo, reforma sindical<br />
Introdução<br />
Após a red<strong>em</strong>ocratização a discussão sobre o futuro do sindicalismo tomou dois rumos<br />
distintos no que se refere ao impacto das alterações da estrutura sindical sobre a capacidade de<br />
organização e ação do movimento sindical. De um lado, os autores que viam a permanência do<br />
“corporativismo estatal”. De outro lado, os autores que viam uma mudança <strong>em</strong> direção a alguma<br />
forma de neocorporativismo ou “corporativismo societal”. Cada uma dessas perspectivas permite<br />
extrair algumas das limitações e potencialidades do movimento sindical que condicionaram sua<br />
atuação ao longo desses 22 anos.<br />
Este artigo procura analisar as alterações na estrutura sindical desde a Constituição de 1988<br />
e os rumos do sindicalismo no Brasil à luz do debate sobre o poder sindical presente na literatura<br />
sobre corporativismo. O arranjo implantado por Getúlio Vargas não cria o movimento sindical, mas<br />
seu projeto institucional foi capaz de mudar profundamente o movimento. 2 Não foi um modelo<br />
pronto, erguido de uma única vez, mas foi construído a partir de um conjunto de normas que se<br />
1 O Dieese se não se responsabiliza pelas opiniões do autor.<br />
2 Algumas figuras foram importantes para a formulação deste projeto, como Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha, Joaquim<br />
Pimenta, Evaristo de Moraes, ECT (Rodriguês, 1979)<br />
1
sucederam à criação do Departamento Nacional do Trabalho, no início de 1931. 3 Desde então, o<br />
corporativismo estatal exibiu várias de suas faces e envelheceu até tornar-se herança do seu próprio<br />
presente. Neste sentido, a indagação sobre os rumos do corporativismo é também uma indagação<br />
sobre a permanência e a mudança institucional. É o que ver<strong>em</strong>os a seguir.<br />
O debate sobre o poder Sindical<br />
A d<strong>em</strong>ocracia confere uma particularidade ao capitalismo ao possibilitar aos trabalhadores a<br />
conquista na arena econômica de vantagens obtidas graças a sua força na arena política (Andersen,<br />
1985; Goldthorpe, 1984: 328). Nesta tentativa de redirecionar seu poder de influência da arena<br />
econômica, do mercado de trabalho, para arena política os sindicatos acabam por interagir com<br />
“parceiros” privilegiados nesta arena, particularmente com os partidos políticos, com os políticos<br />
individuais e com a burocracia. São esses “novos” parceiros que ocupam os principais lócus de<br />
poder decisório na arena política, seja no interior do poder Executivo, do poder Legislativo, ou do<br />
poder Judiciário.<br />
Estas duas formas de manifestação do poder sindical serão abordadas a partir da teoria<br />
corporativista da análise dos grupos de interesse, que surgiu da crítica da literatura sobre o<br />
pluralismo e do “neoliberalismo” dos anos 70. A tarefa de traçar as principais linhas do debate<br />
sobre o poder sindical deveria partir dos conceitos de poder e influência, mas a entrada nesta seara<br />
poderia acabar desviando o foco do trabalho. Assim, ao invés de partir de probl<strong>em</strong>atizar esses<br />
conceitos nos lançamos diretamente sobre o debate <strong>em</strong> torno do poder sindical, para <strong>em</strong> seguida, e a<br />
partir deste debate, analisar os novos rumos e trajetórias do movimento sindical no país e seus<br />
desafios.<br />
A Teoria dos Grupos, ou Pluralismo<br />
Pela ótica da teoria pluralista, ou da teoria dos grupos (group theory) o poder sindical é<br />
derivado basicamente do tamanho das associações, dos recursos monetários que dispõe, e da sua<br />
localização na arena produtiva. Em seu modelo para análise da competição entre os grupos por<br />
influência política, Gary Becker (1983: 377), descreve os recursos que pod<strong>em</strong> ser mobilizados pelos<br />
grupos de interesse para “produção de pressão política” basicamente <strong>em</strong> termos de “t<strong>em</strong>po, energia,<br />
e dinheiro”. Outro expoente da Escola de Chicago, George Stigler (1971: 12), procurou mostrar de<br />
3 Na exposição de motivos do Decreto 19.770/1931 Collor diria que aquela era a “primeira iniciativa sist<strong>em</strong>ática” de se<br />
organizar o trabalho no país de forma “racional” (Rodrigues, 1979).<br />
2
forma s<strong>em</strong>elhante como a indústria que buscava ganhos por meio da regulação na arena política<br />
deveria ser capaz de mobilizar dois recursos fundamentais para os partidos políticos: votos e<br />
dinheiro.<br />
Embora esses sejam alguns dos recursos básicos que pod<strong>em</strong> ser convertidos <strong>em</strong> poder pelos<br />
sindicatos, outros também são importantes para que esta conversão seja efetiva. Apesar das<br />
simplificações feitas no modelo, Becker (1983: 374) procura deixar explícito que os grupos<br />
compet<strong>em</strong> <strong>em</strong> um “contexto de regras que traduz<strong>em</strong> os gastos com pressão política <strong>em</strong> influência<br />
política e acesso a recursos políticos”. Esta complexidade já havia sido de certa forma apontada por<br />
Arthur Bentley (1908), <strong>em</strong> O processo de governo. Nele o autor procura explicar os fenômenos de<br />
governo a partir da atuação dos grupos através da pressão e da influencia sobre outros grupos,<br />
contando para isso com seu número, e o uso de diversas “técnicas de pressão”.<br />
A visão do pluralismo clássico de que o governo seria o transmissor neutro das pressões dos<br />
grupos de interesse, e sua ação um “mero” reflexo da barganha entre os grupos, foi criticada por<br />
David Truman (1963) que procurou tornar mais complexa a análise da capacidade de pressão dos<br />
grupos ao ligá-la ao conceito de acesso às arenas decisórias, ou pontos decisórios. Truman passa a<br />
investigar a dinâmica do acesso nos três poderes, explicitando que as regras e normas que os<br />
regulam não são neutras e delimitam o espaço de atuação e as possibilidades de eficácia dos grupos.<br />
A chave para conseguir o acesso efetivo aos pontos decisórios estaria no que o autor chama de “boa<br />
organização” e poderia ser conquistado de diversas maneiras: “conhecendo a pessoa certa”, por<br />
meio da institucionalização de um novo canal como a criação de um novo ministério, ou através da<br />
ligação com partidos políticos e da eleição de m<strong>em</strong>bros para o Legislativo (Truman, 1963: 264). 4<br />
Esta concepção de poder e do funcionamento dos grupos de interesse recebeu diversas<br />
críticas de autores comprometidos com diferentes abordagens. Entre os que defend<strong>em</strong> uma<br />
concepção “econômica” dos grupos de interesse, baseada nos pressupostos do individualismo<br />
racional, a crítica mais contundente foi feita por Mancur Olson. A pr<strong>em</strong>issa de que a “oferta” de<br />
grupos no mercado político é elástica, e assim, que interesses comuns bastariam para a formação de<br />
um grupo de interesse foi posta <strong>em</strong> cheque por Olson (1999), juntamente com a afirmação de<br />
Truman de que os interesses desorganizados estariam de prontidão para garantir as “regras do<br />
jogo”. O autor chamou atenção para o fato de que quanto maior o número de indivíduos “racionais”<br />
4 A “boa organização” dependeria de três conjuntos de fatores: a) os relacionados com a posição estratégica do grupo na<br />
sociedade (localização espacial); b) os relacionados com as características internas do grupo (número de m<strong>em</strong>bros,<br />
dinheiro, coesão interna, lideranças); c) os relacionados com as instituições de governo (Truman, 1963:506-7). Apesar<br />
de inovar o modelo de Bentley, Truman não suprime a importância das “técnicas de pressão” e de ajuste de interesses<br />
(como o logolling e a formação de alianças), para explicar da efetividade dos grupos.<br />
3
com algum interesse comum, menor a chance de que eles venham a se organizar para realização<br />
deste “b<strong>em</strong> comum” ou “coletivo”.<br />
Um dos probl<strong>em</strong>as da abordag<strong>em</strong> pluralista seria o de igualar ação a interesse, e pressupor a<br />
igual liberdade de ação s<strong>em</strong> reconhecer a desigualdade na capacidade de ação coletiva entre<br />
diferentes grupos e indivíduos. A tendência ao comportamento oportunista (free-rider), no usufruto<br />
de bens coletivos aparece com destaque tanto na Escola de Chicago, como na Teoria da Escolha<br />
Racional. Mas ao colocar este dil<strong>em</strong>a, ou esta armadilha da ação coletiva, Olson também imagina<br />
uma saída para contorná-la. Para isso os grupos deveriam sinalizar com alguma espécie de<br />
incentivos seletivos aos seus m<strong>em</strong>bros. Além disso, Olson abre ainda outra possibilidade ao<br />
mencionar a importância dos arranjos institucionais para a determinação das possibilidades de<br />
coordenação, ou mais precisamente, do arranjo institucional dos grupos, como estruturas<br />
federativas, etc. (Olson, 1999).<br />
A formulação de Olson influenciou uma infinidade de trabalhos de economistas ligados à<br />
corrente neoclássica, e às teorias da escolha pública e da regulação, que passaram a olhar com<br />
desconfiança para a brecha aberta pela intervenção do Estado na economia. Não há nenhuma<br />
certeza de que a intervenção seja o resultado de uma barganha igualitária entre os grupos sociais,<br />
pelo contrário, há evidências de que deficiências no mercado político possibilitam a privatização, ou<br />
“captura” dos ganhos da intervenção do estado. A ação política unicamente orientada para a busca<br />
de renda de monopólio por alguns grupos sociais impõ<strong>em</strong> à sociedade, por meio da ação do Estado,<br />
os “custos sociais do monopólio e da regulação”, revertidos <strong>em</strong> benefício provado (Tullock, 1993).<br />
Mas a atribuição de status público para alguns grupos de interesse como os sindicatos e a<br />
regulamentação de sua atuação não pod<strong>em</strong> ser compreendidas somente a partir do seu viés negativo.<br />
O próprio Olson (1982) chegou à conclusão que <strong>em</strong> situações onde o sist<strong>em</strong>a de intermediação de<br />
interesse é centralizado, ou que exist<strong>em</strong> poucas ou apenas uma central sindical, e as negociações do<br />
contrato de trabalho são abrangentes, o movimento sindical é capaz de coibir o comportamento free<br />
rider e evitar a utilização de “vantagens particulares” <strong>em</strong> detrimento do b<strong>em</strong> coletivo. Esta situação<br />
favoreceria a ação responsável dos sindicatos na d<strong>em</strong>anda por melhores salários e condições de<br />
trabalho, diminuindo as chances de que os trabalhadores sindicalizados gerass<strong>em</strong> externalidades<br />
negativas, como inflação e des<strong>em</strong>prego, <strong>em</strong> prejuízo dos trabalhadores não cobertos pelos acordos,<br />
ou mesmo pela representação sindical direta.<br />
A abordag<strong>em</strong> corporativista<br />
4
Ao contrário do mercado de bens comuns, o mercado de trabalho é um mercado especial,<br />
cuja singularidade está basicamente nas características particulares da mercadoria “força de<br />
trabalho”. A assimetria entre trabalhadores e capitalistas no processo de barganha para<br />
determinação dos salários e condições de trabalho cria distorções no mercado de trabalho que levam<br />
a interações sub-ótimas (Offe e Wiesenthal, 1984). A busca de resultados ótimos teria levado à<br />
criação de novas instituições no mercado de trabalho que incentivam a coordenação dos<br />
trabalhadores <strong>em</strong> torno de sindicatos possibilitando maximizar os ganhos da cooperação.<br />
Em oposição ao pluralismo, o corporativismo é por excelência um sist<strong>em</strong>a onde o Estado<br />
concede status público aos sindicatos, criando espaços institucionais dentro do aparelho estatal para<br />
sua atuação. No corporativismo o poder sindical está ligado às características institucionais tal como<br />
grau de monopólio, centralização e canais institucionalizados de acesso ao sist<strong>em</strong>a político<br />
decisório. No célebre artigo, Ainda o século do Corporativismo? Schmitter (1974: 85) procura<br />
retirar do conceito de corporativismo o peso do fascismo, do autoritarismo e outros usos “vagos”,<br />
carregados de ideologia, e muitas vezes pejorativos que associam o termo ao clientelismo, culturas<br />
políticas singulares e tipos de regime, apresentando uma “definição operacional” do que chama de<br />
um “moderno sist<strong>em</strong>a de representação de interesses. 5<br />
Neste trabalho o corporativismo é trabalhado como um “arranjo institucional para ligar os<br />
interesses associativos organizados da sociedade civil às estruturas decisórias do estado”,<br />
representando uma alternativa ao pluralismo (Schmitter, 1974: 86). Para Schmitter (1974: 107) a<br />
“corporativisação” do sist<strong>em</strong>a de intermediação de interesse seria uma resposta institucional às<br />
“necessidades do capitalismo para reproduzir as condições de sua existência”, capaz de variar e<br />
assumir diferentes características <strong>em</strong> diferentes fases do capitalismo e diferentes contextos<br />
nacionais e internacionais. Entre as formas identificadas pelo autor estão a “estatal” e a “societal”.<br />
No entanto, Schmitter (1974: 126-7) observa que o corporativismo estatal teria poucas chances de<br />
perdurar devido ao seu alto custo (repressão) e ineficiência funcional.<br />
O caso espanhol faz Schmitter (1974) olhar com ceticismo para as possibilidades de<br />
transição do corporativismo estatal para o corporativismo societal por dois motivos. Primeiro, <strong>em</strong><br />
decorrência da “dependência do passado” e, segundo, ao fato de que a sociedade moderna<br />
apresentava novas d<strong>em</strong>andas que não “caberiam” nos pressupostos da especialização funcional e da<br />
5 Schmitter (1974: 93-96) caracteriza o pluralismo e corporativismo como tipos ideais, sendo o corporativismo: “… um<br />
sist<strong>em</strong>a de representação de interesses no qual as unidades constituintes são organizadas num número limitado de<br />
categorias singulares, compulsórias, não competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas,<br />
reconhecidas e permitidas (se não criadas) pelo Estado, às quais se outorga o monopólio de uma representação<br />
deliberada no interior das respectivas categorias <strong>em</strong> troca da observância de certos controles na seleção de seus líderes e<br />
na articulação de suas d<strong>em</strong>andas e apoios”. E o pluralismo: “um sist<strong>em</strong>a de representação de interesses no qual as<br />
unidades constituintes estão organizadas num número não determinado de categorias múltiplas, voluntárias,<br />
competitivas, não coordenadas hierarquicamente e autodeterminadas”.<br />
5
organização hierárquica presentes nas duas formas de corporativismo. Posteriormente, Schmitter e<br />
Groce (1997) reconsideram este ceticismo salientando a capacidade de persistência e atualidade do<br />
sist<strong>em</strong>a corporativista, o que de certa forma mantém acesa a indagação sobre os rumos do<br />
corporativismo no Brasil, colocada no início deste trabalho.<br />
Através desta abordag<strong>em</strong> o autor procura conciliar o corporativismo e a d<strong>em</strong>ocracia e,<br />
assim, criar uma alternativa ao paradigma Pluralista como única abordag<strong>em</strong> capaz de analisar o<br />
papel dos grupos de interesse nas modernas d<strong>em</strong>ocracias. Este ponto aparece de forma clara na<br />
polêmica de Schmitter (1983: 916) com Clauss Offe, onde ele procura mostrar que o corporativismo<br />
não é antid<strong>em</strong>ocrático, contra a máxima “cada hom<strong>em</strong> um voto”, mas altera a qualidade da<br />
d<strong>em</strong>ocracia: “... se alguém procura expandir a noção e igual oportunidade e tratamento políticos<br />
para incluir os períodos entre eleições e o processo “extra” eleitoral, então o corporativismo pode<br />
ser interpretado como uma extensão do princípio da cidadania”. 6 Neste sentido, o que o arranjo<br />
corporativista busca corrigir é o que pod<strong>em</strong>os chamar de paradoxo da associabilidade liberal: a<br />
oportunidade de se associar livr<strong>em</strong>ente é igual, mas a capacidade de exercer esta liberdade é<br />
desigualmente distribuída.<br />
A literatura sobre corporativismo apresenta diversas fissuras e controvérsias com respeito as<br />
variações do conceito e sua operacionalização e, portanto, também sobre seus desdobramentos. No<br />
centro das controvérsias está a própria conceituação de corporativismo. Alguns autores prefer<strong>em</strong><br />
enfatizar o corporativismo como um “padrão institucionalizado de formação de políticas” e assim a<br />
caracterização dos canais de participação dos sindicatos no processo político decisório<br />
(Lehmbrunch, 1979:150; Lehmbrunch, 1984; Panich, 1977). Mas Schmitter (1982: 263) prefere<br />
chamar este fenômeno de “concertação”. Na sua visão o corporativismo é antes um sist<strong>em</strong>a de<br />
intermediação de interesses e no centro de sua caracterização dev<strong>em</strong> estar as propriedades<br />
associativas do sist<strong>em</strong>a (Schmitter, 1981).<br />
A abordag<strong>em</strong> do corporativismo enquanto um modo, ou padrão, distinto de fazer política dá<br />
uma grande ênfase à importância da relação estreita entre sindicatos e partidos políticos para a<br />
construção da base legal do sist<strong>em</strong>a, e para a sua crescente institucionalização, ligando assim a<br />
estrutura sindical à ação das lideranças sindicais e partidárias. Lehmbruch (1984: 74) fala <strong>em</strong><br />
“corporatist networks”: “delegação de poder legislativo a organizações de interesse pressupõe um<br />
intima e mutua penetração dos interesses do partido e das organizações”. A palavra chave nesta<br />
visão é “concertação”, ou consenso ativo. Para que este ocorra é preciso que haja a representação<br />
6 Offe (1994) afirma que o corporativismo não pode ser legitimado d<strong>em</strong>ocraticamente, chamando atenção para o “efeito<br />
duplo” do corporativismo: qualquer atribuição de status público significa que, por um lado, os grupos aufer<strong>em</strong><br />
vantagens e privilégios e, por outro, têm de aceitar certas limitações e obrigações restritivas. Os probl<strong>em</strong>as de<br />
“irresponsabilidade” perante a base e burocratização foram explorados também por Lange (1984).<br />
6
paritária <strong>em</strong> canais institucionalizados de consulta, ao longo do processo decisório, anteriores a<br />
deliberação legislativa.<br />
Esta distinção perdeu sua centralidade com a mudança de foco das análises sobre o<br />
corporativismo. Se nas primeiras pesquisas a preocupação era com a estrutura da organização do<br />
sist<strong>em</strong>a de representação de interesse, nas pesquisas posteriores a preocupação recaiu sobre o<br />
processo de produção e impl<strong>em</strong>entação de políticas (Schmitter e Groce, 1997). Ao dar este passo<br />
buscando medir o efeito do corporativismo sobre as políticas públicas os trabalhos apontaram para<br />
duas importantes conclusões. De um lado, n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre esses dois conjuntos de características<br />
pod<strong>em</strong> se classificados (clustered) juntos. E de outro lado, que tanto o corporativismo como o<br />
pluralismo pod<strong>em</strong> estar associados à pressão e a “concertação” (Lehmbruch e Schmitter, 1982)<br />
Ao procurar medir o impacto do corporativismo sobre as políticas públicas, principalmente<br />
<strong>em</strong> termos de <strong>em</strong>prego, inflação e renda, os autores procuraram buscar uma maior clareza na<br />
definição dos conceitos. Esta clareza buscava permitir sua mensuração e sua comparabilidade<br />
possibilitando a sua utilização e operacionalização <strong>em</strong> estudos quantitativos, como ocorreu com o<br />
conceito e com os estudos sobre a d<strong>em</strong>ocracia e seus impactos. Não vamos explorar aqui todos os<br />
probl<strong>em</strong>as conceituais que assombram a política e a economia comparada, mas apenas apresentar<br />
algumas das principais medidas de corporativismo que surgiram na literatura sobre o t<strong>em</strong>a.<br />
Indicadores de Corporativismo<br />
As definições iniciais deram a primeira pista para os trabalhos <strong>em</strong>píricos sobre o t<strong>em</strong>a, mas<br />
muito se caminhou desde então. Os primeiros trabalhos que procuraram apresentar indicadores<br />
mensuráveis de corporativismo trabalharam basicamente com índices compostos que uniam os dois<br />
conjuntos de variáveis ou as duas formas de expressão do corporativismo discutidas na seção<br />
anterior (Goldthorpe, 1984). Esses indicadores assum<strong>em</strong> vários graus de complexidade, variando da<br />
simples classificação binária corporativismo ou pluralismo apresentada por Colin Crouch (1985:<br />
117) até a criação de índices compostos, ou ainda índices abarcando apenas uma das características<br />
do corporativismo como o de Compston (1997). Todos os trabalhos são extr<strong>em</strong>amente difíceis de<br />
reproduzir devido à falta de clareza na metodologia usada para agregação e na explicitação das<br />
fontes de dados (Kenworthy, 2003, Siaroff, 1999).<br />
Entre os principais trabalhos desta fase está o de Schmitter (1981: 294) que apresenta um<br />
indicador de corporativismo numa escala de cinco pontos. O ranking geral indicando o grau de<br />
“corporativismo societal”, e representa a agregação de dois outros rankings: a) centralização<br />
7
organizacional; b) monopólio associativo. 7 Este indicador é muito similar ao de Cameron (1984),<br />
chamado “poder organizacional” dos sindicatos. O índice de Cameron (1984:164) é calculado a<br />
partir da agregação de cinco variáveis: a) da taxa de sindicalização (número de m<strong>em</strong>bros <strong>em</strong> relação<br />
à PEA); b) da estrutura organizacional (número de centrais e número de sindicatos filiados a estas<br />
centrais); c) do poder das centrais na barganha coletiva (fundos de greve, poder de veto sobre<br />
acordos, poder de veto sobre greves); d) do escopo da barganha coletiva (<strong>em</strong>presa, setorial,<br />
nacional); e) da existência de formas institucionalizadas de representação junto ao sist<strong>em</strong>a político.<br />
As dificuldades para replicar os indicadores de Cameron e Schmitter e a falta de clareza na<br />
especificação dos mecanismos pelo qual estes afetariam o funcionamento do sist<strong>em</strong>a de<br />
intermediação de interesses levaram a uma nova geração de trabalhos (Michell, 1996; Golden,<br />
1993; Siaroff, 1999; Kenworth, 2003). Aproveitando o insight do casal Collier, esses trabalhos<br />
procuram desagregar os indicadores de corporativismo para sua melhor compreensão. Na<br />
formulação inicial Collier e Collier (1979) propõ<strong>em</strong> separar duas dimensões do conceito. Na<br />
primeira teríamos o que chamam de “incentivos” conferidos pelo estado para que os grupos se<br />
façam representar, como o monopólio de representação, filiação compulsória, subsídios,<br />
reconhecimento legal. No lado das “restrições” ou controles à ação dos sindicatos t<strong>em</strong>os como<br />
indicadores a regulação da barganha coletiva, restrição de greves, controle interno, etc.<br />
O trabalho do casal Collier é importante e explicita <strong>em</strong> seu apêndice as categorias usadas<br />
para montar a escala de corporativismo proposta a partir da legislação trabalhista. Mas este trabalho<br />
está preocupado fundamentalmente com as formas estatais ou autorias do fenômeno e n<strong>em</strong> tanto<br />
com seus impactos nas variáveis econômicas mencionadas anteriormente. O trabalho mais<br />
consistente nesta direção foi realizado por Miriam Golden, confirmando as conclusões de Cameron<br />
(1984) que apontaram para uma maior capacidade dos países corporativistas de se manter<strong>em</strong><br />
próximos do pleno <strong>em</strong>prego. Entretanto, <strong>em</strong> seu argumento Golden (1993) chama atenção para o<br />
fato de que o índice de Cameron media dois conceitos distintos, os de centralização e concentração,<br />
e que eles têm impactos distintos sobre o <strong>em</strong>prego, e que n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre estão associados da mesma<br />
maneira.<br />
A mensuração da centralização, chamada por Cameron de “poder das centrais na barganha<br />
coletiva” e por Schmitter de “centralização organizacional” e da concentração, que Cameron chama<br />
de “unidade organizacional” e Schmitter de “monopólio associativo” têm como objetivo captar a<br />
capacidade de coordenação do movimento sindical. O grau de coordenação é chave uma vez que<br />
7 O primeiro agrega a capacidade das centrais de participar da barganha coletiva, apoiar greves com fundos próprios,<br />
manter um staff próprio, e coletar contribuição de seus m<strong>em</strong>bros. O segundo é calculado pela agregação de três<br />
variáveis “organizacionais”: a) número de centrais; b) se as centrais representam simultaneamente ou não trabalhadores<br />
de colarinho branco e azul; c) se as centrais têm facções internas (Schmitter, 1981: 294).<br />
8
estaria associado à maior capacidade de barganha e a possibilidade de troca de moderação salarial,<br />
por parte dos sindicatos, pela garantia da manutenção do nível de <strong>em</strong>prego e de outros benefícios<br />
indiretos na forma de políticas públicas.<br />
A centralização mede o grau de “autoridade interna” e pode ser chamada também de<br />
“centralização organizacional”. Para determinar a centralização é preciso analisar o poder dos<br />
sindicatos vis a vis a Centrais, e das Federações vis a vis os sindicatos e às Centrais. Para isso é<br />
preciso saber como está distribuído o poder entre essas organizações <strong>em</strong> relação à capacidade de<br />
propor e vetar greves, assinar acordos coletivos, participar de órgãos tripartites com o governo, etc<br />
(Golden, 1993: 443). A centralização avança na medida <strong>em</strong> que as organizações de cúpula são<br />
capazes de controlar os sindicatos através de algum tipo de coerção. A base desta “autoridade” das<br />
centrais sobre os sindicatos pode ser legal, como o monopólio para homologar os acordos coletivos,<br />
as carteiras de trabalho, recolher as contribuições sindicais e prestar serviços de assistência aos<br />
trabalhadores, ou “extra-legal”, alicerçada <strong>em</strong> algum tipo de constrangimento moral (identificação)<br />
ou norma social.<br />
A fragmentação, por sua vez, indica o grau de monopólio presente no sist<strong>em</strong>a de<br />
intermediação de interesse, e será medida pelo número de sindicatos registrados por categoria e pela<br />
participação de cada central e sindicato sobre o total do número de filiados (Golden, 1993, 443). O<br />
monopólio da representação, dotado ou não de investidura legal, é fundamental para a concentração,<br />
pois restringe a possibilidade de competição entre sindicatos, ao limitar o número de sindicatos por<br />
região e ramo de atividade. A capacidade dos trabalhadores se fazer<strong>em</strong> representar por organizações<br />
centralizadas e concentradas possibilita que esses obtenham ganhos de escala durante o processo de<br />
barganha, não acessíveis no caso da ação isolada, maximizando a eficiência com que produz<strong>em</strong> a<br />
pressão política.<br />
No centro de suas conclusões está a constatação de que os indicadores de centralização e<br />
concentração n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre variam na mesma direção ou possu<strong>em</strong> o mesmo efeito. Desagregando as<br />
variáveis captadas pelo conceito de corporativismo, Miriam Golden mostra que as variáveis que<br />
indicam o grau de concentração entre as Centrais (medido de forma s<strong>em</strong>elhante ao número de<br />
partidos efetivos), a porcentag<strong>em</strong> de sindicatos filiados a centrais e a concentração sindical <strong>em</strong> uma<br />
mesma Central são mais importantes para avaliar o poder sindical do que as variáveis relacionadas à<br />
taxa de sindicalização e o grau de participação do governo e das Centrais no processo de barganha.<br />
Na prática isso significa que elas explicam melhor as variações no <strong>em</strong>prego e na inflação.<br />
A maior capacidade de cooperação e coordenação na cúpula, ou a centralização, permite aos<br />
sindicatos aumentar sua “capacidade de barganha” trocando de forma crível a moderação salarial<br />
por políticas públicas favoráveis (Wallerstein, 1989: 58). Esta cooperação, por sua vez, implica <strong>em</strong><br />
9
custos significativos para os sindicatos individuais que abr<strong>em</strong> mão da capacidade de alternar<br />
alianças dependendo da política <strong>em</strong> questão, como poderiam numa estrutura descentralizada. 8 Este<br />
argumento, contudo, reforça as vantagens da centralização e da maior abrangência característica dos<br />
sist<strong>em</strong>as com pequeno número de organizações de cúpula, mas a condiciona à habilidade dessas<br />
organizações de satisfazer tanto as d<strong>em</strong>andas setoriais, como as d<strong>em</strong>andas universalistas.<br />
Não cabe neste trabalho uma análise aprofundada da extensa controvérsia na literatura sobre<br />
os efeitos do corporativismo sobre o <strong>em</strong>prego, inflação, desigualdade de renda, etc. 9 O que é<br />
essencial para a argumentação proposta aqui é que todos estes trabalhos procuram associar as<br />
características do sist<strong>em</strong>a de intermediação de interesse à capacidade de cooperação entre<br />
sindicatos. A falta de provas consistentes da importância destas variáveis que defin<strong>em</strong> o<br />
corporativismo fez como que os pesquisadores apontass<strong>em</strong> novamente para dimensão política do<br />
corporativismo, de participação no processo político decisório como parte chave e indissociável da<br />
concentração e da centralização para explicar seu impacto sobre a política econômica (Compston,<br />
1997).<br />
O poder sindical entre a economia e a política<br />
Assim como o corporativismo, a d<strong>em</strong>ocracia pode ser entendida como um arranjo<br />
institucional. A implantação da d<strong>em</strong>ocracia dissociou o poder de decisão, da propriedade dos ativos<br />
que se quer locar, facultando aos trabalhadores, destituídos da posse do capital, a possibilidade de<br />
influir na decisão da alocação e distribuição da renda, no mercado político. Neste sentido, o<br />
“mercado político” é uma forma de alocação e distribuição de recursos que não o mercado<br />
econômico. Como observa Offe (1975: 234): “O sist<strong>em</strong>a d<strong>em</strong>ocrático e um sist<strong>em</strong>a político onde os<br />
cidadãos pod<strong>em</strong> decidir sobre a alocação de recursos que eles não possu<strong>em</strong> privadamente.”. Esses<br />
recursos são alocados pelo estado d<strong>em</strong>ocrático, sob o comando do governo eleito e pod<strong>em</strong> ser<br />
traduzidos tanto <strong>em</strong> gastos diretos como investimento. A instauração do mercado político<br />
d<strong>em</strong>ocrático pressupõe, assim, a aceitação por parte dos capitalistas de abrir mão de parte das<br />
decisões sobre o investimento da economia <strong>em</strong> favor deste estado.<br />
A teoria da dependência estrutural do Estado sobre o capitalismo, formulada por Adan<br />
Przeworski, aponta para o fato de que <strong>em</strong> certas condições a ação do Estado é limitada<br />
8 Como afirma Wallerstein (1989: 59): “Uma estrutura confederativa descentralizada permite aos sindicatos alternar<br />
alianças com os patrões e com os outros sindicatos, dependendo da política <strong>em</strong> questão. Em contraposição, uma<br />
estrutura centralizada unifica os sindicatos numa coalizão classista que dificulta a perseguição de políticas setoriais nas<br />
quais os interesses dos trabalhadores de diferentes ramos não coincid<strong>em</strong>”.<br />
9 Armingeon (1999), Beck, Katz, Alvarez, Garret, e Lange (1993), Compston (1997), Boreham e Compston (1992),<br />
Driffill (2006), Kenworthy, L. (2002), Lars Calmfors e Drill, (1988), Traxler (2003).<br />
10
estruturalmente pelo fato da sua sobrevivência depender da manutenção do lucro capitalista. Mesmo<br />
que os trabalhadores chegu<strong>em</strong> aos postos decisórios do Estado, eles se deparam com a existência de<br />
um trade-off entre o aumento da participação dos salários e a diminuição dos lucros. O probl<strong>em</strong>a<br />
central é que a partir de certo momento a redução dos lucros acaba por contrair também os<br />
investimentos causando des<strong>em</strong>prego e queda de salários. A alternativa para os trabalhadores seria<br />
expropriar os capitalistas e eliminar o lucro, mas ela contém uma grande dose de incerteza. A<br />
conseqüência deste argumento é que os trabalhadores dev<strong>em</strong> suportar o lucro, enquanto<br />
consentir<strong>em</strong> <strong>em</strong> permanecer sob as regras do capitalismo. 10<br />
A possibilidade de melhora no padrão de vida dentro do capitalismo implica que o estado,<br />
apesar de ser “estruturalmente dependente”, t<strong>em</strong> uma marg<strong>em</strong> de manobra para aumentar a taxação,<br />
s<strong>em</strong> extinguir os lucros e s<strong>em</strong> comprometer os investimentos privados (crowd-out). O aumento na<br />
arrecadação amplia a capacidade de ação do Estado, possibilitando a adoção de políticas ativas de<br />
<strong>em</strong>prego e outras políticas públicas com impacto no padrão de vida dos trabalhadores (Cameron,<br />
1978; O’Connor, 1973). A existência desta “autonomia” do Estado permite que a disputa entre<br />
capitalistas e trabalhadores seja vista não como um jogo de soma zero, como quer<strong>em</strong> os liberais ou<br />
os marxistas, mas como um jogo de soma positiva.<br />
Essa abordag<strong>em</strong> da relação entre capitalismo e d<strong>em</strong>ocracia abre espaço para o<br />
estabelecimento de um pacto racional e mutuamente benéfico entre assalariados e capitalistas.<br />
Entretanto, frustrado no campo econômico, onde as partes são claramente desiguais, este pacto só<br />
pode celebrar-se no campo político. 11 Esta perspectiva representa um racha na literatura marxista,<br />
que Przeworski (1994) reconstrói <strong>em</strong> sua análise da social d<strong>em</strong>ocracia. De um lado, t<strong>em</strong>os os<br />
autores que pensam haver possibilidade de barganha consensual entre as classes, de outro lado,<br />
àqueles que pensam que qualquer tentativa de barganha esconde a cooptação, burocratização e o<br />
“entreguismo” dos dirigentes sindicais. 12<br />
As instituições que dão acesso ao produto por parte dos trabalhadores nas d<strong>em</strong>ocracias são<br />
os sindicatos, os partidos e um Estado, relativamente autônomo, cujos principais postos decisórios<br />
são preenchidos através de eleições livres e competitivas, com efetiva alternância de poder, e o<br />
sufrágio universal (Przeworski, 1994). A partir desta abordag<strong>em</strong>, a variedade dos arranjos<br />
10 A teoria da dependência estrutura implica que enquanto o interesse dos capitalistas está garantido de ant<strong>em</strong>ão, pois o<br />
próprio Estado depende de recursos materiais atrelados a manutenção do lucro e ao funcionamento da economia, o<br />
interesse dos trabalhadores depende da sua capacidade de agir coletivamente pressionando os capitalistas a distribuir o<br />
lucro de forma equitativa e a garantir o investimento e o pleno <strong>em</strong>prego (Przeworski e Wallerstein, 1988: 30).<br />
11 Como observa Przeworski (1994: 246): “os pactos sociais, estabelecidos por barganha, geralmente consist<strong>em</strong> na<br />
aceitação de uma limitação salarial por parte dos sindicatos, <strong>em</strong> troca de programas sociais, juntamente com políticas<br />
econômicas de controle da inflação e incentivos ao investimento e ao <strong>em</strong>prego”.<br />
12 Nesta perspectiva o corporativismo representa um perigo potencial para as organizações de trabalhadores, uma vez<br />
que permite que as lideranças manipul<strong>em</strong> a base para legitimar as políticas estatais (Panitch, 1986; Offe, 1984).<br />
11
d<strong>em</strong>ocráticos que respeitam essas características básicas pode ser compreendida não como<br />
fatalidades históricas, mas como soluções objetivas para o probl<strong>em</strong>a da cooperação (Przeworski,<br />
1991: 51). A sua persistência, por sua vez, dependeria do comprometimento <strong>em</strong> torno das regras de<br />
funcionamento dessas instituições e da aceitação das liberdades civis básicas, inclusive o direito à<br />
propriedade.<br />
A explicação dada por Przeworski (1991) para o fato dos trabalhadores apesar da vantag<strong>em</strong><br />
numérica não destituír<strong>em</strong> os capitalistas da propriedade e dos meios de produção está basicamente<br />
na incerteza que esses têm a respeito da transição para o socialismo e da sua condição no novo<br />
sist<strong>em</strong>a. A disputa de forças entre as duas classes no campo econômico, entre os capitalistas<br />
ameaçando “desinvestir” e os trabalhadores ameaçando fazer greve, e, no campo político, os<br />
trabalhadores ameaçando nacionalizar tudo, e os capitalistas ameaçando abandonar o sist<strong>em</strong>a<br />
d<strong>em</strong>ocrático é resolvida pelo compromisso que garante o ganho mútuo num cenário de convivência<br />
regulada do capitalismo e da d<strong>em</strong>ocracia. Mas a natureza contingente do compromisso descrito<br />
acima t<strong>em</strong> um desdobramento fundamental para os trabalhadores. O resultado da barganha que cria<br />
as regras do jogo d<strong>em</strong>ocrático e regulamenta a convivência entre d<strong>em</strong>ocracia e propriedade privada<br />
dos meios de produção depende da posição inicial e da capacidade de coordenação dos “jogadores”.<br />
A dificuldade intrínseca de coordenação dos trabalhadores, referida anteriormente, os coloca<br />
diante de dois jogos simultâneos. No primeiro, têm que enfrentar o probl<strong>em</strong>a da organização<br />
resolvendo o “dil<strong>em</strong>a da ação coletiva” e determinando se haverá, quais serão e <strong>em</strong> que situações os<br />
representantes dos trabalhadores nos campos econômico e político. No segundo, dev<strong>em</strong> barganhar<br />
junto ao Estado ou diretamente com os capitalistas uma maior participação na renda agregada. Nada<br />
garante que a solução encontrada pelos trabalhadores na primeira arena conduza a maximização dos<br />
objetivos na segunda. A opção social d<strong>em</strong>ocrata, que responsabilizou o Estado pelas atividades que<br />
não eram lucrativas para a iniciativa privada, mas que eram importantes para o desenvolvimento, e<br />
conferiu ao mesmo um papel ativo na correção das falhas do mercado, ao invés de ser um resultado<br />
inevitável, dependeu da capacidade de ação dos trabalhadores nessas duas arenas.<br />
A conclusão de Przeworski & Wallerstein (1988: 97) é <strong>em</strong>bl<strong>em</strong>ática: “… quando todos os<br />
assalariados estão organizados <strong>em</strong> uma única central sindical e o governo é exclusivamente pró-<br />
trabalhador, ele (governo) escolherá taxar o consumo capitalista” e reverter este “ganho” <strong>em</strong> prol<br />
dos trabalhadores de forma que os “assalariados receberão benefícios materiais (material welfare)<br />
praticamente iguais aos que poderiam obter sob o socialismo”. A d<strong>em</strong>ocracia deu aos trabalhadores<br />
a oportunidade de interferir no destino do capital ao mesmo t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que colocou certos<br />
constrangimentos que limitam a intervenção. As opções institucionais cristalizadas na estrutura<br />
institucional do sist<strong>em</strong>a político e a estrutura do sist<strong>em</strong>a de representação de interesse, ou seja, as<br />
12
egras do jogo são peças fundamentais para determinar a capacidade dos trabalhadores de<br />
pressionar por políticas econômicas favoráveis, que aument<strong>em</strong> sua participação na renda e reduzam<br />
o des<strong>em</strong>prego.<br />
As alterações na estrutura sindical<br />
A implantação do sist<strong>em</strong>a corporativista no Brasil pode ser considerada um caso típico de<br />
mudança institucional patrocinada pelo Estado. O projeto institucional originado no governo de<br />
Getúlio Vargas trouxe alguns dos el<strong>em</strong>entos ou características “tipo ideal” do modelo corporativista<br />
descrito anteriormente, mas continham um el<strong>em</strong>ento particular cristalizado no forte papel<br />
“intervencionista” e regulador do Estado. O arranjo institucional do corporativismo brasileiro<br />
conferia atribuição de status público aos sindicatos, mas vinculava a subordinação de sua criação ao<br />
reconhecimento estatal. Este reconhecimento vinha atrelado a outras regras como a garantia do<br />
monopólio da representação, como circunscrição definida a partir do “enquadramento sindical”, da<br />
unicidade sindical, e a contribuição compulsória. O sist<strong>em</strong>a foi reforçado com a criação da Justiça<br />
do Trabalho, de uma legislação específica (Consolidação das Leis do Trabalho) e do sist<strong>em</strong>a de<br />
seguro social.<br />
O Brasil serviu de estudo de caso para a tese de Philippe Schmitter de que as variantes do<br />
corporativismo eram respostas alternativas ao modelo pluralista de organização de interesses frente<br />
aos imperativos do “capitalismo industrial”. No contexto brasileiro de economia “atrasada” e com<br />
um sist<strong>em</strong>a político frágil, alternando entre períodos de d<strong>em</strong>ocracia e autoritarismo, os mecanismos<br />
de reciprocidade que caracterizavam o corporativismo estatal se adequaram aos interesses de<br />
diferentes governos e coalizões de poder. A iniciativa estatal de garantir status públicos às<br />
organizações e à formação do sist<strong>em</strong>a de representação impuseram aos sindicatos um preço muito<br />
mais alto <strong>em</strong> termos de subordinação do que aquele imposto pelo corporativismo societal ou<br />
liberal. 13 O controle direto e às vezes violento da vida associativa dos trabalhadores possibilitou a<br />
formação de sindicatos de carimbo, lideres pelegos e imbricações com líderes políticos populistas e<br />
clientelistas.<br />
A extensão automática dos acordos para base sindical independente da filiação assume<br />
feições particulares no Brasil, mas não é a grande distinção do seu sist<strong>em</strong>a. Em geral a maior<br />
abrangência está associada a uma taxa de sindicalização menor do que nos países onde a extensão<br />
dos acordos está limitada aos filiados. A taxa de sindicalização, por sua vez, tende a ser maior nos<br />
13 Mesmo no corporativismo “liberal” os sindicatos têm incentivos para agir<strong>em</strong> de forma “irresponsável” e distante <strong>em</strong><br />
relação à base devido tanto à autonomia para negociar, como à burocratização (Panith, 1977; Offe, 1984).<br />
13
países onde os sindicatos faz<strong>em</strong> intermediação do seguro des<strong>em</strong>prego e, ainda, s<strong>em</strong>pre maior no<br />
setor público do que privado (Visser, 2006). No mundo todo, os dados sobre a estrutura sindical são<br />
s<strong>em</strong>pre um pouco impressionistas, apesar do rigor cada vez maior dos conceitos e dos métodos de<br />
coleta. Os dados dos anuários estatísticos do DIEESE mostram que entre 1995 e 2005 o número de<br />
sindicalizados cresceu 42%, b<strong>em</strong> acima do crescimento de 25% do número de trabalhadores.<br />
A contribuição compulsória adotada no Brasil, <strong>em</strong>bora resolvesse o probl<strong>em</strong>a do<br />
financiamento dos sindicatos, criou incentivos para que esses agiss<strong>em</strong> de forma irresponsável<br />
perante a base e para criação dos chamados sindicatos “de carimbo”, s<strong>em</strong> nenhuma<br />
representatividade. Em contrapartida ao imposto sindical e à concessão da carta sindical, o estado<br />
cerceou a autonomia dos sindicatos estipulando direitos e deveres e restringindo seu campo de<br />
atuação política, vedando entre outras coisas que destinasse suas verbas ao financiamento partidário<br />
e eleitoral. Além disso, ao garantir o monopólio a partir da base municipal e setorial, princípio da<br />
unicidade, e a não prever a figura das centrais sindicais na estrutura o sist<strong>em</strong>a contribuiu para a<br />
constituição de um movimento extr<strong>em</strong>amente fragmentado, descentralizado e verticalizado <strong>em</strong> suas<br />
estruturas.<br />
Na década de 80 foram inseridas algumas modificações fundamentais na estrutura sindical,<br />
que foram incorporadas à Constituição de 1988. Essas alterações introduziram importantes<br />
el<strong>em</strong>entos de liberdade d<strong>em</strong>ocrática, como direito à greve, a autonomia para a vinculação com<br />
partidos, a restrição à intervenção do poder público nos negócios internos da organização, e a<br />
possibilidade de sindicalização dos trabalhadores do setor público. Mas apesar dessas modificações,<br />
outros componentes importantes do corporativismo foram mantidos, como a unicidade e o<br />
enquadramento sindical, a contribuição sindical, e o registro legal no ministério do trabalho.<br />
A criação das centrais sindicais a partir neste período foi a grande mudança originada seio<br />
do próprio movimento sindical e não na lei. As centrais acoplaram-se a estrutura descentralizada e<br />
desconcentrada do período anterior que, segundo Almeida (1996), favorecia formas de luta<br />
descentralizadas por parte dos sindicatos, introduzindo uma dose de centralismo e de orientação<br />
classista ao movimento antes desarticulado. O pluralismo na cúpula a partir da criação das centrais<br />
mudou significativamente a estrutura anterior, inaugurando um sist<strong>em</strong>a híbrido de intermediação de<br />
interesses (Rodrigues, 1990; Almeida, 1996). Entretanto, a virtude do sindicalismo “autônomo”<br />
teve seu custo e as centrais permaneceram s<strong>em</strong> reconhecimento legal e à marg<strong>em</strong> da estrutura<br />
corporativista oficial.<br />
Alguns autores como Boito (1994) procuraram mostrar as limitações dessas mudanças para<br />
o movimento sindical, salientando a permanência da estrutura básica do corporativismo. A<br />
manutenção do monopólio sindical manteve junto ao sindicato de base municipal uma importante<br />
14
atribuição que é a exclusividade na representação dos trabalhadores no momento da assinatura do<br />
contrato coletivo de trabalho. Esta prerrogativa só pode ser transferida para a Confederação ou<br />
Federação nos casos <strong>em</strong> que há uma delegação prévia do sindicato ou no caso de uma decisão<br />
judicial tomada pela Justiça do Trabalho, quando ao invés de um acordo passamos a ter uma<br />
convenção coletiva de trabalho. Assim, a lei não dá às organizações de cúpula o que seria um dos<br />
instrumentos mais fortes e eficazes de coerção e controle dos sindicatos de base municipal.<br />
A independência dos sindicatos com relação às centrais foi reforçada também pela forma de<br />
distribuição da contribuição sindical. Enquanto <strong>em</strong> um primeiro momento apenas os sindicatos da<br />
estrutura oficial se beneficiam do imposto compulsório sobre sua base, as centrais sindicais não<br />
tinham nenhuma verba garantida <strong>em</strong> lei e dependiam da contribuição dos sindicatos associados. A<br />
falta de mecanismos de controle das centrais sobre os sindicatos foi de certa forma compensada<br />
pelo acesso das centrais aos fóruns tripartites oficiais, como representantes legitimas dos sindicatos<br />
e dos trabalhadores. É através da participação das centrais nesses organismos que os sindicatos<br />
realizam a maior parte da sua interlocução com o governo (Comin, 1994). Se a autonomia conferida<br />
aos sindicatos lhes permite optar ou não por uma das identidades políticas estabelecidas pelas<br />
centrais, na prática esses t<strong>em</strong> um importante incentivo a filiação a uma ou outra central.<br />
Em sua crítica, Boito (1991) procura mostrar que a estrutura do “Sindicalismo de Estado”<br />
não foi extinta, mas reformada. Neste sentido, a supressão do modelo autoritário/ditatorial não teria<br />
significado a ruptura com o corporativismo estatal. As alterações na Constituição não atacavam as<br />
barreiras à autonomia dos sindicatos, ao deixar intocada a necessidade de reconhecimento oficial, e<br />
de outorga da representação pelo estado. Esta dependência <strong>em</strong> relação ao estado contribuía, por sua<br />
vez, para uma independência <strong>em</strong> relação à base, que seria reforçada pela manutenção do princípio<br />
da unicidade, da contribuição compulsória, e da justiça do trabalho como arbitro último da<br />
resolução dos conflitos entre sindicatos e patrões.<br />
Na visão de Boito (1991) esta estrutura impõe um limite de luta, contendo a luta sindical no<br />
terreno do interesse político da burguesia, ou seja, mantendo o movimento sindical separado da luta<br />
pelo fim da propriedade privada e pelo socialismo. 14 Ao fazer isso, submete o movimento sindical a<br />
heg<strong>em</strong>onia de uma fração de classe, da oligarquia sindical. Suas análises mostram que todos os que<br />
se habilitaram a lutar para a superação do corporativismo estatal foram cooptados pela estrutura<br />
burocratizada do sindicalismo oficial. As restrições impostas pelo arranjo legal não permit<strong>em</strong> que os<br />
14 O bloqueio da aprovação da convenção 87 da OIT seria uma manifestação desta limitação. Para Boito (1994), mesmo<br />
o novo sindicalismo, outrora de massa e confronto, rapidamente teria caminhado para o “neo” corporativismo, nos anos<br />
90, reativo e de cunho setorial.<br />
15
sindicatos lut<strong>em</strong> efetivamente por melhores salários e condições de trabalho, ao contrário, acaba<br />
atomizar e fragmentar a luta de classe.<br />
A possibilidade de diferentes interpretações da lei torna ainda mais acirrada a discussão<br />
sobre as mudanças normativas junto à estrutura sindical, principalmente no que diz respeito à<br />
liberdade sindical. A nova carta é categórica ao afirmar que “É livre a associação profissional ou<br />
sindical” impedindo o estado de “exigir autorização para fundação de sindicato”, mas derrapa ao<br />
ressalvar este ponto ao exigir o “registro <strong>em</strong> órgão competente” (art. 8 da CF). 15 Neste sentido<br />
l<strong>em</strong>bra o art.120 da Constituição de 1934 que afirmava que os sindicatos seriam reconhecidos “de<br />
conformidade com a lei”, ao mesmo t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que assegurava a “pluralidade sindical e a completa<br />
autonomia dos sindicatos”. A Constituição trouxe outro el<strong>em</strong>ento importante da liberdade sindical<br />
que foi a liberdade de sindicalização do servidor público civil, trazendo para legalidade um grande<br />
número de associações de servidores públicos que tiveram papel chave na red<strong>em</strong>ocratização.<br />
A nova regulamentação manteve o princípio da livre filiação dos trabalhadores aos<br />
sindicatos, também garantida na era Vargas. Além disso, confere maior autonomia ao movimento<br />
ao assegurar o direito de greve, colocando como única restrição a definição, <strong>em</strong> lei específica, do<br />
atendimento das “necessidades inadiáveis da sociedade” nos caso dos “serviços ou atividades<br />
essenciais”. 16 No setor público a direito de greve mereceu um artigo, devendo ser “exercido nos<br />
termos e nos limites de definidos <strong>em</strong> lei específica”. Logo após a promulgação da carta, o governo<br />
Sarney tratou de aprovar a lei 7.783/89, conhecida como a lei de greve do setor privado, <strong>em</strong><br />
resposta a eclosão de greves no período. No setor público, contudo, o dispositivo nunca foi<br />
regulamentado, como ver<strong>em</strong>os <strong>em</strong> seguida. 17<br />
A legalização das centrais<br />
A atuação das centrais <strong>em</strong> relação às políticas impl<strong>em</strong>entadas no país obedece tanto à lógica<br />
da disputa política entre governo e oposição, como da competição interna pela representação dos<br />
sindicatos. Estes, por sua vez, pesam na decisão de se filiar ou não a uma ou a outra central tanto a<br />
15 Os art. 512 a 520, e 556 da CLT disciplinam o registro deixando-o a cargo do Ministério do Trabalho, o que não está<br />
explicito na Constituição. O art. 556 explicita que “a cassação da carta de reconhecimento (art.220) não imporá o<br />
cancelamento do registro” sindical, n<strong>em</strong> seu fechamento. O art. 576 cria a Comissão de Enquadramento Sindical, com<br />
representantes das confederações, por elas eleitos.<br />
16 O Art. 9º da CF, no capítulo sobre direitos sociais, contém a seguinte redação: “É assegurado o direito de greve,<br />
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele<br />
defender. § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais (...). § 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis<br />
às penas da lei.<br />
17 A Emenda Constitucional n.45/04 introduziu uma mudança importante após a CF ao alterar o art. 114, reforçando o<br />
papel de arbitro nos dissídios coletivos e do julgamento das greves por parte da Justiça do Trabalho.<br />
16
percepção das lideranças com relação aos benefícios desta adesão na sua base sindical, como de<br />
ganhos de caráter universalista, de maior abrangência e, portanto, com maior apelo político que<br />
pod<strong>em</strong> obter com o fortalecimento das centrais. Esta tensão entre a base e a cúpula foi mediada pela<br />
dependência financeira das centrais, vinculada até a legalização recente, à contribuição voluntária<br />
dos sindicatos, que se as mantinha atrelada à base, limitava sua autonomia para perseguir ganhos<br />
universalistas no campo político.<br />
O novo sindicalismo, nascido no Congresso Nacional dos Trabalhadores Industriais no Rio<br />
de Janeiro, <strong>em</strong> 1978, exibia um forte discurso contra a prática burocrática, governista, e favorável a<br />
ação grevista. No ano seguinte seria criado o PT e dois anos mais tarde o <strong>em</strong>brião da CUT, durante<br />
a I Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat), <strong>em</strong>bora sua fundação oficial tenha ocorrido<br />
somente <strong>em</strong> 1983. A partir do seu terceiro congresso, <strong>em</strong> 1989, a central alteraria sua aposta no<br />
conflito, se posicionando pela colaboração e pela conquista do poder político pela via partidária e<br />
d<strong>em</strong>ocrática e assim abandonando a visão negativa da colaboração de classe (Rodrigues, 1990).<br />
Em 1986, no mesmo ano <strong>em</strong> que a CUT realizava seu primeiro congresso, o Sindicato dos<br />
Metalúrgicos de Santos, ligado ao PCB, ajudaria a criar a Central Geral dos Trabalhadores,<br />
juntamente com m<strong>em</strong>bros do MR-8, do PMDB. 18 Enquanto a fundação da CUT havia a presença<br />
significativa de funcionários públicos e sindicatos rurais, a CGT apresentava um grande número de<br />
confederações, mostrando seu peso na estrutura oficial. A fluidez das lideranças da CGT e a<br />
migração partidária na cúpula mostram sua maior heterogeneidade <strong>em</strong> relação à CUT (Comin,<br />
1994: 368). Ainda <strong>em</strong> 1985 seria criada também a União Sindical Independente (USI), com<br />
sindicatos ligados ao comércio<br />
A explosão do número de greves nos anos 80, movida de forma descentralizada pelos<br />
sindicatos locais, contrastou com o a capacidade de influência política das centrais nos governos<br />
Figueiredo e Sarney (Almeida, 1988). Como observou Almeida (1988), a estratégia de confrontação<br />
descentralizada não se traduzia <strong>em</strong> capacidade de intervenção política, o que implicava “a definição<br />
de metas e a construção de canais de influência sobre políticas de governo” (Almeida, 1988: 351).<br />
Entretanto, o fracasso dos planos de estabilização e a articulação de greves nacionais pelas centrais<br />
foram aos poucos legitimando as centrais, levando o governo a sinalizar com a possibilidade de<br />
pactos sociais.<br />
Em 1989, a CGT racharia novamente durante o seu segundo congresso, gerando duas CGTs:<br />
a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB); e a Confederação Geral dos Trabalhadores<br />
(CGT). A criação da Força Sindical (FS), <strong>em</strong> 1991, levaria à quase extinção da Confederação Geral,<br />
18 O número de sindicatos filiados na CUT cresceu rapidamente, passando de 450 no congresso de 1988, para 1917 <strong>em</strong><br />
1993 (Comin, 1994).<br />
17
na época dirigida por Magri. 19 No seu nascimento a Força apresentou um discurso mercadamente<br />
oposto ao discurso da CUT, pregando o sindicalismo de resultado, negociado, e com autonomia<br />
partidária. A tentativa de construir uma atuação autônoma <strong>em</strong> relação aos partidos, apesar de<br />
“respaldada” no pluralismo da direção não refletia a orientação sindical da presidência da central<br />
(Cardoso, ). A movimentação na cúpula refletia <strong>em</strong> larga medida a atuação das elites sindicais no<br />
campo político partidário, mas do que o movimento no interior do próprio movimento sindical<br />
(Rodrigues, 1991). 20<br />
Entre 2005 e 2007 quatro novas centrais foram criadas no bojo da legalização: a) a União<br />
Geral dos Trabalhadores (UGT), criada <strong>em</strong> 2007 como dissidência da FS e tendo como presidente<br />
Ricardo Patah presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de São Paulo e tesoureiro da<br />
Força Sindical <strong>em</strong> 2003/4; b) a Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) que reuniu as<br />
confederações oficiais (CNTI, CNTC, Contratur, etc.) <strong>em</strong> 2005; c) e a Coordenação Nacional de<br />
Lutas (Conlutas), formada <strong>em</strong> 2006 a partir do desligamento do grupo da CUT e do PT que criaria o<br />
PSOL; d) a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), criada <strong>em</strong> 2007, a partir da saída da CUT<br />
da Corrente Sindical Classista, ligada ao PCB do B.<br />
O Executivo tentou introduzir o projeto de legalização das centrais por MP, partido das<br />
discussões do Forum Nacional do Trabalho, mas a proposta foi rejeitada no Legislativo por<br />
iniciativa da própria base aliada. 21 Na segunda tentativa o projeto foi introduzido via PL 1990/07,<br />
<strong>em</strong> set<strong>em</strong>bro de 2007, com justificativa assinada pelo Ministro do Trabalho. O projeto lei teve como<br />
relator o deputado Vicentinho (PT-SP), m<strong>em</strong>bro da Comissão de Trabalho. Sua redação apresentava<br />
duas diferenças importantes <strong>em</strong> relação ao texto anterior, a primeira abrandava um dos critérios<br />
para determinar a representatividade das centrais, a segunda dava às centrais uma parte dos recursos<br />
da contribuição sindical. 22 A proposta seguiu o rito ordinário, retornando a Câmara após ser objeto<br />
de <strong>em</strong>endas no Senado.<br />
19<br />
Em 1994 foi criada a Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT), <strong>em</strong> 1996 a Social D<strong>em</strong>ocracia Sindical (SDS), e<br />
<strong>em</strong> 1997 a União Sindical Independente (USI).<br />
20<br />
A movimentação da CUT na direção do diálogo com o governo e principalmente a conquista do poder político pelo<br />
PT colocou o discurso da FS <strong>em</strong> cheque, aproximando muito as duas centrais <strong>em</strong> torno de bandeiras comuns como a<br />
luta pela jornada de 40h s<strong>em</strong>anais.<br />
21<br />
MP 293 de 8 de maio de 2006. No dia <strong>em</strong> que trancaria a pauta a MP foi derrubada. Nos debates Arlindo Chinaglia<br />
(PT/SP) afirma que a MP “dividia o movimento sindical” e procura um meio de derrubar a iniciativa e restabelecer as<br />
discussões até que se chegasse a um consenso entre os lideres do governo, da base aliada e as centrais (fala <strong>em</strong> nome do<br />
ministro do trabalho Luis Marinho) e termina deixando clara o objeto da discórdia: o repasse de recursos às centrais.<br />
Logo depois Medeiros (PL/SP) cita o FNT para afirmar que a necessidade de legalização já era um consenso, mas<br />
criticava alguns pontos da proposta como a possibilidade dos sindicatos indicar<strong>em</strong> além das centrais, para<br />
direcionamento do imposto sindical, às federações e confederação, o que seria “ilegal, seria a pluralidade sindical”.<br />
22<br />
O art. 2, inciso IV, falava <strong>em</strong> um mínimo de 7% dos trabalhadores sindicalizados no país como critério, ao passo que<br />
a MP falava <strong>em</strong> 10%.<br />
18
A grande batalha deu-se <strong>em</strong> torno da obrigatoriedade da autorização prévia para o desconto<br />
do imposto sindical e do papel das centrais. Na versão final da lei 11.648/08 aprovada no<br />
Legislativo e sancionada pelo presidente ganhou o status quo. O texto rejeitou as brechas para que<br />
as centrais assumiss<strong>em</strong> o papel dos sindicatos, ao mudar a redação inicial do artigo primeiro que<br />
falava que elas tinham a prerrogativa de “exercer a representação dos trabalhadores...”, para<br />
“coordenar a representação...”. O Ministério do Trabalho ficou encarregado de cadastrar as centrais<br />
e de criar o índice de representatividade das centrais. O executivo fez uma alteração importante no<br />
texto ao vetar o art. 6, que havia sido introduzido na primeira votação na Câmara, e que obrigava as<br />
centrais a prestar<strong>em</strong> contas ao TCU.<br />
A lei formaliza o papel das centrais de representante dos sindicatos no plano nacional<br />
através da negociação <strong>em</strong> “fóruns, colegiados de órgãos públicos e d<strong>em</strong>ais espaços de diálogo que<br />
possuam composição tripartite...”. Esta posição apenas consolida a atuação que já era na prática<br />
exercida pelas entidades, e que encontra respaldo no art. 1º da Constituição que assegura “a<br />
participação dos trabalhadores e <strong>em</strong>pregadores nos colegiados dos órgãos públicos <strong>em</strong> que seus<br />
interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação”. O Ministério<br />
do Trabalho ficou, contudo, encarregado de criar o índice de representatividade das centrais que<br />
serve de base para definir a proporção de vagas de cada central nos fóruns tripartites, “salvo <strong>em</strong><br />
caso de acordo entre elas”.<br />
No que toca ao imposto sindical prevaleceu à tese de que os sindicatos têm a prerrogativa de<br />
indicar a central a que são filiados e para qual será revertido o imposto. Esta discussão assumiu<br />
várias formas nos debates, r<strong>em</strong>etendo ao FNT e à discussão sobre o fim do imposto sindical. 23 O<br />
texto final alterou a CLT destinando às centrais 10% dos impostos sindicais, <strong>em</strong> prejuízo da conta<br />
“Emprego especial <strong>em</strong>prego e salário”. 24 Este dispositivo possibilitou que o próprio governo<br />
absorvesse a perda de arrecadação, ao invés de impor custos à estrutura existente.<br />
O sindicalismo no setor público e o direto de greve e negociação<br />
A Constituição de 1988 decretou a liberdade de sindicalização para os funcionários públicos,<br />
mas grande parte das associações existentes antes da nova carta resistiu à “legalização”. A estrutura<br />
de desconto da contribuição <strong>em</strong> folha de forma voluntária, ou seja, a partir da livre filiação à<br />
23 O texto, contudo, <strong>em</strong> seu art. 7 deixou aberta a possibilidade de extinção deste imposto e da sua substituição pela<br />
“contribuição negocial”, prevista na CLT e “vinculada ao exercício efetivo da negociação coletiva e à aprovação <strong>em</strong><br />
ass<strong>em</strong>bléia geral da categoria”.<br />
24 Segundo o MTE foram repassados 62,8 milhões <strong>em</strong> 2008: CUT (21,25 milhões); FS (18,17 milhões); UGT (10,61<br />
milhões); NCS (7,45 milhões); CTB (3,7 milhões); e CGTB (2,84 milhões). Este valor corresponde a cerca de 47% dos<br />
recursos total arrecadados com o imposto sindical urbano <strong>em</strong> 2008 (CEF).<br />
19
associação ou sindicato fez do sindicalismo público o grande ex<strong>em</strong>plo da capacidade de<br />
organização voluntária <strong>em</strong> bases “societais”. Esta posição reforçou a legitimidade do sindicalismo<br />
do setor público, aproximando-o da base e reforçando a tensão entre as lutas setoriais de âmbito<br />
local e as políticas governamentais.<br />
Entretanto, o sindicalismo no setor público foi limitado por duas questões básicas de certa<br />
forma resolvidas no setor privado: a regulamentação da greve e da negociação coletiva. No final de<br />
2007 o SFT julgou que enquanto o direito de greve do setor público não era regulamentado por lei<br />
específica ficaria valendo a mesma lei do setor privado. Esta posição causou uma enorme confusão<br />
nas negociações e deixou aberta a “intervenção” da justiça do trabalho nas negociações do setor<br />
público, s<strong>em</strong> dar atenção a especificidade da relação entre patrão e <strong>em</strong>pregado no setor público.<br />
Esta relação é marcada por uma configuração complexa uma vez que o <strong>em</strong>pregador, poder<br />
Executivo, t<strong>em</strong> a prerrogativa de definir as regras de carreira e salário, mas não pode fazê-lo de<br />
forma unilateral, t<strong>em</strong> que ser autorizado pelo poder Legislativo. A assinatura da convenção 151 da<br />
OIT pelo Brasil e o julgamento do SFT <strong>em</strong> relação ao direito de greve “apressaram” governo e<br />
sindicatos a buscar uma solução para esta questão. O governo partiu das propostas do FNT e através<br />
do Ministério do Planejamento tomou a iniciativa de criar uma mesa de negociação para discutir<br />
uma proposta de lei regulamentando a negociação no setor público, o que inclui o direito de greve. 25<br />
Apesar da iniciativa nenhum PL concreto deve ser enviado para a Câmara até o fim do governo<br />
Lula, deixando <strong>em</strong> aberto este capítulo das mudanças na estrutura sindical do setor público. 26<br />
As novas instâncias de participação<br />
A participação das Centrais Sindicais nos fóruns tripartites teve início no governo Fernando<br />
Henrique Cardoso. 27 Neste período foi importante a regulamentação da participação dos<br />
trabalhadores no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e no<br />
Conselho Curador do Fundo de Garantia por T<strong>em</strong>po de serviço (CCFGTS) que controlam<br />
orçamentos importantes, alocados <strong>em</strong> diversas políticas como qualificação de mão de obra, seguro<br />
des<strong>em</strong>prego, financiamento habitacional e de infra-estrutura urbana e transporte, etc. Estes fundos<br />
25 O FNT evidenciou uma polêmica não sanada sobre qu<strong>em</strong> teria legitimidade para conduzir as negociações, ou a<br />
iniciativa de lei, o Ministério do Planejamento ou do Trabalho.<br />
26 Exist<strong>em</strong> inúmero projetos buscando regulamentar o art. 37 da Constituição. Em 2001 o governo FHC enviou ao<br />
congresso o Pl 4497, que como outros foram apensados ao PL 4497/2001 da deputada Rita Camata. Em 2005, o<br />
governo tratou do t<strong>em</strong>a na PEC 369, que consolidava as d<strong>em</strong>andas do FNT. O Projeto atualmente encontrasse na<br />
Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do deputado Magela (PT-DF).<br />
27 Em 1990, depois das experiências com as câmaras setoriais do setor automotivo, as principais lideranças da CUT<br />
ligadas a Articulação passaram a ver nas negociações tripartites uma possibilidade de avanço. A participação nos fóruns<br />
tripartites passou a ser legitimada depois de aprovada por resolução no IV Concut, <strong>em</strong> 1992 (Comin, 1994).<br />
20
são de extr<strong>em</strong>a importância para o desenvolvimento, com um patrimônio que equivale a 12% do<br />
PIB, ou cerca de 395 bilhões de reais <strong>em</strong> 2009. No caso do FAT, a participação dos trabalhadores<br />
no fundo abriu caminho também para sua participação no conselho do BNDES que t<strong>em</strong> parte do seu<br />
financiamento ligado ao fundo. 28<br />
No governo Lula estas novas arenas foram ampliadas com a criação do Conselho Nacional<br />
de Economia Solidária, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), ambos<br />
criados <strong>em</strong> 2003, e de outras instancias de duração determinada onde se discutiu pontos específicos<br />
da agenda do governo. Entre elas três foram particularmente importantes: a) o Fórum Nacional do<br />
Trabalho (FNT), subordinado ao Ministério do Trabalho, que funcionou entre 2003 e 2004; b) a<br />
Comissão de Valorização do Salário mínimo, que funcionou <strong>em</strong> 2005/5, e foi responsável pela<br />
política determinou um ganho real de 53.8% para o salário mínimo, entre 2002 e 2010, vinculando-<br />
o ao crescimento do PIB; c) e o Fórum Nacional de Previdência Social, que funcionou <strong>em</strong> 2007.<br />
A participação sindical no Fórum Nacional do Trabalho foi particularmente importante, pois<br />
evidenciou a face consociativa do governo Lula. 29 A tentativa de iniciar formular uma proposta de<br />
Reforma Trabalhista e Sindical a partir da criação de uma comissão tripartite se justificava pela<br />
especificidade dos interesses envolvidos e pelo alto grau de resistência tanto por parte dos<br />
sindicatos dos trabalhadores, como dos <strong>em</strong>presários. No texto final, que acabou s<strong>em</strong> apoio<br />
consensual, ficou determinado entre outras coisas que o imposto sindical seria gradualmente extinto<br />
e substituído pela “contribuição negocial” e que as centrais deveriam ser legalizadas.<br />
No final a reforma foi dividida <strong>em</strong> dois, a reforma trabalhista propriamente dita e a reforma<br />
sindical, mas nenhuma dessas seria plenamente impl<strong>em</strong>entada, excetuando-se a ainda indefinida<br />
legalização das Centrais. O fórum produziu duas peças importantes. Um Projeto de Emenda<br />
Constitucional (PEC 369/05) que, entre outras mudanças, altera a redação do capítulo sobre<br />
liberdade sindical e cria a representação no local de trabalho. E um esboço de projeto de lei que<br />
regulamentava as alterações constitucionais e criava o Conselho Nacional de Relações de Trabalho,<br />
regulamentava as centrais sindicais e reorganizava o sist<strong>em</strong>a de financiamento do sist<strong>em</strong>a.<br />
A participação dos sindicatos nos fóruns tripartites não se limita as já citadas, na verdade<br />
existe uma multiplicidade de novas arenas, como os conselhos das cidades, da saúde, e ainda a<br />
inclusão dos representantes dos trabalhadores nos conselhos do SESI, SENAI, SESC, e SENAC por<br />
decreto presidencial <strong>em</strong> 2006. No seu conjunto esses fóruns têm definido aspectos importantes das<br />
28 Um dos <strong>em</strong>briões desta participação já estava sendo gestada após a criação do Conselho Consultivo dos<br />
Trabalhadores para a Competitividade (CTCOM), <strong>em</strong> 1993, e das Câmaras setoriais. O FAT repassa 40% da receita<br />
com o PIS/PASEP para o BNDES, respondendo <strong>em</strong> 2010 por 1/3 do patrimônio do banco.<br />
29 Almeida (2006) mostra os principais atores que participaram das discussões do FNT regulamentado pelo Decreto<br />
4.796/03. A CUT e a Força Sindical dividiram o comando das plenárias e das comissões, que contavam ainda com a<br />
participação da CGT (Central), da SDS, da CGTB, e da CAT.<br />
21
políticas públicas e possibilitado o exercício do controle social dessas políticas e recursos, <strong>em</strong>bora<br />
seus ganhos <strong>em</strong> termos de aperfeiçoamento e transparências das ações são ainda difíceis de<br />
dimensionar. Entretanto, é certo que o aprofundamento desta participação permite aos sindicatos um<br />
aprendizado e uma apropriação do “fazer” das políticas públicas nunca antes visto, colocando-os <strong>em</strong><br />
um novo patamar nas discussões sobre os rumos do estado e da economia. 30<br />
O sindicalismo está morto?<br />
Na década de 1990 o sindicalismo passou por uma crise que t<strong>em</strong> fundamentos tanto teóricos<br />
como <strong>em</strong>píricos. O destino do sindicalismo estava marcado pelo declínio do seu poder tanto de uma<br />
perspectiva institucional, como política expressa na queda do número e na proporção de<br />
trabalhadores filiados e no declínio das taxas de greve (Rodrigues, 1999). Entretanto, alguns autores<br />
procuraram mostrar que para além da aparente convergência <strong>em</strong> direção a perda da importância dos<br />
sindicatos no funcionamento da economia e da política, era possível encontrar alguns sinais de<br />
persistência tanto estrutural dos sindicatos, como de sua importância política (Ebbinghaus e Visser,<br />
1998; Golden, Wallerstein e Lange, 1999).<br />
O arranjo sindical corporativista não é imune às mudanças tecnológicas na produção e no<br />
mercado de trabalho, n<strong>em</strong> aos ciclos econômicos e às alterações no equilíbrio de forças na arena<br />
política. Sê é verdade que diante dessas alterações o movimento sindical t<strong>em</strong> sido “prisioneiro do<br />
passado”, também é verdade que t<strong>em</strong> sido capaz de usar e alterar a estrutura ao longo dos anos para<br />
acomodar seus interesses e se fortalecer. O sindicalismo t<strong>em</strong> mostrado que está vivo e mais forte do<br />
que se esperava, apesar de ter tido sua morte decretada. Muitos aspectos das instituições de<br />
barganha coletiva (centralização e coordenação) convergiram entre os países da OECD, e que esta<br />
convergência se dá num patamar mais elevado, indicando um aumento na força dos sindicatos. As<br />
principais centrais t<strong>em</strong> assumido uma maior relevância e observado uma maior concentração interna<br />
e <strong>em</strong> relação às centrais rivais, apesar da descentralização das negociações (Golden, 2000).<br />
O caminho seguido pelo movimento sindical no Brasil parece se encaixar nestas conclusões.<br />
Entre 1991 e 2001, aumentaram a proporção de sindicatos filiados as Centrais, passando de 30%<br />
para 38%. Os dados indicam que inicialmente a CUT perdeu espaço neste período para Força<br />
Sindical, enquanto a primeira tinha 74% dos sindicatos filiados à centrais na sua base <strong>em</strong> 1991, a<br />
segunda tinha 13% no ano de sua criação. Em 2001 a participação da CUT caiu para 66% do total,<br />
30 Esta percepção é tida por Comin (1994: 389): quando afirma que “O investimento cada vez mais decidido da CUT<br />
nos espaços institucionais de negociação formulação e gestão de políticas tend<strong>em</strong> a fazer desta central e de seus<br />
sindicatos (...) interlocutores privilegiados dos trabalhadores frente ao estado e ao <strong>em</strong>presariado”.<br />
22
contra 74% <strong>em</strong> 1991. Enquanto a da FS subiu de 13% para 19%, e as outras centrais de 13% para<br />
15%. As d<strong>em</strong>ais centrais respondiam por 13% dos sindicatos filiados <strong>em</strong> 1991, passando para 15%<br />
<strong>em</strong> 2001.<br />
Não é possível comparar os dados do DIEESE e do IBGE com os dos Ministérios do<br />
Trabalho, mas segundo o ministério existia no início de 2010 cerca de 8.826 sindicatos, sendo que<br />
61,3% ou 5.409 são filiados a alguma central. As seis maiores centrais respond<strong>em</strong> por 87,1% dos<br />
sindicatos filiados a alguma central e 60,3% do total de sindicatos. Apenas a CUT responde por<br />
33,4% dos filiados e 20,4% do total, somando a Força chega a 35% dos filiados e 57,1% do total.<br />
Esses números comparados com os de 2001 indicam que nos últimos anos estas duas centrais<br />
aumentaram sua base de representação e assim que aumentou a concentração. Em 2001 a CUT tinha<br />
25% do total de filiados e a Força 7,4%, enquanto <strong>em</strong> relação ao total a CUT ficava com 40,2% e a<br />
Força 11,9%.<br />
Fonte: MTE.<br />
Gráfico 1. Distribuição dos Sindicatos por Central (10/02/2010)<br />
O gráfico acima apresenta as centrais existentes no Brasil e o número de sindicatos filiados<br />
por central, excluindo os 3417 mil sindicatos não filiados a nenhuma central. A CUT representa<br />
claramente a maior parte dos sindicatos filiados, com 33% do total, sendo que esta porcentag<strong>em</strong> cai<br />
para 20% quando considerados todos os sindicatos. O indice de representatividade das centrais<br />
calculado pelo Ministério do Trabalho, contudo, indica uma porcentag<strong>em</strong> de 38,23% para CUT <strong>em</strong><br />
março de 2010, seguida da Força Sindical, com índice de representatividade de 13,71%; da Central<br />
de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), com 7,55%; da União Geral dos Trabalhadores<br />
23
(UGT), com 7,19%; a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), com 6,69%; e da Central<br />
Geral dos Trabalhadores do Brasil, com índice de representatividade 5,04%. 31<br />
A taxa de sindicalização que havia caiu de 25% da PEA, <strong>em</strong> 1990, para de 23% <strong>em</strong> 2001<br />
(IBGE, 2001). Apesar da ligeira queda o número de sindicatos aumentou de 43% entre 1991 e 2001,<br />
passando de 11.193 para 15.963, sendo a maior parte formada por sindicatos de base municipal.<br />
Entre 1995 e 2005, por sua vez, o número de sindicalizados aumentou 45%, chegando a 16 milhões<br />
de trabalhadores. Não exist<strong>em</strong> dados recentes sobre o número de sindicalizados e esta é uma das<br />
falhas do cálculo do MTE. Não há uma relação direta entre o número de sindicatos e o número de<br />
trabalhadores sindicalizados, uma vez que o tamanho dos sindicatos varia. As primeiras pesquisas<br />
do IBGE mostram também uma grande variação entre o número de filiados e o número de sócios<br />
quites, mas ainda assim não indicam nada sobre a representatividade dos sindicatos <strong>em</strong> termos da<br />
abrangência dos acordos firmados.<br />
Os dados levantados acima permit<strong>em</strong> fazer inferências sobre a concentração sindical apesar<br />
da fluidez apresentada nas duas últimas décadas. Inicialmente houve uma certa desconcentração,<br />
com uma diminuição da participação da CUT no total de sindicatos filiados a centrais, b<strong>em</strong> como<br />
no total de entidades sindicais. Entretanto, na última década parece ter ocorrido o oposto, com uma<br />
maior concentração do movimento sindical na CUT e na Força, apesar da aparente fragmentação<br />
dada pelo grande número de centrais. 32 Não é possível, contudo, saber se dentro da própria CUT e<br />
da Força Sindical houve um movimento de concentração ou de desconcentração <strong>em</strong> torno dos<br />
maiores sindicatos. Entretanto, a maior porcentag<strong>em</strong> de sindicatos ligados às centrais, número que<br />
dobrou entre 1991 e 2010, indica que houve uma maior concentração na cúpula e contribuindo para<br />
a maior representatividade das centrais.<br />
Perspectivas para a próxima década<br />
O sindicalismo parece novamente se encontrar um uma encruzilhada nesta virada de década.<br />
Antigos debates sobre a autonomia sindical permanec<strong>em</strong>, como a cobrança dos imposto sindical.<br />
Outros ganharam novo fôlego, como a concessão da carta sindical e o enquadramento. Parte deste<br />
debate t<strong>em</strong> como eixo central os sindicatos do setor público. Nesta área as contribuições s<strong>em</strong>pre<br />
31 O índice de representatividade é calculado com base na portaria 194 de 17/4/2008, <strong>em</strong> cumprimento a Lei<br />
11648/2008. Pelo art. 6 da portaria o índice é calculado dividindo-se o total de trabalhadores filiados aos sindicatos<br />
integrantes da central dividido pelo total de trabalhadores filiados <strong>em</strong> âmbito nacional. O grande probl<strong>em</strong>a aqui é que o<br />
TEM usa a RAIS para aferir o número de trabalhadores filiados.<br />
32 Golden (1993) usa para medir a concentração entre todas as centrais o índice de Herfindahl, calculado da seguinte<br />
forma: Herf = (% da 1 central no total de m<strong>em</strong>bros das centrais) 2 + (% da segunda central) 2 , etc. A autora mede também<br />
a concentração <strong>em</strong> cada uma das centrais.<br />
24
foram voluntárias, mas uma portaria do Ministério do Trabalho tornou-a compulsória, o que deve<br />
gerar muita discussão dentro do movimento. Se de um lado ela pode favorecer uma maior<br />
fragmentação, de outro lado, pode dar ao sindicalismo do setor público uma capacidade de<br />
mobilização nunca antes vista vis a vis aos seus colegas do setor privado. Este movimento deve ter<br />
implicações de longo prazo para o balanço de poder ente os sindicatos dos dois setores dentro das<br />
centrais sindicais, principalmente da CUT.<br />
Ao mesmo t<strong>em</strong>po, o sindicalismo deve procurar consolidar as conquistas obtidas durante o<br />
governo Lula no que toca a participação dos sindicatos nas novas arenas de participação. Nada<br />
garante que estas serão mantidas no caso de uma alternância de projeto na presidência. Além disso,<br />
mesmo onde esta presença já está de certa forma consolidada, como nos conselhos do FAT, FGTS,<br />
e BNDES o movimento sindical deve enfrentar uma batalha entre as centrais para participação<br />
nestes conselhos, uma vez que o quadro congelado pela regulamentação destes conselhos t<strong>em</strong> se<br />
mostrado extr<strong>em</strong>amente fluído, com a possibilidade da criação de novas centrais, principalmente<br />
através da fusão das existentes.<br />
As modificações <strong>em</strong> curso parec<strong>em</strong> nos aproximar cada vez mais do corporativismo societal,<br />
mas a sobrevivência de certas características do arranjo anterior não t<strong>em</strong> incentivado a maior<br />
coordenação e centralização do sist<strong>em</strong>a ao manter a fragmentação na base e criar o pluralismo na<br />
cúpula. Sua permanência deve ser vista dentro do jogo de forças que atuou dentro do Fórum do<br />
Trabalho, e resulta da cristalização de interesses e da fragmentação política, mais do que da<br />
intenção do Estado. O projeto institucional dos criadores do arranjo corporativista estatal ganhou<br />
vida própria e as organizações sindicais voltam a ensaiar sua <strong>em</strong>ancipação s<strong>em</strong>, no entanto, andar<br />
no sentido do pluralismo e do abandono do status público. Como diria Philippe Schmitter: o<br />
corporativismo não está morto, vida longa ao corporativismo.<br />
Bibliografia<br />
Almeida, Gelsom (2006) <strong>–</strong> O governo Lula, o Fórum Nacional do Trabalho e a reforma sindical.<br />
Revista Katál. Vol. 10. N. 1, PP. 54-60.<br />
Almeida, M. (1988) <strong>–</strong> Difícil caminho: Sindicatos e política na construção da d<strong>em</strong>ocracia. In. A<br />
d<strong>em</strong>ocracia no Brasil: Dil<strong>em</strong>as e Perspectivas, org. Reis e O’Donnel. São Paulo. ed. Vértice.<br />
Almeida, M. (1996) <strong>–</strong> Pragmatismo por Necessidade: Os Rumos Econômica no Brasil, In:<br />
DADOS, Rio de Janeiro, vol. 39, pp.213-234.<br />
Andersen, C. (1985) <strong>–</strong> Politics against Markets: The social Road to Power. Princeton University<br />
Press.<br />
25
Armingeon, K. (1999) <strong>–</strong> Interest Intermediation: the cases of Consociational D<strong>em</strong>ocracy and<br />
Corporatism. Ed. K<strong>em</strong>an. Comparative Politics New Directions in Theory and Method. VU Press.<br />
Beck, Katz, Alvarez, Garret, Lange (1993) <strong>–</strong> Government Partisanship, labor organization and<br />
macroeconomic performance: a corrigendum. The American Political Science Review. Vol. 87, n.<br />
4.<br />
Becker, G. (1983) <strong>–</strong> A Theory of competition among pressures groups for political influence. The<br />
Quarterly Journal of Economics. Vol. XCVIII, n. 3.<br />
Bentley, Arthur (1908) <strong>–</strong> The government process. University of Chicago Press.<br />
Bernhard Ebbinghaus and Jelle Visser (1998) <strong>–</strong> When Institutions Matter: Union Growth and<br />
Decline in Western Europe, 1950-95. 30 Mannheim.<br />
Boito, A. (1991) <strong>–</strong> Reforma e persistência da estrutura sindical. O Sindicalismo Brasileiro nos<br />
Anos 80. Paz e Terra.<br />
Boito, A. (1994) <strong>–</strong> De volta para o novo corporativismo: a trajetória política do sindicalismo<br />
brasileiro. São Paulo <strong>em</strong> Perspectiva. Vol. 8, n. 3, pp. 23-28.<br />
Boito, A. Galvão, A. e Marcelino, P. (2000) <strong>–</strong> Brasil: o movimento sindical e popular na década de<br />
2000. OSAL (Buenos Aires: Clacso). Ano X, N. 26. Outubro.<br />
Boreham, P. Compston, H. (1992) <strong>–</strong> Labour mov<strong>em</strong>ent organization and political intervention: the<br />
politics of un<strong>em</strong>ployment in the OECD countries, 1974-1986. European Journal of Political<br />
Research. Vol. 22, pp. 143-170.<br />
Cameron, D. (1978) <strong>–</strong> The expansion of the Public Economy: a comparative analysis. The<br />
American Political Science Association. Vol. 72, pp. 1243 <strong>–</strong> 1261.<br />
Cameron (1984) <strong>–</strong> Societal D<strong>em</strong>ocracy, Corporatism, Labour Quiescence, and the Representation<br />
of Economic Interest in Advanced Capitalist Society. Goldthorpe, org. Order and Conflict in<br />
Cont<strong>em</strong>porary Capitalism<br />
Collir, R and Collier, D. (1979) <strong>–</strong> Induc<strong>em</strong>ents versus Constraints: disaggregating “corporatism”.<br />
The American Political Science Review. Vol. 73, n. 4.<br />
Comin, Alvaro (1994) <strong>–</strong> A experiência de organização das Centrais Sindicais no Brasil. O mundo<br />
do Trabalho. MTE e SESIT. Ed. Scritta.<br />
Compston, Huge (1997) <strong>–</strong> Unions Power, policy-making and un<strong>em</strong>ployment in Western Europe<br />
1972-1993. Comparative Political Studies. Vol. 30, n. 6, pp. 732-751.<br />
Crepaz, M. e Lijphart, A. (1995) <strong>–</strong> Linking and interpretating corporatism and consensus<br />
d<strong>em</strong>ocracy: theory, concepts, and evidence. British Journal of Political Science.<br />
26
Crouch, Colin (1985) <strong>–</strong> Conditions for trade union restraint. Lindberg e Maier, org. The Politics of<br />
Inflation and Economic Stagnation. Brookings institution.<br />
Dahl, Robert (1961) <strong>–</strong> Who Governs? D<strong>em</strong>ocracy and Power in an American City. Yale University<br />
Press.<br />
Ebbinghaus, B. and J. Visser (2000), The Societies of Europe, Trade Unions in Western Europe<br />
since 1945, Macmillan, London.<br />
Ferrera, M. (1996) <strong>–</strong> The 'southern model' of welfare in social Europe. Journal of European Social<br />
Policy, 6, 17-37.<br />
Golden, Miriam (1993) <strong>–</strong> The dynamics of trade unionism and national economic performance.<br />
APSR, vol. 87, n. 2.<br />
Golden, M. A., M. Wallerstein and P. Lange (1999) <strong>–</strong> Postwar Trade-Union Organization and<br />
Industrial Relations in Twelve Countries', in H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks and J. Stephens<br />
(eds), Continuity and Change in Cont<strong>em</strong>porary Capitalism pp. 194-230 (New York: Cambridge<br />
University Press).<br />
Goldthorpe, John. (1984) <strong>–</strong> Introduction. Order and Conflict in Comt<strong>em</strong>porary Capitalism: Studies<br />
in the Political Economy of West European Nations. Claredon Paperbacks.<br />
Jelle Visser (2006) <strong>–</strong> Union m<strong>em</strong>bership statistics in 24 countries. Monthly Labor Review<br />
Jelle Visser (2009) <strong>–</strong> ICTWSS Database, Database on Institutional Characteristics of Trade<br />
Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts in 34 countries between 1960 and 2007,<br />
Institute for Advanced Labour Studies, AIAS, University of Amsterdam, Amsterdam.<br />
http://www.uva-aias.net<br />
Driffill, John (2006) <strong>–</strong> The Centralization of Wage Bargaining Revisited. What have we learned? A<br />
paper prepared for a s<strong>em</strong>inar at The European Institute, LSE, in the series.<br />
Kenworthy, L. (2002) <strong>–</strong> Corporatism and Un<strong>em</strong>ployment in the 1980s and 1990s. American<br />
Sociological Review. Vol. 67, pp. 367-388.<br />
Lange, P e Garret, G. Michel, A. (1991) <strong>–</strong> Government, Partisanship, Labor Organization, and<br />
Macroecnomic Performance. American Political Science Review. Vol. 85, pp. 539-556.<br />
Calmfors, Lars e Drill, John. (1988) <strong>–</strong> Bargaining structure, corporatism, and macroeconomic<br />
performance, Economic Policy. Vol. 6, pp. 12-61.<br />
Lehmbruch G. (1979) <strong>–</strong> Liberal corporatism and party government. In P. Schmitter and G.<br />
Lehmbruch (eds), Trends towards Corporatist Intermediation. London: Sage, pp. 147<strong>–</strong>83 (first<br />
published in Comparative Political Studies, 10, 1977).<br />
27
Lehmbrunch (1984) <strong>–</strong> Consertation and structure of corporatist networks. Patterns of corporatist<br />
policy-making / editors, Gerhard Lehmbruch & Philippe C. Schmitter (1982). Sage modern politics<br />
series. Vol. 7 Sage Publications. London<br />
Lehmbruch, G. (1993) <strong>–</strong> Corporatism. American Political Science Review. Vol.87, n. 4.<br />
Mitchell, N. (1996) <strong>–</strong> Theoretical and <strong>em</strong>pirical Issues in the Comparative Measures of Union<br />
Power and Corporatism. British Journal of Political Science. Notes and Comments, pp. 419-428.<br />
O’Connor, J. (1973) <strong>–</strong> The Fiscal Crisis of the State. New York. ST Martin’s Press.<br />
OECD (1991), Employment Outlook, Chapter 4, Trends in Trade Union M<strong>em</strong>berships, Paris.<br />
OECD (2004) <strong>–</strong> Employment Outlook, Chapter 3, Wage-setting Institutions and Outcomes, Paris.<br />
Offe (1994) <strong>–</strong> Capitalismo Desorganizado<br />
Offe, C. e Wiesenthal, H. (1984) - Duas Lógicas da Ação Coletiva, In: Probl<strong>em</strong>as do Estado<br />
Capitalista, Rio de Janeiro, ed. T<strong>em</strong>po Brasiliense.<br />
Olson, M. (1982) - The Rise and decline of Nations. New Haven. Yale University Press.<br />
________. (1999) <strong>–</strong> A Lógica da Ação Coletiva. São Paulo. Ed. ED<strong>USP</strong>.<br />
Panich, L. (1977) <strong>–</strong> The Development of Corporatism in Liberal D<strong>em</strong>ocracies. Comparative<br />
Political Studies.Vol. 10, n. 1.<br />
Pennings, P. and Vergunst, N. (2000) <strong>–</strong> The Dynamics of Corporatist Institutions: measures and<br />
linkages: the Dutch miracle in comparative perspective. Paper.<br />
Przeworski, A. and Wallerstein, M. (1982) <strong>–</strong> The Structure of Class Conflict in D<strong>em</strong>ocratic<br />
Capitalist Societies. The Ameriacan Political Science Reviw. Vol. 76, n. 2.<br />
Przeworski, A. and Wallerstein, M. (1988) <strong>–</strong> Structural Dependece of state on Capital. The<br />
Ameriacan Political Science Reviw. Vol. 82, n. 1.<br />
Regini, M. (1984) <strong>–</strong> The conditions for political exchange: how concertation <strong>em</strong>erged and<br />
collapsed in Italy and Great Britain. In Goldthorpe, J.H. (ed.) Order and Conflict in Cont<strong>em</strong>porary<br />
Capitalism. Oxford, Clarendon, pp. 124-142.<br />
Riley, N. (1997) <strong>–</strong> Determinants of Union M<strong>em</strong>bership: a review. Labour. Vol. 11, n. 2, pp. 265-<br />
301.<br />
Rodriguês, José (1979) <strong>–</strong> Sindicato e Desenvolvimento no Brasil. Ed. Simbolo.<br />
Rodrigues, Leôncio. (1991) <strong>–</strong> As tendências políticas na formação das centrais sindicais. O<br />
Sindicalismo Brasileiro nos Anos 80. Paz e Terra.<br />
Schmitter, Philippe. (1974) - Still the Century of Corporatism. Review of Politics. Vol. 36, n. 1, pp.<br />
85-131.<br />
________. (1977) <strong>–</strong> Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western<br />
Europe. Comparative Political Studies.Vol. 10, n. 1.<br />
28
________. (1981) <strong>–</strong> Interest intermediation and regime governability in cont<strong>em</strong>porary Western<br />
Europe and north America.<br />
________. (1982) <strong>–</strong> Reflections on where the theory of corporatism has gone and where the praxis<br />
of neo-corporatism may be going. In G. Lehmbruch and P. Schmitter (eds), Patterns of Corporatist<br />
Policy-Making. London: Sage, pp. 259<strong>–</strong>90. Hills: Sage.<br />
________. (1983) <strong>–</strong> D<strong>em</strong>ocratic Theory and Neocorporatit Practice. Social Research.<br />
Schmitter, P. and Groce, J (1997) <strong>–</strong> The Corporatist Sisyphus: past, present, and future. EUI<br />
Working Paper n. 97/04.<br />
Siarof, A. (1999) <strong>–</strong> Corporatism in 24 industrial d<strong>em</strong>ocracies: meaning and measur<strong>em</strong>ent.<br />
European Journal of Political Research. Vol. 36.<br />
Stigler, George (1971) <strong>–</strong> The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and<br />
Manag<strong>em</strong>ent Science. Vol. 2, n. 1.<br />
Traxler, Frans. (1994) <strong>–</strong> Collective bargaining: levels and coverage. In OECD Employment<br />
Outlook 1994, Paris, OECD, pp. 167-191.<br />
____________. (2003) <strong>–</strong> Bargaining (De)centralization, macroeconomic performance and control<br />
over <strong>em</strong>ployment relationship. British Journal of Industrial Relations, Vol. 41, n. 1, pp. 1-17.<br />
Truman, D. (1963) <strong>–</strong> The Governmental Process. Alfred Knopf<br />
Tullock. G. (1993) <strong>–</strong> Rent seeking. Cambridge. Cambridge University Press.<br />
Visser, J. (1992) <strong>–</strong> The Strength of Union Mov<strong>em</strong>ents in Advanced Capitalist D<strong>em</strong>ocracies: social<br />
and organizational variations. Future of Labour Mov<strong>em</strong>ents org. Marino Regini.. SAGE.<br />
Visser, Jelle (2006) <strong>–</strong> Union m<strong>em</strong>bership statistics in 24 countries. Monthly Labor Review. Janeiro,<br />
pp. 38-49.<br />
Wallerstein (1989) <strong>–</strong> Centralização sindical e dependências face ao comércio: origens do<br />
corporativismo d<strong>em</strong>ocrático. DADOS Vol. 32, Nº 1<br />
Wallerstein Michael Golden Miriam (2006) <strong>–</strong> Union Centralization among Advanced Industrial<br />
Societies: Update to 1995/2000. Version 3.<br />
29