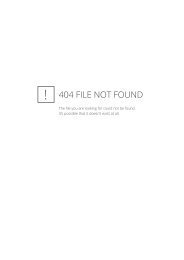fundação getulio vargas escola de administração de empresas de ...
fundação getulio vargas escola de administração de empresas de ...
fundação getulio vargas escola de administração de empresas de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS<br />
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO<br />
ANE KATRINE BLIKSTAD MARINO<br />
UM OLHAR MULTICULTURAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA<br />
INDÍGENAS NO GOVERNO FEDERAL<br />
SÃO PAULO<br />
2010
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS<br />
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO<br />
ANE KATRINE BLIKSTAD MARINO<br />
UM OLHAR MULTICULTURAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA<br />
INDÍGENAS NO GOVERNO FEDERAL<br />
Dissertação Apresentada à Escola <strong>de</strong><br />
Administração <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> São Paulo<br />
da Fundação Getulio Vargas, como requisito<br />
para obtenção do título <strong>de</strong> Mestre em<br />
Administração Pública e Governo.<br />
Campo <strong>de</strong> Conhecimento:<br />
Transformação do Estado e Políticas Públicas<br />
Orientador: Profª. Dra. Ana Cristina Braga Martes<br />
SÃO PAULO<br />
2010
Blikstad Marino, Ane Katrine.<br />
Um Olhar Multicultural Sobre as Políticas Públicas Para Indígenas no Governo Fe<strong>de</strong>ral /<br />
Ane Katrine Blikstad Marino. – 2010.<br />
150 f.<br />
Orientador: Ana Cristina Braga Martes<br />
Dissertação (mestrado) - Escola <strong>de</strong> Administração <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> São Paulo.<br />
1. Multiculturalismo. 2. Políticas Públicas. 3. Índios da América do Sul -- Brasil. 4.<br />
Educação intercultural. I. Martes, Ana Cristina Braga. II. Dissertação (mestrado) - Escola <strong>de</strong><br />
Administração <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> São Paulo. III. Título.<br />
CDU 35(=87)
ANE KATRINE BLIKSTAD MARINO<br />
UM OLHAR MULTICULTURAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA<br />
INDÍGENAS NO GOVERNO FEDERAL<br />
Dissertação Apresentada à Escola <strong>de</strong><br />
Administração <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> São Paulo da<br />
Fundação Getulio Vargas, como requisito para<br />
obtenção do título <strong>de</strong> Mestre em<br />
Administração Pública e Governo.<br />
Campo <strong>de</strong> Conhecimento:<br />
Transformação do Estado e Políticas Públicas<br />
Data <strong>de</strong> Aprovação<br />
__/__/____<br />
Banca examinadora:<br />
________________________<br />
Profª. Dra. Ana Cristina Braga Martes<br />
(Orientadora)<br />
FGV-EAESP<br />
________________________<br />
Prof. Dr. Luís Donisete Benzi Grupioni<br />
Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo<br />
________________________<br />
Prof. Dr. Peter Kevin Spink<br />
FGV-EAESP
Para o meu indiozinho.
Agra<strong>de</strong>cimentos<br />
Esta po<strong>de</strong> parecer para muitos a parte mais fácil do trabalho, mas eu a consi<strong>de</strong>ro tão<br />
<strong>de</strong>licada quanto qualquer outra, posto que tive ajuda dos mais diversos tipos, subjetivos e<br />
objetivos. Assim, com o propósito <strong>de</strong> reconhecimento <strong>de</strong> todos que colaboraram, faço <strong>de</strong><br />
imediato um agra<strong>de</strong>cimento geral a qualquer pessoa que tenha passado por meus caminhos<br />
durante todo o processo <strong>de</strong>ste estudo.<br />
Começo pelos índios da al<strong>de</strong>ia Caçula <strong>de</strong> Canarana (MT) que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início, foram muito<br />
receptivos comigo e permitiram-me a pesquisa <strong>de</strong> campo, ainda que eu não a tenha<br />
realizado, assim como os amigos da região urbana <strong>de</strong> Canarana que, por bom tempo<br />
buscaram as informações <strong>de</strong> que eu necessitava, já que havia limites físicos para a<br />
comunicação com a al<strong>de</strong>ia.<br />
Agra<strong>de</strong>ço também ao Prof. Carlos Fausto e a Cesar Gordon, que foram bastante receptivos<br />
com a minha proposta e me indicaram muitas leituras inspiradoras.<br />
Ainda com relação à primeira fase do projeto, que previa pesquisa <strong>de</strong> campo, agra<strong>de</strong>ço à<br />
confiança e à ajuda do Professor Senador Eduardo Suplicy, que escreveu uma carta <strong>de</strong><br />
apresentação sobre meu trabalho, enviada para a Funai com meu pedido <strong>de</strong> autorização <strong>de</strong><br />
ingresso em terras indígenas.<br />
Já no segundo momento, correspon<strong>de</strong>nte ao atual resultado, agra<strong>de</strong>ço a todos os<br />
entrevistados que me acolheram com solicitu<strong>de</strong>: Jurandir Siridiwê, Felipe Milanez, Jorge Luiz<br />
Teles, Ricardo Henriques e Kleber Gesteira Matos.<br />
Não po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> mencionar alguns dos meus amigos e colegas <strong>de</strong> mestrado que<br />
conversavam comigo sobre o assunto e/ou me enviavam material que po<strong>de</strong>ria ser <strong>de</strong> alguma
valia para a dissertação, como a Cássia Roquetto Fernan<strong>de</strong>s, Maurício Silva Correia, Mariana<br />
Ferreti Lippi, Cristina Sydow, Ana Paula Rocha, Marcelo Maia.<br />
Agra<strong>de</strong>ço a toda a minha turma <strong>de</strong> mestrado TEPP, que esteve muito unida. Nós sempre<br />
apoiamos uns aos outros ao longo <strong>de</strong>sta jornada. Em especial, recordo o encontro do final<br />
do primeiro ano (2008) na casa do Beni.<br />
Minha gratidão à FGV como um todo, pela infraestrutura que me ofereceu, pela<br />
oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> melhor pon<strong>de</strong>ração, especialmente com os créditos <strong>de</strong> “Métodos <strong>de</strong><br />
Pesquisa”, e também à equipe <strong>de</strong> funcionários da secretaria, da coor<strong>de</strong>nação e da biblioteca.<br />
Em suma, obrigada por toda a formação que tive nesses últimos dois anos.<br />
Agra<strong>de</strong>ço ao Núcleo <strong>de</strong> Pesquisa Gestão e Diversida<strong>de</strong> do Programa <strong>de</strong> Gestão Pública e<br />
Cidadania, <strong>de</strong> que participei <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início e que me proporcionou uma experiência única,<br />
especialmente pela compatibilida<strong>de</strong> do tema da minha dissertação com os estudados no<br />
Núcleo, o que favoreceu muitas reflexões para esta análise. Minhas amigas e colegas <strong>de</strong><br />
trabalho sempre foram muito interessadas em saber sobre o andamento da pesquisa: Rocío<br />
Alonso Lorenzo, Natalia Navarro dos Santos e Luciana Coentro.<br />
Preciso fazer uma referência especial à Cybele Giannini, que garantiu a flui<strong>de</strong>z <strong>de</strong>sta<br />
dissertação, com todas as correções, além da paciência que teve com os imprevistos que<br />
alteraram nosso cronograma.<br />
Obrigada à minha banca <strong>de</strong> qualificação do projeto, composta pelos Professores Peter K.<br />
Spink, Luís Donisete Benzi Grupioni, além <strong>de</strong> à minha orientadora. Não tenho palavras para<br />
expressar o quão valiosos eles foram para minha formação acadêmica. Foi um dos gran<strong>de</strong>s<br />
momentos <strong>de</strong> gratificação, porque só ouvi críticas construtivas e incentivos para dar
continuida<strong>de</strong> a este árduo trabalho. O modo como esses professores se portaram em<br />
relação à minha proposta <strong>de</strong> pesquisa só me fez admirar ainda mais essa área. Assim não<br />
houve dúvida em manter a mesma formação <strong>de</strong> banca para a apresentação final <strong>de</strong>sta<br />
dissertação.<br />
Meu reconhecimento à minha orientadora, Profª. Ana Cristina Braga Martes, que nunca<br />
“<strong>de</strong>ixou minha peteca cair”. Não po<strong>de</strong>ria ficar mais feliz com os esclarecimentos que recebi<br />
ao longo <strong>de</strong> todo o Mestrado. Ela soube com maestria incentivar-me nos momentos <strong>de</strong><br />
incerteza e angústia e impor o rigor da disciplina, necessário para este trabalho ser<br />
concluído. Também <strong>de</strong>vo fazer menção a seu marido, o Prof. Ronaldo Porto Macedo Júnior,<br />
que sempre procurou saber como andava minha pesquisa, me sugeriu leituras e participou<br />
<strong>de</strong> várias discussões sobre o tema quando eu ia à casa da Cris.<br />
Agra<strong>de</strong>ço a meus pais, Eric e Jussára, à minha irmã Rebeka, a meu cunhado Torstein e a<br />
meus irmãos, Mikhael e Nathan, que foram muito compreensivos com tantas ausências<br />
minhas em razão das <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong>ste trabalho. Não posso <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> elogiar o empenho <strong>de</strong><br />
minha mãe em sempre me trazer recortes <strong>de</strong> jornais e revistas que ela consi<strong>de</strong>rava<br />
interessante para este estudo.<br />
Enalteço meu marido e companheiro, Rodolfo, pelo apoio incondicional a minhas tomadas<br />
individuais <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão sobre o percurso que eu faria ao longo do mestrado, assim como pelo<br />
comprometimento com as <strong>de</strong>cisões familiares. Sua paciência e incentivo foram<br />
fundamentais para este projeto. Soube estimular-me a dar o melhor <strong>de</strong> mim e não mediu<br />
esforços para promover discussões bem embasadas (por muitas noites nossas conversas<br />
versavam somente sobre esse tema). Assim, faltam-me palavras para expressar toda a<br />
minha gratidão. Por fim, eu <strong>de</strong>veria fazer este último agra<strong>de</strong>cimento no parágrafo seguinte,
mas a situação permite que eu o faça neste mesmo: ao nosso querido filho, por estar<br />
proporcionando à sua mãe uma gestação tão tranquila durante todo o trabalho.
Resumo<br />
Este trabalho parte da premissa <strong>de</strong> que as políticas públicas universalistas não po<strong>de</strong>m ser<br />
concebidas uniformemente para uma população sem se consi<strong>de</strong>rarem as diferenças<br />
culturais, porque tal situação comprometeria os resultados <strong>de</strong>sejados.<br />
Para elucidarmos melhor tal premissa, selecionamos a questão indígena brasileira. A<br />
referência teórica <strong>de</strong>sta pesquisa, o multiculturalismo, é estrangeira, portanto não<br />
ignoramos as limitações e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> adaptação <strong>de</strong> que necessita quando<br />
transportada para a realida<strong>de</strong> brasileira.<br />
De duas análises já existentes sobre o nível <strong>de</strong> políticas multiculturais nos países Latinos,<br />
comparamos a situação do Brasil com os outros países a fim <strong>de</strong> formar uma idéia geral sobre<br />
o contexto brasileiro em relação aos <strong>de</strong>mais.<br />
A pesquisa, então, parte da revisão das condições históricas dos indígenas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos<br />
1970 e é complementada com indicadores <strong>de</strong>mográficos das populações autóctones<br />
cotejadas com a nacional. Nesse momento já po<strong>de</strong>mos apontar as dificulda<strong>de</strong>s no aspecto<br />
normativo das políticas públicas multiculturais. Uma análise <strong>de</strong>talhada das propostas <strong>de</strong><br />
políticas públicas específicas para os indígenas, no Plano Plurianual <strong>de</strong> 2008-2011 do<br />
Governo Fe<strong>de</strong>ral, indica possíveis contradições entre diferentes programas e ações.<br />
Também verificamos a forma como o Ministério da Educação (MEC) e a sua Secretaria<br />
específica (SECAD/MEC) abordam a questão da diversida<strong>de</strong> cultural, na <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> programas<br />
e ações sob perspectiva diferente dos do multiculturalismo.
Finalizamos com um estudo dos limites e das oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sse tratamento na questão<br />
indígena no Brasil, do que se conclui que há um movimento incipiente pró-multiculturalismo<br />
no país.
Abstract<br />
This dissertation starts from the i<strong>de</strong>a that universal public policies cannot be conceived<br />
uniformly, without taking into consi<strong>de</strong>ration the cultural differences, since the results of<br />
those policies may compromise the <strong>de</strong>sired outcomes.<br />
In or<strong>de</strong>r to better explore this i<strong>de</strong>a, the issue of indigenous peoples in Brazil was selected.<br />
‘Multiculturalism’ is the theoretical approach adopted, but the research consi<strong>de</strong>rs its<br />
possible shortcomings and adaptations when applied to the Brazilian context.<br />
By two existent analyses, the Brazilian policies for indigenous people are compared to those<br />
of other Latin American countries in or<strong>de</strong>r to form a general view of the Brazilian context.<br />
Next, the history of the indigenous people in Brazil since 1970’s is reviewed and<br />
complemented by an analysis of the <strong>de</strong>mographic indicators, compared to those of the rest<br />
of the Brazilian population. At this point, the normative difficulties for crafting multicultural<br />
policies are highlighted. A <strong>de</strong>tailed analysis of Pluriannual Plan (2008-2011) of Brazilian<br />
fe<strong>de</strong>ral government fleshes out possible contradictions of different programs.<br />
The role of the Ministry of Education regarding its approach to cultural diversity is then<br />
analysed, including its differences with the “multicultural” approach.<br />
In the end, we approach the limits and opportunities of the theory to the Brazilian<br />
indigenous people, which lead us to conclu<strong>de</strong> that there is an incipient movement pro-<br />
multiculturalist in Brazil.
Lista <strong>de</strong> Tabelas, Figura e Quadro<br />
Tabela 1 – Os enfoques dos níveis <strong>de</strong> análise<br />
Tabela 2 – Os quatro instrumentos internacionais, vigentes na América Latina, sobre<br />
indígenas<br />
Tabela 3 – Países da América Latina que ratificaram tratados internacionais sobre a temática<br />
indígena<br />
Tabela 4 – Provisões constitucionais sobre os povos indígenas<br />
Tabela 5 – Políticas multiculturais para os indígenas na América Latina<br />
Tabela 6 – Ranking <strong>de</strong> adoção <strong>de</strong> políticas multiculturais dos países da América Latina<br />
Tabela 7 – Os objetivos <strong>de</strong> governo do PPA 2008-2011<br />
Tabela 8 – Objetivos <strong>de</strong> governo e os indígenas<br />
Tabela 9 – Fun<strong>de</strong>b: Coeficiente <strong>de</strong> distribuição <strong>de</strong> recursos por modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino<br />
Figura 1 – A estrutura do PPA 2008-2011<br />
Quadro 1 – Multiculturalismo: Limites e Oportunida<strong>de</strong>s da Abordagem Para a Questão<br />
Indígena no Brasil
Glossário <strong>de</strong> Siglas e Abreviações<br />
Funai – Fundação Nacional do Índio;<br />
MEC – Ministério da Educação;<br />
INEP – Instituto Nacional <strong>de</strong> Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;<br />
IBGE – Instituto Brasileiro <strong>de</strong> Geografia e Estatísticas;<br />
ISA – Instituto Socioambiental<br />
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization<br />
III – Instituto Indigenista Interamericano<br />
OIT – Organização Internacional do Trabalho<br />
AL – América Latina<br />
SPI – Serviço <strong>de</strong> Proteção ao Índio<br />
ONG – Organização Não Governamental<br />
Funasa – Fundação Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
OMS – Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
PPA – Plano Plurianual<br />
SECAD – Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong><br />
MJ – Ministério da Justiça<br />
LDB – Lei das Diretrizes e Bases <strong>de</strong> Educação Nacional<br />
CNE – Conselho Nacional <strong>de</strong> Educação<br />
SIL – Summer Institute of Linguistics<br />
Fun<strong>de</strong>b – Fundo <strong>de</strong> Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e <strong>de</strong> Valorização<br />
dos Profissionais da Educação<br />
FNDE – Fundo Nacional <strong>de</strong> Desenvolvimento da Educação<br />
Prouni – Programa Universida<strong>de</strong> para Todos
Sumário<br />
1. Introdução...................................................................................................................... 16<br />
2. Metodologia ................................................................................................................... 21<br />
3. A Abordagem Multicultural ............................................................................................ 25<br />
3.1. Uma Definição Preliminar ................................................................................................ 28<br />
3.2. Ambiguida<strong>de</strong> e Obscurida<strong>de</strong> da Abordagem Multicultural ............................................... 31<br />
3.3. Três Autores, Duas Vertentes do Multiculturalismo ......................................................... 34<br />
3.3.1. Charles Taylor: Democracia e Multiculturalismo .......................................................... 34<br />
Reconhecimento e I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> .................................................................................................. 37<br />
Políticas igualitárias inóspitas às diferenças .............................................................................. 40<br />
3.3.2. Will Kymlicka: E Como os Índios Entram Nessa História? .............................................. 43<br />
Os Conquistados-Colonizados e os Imigrantes .......................................................................... 44<br />
O Conflito Entre Direitos Individuais e Direitos Coletivos .......................................................... 48<br />
O Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x ................................................................................................. 51<br />
3.3.3. Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos: Referência “Oficial” no Brasil ......................................... 55<br />
Condições Para Uma Política Emancipatória ............................................................................. 57<br />
Os Direitos Humanos Como Culturas e a Globalização Como Formas <strong>de</strong> Manifestação da Cultura<br />
................................................................................................................................................. 58<br />
Premissas Para Uma Política Multicultural Emancipatória ......................................................... 60<br />
O Diálogo Intercultural ............................................................................................................. 62<br />
3.4. Uma Sistematização Possível ........................................................................................... 66<br />
4. O Brasil Indígena no Contexto Latino .............................................................................. 73<br />
4.1. No Cenário dos Tratados Internacionais e Declarações .................................................... 74<br />
4.2. A aplicação da abordagem: Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x ................................................ 82<br />
4.3. Comparações Possíveis .................................................................................................... 87<br />
5. O Brasil e a Questão Indígena ......................................................................................... 89<br />
5.1. Histórico .......................................................................................................................... 91<br />
5.2. População Indígena no Brasil: Alguns Indicadores ............................................................ 99<br />
6. O Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 Incorpora Preocupações Multiculturais? .............. 106<br />
7. Educação na Diversida<strong>de</strong> ................................................................................................... 113<br />
7.1. Educação Escolar Indígena ............................................................................................. 120
7.1.1 Programas Educacionais com Recorte Específico Para Indígenas .................................... 128<br />
8. Conclusão ..................................................................................................................... 137<br />
Referências .......................................................................................................................... 143<br />
Anexos ................................................................................................................................. 148
1. Introdução<br />
O objetivo inicial aqui era o <strong>de</strong> estudar os impactos que políticas públicas <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong><br />
renda, em particular o Programa Bolsa-Família, tinham sobre uma al<strong>de</strong>ia específica, após<br />
nossa visita informal ao lugar, que ocorreu rapidamente, em julho <strong>de</strong> 2008, à al<strong>de</strong>ia indígena<br />
Caçula, na região do Mato Grosso, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Canarana. Daí surgiu a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong>sta proposta<br />
<strong>de</strong> pesquisa.<br />
A partir <strong>de</strong>sse insight, entramos em contato com pessoas que conheciam o Programa Bolsa-<br />
Família e al<strong>de</strong>ias indígenas. Tivemos as primeiras conversas com alguns cidadãos do<br />
município sobre a percepção pessoal da relação dos índios das al<strong>de</strong>ias vizinhas com os<br />
moradores da cida<strong>de</strong>.<br />
Maria Olga Reyes, que trabalhou como professora em uma al<strong>de</strong>ia indígena, narrou casos <strong>de</strong><br />
conflito entre índios e habitantes da cida<strong>de</strong>, o que indicava como essas relações eram<br />
influenciadas pelas diferenças culturais.<br />
Por termos graduação em Administração Pública, não pu<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> pensar a respeito<br />
do que observamos naquela comunida<strong>de</strong>: índios que esperavam, no final do mês, receber o<br />
auxílio do Programa Bolsa-Família para comprar seus mantimentos em mercados locais. Isso<br />
criou neles uma relação <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência do Governo e do comércio local. Não <strong>de</strong>vemos<br />
generalizar essa mudança <strong>de</strong> padrão <strong>de</strong> consumo em função <strong>de</strong> um programa fe<strong>de</strong>ral, mas<br />
suspeitamos que projetos governamentais não atentam suficientemente para a cultura dos<br />
beneficiários, <strong>de</strong> modo que há interferências na lógica própria <strong>de</strong> organização social e<br />
econômica da comunida<strong>de</strong>; neste caso, a indígena.<br />
16
Realizamos aqui uma análise que antece<strong>de</strong> o questionamento dos efeitos <strong>de</strong> políticas<br />
públicas universalizadoras, aplicadas a distintos grupos populacionais, em particular aos<br />
indígenas, sem consi<strong>de</strong>rar seriamente as diferenças culturais dos beneficiários como variável<br />
fundamental para resultados.<br />
Nossa proposta é a <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r os limites e as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uma abordagem<br />
multicultural nas políticas públicas fe<strong>de</strong>rais, relativamente aos indígenas. Em substituição à<br />
pesquisa <strong>de</strong> campo, esta dissertação tem, como base, documentos oficiais e estudos<br />
(acadêmicos) <strong>de</strong> diversos autores.<br />
Não há teoria que discorra sobre toda a complexida<strong>de</strong> das relações humanas, cercadas pelas<br />
próprias diversida<strong>de</strong>s culturais, sociais, religiosas, <strong>de</strong> gênero, <strong>de</strong> minorias como “verda<strong>de</strong><br />
absoluta”, mas selecionamos para este trabalho um tratamento especialmente relevante no<br />
que diz respeito à aplicabilida<strong>de</strong> em políticas públicas voltadas para as minorias.<br />
Assim, o foco <strong>de</strong>ste estudo está na questão indígena compreendida como minoria 1 e revê<br />
parte da literatura da Filosofia Política naquilo que po<strong>de</strong> ser agregado ao tema principal aqui<br />
examinado: políticas públicas, caso contrário, o mestrado não po<strong>de</strong>ria ser <strong>de</strong> Administração<br />
Pública – Transformações do Estado e Políticas Públicas.<br />
Pela proposição <strong>de</strong> que vários programas com que os índios são contemplados possuem<br />
abrangência nacional sem levar em conta as diferenças culturais da população brasileira, os<br />
resultados seriam consistentes com os objetivos, ou estariam comprometendo a eficácia das<br />
políticas?<br />
1 Como veremos ao longo <strong>de</strong>sta dissertação, a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> minoria sofrerá alterações significativas entre a<br />
teoria e a aplicação na realida<strong>de</strong> brasileira.<br />
17
Partimos do pressuposto <strong>de</strong> que tais políticas públicas, concebidas uniformemente para<br />
segmentos vulneráveis da população, não porque são pobres, mas porque são minorias,<br />
<strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ram as especificida<strong>de</strong>s socioculturais <strong>de</strong>sses segmentos, mormente as <strong>de</strong> caráter<br />
étnico-cultural. Os indícios são <strong>de</strong> que os índios abandonam uma realida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência<br />
da natureza, para se tornarem reféns <strong>de</strong> outra realida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> extrema pobreza e <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>pendência do Governo. Em outras palavras,<br />
[d]e um lado, estabelecem laços permanentes <strong>de</strong> articulação e <strong>de</strong>pendência<br />
com o mercado, <strong>de</strong> outro, tornam-se <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes tanto da proteção do<br />
Estado (<strong>de</strong>marcação e garantia <strong>de</strong> territórios, atendimento à saú<strong>de</strong>, projetos<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento econômico, etc.) quanto <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s indigenistas civis<br />
e agências <strong>de</strong> outra or<strong>de</strong>m, com as quais po<strong>de</strong>m conjunturalmente<br />
estabelecer alianças. (ARRUDA, 2001, p.51)<br />
Tais relações são resultado <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> reor<strong>de</strong>nação sociocultural contraditório e<br />
ambíguo que ocorre nas socieda<strong>de</strong>s indígenas após a primeira fase <strong>de</strong> contato com a<br />
socieda<strong>de</strong> nacional. E, para melhor explicar esse cenário, a abordagem multicultural é<br />
analisada e avaliada como ferramenta para a revisão das políticas públicas atuais.<br />
Estudaremos três autores que nos fornecerão um embasamento teórico sobre o<br />
multiculturalismo, com a ressalva <strong>de</strong> que esta abordagem é estrangeira e precisa <strong>de</strong><br />
adaptações à realida<strong>de</strong> brasileira.<br />
Em seguida, situaremos o Brasil no contexto latino-americano multicultural <strong>de</strong> maneira<br />
ampla para facilitar nosso ingresso no indigenismo brasileiro. São dois estudos <strong>de</strong> autoras<br />
estrangeiras que se baseiam em previsões <strong>de</strong> direitos nas constituições e em documentos<br />
internacionais.<br />
18
Assim, entramos no Brasil e na questão indígena com um histórico dos movimentos <strong>de</strong>sses<br />
povos da década <strong>de</strong> 1970 até a atualida<strong>de</strong>. Essa contextualização se faz necessária para<br />
compreen<strong>de</strong>rmos a construção das políticas públicas e dos direitos diferenciados para os<br />
índios.<br />
Não po<strong>de</strong>ríamos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> trazer dados estatísticos <strong>de</strong>sses grupos sobre saú<strong>de</strong> e educação e<br />
compará-los à situação nacional, para a <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> tratamento dos aspectos culturais nos<br />
programas <strong>de</strong> governo.<br />
Por o multiculturalismo não aceitar a neutralida<strong>de</strong> do Estado, propomos uma avaliação do<br />
Planejamento Plurianual (2008-2011) para captarmos a visão do atual Governo sobre as<br />
questões indígenas sob o prisma da abordagem multicultural, isto é, relacionaremos<br />
algumas dúvidas e pontos relevantes para colaborar com o processo <strong>de</strong> conclusão sobre esse<br />
tratamento nas políticas públicas.<br />
Por fim, optamos pela educação, justamente pela relevância <strong>de</strong>sse setor na formação da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional e na das minorias.<br />
Primeiramente, tratamos da secretaria responsável pela Diversida<strong>de</strong> (Secretaria <strong>de</strong> Educação<br />
Continuada e Alfabetização, Diversida<strong>de</strong> - SECAD), exatamente para lhe compreen<strong>de</strong>rmos o<br />
posicionamento quanto à diversida<strong>de</strong> cultural do país. Em segundo lugar, i<strong>de</strong>ntificamos dois<br />
programas com recortes específicos para os indígenas: um que observa a questão cultural e<br />
outro, uma questão muito pertinente no Brasil, a da <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social.<br />
Acreditamos que, ao estudar os indígenas, também estaremos esten<strong>de</strong>ndo o olhar à própria<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira e verificando como ela se relaciona com suas minorias.<br />
19
Guardadas as proporções, este processo po<strong>de</strong>rá ser similar aos trabalhos <strong>de</strong> Roberto<br />
Cardoso <strong>de</strong> Oliveira e Florestan Fernan<strong>de</strong>s que, ao estudarem a “fricção interétnica” <strong>de</strong><br />
índios e brancos e a integração dos negros na socieda<strong>de</strong> respectivamente, criaram<br />
“indicadores sociológicos” para pensar e compreen<strong>de</strong>r com maior profundida<strong>de</strong> a socieda<strong>de</strong><br />
nacional 2 .<br />
2 Ver artigo <strong>de</strong> Bianca Wild (2007), disponível em: , acesso<br />
em 2010.<br />
20
2. Metodologia<br />
Este trabalho procura examinar como a abordagem teórica do multiculturalismo po<strong>de</strong><br />
contribuir (ou não) para iluminar a questão indígena brasileira do ponto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> políticas<br />
públicas e, em particular, clarear as políticas e os programas <strong>de</strong> educação indígena no<br />
âmbito fe<strong>de</strong>ral.<br />
A fim <strong>de</strong> possibilitar um diálogo entre o nível abstrato da abordagem teórica (normativa) e<br />
as práticas (ver Tabela 1), optamos por aplicar a primeira às dimensões mais normativas das<br />
políticas públicas fe<strong>de</strong>rais indígenas, que incluem entrevistas com atores qualificados e<br />
documentos formais (ex: PPA, <strong>de</strong>cretos e resoluções) que exprimem claramente os objetivos<br />
dos programas, seu <strong>de</strong>senho e o impacto esperado.<br />
Sabemos, evi<strong>de</strong>ntemente, que, na prática, os projetos dificilmente são implantados da forma<br />
como foram concebidos e que inclusive sofrem ajustes localmente. Como nossa análise se<br />
dará em termos do governo fe<strong>de</strong>ral, as conclusões <strong>de</strong>sta dissertação <strong>de</strong>vem ser<br />
consi<strong>de</strong>radas com essa ressalva.<br />
Estudos futuros po<strong>de</strong>rão ser complementares a este se levar em conta os processos e as<br />
ambiguida<strong>de</strong>s existentes na formulação e na implementação das políticas.<br />
A pesquisa por documentos e informações oficiais que foi necessário realizar para<br />
contextualizar a situação dos povos indígenas brasileiros advém majoritariamente dos<br />
seguintes websites governamentais: Presidência, Fundação Nacional do Índio – FUNAI,<br />
Ministério da Educação – MEC, Instituto Nacional <strong>de</strong> Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio<br />
Teixeira – INEP, Instituto Brasileiro <strong>de</strong> Geografia e Estatísticas – IBGE, Ministério do<br />
Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, porém, em algumas ocasiões, as informações não<br />
21
estavam atualizadas, disponíveis ou não foi possível ter acesso a algumas páginas, daí a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> outras serem extraídas <strong>de</strong> websites não governamentais, como o Instituto<br />
Socioambiental – ISA.<br />
Tabela 1 – Os enfoques dos níveis <strong>de</strong> análise<br />
Nível <strong>de</strong> Análise /<br />
Enfoque<br />
Multiculturalismo<br />
Políticas Públicas<br />
Programas<br />
Descritivo/Empírico Normativo<br />
Convivência <strong>de</strong> grupos<br />
diferenciados<br />
culturalmente num<br />
mesmo território<br />
Processo <strong>de</strong> disputas,<br />
marcado por<br />
ambiguida<strong>de</strong>s, entre<br />
órgãos, atores, esferas<br />
<strong>de</strong> governo<br />
Processo <strong>de</strong> efetiva<br />
implementação dos<br />
programas “na ponta”.<br />
Leva em consi<strong>de</strong>ração,<br />
p.ex. A percepção dos<br />
usuários e o street-level<br />
bureaucracy<br />
Fonte: elaboração própria, utilizando COLEBATCH (2002, p.62)<br />
Prescreve modos <strong>de</strong><br />
solucionar os<br />
“problemas” da<br />
convivência entre<br />
pessoas e entre<br />
diferentes grupos<br />
culturais nas socieda<strong>de</strong>s<br />
plurais<br />
Objetivos<br />
legitimamente<br />
<strong>de</strong>finidos e seguidos<br />
racionalmente (ex:<br />
PPA)<br />
Análise do <strong>de</strong>senho do<br />
programa (ex: públicoalvo,<br />
critérios <strong>de</strong><br />
elegibilida<strong>de</strong>, etc.) e<br />
sua coerência com<br />
objetivos mais gerais <strong>de</strong><br />
governo.<br />
Além disso, há elementos que po<strong>de</strong>riam estar mais atualizados e isso não se <strong>de</strong>ve a<br />
problemas <strong>de</strong> acesso. A seção População Indígena no Brasil: Alguns Indicadores é criada<br />
por meio <strong>de</strong> informações que po<strong>de</strong>riam ser mais atuais, mas que, na verda<strong>de</strong>, datam <strong>de</strong><br />
2005 e 2006. Decidimos consi<strong>de</strong>rá-las assim mesmo por não acreditarmos que o panorama<br />
tenha mudado significativamente nos últimos quatro anos e, <strong>de</strong>ssa forma, aproveitarmos<br />
trabalhos que já haviam manipulado os dados primários.<br />
22
No início do projeto, para melhor compreen<strong>de</strong>rmos a questão indígena no Brasil,<br />
entrevistamos Jurandir Siridiwê, presi<strong>de</strong>nte do Instituto das Tradições Indígenas – IDETI –, o<br />
que nos permitiu inferir, antes mesmo <strong>de</strong> sabermos qual seria o recorte mais preciso do<br />
trabalho, que o assunto (multiculturalismo) não só era interessante para nós, como estava<br />
presente nas <strong>de</strong>mandas indígenas por educação e saú<strong>de</strong> diferenciadas, entre outras.<br />
Felipe Milanez, assessor da presidência da Funai (2005-2007), também entrevistado,<br />
confirmou nossas expectativas <strong>de</strong> trabalho, além <strong>de</strong> contribuir para a reflexão sobre o papel<br />
da Funai.<br />
Todavia a não utilização do termo multiculturalismo nas leis, nos <strong>de</strong>cretos ou mesmo em<br />
documentos <strong>de</strong> políticas públicas no Brasil e a preferência pela palavra interculturalida<strong>de</strong>,<br />
além <strong>de</strong> os recortes dos programas da educação fugirem à abordagem multicultural,<br />
pu<strong>de</strong>ram ser mais bem compreendidos pelas conversas com Ricardo Henriques, secretário<br />
da SECAD (2004-2006), Kleber Gesteira Matos, coor<strong>de</strong>nador Geral <strong>de</strong> Apoio às Escolas<br />
Indígenas (2003-2007), e Jorge Luiz Teles, assessor do Secretário (2003 – 2006) e diretor <strong>de</strong><br />
políticas <strong>de</strong> Educação <strong>de</strong> Jovens e Adultos (2006-atualmente).<br />
Esta pesquisa contou com um informante qualificado, Rodolfo Villela Marino, que forneceu<br />
não só os contatos da SECAD, como documentos internos da Secretaria, que contribuíram<br />
<strong>de</strong>cisivamente para as análises <strong>de</strong>sta dissertação.<br />
O multiculturalismo tem suas especificida<strong>de</strong>s e é concebido num contexto muito diferente<br />
do do Brasil, principalmente no que tange aos números das “minorias” brasileiras em<br />
comparação com os dos países <strong>de</strong> origem da abordagem.<br />
23
Como será apresentado ao longo <strong>de</strong>sta dissertação, os negros e pardos brasileiros po<strong>de</strong>m<br />
ser enquadrados em políticas multiculturais, mas com mudanças significativas <strong>de</strong> resultados,<br />
uma vez que a abordagem multicultural prevê os efeitos apenas para grupos numericamente<br />
pequenos, entretanto acreditamos que essas limitações não impe<strong>de</strong>m a reflexão sobre<br />
políticas públicas multiculturais indigenistas.<br />
Uma importante e necessária observação é a <strong>de</strong> que este trabalho tem restrições <strong>de</strong> análises<br />
nas políticas educacionais indigenistas. Como já mencionado, não houve avaliação da<br />
eficácia dos programas educacionais abordados e os que foram escolhidos para relação com<br />
a abordagem multicultural não foram aprofundados. Estudos futuros po<strong>de</strong>rão fazer um<br />
levantamento geral dos programas e <strong>de</strong>talhar o funcionamento <strong>de</strong>les.<br />
Assim, nossa discussão centrou-se fundamentalmente na contribuição do multiculturalismo<br />
para políticas públicas diferenciadas no Brasil.<br />
No próximo capítulo, apresentaremos a abordagem multicultural com <strong>de</strong>finições<br />
preliminares e os três autores selecionados para essa discussão.<br />
24
3. A Abordagem Multicultural<br />
O termo multiculturalismo, em seu sentido estrito, po<strong>de</strong> ser usado tanto para <strong>de</strong>screver a<br />
coexistência <strong>de</strong> diferentes grupos culturais ou étnicos num mesmo território, como também<br />
para prescrever formas <strong>de</strong> equacionar as questões e problemas surgidos pela interação (ou<br />
não) entre as pessoas e esses diferentes grupos <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> pluralista. (MARTUCCELLI,<br />
1996; SILVA, 2006)<br />
Em seu sentido mais amplo, o multiculturalismo também incluiria os movimentos sociais<br />
feministas, o movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis), os raciais (ex:<br />
movimento negro), entre outros recortes sociais que sejam ou possam apresentar-se como<br />
legítimos ao restante da socieda<strong>de</strong>.<br />
Este trabalho vai concentrar-se na abordagem prescritiva (ou normativa) e estrita do<br />
multiculturalismo. Isso porque queremos estudar, sob a ótica <strong>de</strong> um dado arcabouço<br />
normativo, especificamente a questão dos grupos indígenas no Brasil.<br />
Por ter-se tornado uma palavra polissêmica pelos usos comuns, disseminados em vários<br />
países do mundo, é importante observar como seus principais teóricos (tanto em termos <strong>de</strong><br />
reconhecimento acadêmico como <strong>de</strong> aceitação por formuladores <strong>de</strong> políticas) o concebem.<br />
Para isso, serão examinados textos <strong>de</strong> três autores: Charles Taylor, Will Kymlicka e<br />
Boaventura <strong>de</strong> Souza Santos.<br />
Não obstante as diferenças i<strong>de</strong>ológicas e <strong>de</strong> ênfase entre esses autores, <strong>de</strong> maneira geral, o<br />
multiculturalismo busca questionar – seja pela ampliação ou pelo rompimento – os limites<br />
do pensamento teórico liberal.<br />
25
Inicialmente, é essencial situar o contexto histórico em que emergiu esse tema. Foi na<br />
década <strong>de</strong> 1960 que houve uma tendência mais clara <strong>de</strong> afirmação das características<br />
singulares entre os cidadãos no mundo oci<strong>de</strong>ntal, particularmente nos Estados Unidos.<br />
Como exemplos, po<strong>de</strong>mos citar a atuação <strong>de</strong> Martin Luther King Jr. em <strong>de</strong>fesa dos afro-<br />
americanos, os movimentos gays e o feminismo. Antes <strong>de</strong>sses, algumas décadas antes, o<br />
nazismo também já havia propugnado a diferença entre as pessoas. Exceto aqueles que<br />
foram superados pelo antirracismo, como o nazismo, todos os outros traziam à tona i<strong>de</strong>ias<br />
<strong>de</strong> direitos humanos e <strong>de</strong> cidadania universal e davam forma a políticas progressistas. Esse<br />
período das políticas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> foi chamado <strong>de</strong> multiculturalismo nos EUA (MODOOD,<br />
2007).<br />
O movimento multicultural espalhou-se primeiramente por países constituídos por<br />
imigrantes ao longo da História <strong>de</strong> sua formação, como os EUA, o Canadá e a Austrália, que<br />
são vistos como multiétnicos na composição e on<strong>de</strong> a assimilação era inevitável, apesar <strong>de</strong><br />
não obrigatória.<br />
A questão da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, portanto, tradicionalmente legada à esfera da vida privada pelo<br />
liberalismo, passa a ocupar espaços da esfera pública. Dessa novida<strong>de</strong> histórica, surge a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> buscar nova articulação entre i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> individual ou <strong>de</strong> grupo e a política<br />
(MARTUCCELLI, 1996; SEMPRINI, 1999). Martuccelli (1996, p.19) argumenta<br />
persuasivamente que “é próprio à <strong>de</strong>mocracia [...] sua indiferença pelo problema i<strong>de</strong>ntitário:<br />
classicamente, sempre se consi<strong>de</strong>ra que ele se possa traduzir, via direitos universais, em<br />
problema civil ou em problema social”. A própria noção <strong>de</strong> cidadão é <strong>de</strong> um ser abstrato<br />
cujas necessida<strong>de</strong>s são universais e, portanto, não se trata <strong>de</strong> uma pessoa real, com<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> própria ou <strong>de</strong> grupo.<br />
26
Dessa forma, o que apresentaremos a seguir, <strong>de</strong> acordo com a proposta <strong>de</strong>ste trabalho, são<br />
três recortes <strong>de</strong>ssa abordagem multicultural, que afunilam o tema.<br />
O primeiro, Charles Taylor: Democracia e Multiculturalismo apresenta um panorama geral<br />
<strong>de</strong>sse assunto e trata <strong>de</strong> um embate característico <strong>de</strong> nossa época: universalismo versus<br />
particularismo. O segundo, Will Kymlicka: E Como os Índios Entram Nessa História?, focaliza<br />
a questão indígena e indica as especificida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas e direitos, segundo o autor. O<br />
último, Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos: Referência “Oficial” no Brasil, explica a fonte <strong>de</strong><br />
inspiração brasileira para a formulação das próprias políticas públicas multiculturais.<br />
Porém, antes <strong>de</strong> tratarmos do multiculturalismo, faz-se <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> relevância conceituarmos<br />
um termo anterior a ele: cultura. Nessa tentativa, fica claro que, apesar <strong>de</strong> adotarmos o<br />
conceito <strong>de</strong> apenas um autor, as dificulda<strong>de</strong>s para <strong>de</strong>terminar com precisão os limites do<br />
que é cultura são enormes. Ainda assim, consi<strong>de</strong>ramos o exercício válido e fundamental para<br />
a continuida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste trabalho.<br />
Nessa mesma parte <strong>de</strong>sta revisão <strong>de</strong> literatura, em Ambiguida<strong>de</strong> e Obscurida<strong>de</strong> da<br />
Abordagem Multicultural, procuramos situar os entraves no tratamento da questão, com o<br />
exemplo <strong>de</strong> um referendo <strong>de</strong> Massachusetts, EUA.<br />
27
3.1. Uma Definição Preliminar<br />
Antes <strong>de</strong> discutirmos o multiculturalismo, é necessário conceituar o termo cultura, anterior<br />
àquele. Dentre as inúmeras opções <strong>de</strong> conceitos, escolhemos a <strong>de</strong> Clifford Geertz ([1968]<br />
1989) pela <strong>de</strong>finição antropológica, coerente com esta dissertação, apesar <strong>de</strong> não nos<br />
preocupamos em discorrer como antropóloga, mas por reconhecermos que a Antropologia<br />
existe e que também há conceitos fundamentais para o campo:<br />
[A cultura] <strong>de</strong>nota um padrão <strong>de</strong> significados, transmitido historicamente,<br />
incorporado em símbolos, um sistema <strong>de</strong> concepções herdadas, expressas<br />
em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam<br />
e <strong>de</strong>senvolvem seu conhecimento e suas ativida<strong>de</strong>s em relação à vida. (Ibid.,<br />
p.103)<br />
Ainda segundo o autor, “a cultura é pública porque o significado o é”. Porém não se trata <strong>de</strong><br />
um po<strong>de</strong>r que explica os comportamentos sociais. É no contexto que os comportamentos se<br />
tornam “inteligíveis”. No caso, trata-se <strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong> ações sociais em que as formas<br />
culturais encontram articulação.<br />
Isso nos leva a afirmar que a cultura tem algum grau <strong>de</strong> coerência para que haja alguma<br />
sistematização. O problema é que essa sistematização não é precisa nem rígida, e<br />
justamente aí está a sua riqueza.<br />
Todavia há que se chamar a atenção para um dos gran<strong>de</strong>s riscos da Antropologia: segundo<br />
Geertz (1989), essa ciência tem sido mo<strong>de</strong>lada para “justificar a mudança <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>s locais<br />
para visões gerais”. Assim, em concordância com o autor, não <strong>de</strong>sejamos generalizar<br />
particularida<strong>de</strong>s culturais e tomamos o cuidado, neste projeto, <strong>de</strong> discutir a possibilida<strong>de</strong> da<br />
abordagem multicultural na elaboração e gestão das políticas públicas que incorporem ou<br />
respondam às particularida<strong>de</strong>s locais, para potencializar a eficácia <strong>de</strong>sses programas.<br />
28
Em contraposição àqueles que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m o pressuposto da universalida<strong>de</strong>, Geertz pon<strong>de</strong>ra<br />
que<br />
[...] permanece a questão <strong>de</strong> se tais universais <strong>de</strong>vem ser tomadas como<br />
elementos centrais na <strong>de</strong>finição do homem, se a perspectiva do mais baixo<br />
<strong>de</strong>nominador comum da humanida<strong>de</strong> é exatamente o que queremos.<br />
(GEERTZ, 1989, p.55)<br />
Compreen<strong>de</strong>r a cultura <strong>de</strong> um povo expõe sua “normalida<strong>de</strong>” sem reduzir seu aspecto<br />
particular (Ibid., p.24). Contudo, quanto mais se estuda uma cultura, mais nuances são<br />
encontradas e mais difícil é <strong>de</strong>terminá-la com precisão. Assim, transpondo o problema para<br />
a perspectiva <strong>de</strong>ste trabalho, propomos que, quanto maior clareza e consi<strong>de</strong>ração o Estado<br />
tiver em relação à diversida<strong>de</strong> dos brasileiros, maior lhe será a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> formular<br />
políticas a<strong>de</strong>quadas a seus beneficiários.<br />
É por meio das diferentes culturas que po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar o índio, o sertanista, o caiçara, o<br />
nor<strong>de</strong>stino, o sulista e tantos outros brasileiros, ou seja, além das culturas que diferenciam<br />
povos, nações, também há os vários tipos <strong>de</strong> indivíduos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada macrocultura.<br />
Ao consi<strong>de</strong>rar essa diversida<strong>de</strong> interna e a proposta <strong>de</strong> políticas públicas multiculturais,<br />
po<strong>de</strong>mos indagar qual é o resultado esperado <strong>de</strong> tais políticas como, por exemplo, se<br />
somente a preservação <strong>de</strong>ssas culturas seria o <strong>de</strong>sejado.<br />
Geertz argumenta que os padrões culturais são “mo<strong>de</strong>los” <strong>de</strong> duplo aspecto, isto é, tanto<br />
moldam situações, relações, como são moldados por elas. Po<strong>de</strong>-se esten<strong>de</strong>r seu raciocínio:<br />
esperar que as políticas públicas atuem somente na preservação das culturas é leviano,<br />
porque a cultura po<strong>de</strong> também influir muito nas políticas públicas. O gestor público lida com<br />
culturas e afeta-as por meio <strong>de</strong>ssas políticas, e os padrões culturais po<strong>de</strong>m influir na<br />
efetivida<strong>de</strong> dos programas e ações governamentais. É justamente sobre esse enfoque que<br />
29
este trabalho se <strong>de</strong>senvolve, ao buscar a compreensão da abordagem multicultural (ou seja,<br />
sob o aspecto da cultura) nas políticas públicas.<br />
Touraine (1997) também <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> esse ponto <strong>de</strong> vista ao afirmar que as socieda<strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>rnas, mais constantemente abertas a mudanças, não possuem uma unida<strong>de</strong> cultural,<br />
porque estas são constantemente renovadas a partir <strong>de</strong> acontecimentos e experiências<br />
(nesse caso, po<strong>de</strong>mos incluir as políticas públicas).<br />
No próximo item, trataremos da ambiguida<strong>de</strong> em que questões culturais estão imersas, com<br />
o exemplo <strong>de</strong> como a obscurida<strong>de</strong> do termo po<strong>de</strong> gerar resultados <strong>de</strong> políticas aquém dos<br />
esperados. Isso porque há indícios <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>cisão final foi tomada sem muita reflexão<br />
sobre o assunto.<br />
30
3.2. Ambiguida<strong>de</strong> e Obscurida<strong>de</strong> da Abordagem Multicultural<br />
De modo geral, o termo cultura envolve ambiguida<strong>de</strong>s que, na abordagem multicultural,<br />
fazem-se muito presentes nos programas <strong>de</strong> governo e torna-os imprecisos.<br />
Maykel Verkuyten (2004), em seu artigo, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> dois pontos principais que ilustram essa<br />
imprecisão: (i) as mesmas idéias e visões que exaltam o multiculturalismo po<strong>de</strong>m ser vistas<br />
como críticas a ele, e (ii) a opinião pública tem pouco conhecimento e compreensão do<br />
multiculturalismo.<br />
No que diz respeito à ambiguida<strong>de</strong> das justificativas – prós e contras – quanto à exaltação do<br />
multiculturalismo, o exemplo dado é o da segurança e da estabilida<strong>de</strong>. Ambas as variáveis<br />
po<strong>de</strong>m ser utilizadas em discursos a favor da ou contrários à preservação da diversida<strong>de</strong><br />
cultural.<br />
Se, por um lado, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r que as diferenças <strong>de</strong>vam ser eliminadas (assimilação)<br />
por segurança, por outro, pelas mesmas razões, po<strong>de</strong>mos advogar que as diferenças <strong>de</strong>vam<br />
ser, tão-somente, i<strong>de</strong>ntificadas (multiculturalismo). Nos dois casos, o ponto em comum é a<br />
eliminação do <strong>de</strong>sconhecido, seja por assimilação, seja por i<strong>de</strong>ntificação e mapeamento.<br />
Já o segundo ponto <strong>de</strong> Verkuyten – sobre a falta <strong>de</strong> esclarecimento da população sobre o<br />
multiculturalismo – o artigo <strong>de</strong> Jorge Capetillo-Ponce (2004) elucida-o bem.<br />
Capetillo-Ponce (2004) narra o caso do referendum <strong>de</strong> Massachusetts, EUA, que exclui o<br />
sistema bilíngue (espanhol, inglês) das <strong>escola</strong>s públicas.<br />
31
No processo <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong>sse documento, a manipulação das massas aparece como<br />
ponto principal da polarização gerada entre maiorias e minorias 3 . Houve, em outro<br />
momento da História, um movimento a favor do multiculturalismo, mas esse referendum<br />
surgiu justamente por haver controvérsias quanto ao multiculturalismo aprovado nas<br />
décadas <strong>de</strong> 1960/70. Segundo o autor, o que suce<strong>de</strong>u foi falta <strong>de</strong> maior esclarecimento<br />
sobre o assunto, o que <strong>de</strong>svirtuou do verda<strong>de</strong>iro propósito, <strong>de</strong> forma ten<strong>de</strong>nciosa, os<br />
discursos.<br />
Entre os exemplos para tal afirmação, arrolam-se: (i) a propagação <strong>de</strong> que o inglês era<br />
atribuído a pessoas bem-sucedidas profissionalmente, aos que tinham melhores condições<br />
<strong>de</strong> vida; (ii) as críticas ao sistema bilíngue contribuiria para a segregação dos hispânicos,<br />
porque, à medida que se custasse mais apren<strong>de</strong>r inglês, piores seriam as condições <strong>de</strong> vida;<br />
(iii) esse sistema implicava maiores custos ao governo no sentido <strong>de</strong> manter professores<br />
bilíngues e, se o investimento não fosse suficiente, o resultado seria duvidoso; (iv) a massiva<br />
propaganda a favor do inglês como i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional nos EUA. (CAPETILLO-PONCE, 2004)<br />
Segundo o autor, mesmo que as pertinentes críticas fossem passíveis <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ração, a<br />
maneira como o processo foi conduzido não permitiu a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se aperfeiçoar o<br />
sistema. As opções apresentadas eram: sim ou não. Fica claro que houve um movimento<br />
manipulado, reverso, do multiculturalismo ao não multiculturalismo. Mesmo os hispânicos,<br />
que <strong>de</strong>fendiam suas tradições e admitiam que o sistema bilíngue <strong>de</strong>ixava a <strong>de</strong>sejar, viram-se<br />
compelidos a referendar o outro, somente em língua inglesa.<br />
3<br />
A concepção comum <strong>de</strong> que a maioria prevalece sobre a minoria é equívoca, como sugere o autor, porque há<br />
casos <strong>de</strong> uma maioria e uma minoria não numéricas, mas uma minoria que <strong>de</strong>tém po<strong>de</strong>res políticos e<br />
econômicos e que vai manipular a maioria, a massa, como foi neste referendum.<br />
32
Outro ponto importante do autor versa sobre a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> os norte-<br />
-americanos aceitarem um sistema multicultural, porque está no i<strong>de</strong>al dos “nativos” que os<br />
imigrantes <strong>de</strong>vem autossustentar-se. É assim que eles compreen<strong>de</strong>m o self-ma<strong>de</strong>. Além<br />
disso, eles queixam-se <strong>de</strong> os imigrantes receberem mais atenção e assistência social do<br />
governo do que eles.<br />
A discussão centrou-se apenas na eficiência do programa quanto aos gastos e aos não<br />
resultados obtidos por <strong>escola</strong>s bilíngues, e não na importância do multiculturalismo. E isso<br />
indica o <strong>de</strong>sconhecimento do assunto por parte da opinião pública. Manipular a discussão<br />
levou a polarizar o tema, e não a refletir sobre ele.<br />
Assim, propomos uma reflexão sobre a abordagem multicultural, apresentando-a em três<br />
partes <strong>de</strong> acordo com três autores.<br />
33
3.3. Três Autores, Duas Vertentes do Multiculturalismo<br />
Esta subdivisão do capítulo apresenta três autores relevantes para o multiculturalismo, pelo<br />
menos no contexto brasileiro. Apesar <strong>de</strong> cada autor apresentar sua concepção da<br />
abordagem multicultural, Charles Taylor e Will Kymlicka, ambos filósofos políticos<br />
cana<strong>de</strong>nses, divi<strong>de</strong>m uma mesma linha <strong>de</strong> raciocínio do pensamento político liberal<br />
contemporâneo. Já Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos se apresenta como outra via, carregado <strong>de</strong><br />
um discurso bastante i<strong>de</strong>ológico.<br />
A proposta <strong>de</strong> apresentação do multiculturalismo está sob a seguinte formatação:<br />
primeiramente tratamos <strong>de</strong> Taylor cuja abrangência mais filosófica da abordagem lhe<br />
confere aspectos mais gerais. Em seguida, versamos sobre Kymlicka, porque o autor faz uma<br />
sistematização da abordagem, com a proposta <strong>de</strong> um índice sintético que avalie o grau <strong>de</strong><br />
multiculturalismo das políticas públicas dos países. Além, disso, há um tratamento específico<br />
da questão indígena. Por fim, acolhemos Santos, por ser referência no Brasil.<br />
3.3.1. Charles Taylor: Democracia e Multiculturalismo<br />
Trata-se <strong>de</strong> um autor que nos introduz no tema <strong>de</strong> maneira bastante filosófica, o que<br />
consi<strong>de</strong>ramos primordial para o fundamento da abordagem multicultural.<br />
Taylor aproxima-se do <strong>de</strong>bate sobre o multiculturalismo em razão <strong>de</strong> seu interesse pela<br />
influência da “mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>” sobre as percepções das pessoas e grupos sobre as próprias<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. Na sua visão, o reconhecimento ou o não reconhecimento <strong>de</strong>ssas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s,<br />
antes tidos como restritos à esfera da vida privada, passam a ser questões legítimas e<br />
centrais no <strong>de</strong>bate público. Se antes o <strong>de</strong>bate político privilegiava a noção <strong>de</strong> exploração <strong>de</strong><br />
uma classe social por outra ou o embate entre igualda<strong>de</strong> e privilégios, com a mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>,<br />
34
passaram-se a abordar os mesmos fatos como um problema <strong>de</strong> falta <strong>de</strong> reconhecimento das<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s coletivas e individuais 4 .<br />
Um dos aspectos mais <strong>de</strong>licados e mais complexos das políticas <strong>de</strong> reconhecimento do<br />
multiculturalismo é a forma taxativa que elas po<strong>de</strong>m adquirir para grupos populacionais, o<br />
que impe<strong>de</strong> a expressão particular do ser humano <strong>de</strong> modo tal, que a vonta<strong>de</strong> e a opinião <strong>de</strong><br />
um indivíduo sejam ignoradas para sobressair a concebida para o grupo <strong>de</strong> que ele faz parte.<br />
Segundo Charles Taylor (1994), as políticas <strong>de</strong> reconhecimento realizam-se justamente pelo<br />
diálogo que <strong>de</strong>ve haver, nos Estados <strong>de</strong>mocráticos, entre as diferentes culturas. Ainda que<br />
exista uma visão geral <strong>de</strong> supremacia cultural entre elas, <strong>de</strong>ve haver um limite moral que<br />
impeça tal ação.<br />
Ao utilizar essa argumentação neste trabalho, sugerimos que se <strong>de</strong>fenda a cultura indígena<br />
diante da do branco, popularmente caracterizada como “mais evoluída”, para os índios<br />
serem beneficiados por uma política <strong>de</strong> reconhecimento que valorize a civilização local, ao<br />
mesmo tempo que não se abandone a configuração geral da socieda<strong>de</strong> brasileira.<br />
A teoria do multiculturalismo está longe <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quar-se ao propósito pela “simples” adoção<br />
da reforma dos currículos <strong>escola</strong>res no que tange, por exemplo, aos estudos <strong>de</strong> História, em<br />
relação às origens africanas.<br />
Segundo Taylor,<br />
“[e]nlarging and changing the curriculum is therefore essential not so much<br />
in the name of a broa<strong>de</strong>r culture for everyone as in or<strong>de</strong>r to give due<br />
recognition to the hitherto exclu<strong>de</strong>d. The background premise of these<br />
4 Disponível em: , acesso em 2010.<br />
35
<strong>de</strong>mands is that recognition forges i<strong>de</strong>ntity, particularly in its Fanonist<br />
application: dominant groups tend to entrench their hegemony by inculcating<br />
an image of inferiority in the subjugated”. (Ibid., p.65-66)<br />
Amy Gutmann (1994), comentando o trabalho <strong>de</strong> Taylor, reforça a proposta <strong>de</strong> uma<br />
socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocrática, que reconhece a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> individual constituída em parte por<br />
diálogos coletivos e sugere que a <strong>de</strong>mocracia liberal po<strong>de</strong> ser compreendida <strong>de</strong> duas formas:<br />
(i) a que trata todos como seres iguais e livres, (ii) outra, também universalista, mas que<br />
permite três condições no trato <strong>de</strong> culturas particulares pelas instituições públicas: (1)<br />
proteger os direitos básicos <strong>de</strong> todos os cidadãos – inclusa aí a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão, <strong>de</strong><br />
idéias, <strong>de</strong> religião e <strong>de</strong> associação, (2) não manipular (nem coagir) ninguém a aceitar valores<br />
culturais, representados por instituições públicas; (3) responsabilizar os servidores e as<br />
instituições públicas que fazem escolhas culturais (accountables <strong>de</strong>mocraticamente) não só<br />
por princípios, mas também pelas práticas.<br />
Na opinião <strong>de</strong> Gutmann, como na nossa, essa segunda perspectiva <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia liberal é<br />
mais <strong>de</strong>mocrática que a primeira e é na manifestação da <strong>de</strong>mocracia que o<br />
multiculturalismo mais transparece, porque, apesar <strong>de</strong> haver uma percepção universalista,<br />
há foco no que diz respeito às diferenças culturais dos cidadãos.<br />
Um cuidado que este trabalho preten<strong>de</strong> tomar é o <strong>de</strong> que a proteção ao multiculturalismo<br />
não entre no viés do apelo emocional. Para além da sensibilida<strong>de</strong> social e religiosa e do<br />
compromisso moral, há uma gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa dos pressupostos intelectuais e <strong>de</strong> seus<br />
<strong>de</strong>sdobramentos. Por outro lado, também <strong>de</strong> modo algum se <strong>de</strong>ve pensar que as<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s individuais aqui tratadas, como a étnica, possam estar hierarquicamente acima<br />
da humana, porque semelhante situação po<strong>de</strong> levar ao segregacionismo.<br />
36
Reconhecimento e I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
Taylor faz um apanhado histórico que corrobora a suposição <strong>de</strong> que há um elo entre<br />
reconhecimento e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. A sua tese é a <strong>de</strong> que:<br />
[O]ur i<strong>de</strong>ntity is partly shaped by recognition or its absence, often by the<br />
misrecognition of others, and so a person or a group of people can suffer real<br />
damage, real distortion, if the people or society around them mirror back to<br />
them a confining or <strong>de</strong>meaning or contemptible picture of themselves.<br />
Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of<br />
oppression, imprisoning someone in false, distorted, and reduced mo<strong>de</strong> of<br />
being. (TAYLOR, 1994, p.25)<br />
Um dos argumentos que vai ao encontro <strong>de</strong>ssa tese é o <strong>de</strong> que houve falhas e<br />
consequências dramáticas no não reconhecimento dos povos indígenas e em geral dos<br />
colonizados que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1492, tiveram suas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s corrompidas pelos europeus que<br />
projetavam a imagem <strong>de</strong>ssas populações como inferiores e não civilizadas 5 .<br />
Segundo Taylor (1994), a distinção entre civilizado e selvagem é característica <strong>de</strong> uma época<br />
em que a base do reconhecimento estava na honra, ou seja, num predicado <strong>de</strong> alguns.<br />
É numa socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocrática que surge a noção da “dignida<strong>de</strong> do ser humano”, isto é, <strong>de</strong><br />
um atributo <strong>de</strong> que todos compartilham e que transcen<strong>de</strong> a posição social.<br />
A construção da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> social é um processo contínuo, <strong>de</strong> diálogo com concordâncias e<br />
discordâncias sobre o que pessoas essenciais para nós veem em nós, tal como se observa<br />
pela <strong>de</strong>finição do “[i]t is who we are, ‘where we’re coming from’. As such it is the<br />
background against which our tastes and <strong>de</strong>sires and opinions and aspirations make sense”.<br />
(Ibid., p.33)<br />
5<br />
Frantz Fanon, em seu trabalho Les Damnés <strong>de</strong> La Terre (Paris: Maspero, 1961), citado por Taylor, faz<br />
referência aos povos indígenas em geral. Neste trabalho há uma apresentação mais <strong>de</strong>talhada da história do<br />
reconhecimento dos povos indígenas no Brasil na seção Histórico.<br />
37
Assim, cotejando a visão <strong>de</strong> Taylor com a proposta <strong>de</strong>sta dissertação, a reflexão que fazemos<br />
é: Como as preferências, os <strong>de</strong>sejos, as opiniões e as aspirações indígenas, ou seja, os<br />
interesses <strong>de</strong>les po<strong>de</strong>m ser levados seriamente em conta na política pública, quando<br />
formulada?<br />
Essa pergunta se mostra ainda mais pertinente ao trazermos mais uma importante<br />
observação <strong>de</strong> Taylor, que propôs que se superasse a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconhecimento nos<br />
tempos mo<strong>de</strong>rnos por condições <strong>de</strong> reconhecimento que garantissem o sucesso <strong>de</strong>ssas<br />
políticas.<br />
Universalmente se conhece, <strong>de</strong> algum modo, o mérito do reconhecimento do outro.<br />
Apresentam-se duas percepções acerca disso: (i) no plano íntimo, com a boa ou má<br />
formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> do ser humano <strong>de</strong>pois que nasce e entra em contato com pessoas<br />
significativas para ele, como, por exemplo, os pais ou tutores; (ii) no plano social, em<br />
políticas contínuas <strong>de</strong> promoção da igualda<strong>de</strong>. (TAYLOR, 1994, p.36)<br />
A compreensão da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e da autenticida<strong>de</strong> individualizadas introduz uma nova<br />
dimensão nas políticas <strong>de</strong> reconhecimento igualitário e é nesse segundo aspecto que o<br />
presente trabalho se <strong>de</strong>tém, na abrangência que essa política adotará quanto à percepção<br />
dos graus <strong>de</strong>sse reconhecimento.<br />
As políticas públicas <strong>de</strong>vem ter uma base universal, contudo cada indivíduo <strong>de</strong>ve ser<br />
diferenciado pelo que o distingue dos <strong>de</strong>mais, por sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> única, mas, além <strong>de</strong>la, há a<br />
do grupo, e ambas não <strong>de</strong>vem ser ignoradas pela semelhança dominante ou majoritária.<br />
Essas políticas apresentam características mais orgânicas (cuja organização se assemelha,<br />
em sua complexida<strong>de</strong>, à dos seres vivos) que a tradicional (que generaliza a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
38
nacional e a universal) porque conferem maior complexida<strong>de</strong> às ações e,<br />
consequentemente, na nossa visão, maiores possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> polêmica. Um exemplo disso<br />
são os programas <strong>de</strong> redistribuição ou <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s, direcionados a certos grupos<br />
populacionais, o que po<strong>de</strong> adquirir conotação <strong>de</strong> favoritismo, segregacionismo.<br />
As políticas <strong>de</strong> cotas costumam ser justificadas pelo processo histórico <strong>de</strong> discriminação <strong>de</strong><br />
alguns povos naquela nação, como é o caso, no Brasil, dos negros, que compõem gran<strong>de</strong><br />
parte da população mais pobre e sem acesso ao Ensino Superior e que, em razão <strong>de</strong> uma lei<br />
fe<strong>de</strong>ral, têm assegurado um percentual <strong>de</strong> vagas nas universida<strong>de</strong>s públicas.<br />
A proposta <strong>de</strong> uma política <strong>de</strong> reparação é interessante como medida temporária para<br />
possível correção das <strong>de</strong>svantagens que <strong>de</strong>terminado grupo possa ter sofrido, porém as<br />
políticas <strong>de</strong> reconhecimento, da teoria do multiculturalismo, na visão <strong>de</strong> Taylor, não<br />
partilham do mesmo princípio <strong>de</strong> correção, justamente por se promover, nas políticas <strong>de</strong><br />
reparação, uma prática temporária e ainda se correr o risco <strong>de</strong> ela se tornar permanente em<br />
vista da duração imprecisa do programa.<br />
Po<strong>de</strong>-se observar que Taylor aponta para a preocupação com a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, portanto para as<br />
aspirações como algo permanente, ou seja, algo que não <strong>de</strong>ve valer-se <strong>de</strong> programas<br />
temporários.<br />
Uma situação <strong>de</strong>licada das políticas <strong>de</strong> reconhecimento é a que se relaciona à abrangência<br />
que elas po<strong>de</strong>m adquirir. É fundamental que se pense se variações <strong>de</strong>ssas políticas são<br />
aceitáveis <strong>de</strong> acordo com o local da prática, isto é, se restrições po<strong>de</strong>m ser feitas pelo<br />
governo local em nome da meta coletiva <strong>de</strong> sobrevivência daquela comunida<strong>de</strong>, mesmo que<br />
essas políticas, em escala nacional, infrinjam a constituição fe<strong>de</strong>ral.<br />
39
Taylor (1994, p.53) apresenta sobre isso o exemplo, no Canadá, da província <strong>de</strong> Quebec, que<br />
estabeleceu a língua francesa na educação infantil e nas <strong>empresas</strong> locais em <strong>de</strong>trimento da<br />
língua inglesa, oficial nas <strong>de</strong>mais províncias cana<strong>de</strong>nses.<br />
Outro aspecto se refere à valorização dada à cultura dos não dominantes em uma socieda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocrática. Se transferirmos essa questão para a proposta <strong>de</strong>ste trabalho, po<strong>de</strong>mos<br />
consi<strong>de</strong>rar que a prática do infanticídio pelos povos indígenas, minoria cultural do país, é<br />
característica <strong>de</strong> sua comunida<strong>de</strong>.<br />
As dificulda<strong>de</strong>s surgem na aceitação <strong>de</strong>sse costume pela maioria dominante, que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> os<br />
direitos humanos e, por isso, abomina o infanticídio. Como aceitar esse hábito e conviver<br />
pacificamente com o grupo minoritário que o pratica? Essa particularida<strong>de</strong> será respeitada<br />
como parte da cultura local? Dificilmente a resposta a isso será positiva. Então, o que temos<br />
no Brasil, atualmente, são políticas igualitárias inóspitas às diferenças?<br />
Políticas igualitárias inóspitas às diferenças<br />
A primeira pergunta que se faz neste subitem é em relação à possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se igualarem<br />
as culturas no que diz respeito ao próprio valor; se isso é possível por esta análise ou, se não<br />
o for, nem mesmo <strong>de</strong>sejável, como se <strong>de</strong>ve lidar com o caráter universal ou particular das<br />
políticas públicas?<br />
Partindo da premissa <strong>de</strong> que não é possível garantir a prática <strong>de</strong> tratamento igualitário às<br />
diferentes culturas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um mesmo Estado, Taylor sugere que há políticas igualitárias<br />
“inóspitas às diferenças” porque (a) insistem na aplicação uniforme <strong>de</strong> regras <strong>de</strong>finidas<br />
como direitos, sem exceção, (b) suas metas coletivas 6 são suspeitas. Assim, o autor conclui<br />
6<br />
Segundo o autor, essas metas coletivas são formuladas por um julgamento da socieda<strong>de</strong> majoritária com base<br />
em “what makes a good life”, apesar <strong>de</strong> as concepções <strong>de</strong>sse termo po<strong>de</strong>rem variar culturalmente.<br />
40
que tais políticas não são mo<strong>de</strong>los que procuram eliminar as diferenças culturais, mas, sim,<br />
“inóspitas às diferenças” porque não abarcam a aspiração <strong>de</strong> todos os membros <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s distintas, que é a sobrevivência <strong>de</strong> sua cultura. (TAYLOR, 1994, p.61)<br />
Apesar da simplicida<strong>de</strong> que se po<strong>de</strong> atribuir às políticas públicas tradicionais no seu sentido<br />
uniforme, o multiculturalismo oferece uma complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong> abordagem que po<strong>de</strong> implicar<br />
sérios impedimentos práticos à sua adoção. Taylor argumenta que, por exemplo, várias<br />
distinções precisam ser feitas para haver neutralida<strong>de</strong> em certa medida e para as pessoas <strong>de</strong><br />
todas as culturas se encontrarem e coexistirem, a começar pela separação do que é público<br />
e do que é privado, ou <strong>de</strong> política e religião. O autor indaga como ficaria o islamismo diante<br />
<strong>de</strong>ssa situação, já que uma das principais características <strong>de</strong>sse segmento está na não<br />
separação <strong>de</strong> política e religião, diferentemente do esperado nas socieda<strong>de</strong>s liberais<br />
oci<strong>de</strong>ntais.<br />
Apesar <strong>de</strong> não oferecer uma resposta, o autor insiste, como solução, na política <strong>de</strong><br />
reconhecimento <strong>de</strong> todas as diferenças culturais pelo seu valor em cada comunida<strong>de</strong>. A<br />
Declaração Sobre os Princípios <strong>de</strong> Cooperação Cultural Internacional, da UNESCO (1996),<br />
trata exatamente <strong>de</strong>sta questão: a varieda<strong>de</strong> e a diversida<strong>de</strong> cultural são dignas e têm sua<br />
importância, e isso <strong>de</strong>ve ser respeitado e reconhecido como patrimônio da humanida<strong>de</strong>.<br />
Uma última anotação crítica <strong>de</strong> Taylor quanto aos problemas que políticas multiculturais<br />
po<strong>de</strong>m enfrentar é a <strong>de</strong> um julgamento con<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, até mesmo etnocêntrico, que a<br />
socieda<strong>de</strong> dominante po<strong>de</strong>rá fazer a respeito das <strong>de</strong>mais culturas, não pelo valor que elas<br />
possuem, ou seja, não como resultado <strong>de</strong> um estudo intensivo <strong>de</strong>las, mas simplesmente<br />
pelo parecer prematuro <strong>de</strong> que todas as culturas são válidas. Se isso ocorrer, estaremos<br />
classificando diferentes culturas <strong>de</strong> acordo com nosso padrão, isto é, haverá uma<br />
41
homogeneização <strong>de</strong> todas elas em função da dominante. Nas palavras do autor, “[b]y<br />
implicity invoking our standards to judge all civilizations and cultures, the politics of<br />
difference can end up making everyone the same”. (TAYLOR, 1994, p.71)<br />
Susan Wolf (1994, p.75) chama a atenção, em vista do trabalho <strong>de</strong> Taylor, sobre as possíveis<br />
falhas das políticas <strong>de</strong> reconhecimento justamente pelo prejuízo da i<strong>de</strong>ntificação das<br />
culturas e dos danos que surgem em razão <strong>de</strong>sses erros. Dentre eles, ela distingue dois não<br />
reconhecimentos: (a) o literal, <strong>de</strong> que membros <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> minorias ou <strong>de</strong>sprivilegiados<br />
têm uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural com diferentes conjuntos <strong>de</strong> tradições, práticas,<br />
intelectualida<strong>de</strong> e história; (b) o <strong>de</strong> que essa i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural tem gran<strong>de</strong> importância e<br />
valor.<br />
Essa proposta po<strong>de</strong> ser compreendida sob o prisma <strong>de</strong> que todos temos o mesmo grau <strong>de</strong><br />
importância e <strong>de</strong> que não há diferenciação entre as culturas no que diz respeito à igualda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> significado atribuído a si próprio. Wolf reforça que apesar <strong>de</strong> se consi<strong>de</strong>rarem todas as<br />
culturas igualmente, não se negam as diferenças entre elas:<br />
[I]t is a mistake to <strong>de</strong>mand that works of every culture be evaluated, prior to<br />
inspection and appreciation, as equally good works, which equally display<br />
human accomplishment, and which make equal contributions to the world’s<br />
store of beauty and brilliance. (WOLF, 1994, p.78)<br />
A solução da autora é que se po<strong>de</strong> mudar a justificativa da igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> valoração das<br />
culturas, porque a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> correção do prejuízo às minoritárias não <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da<br />
pressuposição – ou mesmo da confirmação – <strong>de</strong> que uma particular é invariavelmente<br />
imprescindível para pessoas <strong>de</strong> fora <strong>de</strong>ssa cultura. Trata-se <strong>de</strong> uma visão holística das<br />
culturas, igualmente importantes, e, portanto, passíveis <strong>de</strong> avaliação quanto à necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> outros grupos compartilharem <strong>de</strong>ssas características peculiares, mas não que todos<br />
42
precisem adotar o estilo <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> cada uma <strong>de</strong>las porque todas são igualmente<br />
necessárias.<br />
A<strong>de</strong>quando isso a este trabalho, nosso ponto <strong>de</strong> vista é não <strong>de</strong> que brasileiros comuns<br />
aprendam a viver como os índios, mas que a cultura indígena seja compreendida e<br />
preservada para fazer parte ativamente da formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> brasileira e para ser<br />
mantida pela sua comunida<strong>de</strong> como mecanismo <strong>de</strong> sobrevivência.<br />
Nossa cultura é algo maior do que muitas vezes concebemos. Na formação recebe<br />
influências externas <strong>de</strong> outras culturas, direta ou indiretamente, o que, somadas as partes,<br />
adquire significado maior, como com os retalhos que formam uma colcha. Isso exige o<br />
engran<strong>de</strong>cimento da nossa sensibilida<strong>de</strong> no sentido <strong>de</strong> reconhecer essa beleza <strong>de</strong> que a<br />
nossa comunida<strong>de</strong>-nação é constituída.<br />
3.3.2. Will Kymlicka: E Como os Índios Entram Nessa História?<br />
Em todas as <strong>de</strong>mocracias liberais, um dos principais mecanismos <strong>de</strong> acomodação das<br />
diferenças culturais internas é o <strong>de</strong> proteção aos direitos civis e políticos dos indivíduos e aos<br />
direitos humanos. O senso comum supõe que tais direitos sejam suficientes, mas o<br />
surgimento do multiculturalismo indica que muitos locais começam a aceitar que a<br />
acomodação <strong>de</strong>sses grupos culturais diferenciados se dará por meio <strong>de</strong> medidas<br />
constitucionais específicas.<br />
Assim, po<strong>de</strong>mos dizer que há várias possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abordagem: (i) sob a perspectiva das<br />
instituições nacionais que versam sobre o multiculturalismo e, por possuírem uma<br />
constituição lógica própria, adotam políticas diferentes com concepções, também<br />
diferentes, da diversida<strong>de</strong>; (ii) sob a perspectiva das organizações internacionais, pelo<br />
43
mesmo motivo; (iii) sob a perspectiva dos grupos sociais que compõem as chamadas<br />
“minorias” e enxergam as próprias <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> acordo com as particularida<strong>de</strong>s.<br />
Kymlicka (1995) trata <strong>de</strong>ssa última opção com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> classificar a origem das<br />
minorias e os tipos <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda por direitos coletivos (discutidos no subitem seguinte) como<br />
divergentes dos individuais, <strong>de</strong> acordo com a proposta <strong>de</strong> uma dialética inexistente entre<br />
eles. Assim, a subdivisão <strong>de</strong> capítulo <strong>de</strong>sta dissertação Will Kymlicka: E Como os Índios<br />
Entram Nessa História? procura compreen<strong>de</strong>r a questão indígena <strong>de</strong>ntro do quadro geral<br />
das minorias.<br />
Os Conquistados-Colonizados e os Imigrantes<br />
O termo multiculturalismo abarca as variadas formas <strong>de</strong> pluralismo cultural, cada qual com<br />
especificida<strong>de</strong>s e <strong>de</strong>safios. Historicamente, segundo o autor, essa multiplicida<strong>de</strong>, na forma<br />
como as minorias são incorporadas à Nação, ocorre por: (1) conquista e colonização <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s que anteriormente tinham autogoverno; (2) imigração, voluntária ou não, <strong>de</strong><br />
pessoas e famílias. Os diferentes modos <strong>de</strong> agregação <strong>de</strong>ssas minorias afetarão a natureza<br />
<strong>de</strong>sses grupos e as relações que elas manterão com a socieda<strong>de</strong> nacional. (KYMLICKA, 1995)<br />
Ao mesmo tempo, há três possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Estado, resultantes <strong>de</strong>ssa pluralida<strong>de</strong>: o<br />
multinacional, o poliétnico e o multinacional-poliétnico.<br />
O multinacional é aquele que, em sua formação, possuiu grupos conquistados ou<br />
colonizados, <strong>de</strong> modo que po<strong>de</strong>mos observar várias culturas coexistirem no mesmo país.<br />
Esse Estado só sobreviverá se os vários grupos nacionais forem leais a essa socieda<strong>de</strong>.<br />
(KYMLICKA: 1995)<br />
44
Assim, Kymlicka (1995, p.13) diferencia patriotismo <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional. O primeiro é o<br />
sentimento <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> ao Estado; o segundo, o senso <strong>de</strong> pertencer a um grupo nacional.<br />
Um exemplo <strong>de</strong> país multicultural é a Suíça, que não tem uma única i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional,<br />
mas a <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> povos distintos. Lá, a lealda<strong>de</strong> do povo para com o Estado advém do<br />
reconhecimento e respeito das diversas comunida<strong>de</strong>s nacionais ao Estado Maior.<br />
O Estado poliétnico tem, em sua constituição, pessoas que imigraram, voluntariamente ou<br />
não. O país que aceitou significativo número <strong>de</strong> pessoas e famílias <strong>de</strong> outras culturas como<br />
imigrantes, permitiu que eles mantivessem algumas <strong>de</strong> suas particularida<strong>de</strong>s étnicas. Esses<br />
grupos não são nações, não estão na terra natal e não esperam direitos similares aos das<br />
minorias nacionais. (KYMLICKA: 1995) De acordo com o autor, não há rejeição às políticas <strong>de</strong><br />
assimilação por esses imigrantes porque não almejam uma socieda<strong>de</strong> paralela, como as<br />
minorias nacionais. Muitas vezes, o <strong>de</strong>sejo é só o <strong>de</strong> manter alguns dos seus hábitos, tais<br />
como a religião, a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> associação, a alimentação, etc.<br />
O caso <strong>de</strong> Quebec, no Canadá, é diferente, porque os colonizados não se enxergavam como<br />
“imigrantes”, mas, sim, esperavam reproduzir a socieda<strong>de</strong> original naquela nova terra. Já os<br />
hispânicos, nos EUA, vão além do mo<strong>de</strong>lo poliétnico, porque não são uma única categoria:<br />
há os chicanos e os porto-riquenhos (minoria nacional); há os latinos, que migraram mais<br />
recentemente em busca <strong>de</strong> novas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabalho e há os mexicanos ilegais e os<br />
cubanos refugiados. Cada grupo tem necessida<strong>de</strong>s específicas. Aqueles que imigraram para<br />
os EUA com intenção <strong>de</strong> ficar e <strong>de</strong> se tornar cidadãos <strong>de</strong>monstram estar comprometidos em<br />
apren<strong>de</strong>r inglês e em querer participar da socieda<strong>de</strong> nacional. (Ibid., p.15-16)<br />
O Estado multinacional-poliétnico apresenta ambas as composições na população, como é o<br />
caso do Canadá, dos EUA e do Brasil.<br />
45
Em vista das críticas que o termo multiculturalismo gera, como a alegação <strong>de</strong> que segrega ou<br />
permite a formação <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s paralelas, o autor diz que usará outros termos menos<br />
polêmicos, como Estados multinacionais e poliétnicos, mas ambos com o mesmo significado<br />
do multiculturalismo. Num outro trabalho, Kymlicka (2007, p.18) vai além nos sinônimos:<br />
“for those who dislike the term [multiculturalism], and who prefer another one, such as<br />
‘minority rights’, ‘diversity policies’, ‘interculturalism’, ‘cultural rights’, or ‘differentiated<br />
citizenship’, feel free to substitute it as you go along”.<br />
Entretanto mais divergências quanto aos resultados do multiculturalismo advêm da<br />
amplitu<strong>de</strong> que ele po<strong>de</strong> ter para alguns, que consi<strong>de</strong>ram além da questão étnica, como a<br />
categoria <strong>de</strong> marginalizados da socieda<strong>de</strong> pelos mais variados motivos. Segundo Kymlicka,<br />
[...] in the United States, where advocates of a ‘multicultural’ curriculum are<br />
often referring to efforts to reverse the historical exclusion of groups such as<br />
the disabled, gays and lesbians, women, the working class, atheists, and<br />
Communists. (KYMLICKA, 1995, p.18)<br />
Por essa abrangência, no limite, po<strong>de</strong>mos classificar como multicultural qualquer país<br />
segundo os diferentes estilos <strong>de</strong> vida, postura política, gênero, religião, etc. Obviamente,<br />
essa não é a vertente predominante no multiculturalismo, mas há alguma semelhança<br />
<strong>de</strong>sses grupos em relação a ele: as reivindicações <strong>de</strong> todos esses movimentos por justiça,<br />
inclusive dos grupos étnicos, porque todos estão excluídos em função <strong>de</strong> suas “diferenças”.<br />
Para Kymlicka (1995), etnia é o critério para o multiculturalismo e ele salienta a importância<br />
<strong>de</strong> discernir as minorias nacionais, que buscam integrar o autogoverno <strong>de</strong> suas socieda<strong>de</strong>s<br />
ao Estado, dos grupos étnicos <strong>de</strong> imigrantes, que <strong>de</strong>ixaram as próprias nações para entrar<br />
em uma nova socieda<strong>de</strong>. Afirma que a maioria dos países que tem, na composição, minorias<br />
46
nacionais não se sente preparada para reconhecê-las, especialmente no que diz respeito às<br />
<strong>de</strong>mandas por direitos constitucionais especiais.<br />
O autor (KYMLICKA, 1995, p.27-33) apresenta três direitos específicos <strong>de</strong> grupos: (i) <strong>de</strong><br />
autogoverno; (ii) poliétnicos; (iii) <strong>de</strong> representação especial.<br />
Os direitos <strong>de</strong> autogoverno, autoexplicativo e característico das minorias nacionais, parecem<br />
mais simples <strong>de</strong> ocorrer em sistemas <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ralismo, justamente pela <strong>de</strong>scentralização,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> que essa minoria se torne maioria em uma subunida<strong>de</strong> nacional.<br />
Entre os direitos poliétnicos, característicos dos imigrantes, citamos três: (1) a “<strong>de</strong>manda da<br />
política separada da nacionalida<strong>de</strong> – como já ocorria com a religião” (Walzer, 1982 apud<br />
Kymlicka, 1995, p.30); (2) a reivindicação por fundos públicos para a prática cultural <strong>de</strong>sses<br />
grupos, em igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> condições na valorização das culturas da nação; (3) – o mais<br />
controverso – a solicitação por exceções em leis e regulamentações que os prejudiquem em<br />
razão das práticas religiosas, como os Sikh policiais, com permissão <strong>de</strong> não usar capacetes<br />
por causa do turbante, ou, conforme recentemente noticiado, meninas muçulmanas na<br />
França usarem o xador com o uniforme <strong>escola</strong>r.<br />
Já os direitos <strong>de</strong> representação especial abarcam as minorias, os grupos étnicos e outros<br />
grupos sociais não étnicos, preocupados com a falta <strong>de</strong> representação da diversida<strong>de</strong> da<br />
população na política. Para solucionar esse problema, há propostas <strong>de</strong> se adotar um sistema<br />
proporcional e/ou <strong>de</strong> tornar os partidos políticos mais inclusivos.<br />
Esses três tipos <strong>de</strong> direito po<strong>de</strong>m sobrepor-se uns aos outros. Por exemplo, grupos indígenas<br />
po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>sejar representação especial no governo central em vista da <strong>de</strong>svantagem em que<br />
47
se encontram na socieda<strong>de</strong>, como também po<strong>de</strong>m solicitar direitos <strong>de</strong> autogoverno em<br />
razão <strong>de</strong> seu status <strong>de</strong> povo ou nação. (Ibid., p.33)<br />
O Conflito Entre Direitos Individuais e Direitos Coletivos<br />
Neste subitem fica explícita a visão liberal 7 <strong>de</strong> Kymlicka quanto ao multiculturalismo. O autor<br />
procura <strong>de</strong>monstrar a inexistência <strong>de</strong> conflito entre os direitos individuais e os coletivos por<br />
dois raciocínios: (i) as necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> grupos sociais por restrições internas e/ou proteção<br />
externa; (ii) a ambiguida<strong>de</strong> gerada pela expressão “direitos coletivos”.<br />
A primeira linha <strong>de</strong> raciocínio leva à tentativa <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r as <strong>de</strong>mandas dos grupos<br />
étnicos ou minoritários. De acordo com o autor, há oposições <strong>de</strong> grupos aos próprios<br />
membros e <strong>de</strong> outros, à socieda<strong>de</strong> nacional, respectivamente <strong>de</strong>mandas por restrições<br />
internas e por proteções externas. (KYMLICKA, 1995)<br />
Essas “restrições internas” existem em diferentes níveis <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namento social. Estados<br />
<strong>de</strong>mocráticos as impõem a seus cidadãos para manter a or<strong>de</strong>m cívica no país, como no caso<br />
da obrigatorieda<strong>de</strong> do serviço militar, da votação nas eleições, dos serviços comunitários,<br />
etc. Para o autor, as minorias solicitam essas limitações para garantir a conservação <strong>de</strong> sua<br />
comunida<strong>de</strong> contra os dissi<strong>de</strong>ntes locais. Por exemplo: e se a condição das mulheres <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>sse grupo ou minoria for diferente da comum na socieda<strong>de</strong> nacional e isso entrar em<br />
conflito com os diretos civis ou políticos e elas começarem a exigir igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> direitos,<br />
7<br />
A saber, <strong>de</strong> acordo com Heywood, (2000, p.60) “Liberalism is a political i<strong>de</strong>ology whose central theme is a<br />
commitment to the individual and to the construction of a society in which individuals can satisfy their interests<br />
or achieve fulfilment. The core values of liberalism are individualism, rationalism, freedom, justice and<br />
toleration. The liberal belief that human begins are, first and foremost, individuals, endowed with reason,<br />
implies that each individual should enjoy the maximum possible freedom consistent with a like freedom for all.<br />
However, although individuals are ‘born equal’ in the sense that they are of equal moral worth and should<br />
enjoy formal equality and equal opportunities, liberals differing levels of talent willingness to work, and<br />
therefore favour the principle of meritocracy. A liberal society is characterized by diversity and pluralism and is<br />
organized politically around the twin values of consent and constitutionalism, combined to form the structures<br />
of liberal <strong>de</strong>mocracy”.<br />
48
como <strong>de</strong> fato po<strong>de</strong> ocorrer na socieda<strong>de</strong> nacional oci<strong>de</strong>ntal? Um Estado <strong>de</strong>mocrático não<br />
po<strong>de</strong>ria permitir tal tipo <strong>de</strong> limitação, porque os indivíduos <strong>de</strong>ssa comunida<strong>de</strong> têm os<br />
direitos garantidos por ele, embora os direitos poliétnicos e <strong>de</strong> autogoverno possam ter por<br />
finalida<strong>de</strong> estabelecer restrições internas, o que gera conflito <strong>de</strong> opinião com o governo<br />
nacional no que se refere o atendimento <strong>de</strong>ssas <strong>de</strong>mandas. (KYMLICKA, 1995)<br />
Já a proteção externa é menos polêmica, porque visa a reduzir a vulnerabilida<strong>de</strong> dos grupos<br />
minoritários em função <strong>de</strong> pressões econômicas e <strong>de</strong>cisões políticas da socieda<strong>de</strong> nacional.<br />
Segundo o autor:<br />
Un<strong>de</strong>r these circumstances, there is no necessary conflict between external<br />
protections and the individual rights of group members. The existence of<br />
such external protections tells us about the relationship between the<br />
majority and minority groups; it does not yet tell us about the relationship<br />
between the ethnic or national group and its own members. (KYMLICKA,<br />
1995, p.38)<br />
Desse modo, essas proteções não comprometem o respeito aos direitos políticos e civis <strong>de</strong><br />
seus membros, enquanto as restrições internas po<strong>de</strong>m apresentar ameaças reais 8 . Todavia<br />
as políticas <strong>de</strong> multiculturalismo existem para favorecer a expressão das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s<br />
culturais das minorias sem prejudicar os direitos individuais e humanos previstos pela<br />
Constituição Maior. Além do mais, essas <strong>de</strong>mandas por restrições internas, segundo o autor,<br />
precisam ser mencionadas porque existem, mas o apoio a elas, inclusive dos membros das<br />
comunida<strong>de</strong>s minoritárias, normalmente é baixo, como o dos Estados <strong>de</strong>mocráticos:<br />
While most of liberal <strong>de</strong>mocracies have, over the last twenty years, ma<strong>de</strong><br />
some efforts to accommodate ethnic and national differences, this shift<br />
88<br />
Kymlicka (1995, p.41) exemplifica com casos <strong>de</strong> clitori<strong>de</strong>ctomia, ou <strong>de</strong> mulheres que apanham dos maridos<br />
que alegam ser essa uma prática aceitável em sua terra natal; ou <strong>de</strong> crianças cuja educação <strong>escola</strong>r é<br />
interrompida antes do permitido por lei (16 anos nos EUA) para garantir aos pais que se reduzam as<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> elas quererem <strong>de</strong>ixar a comunida<strong>de</strong>.<br />
49
toward a more ‘multicultural’ public policy has almost entirely been a matter<br />
of accepting certain external protections, not internal restrictions.<br />
(KYMLICKA, 1995, p.42)<br />
Já a ambiguida<strong>de</strong> da expressão direitos coletivos se encontraria justamente na dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
se diferenciarem as restrições internas das proteções externas, além <strong>de</strong> uma falsa dicotomia<br />
entre direitos individuais e coletivos. (KYMLICKA, 1995, 2007)<br />
Há também o embate entre os individualistas e os coletivistas. Aqueles argumentam que os<br />
indivíduos compõem a comunida<strong>de</strong>, portanto não haveria motivo para garantir direitos<br />
coletivos; estes inferem que a comunida<strong>de</strong> precisa ser preservada como organismo, com<br />
interesses in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes dos individuais.<br />
A conclusão <strong>de</strong> Kymlicka é que o ponto <strong>de</strong> vista dos coletivistas só se justifica pelas<br />
restrições internas porque essa discussão é irrelevante na <strong>de</strong>mocracia liberal. Os direitos<br />
coletivos são garantidos a indivíduos; logo, po<strong>de</strong>mos dizer que se trata <strong>de</strong> direitos<br />
individuais, ainda que restritos ao grupo. Assim, a principal questão é: por que alguns<br />
direitos, como a língua, a terra, a representação, etc., são garantidos a grupos diferenciados,<br />
enquanto outros não os têm?<br />
Os membros da maioria da nação po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>terminar a língua ensinada nas <strong>escola</strong>s, as leis,<br />
as formas <strong>de</strong> burocracia, etc., já os da minoria, não, portanto o multiculturalismo é<br />
apresentado como solução para esses conflitos e po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado liberal enquanto<br />
“ensure that there is equality between groups, and freedom and equality within groups”.<br />
(KYMLICKA, 1995, p.194)<br />
50
O Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x<br />
Tanto as metas quanto as consequências do multiculturalismo são muitas, <strong>de</strong> forma que é<br />
impossível fornecer um panorama das diferentes formas que ele po<strong>de</strong> assumir. Mesmo que<br />
pareça contraditório tentar sistematizá-lo, para haver alguma possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> observarmos<br />
a abordagem nas práticas em diferentes países, é necessário <strong>de</strong>senvolver critérios para<br />
i<strong>de</strong>ntificar as políticas multiculturais. Assim, aproveitamos um Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x,<br />
<strong>de</strong>senvolvido por Banting & Kymlicka (2006,) que, <strong>de</strong>ntre as limitações, é aplicável somente<br />
ao contexto dos países oci<strong>de</strong>ntais.<br />
O pressuposto é que as políticas multiculturais, geralmente, estão voltadas para<br />
necessida<strong>de</strong>s específicas <strong>de</strong> três grupos: (a) povos indígenas; (b) subestados/minorias<br />
nacionais; (c) imigrantes.<br />
a) Povos Indígenas<br />
Os países oci<strong>de</strong>ntais têm, em sua História, políticas <strong>de</strong> assimilação e integração dos<br />
indígenas à socieda<strong>de</strong> nacional, ou pela redução <strong>de</strong> terras, ou pelas alterações na<br />
organização social interna da al<strong>de</strong>ia, ou por restrições <strong>de</strong> práticas culturais, como língua,<br />
religião, etc.<br />
A partir da década <strong>de</strong> 1970, em diferentes graus, os países perceberam que a existência dos<br />
indígenas não é tão passageira quanto se imaginava e iniciou-se um movimento <strong>de</strong><br />
“<strong>de</strong>scolonização”, com o reconhecimento <strong>de</strong> direitos que lhes possibilitem a preservação<br />
pelo acesso a terra, pela preservação das práticas culturais, etc., todos itens característicos<br />
do multiculturalismo, porém, sob a tutela do Estado.<br />
51
Os autores relacionaram nove políticas que po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>radas multiculturais<br />
(BANTING & KYMLICKA, 2006, p.62):<br />
1. Reconhecimento <strong>de</strong> direito a terra/título;<br />
2. Reconhecimento <strong>de</strong> direito a autogoverno;<br />
3. Defesa <strong>de</strong> tratados históricos e/ou assinatura <strong>de</strong> novos;<br />
4. Reconhecimento <strong>de</strong> direitos culturais (língua, caça/pesca);<br />
5. Reconhecimento <strong>de</strong> direitos consuetudinários (costumes);<br />
6. Garantias <strong>de</strong> representação/consulta no Governo Fe<strong>de</strong>ral/Central;<br />
7. Afirmação constitucional ou legislativa do status <strong>de</strong> povo;<br />
8. Suporte/ratificação dos instrumentos internacionais sobre os direitos;<br />
9. Ações afirmativas para os membros da comunida<strong>de</strong>.<br />
E, para qualificar os países, esses autores <strong>de</strong>terminaram que aqueles que adotam seis ou<br />
mais <strong>de</strong>ssas políticas po<strong>de</strong>m ser classificados como os <strong>de</strong> forte abordagem multicultural; os<br />
que implementam mudanças significativas, porém mo<strong>de</strong>stas, utilizam-se <strong>de</strong> três a cinco<br />
<strong>de</strong>ssa lista e os que pouco ou nada mudaram empregam duas ou menos.<br />
b) Subestado/Minorias Nacionais<br />
Esses grupos se encontram em situação similar à dos indígenas. São os conquistados e<br />
colonizados que se consi<strong>de</strong>ram nação <strong>de</strong>ntro do Estado-Maior. Também por muitos anos<br />
foram submetidos a políticas <strong>de</strong> assimilação e integração, mas resistiram até serem<br />
reconhecidos, apesar <strong>de</strong> não em todos os países oci<strong>de</strong>ntais que os admitem nos territórios<br />
quando se agrupam e formam a maioria local – para isso é preciso que sejam<br />
numericamente consi<strong>de</strong>ráveis –, mas vários <strong>de</strong>sses países já adotaram alguma política<br />
multicultural.<br />
52
Segundo Banting & Kymlicka (2006), essas minorias nacionais também não utilizam o termo<br />
multiculturalismo. Preferem língua da nação, auto<strong>de</strong>terminação, fe<strong>de</strong>ralismo e divisão <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r. Para Estados com políticas multiculturais, os autores classificaram seis práticas<br />
(BANTING & KYMLICKA, 2006, p.60):<br />
1. Autonomia territorial fe<strong>de</strong>ral ou quase fe<strong>de</strong>ral;<br />
2. Status <strong>de</strong> língua oficial na região ou nacionalmente;<br />
3. Garantia <strong>de</strong> representação no governo central ou nos tribunais constitucionais;<br />
4. Fundo público para língua minoritária nas universida<strong>de</strong>s/<strong>escola</strong>s/mídia;<br />
5. Afirmação constitucional ou parlamentar do “multiculturalismo” (termo similar);<br />
6. Acordos internacionais pessoais (p. ex. permissão para o subestado da minoria<br />
nacional pleitear ca<strong>de</strong>iras em organismos internacionais, assinar tratados ou ter o<br />
próprio time olímpico).<br />
Segundo os autores, para minorias nacionais numericamente baixas, o tratamento <strong>de</strong>verá<br />
ser diferente, mas isso não será abordado neste trabalho. E a classificação dos países em<br />
forte, mo<strong>de</strong>rado e fraco em políticas multiculturais tem como resultado, respectivamente, a<br />
adoção <strong>de</strong> quatro ou mais, duas a três, ou <strong>de</strong> menos <strong>de</strong> duas políticas citadas anteriormente.<br />
c) Grupos <strong>de</strong> Imigrantes<br />
Esses grupos, até a década <strong>de</strong> 1960, eram admitidos nos países oci<strong>de</strong>ntais com restrições<br />
raciais e culturais e permitida somente a entrada daqueles que tivessem melhores condições<br />
<strong>de</strong> se adaptar à cultura nacional <strong>de</strong>sses países, normalmente os europeus e seus<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes, todavia, após esse período, o critério <strong>de</strong> aceitação dos imigrantes abrandou-<br />
se, com a inclusão dos não europeus e, ao mesmo tempo, com a abertura para uma<br />
abordagem mais “multicultural”.<br />
53
Como já mencionado, os grupos <strong>de</strong> imigrantes têm necessida<strong>de</strong>s diferentes das das minorias<br />
nacionais e das dos povos indígenas. Banting & Kymlicka (2006, p.56) enumera as oito<br />
principais políticas que caracterizam um país com tratamento multicultural:<br />
1. Afirmação constitucional, legislativa ou parlamentar do “multiculturalismo” nos<br />
níveis central e/ou estadual e municipal;<br />
2. Adoção do “multiculturalismo” no currículo <strong>escola</strong>r;<br />
3. Inclusão da representação, ou ao menos <strong>de</strong> sensibilização, <strong>de</strong> grupos étnicos nos<br />
mandatos públicos e nos meios <strong>de</strong> comunicação;<br />
4. Isenção no código <strong>de</strong> vestimenta e na legislação para, por exemplo, não se trabalhar<br />
em <strong>de</strong>terminados dias da semana por questões religiosas, etc., por lei ou <strong>de</strong>cisão<br />
judicial;<br />
5. Permissão para dupla cidadania;<br />
6. Fundos para organizações <strong>de</strong> grupos étnicos apoiarem ativida<strong>de</strong>s culturais;<br />
7. Fundos para educação bilíngue ou instrução em língua materna;<br />
8. Ações afirmativas para grupos <strong>de</strong> imigrantes em <strong>de</strong>svantagem.<br />
Novamente, se um país adota seis ou mais <strong>de</strong>ssas políticas, é consi<strong>de</strong>rado com forte<br />
abordagem multicultural; <strong>de</strong> três a cinco, com mo<strong>de</strong>rada e até três, fraca.<br />
Não foi possível termos acesso à metodologia, <strong>de</strong> modo que não fica claro se somente a<br />
adoção <strong>de</strong> uma única política <strong>de</strong>ssas listas, mesmo que municipal, já consi<strong>de</strong>raria um ponto<br />
na avaliação do país. Também não há informações <strong>de</strong> que todas as políticas têm o mesmo<br />
peso 9 . Assim, apesar das enormes limitações ao apresentarmos um índice sintético sem<br />
informações sobre o grau quantitativo e qualitativo <strong>de</strong> avaliação <strong>de</strong>ssas políticas, além do<br />
9<br />
No trabalho <strong>de</strong> Van Cott (2006), apresentado no capítulo 4, sobre as políticas multiculturais para os indígenas,<br />
a autora afirma que os pesos são os mesmos nesta proposta <strong>de</strong> In<strong>de</strong>x.<br />
54
grau <strong>de</strong> implementação, consi<strong>de</strong>ramos válida a indicação <strong>de</strong> uma tentativa <strong>de</strong> sistematizar a<br />
abordagem multicultural.<br />
Para darmos melhor finalida<strong>de</strong> a esse índice sintético, apresentarmos, no capítulo O Brasil<br />
Indígena no Contexto Latino, uma avaliação <strong>de</strong> Van Cott (2006) sobre os países da América<br />
Latina em que ela situa o Brasil entre outros países quanto ao grau <strong>de</strong> adoção do<br />
multiculturalismo com relação à questão indígena.<br />
3.3.3. Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos: Referência “Oficial” no Brasil<br />
Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos, ao que tudo indica, é o autor dos “livros <strong>de</strong> cabeceira” dos<br />
formuladores <strong>de</strong> políticas do governo Lula sobre a abordagem multicultural das políticas<br />
públicas 10 .<br />
Neste capítulo preten<strong>de</strong>mos apresentar a concepção do autor. Sociólogo português ligado à<br />
esquerda, participou <strong>de</strong> Fóruns Sociais Mundial, aumentando sua popularida<strong>de</strong> em alguns<br />
setores i<strong>de</strong>ológicos do Brasil.<br />
Segundo Santos & Nunes (2003), o multiculturalismo po<strong>de</strong> ser concebido tanto como uma<br />
teoria <strong>de</strong>scritiva, como um projeto. Por teoria <strong>de</strong>scritiva, enten<strong>de</strong>-se o reconhecimento <strong>de</strong><br />
diferentes culturas no mundo, a coexistência <strong>de</strong>las em um mesmo Estado-nação e a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> influência que uma po<strong>de</strong> ter sobre a outra; por projeto, as políticas públicas<br />
que salientam ou reconhecem essas diferenças e que muitas vezes são vistas com ceticismo<br />
por setores da socieda<strong>de</strong>.<br />
10<br />
Sousa é o único autor/teórico/acadêmico mencionado em toda a mensagem presi<strong>de</strong>ncial do Plano Plurianual<br />
2004-2007. Para conferir: , acesso<br />
em 2010.<br />
55
Há dois principais tipos <strong>de</strong> multiculturalismo como projetos 11 : o conservador e o<br />
emancipatório. O conservador vai ressaltar as diferenças e favorecer uma cultura em<br />
<strong>de</strong>trimento das outras – é integracionista –, enquanto o emancipatório vai reconhecer, <strong>de</strong><br />
maneira igualitária, as diferenças, as várias i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. (SANTOS & NUNES, 2003)<br />
Algumas críticas conservadoras ao multiculturalismo afirmam que seria uma teoria com<br />
projeto “antieuropeu”, isto é, com a pretensão <strong>de</strong> substituir os valores oci<strong>de</strong>ntais por<br />
realizações “inferiores”, sem critério algum, além <strong>de</strong> fragmentar a socieda<strong>de</strong> e ameaçar a<br />
coesão social da nação, na tentativa <strong>de</strong> promover a autoestima das minorias por elas não<br />
terem <strong>de</strong>sempenho a<strong>de</strong>quado no grupo majoritário. (SANTOS & NUNES, 2003, p.29)<br />
Já as críticas da “esquerda” quanto à atual manifestação da teoria <strong>de</strong>claram ser um projeto<br />
eurocêntrico, formulado na concepção das socieda<strong>de</strong>s “mo<strong>de</strong>rnas”, para avaliar as <strong>de</strong>mais<br />
culturas. É racista por manter a própria superiorida<strong>de</strong>, mesmo que não se oponha ao outro,<br />
e os “direitos coletivos são reconhecidos apenas enquanto subordinados à hegemonia da<br />
or<strong>de</strong>m constitucional do Estado-nação” (Ibid., p.31), ou seja, um multiculturalismo<br />
conservador.<br />
Porém, <strong>de</strong> acordo com os autores, o multiculturalismo emancipatório não gera ambiguida<strong>de</strong>,<br />
mas exige o reconhecimento e promove uma “criação <strong>de</strong> políticas sociais voltadas para a<br />
redução das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s, a redistribuição <strong>de</strong> recursos e a inclusão” (SANTOS & NUNES,<br />
2003, p.34), porque reconhece as diferenças, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que isso não gere, dê continuida<strong>de</strong> ou<br />
reproduza distinções, o que torna mais preciso o conceito <strong>de</strong> “cidadania multicultural” 12 .<br />
11 Para outros tipos <strong>de</strong> multiculturalismo, ver Faustino (2006).<br />
12 Este conceito é introduzido pela primeira vez por Kymlicka, próxima vertente a ser apresentada.<br />
56
E, re<strong>de</strong>finida a socieda<strong>de</strong> nacional como “socieda<strong>de</strong> multicultural”, haverá condições para se<br />
estabelecerem os direitos coletivos, entretanto isso <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> uma mudança na<br />
concepção dos direitos humanos. (SANTOS & NUNES, 2003)<br />
Condições Para Uma Política Emancipatória<br />
Santos (2003) argumenta que as condições <strong>de</strong> utilização dos direitos humanos po<strong>de</strong>m<br />
contribuir para a formulação <strong>de</strong> uma verda<strong>de</strong>ira “política emancipatória”, dado que estão no<br />
centro <strong>de</strong> tensões que afetam a mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> oci<strong>de</strong>ntal.<br />
Sob essa perspectiva, o autor (2003) <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> três tensões dialéticas para essa crise: (i) a<br />
entre regulação social e emancipação social; (ii) a entre o Estado e a socieda<strong>de</strong> civil; (iii) a<br />
entre Estado-nação e globalização.<br />
A primeira refere-se à simultaneida<strong>de</strong> que ocorre entre a regulação social e a emancipação<br />
social, <strong>de</strong> modo que a política dos direitos humanos po<strong>de</strong> ser caracterizada pelas duas<br />
variáveis, quando antigamente se po<strong>de</strong>ria dizer apenas que a crise da regulação social<br />
fortalecia as políticas emancipatórias.<br />
A segunda apresenta o Estado e a socieda<strong>de</strong> não como pressupostos, mas como resultantes<br />
da luta política mo<strong>de</strong>rna, <strong>de</strong> forma que a tensão passa a existir entre grupos <strong>de</strong> interesses,<br />
que ora se reproduzem sob a forma <strong>de</strong> um, ora sob a forma <strong>de</strong> outra. Assim, notamos a<br />
troca <strong>de</strong> papéis na História, quando<br />
nos países do Norte Atlântico não a primeira geração <strong>de</strong> direitos humanos (os<br />
direitos cívicos e políticos) foi concebida como uma luta da socieda<strong>de</strong> civil<br />
contra o Estado, consi<strong>de</strong>rado o principal violador potencial dos direitos<br />
humanos, e a segunda e terceira gerações (direitos econômicos e sociais e<br />
direitos culturais, da qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida etc.) foram concebidas como atuações<br />
57
do Estado, então consi<strong>de</strong>rado a principal garantia dos direitos humanos.<br />
(SANTOS, 2003, p.431)<br />
A conclusão é que não po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>scartada a hipótese <strong>de</strong> que, em outros contextos<br />
históricos, possa haver uma sequência oposta ou mesmo ausência <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong> que<br />
contribua para os direitos humanos.<br />
A terceira tensão dialética – entre Estado-nação e globalização – ocorre pela fragilização do<br />
Estado-nação, tido historicamente como o guardião dos direitos humanos com referência à<br />
globalização e à aspiração ao reconhecimento mundial dos direitos humanos, hoje<br />
manifestos na questão cultural e religiosa.<br />
Em função das tensões, Santos (2003) propõe que os direitos humanos sejam repensados<br />
como universais, expressos nesse novo contexto mundial em que se dá a globalização.<br />
Os Direitos Humanos Como Culturas e a Globalização Como Formas <strong>de</strong><br />
Manifestação da Cultura<br />
Para enten<strong>de</strong>rmos melhor a proposta <strong>de</strong> Santos, iniciemos por <strong>de</strong>finir a globalização como<br />
diferentes conjuntos <strong>de</strong> relações sociais “num processo pelo qual <strong>de</strong>terminada condição ou<br />
entida<strong>de</strong> local esten<strong>de</strong> a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, <strong>de</strong>senvolve a capacida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar como sendo local outra condição social ou entida<strong>de</strong> rival” (SANTOS, 2003,<br />
p.433), ou seja, há imposição das mesmas localida<strong>de</strong>s em diferentes regiões do planeta.<br />
São quatro os modos <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> globalização i<strong>de</strong>ntificados por Santos (2003):<br />
1. Localismo Globalizado<br />
2. Globalismo Localizado<br />
3. Cosmopolitismo<br />
58
4. Patrimônio Comum da Humanida<strong>de</strong><br />
O primeiro, próprio dos países centrais, consiste num fenômeno local globalizado com<br />
sucesso. Como exemplo, po<strong>de</strong>mos citar o fast food americano ou a importância da língua<br />
inglesa no cenário mundial.<br />
O segundo, característico dos países periféricos, são práticas transnacionais em condições<br />
locais, <strong>de</strong> modo que há uma <strong>de</strong>sestruturação e uma reestruturação local para acomodar<br />
essas novas práticas. Como exemplo, temos o artesanato e a vida selvagem, presentes na<br />
indústria global do turismo.<br />
Essas duas formas são consi<strong>de</strong>radas formas <strong>de</strong> “globalização hegemônica”, “neoliberal”, no<br />
sentido top-down (<strong>de</strong> cima para baixo) e vão ao encontro do multiculturalismo conservador.<br />
O “cosmopolitismo” abarca as iniciativas mais diversas e amplas por meio <strong>de</strong> articulações<br />
transnacionais que combatem a exclusão e a discriminação social e a <strong>de</strong>struição ambiental,<br />
provocadas pelas “globalizações hegemônicas”, como, por exemplo, as lutas pelos direitos<br />
indígenas e o Fórum Social Mundial.<br />
O “patrimônio comum da humanida<strong>de</strong>” é relativo somente ao planeta, como a<br />
sustentabilida<strong>de</strong> da vida humana na Terra e temas ambientais, como a camada <strong>de</strong> ozônio, a<br />
biodiversida<strong>de</strong>, a exploração do espaço.<br />
Essas duas últimas formas são <strong>de</strong>nominadas “globalizações contra-hegemônicas”,<br />
“solidárias”, no sentido bottom-up (<strong>de</strong> baixo para cima), que vão ao encontro do<br />
multiculturalismo emancipatório.<br />
59
A <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> Santos (2003), por essa classificação, é a <strong>de</strong> que os direitos humanos universais<br />
precisam ser transformados pelo multiculturalismo emancipatório 13 , porque, enquanto<br />
forem concebidos como universais, reproduzirão um localismo globalizado com prejuízo <strong>de</strong><br />
um “choque <strong>de</strong> civilizações”.<br />
A crítica ao universalismo <strong>de</strong>sses direitos <strong>de</strong>ve-se justamente ao fato <strong>de</strong> eles serem<br />
oci<strong>de</strong>ntais, a saber, são quatro os regimes internacionais <strong>de</strong> aplicação dos direitos humanos:<br />
o europeu, o interamericano, o africano e o asiático. Como o autor argumenta, “a<br />
Declaração Universal <strong>de</strong> 1948, [foi] elaborada sem a participação da maioria dos povos do<br />
mundo”. (SANTOS, 2003, p.439) 14<br />
Assim, a proposta é a <strong>de</strong> pensarmos em uma transformação do conceito e das práticas dos<br />
direitos humanos como política emancipatória, com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> adquirir a forma <strong>de</strong> um<br />
projeto cosmopolita. Santos (2003) aponta cinco premissas para essa transformação, como<br />
veremos a seguir.<br />
Premissas Para Uma Política Multicultural Emancipatória<br />
A primeira é a superação do <strong>de</strong>bate sobre universalismo e relativismo cultural. Apesar <strong>de</strong><br />
todas as culturas serem relativas, filosoficamente não se po<strong>de</strong> conceber tal raciocínio, <strong>de</strong><br />
modo que a preocupação central <strong>de</strong>vem ser os diálogos interculturais com convergências<br />
(“interesses isomórficos”), provavelmente expressas em linguagens distintas, segundo<br />
universos culturais diferentes.<br />
13<br />
Santos (2003) <strong>de</strong>ixa claro que vai enfocar essa transformação dos direitos humanos somente sob o aspecto<br />
cultural, daí valer-se do multiculturalismo (emancipatório).<br />
14<br />
Com relação a esse tipo <strong>de</strong> divergência entre a teoria e a prática, há um caso muito interessante narrado por<br />
Garzón e Valle (2006) sobre os povos indígenas colombianos que, por meio da Organização Nacional Indígena<br />
<strong>de</strong> Colômbia (Onic), entraram com uma ação no Conselho <strong>de</strong> Estado para anulação <strong>de</strong> um <strong>de</strong>creto do Governo<br />
que previa a consulta prévia aos povos indígenas da Colômbia para assuntos que afetassem suas terras, modos<br />
<strong>de</strong> vida ou meios <strong>de</strong> sobrevivência. Isso porque, contraditoriamente, o <strong>de</strong>creto havia sido elaborado e<br />
aprovado sem essa consulta.<br />
60
A segunda premissa é a <strong>de</strong> que “todas as culturas possuem concepções <strong>de</strong> dignida<strong>de</strong><br />
humana, mas nem sempre todas elas a concebem em termos <strong>de</strong> direitos humanos”.<br />
(SANTOS, 2003, p.442)<br />
A terceira atesta que “todas as culturas são incompletas e problemáticas nas suas<br />
concepções <strong>de</strong> dignida<strong>de</strong> humana”. Se houvesse alguma cultura completa, somente ela<br />
existiria. Assim, “aumentar a consciência <strong>de</strong> incompletu<strong>de</strong> cultural é uma das tarefas prévias<br />
para a construção <strong>de</strong> uma concepção multicultural <strong>de</strong> direitos humanos”. (Ibid., p.442)<br />
A quarta versa sobre os diversos pontos <strong>de</strong> vista que cada cultura tem em relação à<br />
dignida<strong>de</strong> humana e po<strong>de</strong> ser mais ampla ou mais restrita, além <strong>de</strong> apresentar variações <strong>de</strong><br />
reciprocida<strong>de</strong> entre as culturas e graus <strong>de</strong> abertura <strong>de</strong> uma com a outra, variações essas que<br />
precisam ser i<strong>de</strong>ntificadas.<br />
A última trata <strong>de</strong> dois princípios competitivos <strong>de</strong> vínculo hierárquico a que todas as culturas<br />
<strong>de</strong>stinam homens e grupos sociais: o da igualda<strong>de</strong>, ou seja, <strong>de</strong> uma hierarquia entre<br />
unida<strong>de</strong>s homogêneas, como os estratos socioeconômicos, e o da <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> entre<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, diferenças únicas.<br />
A importância da distinção <strong>de</strong>sses dois princípios justifica-se pela afirmação <strong>de</strong> que “uma<br />
política emancipatória <strong>de</strong> direitos humanos <strong>de</strong>ve saber distinguir entre a luta pela igualda<strong>de</strong><br />
e a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças a fim <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r travar ambas as lutas<br />
eficazmente”. (SANTOS, 2003, p.443) Essa eficácia será garantida pelo diálogo intercultural.<br />
61
Um exemplo muito feliz, a título <strong>de</strong> comparação com o que Taylor 15 sugere, é a separação <strong>de</strong><br />
política e religião. Santos (2003b) argumenta que essa divisão assume contornos muito<br />
específicos na cultura oci<strong>de</strong>ntal e que <strong>de</strong>vemos comparar os direitos humanos <strong>de</strong>sta cultura<br />
com o dharma da cultura hindu e a umma da cultura islâmica, sob a perspectiva das cinco<br />
premissas apresentadas anteriormente para o diálogo intercultural ser eficiente.<br />
Por um lado, expõem-se as críticas das culturas orientais à oci<strong>de</strong>ntal:<br />
A concepção oci<strong>de</strong>ntal dos direitos humanos está contaminada por uma<br />
simetria muito simplista e mecanicista entre direitos e <strong>de</strong>veres. Apenas<br />
garante direitos àqueles dos quais po<strong>de</strong> exigir <strong>de</strong>veres. Isto explica por que<br />
razão, na concepção oci<strong>de</strong>ntal dos direitos humanos, a natureza não tem<br />
direitos: porque não lhe po<strong>de</strong>m ser impostos <strong>de</strong>veres. Pelo mesmo motivo é<br />
impossível garantir direitos às gerações futuras: não têm direitos porque não<br />
têm <strong>de</strong>veres. (SANTOS, 2003, p.446)<br />
Por outro lado, as críticas às culturas orientais pelas oci<strong>de</strong>ntais estão no viés não dialético a<br />
favor da harmonia, pela <strong>de</strong>spreocupação com os princípios <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m <strong>de</strong>mocrática com a<br />
liberda<strong>de</strong> e a autonomia, mas por uma percepção somente da coletivida<strong>de</strong>, que<br />
<strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ra o sofrimento do indivíduo. A solução para essas diferenças estaria no diálogo<br />
intercultural <strong>de</strong> acordo com as cinco premissas mencionadas, que resultariam no<br />
multiculturalismo emancipatório.<br />
O Diálogo Intercultural<br />
A expectativa <strong>de</strong> resultado <strong>de</strong> políticas multiculturais emancipatórias é <strong>de</strong> “uma concepção<br />
culturalmente híbrida da dignida<strong>de</strong> humana e, por isso, também uma concepção mestiça e<br />
multicultural dos direitos humanos”. (SANTOS, 2003, p.450) Dessa forma, mesmo a reflexão<br />
15<br />
Enquanto Taylor apresenta o dilema da necessida<strong>de</strong> da separação da política da religião e a impossibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> tal proposta nos países islâmicos, Sousa propõe a sua “solução”.<br />
62
mais ampla <strong>de</strong> uma única pessoa sobre o assunto não po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rada como resultado,<br />
porque é preciso haver alguém do outro lado para garantir a pon<strong>de</strong>ração ser completa.<br />
Trata-se <strong>de</strong> um processo diferente <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> conhecimento, <strong>de</strong> “produção <strong>de</strong><br />
conhecimento coletiva, participativa, interativa, intersubjetiva e reticular, uma produção<br />
baseada em trocas cognitivas e afetivas que avançam por intermédio do aprofundamento da<br />
reciprocida<strong>de</strong> entre elas”. (Ibid., p.451)<br />
Um dos pontos críticos <strong>de</strong>ssa proposta <strong>de</strong> Santos é a dúvida quanto à capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> superar<br />
a subordinação <strong>de</strong> certas culturas a uma única dominante, no momento <strong>de</strong> um diálogo<br />
intercultural. A argumentação que Santos (2003) exibe – e afirma ser convincente – para os<br />
povos indígenas versa sobre a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> culturas que historicamente foram<br />
massacradas assumirem sua incompletu<strong>de</strong>, o que po<strong>de</strong> acarretar na sua dissolução,<br />
enquanto as dominantes po<strong>de</strong>m auto<strong>de</strong>clarar-se incompletas sem correr o risco <strong>de</strong> extinção.<br />
Diante <strong>de</strong>sse dilema, segundo o autor, há duas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> resultado: o fechamento ou<br />
a conquista cultural. Na verda<strong>de</strong>, o primeiro é auto<strong>de</strong>strutivo e o segundo favorece o<br />
primeiro, o que resulta num círculo vicioso. Com receio <strong>de</strong> haver uma conquista cultural, as<br />
exigências para um diálogo intercultural po<strong>de</strong>riam ser tão altas, que impossibilitariam tal<br />
situação e contribuiriam para o fechamento e, consequentemente, para a conquista. (Ibid.,<br />
p.454)<br />
Por fim, <strong>de</strong>vemos verificar as possibilida<strong>de</strong>s da existência <strong>de</strong> um multiculturalismo<br />
emancipatório. Elas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rão do contexto em que as culturas estão envolvidas, das<br />
relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, do espaço, etc., com condições universais que muito se assemelham às<br />
premissas apresentadas anteriormente (Ibid., p.455-458):<br />
63
1. Da completu<strong>de</strong> à incompletu<strong>de</strong>, ou seja, a completu<strong>de</strong> é o ponto <strong>de</strong> partida<br />
(concepção errônea das culturas), não o <strong>de</strong> chegada. Esse processo <strong>de</strong> consciência se<br />
dá pela autorreflexão dos grupos sociais que <strong>de</strong>verão aceitar a incompletu<strong>de</strong> <strong>de</strong> suas<br />
culturas.<br />
2. Das versões culturais estreitas às versões amplas, porque as culturas têm gran<strong>de</strong><br />
varieda<strong>de</strong> interna no grau <strong>de</strong> flexibilida<strong>de</strong> para compreen<strong>de</strong>r umas às outras. Deve<br />
ser escolhida para o diálogo intercultural aquela que irá mais longe no<br />
reconhecimento da outra.<br />
3. De tempos unilaterais a tempos partilhados, ou seja, a falácia da completu<strong>de</strong> impe<strong>de</strong><br />
que as culturas compreendam que os momentos <strong>de</strong> disposição para o diálogo<br />
intercultural não necessariamente ocorrem ao mesmo tempo em todas as<br />
envolvidas. É preciso que os tempos <strong>de</strong> maturação sejam partilhados, não unilaterais.<br />
4. De parceiros e temas unilaterais impostos a parceiros e temas escolhidos por mútuo<br />
acordo, em que a convergência aos temas ten<strong>de</strong> a ser muito difícil entre os grupos<br />
sociais, <strong>de</strong> modo que <strong>de</strong>ve limitar-se a preocupações isomórficas, expressas em<br />
linguagens distintas.<br />
5. De igualda<strong>de</strong> ou diferença à igualda<strong>de</strong> e diferença, ou seja, o princípio da igualda<strong>de</strong><br />
precisa ser utilizado com o princípio do reconhecimento da diferença.<br />
Como o próprio autor explica, essa proposta <strong>de</strong> multiculturalismo emancipatório ten<strong>de</strong> a ser<br />
muito abstrato e exige uma nova concepção <strong>de</strong> práticas e posturas muitas vezes não viáveis<br />
em todas as culturas envolvidas no mesmo momento, todavia, do mesmo modo, ele afirma,<br />
“certamente é, tão utópico quanto o respeito universal pela dignida<strong>de</strong> humana. E nem por<br />
64
isso este último <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser uma exigência ética séria”. (SANTOS, 2003, p.458) Assim o autor<br />
justifica sua vertente e a consi<strong>de</strong>ração que ela precisa ter no tratamento da abordagem<br />
multicultural <strong>de</strong> políticas públicas.<br />
65
3.4. Uma Sistematização Possível<br />
O multiculturalismo possui algumas vertentes, mas optamos por focalizar apenas as que<br />
consi<strong>de</strong>ramos pertinentes a este trabalho.<br />
Taylor foi selecionado pela abordagem filosófica e abrangente; Kymlicka, por ser um marco<br />
no multiculturalismo e por ter muita influência com políticos/gestores em diversos países do<br />
mundo 16 e Sousa, por ser o mais conhecido, além <strong>de</strong> usado como referência no tema das<br />
políticas públicas fe<strong>de</strong>rais que tratam da diversida<strong>de</strong> no Brasil 17 .<br />
Taylor, filósofo cana<strong>de</strong>nse consi<strong>de</strong>rado republicano-liberal, apresenta o multiculturalismo<br />
justamente pelo aspecto filosófico. Como o <strong>de</strong>bate que ele trava está em alto nível <strong>de</strong><br />
abstração, o leitor po<strong>de</strong>rá dizer que isso dificulta a i<strong>de</strong>ntificação e a sistematização <strong>de</strong><br />
políticas públicas multiculturais, mas a proposta é tratar <strong>de</strong> uma discussão mais teórica, que<br />
resulte em questionamentos.<br />
Há uma passagem em que ele critica a mudança dos currículos <strong>escola</strong>res como ação pontual,<br />
ou seja, afirma que simplesmente essa ação não implicará transformações necessárias, mas<br />
que um conjunto <strong>de</strong>las po<strong>de</strong>rá caracterizar-se como política multicultural.<br />
Quais seriam as outras ações? E essa não seria importante como passo inicial em direção a<br />
um novo conceito <strong>de</strong> políticas públicas?<br />
16<br />
Há um artigo muito interessante em The Wall Street Journal (Zachary, G. Pascal. 2000. "A Philosopher in Red<br />
Sneakers Gains Influence as a Global Guru." Wall Street Journal, March 28, 2000: at B1 – B4) que versa sobre a<br />
popularida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Kymlicka, chamado para ajudar políticos e gestores a refletir sobre a formulação <strong>de</strong> políticas<br />
públicas multiculturais em diversos países.<br />
17<br />
Em entrevista, Ricardo Henriques, ex-secretário (2004 a 2006) da Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada,<br />
Alfabetização e Diversida<strong>de</strong> – SECAD –, menciona esses dois autores como referência, no MEC, para a<br />
formulação <strong>de</strong> políticas públicas.<br />
66
Para Taylor, as políticas <strong>de</strong> reparação são um equívoco, porque são concebidas como<br />
temporárias, e o multiculturalismo não o é. Essa argumentação faz sentido, mas quais<br />
seriam as essenciais para consi<strong>de</strong>rarmos um país pleno em políticas multiculturais? As <strong>de</strong><br />
reparação não po<strong>de</strong>m contribuir para a conscientização mais clara das minorias sobre a<br />
própria condição na socieda<strong>de</strong> nacional, dado que por muitos anos foram submetidas a<br />
políticas <strong>de</strong> integração?<br />
O que vemos, por meio <strong>de</strong>sse autor, é uma balança com dois pratos que se equilibram: num,<br />
há propostas <strong>de</strong> políticas multiculturais, como a separação <strong>de</strong> política e religião; noutro,<br />
consi<strong>de</strong>rações imprescindíveis ao multiculturalismo, o reconhecimento das diferenças<br />
culturais, como ocorre com o Islamismo, que não separa política <strong>de</strong> religião.<br />
Já Will Kymlicka, filósofo político cana<strong>de</strong>nse, auto<strong>de</strong>nominado liberal, arrisca-se na<br />
elaboração <strong>de</strong> um Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x, publicado em 2006. É consi<strong>de</strong>rado o<br />
primeiro estudioso a lançar um livro – marco na teoria do multiculturalismo –, intitulado<br />
Multicultural Citizenship (1995), em que reflete sobre a concepção <strong>de</strong> políticas multiculturais<br />
como forma <strong>de</strong> promover a cidadania sem <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> lado a questão cultural.<br />
A perspectiva <strong>de</strong>le são os indivíduos, classificados em grupos distintos (colonizados,<br />
imigrantes) que formarão Estados (multinacional, poliétnico, multinacional-poliétnico). Ele<br />
recusa veementemente a tentativa <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s se imporem aos próprios membros por<br />
meio <strong>de</strong> restrições internas, porque tal situação daria oportunida<strong>de</strong> à supressão <strong>de</strong><br />
indivíduos, confinados a um regime não <strong>de</strong>mocrático. Alega também que os direitos<br />
coletivos justificam essas restrições e <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> os direitos individuais estendidos à<br />
coletivida<strong>de</strong>, como, por exemplo, todos po<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>cidir em qual língua será o ensino nas<br />
<strong>escola</strong>s. Como não haverá consenso nacional em razão da diversida<strong>de</strong> cultural <strong>de</strong> um país, a<br />
67
proposta é que alguns direitos individuais sejam oferecidos a <strong>de</strong>terminados grupos e<br />
comunida<strong>de</strong>s, para as necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>les, como a exemplificada, serem atendidas, porém<br />
sempre em consonância com os direitos civis, políticos e humanos do Estado-Maior, o que<br />
muitas vezes po<strong>de</strong> gerar conflitos.<br />
Sousa, sociólogo português, contrapõe-se ao liberalismo <strong>de</strong> Kymlicka, ao alegar que há<br />
políticas multiculturais conservadoras, produzidas em conformida<strong>de</strong> com conceitos<br />
oci<strong>de</strong>ntais, como o individualismo, e que, por isso, oprimem e massacram culturas não<br />
dominantes.<br />
Deixamos <strong>de</strong> lado seu discurso <strong>de</strong> esquerda “radical”, em que acusa o capitalismo <strong>de</strong><br />
responsável por tanta submissão e miséria no mundo, por não consi<strong>de</strong>rarmos <strong>de</strong> relevância<br />
para este trabalho, mas citamos a existência <strong>de</strong>le nessas consi<strong>de</strong>rações, porque ele é o autor<br />
tido como referência no atual governo, o que nos leva a julgar que as administrações são<br />
norteadas por teóricos com viés i<strong>de</strong>ológico similar ao do partido da situação.<br />
O multiculturalismo emancipatório <strong>de</strong> Sousa está nas diversas manifestações <strong>de</strong> um mesmo<br />
tema no mundo. O argumento é o <strong>de</strong> tomarmos consciência <strong>de</strong>ssa varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> concepções,<br />
como, por exemplo, a <strong>de</strong> direitos humanos, que tem aumentado o grau <strong>de</strong> complexida<strong>de</strong><br />
diante da globalização.<br />
O dilema do fechamento ou da conquista cultural sugere ser inevitável a assimilação e a<br />
integração das culturas minoritárias se as premissas <strong>de</strong> Sousa, necessárias ao<br />
multiculturalismo emancipatório, não forem atingidas. Porém, se atentarmos bem, a<br />
concepção <strong>de</strong>ssas premissas espera do movimento multicultural o sentido bottom-up, o que<br />
exclui, ao menos inicialmente, a responsabilida<strong>de</strong> do governo e dos gestores na formulação<br />
68
das políticas públicas multiculturais. A<strong>de</strong>pto da i<strong>de</strong>ologia esquerdista, o autor parece<br />
aguardar que os movimentos sociais assumam o controle <strong>de</strong>ssa abordagem.<br />
A participação da socieda<strong>de</strong> é fundamental no Estado <strong>de</strong>mocrático, mas, pela complexida<strong>de</strong><br />
do multiculturalismo, já apresentada, por exemplo, no subitem Ambiguida<strong>de</strong> e Obscurida<strong>de</strong><br />
da Abordagem Multicultural, se o assunto não for muito bem esclarecido para a socieda<strong>de</strong>,<br />
ele levará mais à polarização do que à reflexão.<br />
Um aspecto comum aos três autores é a visão do multiculturalismo intimamente ligada à<br />
<strong>de</strong>mocracia, aos direitos e à cidadania, que adquire o significado <strong>de</strong> inclusão <strong>de</strong> populações<br />
excluídas, porque, nas palavras <strong>de</strong> Ruth Cardoso, “os direitos garantidos a um indivíduo<br />
abstrato – o cidadão – continua a encobrir todas as diferenças” 18 culturais, <strong>de</strong> costume, <strong>de</strong><br />
tradições. Muitas vezes os direitos são previstos para as minorias, mas não exercidos por<br />
elas.<br />
A gran<strong>de</strong> diferença entre essas correntes é que os liberais (Taylor e Kymlicka) nos convidam<br />
a olhar para as diferenças, enquanto o socialista (Sousa) se recusa a aceitar as diferenças e<br />
propõe a superação das contradições do mo<strong>de</strong>lo dos liberais (porém sabemos que todos os<br />
mo<strong>de</strong>los têm contradições), por intermédio da igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconhecimento das diferenças.<br />
Este capítulo, Uma Abordagem Multicultural, apresentou uma visão para se refletir sobre a<br />
formulação <strong>de</strong> políticas públicas. O questionamento que suscitou este estudo foi a<br />
homogeneização das políticas públicas para beneficiários tão distintos culturalmente, em<br />
especial os indígenas brasileiros.<br />
18<br />
Aula <strong>de</strong> Ruth Cardoso num simpósio, com o título “Cidadania em Socieda<strong>de</strong>s Multiculturais”. In: O<br />
Preconceito. Júlio Lerner editor, Imprensa Oficial do Estado, 1996/1997, p.19/20. Disponível em:<br />
, acesso em janeiro <strong>de</strong> 2010.<br />
69
No próximo capítulo, situaremos essa questão no Brasil com a previsão e/ou implementação<br />
<strong>de</strong> políticas públicas multiculturais indigenistas.<br />
Porém, antes do próximo capítulo, apesar <strong>de</strong> não ser esse o objetivo <strong>de</strong>sta dissertação,<br />
<strong>de</strong>vemos mencionar os significados da ciência versus a política <strong>de</strong> Weber (2004), isto é,<br />
observar brevemente a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> consonância entre os aspectos práticos e os teóricos<br />
na adoção <strong>de</strong> políticas públicas.<br />
Acreditamos que a intelectualização e a racionalização não equivalem ao conhecimento<br />
geral crescente a respeito das condições em que vivemos, ao mesmo tempo que não<br />
diminuem o conhecimento do “selvagem”, que sabe agir perfeitamente, <strong>de</strong> acordo com as<br />
próprias necessida<strong>de</strong>s e conhece os meios <strong>de</strong> favorecer-se.<br />
Weber (2004) <strong>de</strong>finirá, <strong>de</strong> modo extremamente lúcido, a posição pessoal do homem <strong>de</strong><br />
ciência diante <strong>de</strong> sua vocação:<br />
Diz-nos ele que se <strong>de</strong>dica à ciência ‘pela ciência’ e não apenas para que da<br />
ciência possam outros retirar vantagens comerciais ou técnicas ou para que<br />
os homens possam melhor nutrir-se, vestir-se, iluminar-se ou locomover-se.<br />
(Ibid., p.37)<br />
Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r disso que a ciência, como teoria pura, não é formulada para se<br />
obterem resultados práticos, isto é, o resultado do trabalho científico do acadêmico é<br />
importante em si e por isso merece ser conhecido.<br />
Po<strong>de</strong>mos perceber tal postura em Taylor, Kymlicka e Sousa, com relação à abordagem<br />
multicultural, posto que a tese é a <strong>de</strong> que as diferentes culturas precisam ser respeitadas, e<br />
aí po<strong>de</strong>mos analisar inclusive o infanticídio praticado em al<strong>de</strong>ias indígenas 19 , o que entra em<br />
19<br />
A prática <strong>de</strong> infanticídio em al<strong>de</strong>ias indígenas ocorre com bebês que nascem com alguma <strong>de</strong>formida<strong>de</strong> física.<br />
70
conflito com questões com que o gestor público <strong>de</strong>verá lidar quando se <strong>de</strong>parar com essas<br />
diferenças culturais.<br />
O gestor público, <strong>de</strong>finido por Weber como “homem político”, colocará em prática sua<br />
“vocação” e influirá sobre outros seres humanos, com a consciência <strong>de</strong> que tem em mãos<br />
um elemento importante da História.<br />
São três as suas qualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>terminantes: paixão, senso <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> e <strong>de</strong><br />
proporção. Weber explica que (i) paixão tem o “sentido <strong>de</strong> ‘propósito a realizar’, ou seja, <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>voção apaixonada a uma ‘causa’”, mas é preciso ter (ii) responsabilida<strong>de</strong> para não se<br />
per<strong>de</strong>r no vazio, isto é, não haver uma “revolução”. E para garantir que esse homem se<br />
transforme em lí<strong>de</strong>r político, é necessário (iii) senso <strong>de</strong> proporção, que permite “que os fatos<br />
ajam sobre si no recolhimento e na calma do interior do espírito, sabendo, por conseguinte,<br />
manter a distância dos homens e das coisas.” (WEBER, 2004, p.107-108).<br />
Por esse apontamento <strong>de</strong> Weber, po<strong>de</strong>mos compreen<strong>de</strong>r que o gestor público (homem<br />
político) tem a difícil missão <strong>de</strong> equilibrar a “paixão ar<strong>de</strong>nte” com o “frio senso <strong>de</strong><br />
proporção”, enquanto o acadêmico (cientista, intelectual) trabalha somente com a primeira.<br />
Outra característica que, em ambas as personagens aqui citadas, repercute <strong>de</strong> maneira<br />
diferente é a vaida<strong>de</strong>. Segundo Weber, “ela é inimiga mortal <strong>de</strong> qualquer <strong>de</strong>voção a uma<br />
causa, inimiga do recolhimento e, no caso em questão, do afastamento <strong>de</strong> si mesmo” (Ibid.,<br />
p.107) que o gestor precisa ter. Essa “moléstia profissional”, por mais que provoque<br />
antipatia no acadêmico, não o atrapalha na ativida<strong>de</strong> científica; já, no gestor, po<strong>de</strong> fazê-lo<br />
per<strong>de</strong>r o senso <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> ou levá-lo a não <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r causa alguma, cego pela se<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r.<br />
71
E um fato incontestável, que contribui para a dificulda<strong>de</strong> do trabalho do gestor, é que “o<br />
resultado da ativida<strong>de</strong> política raramente correspon<strong>de</strong> à intenção original do agente”<br />
(WEBER, 2004, p.109), ou seja, os efeitos <strong>de</strong> políticas não são previstos com tanta clareza.<br />
Ao transferir essa dialética para este trabalho, concluímos que, enquanto os teóricos do<br />
multiculturalismo <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m apaixonadamente a preservação e o respeito às culturas, os<br />
gestores públicos precisarão lidar com questões práticas que questionam a ética, como no<br />
infanticídio praticado em al<strong>de</strong>ias indígenas brasileiras, citado inicialmente.<br />
Lembramos que este parêntese foi feito com o intuito <strong>de</strong> apresentarmos uma importante<br />
discussão, mas não preten<strong>de</strong>mos aprofundar-nos no assunto.<br />
72
4. O Brasil Indígena no Contexto Latino<br />
Este capítulo apresenta duas análises classificatórias dos países da América Latina com<br />
relação à questão indígena. Aproveitaremos ambas para <strong>de</strong>stacar o Brasil no contexto latino,<br />
como forma <strong>de</strong> contribuir para a melhor compreensão sobre a situação das políticas<br />
multiculturais no Brasil.<br />
O primeiro item situa o Brasil no contexto latino ao utilizar, como parâmetro, três tratados e<br />
uma <strong>de</strong>claração. Não po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar a influência que as agências<br />
internacionais <strong>de</strong> cooperação para o <strong>de</strong>senvolvimento tiveram e têm sobre países em<br />
<strong>de</strong>senvolvimento e sobre os sub<strong>de</strong>senvolvidos quanto à <strong>de</strong>finição da adoção <strong>de</strong> políticas<br />
multiculturais. Assim, discutimos o estudo <strong>de</strong> Fajardo (2009), que i<strong>de</strong>ntifica quatro gran<strong>de</strong>s<br />
marcos mundiais (alguns <strong>de</strong> cunho multicultural) na história dos povos tribais e semitribais e<br />
o tempo <strong>de</strong> maturação dos países para a<strong>de</strong>rir ou ratificar e incorporar esses instrumentos às<br />
respectivas constituições.<br />
Na segunda seção, com proposta <strong>de</strong> aplicação do índice sintético <strong>de</strong>scrito em O<br />
Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x, há o resultado <strong>de</strong> uma estimativa, por Van Cott (2006), <strong>de</strong><br />
ranking dos países que têm adotado a abordagem multicultural. Essa sistematização se dá<br />
pela comparação da lista <strong>de</strong> políticas multiculturais <strong>de</strong> Banting & Kymlicka (2006) com os<br />
textos das constituições dos países latinos.<br />
Apesar das limitações <strong>de</strong> ambos os estudos – que apenas investigam a existência <strong>de</strong> políticas<br />
multiculturais nas cartas constitucionais –, este capítulo proporciona, ainda que com<br />
significativo grau <strong>de</strong> comprometimento, um panorama da situação na América Latina e,<br />
principalmente, no Brasil em cotejo com os <strong>de</strong>mais países.<br />
73
4.1. No Cenário dos Tratados Internacionais e Declarações<br />
Como mencionado, Fajardo (2009) situa os países da América Latina em três gran<strong>de</strong>s<br />
convenções internacionais e na Declaração das Nações Unidas, o que perfaz os quatro<br />
gran<strong>de</strong>s marcos nas políticas indigenistas <strong>de</strong>sses países nas últimas décadas, a saber:<br />
• Convenção sobre o Instituto Indigenista Interamericano (III), <strong>de</strong> 1940;<br />
• Convenção 107 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre Populações<br />
Indígenas e Tribais em Países In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong> 1957;<br />
• Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em Países In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong><br />
1989;<br />
• Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, <strong>de</strong> 2007.<br />
Os três primeiros instrumentos são tratados internacionais passíveis <strong>de</strong> ratificação, já o<br />
último não é apenas sujeito a a<strong>de</strong>são.<br />
De acordo com as datas <strong>de</strong> criação, as duas primeiras são apresentadas numa época em que<br />
a visão dos Estados a respeito dos índios era a <strong>de</strong> integrá-los e, assim, acreditava-se estar<br />
promovendo-se <strong>de</strong>senvolvimento. Já a Convenção 169 tem, como base, um mo<strong>de</strong>lo<br />
pluralista, no momento em que o multiculturalismo já estava institucionalizado em países do<br />
hemisfério Norte, como o Canadá. A Declaração segue a mesma linha: reconhece o direito<br />
<strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> e <strong>de</strong> dignida<strong>de</strong> <strong>de</strong> todos os povos. A tabela 2 apresenta um quadro resumido<br />
<strong>de</strong>ssa situação.<br />
74
Tabela 2 – Os quatro instrumentos internacionais, vigentes na América Latina, sobre indígenas<br />
Instrumento Natureza Política na qual se inscreve<br />
Número <strong>de</strong> países que o têm<br />
adotado<br />
Integracionismo 17 <strong>de</strong>pósitos<br />
Convenção sobre o III<br />
(1940)<br />
Convenção 107 da OIT<br />
sobre populações<br />
indígenas (1957)<br />
Convenção 169 da OIT<br />
sobre povos indígenas (PI)<br />
(1989)<br />
Declaração da ONU sobre<br />
os direitos dos povos<br />
indígenas (2007)<br />
Fonte: Fajardo (2009, p.16)<br />
Tratado<br />
vinculante<br />
Tratado<br />
vinculante<br />
Tratado<br />
vinculante<br />
Declaração<br />
Coor<strong>de</strong>nação para políticas 1 país apenas assina, sem<br />
indigenistas<br />
Institucionalização do<br />
<strong>de</strong>pósito<br />
indigenismo (total: 18 países)<br />
Vigente<br />
Estado ou ação<br />
pen<strong>de</strong>nte<br />
Integracionismo<br />
Direitos Indígenas<br />
14 ratificações<br />
Já não está aberto a<br />
ratificações<br />
Vigente ainda em cinco<br />
Estado Tutelar<br />
países da AL e no Caribe<br />
Fim do integracionismo<br />
Promoção <strong>de</strong> controle por PI <strong>de</strong><br />
Aberto a ratificações<br />
suas instituições próprias e<br />
participação <strong>de</strong> povos no Estado<br />
(Base <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>lo pluralista)<br />
14 ratificações<br />
Requer aplicação<br />
Assimilação e fim do genocídio Não requer ratificações<br />
Adotado pela ONU com voto<br />
Reconhecimento <strong>de</strong> igual<br />
favorável <strong>de</strong> todos os países Compromisso dos<br />
dignida<strong>de</strong> dos povos e <strong>de</strong> livre<br />
latino-americanos, exceto da Estados e da ONU para<br />
<strong>de</strong>terminação; aprofundamento<br />
Colômbia (abstenção)<br />
torná-lo efetivo<br />
<strong>de</strong> direitos<br />
75
A Convenção sobre o III, <strong>de</strong> 1940, fez uma revisão crítica das políticas assimilacionistas<br />
que, por muitos séculos, foram adotadas na região latina, dado que os índios estavam<br />
em condições próximas aos “servos <strong>de</strong> fazenda, marginalizados do Estado e dos<br />
benefícios sociais”. (FAJARDO, 2009, p.17-8) Assim, a proposta era efetivar-se a<br />
integração dos índios aos respectivos Estados, e estes <strong>de</strong>finiriam o mo<strong>de</strong>lo mais<br />
apropriado. Na tabela 1, o país que apenas assina é Cuba.<br />
A Convenção 107, <strong>de</strong> 1957, distinguiu dificulda<strong>de</strong>s indígenas em lidar com as relações<br />
trabalhistas, como os casos <strong>de</strong> trabalho forçado e <strong>de</strong> exploração da mão <strong>de</strong> obra nos<br />
sistemas <strong>de</strong> contratação, e concluiu que isso se <strong>de</strong>via à <strong>de</strong>sapropriação territorial<br />
indígena, <strong>de</strong> modo que esse convênio trata também dos direitos a terra e a costumes.<br />
Caberia ao Estado as <strong>de</strong>cisões sobre essas questões sob a forma <strong>de</strong> tutela. Os cinco<br />
países on<strong>de</strong> ainda vigora esse convênio são: Cuba, El Salvador, Haiti, Panamá e<br />
República Dominicana.<br />
A Convenção 169, <strong>de</strong> 1989, contou com a participação <strong>de</strong> alguns povos indígenas e<br />
aboliu <strong>de</strong>finitivamente as políticas integracionistas ao optar por um novo mo<strong>de</strong>lo<br />
pluricultural.<br />
Entre outros, a Convenção 169 reconhece direitos a terra e território, e<br />
o acesso aos recursos naturais; reconhece o próprio direito<br />
consuetudinário, assim como direitos relativos ao trabalho, saú<strong>de</strong>,<br />
comunicações, o <strong>de</strong>senvolvimento das próprias línguas, educação<br />
bilíngue intercultural, etc. (FAJARDO, 2009, p.21)<br />
O Chile foi o último país a ratificar essa convenção, em 2008. No Brasil, isso só ocorreu<br />
em 2002. Segundo Kymlicka (1995), o Brasil <strong>de</strong>morou a a<strong>de</strong>rir por ter insistido na tese<br />
<strong>de</strong> que no país não havia minorias, mas que se tratava <strong>de</strong> um país multirracial, quando<br />
76
o tratado reconhecia justamente a existência <strong>de</strong> vários povos no interior <strong>de</strong> um<br />
mesmo Estado.<br />
De acordo com Fajardo (2009, p.21), em toda a América Latina, “a aplicação efetiva da<br />
Convenção, no entanto, <strong>de</strong>ixa muito a <strong>de</strong>sejar e os Estados seguem funcionando, em<br />
gran<strong>de</strong> parte, pela inércia burocrática <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los integracionistas e autoritários em<br />
matéria indígena”.<br />
A Declaração das Nações Unidas, <strong>de</strong> 2007, foi adotada por sua Assembléia Geral, com<br />
cento e quarenta e três votos a favor, quatro contra e onze abstenções. Segundo<br />
Fajardo (2009, p.23), o resultado do escrutínio “sintetiza os avanços realizados no<br />
direito internacional dos direitos dos povos indígenas, aprofunda e amplia direitos que<br />
estão na Convenção 169, da OIT, recolhe os princípios <strong>de</strong>senvolvidos na jurisprudência<br />
da Corte Interamericana, e incorpora <strong>de</strong>mandas indígenas”. Po<strong>de</strong>mos dizer que um<br />
dos aspectos mais importantes <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>claração e que vai ao encontro da abordagem<br />
apresentada neste trabalho <strong>de</strong> mestrado, é a transformação que sobrevém com o<br />
clássico princípio dos direitos individuais em coletivos.<br />
A Tabela 3, a seguir, apresenta um histórico dos quatro marcos com as respectivas<br />
datas <strong>de</strong> ratificação ou a<strong>de</strong>são. Um fato a ser consi<strong>de</strong>rado acerca <strong>de</strong>sta tabela é que o<br />
Uruguai não entra na classificação porque a influência indígena nessa região é<br />
praticamente nula.<br />
O que limita essa classificação é o fato <strong>de</strong> somente se indicarem as datas <strong>de</strong> ratificação<br />
<strong>de</strong>ssas convenções, sem estudo qualitativo ou verificação do que foi implementado.<br />
77
O Brasil não foi pioneiro na assinatura <strong>de</strong> nenhum dos tratados. Na Convenção III, ele<br />
foi o décimo sétimo dos <strong>de</strong>zoito países a a<strong>de</strong>rirem, à frente somente do Chile; na<br />
Convenção 107, o décimo <strong>de</strong> catorze, antes apenas do Paraguai, <strong>de</strong> El Salvador, da<br />
Colômbia e do Panamá, e, no 169, o décimo segundo entre os treze, novamente à<br />
frente do Chile. O tempo <strong>de</strong> maturação do Brasil até a ratificação <strong>de</strong> cada um dos<br />
tratados foi, respectivamente, <strong>de</strong> treze, <strong>de</strong>zoito e treze anos. Essas são algumas das<br />
inferências que po<strong>de</strong>mos fazer, mas, por esses dados, não po<strong>de</strong>mos concluir que o<br />
Brasil tenha <strong>de</strong>morado mais para assinar, que tenha a<strong>de</strong>rido <strong>de</strong> forma mais enfática<br />
(até mais que os <strong>de</strong>mais). A princípio, não parece ser esse caso.<br />
78
Tabela 3 – Países da América Latina que ratificaram tratados internacionais sobre a temática indígena<br />
País<br />
Convenção III (1940)<br />
Depósitos<br />
Convenção 107<br />
(1957) ratificações<br />
Convenção 169<br />
(1989) ratificações<br />
Convenção OIT<br />
vigente até hoje<br />
Argentina 16/1/48 18/1/1960 3/7/2000 Convenção 169<br />
Bolívia 28/4/45 12/1/1965 11/12/1991 Convenção 169<br />
Brasil 24/11/53 18/6/1965 25/7/2002 Convenção 169<br />
Chile 3/1/68 15/9/2008 Convenção 169<br />
Colômbia 10/4/44 4/3/1969 7/8/1991 Convenção 169<br />
Costa Rica 19/11/44<br />
29/11/40 (apenas<br />
4/5/1959 2/4/1993 Convenção 169<br />
Cuba<br />
assina, sem <strong>de</strong>pósito) 2/6/1958 Convenção 107<br />
El Salvador 30/7/41 3/10/1969 Convenção 107<br />
Equador 13/12/41 18/11/1958 15/5/1998 Convenção 169<br />
Guatemala 1º/8/47 5/6/1996 Convenção 169<br />
Haití 4/3/1958 Convenção 107<br />
Honduras 29/7/41 28/3/1995 Convenção 169<br />
México 2/5/41 1º/6/1959 5/9/1990 Convenção 169<br />
Nicarágua 10/3/42 Sem registro<br />
Panamá 27/7/43 4/6/1971 Convenção 107<br />
Paraguai 17/6/41 20/2/1969 10/8/1993 Convenção 169<br />
Peru 19/11/43 6/12/1960 2/2/1994 Convenção 169<br />
República Dominicana 10/8/44 23/6/1958 Convenção 107<br />
Venezuela 4/10/48 22/5/2002 Convenção 169<br />
Total<br />
17 <strong>de</strong>pósitos<br />
14 ratificações<br />
1 assinatura<br />
14 ratificações<br />
Fonte: Fajardo (2009, p.24)<br />
79
Não vamos entrar em <strong>de</strong>talhes sobre a próxima tabela (4 – Provisões constitucionais<br />
sobre os povos indígenas), mas Fajardo <strong>de</strong>monstra em que medida existem normas<br />
nas constituições dos países sobre os direitos indígenas 20 . Nessa tabela (4), o Brasil<br />
está em sexto lugar e, se <strong>de</strong>finíssemos faixas <strong>de</strong> variação <strong>de</strong>sse percentual (0%-15%,<br />
16%-35%, 36%-50%), estaria no meio, isto é, nem tão forte, nem tão fraco em relação<br />
à adoção <strong>de</strong> normas, na Constituição, sobre os direitos indígenas.<br />
Tabela 4 – Provisões constitucionais sobre os povos indígenas<br />
Legislação % <strong>de</strong> indicadores<br />
Constitucional<br />
cobertos<br />
1 México 47%<br />
2 Venezuela 45%<br />
3 Equador 45%<br />
4 Colômbia 33%<br />
5 Nicarágua 25%<br />
6 Brasil 18%<br />
7 Paraguai 18%<br />
8 Bolívia 16%<br />
9 Argentina 16%<br />
10 Guatemala 14%<br />
11 Peru 14%<br />
12 Panamá 12%<br />
13 Honduras 4%<br />
14 Guiana 3%<br />
15 El Salvador 3%<br />
16 Costa Rica 2%<br />
17 Suriname 2%<br />
18 Belize 1%<br />
19 Chile 0%<br />
20 Uruguai 0%<br />
Fonte: Fajardo (2009, p.30)<br />
A importância <strong>de</strong>sses tratados está na relevância que as instituições internacionais <strong>de</strong><br />
cooperação para o <strong>de</strong>senvolvimento têm na América Latina no que se refere às<br />
20 A autora expressa essas normas em porcentagem <strong>de</strong> incidência num total <strong>de</strong> cento e quarenta e cinco<br />
indicadores. Para algumas informações adicionais, ver Fajardo. (2009)<br />
80
políticas indigenistas <strong>de</strong> cada país, especialmente a partir da década <strong>de</strong> 1990. Nas<br />
palavras <strong>de</strong> Verdum:<br />
[E]ssas instituições passaram a atuar não somente como agentes<br />
financeiros e <strong>de</strong> assistência técnica, mas também como agentes<br />
políticos, influindo na <strong>de</strong>finição das políticas setoriais e como um<br />
“aliado” do movimento indígena no sentido da flexibilização dos<br />
mecanismos <strong>de</strong> tutela e controle governamental. (VERDUM, 2009,<br />
p.100)<br />
Dessa forma, mesmo que esse panorama não seja embasado em um trabalho <strong>de</strong><br />
profundida<strong>de</strong> – porque a classificação dos países se dá somente pela ratificação e<br />
previsão <strong>de</strong> direitos indígenas na Constituição – a apresentação é válida, assim como a<br />
próxima classificação, <strong>de</strong> Van Cott (2006), porque permite situar o Brasil no contexto<br />
latino. Assim, po<strong>de</strong>mos ter uma visão geral da situação brasileira, em comparação com<br />
outros países latinos em contextos mais similares ao brasileiro do que o Canadá e os<br />
EUA, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> a abordagem multicultural é originária.<br />
81
4.2. A aplicação da abordagem: Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x<br />
Van Cott (2006) avalia o multiculturalismo nas questões indígenas da América Latina<br />
relativamente ao Multiculturalism Policy In<strong>de</strong>x, <strong>de</strong> Banting & Kymlicka (2006) e leva em<br />
conta as informações obtidas nas constituições dos diversos países.<br />
Posto que, na América Latina, as legislações muitas vezes não são executadas, a<br />
classificação dos países apenas pela previsão <strong>de</strong> políticas multiculturais nas<br />
constituições representa sério comprometimento.<br />
Segundo Van Cott, as políticas multiculturais nessa região são relativas às duas últimas<br />
décadas e estão quase que exclusivamente ligadas à questão dos índios e dos negros.<br />
A percepção <strong>de</strong>ssa autora é que os indígenas ganharam muita visibilida<strong>de</strong> na América<br />
Latina em razão da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilização nos 1980 e 1990, conforme o relatado<br />
na seção Histórico do capítulo O Brasil e a Questão Indígena.<br />
De acordo com a avaliação <strong>de</strong> Van Cott (2006) sobre o índice sintético no contexto<br />
latino-americano, há duas variáveis não passíveis <strong>de</strong> análise: (3) <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> tratados<br />
históricos e/ou assinatura <strong>de</strong> novos; (9) ações afirmativas para os membros da<br />
comunida<strong>de</strong> indígena.<br />
A primeira, porque não era habitual que indígenas fizessem tratados com potências<br />
europeias e houvesse algum histórico <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reivindicação atualmente, e,<br />
além disso, os países latinos obtiveram sua in<strong>de</strong>pendência tardiamente, se<br />
comparados à América do Norte (origem <strong>de</strong>sse índice sintético), daí tais tratados não<br />
existirem. A segunda, porque ações afirmativas voltadas para populações indígenas<br />
são muito escassas na América Latina. A ênfase que o Brasil começou a dar<br />
82
ecentemente foi à questão do negro (sistema <strong>de</strong> cotas para universida<strong>de</strong>s,<br />
telenovelas, eventos <strong>de</strong> moda, etc.) 21 .<br />
A outra proposta <strong>de</strong> mudança do índice sintético, por Van Cott, alu<strong>de</strong> ao peso igual<br />
dado às diferentes políticas multiculturais por Banting & Kymlicka (2006). Aquela<br />
autora atribui peso maior à política <strong>de</strong> autogoverno, que confere po<strong>de</strong>r jurisdicional e<br />
recursos econômicos para a al<strong>de</strong>ia, por julgar esses itens peças-chave para qualquer<br />
al<strong>de</strong>ia indígena ter oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sobreviver. O resultado <strong>de</strong>ssa pesquisa (Tabela 5)<br />
fica incompleto por não termos acesso à metodologia <strong>de</strong> cálculo do índice sintético.<br />
21 A autora po<strong>de</strong>ria consi<strong>de</strong>rar que as ações afirmativas no Brasil ainda são mo<strong>de</strong>stas ou fracas, mas não<br />
nulas. Ela justifica com um trabalho <strong>de</strong> Hunt <strong>de</strong> 2004, que parece não consi<strong>de</strong>rar programas <strong>de</strong> cotas<br />
para os indígenas nas universida<strong>de</strong>s, formação <strong>de</strong> professores indígenas, ou leis estaduais <strong>de</strong> acesso <strong>de</strong><br />
indígenas a universida<strong>de</strong>s.<br />
83
Tabela 5 – Políticas multiculturais para os indígenas na América Latina 22<br />
País<br />
Data da Constituição/<br />
Reconhecimento<br />
Direitos Coletivos <strong>de</strong><br />
Terra<br />
Direitos <strong>de</strong><br />
autogoverno<br />
Direitos<br />
Culturais<br />
Leis <strong>de</strong><br />
Costumes<br />
Representação no<br />
Governo Central<br />
Afirmação<br />
do status <strong>de</strong><br />
diferente<br />
Ratificação da<br />
Convenção 169<br />
Ações<br />
Afirmativas Pontuação<br />
Argentina 1994 s n s s n s 2000 n 5<br />
Belize 1981 n n n n n n n n 0<br />
Bolívia 1995 s s, limitado s s n s 1991 n 5.5<br />
Brasil 1988 s n s s n s 2002 y 6<br />
Chile 1993 por estatuto n n n s, limitado n n n n 1<br />
Colômbia 1991 s s s s s s 1991 y 8<br />
Costa Rica leis aprovadas em 1977/93/99 s n s s n n 1993 n 3<br />
Equador 1998 s s s s s s 1998 n 7<br />
El Salvador 1983/91-2 s n n n n n n n 1<br />
Guatemala 1986 s n s s n s 1996 n 5<br />
Guiana 1980/96 s n n n n n n n 1<br />
Honduras 1982 s n s s n n 1995 n 4<br />
México 1917/92/2001 s s s s n s 1990 n 6<br />
Nicarágua 1987/95 s s s s n s n n 5<br />
Panamá 1972/83/93-4 s s s s s s n n 6<br />
Paraguai 1992 s s s s n s 1993 n 6<br />
Peru 1993/2003-4 s, enfraquecidos em 1993 s s s n s 1994 n 5<br />
Suriname 1987 n n n n n n n n 0<br />
Venezuela 1999 s s s s s s 2002 n 7<br />
Fonte: Van Cott (2006, p.274) - tradução nossa; legenda: s - sim, n - não<br />
22 Como já foi abordado na apresentação do estudo <strong>de</strong> Fajardo (2009), o Chile ratificou a Convenção 169 em 2008.<br />
84
Uma vez que duas das nove políticas do índice não estão presentes nessa classificação,<br />
a autora <strong>de</strong>termina, respectivamente, a seguinte pontuação para qualificar os países<br />
entre “fortes”, “mo<strong>de</strong>rados” e “fracos”: 6 a 7, 2 a 5, e 0 a 1. A próxima tabela (6)<br />
or<strong>de</strong>na a classificação dos países.<br />
Tabela 6 – Ranking <strong>de</strong> adoção <strong>de</strong> políticas multiculturais dos países da América Latina<br />
Grau <strong>de</strong> adoção Países<br />
Forte Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela<br />
Mo<strong>de</strong>rado<br />
Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras,<br />
México, Nicarágua, Paraguai, Peru<br />
Fraco Belize, Chile, El Salvador, Guiana, Suriname<br />
fonte: Van Cott (2006, p.276) - tradução nossa<br />
Uma das características comuns aos países classificados como fortes é que todos<br />
reconhecem algum tipo <strong>de</strong> autonomia para os povos indígenas: direito a terras,<br />
direitos consuetudinários e culturais. Assim, apesar <strong>de</strong> o Brasil e <strong>de</strong> o Paraguai terem<br />
nota 6, o respeito ao direito a terras e ao <strong>de</strong> autogoverno são reputados como fracos<br />
quando comparados aos fortes, mas não explicita os dados para o julgamento,<br />
portanto eles estão entre os países com atuação mo<strong>de</strong>rada em políticas multiculturais<br />
para os indígenas. Isso limita a avaliação <strong>de</strong>sses resultados e também não justifica a<br />
classificação do México entre os mo<strong>de</strong>rados, apesar <strong>de</strong> também ter obtido nota 6.<br />
Observamos que, na estimativa geral, há uma relação inversa entre os países que mais<br />
adotam políticas multiculturais (Colômbia, Venezuela e Panamá) e os que possuem<br />
alto percentual <strong>de</strong> população indígena (Bolívia, Guatemala, México e Peru).<br />
85
A autora justifica isso pela perda <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r político que os países sofreriam, caso<br />
concebessem políticas multiculturais proporcionalmente à população. Se<br />
consi<strong>de</strong>rarmos a situação dos índios colombianos – cerca <strong>de</strong> 3% da população –, suas<br />
reservas autônomas constituem ¼ do território nacional. O mesmo não po<strong>de</strong>ria ser<br />
feito com a população indígena boliviana, que representa 65% do país. E a questão não<br />
se restringe à extensão <strong>de</strong> terras, mas à proporção nas representações no governo<br />
central, nos custos <strong>de</strong> políticas afirmativas, etc. (VAN COTT, 2006)<br />
Van Cott (2006) afirma que o reconhecimento dos direitos indígenas na América Latina<br />
começou a ganhar força na década <strong>de</strong> 1990, com as reformas <strong>de</strong> Estado. Por<br />
incrementos <strong>de</strong> países vizinhos, os próximos a fazer reformas acabam indo além no<br />
assunto, daí esse avanço progressivo na questão indígena.<br />
A autora conclui que o multiculturalismo existente na América do Norte é próprio <strong>de</strong><br />
um contexto específico em que as minorias indígenas são <strong>de</strong> fato minorias e não há<br />
tanta <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social internamente, enquanto, na América Latina, além <strong>de</strong> alguns<br />
países terem como maioria a população indígena (Guatemala e Bolívia) ou um número<br />
significativo <strong>de</strong>la (entre 10 a 40%), políticas redistribuidoras que as beneficiariam<br />
também são <strong>de</strong> interesse <strong>de</strong> populações pobres não indígenas.<br />
86
4.3. Comparações Possíveis<br />
Ao confrontarmos o resultado dos dois panoramas apresentados, notamos algumas<br />
coerências, assim como incongruências. Na tabela 6, <strong>de</strong> Van Cott, Colômbia, Equador,<br />
Panamá e Venezuela são consi<strong>de</strong>rados países com forte adoção <strong>de</strong> políticas<br />
multiculturais, porém, se comparados com os dados apresentados na tabela 4, <strong>de</strong><br />
Fajardo, sobre o percentual <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> direitos indígenas, coberto pelas<br />
constituições, exceto pela do Panamá, os <strong>de</strong>mais países estão nos primeiros lugares (2,<br />
3 e 4).<br />
É curioso que, pela pontuação do México (6) no índice sintético aplicado por Van Cott,<br />
esse país seria julgado forte, mas, pela tabela da própria autora, sem explicação<br />
alguma ele está entre os mo<strong>de</strong>rados. Já na tabela 4, <strong>de</strong> Fajardo, ele ocupa o primeiro<br />
lugar. Por sua vez o Panamá, forte para Van Cott, está em décimo segundo para<br />
Fajardo (Tabela 4). Os <strong>de</strong>mais países têm classificações similares para as duas autoras,<br />
ambas baseadas nas previsões das constituições.<br />
Se continuarmos com o ranking <strong>de</strong> Van Cott, da tabela 6, e traçarmos um paralelo com<br />
parte da tabela 3, <strong>de</strong> Fajardo, que relaciona as datas <strong>de</strong> ratificação dos tratados pelos<br />
países, no caso da Convenção 169, parece não haver analogia alguma. Somente<br />
Colômbia, Equador e Venezuela, países fortes, segundo Van Cott, ratificaram a<br />
Convenção em segundo, nono e décimo primeiro lugar respectivamente. O Panamá,<br />
também reputado forte por Van Cott, tem em vigência a Convenção 107, <strong>de</strong> cunho<br />
assimilacionista e integracionista.<br />
Desse modo, fica claro que ambos os trabalhos são estimativas ainda rudimentares,<br />
com comprometimentos significativos, o que indica a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estudos sobre<br />
87
essa questão. De modo genérico, po<strong>de</strong>-se afirmar que o Brasil está numa posição<br />
mediana em ambas as classificações, <strong>de</strong> Van Cott (Tabela 6) e <strong>de</strong> Fajardo (Tabela 4).<br />
Deve-se alertar para a suspeita <strong>de</strong> vários autores <strong>de</strong> que a existência <strong>de</strong> legislações<br />
favoráveis aos indígenas po<strong>de</strong> significar, meramente, uma tentativa <strong>de</strong> acalmar as<br />
tensões geradas pela <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>ssa população, que po<strong>de</strong>m ter seus direitos<br />
formalmente previstos, mas nunca exercidos 23 . (KYMLICKA, 1995; VERDUM, 2009;<br />
WALSH, 2002 apud VERDUM 2009)<br />
No próximo capítulo, O Brasil e a Questão Indígena, apresentamos uma retrospectiva<br />
sobre o as políticas promovidas pelo Estado brasileiro para essa população, a partir da<br />
década <strong>de</strong> 1960, com algumas informações sobre os movimentos indígenas. Também<br />
abordamos a participação das organizações da socieda<strong>de</strong> civil e a relação com o<br />
Estado, na tentativa <strong>de</strong> mapear conquistas e avanços no processo <strong>de</strong> reconhecimento<br />
das diferenças culturais e, finalmente, oferecemos alguns indicadores <strong>de</strong>mográficos,<br />
com o propósito <strong>de</strong> dimensionar a situação.<br />
23 Não menos relevante é uma informação que compromete a legitimida<strong>de</strong> da OIT em vista <strong>de</strong> sua<br />
estrutura. Apesar <strong>de</strong> a publicação <strong>de</strong> suas observações não ter caráter jurisdicional, mas compor uma<br />
forma <strong>de</strong> controle relevante, sua estrutura não permite que os povos indígenas tenham legitimida<strong>de</strong><br />
processual direta, tampouco tenham voz institucional na OIT, apesar <strong>de</strong> ser “a instituição que zela pelo<br />
único tratado <strong>de</strong> direitos indígenas, [...] somente admitindo a apresentação <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s,<br />
reclamações ou queixas <strong>de</strong> seus mandantes, entre os quais não estão os povos indígenas” (FAJARDO,<br />
2009, p.60-61).<br />
88
5. O Brasil e a Questão Indígena<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste capítulo é enfatizar a importância que a contextualização histórica da<br />
questão indígena adquire, quando tratamos <strong>de</strong> políticas públicas multiculturais. Nas<br />
palavras <strong>de</strong> Kymlicka (1995, p.11), “we cannot begin to un<strong>de</strong>rstand and evaluate the<br />
politics of multiculturalism unless we see how the historical incorporation of minority<br />
groups shapes their collective institutions, i<strong>de</strong>ntities, and aspirations”.<br />
Diferentemente <strong>de</strong> países on<strong>de</strong> a maioria dos habitantes tem ascendência indígena,<br />
como, a Bolívia, no Brasil trata-se do assunto como uma questão <strong>de</strong> minorias, e as<br />
políticas do Estado são traçadas em gran<strong>de</strong> parte pelos brancos, daí a expressão<br />
políticas indigenistas, isto é, “<strong>de</strong> branco para índio”.<br />
No Brasil, sob a perspectiva do multiculturalismo, o termo minoria adquire a<br />
conotação daqueles que sofrem restrição aos direitos políticos, econômicos e sociais, o<br />
que nos permite classificar nelas tanto os índios quanto os negros e pardos, mesmo<br />
que quantitativamente estes sejam maioria numérica. Por isso, <strong>de</strong>ve haver cuidado ao<br />
transferir para a realida<strong>de</strong> brasileira uma abordagem concebida inicialmente para<br />
outros países e voltadas para públicos-alvo e culturas diferentes.<br />
Outra diferença importante entre os países que <strong>de</strong>ram origem ao multiculturalismo e o<br />
Brasil e que <strong>de</strong>ve ocupar lugar central nesta discussão é a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social. A<br />
América do Norte lida principalmente com a diversida<strong>de</strong>, enquanto o Brasil precisa<br />
também lidar com a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>, muitas vezes confundidas, ou tomadas como<br />
sinônimo <strong>de</strong> diferenças.<br />
89
Neste capítulo, <strong>de</strong>stacamos alguns pontos da história indígena brasileira,<br />
principalmente a partir da ditadura militar, cujo viés integracionista e assimilacionista<br />
se contrapôs ao multiculturalismo que emergiu, nos EUA, na década <strong>de</strong> 1960, e<br />
institucionalizou-se no Brasil com a Constituição <strong>de</strong> 1988 e a Convenção 169 da OIT, <strong>de</strong><br />
1989.<br />
Para complementar o panorama, em População Indígena no Brasil: Alguns<br />
Indicadores, oferecemos uma perspectiva das condições <strong>de</strong> educação e saú<strong>de</strong><br />
indígenas <strong>de</strong> acordo com dados do IBGE e os comparamos com os da população<br />
nacional, <strong>de</strong> modo a dimensionar sucintamente não só a situação específica dos povos<br />
indígenas entre si, mas também sua posição no contexto nacional, para auxiliar e<br />
embasar a elaboração das políticas públicas para os índios.<br />
90
5.1. Histórico<br />
A situação das populações tribais e semitribais no cenário mundial, no começo da<br />
década <strong>de</strong> 1960, variava em função da Convenção 107, <strong>de</strong> 1957, da OIT, que versava,<br />
em países in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, sobre proteger e integrar essas populações, mas por<br />
integrar entenda-se que tratava somente <strong>de</strong> direitos individuais, inclusive no Brasil.<br />
Fugindo um pouco à linha cronológica, as condições <strong>de</strong> vida das populações indígenas<br />
por muitos anos estiveram sob a tutela do Estado, pelo Código Civil <strong>de</strong> 1916 24 ,<br />
substituído apenas em 2002. Gomes (2003, p.434) explica os motivos da concepção<br />
daquele código: “[p]ara os juristas [daquela] época, só <strong>de</strong>ssa forma po<strong>de</strong>r-se-ia<br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r os índios das injustiças que lhes fossem cometidas, inclusive da con<strong>de</strong>nação<br />
por crimes que supostamente eles não estariam consciente(s) <strong>de</strong> ter cometido”.<br />
Durante a ditadura militar (1964 - 1985), a questão indígena era consi<strong>de</strong>rada <strong>de</strong><br />
“segurança nacional”. A territorialida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse povo, como manifestação <strong>de</strong> direitos<br />
coletivos, era vista como ameaça à segurança e à integrida<strong>de</strong> do território nacional,<br />
especialmente nas regiões <strong>de</strong> fronteira. (SOUZA FILHO, 2003)<br />
Mais complicada ainda é a superposição <strong>de</strong> Estados nacionais na América do Sul a uma<br />
única socieda<strong>de</strong> indígena, em razão das fronteiras, criadas no processo histórico <strong>de</strong><br />
formação <strong>de</strong>sses países <strong>de</strong> tal forma, que há al<strong>de</strong>ias sob até quatro jurisdições político-<br />
24 O Código Civil Brasileiro, <strong>de</strong> 1916:<br />
Art. 6º - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira <strong>de</strong> os exercer:<br />
I – os maiores <strong>de</strong> 16 (<strong>de</strong>zesseis) anos e os menores <strong>de</strong> 21 (vinte e um) anos;<br />
II – os pródigos;<br />
III – os silvícolas.<br />
Parágrafo Único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos<br />
especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do País.<br />
“Os índios ficaram equiparados, do ponto <strong>de</strong> vista da capacida<strong>de</strong> civil, aos adolescentes e aos pródigos.<br />
E os seus direitos ficaram caracterizados como provisórios e, assim, cessantes, na medida da sua<br />
integração. Vale registrar o caráter pejorativo da <strong>de</strong>signação ‘silvícola’ e a ênfase no projeto civilizatório<br />
nacional dada no velho Código.” Ricardo et. al. (2004, p.4)<br />
91
administrativas diferentes, o que, se pensarmos nas políticas multiculturais, torna-as<br />
ainda mais complexas nesse cenário.<br />
Em 1967, sob acusações <strong>de</strong> <strong>de</strong>sleixo e corrupção do Serviço <strong>de</strong> Proteção ao Índio – SPI<br />
– relativamente à população indígena, o governo militar extinguiu-o, criou a Fundação<br />
Nacional do Índio – Funai – e também promulgou o Estatuto do Índio em 1973 25 ,<br />
ambos com o intuito <strong>de</strong> acelerar-lhes o processo <strong>de</strong> assimilação e integração à<br />
socieda<strong>de</strong> nacional (GOMES, 2003), <strong>de</strong> modo que a atuação da Funai foi <strong>de</strong> apoio<br />
incondicional às ativida<strong>de</strong>s governamentais, o que contrariava os interesses indígenas.<br />
Ao mesmo tempo, os anos 1970 ficaram marcados pelas <strong>de</strong>scobertas e trocas <strong>de</strong><br />
informação sobre os contextos interétnicos, o que, em algum grau, conscientizou cada<br />
povo dos problemas que enfrentavam, numa verda<strong>de</strong>ira “comunhão nacional” com<br />
projetos <strong>de</strong> “retradicionalização” (ISA, 2006) 26 , que resultaram nas “assembléias<br />
indígenas”. De acordo com Neves,<br />
[o] gran<strong>de</strong> feito <strong>de</strong>ssas assembléias foi a tomada <strong>de</strong> consciência da<br />
situação <strong>de</strong> dominação e discriminação a que estavam sujeitas todas as<br />
etnias, o que levou as populações indígenas a buscar formas <strong>de</strong><br />
organização política e <strong>de</strong> mobilização em suas disputas e embates com<br />
a socieda<strong>de</strong> brasileira. (NEVES, 2003, p.116)<br />
25<br />
Do Estatuto do Índio (1973), Título II – Dos Direitos Civis, Cap. II – Da Assistência ou Tutela (website<br />
FUNAI):<br />
Art.7º - Os índios e as comunida<strong>de</strong>s indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos<br />
ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.<br />
§1º - Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e as normas da<br />
tutela do direito comum, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo, todavia, o exercício da tutela da especialização <strong>de</strong> bens<br />
imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação <strong>de</strong> caução real ou fi<strong>de</strong>jussória.<br />
§2º - Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> assistência aos<br />
silvícolas.<br />
§8º - São nulos os atos praticados entre índios não integrados e qualquer pessoa estranha à comunida<strong>de</strong><br />
indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.<br />
Parágrafo Único. Não se aplica a regra <strong>de</strong>ste artigo no caso em que o índio revele consciência e<br />
conhecimento do ato praticado, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efetivos.<br />
26<br />
Entrevista <strong>de</strong> Eduardo Viveiros <strong>de</strong> Castro ao ISA em 2006.<br />
92
Esses confrontos se <strong>de</strong>ram principalmente com a Funai e os militares. Estes, em 1978,<br />
publicaram o “Projeto <strong>de</strong> Emancipação” <strong>de</strong> modo provocativo, porque aproveitaram o<br />
último termo, muito utilizado pelos indígenas, no entanto com outra conotação: a <strong>de</strong><br />
que essas populações não teriam mais dispositivos legais especiais que normatizassem<br />
sua condição. Como <strong>de</strong>sfecho, essa repressão favoreceu uma aliança entre os índios e<br />
setores da socieda<strong>de</strong> civil. (NEVES, 2003; RAMOS 2004 apud OLIVEIRA, 2006)<br />
Já na década <strong>de</strong> 1980 – período <strong>de</strong> re<strong>de</strong>mocratização –, ficou clara a discriminação<br />
étnica em relação às populações indígenas, o que resultou em expectativas <strong>de</strong><br />
reconhecimento e maior potencial <strong>de</strong> mobilização social. (VAN COTT, 2006; SORJ &<br />
MARTUCCELLI, 2008) Foi também nessa década que a expectativa <strong>de</strong> extinção dos<br />
povos indígenas foi superada, ou seja, iniciou-se um processo <strong>de</strong> discussão, com<br />
participação da socieda<strong>de</strong> civil e <strong>de</strong> organizações indígenas, oriundas, na década <strong>de</strong><br />
1970, dos movimentos étnicos em <strong>de</strong>fesa dos direitos coletivos, baseados no<br />
reconhecimento da diversida<strong>de</strong> do país.<br />
Um importante acontecimento foi, em 1980, a criação da primeira organização<br />
indígena a ter credibilida<strong>de</strong> nacionalmente: a União das Nações Indígenas – UNI. Nas<br />
palavras <strong>de</strong> Neves (2003:117), “a UNI assumiu <strong>de</strong> imediato o papel <strong>de</strong> porta-voz do<br />
movimento indígena, organizando e coor<strong>de</strong>nando por muitos anos as manifestações<br />
indígenas em todo o país”. Ao mesmo tempo, um esvaziamento político e financeiro<br />
da Funai, com <strong>de</strong>scentralização das políticas indigenistas, redundou na gestão <strong>de</strong><br />
vários órgãos do governo ao lado <strong>de</strong> ONGs indígenas e indigenistas.<br />
Diferentemente do restante da América Latina, on<strong>de</strong> a mobilização indígena se <strong>de</strong>u<br />
primeiramente local e regionalmente, no Brasil isso só ocorreu após a <strong>fundação</strong> da<br />
93
UNI, quando as assembléias indígenas começaram a mobilizar-se, com melhor<br />
compreensão dos problemas por parte da população indígena como um todo. Segundo<br />
Neves (2003, p.121), essa “fragmentação” não <strong>de</strong>ve ser concebida como perda <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r, mas como “multiplicação” que gera “maior mobilização, mantendo ligações<br />
entre si <strong>de</strong> modo a criar estratégias e realizar ações locais <strong>de</strong>ntro da perspectiva global<br />
do movimento indígena”.<br />
Mas o marco político histórico dos movimentos indígenas <strong>de</strong>u-se em 1987 com a “II<br />
Assembléia dos Povos Indígena do Alto Rio Negro”, em São Gabriel da Cachoeira (AM),<br />
“pois, pela primeira vez, as autorida<strong>de</strong>s governamentais sentaram à mesa para<br />
negociar a questão das terras indígenas com li<strong>de</strong>ranças da região”. (BARBOSA E SILVA,<br />
1995, p.21 apud NEVES, 2003, p.118) Nesse encontro pleiteou-se que as <strong>de</strong>cisões<br />
governamentais não fossem mais top-down (<strong>de</strong> cima para baixo) e que as <strong>de</strong>mandas<br />
locais tivessem visibilida<strong>de</strong> nas negociações interétnicas.<br />
Essa mobilização se concretizou quando se formulou a Constituição brasileira um ano<br />
antes da Convenção 169 e reconheceram-se algumas das concepções <strong>de</strong>ssa<br />
Convenção, com enormes possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> avanço com referência à questão indígena,<br />
o que eliminou a perspectiva assimilacionista, prevista em textos anteriores.<br />
Ressaltaram-se as condições sociais <strong>de</strong>sses povos ao se <strong>de</strong>stinar um capítulo específico<br />
à proteção dos direitos coletivos <strong>de</strong>les, além <strong>de</strong> julgar-lhes a vida não mais como<br />
transitória. Segundo Souza Filho (2004 apud OLIVEIRA, 2006, p.46; grifos no original),<br />
“com a Constituição <strong>de</strong> 1988, passam a ser reconhecidos aos povos indígenas o direito<br />
<strong>de</strong> ser índio, <strong>de</strong> manter-se como índio, com sua organização social, costumes e língua”.<br />
94
Em entrevista ao ISA (2006, p.43), o antropólogo Eduardo Viveiros <strong>de</strong> Castro afirma<br />
que “com a Constituição, consagrou-se o princípio <strong>de</strong> que as comunida<strong>de</strong>s indígenas<br />
constituem-se em sujeitos coletivos <strong>de</strong> direitos coletivos”.<br />
A partir daí, as “terras indígenas” são direito <strong>de</strong>sses povos, ou seja, cabe ao Estado<br />
somente a legalização <strong>de</strong>sse direito. Nas palavras <strong>de</strong> Santos & Nunes (2003, p.45),<br />
A territorialida<strong>de</strong> é, sem dúvida, uma dimensão fundamental da<br />
afirmação <strong>de</strong>sses direitos coletivos, que se choca com as concepções<br />
liberais <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong>. É nela que resi<strong>de</strong> a garantia do<br />
reconhecimento <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> coletiva e dos direitos coletivos<br />
dos povos indígenas.<br />
Porém, uma vez que essas terras são reputadas como direito coletivo, isto é, que a<br />
titularida<strong>de</strong> <strong>de</strong>las não é individualizada, isso abre brecha para a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> os<br />
invasores e pretensos invasores contestarem as <strong>de</strong>marcações. (NEVES, 2003)<br />
Além disso, há ainda uma enorme lacuna entre os direitos adquiridos e o exercício<br />
efetivo <strong>de</strong>les. O prazo constitucional <strong>de</strong> <strong>de</strong>marcação <strong>de</strong> terras indígenas estava<br />
previsto para 1993, todavia, como ainda po<strong>de</strong> ser notado, muitos conflitos existem<br />
sobre essa questão em vista <strong>de</strong> pendências no processo das terras. São quatro as fases<br />
<strong>de</strong>sse processo: i<strong>de</strong>ntificação e <strong>de</strong>limitação; <strong>de</strong>marcação; homologação; regularização<br />
fundiária. Para cada uma <strong>de</strong>las, há probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> contestação <strong>de</strong> terceiros.<br />
Na década <strong>de</strong> 1990, os movimentos indígenas per<strong>de</strong>ram força diante <strong>de</strong> medidas legais<br />
impostas pelo Estado, como, por exemplo, a mudança na sistemática <strong>de</strong> <strong>de</strong>marcação<br />
<strong>de</strong> terras, o que limitou a atuação <strong>de</strong>sses povos e lhes reduziu a participação no<br />
processo. (VALLE, 2006)<br />
95
Fajardo (2009) chama a atenção para a complexida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse período, visto que as<br />
reformas neoliberais ocorrem ao mesmo tempo, porque há o “reconhecimento<br />
simultâneo <strong>de</strong> direitos indígenas <strong>de</strong> um lado, e, <strong>de</strong> outro, políticas que permitem novas<br />
formas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sapropriação territorial indígena como não havia ocorrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século<br />
XIX”. (Ibid., p.26)<br />
Atualmente, por <strong>de</strong>cisões do Supremo Tribunal Fe<strong>de</strong>ral (STF) sobre a territorialida<strong>de</strong>,<br />
antes sob responsabilida<strong>de</strong> da Funai, que se baseava em provas antropológicas da<br />
existência <strong>de</strong> territorialida<strong>de</strong> indígena no local para <strong>de</strong>marcações, configurou-se<br />
jurisprudência que proíbe o alargamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>marcações <strong>de</strong> terras indígenas após a<br />
Constituição <strong>de</strong> 1988. Isso significa que essa população, expulsa <strong>de</strong> suas terras no<br />
passado ou com elas reduzidas em razão <strong>de</strong> invasões, não po<strong>de</strong>riam reivindicá-las se<br />
não as estivessem ocupando até 5 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> 1988 e, por esse raciocínio, qualquer<br />
região ocupada por não indígenas após essa data, automaticamente é <strong>de</strong>squalificada<br />
como território indígena. (Cultural Survival, 2009)<br />
Po<strong>de</strong>mos concluir, então, que, ao mesmo tempo em que houve avanços no<br />
reconhecimento das diferenças culturais e dos direitos (como os coletivos) dos<br />
indígenas, com a Carta <strong>de</strong> 1988, a relação com o Estado não é muito clara, porque há<br />
brechas para contestação <strong>de</strong>sses direitos, até mesmo em situações nas quais a atuação<br />
da FUNAI tem sido fundamentalmente assistencialista ao efetuar repasse <strong>de</strong> verbas<br />
que levam a relações <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência, como, por exemplo, quando não há ausência do<br />
Estado, a situação da agricultura local indígena é <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência ou, então, <strong>de</strong><br />
assistencialismo:<br />
96
O apoio que a FUNAI oferece à agricultura é insuficiente, pois não<br />
chega à maioria das comunida<strong>de</strong>s, e incompetente, pois há frequentes<br />
atrasos na compra e distribuição <strong>de</strong> sementes em relação ao<br />
calendário agrícola, não há prestação <strong>de</strong> assistência técnica e nem<br />
apoio à comercialização. E até este tipo <strong>de</strong> cobertura tem cedido<br />
espaço à pura e simples distribuição <strong>de</strong> alimentos, com efeitos<br />
<strong>de</strong>vastadores sobre o ânimo <strong>de</strong> trabalho dos índios. (RICARDO et. al.,<br />
2004, p.34)<br />
As conquistas que permitiram políticas públicas não assimilacionistas, ou seja, com<br />
perspectivas multiculturais, começaram a ser adotadas a partir da década <strong>de</strong> 1990,<br />
com referência aos indígenas como povos originários do Brasil. É nesse período que<br />
eles exercem os direitos coletivos em algum grau, como o da educação bilíngue, o da<br />
regulamentação <strong>de</strong> territórios, o da preservação dos costumes, etc. (NEVES, 2003)<br />
Além disso, diminui o controle da Funai sobre as políticas indigenistas, agora divididas<br />
em setores e transferidas para a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> diferentes órgãos do governo<br />
fe<strong>de</strong>ral, estadual e municipal, como a educação indígena, para o Ministério da<br />
Educação (MEC) e a saú<strong>de</strong>, para o da Saú<strong>de</strong> (MS), em 1991.<br />
Em 2002, o novo Código Civil 27 , que substituiu o <strong>de</strong> 1916, reafirmou o tratamento<br />
diferenciado que os indígenas <strong>de</strong>vem receber em relação à capacida<strong>de</strong> sobre os<br />
próprios atos, ao mesmo tempo em que pôs fim a qualquer discussão a respeito do<br />
27 “Em 11 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2002, foi promulgado o novo Código Civil Brasileiro, que tramitou durante mais<br />
<strong>de</strong> 40 anos no Congresso Nacional, e alterou o tratamento aos índios <strong>de</strong> forma sutil, porém relevante,<br />
enquadrando-os sob o conceito <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> e não <strong>de</strong> incapacida<strong>de</strong>, adotando o conceito <strong>de</strong> ‘índios’<br />
no lugar <strong>de</strong> ‘silvícolas’, e suprimindo a antiga referência à provisorieda<strong>de</strong> dos seus direitos. Ficou assim:<br />
‘Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira <strong>de</strong> os exercer:<br />
I – os maiores <strong>de</strong> 16 e os menores <strong>de</strong> 18;<br />
II – os ébrios habituais, os viciados tóxicos, e os que, por <strong>de</strong>ficiência mental, tenham o discernimento<br />
reduzido;<br />
III – os excepcionais, sem <strong>de</strong>senvolvimento mental completo;<br />
IV – os pródigos.<br />
Parágrafo Único. A capacida<strong>de</strong> dos índios será regulada por legislação especial.’” Ricardo et. al. (2004,<br />
p.4)<br />
97
egime tutelar sobre esses povos. Mas, como ressaltamos, muitas vezes a previsão<br />
legislativa <strong>de</strong> direitos não garante que eles sejam praticados. O próprio presi<strong>de</strong>nte da<br />
Funai, Mércio Gomes, em 2006, numa entrevista ao ISA, afirmou: “A tutela é a mais<br />
antiga instituição <strong>de</strong> interferência do Estado para com os povos indígenas. Bem ou<br />
mal, ela permite a intervenção das várias instâncias do Estado, especialmente o<br />
Executivo e o Judiciário, em <strong>de</strong>fesa dos povos indígenas”. (ISA, 2006, p.114)<br />
Diante <strong>de</strong> todas essas mudanças <strong>de</strong> concepção e <strong>de</strong> tratamento do Estado brasileiro<br />
com referência aos indígenas, Oliveira (2006) pontua, <strong>de</strong> maneira clara, o aumento na<br />
complexida<strong>de</strong> das relações dos índios com o Governo, no que diz respeito ao acesso a<br />
serviços públicos e a políticas públicas específicas:<br />
[S]e antes o foco da análise era apenas do Serviço <strong>de</strong> Proteção ao Índio<br />
(SPI) ou a Fundação Nacional do Índio (Funai), atualmente não é<br />
possível estudar essas relações sem consi<strong>de</strong>rar as interfaces entre os<br />
povos indígenas e municípios, Estados e <strong>de</strong> diferentes instâncias do<br />
governo fe<strong>de</strong>ral. (Ibid., p.16)<br />
Desse modo, compreen<strong>de</strong>r essas relações se faz necessário para pensarmos nas<br />
políticas públicas multiculturais, matéria do próximo capítulo, Educação na<br />
Diversida<strong>de</strong>. Antes, porém, como já citado, no próximo item apresentaremos, com a<br />
mesma importância, alguns indicadores sobre a situação em que essas populações<br />
vivem no contexto nacional.<br />
98
5.2. População Indígena no Brasil: Alguns Indicadores<br />
É bastante conhecida a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> se mapear com exatidão a situação dos povos<br />
indígenas no Brasil. Ainda assim, para efeito <strong>de</strong> contextualização do objeto,<br />
apresentamos alguns dados sobre eles, principalmente por um estudo do IBGE, <strong>de</strong><br />
2005, intitulado Tendências Demográficas: Uma análise dos Indígenas com Base nos<br />
Resultados da Amostra dos Censos Demográficos 1991 e 2000.<br />
Um obstáculo inicial é o <strong>de</strong> precisarmos o número <strong>de</strong> indígenas no Brasil. Segundo<br />
dados da FUNAI (site), órgão do Governo Fe<strong>de</strong>ral brasileiro que estabelece e executa a<br />
política indigenista do país, esses povos ocupam, irregularmente, 12,5% do território<br />
nacional e representam 0,25% da população brasileira, a maioria no Amazonas. Os<br />
quatrocentos e sessenta mil índios que vivem em al<strong>de</strong>ias – afora os que moram em<br />
áreas urbanas – divi<strong>de</strong>m-se em duzentas e vinte e cinco etnias e utilizam cento e<br />
oitenta línguas, o que compõe um quadro complexo, <strong>de</strong> enorme diversida<strong>de</strong>, até para<br />
se mensurar.<br />
Paralelamente à estimativa da Funai, o ISA (site) contabiliza cerca <strong>de</strong> seiscentas mil<br />
pessoas das quais quatrocentas e cinquenta mil vivem em terras indígenas e em<br />
núcleos urbanos próximos; e cento e cinquenta mil, em gran<strong>de</strong>s cida<strong>de</strong>s. Já o IBGE<br />
(2005) avalia que setecentas e trinta e quatro mil pessoas se auto<strong>de</strong>nominam<br />
indígenas. Há uma enorme barreira para se saber sobre toda essa diversida<strong>de</strong> e,<br />
quando há algum conhecimento, restringe-se a círculos acadêmicos especializados.<br />
Surpreen<strong>de</strong>ntemente, o reconhecimento <strong>de</strong>sses povos foi bastante tardio, porque a<br />
categoria “indígena” foi incorporada ao censo <strong>de</strong>mográfico somente em 1991. Após<br />
esse censo e o <strong>de</strong> 2000, po<strong>de</strong>mos observar algumas informações interessantes. O<br />
99
crescimento <strong>de</strong>mográfico indígena <strong>de</strong> 1991 a 2000 apresenta taxas que variam <strong>de</strong> 3% a<br />
5% ao ano, se levarmos em conta a heterogeneida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas socieda<strong>de</strong>s. Se<br />
compararmos esse aumento, no mesmo período, com o anual do país (1,6%), po<strong>de</strong>mos<br />
dizer que as populações indígenas cresceram, ao menos, o dobro da média nacional.<br />
Uma instigante questão <strong>de</strong>mográfica é o significativo aumento do número <strong>de</strong> pessoas<br />
que se <strong>de</strong>clararam indígenas nos censos do IBGE <strong>de</strong> 1991 e <strong>de</strong> 2000, respectivamente<br />
duzentos e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e quatro mil, o que representa<br />
uma taxa média geométrica anual <strong>de</strong> 10,8% <strong>de</strong>ssa população. (IBGE, 2005)<br />
Não há estudos que <strong>de</strong>terminem o motivo disso, mas, quando se sabe que a taxa <strong>de</strong><br />
crescimento dos índios por ano é inferior a esse crescimento absoluto <strong>de</strong><br />
autoi<strong>de</strong>ntificados, inferimos que há problemas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m metodológica e conceitual.<br />
Também po<strong>de</strong> ter ocorrido a valorização da raça e incentivos para as pessoas se<br />
reconhecerem como tais 28 .<br />
A avaliação dos níveis educacionais indígenas aponta para gran<strong>de</strong> avanço na década <strong>de</strong><br />
1990. No Censo Demográfico <strong>de</strong> 1991, o grau <strong>de</strong> alfabetização estava abaixo <strong>de</strong> 50%<br />
(49,2%), já, no cálculo <strong>de</strong> 2000, cresceu 50,2% (73,9%). Contudo, se compararmos os<br />
percentuais <strong>de</strong> alfabetizados do total da população brasileira, <strong>de</strong> 79,9% e 86,4%, em<br />
1991 e 2000 respectivamente, notamos diferenças significativas, que refletem alto<br />
índice <strong>de</strong> analfabetismo entre os indígenas no cenário nacional.<br />
28 A explicação para essa valorização da etnia po<strong>de</strong> ser tanto a vergonha, que levou grupos indígenas por<br />
anos a ocultar as origens, mas hoje <strong>de</strong>cidiram reivindicar tanto o reconhecimento das próprias<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s diferenciadas (GRUPIONI, 2006) quanto o aproveitamento por não índios das ações<br />
afirmativas <strong>de</strong>stinadas aos indígenas. (ver caso ProUni na subdivisão do capítulo Educação Indígena por<br />
Moura Guarany, 2006)<br />
100
Além disso, a pesquisa evi<strong>de</strong>ncia que, nas populações indígenas, os jovens possuem<br />
alta taxa <strong>de</strong> alfabetização, mas há uma explosão nas <strong>de</strong> analfabetismo a partir dos 40<br />
anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> (IBGE, 2005): o grupo etário <strong>de</strong> 60 anos ou mais, 55%, enquanto aqueles<br />
que estão entre 25 e 59 anos, 25,2%; os <strong>de</strong> 15 a 24 somam 15,6% e os <strong>de</strong> 5 a 14,<br />
42,9%. (HENRIQUES et. al., 2006)<br />
Outro dado essencial é o número <strong>de</strong> <strong>escola</strong>s indígenas que funcionam em prédios<br />
<strong>escola</strong>res. Em 2005, eram 0,62% em relação à população total (75,18%). Não há<br />
informações disponíveis para <strong>de</strong>duzirmos se a baixa taxa <strong>de</strong> <strong>escola</strong>s indígenas em<br />
prédios se dá por questões culturais, mas po<strong>de</strong>mos supor que essas <strong>escola</strong>s sejam<br />
muito precárias em infraestrutura, além <strong>de</strong> na formação <strong>de</strong> professores. Por exemplo,<br />
os que ministram aulas na primeira parte do Ensino Fundamental – 6,15% para os<br />
indígenas e 43,12% para a população total brasileira – possuem Ensino Superior.<br />
(HENRIQUES et. al., 2006)<br />
Ainda baseados nos estudos <strong>de</strong> Henriques et. al. (2006) sobre os dados do IBGE, se<br />
seguirmos o padrão nacional, os índices <strong>de</strong> alfabetização indígena mais elevados estão<br />
nas regiões Su<strong>de</strong>ste e Sul, com 87,2% e 80,1% respectivamente. O mais baixo é <strong>de</strong><br />
56,8%, na região Norte, mas é também nessa região que há o maior número <strong>de</strong><br />
<strong>escola</strong>s, dada a alta concentração da população indígena: 63,3% (1.472) para 53%<br />
(113.391) <strong>de</strong> indígenas brasileiros.<br />
Outra informação importante se refere à melhora da média <strong>de</strong> <strong>escola</strong>rização indígena,<br />
que aumentou 95,8% entre 1991 e 2000. “Em 1991, as pessoas indígenas <strong>de</strong> 10 anos<br />
ou mais <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong>tinham uma média <strong>de</strong> 2,0 anos <strong>de</strong> estudo, passando para 3,9 anos<br />
101
<strong>de</strong> estudo em 2000, enquanto que para o conjunto das pessoas brasileiras é <strong>de</strong> 5,9<br />
anos <strong>de</strong> estudo.” (IBGE, 2005, p.61)<br />
Outro aspecto da qualida<strong>de</strong> da educação indígena é o afunilamento do ensino <strong>escola</strong>r:<br />
<strong>de</strong> cada cinco estudantes indígenas que chegam a concluir o Ensino Fundamental,<br />
apenas um tem oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cursar o Ensino Médio. Uma explicação para essa<br />
redução drástica é que essas <strong>escola</strong>s estão localizadas longe das al<strong>de</strong>ias, o que<br />
condiciona os jovens a migrar. Já a proporção para os que frequentam a universida<strong>de</strong> é<br />
<strong>de</strong>sconhecida, visto que o número <strong>de</strong> alunos indígenas no ensino superior é somente<br />
uma estimativa bastante duvidosa 29 . (LUCIANO BANIWA, 2006a, p.142-143)<br />
Os dados revelam aumento expressivo na taxa <strong>de</strong> alfabetização e na média <strong>de</strong> anos <strong>de</strong><br />
estudo, <strong>de</strong> modo que po<strong>de</strong>mos aventar que a a<strong>de</strong>quação do sistema <strong>de</strong> ensino da<br />
educação <strong>escola</strong>r indígena tem abrangência suficiente para gerar gran<strong>de</strong>s impactos<br />
relativamente à formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural <strong>de</strong>les.<br />
Cabe ressaltar que essas informações dos recenseamentos <strong>de</strong> 1991 e 2000 foram<br />
obtidas após a Constituição Brasileira (1988), em torno da qual se formou um forte<br />
consenso acerca da contribuição fundamental que se <strong>de</strong>u para o reconhecimento dos<br />
povos indígenas e <strong>de</strong> seus direitos.<br />
Com relação à saú<strong>de</strong> indígena, no primeiro censo, realizado em 1991, a pirâmi<strong>de</strong> etária<br />
tinha formato retangular e era dividida entre a proporção <strong>de</strong> crianças e adolescentes<br />
(0 a 14 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>) e a <strong>de</strong> adultos (15 a 64 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>), em que os idosos (65<br />
anos ou mais) representavam 4,7% da população total <strong>de</strong> indígenas.<br />
29 Luciano Baniwa (2006a) cita a estimativa da FUNAI <strong>de</strong> dois mil índios no Ensino Superior em 2004, já<br />
no site do ProUni, o cômputo (não necessariamente <strong>de</strong> bolsistas do programa) é <strong>de</strong> mil e quinhentos.<br />
102
Em 2000, houve <strong>de</strong>clínio entre crianças e adolescentes em 22,1% e aumento dos<br />
adultos em 15,3% e dos <strong>de</strong> idosos (5,8% naquele momento), o que sugere um processo<br />
<strong>de</strong> envelhecimento também da população indígena, isto é, <strong>de</strong> melhoria das condições<br />
<strong>de</strong> saú<strong>de</strong>.<br />
Muitos <strong>de</strong>sses dados precisam ser examinados com uma informação adicional, qual<br />
seja a da significativa influência que os resultados das populações indígenas rurais ou<br />
urbanas po<strong>de</strong>m ter sobre o geral, como, por exemplo, a diminuição da taxa <strong>de</strong><br />
fecundida<strong>de</strong> total das mulheres auto<strong>de</strong>claradas indígenas em quase 30% nessa<br />
década, o que, na verda<strong>de</strong>, ocorreu <strong>de</strong> forma muito consistente na população <strong>de</strong> áreas<br />
urbanas (2,7 filhos) e <strong>de</strong>sprezível, na da área rural (5,7 filhos), on<strong>de</strong> não há controle da<br />
fertilida<strong>de</strong> ou das práticas contraceptivas tradicionais. (IBGE, 2005)<br />
Outro indicador das condições <strong>de</strong> vida <strong>de</strong>ssa população é a mortalida<strong>de</strong> infantil.<br />
Segundo os dados fornecidos pelo Censo Demográfico <strong>de</strong> 2000, há faixas <strong>de</strong> taxa <strong>de</strong><br />
mortalida<strong>de</strong> infantil para classificar os grupos 30 :<br />
O primeiro inclui as categorias amarela (18,0 por mil) e branca (22,9<br />
por mil); o segundo, as categorias parda (33,0 por mil) e preta (34,9<br />
por mil); e o terceiro, a categoria indígena (51,4 por mil). Em geral,<br />
para todas as categorias <strong>de</strong> cor ou raça, o nível <strong>de</strong> mortalida<strong>de</strong> infantil<br />
po<strong>de</strong> ser classificado como “médio”, com exceção dos indígenas, cuja<br />
classificação seria “alta”, segundo os mesmos critérios. (IBGE, 2005,<br />
p.85)<br />
A taxa <strong>de</strong> mortalida<strong>de</strong> infantil dos indígenas em 2000 (51,4 por mil) é<br />
significativamente mais elevada que a nacional (30,1 por mil). E mesmo nas regiões<br />
30 De acordo com a classificação da Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (OMS) fornecida pelo IBGE, as taxas<br />
<strong>de</strong> mortalida<strong>de</strong> infantil são classificadas em altas (50 por mil ou mais), médias (20 a 49 por mil) e baixas<br />
(menos <strong>de</strong> 20 por mil).<br />
103
socioeconômicas mais <strong>de</strong>senvolvidas do país (Su<strong>de</strong>ste e Sul), elas persistem elevadas<br />
(42,3 por mil e 48,3 por mil, respectivamente). Nas áreas urbanas <strong>de</strong> algumas regiões<br />
do Brasil (Norte e Centro-Oeste), ela é <strong>de</strong> 52,2 por mil, superior à das rurais (47,0 por<br />
mil).<br />
Esse conjunto <strong>de</strong> informações precisa ser observado com ressalvas, porque há<br />
problemas no método e na estimativa <strong>de</strong> indicadores, em razão <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong>s na<br />
apuração. (FUNASA site e IBGE, 2005) Além disso, os fatores que explicariam esse<br />
cenário são <strong>de</strong>sconhecidos, pela escassez <strong>de</strong> estudos específicos no campo da<br />
<strong>de</strong>mografia dos povos indígenas.<br />
Dentro do escopo <strong>de</strong>ste trabalho, fizemos levantamentos, em termos fe<strong>de</strong>rais, das<br />
políticas educacionais indígenas, que <strong>de</strong> alguma forma adotam a abordagem das<br />
políticas multiculturais. Po<strong>de</strong>mos inferir, com base nos dados dos dois censos<br />
realizados pelo IBGE em 1991 e 2000, que a política <strong>de</strong> educação voltada<br />
especificamente para essa população, mais do que a <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, tem tido abrangência<br />
positiva.<br />
Alguns motivos para as crescentes taxas <strong>de</strong> expansão <strong>de</strong> oferta <strong>de</strong> educação indígena<br />
são: (i) o elevado crescimento populacional; (ii) a conquista por <strong>de</strong>marcações <strong>de</strong> terras,<br />
que resultou em esforços subsequentes em Educação, Saú<strong>de</strong>, autossustentação<br />
econômica, etc.; (iii) a existência <strong>de</strong> cursos específicos <strong>de</strong> magistério indígena; (iv)<br />
pressões dos índios para se aplicar a legislação sobre a universalização do Ensino<br />
Fundamental em todo o país, inclusive para eles. (LUCIANO BANIWA, 2006a, p.141)<br />
Portanto a a<strong>de</strong>quação do ensino <strong>escola</strong>r para promoção da cidadania, com respeito<br />
aos valores culturais, é essencial.<br />
104
Como continuida<strong>de</strong> a esta dissertação, após elucidarmos brevemente a situação<br />
indígena como minoria tanto na Educação quanto na Saú<strong>de</strong>, seguimos com a proposta<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar o tratamento do Planejamento Plurianual dispensado à questão indígena<br />
e, concomitantemente, enten<strong>de</strong>r o diálogo que po<strong>de</strong> haver com a abordagem<br />
multicultural.<br />
105
6. O Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 Incorpora<br />
Preocupações Multiculturais?<br />
O PPA 2008-2011 fornece uma oportunida<strong>de</strong> única para se analisarem os elos entre as<br />
ações e os programas do Governo Fe<strong>de</strong>ral, ambos <strong>de</strong>stinados aos indígenas e às<br />
teorias multiculturalistas, porque esse é o primeiro PPA a explicitar o enca<strong>de</strong>amento<br />
lógico: objetivos <strong>de</strong> governo objetivos setoriais programas. Estes, por sua vez,<br />
<strong>de</strong>sdobram-se em ações. Na figura 1 (abaixo) temos visão mais ampla <strong>de</strong>ssa ca<strong>de</strong>ia.<br />
Devemos enten<strong>de</strong>r que o programa é um “instrumento <strong>de</strong> organização da ação<br />
governamental que articula um conjunto <strong>de</strong> ações visando à concretização do objetivo<br />
nele estabelecido”, e a ação, um “instrumento <strong>de</strong> programação que contribui para<br />
aten<strong>de</strong>r ao objetivo <strong>de</strong> um programa, po<strong>de</strong>ndo ser orçamentária ou não-<br />
orçamentária”. (BRASIL, 2007, p. 9-10)<br />
Figura 1 – A estrutura do PPA 2008-2011<br />
Fonte: Filippeto (2007, p.7)<br />
106
a) Objetivos <strong>de</strong> Governo<br />
Se no PPA 2004-2007 se estabeleceram apenas três “megaobjetivos”, no seguinte<br />
(2008-2011) houve mais preocupação – talvez pela maior experiência burocrática das<br />
equipes do governo Lula, agora num segundo mandato, como parte da estratégia – em<br />
<strong>de</strong>talhar <strong>de</strong>z “objetivos <strong>de</strong> governo” <strong>de</strong>scritos na Tabela 6.<br />
Tabela 7 – Os objetivos <strong>de</strong> governo do PPA 2008-2011<br />
• Promover a inclusão social e a redução das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s.<br />
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração<br />
•<br />
<strong>de</strong> emprego e distribuição <strong>de</strong> renda.<br />
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com<br />
•<br />
equida<strong>de</strong>, qualida<strong>de</strong> e valorização da diversida<strong>de</strong>.<br />
Fortalecer a <strong>de</strong>mocracia, com igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> gênero, raça e etnia, e a cidadania<br />
•<br />
com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos.<br />
• Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do território nacional.<br />
Reduzir as <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s regionais a partir das potencialida<strong>de</strong>s locais do<br />
•<br />
território nacional.<br />
• Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana.<br />
• Elevar a competitivida<strong>de</strong> sistêmica da economia, com inovação tecnológica.<br />
• Promover um ambiente social pacífico e garantir a integrida<strong>de</strong> dos cidadãos.<br />
Promover o acesso com qualida<strong>de</strong> à securida<strong>de</strong> social, sob a perspectiva da<br />
• universalida<strong>de</strong> e da equida<strong>de</strong>, assegurando-se o seu caráter <strong>de</strong>mocrático e a<br />
<strong>de</strong>scentralização.<br />
Fonte: Filippeto (2007)<br />
A partir <strong>de</strong>ssa lista inicial, na Tabela 8 classificamos, por or<strong>de</strong>m numérica, cada uma<br />
das finalida<strong>de</strong>s, conforme a presença ou não <strong>de</strong> programas e ações voltados<br />
(exclusivamente ou não) para indígenas.<br />
107
Tabela 8 – Objetivos <strong>de</strong> governo e os indígenas<br />
COM PROGRAMA ESPECÍFICO PARA INDÍGENAS<br />
1- Fortalecer a <strong>de</strong>mocracia, com igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> gênero, raça e etnia e propiciar<br />
cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos.<br />
COM AÇÃO ESPECÍFICA PARA INDÍGENAS<br />
2- Promover o acesso, com qualida<strong>de</strong>, à segurida<strong>de</strong> social, sob a perspectiva da<br />
universalida<strong>de</strong> e da equida<strong>de</strong>, assegurado o caráter <strong>de</strong>mocrático e a <strong>de</strong>scentralização.<br />
3- Fomentar o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração <strong>de</strong><br />
empregos e distribuição <strong>de</strong> renda.<br />
4- Proporcionar o acesso da população brasileira à Educação e ao conhecimento, com<br />
equida<strong>de</strong>, qualida<strong>de</strong> e valorização da diversida<strong>de</strong>.<br />
INDÍGENAS COMO APENAS UM DOS PÚBLICOS-ALVO DE AÇÕES<br />
5- Promover a inclusão social e a redução das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s.<br />
6- Reduzir as <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s regionais <strong>de</strong> acordo com as potencialida<strong>de</strong>s locais do<br />
Território Nacional.<br />
7- Desenvolver ambiente social pacífico e garantir a integrida<strong>de</strong> dos cidadãos.<br />
INDÍGENAS NÃO MENCIONADOS<br />
8- Elevar a competitivida<strong>de</strong> sistêmica da economia, com inovação tecnológica.<br />
9- Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana.<br />
10- Implantar infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional.<br />
Fonte: elaboração própria, utilizando<br />
<br />
Se relacionarmos a Figura 1 com a Tabela 8, po<strong>de</strong>remos compreen<strong>de</strong>r que há, no PPA,<br />
um programa (dimensão tática-operacional), específico para os indígenas, constante<br />
no nº1 (dimensão estratégica). Há ações particulares (dimensão tática-operacional)<br />
para os povos autóctones nos nºs 2, 3 e 4 e três objetivos <strong>de</strong> governo (5, 6 e 7), com<br />
108
ativida<strong>de</strong>s em que os indígenas compõem o quadro <strong>de</strong> público-alvo, mas não são<br />
exclusivos <strong>de</strong>sses povos, portanto não diferenciados especificamente para eles.<br />
Finalmente, os três últimos objetivos não apresentam qualquer menção aos índios.<br />
Após essa breve explicação na Tabela 8, em primeiro lugar, nota-se que, dos <strong>de</strong>z<br />
objetivos <strong>de</strong> governo, apenas três não fazem qualquer alusão aos indígenas. Não por<br />
acaso, os programas relacionados a esses objetivos (exceto o 9, que trata <strong>de</strong> assuntos<br />
<strong>de</strong> política externa) ten<strong>de</strong>m a gerar maiores conflitos, atualmente, com os povos<br />
indígenas, como o caso dos ligados ao Programa <strong>de</strong> Aceleração do Crescimento, o PAC.<br />
Em segundo lugar, cumpre <strong>de</strong>stacar que o adjetivo multicultural (ou multiculturalismo<br />
ou multiculturalida<strong>de</strong>) não é citado em nenhum momento nem no PPA nem mesmo<br />
nos objetivos dos programas. Consoante com alguns dos entrevistados, é possível que<br />
essa ausência se <strong>de</strong>va à rejeição que esse “rótulo” carrega por ter origem nas<br />
abordagens teóricas, advindas <strong>de</strong> países <strong>de</strong>senvolvidos, muitas vezes i<strong>de</strong>ntificadas com<br />
o neoliberalismo ou com uma visão ancorada no pensamento político <strong>de</strong> tradição<br />
liberal, o que para alguns po<strong>de</strong> significar conservadorismo. Resta indagar então se e<br />
como – não obstante a ausência do rótulo - o conteúdo dos objetivos, dos programas e<br />
das ações po<strong>de</strong>m entrosar-se com o multiculturalismo. Nota-se, no Objetivo 4, por<br />
exemplo, que o termo diversida<strong>de</strong>, praticamente sinônimo <strong>de</strong> multiculturalida<strong>de</strong>,<br />
encontra-se lá.<br />
Em terceiro lugar, chama-nos a atenção que o único programa exclusivamente voltado<br />
aos indígenas tem como propósito maior <strong>de</strong> governo fortalecer a <strong>de</strong>mocracia e a<br />
cidadania, além <strong>de</strong> garantir os direitos humanos. Como se viu na revisão da literatura<br />
sobre multiculturalismo, há extensos <strong>de</strong>bates, nos campos da Filosofia Política, da<br />
109
Filosofia do Direito, da Sociologia e dos Direitos Humanos, sobre como e se esses<br />
conceitos são compatíveis com a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> multiculturalismo.<br />
Por último, a explicitação <strong>de</strong> indígenas como parte do público-alvo <strong>de</strong> algumas ações<br />
parece indicar preocupação das políticas públicas associadas às particularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sses<br />
povos, mesmo se julgarmos tratar-se <strong>de</strong> políticas “universais” como, por exemplo, a <strong>de</strong><br />
inclusão e a <strong>de</strong> redução <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s, políticas essas que possuem um corte na<br />
renda, mas não <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>sse universo <strong>de</strong> grupos étnico-raciais.<br />
b) Objetivos Setoriais<br />
Este item aborda a dimensão estratégica dos Ministérios, ou seja, a vinculação dos<br />
escopos aos Ministérios. O cuidado com a “diversida<strong>de</strong>” aparece no PPA em<br />
praticamente todos os objetivos setoriais (ou <strong>de</strong> governo) <strong>de</strong> programas cujos<br />
responsáveis são o Ministérios da Educação e o da Cultura, além <strong>de</strong> um programa do<br />
do Planejamento, Orçamento e Gestão (“Gestão do Patrimônio Imobiliário da União”),<br />
todavia não há a mesma clareza nos programas sob responsabilida<strong>de</strong> do Ministério da<br />
Saú<strong>de</strong> ou do Ministério do Desenvolvimento Social, entre outros.<br />
Haveria alguma razão para a “diversida<strong>de</strong>” ter entrado mais fortemente na agenda do<br />
Ministério da Educação, por exemplo, do que na do Ministério da Saú<strong>de</strong>?<br />
c) Programa “Proteção e Promoção dos Povos Indígenas”:<br />
110
Esse programa é o único exclusivamente <strong>de</strong>dicado aos indígenas, como consta no<br />
objetivo nº 1, e é resultado da união <strong>de</strong> dois outros do PPA anterior (2004-2007) 31 ,<br />
quais sejam:<br />
• 0150 - I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas<br />
• 0151 - Proteção <strong>de</strong> Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etno<strong>de</strong>senvolvimento<br />
O intuito <strong>de</strong>sse programa é garantir “aos povos indígenas a manutenção ou<br />
recuperação das condições objetivas <strong>de</strong> reprodução <strong>de</strong> seus modos <strong>de</strong> vida e<br />
proporcionar-lhes oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> superação das assimetrias observadas em relação<br />
à socieda<strong>de</strong> brasileira em geral”.<br />
A justificativa para esse objetivo provém da inserção dos índios na socieda<strong>de</strong> nacional<br />
e da gran<strong>de</strong> proximida<strong>de</strong> ou do contato com comunida<strong>de</strong>s não indígenas, o que cria<br />
situações <strong>de</strong> risco à integrida<strong>de</strong> física e sociocultural <strong>de</strong>les.<br />
De acordo com as diretrizes programáticas da Funai sobre o PPA (2008-2011), o<br />
processo <strong>de</strong> reconhecimento <strong>de</strong> terras é vital para a sobrevivência da diversida<strong>de</strong><br />
étnica, porém a avaliação é que cerca <strong>de</strong> uma centena <strong>de</strong> terras, ainda em estágio<br />
inicial <strong>de</strong> estudo <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e <strong>de</strong> <strong>de</strong>limitação, seja necessária para diminuir o<br />
atual <strong>de</strong>sequilíbrio, além <strong>de</strong> se reverem algumas terras já <strong>de</strong>marcadas <strong>de</strong> maneira<br />
insuficiente.<br />
A estratégia para a implementação <strong>de</strong>sse objetivo <strong>de</strong>ve-se dar por “ações <strong>de</strong><br />
prevenção e repressão a invasões das terras indígenas e ao uso ilícito <strong>de</strong> seus recursos<br />
naturais e conhecimento tradicional” (FUNAI, 2007, p.17), o que <strong>de</strong>mandará<br />
31 Ver anexos 1 e 2.<br />
111
mudanças, isto é, com a previsão da própria FUNAI <strong>de</strong> que é preciso aperfeiçoar e<br />
a<strong>de</strong>quar as estruturas ao quadro atual das relações <strong>de</strong>mocráticas não tutelares entre o<br />
Estado e as comunida<strong>de</strong>s indígenas do Brasil, além <strong>de</strong> dar prosseguimento aos <strong>de</strong>mais<br />
direitos adquiridos, mas não exercidos plenamente pelos indígenas.<br />
Apesar <strong>de</strong> não haver referência explícita a Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos no documento<br />
da Funai, é possível distinguir similarida<strong>de</strong>s, mencionadas nesta dissertação, entre ele<br />
e os textos daquele autor, tais como “diálogo <strong>de</strong> civilizações”, “trocas simétricas” e até<br />
a afirmação i<strong>de</strong>ológica, não reproduzida neste trabalho, <strong>de</strong> que “os países<br />
‘<strong>de</strong>senvolvidos’ não o conseguiram”:<br />
Cada povo indígena constitui uma civilização própria, diferente da dos<br />
outros e com uma história <strong>de</strong> contato específica com a civilização<br />
oci<strong>de</strong>ntal. O diálogo <strong>de</strong> civilizações é sempre possível e positivo, mas<br />
<strong>de</strong>ve levar em conta trocas simétricas, no tempo e no espaço,<br />
a<strong>de</strong>quadas em cada caso, e enriquecedoras para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><br />
ambas. Esse é o <strong>de</strong>safio do século XXI, no qual o Brasil tem papel<br />
<strong>de</strong>stacado, pois ainda tem a chance <strong>de</strong> mostrar ao mundo (a<br />
mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrou que os países “<strong>de</strong>senvolvidos” não o<br />
conseguiram) que esse diálogo é possível. (FUNAI, 2007, p.8)<br />
No PPA, formalizou-se um conjunto <strong>de</strong> ações voltado para os indígenas, com a própria<br />
Funai como unida<strong>de</strong> responsável. O texto mantém um discurso afinado com a<br />
abordagem multicultural, haja vista as propostas para <strong>de</strong>marcar e regularizar as terras<br />
indígenas, fomentar e valorizar os processos educativos e patrimônios culturais <strong>de</strong>sses<br />
povos, além <strong>de</strong> preservar o conhecimento tradicional e a proteção social dos<br />
autóctones para assegurar o exercício da igualda<strong>de</strong>.<br />
112
7. Educação na Diversida<strong>de</strong><br />
Para darmos continuida<strong>de</strong> ao argumento <strong>de</strong> observar a educação indígena no contexto<br />
do multiculturalismo, precisamos esclarecer melhor a opinião do MEC sobre a<br />
diversida<strong>de</strong> cultural do país do ponto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> políticas públicas <strong>de</strong> Educação no<br />
âmbito fe<strong>de</strong>ral.<br />
Um importante passo em direção à valorização da diversida<strong>de</strong> no Brasil pelo MEC é a<br />
criação da Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong> (SECAD),<br />
em 2004, com o propósito <strong>de</strong> “fazer com que a política pública consiga compatibilizar<br />
o conteúdo universal da educação com o conteúdo diferencialista”. (SECAD, 2006, p.6)<br />
A finalida<strong>de</strong> da SECAD era ser um órgão que facilitasse a articulação das diferenças, <strong>de</strong><br />
modo a abarcar todas as minorias e diferenças culturais. Os <strong>de</strong>ficientes não foram<br />
inclusos aí porque já havia uma secretaria especial para eles e, politicamente, seria um<br />
erro esvaziar essa secretaria, mas, conceitualmente, eles também <strong>de</strong>veriam figurar na<br />
SECAD, como reconhece Ricardo Henriques, secretário da SECAD (2004-2006), durante<br />
entrevista.<br />
Desse modo, a proposta da SECAD é calcada em uma dimensão específica da<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira que antece<strong>de</strong> a multicultural, porque esta abordagem tem sido<br />
concebida em países que possuem uma realida<strong>de</strong> bem distinta da brasileira. Se<br />
compararmos o Brasil ao Canadá, po<strong>de</strong>mos observar que neste é dispensado um<br />
tratamento exclusivamente focado na diversida<strong>de</strong>; naquele, contudo, a <strong>de</strong>marcação<br />
dos grupos étnico-raciais não coinci<strong>de</strong> necessariamente com a <strong>de</strong>marcação das<br />
populações pobres, porque aqui a pobreza muitas vezes aparece como critério<br />
fundamental <strong>de</strong> diferenciação e, portanto, sobrepõe-se às especificida<strong>de</strong>s culturais.<br />
113
Após nossa consulta a um dos gestores da SECAD, a revista, publicada pela Secretaria,<br />
Diferentes Diferenças, foi i<strong>de</strong>ntificada como o documento marcante, no âmbito<br />
fe<strong>de</strong>ral, sobre a importância <strong>de</strong> políticas públicas direcionadas à diversida<strong>de</strong> cultural<br />
na área da Educação. Há outros também relevantes, porém são, em verda<strong>de</strong>, textos <strong>de</strong><br />
estudiosos do assunto, selecionados pela SECAD/MEC, com apoio da UNESCO para<br />
publicação, mas não elaborados por gestores públicos 32 .<br />
Segundo Henriques, por um lado, a educação <strong>de</strong>ve ser universal, para a garantia a<br />
todos, mas, por outro, diferenciada <strong>de</strong> acordo com as necessida<strong>de</strong>s específicas <strong>de</strong> cada<br />
local. Nas palavras <strong>de</strong>le,<br />
“[...] a tese <strong>de</strong> se assegurar a educação como um direito <strong>de</strong> todos<br />
somente por estratégias universais é falsa. Necessitamos produzir uma<br />
agenda <strong>de</strong> ações afirmativas que vá ao encontro <strong>de</strong> compatibilizar os<br />
conteúdos universais com os diferencialistas. Ou seja, a universalização<br />
do ensino, hoje, não seria suficiente para reduzir o quadro <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>”. (SECAD, 2006, p.8)<br />
A SECAD tentou i<strong>de</strong>ntificar as semelhanças nas diferenças, para abranger negros,<br />
índios, mulheres, e temas como violência doméstica, educação prisional, etc. numa<br />
única secretaria, mas seria preciso assegurar-se que cada <strong>de</strong>manda específica não<br />
resultasse no esfacelamento a secretaria, porque uma coisa seria focalizar as<br />
<strong>de</strong>mandas dos negros, as dos homossexuais e as das mulheres; outra seria ter como<br />
alvo essas <strong>de</strong>mandas e ainda as dos negros homossexuais, as das mulheres<br />
homossexuais e as das mulheres negras homossexuais, por exemplo. Assim, foi preciso<br />
recortes concretos para afiançar a execução <strong>de</strong> políticas públicas.<br />
32 Utilizamos vários <strong>de</strong>sses materiais (Ca<strong>de</strong>rnos Educação para Todos) nesta dissertação.<br />
114
Um exemplo da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse recorte vem <strong>de</strong> experiências empíricas, como o<br />
caso <strong>de</strong> a secretaria saber da dificulda<strong>de</strong> da educação prisional, cuja diferenciação,<br />
com agenda própria, foi imprescindível, caso contrário, com políticas <strong>de</strong> educação<br />
diluídas, não haveria resultado algum nesse sistema.<br />
Diante <strong>de</strong>ssa postura sobre garantir educação universal sem per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista a<br />
importância das diferenças locais, algumas das ações, citadas pelo MEC como<br />
diferenciadas, são relacionadas a seguir. E, apesar <strong>de</strong> muitas <strong>de</strong>las serem<br />
originalmente estaduais ou municipais com apoio <strong>de</strong> organismos internacionais, como<br />
a UNESCO e o Banco Interamericano <strong>de</strong> Desenvolvimento – BID –, a relevância que<br />
damos é por o MEC ter reconhecido e dado visibilida<strong>de</strong> a tais iniciativas.<br />
(i) Escola Aberta - <strong>escola</strong>s são mantidas abertas no final <strong>de</strong> semana em bairros<br />
pobres <strong>de</strong> Recife, para jovens fazerem alguma ativida<strong>de</strong> artística ou esportiva,<br />
<strong>de</strong> modo que o ócio e, consequentemente, a violência, as drogas e os roubos<br />
diminuam entre esses grupos vulneráveis e os potenciais dos bairros sejam<br />
i<strong>de</strong>ntificados, para se a<strong>de</strong>quar a oferta à <strong>de</strong>manda da região (SECAD, 2006, p.9-<br />
10);<br />
(ii) Programa Bairro-Escola – ocorre em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,<br />
on<strong>de</strong> houve integração do programa Escola Aberta com a comunida<strong>de</strong>; assim,<br />
por convênios com organizações sociais locais, as <strong>escola</strong>s trabalham com os<br />
jovens em tempo integral, nas mais diversas áreas, como esporte, arte, cultura,<br />
informática, lazer e aprendizado, o que reduz a evasão <strong>escola</strong>r (SECAD, 2006,<br />
p.11-12);<br />
115
(iii) Ações Sobre a Homossexualida<strong>de</strong> – preten<strong>de</strong> formar profissionais <strong>de</strong><br />
Educação com vistas à cidadania e à diversida<strong>de</strong> sexual, além <strong>de</strong> formular<br />
políticas educacionais <strong>de</strong> respeito à diversida<strong>de</strong> sexual e combater a homofobia<br />
(SECAD, 2006, p.13-15);<br />
(iv) Alfabetização – com enfoque nas especificida<strong>de</strong>s do público-alvo, há, por<br />
exemplo, voltado para pescadores das margens do rio São Francisco, o<br />
programa Saberes das Águas, que levou em conta temas do cotidiano como “o<br />
rio, o tempo, as fases da lua, o meio ambiente, a confecção <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s, a<br />
comercialização dos peixes, o <strong>de</strong>feso e a época <strong>de</strong> reprodução dos peixes”<br />
(SECAD, 2006, p.18);<br />
(v) Escola que Protege – o programa visa a orientar os educadores a perceber<br />
sinais, como mudanças <strong>de</strong> comportamento dos alunos, a encaminhá-los para<br />
atendimento especializado e a prevenir casos <strong>de</strong> violência física ou psicológica,<br />
abandono ou negligência, abuso e exploração sexual comercial e exploração do<br />
trabalho infantil (SECAD, 2006, p.23);<br />
(vi) Programa Reconhecer – trabalha para apoiar a constituição <strong>de</strong> uma cultura<br />
jurídica que incentive os cursos <strong>de</strong> Direito a refletir sobre a estrutura curricular<br />
e contemple espaços <strong>de</strong> formação que se <strong>de</strong>diquem às necessida<strong>de</strong>s dos<br />
grupos mais vulneráveis da população brasileira e à autonomia e<br />
sustentabilida<strong>de</strong> das comunida<strong>de</strong>s (SECAD, 2006, p.24);<br />
(vii) Educação Quilombola – atua na formação específica <strong>de</strong> professores para<br />
essas áreas, em fóruns estaduais, para articulação e acompanhamento, in loco,<br />
116
<strong>de</strong>ssa formação; na ampliação e melhoria da re<strong>de</strong> física <strong>escola</strong>r; na produção e<br />
aquisição <strong>de</strong> material didático (SECAD, 2006, p.28);<br />
(viii) Saberes da Terra – o objetivo é elevar a <strong>escola</strong>rida<strong>de</strong> com qualificação<br />
profissional e social por meio <strong>de</strong> um projeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento sustentável e<br />
solidário no campo, a fim <strong>de</strong> valorizar as diferentes formas <strong>de</strong> aprendizado no<br />
processo <strong>de</strong> ensino, que vincula a <strong>escola</strong> à realida<strong>de</strong> do aluno e adota o<br />
trabalho como princípio educativo. O currículo segue a pedagogia da<br />
alternância, a qual respeita os ciclos da ativida<strong>de</strong> rural e admite a divisão do<br />
tempo <strong>de</strong> estudo entre <strong>escola</strong> e casa/proprieda<strong>de</strong> rural (SECAD, 2006, p.32);<br />
(xix) Conexões <strong>de</strong> Saberes – nas palavras do secretário Ricardo Henriques,<br />
“representa uma política <strong>de</strong> permanência qualificada que contribui para os<br />
estudantes universitários <strong>de</strong> origem popular permanecerem e concluírem com<br />
êxito a graduação nas universida<strong>de</strong>s públicas. Além disso, amplia a relação<br />
entre a universida<strong>de</strong> e os moradores <strong>de</strong> espaços populares, suas instituições e<br />
organizações, promovendo o encontro e a troca <strong>de</strong> saberes e fazeres entre<br />
esses dois territórios” (SECAD, 2006, p.34);<br />
(x) Educação Escolar Indígena – faz-se mais presente <strong>de</strong>pois da elaboração <strong>de</strong><br />
políticas educacionais específicas que contemplam as necessida<strong>de</strong>s das<br />
comunida<strong>de</strong>s. Para se ter i<strong>de</strong>ia da dimensão <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> educação, “[o]s<br />
dados do Censo Escolar 2005 apontam a existência <strong>de</strong> 2.324 <strong>escola</strong>s em<br />
funcionamento em terras indígenas, on<strong>de</strong> são atendidos 164 mil estudantes.<br />
Nessas <strong>escola</strong>s, trabalham aproximadamente 9,1 mil professores, 88% <strong>de</strong>les<br />
indígenas”. (SECAD, 2006, p.38) Entre as ações estão: (a) aumento ou<br />
117
econhecimento <strong>de</strong> <strong>escola</strong>s indígenas; (b) merenda <strong>escola</strong>r, que recebeu, por<br />
aluno, valor superior ao das <strong>escola</strong>s não indígenas, o que propiciou a<br />
permanência <strong>de</strong>les na <strong>escola</strong>; (c) cursos <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> professores indígenas,<br />
que também se tornam pesquisadores das próprias culturas e autores <strong>de</strong> livros<br />
didáticos específicos; (d) uso da língua materna na alfabetização.<br />
São vários os programas indicados pela SECAD/MEC, como os <strong>de</strong> promoção da<br />
diversida<strong>de</strong>, porém os números apresentados quanto aos beneficiários indicam que<br />
tais projetos estão em estágios iniciais, com amplitu<strong>de</strong> limitada, se consi<strong>de</strong>rarmos a<br />
dimensão continental do Brasil e o número <strong>de</strong> habitantes. Alguns exemplos: em<br />
“Saberes das Águas”, da Bahia, na segunda fase, houve três mil pescadores<br />
alfabetizados em cento e quarenta e cinco turmas <strong>de</strong> quatro municípios; a “Escola que<br />
Protege” está presente em noventa e três municípios <strong>de</strong> <strong>de</strong>zessete Estados; o<br />
“Programa Reconhecer” obteve aprovação <strong>de</strong> catorze projetos em sua primeira edição<br />
e o programa “Saberes da Terra” tem beneficiado pouco mais <strong>de</strong> cinco mil jovens e<br />
adultos do campo.<br />
Mas po<strong>de</strong>mos, ainda assim, inferir que há um movimento por políticas multiculturais e<br />
inclusivas. De acordo com Henriques, respeitar as diferenças é incluir e, por mais que<br />
alguns teóricos do multiculturalismo não consi<strong>de</strong>rem com bons olhos as ações<br />
afirmativas diante do contexto <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s, é necessário haver tais ações<br />
cujo resultado é a inclusão. O limite entre esta e a segregação é tênue, portanto as<br />
discussões sobre opiniões favoráveis ou contrárias às ações afirmativas são <strong>de</strong>licadas.<br />
Elucidada a concepção <strong>de</strong> políticas multiculturais da SECAD/MEC, propomos um<br />
levantamento do histórico da educação <strong>escola</strong>r indígena <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Constituição <strong>de</strong> 1988,<br />
118
com vistas à abordagem multicultural, para algumas das atuais ações que tratam<br />
especificamente dos indígenas ou os divi<strong>de</strong>m em categorias.<br />
119
7.1. Educação Escolar Indígena<br />
A educação entra na agenda nacional como um dos principais instrumentos para<br />
promover melhores condições <strong>de</strong> vida para a população brasileira, principalmente por<br />
sermos um dos países no mundo com maior <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social. Não po<strong>de</strong>ria ser<br />
diferente com os movimentos indígenas, que, atualmente, têm a educação indígena<br />
como uma das principais <strong>de</strong>mandas, se não a principal, para a conquista da tão<br />
almejada autonomia.<br />
Dentre os aspectos da educação indígena abarcados pela Constituição Brasileira <strong>de</strong><br />
1988 (grifo nosso), está previsto que:<br />
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental,<br />
<strong>de</strong> maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores<br />
culturais e artísticos, nacionais e regionais.<br />
[...] § 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua<br />
portuguesa, assegurada às comunida<strong>de</strong>s indígenas também a<br />
utilização <strong>de</strong> suas línguas maternas e processos próprios <strong>de</strong><br />
aprendizagem.<br />
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos<br />
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará<br />
a valorização e a difusão das manifestações culturais.<br />
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,<br />
indígenas e afro-brasileiras, e das <strong>de</strong> outros grupos participantes do<br />
processo civilizatório nacional.<br />
Desse modo, po<strong>de</strong>mos afirmar que o Brasil prevê, na Constituição, manter a<br />
diversida<strong>de</strong> cultural indígena, porém os meios <strong>de</strong> sua manifestação são incertos. Como<br />
Taylor <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>, em sua abordagem multicultural, o atual momento não trata da<br />
120
importância do reconhecimento da diversida<strong>de</strong>, porque ele já ocorreu, mas das<br />
“condições” em que essas políticas <strong>de</strong> reconhecimento se realizam. Por isso, os<br />
direitos às <strong>escola</strong>s diferenciadas vêm sendo <strong>de</strong>talhados e consolidados ao longo dos<br />
anos, como veremos neste texto.<br />
Mesmo com a Constituição, a educação <strong>escola</strong>r indígena continuou a ser <strong>de</strong><br />
competência da Funai. Somente com o <strong>de</strong>creto nº 26/1991, a responsabilida<strong>de</strong> foi<br />
transferida para o MEC, que coor<strong>de</strong>na as ações, enquanto Estados e municípios as<br />
executam. E, em consonância com os princípios da Constituição, <strong>de</strong> <strong>de</strong>scentralizar e<br />
levar a participar, formou-se, pela Portaria Interministerial MJ/MEC nº 559, <strong>de</strong><br />
16.4.1991, a Coor<strong>de</strong>nação Nacional <strong>de</strong> Educação Indígena, constituída por técnicos do<br />
Ministério, especialistas <strong>de</strong> órgãos governamentais, indígenas, organizações não<br />
governamentais e universida<strong>de</strong>s.<br />
Estava previsto, para a Coor<strong>de</strong>nação, criarem-se os Núcleos <strong>de</strong> Educação Indígena nas<br />
Secretarias Estaduais <strong>de</strong> Educação, com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> apoiar e assessorar as <strong>escola</strong>s<br />
indígenas. Além disso, a preferência pelos programas permanentes <strong>de</strong> capacitação dos<br />
professores <strong>de</strong>veria dada aos índios (Art. 7º, §2º).<br />
Ainda assim, foi apenas no governo <strong>de</strong> Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que a<br />
<strong>de</strong>scentralização e a institucionalização da educação se materializaram. A Lei das<br />
Diretrizes e Bases <strong>de</strong> Educação Nacional (LDB), também conhecida como Lei Darcy<br />
Ribeiro, promulgada em 20 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1996, reafirmou os direitos das<br />
populações indígenas e contribuiu um pouco para esclarecer as responsabilida<strong>de</strong>s, ao<br />
<strong>de</strong>terminar o regime <strong>de</strong> “colaboração” entre Estados, municípios e União.<br />
121
Nas palavras <strong>de</strong> Grupioni (2006, p.58), a LDB “menciona, pela primeira vez, <strong>de</strong> forma<br />
explícita a educação <strong>escola</strong>r para os povos indígenas”. Ela também prevê a oferta <strong>de</strong><br />
educação <strong>escola</strong>r bilíngue e intercultural a esses povos, <strong>de</strong> forma a recuperar-lhes a<br />
memória histórica, reafirmar-lhes as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s étnicas e valorizar-lhes as línguas e<br />
ciências. Há inclusive a garantia <strong>de</strong> acesso a informações, conhecimentos técnicos e<br />
científicos da socieda<strong>de</strong> nacional e das <strong>de</strong>mais socieda<strong>de</strong>s indígenas e não índias. E<br />
tudo isso é planejado com a participação das comunida<strong>de</strong>s. (Art. 78 e 79, LDB, 1996)<br />
Po<strong>de</strong>mos dizer que, neste momento, existem elementos <strong>de</strong>cisivos para<br />
caracterizarmos um Estado que, em teoria, promove políticas públicas multiculturais.<br />
Mas Luciano Baniwa (2006a, 2006b) contesta os resultados práticos e afirma que, após<br />
a inclusão do tema educação indígena na agenda <strong>de</strong> discussão do MEC, por pressões<br />
<strong>de</strong>ssa população <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a década <strong>de</strong> 1970, o ensino <strong>escola</strong>r indígena acabou<br />
homogeneizando-se ao ser reconhecido e fomentado pelo Estado na década <strong>de</strong> 1990.<br />
Antes disso, na década <strong>de</strong> 1980, havia poucas experiências <strong>de</strong> “projetos-pilotos”,<br />
resultado da “emergência do movimento articulado <strong>de</strong> professores indígenas aliado ao<br />
movimento maior dos povos indígenas, [que] criou condições para o surgimento das<br />
primeiras <strong>escola</strong>s indígenas diferenciadas”. (LUCIANO BANIWA, 2006a, p.146) E, na<br />
década seguinte, as <strong>escola</strong>s foram incorporadas ao MEC, além <strong>de</strong> se formarem novas,<br />
porém, sem as especificida<strong>de</strong>s que possuíam antes.<br />
Parece que os direitos adquiridos pelos povos indígenas vêm tornando-se<br />
normatizadores, o que contribui para um “enquadramento <strong>de</strong> experiências que <strong>de</strong>vem<br />
ser únicas em mo<strong>de</strong>los já estruturados, sedimentados e burocratizados” (GRUPIONI,<br />
2001, p.90), o que transforma o direito em obrigação.<br />
122
Em 1999, com a Resolução nº 3, da Câmara <strong>de</strong> Educação Básica do Conselho Nacional<br />
<strong>de</strong> Educação, há importantes <strong>de</strong>finições <strong>de</strong> mecanismos que garantem ensino<br />
diferenciado:<br />
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o<br />
funcionamento das Escolas Indígenas, reconhecendo-lhes a condição<br />
<strong>de</strong> <strong>escola</strong>s com normas e or<strong>de</strong>namento jurídico próprios, e fixando as<br />
diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, visando à<br />
valorização plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e<br />
manutenção <strong>de</strong> sua diversida<strong>de</strong> étnica.<br />
Art.2º Constituirão elementos básicos para a organização, a estrutura e<br />
o funcionamento da <strong>escola</strong> indígena:<br />
I - sua localização em terras habitadas por comunida<strong>de</strong>s indígenas,<br />
ainda que se estendam por territórios <strong>de</strong> diversos Estados ou<br />
Municípios contíguos;<br />
II – exclusivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> atendimento a comunida<strong>de</strong>s indígenas;<br />
III – o ensino ministrado nas línguas maternas das comunida<strong>de</strong>s<br />
atendidas, como uma das formas <strong>de</strong> preservação da realida<strong>de</strong><br />
sociolinguística <strong>de</strong> cada povo;<br />
IV – a organização <strong>escola</strong>r própria.<br />
Parágrafo Único. A <strong>escola</strong> indígena será criada em atendimento à<br />
reivindicação ou por iniciativa <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong> interessada, ou com a<br />
anuência da mesma, respeitadas suas formas <strong>de</strong> representação.<br />
Como po<strong>de</strong>mos notar, além <strong>de</strong> “or<strong>de</strong>namento jurídico próprio”, que confere maior<br />
autonomia às <strong>escola</strong>s indígenas, a resolução prevê várias particularida<strong>de</strong>s das al<strong>de</strong>ias e<br />
respeita-lhes a cultura, os “processos próprios e métodos <strong>de</strong> ensino-aprendizagem;<br />
suas ativida<strong>de</strong>s econômicas; o uso <strong>de</strong> materiais didático-pedagógicos produzidos <strong>de</strong><br />
acordo com o contexto sociocultural <strong>de</strong> cada povo indígena”. (Art 3º)<br />
123
Além disso, somente com a Resolução nº 3/99, fica clara a estrutura <strong>de</strong> funcionamento<br />
das <strong>escola</strong>s indígenas sob responsabilida<strong>de</strong> dos governos estaduais, com a ressalva <strong>de</strong><br />
que os municípios po<strong>de</strong>m oferecer educação <strong>escola</strong>r indígena em regime <strong>de</strong><br />
colaboração com os respectivos Estados, mas que, se as amparadas pelos municípios<br />
não aten<strong>de</strong>rem às exigências, ouvidas as comunida<strong>de</strong>s interessadas, passarão a ser<br />
obrigação dos Estados.<br />
Um motivo <strong>de</strong> empecilho é a lacuna, do Art. 9, II a, <strong>de</strong> que aos Estados competirá<br />
responsabilizar-se pela oferta e execução da educação <strong>escola</strong>r indígena, diretamente<br />
ou por meio <strong>de</strong> regime <strong>de</strong> colaboração com seus municípios, mas há Estados que<br />
contestam que isso caiba apenas a eles 33 . Além disso, já que se trata <strong>de</strong><br />
responsabilida<strong>de</strong> dos Estados, distancia-se da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pressões e da<br />
participação das comunida<strong>de</strong>s indígenas.<br />
E, enquanto os níveis <strong>de</strong> governo têm dificulda<strong>de</strong> para lidar com esses compromissos,<br />
os povos indígenas reivindicam que a União assuma a responsabilida<strong>de</strong> direta pela<br />
educação, porque alegam que Estados e municípios não <strong>de</strong>monstram interesse ou boa<br />
vonta<strong>de</strong> para seguir as diretrizes fixadas pela CNE e dificultam o repasse <strong>de</strong> recursos<br />
que recebem da União especificamente para esse fim. (Araújo, 2006) Como afirma<br />
Araújo,<br />
Boa parte <strong>de</strong>ssa falta <strong>de</strong> vonta<strong>de</strong> política dos Estados <strong>de</strong>corre do fato<br />
<strong>de</strong> que os po<strong>de</strong>res locais são aqueles que mais se opõem a um<br />
tratamento digno para os povos indígenas, em razão dos conflitos <strong>de</strong><br />
interesses e das disputas efetivas que ganham materialida<strong>de</strong> no plano<br />
local. (Ibid., p.67)<br />
33 Para maiores informações, veja Oliveira, 2006.<br />
124
Assim, concomitantemente à dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> se assumirem responsabilida<strong>de</strong>s,<br />
homogeneiza-se a educação <strong>escola</strong>r indígena, que <strong>de</strong>veria ser diferenciada. E, se<br />
lembrarmos os dados apresentados no item População Indígena no Brasil: Alguns<br />
Indicadores, como o elevado nível <strong>de</strong> <strong>escola</strong>rização indígena (73,9%), não nos resta<br />
dúvida sobre a relevância quantitativa dos efeitos negativos que políticas<br />
homogeneizadoras po<strong>de</strong>m ter sobre as al<strong>de</strong>ias.<br />
Não obstante os problemas enfrentados nas práticas <strong>de</strong> educação <strong>escola</strong>r indígena<br />
diante da divisão <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s do Estado, <strong>de</strong>vemos alertar para o fato <strong>de</strong> que<br />
há o outro lado da história, o que diz respeito à dificulda<strong>de</strong> que jovens índios acabam<br />
enfrentando, em parte justamente pela ausência <strong>de</strong> reflexão das comunida<strong>de</strong>s sobre o<br />
papel <strong>de</strong>ssas <strong>escola</strong>s.<br />
As <strong>escola</strong>s <strong>de</strong> Ensino Médio continuam sendo as principais<br />
responsáveis pelo afastamento espacial e sociocultural dos jovens<br />
indígenas, em gran<strong>de</strong> medida porque são instaladas por pressão dos<br />
índios, sem nenhuma reflexão sobre seu papel social na vida presente<br />
e futura das comunida<strong>de</strong>s. As <strong>escola</strong>s seguem à risca, na maioria das<br />
vezes, o mo<strong>de</strong>lo urbano <strong>de</strong> Ensino Médio – disciplinar,<br />
profissionalizante para o mundo branco e centrado exclusivamente nos<br />
conhecimentos dos brancos. É muito comum ouvir dos estudantes<br />
indígenas <strong>de</strong> Ensino Médio que o Ensino Fundamental é o lugar on<strong>de</strong><br />
se “estudam as culturas indígenas” e o Ensino Médio é o lugar <strong>de</strong><br />
“apren<strong>de</strong>r conhecimentos importantes”. O que preocupa é que esta<br />
fase <strong>de</strong> ensino e <strong>de</strong> vivência individual (adulta) representa um<br />
momento <strong>de</strong>cisivo na vida do jovem indígena, uma vez que o<br />
encaminhará para uma <strong>de</strong>terminada perspectiva pessoal e social.<br />
(LUCIANO BANIWA, 2006a, p.161)<br />
Tal relato revela diferenças significativas <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quação cultural entre as fases<br />
<strong>escola</strong>res, especialmente no Ensino Médio. Mesmo o ensino bilíngue é ministrado<br />
125
somente nas primeiras quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, o que nos<br />
possibilita inferir a falta <strong>de</strong> consistência das políticas educacionais indígenas, não só<br />
quantitativa 34 , como também qualitativamente.<br />
Ainda assim, diante <strong>de</strong>sses percalços, <strong>de</strong>ve-se reconhecer que há progressos. Se antes<br />
a <strong>escola</strong> era vista pelos indígenas como “um meio exclusivo <strong>de</strong> aculturação e havia<br />
certa <strong>de</strong>sconfiança e repulsa quanto à <strong>escola</strong>rização”, atualmente ela é encarada por<br />
muitos <strong>de</strong>sses povos como meio para fortalecer as culturas e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e conquistar<br />
a cidadania. (LUCIANO BANIWA, 2006a, p.129)<br />
Outro aspecto valioso que <strong>de</strong>ve ser tratado ainda nesta subdivisão do capítulo<br />
Educação na Diversida<strong>de</strong> é o termo interculturalida<strong>de</strong>. Diferentemente do viés<br />
i<strong>de</strong>ológico e político que políticas públicas tenham no Brasil, o termo<br />
interculturalida<strong>de</strong>, muito utilizado nos documentos oficiais, <strong>de</strong>cretos e portarias do<br />
Estado, originou-se em 1928, nos EUA, com o Relatório Merian, que <strong>de</strong>fendia a<br />
manutenção do modo <strong>de</strong> vida indígena. O princípio fundamental da educação<br />
intercultural é a “retórica da troca <strong>de</strong> conhecimento entre índios e não índios.”<br />
(COLLET, 2006, p.118), além <strong>de</strong> ser base para o projeto intercultural a educação<br />
bilíngue, o que se contrapõe aos mo<strong>de</strong>los integracionista e assimilacionista. Porém a<br />
efetivação <strong>de</strong> tal proposta ocorreu nos EUA somente na década <strong>de</strong> 1970.<br />
Na América Latina, o termo chegou com a Convenção do III (1940), pela instituição<br />
missionária americana Summer Institute of Linguistics – SIL, que, mais tar<strong>de</strong>, recebeu<br />
34 De acordo com dados do Censo Escolar 2008 (INEP), a proporção é <strong>de</strong> quase doze <strong>escola</strong>s no Ensino<br />
Fundamental para cada <strong>escola</strong> no Ensino Médio, o que indica a disparida<strong>de</strong> quantitativa.<br />
126
da Funai a responsabilida<strong>de</strong> pela educação indígena brasileira, com resquícios <strong>de</strong>sse<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> catequização até os dias <strong>de</strong> hoje. (CRAVEIRO, 2004; COLLET, 2006)<br />
Uma possível diferenciação entre as práticas integracionistas e assimilacionistas é a<br />
apresentada por Collet que, valendo-se <strong>de</strong> Losada (1992 apud COLLET, 2006), refere a<br />
prática integracionista como integração gradual do indivíduo à cultura da unida<strong>de</strong><br />
nacional, enquanto a assimilacionista, segundo Havighurst e Juliano (1976 e 1993 apud<br />
COLLET, 2006), é voltada para segmentos da socieda<strong>de</strong>, como uma tentativa <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>quar as minorias aos valores nacionais, por meio da comunicação e da <strong>escola</strong>.<br />
Nesse caso, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>duzir que o tratamento dispensado à questão indígena<br />
brasileira utiliza os dois termos e é possível classificá-lo primeiramente como<br />
assimilacionista (os índios “domesticados” separados dos “selvagens”) e <strong>de</strong>pois como<br />
integracionista (com regime tutelar). Em ambos os casos, o objetivo era eliminar as<br />
diferenças.<br />
A autora também se propõe a distinguir as noções <strong>de</strong> interculturalida<strong>de</strong> e<br />
multiculturalismo em conformida<strong>de</strong> com alguns autores (JULIANO, 1993; FALTERI,<br />
1998; GIACALONE, 1998 apud COLLET, 2006, p.123):<br />
“multicultural” se referiria a um dado objetivo, à coexistência <strong>de</strong><br />
diversas culturas, sem entretanto enfatizar o aspecto da troca ou da<br />
relação, po<strong>de</strong>ndo este termo ser usado, inclusive, com referência a<br />
contextos em que socieda<strong>de</strong>s e culturas são mantidas separadas.<br />
“Intercultural”, por outro lado, daria ênfase ao contato, ao diálogo<br />
entre as culturas, à interação e à interlocução, à reciprocida<strong>de</strong> e ao<br />
confronto entre i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e diferença.<br />
127
Essa possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o multiculturalismo resultar em isolamento é prevista por Taylor<br />
(TAYLOR & BOUCHARD, 2008) e por Santos (2003), mas somente como alternativa à<br />
falta <strong>de</strong> uma política multicultural eficaz.<br />
Fizemos diferenciação entre interculturalida<strong>de</strong> e multiculturalismo somente como<br />
proposta introdutória para compreen<strong>de</strong>rmos o porquê <strong>de</strong> os documentos do Governo<br />
utilizarem exclusivamente o primeiro termo. Para nós, não há interesse em<br />
aprofundarmos essa discussão, porque esse não é nosso objetivo. Como o próprio<br />
Kymlicka (2007) sugere, chame do que quiser o termo multiculturalismo, inclusive <strong>de</strong><br />
interculturalismo.<br />
De acordo com o apresentado, a educação <strong>escola</strong>r indígena não parece adaptar-se a<br />
essa situação. Ao contrário, a abertura, quando não é acompanhada <strong>de</strong> um<br />
planejamento mais acurado por parte do Estado e das al<strong>de</strong>ias, tem levado a situações<br />
<strong>de</strong>licadas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scaracterização da cultura indígena local.<br />
No próximo item, analisaremos dois Programas Educacionais com Recorte Específico<br />
Para Indígenas com a intenção <strong>de</strong> relacionar as políticas multiculturais previstas na<br />
parte teórica <strong>de</strong>sta dissertação às do Governo, como continuação do trabalho <strong>de</strong> situar<br />
o Brasil no contexto <strong>de</strong>ssa abordagem.<br />
7.1.1 Programas Educacionais com Recorte Específico Para Indígenas<br />
O propósito <strong>de</strong>ste item é estudar as justificativas <strong>de</strong>sses programas, principalmente<br />
quando esses recortes favorecem os povos autóctones. Suspeita-se que a persistência<br />
em políticas públicas cuja proposta inicial é valorizar as diferenças muitas vezes não<br />
obtém, na prática, o resultado <strong>de</strong>sejado.<br />
128
1. Fun<strong>de</strong>b<br />
O Fundo <strong>de</strong> Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e <strong>de</strong> Valorização dos<br />
Profissionais da Educação (Fun<strong>de</strong>b) – que aten<strong>de</strong> toda a Educação Básica (da Creche ao<br />
Ensino Médio) – substitui o Fundo <strong>de</strong> Manutenção e Desenvolvimento do Ensino<br />
Fundamental e <strong>de</strong> Valorização do Magistério (Fun<strong>de</strong>f) – que só atentava ao<br />
Fundamental. Este vigorou <strong>de</strong> 1997 a 2006; aquele tem a previsão <strong>de</strong> viger <strong>de</strong> janeiro<br />
<strong>de</strong> 2007 até 2020.<br />
A estratégia do Fun<strong>de</strong>b é (re)distribuir recursos pelo país, <strong>de</strong> acordo com o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento social e econômico das regiões. Esses recursos, vinculados por lei à<br />
educação, são obtidos principalmente pela arrecadação <strong>de</strong> impostos e por<br />
transferências dos Estados e municípios, com alguma complementação <strong>de</strong> verba<br />
fe<strong>de</strong>ral, caso não se tenha atingido o patamar mínimo por aluno ao ano.<br />
Então, os recursos são repassados aos Estados e municípios em conformida<strong>de</strong> com o<br />
número <strong>de</strong> alunos na Educação Básica, com fundamento no censo <strong>escola</strong>r do ano<br />
anterior, ou seja, para os municípios, <strong>de</strong> acordo com o número <strong>de</strong> alunos da Educação<br />
Infantil e do Ensino Fundamental e, para os Estados, com o número <strong>de</strong> alunos do<br />
Ensino Fundamental e Médio. Há conselhos criados especificamente para acompanhar<br />
e controlar a distribuição e a aplicação <strong>de</strong>ssa verba nos três âmbitos do governo.<br />
Além disso, <strong>de</strong>terminaram-se os coeficientes <strong>de</strong> distribuição <strong>de</strong> recursos (Tabela 8)<br />
para as diferentes modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino, tendo, como referência (fator 1), as séries<br />
iniciais do Ensino Fundamental urbano. A justificativa para a existência <strong>de</strong>sse<br />
129
coeficiente é baseada nos diferentes graus <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investimentos<br />
tecnológicos e <strong>de</strong> professores em cada modalida<strong>de</strong> 35 .<br />
Esses coeficientes variam <strong>de</strong> 0,7 a 1,3. Assim, por exemplo, a educação indígena (e<br />
quilombola) tem coeficiente 1,20, o que implica que os Estados <strong>de</strong>vem aplicar, nessa<br />
etapa <strong>de</strong> ensino, no mínimo, 20% a mais <strong>de</strong> recursos nos alunos do Ensino<br />
Fundamental urbano.<br />
O valor <strong>de</strong>sse coeficiente é justificado por uma Nota Técnica da SEACD/MEC sobre<br />
Fatores <strong>de</strong> Diferenciação do Fun<strong>de</strong>b <strong>de</strong> 2005, cuja principal alegação é<br />
[A] riqueza sócio-cultural, política, linguística [dos povos indígenas],<br />
[que] acarreta a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> construirmos projetos <strong>escola</strong>res<br />
específicos para cada etnia. Essa é a principal razão pela qual a <strong>escola</strong><br />
indígena necessita <strong>de</strong> mecanismos diferenciados <strong>de</strong> financiamento.<br />
(SECAD, 2005, p.7).<br />
Portanto o fator <strong>de</strong>cisivo para a educação <strong>escola</strong>r indígena (e quilombola) ter o<br />
terceiro coeficiente mais alto entre <strong>de</strong>z inicialmente foi a questão do<br />
multiculturalismo, o respeito à diferenciação na educação, já previsto nos mecanismos<br />
<strong>de</strong> incentivo à autonomia <strong>de</strong>sses povos, como vimos.<br />
Além disso, há os fatores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m prática (SECAD, 2005, p.8):<br />
35 Não temos a pretensão <strong>de</strong> entrar em <strong>de</strong>talhes, mas há valores per capita/dia do Programa Nacional<br />
<strong>de</strong> Alimentação Escolar (PNAE), também abarcados pelo FNDE (Fundo Nacional <strong>de</strong> Desenvolvimento da<br />
Educação), que diferenciam os indígenas para valorização dos padrões alimentares próprios às tradições<br />
das comunida<strong>de</strong>s e para aquisição dos alimentos da produção comunitária. As categorias e os valores<br />
são os seguintes: para Pré-Escola, Ensino Fundamental, Médio e Educação <strong>de</strong> Jovens e Adultos, R$0,30;<br />
para Creches Públicas e Filantrópicas, Escolas Indígenas e Escolas Quilombolas, R$0,60 e para <strong>escola</strong>s em<br />
período integral do Programa Mais Educação, R$0,90. (sites: www.fn<strong>de</strong>.gov.br e<br />
www.coneei.mec.gov.br – acessos em 2010)<br />
130
• A baixa razão professor/aluno (1/16) – Isso ocorre porque as al<strong>de</strong>ias<br />
normalmente têm populações não muito superiores a uma centena <strong>de</strong><br />
indivíduos.<br />
• Transporte Escolar Precário – Quando as crianças indígenas atingem o segundo<br />
segmento do Ensino Fundamental e precisam <strong>de</strong>slocar-se para <strong>escola</strong>s mais<br />
próximas, muitas vezes afastadas das al<strong>de</strong>ias, geralmente elas o fazem por<br />
estradas <strong>de</strong> terra (ônibus) ou por rios e igarapés (pequenas embarcações).<br />
• Necessida<strong>de</strong>s Específicas <strong>de</strong> Investimentos<br />
o Formação inicial para professores indígenas e técnicos governamentais<br />
exige investimentos mais elevados que os da média das <strong>escola</strong>s<br />
nacionais, em razão da proposta <strong>de</strong> educação intercultural.<br />
o Especificida<strong>de</strong>s sociais e linguísticas tornam necessário haver assessoria<br />
especial <strong>de</strong> cientistas sociais, antropólogos e linguistas para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento do ensino <strong>escola</strong>r.<br />
Tabela 8 – Fun<strong>de</strong>b: Coeficiente <strong>de</strong> distribuição <strong>de</strong> recursos por modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ensino<br />
131
Nível <strong>de</strong> Ensino<br />
2007<br />
(Resolução nº 1,<br />
<strong>de</strong> 15/2/2007)<br />
2008<br />
(Portaria nº 41,<br />
<strong>de</strong> 27/12/2007)<br />
2009<br />
(Portaria nº 932,<br />
<strong>de</strong> 30/7/2008)<br />
2009<br />
(Portaria nº 777,<br />
<strong>de</strong> 10/8/2009)<br />
Creche 0,8 - - -<br />
Creche em tempo integral - 1,1 1,1 1,1<br />
Creche em tempo parcial - 0,8 0,8 0,8<br />
Pré-<strong>escola</strong> 0,9 - - -<br />
Pré-<strong>escola</strong> em tempo integral - 1,15 1,2 1,25<br />
Pré-<strong>escola</strong> em tempo parcial - 0,9 1 1<br />
Séries iniciais do ensino<br />
fundamental urbano<br />
1 1 1 1<br />
Séries iniciais do ensino<br />
fundamental rural<br />
1,05 1,05 1,05 1,15<br />
Séries finais do ensino<br />
fundamental urbano<br />
1,1 1,1 1,1 1,1<br />
Séries finais do ensino<br />
fundamental rural<br />
1,15 1,15 1,15 1,2<br />
Ensino fundamental em tempo<br />
integral<br />
1,25 1,25 1,25 1,25<br />
Ensino médio urbano 1,2 1,2 1,2 1,2<br />
Ensino médio rural 1,25 1,25 1,25 1,25<br />
Ensino médio em tempo<br />
integral<br />
1,3 1,3 1,3 1,3<br />
Ensino médio integrado à<br />
educação profissional<br />
1,3 1,3 1,3 1,3<br />
Educação especial 1,2 1,2 1,2 1,2<br />
Educação indígena e<br />
quilombola<br />
1,2 1,2 1,2 1,2<br />
Educação <strong>de</strong> jovens e adultos<br />
com avaliação no processo<br />
Educação <strong>de</strong> jovens e adultos<br />
0,7 0,7 0,8 0,8<br />
integrada à educação<br />
profissional <strong>de</strong> nível médio,<br />
com avaliação no processo<br />
0,7 0,7 1 1<br />
Creche conveniada em tempo<br />
integral<br />
- 0,95 0,95 1,1<br />
Creche conveniada em tempo<br />
parcial<br />
- 0,8 0,8 0,8<br />
Pré-<strong>escola</strong> conveniada em<br />
tempo integral<br />
- 1,15 1,2 1,2<br />
Pré-<strong>escola</strong> conveniada em<br />
tempo parcial<br />
- 0,9 1 1<br />
Fonte: www.fn<strong>de</strong>.gov.br - acesso em 2010, com atualização nossa<br />
o Produção <strong>de</strong> material didático-pedagógico – Uma forma <strong>de</strong> promover a<br />
educação intercultural e diferenciada é confeccionar esse material,<br />
132
editado com recursos públicos, para valorizar os conhecimentos<br />
tradicionais indígenas e da socieda<strong>de</strong> nacional.<br />
o Dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> acompanhamento das <strong>escola</strong>s por parte do Estado, já que<br />
muitas al<strong>de</strong>ias são <strong>de</strong> difícil acesso, o que onera esse trabalho e a<br />
assessoria do ensino.<br />
Todos esses fundamentos corroboram com a conclusão <strong>de</strong> que há a<strong>de</strong>quações<br />
previstas na educação indígena por meio <strong>de</strong> uma abordagem multicultural no Fun<strong>de</strong>b.<br />
Não po<strong>de</strong>mos tratar <strong>de</strong> todos os itens característicos do multiculturalismo, porque a<br />
proposta do coeficiente do Fun<strong>de</strong>b é clara: apenas repasse <strong>de</strong> recursos diferenciados<br />
<strong>de</strong> acordo com as modalida<strong>de</strong>s.<br />
Apesar do aumento que outros tipos tiveram nos últimos anos, mas a indígena não,<br />
esta ainda está com um valor expressivo <strong>de</strong> coeficiente, com somente cinco<br />
modalida<strong>de</strong>s acima e quatro com o mesmo valor, o que perfaz vinte e um no total.<br />
2. ProUni<br />
O Programa Universida<strong>de</strong> para Todos – ProUni – do Governo Fe<strong>de</strong>ral, pela Lei<br />
11.096/2005, oferece bolsas parciais e integrais <strong>de</strong> estudo para alunos <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong><br />
graduação e sequenciais <strong>de</strong> formação específica <strong>de</strong> Instituições <strong>de</strong> Ensino Superior<br />
Privadas (IESP), pela renúncia ou isenção fiscal e isso ajuda a regulamentar a<br />
filantropia na educação superior privada (o terceiro <strong>de</strong> três objetivos).<br />
133
O primeiro é parte do Plano Nacional <strong>de</strong> Educação (PNE), cuja meta é ter ao menos<br />
30% dos jovens com ida<strong>de</strong> entre <strong>de</strong>zoito e vinte e quatro anos no Ensino Superior em<br />
2011, o que contribuirá para “<strong>de</strong>mocratizar o acesso à educação superior no país”.<br />
O segundo, que visa a propiciar “inclusão social no Ensino Superior”, tem como<br />
premissa que muitos alunos do Ensino Médio não concorriam às vagas <strong>de</strong> faculda<strong>de</strong>s<br />
privadas porque não tinham condições econômicas, nem <strong>de</strong> financiamento para tal,<br />
portanto o acesso é <strong>de</strong>stinado a jovens <strong>de</strong> baixa renda 36 . Não entraremos em <strong>de</strong>talhes<br />
sobre os <strong>de</strong>mais pré-requisitos <strong>de</strong> concorrência ao Programa por ser irrelevante para<br />
este trabalho.<br />
O ProUni reserva bolsas para os portadores <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiência e os estudantes<br />
auto<strong>de</strong>clarados negros, pardos ou índios, porém eles <strong>de</strong>vem enquadrar-se nos <strong>de</strong>mais<br />
critérios <strong>de</strong> seleção do programa para concorrer a elas. De acordo com o site do<br />
ProUni, atualmente, estão sendo utilizadas cerca <strong>de</strong> trezentas e oitenta e cinco mil<br />
bolsas, das quais novecentas e sessenta e uma, reservadas para indígenas (0,2% do<br />
total). As necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sse grupo apontam para o acesso a cursos superiores e<br />
superiores interculturais.<br />
No que diz respeito à reserva <strong>de</strong> vagas para “minorias” – na concepção brasileira –, a<br />
proposta <strong>de</strong>sse programa é válida sob a perspectiva do multiculturalismo, por<br />
promover a valorização dos indígenas, negros e pardos, em <strong>de</strong>svantagem política,<br />
social e econômica em relação à socieda<strong>de</strong> nacional. Apesar <strong>de</strong> os portadores <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ficiência não fazerem parte da “minoria” da abordagem multicultural, como já<br />
mencionamos no capítulo Educação na Diversida<strong>de</strong>, a realida<strong>de</strong> brasileira exigiu outro<br />
36 Para maiores informações sobre os pré-requisitos dos candidatos, acesse o site:<br />
http://siteprouni.mec.gov.br/<br />
134
ecorte do tema e, com isso, acabou mudando conceitualmente o que <strong>de</strong>veria ser o<br />
multiculturalismo brasileiro.<br />
O ponto crítico <strong>de</strong>sse programa é que tem, como critério para reserva <strong>de</strong> bolsas para<br />
os indígenas, os auto<strong>de</strong>clarados, ou seja, basta que o indivíduo afirme ser autóctone,<br />
sem necessida<strong>de</strong> alguma <strong>de</strong> comprovação, que, se ele preencher os <strong>de</strong>mais requisitos,<br />
po<strong>de</strong>rá concorrer a uma das bolsas <strong>de</strong>stinadas a índios. Moura Guarany (2006)<br />
exemplifica:<br />
Indígenas <strong>de</strong> outros Estados [do DF] têm <strong>de</strong>nunciado à FUNAI o<br />
ingresso <strong>de</strong> não índios nas vagas <strong>de</strong>stinadas aos índios, também os<br />
estudantes universitários <strong>de</strong> Brasília, ao tomarem conhecimento <strong>de</strong> um<br />
gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> índios que teriam ingressado nas universida<strong>de</strong>s<br />
nesta capital, entraram em contato com estes últimos para conhecê-<br />
los. Com isso, <strong>de</strong>scobriram que quase todos não eram indígenas, e eles<br />
explicavam: “Eu só disse que era índio por não saber minha origem. E<br />
como não me consi<strong>de</strong>ro branco ou negro, me <strong>de</strong>clarei índio para ter<br />
acesso ao programa”. Outros assim diziam: “Quando fomos nos<br />
inscrever, os funcionários das universida<strong>de</strong>s nos incentivaram a nos<br />
inscrevermos como índios e assim fizemos. Mas não somos índios e<br />
nem conhecemos nenhuma comunida<strong>de</strong>. (Ibid., p.154)<br />
A solução dada por Moura Guarany tem características multiculturais, já que se trata<br />
da <strong>de</strong>fesa do reconhecimento <strong>de</strong> um índio pela coletivida<strong>de</strong> da mesma etnia, da<br />
auto<strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> um povo, <strong>de</strong> modo que o indivíduo seja i<strong>de</strong>ntificado por seu<br />
grupo ou nação.<br />
A argumentação do autor é clara: “O Brasil não po<strong>de</strong> ser obrigado a aceitar, em função<br />
da vonta<strong>de</strong> exclusiva do interessado, que ele se autoi<strong>de</strong>ntifique como brasileiro”.<br />
(MOURA GUARANY, 2006, p.155) Isso sugere que o programa precisa a<strong>de</strong>quar-se a<br />
essa questão. Nos mol<strong>de</strong>s da abordagem multicultural, o raciocínio <strong>de</strong> Moura Guarany<br />
135
é muito pertinente. O programa reserva vagas para os indígenas, que precisam <strong>de</strong><br />
autonomia e <strong>de</strong> autogoverno 37 para <strong>de</strong>liberar sobre o próprio povo, especialmente no<br />
que tange à distinção <strong>de</strong>le.<br />
O direito a autogoverno juntamente com o da terra são <strong>de</strong> fato os itens mais difíceis<br />
no que se refere à promoção do multiculturalismo, porque, quando não permitem a<br />
classificação étnico-racial por auto<strong>de</strong>terminação, fazem-no pela carteira da Funai. Daí,<br />
se houver mudança na forma <strong>de</strong> reconhecimento da raça, nossa impressão é <strong>de</strong> que<br />
ela ocorrerá primeiramente pela carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação do órgão indigenista, antes<br />
que os povos indígenas adquiram autonomia para se autoi<strong>de</strong>ntificarem coletivamente.<br />
37 Aproveitamos a oportunida<strong>de</strong> para conceituar autonomia e autogoverno. De acordo com Heywood<br />
(2000), os termos são sinônimos, porém nós nos valemos do termo autogoverno para a parte teórica<br />
<strong>de</strong>ste trabalho, justamente por ela o utilizar, e para as questões indígenas no Brasil foi mencionado<br />
autonomia, por ser essa a palavra que se encontra nos documentos e nas <strong>de</strong>mais fontes <strong>de</strong> pesquisa. A<br />
impressão que temos para a divergência <strong>de</strong> uso <strong>de</strong>sses termos é que autogoverno tem conotação mais<br />
política, como se conferisse in<strong>de</strong>pendência da Nação aos povos indígenas, da mesma forma que, por<br />
muitos anos, o Estado não aceitou o termo povos para os indígenas, porque sugeriria a existência <strong>de</strong><br />
outra Nação.<br />
136
8. Conclusão<br />
Chegamos ao ponto em que é preciso refletir sobre os achados <strong>de</strong>ste trabalho. Visto<br />
que há diferenças significativas entre as teorias sobre o multiculturalismo e o uso <strong>de</strong>le<br />
nas políticas públicas brasileiras, propomos uma análise sobre limites e oportunida<strong>de</strong>s<br />
específicos <strong>de</strong>ssa abordagem no Brasil. O quadro 1, abaixo, procura resumir os<br />
aspectos mais importantes <strong>de</strong>ssa questão.<br />
Quadro 1 – Multiculturalismo: Limites e Oportunida<strong>de</strong>s da Abordagem Para a Questão<br />
Indígena no Brasil<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Limites Oportunida<strong>de</strong>s<br />
O alto nível <strong>de</strong> abstração das abordagens<br />
dificulta a operacionalida<strong>de</strong> das políticas<br />
Risco <strong>de</strong> isolamento e "conservantismo<br />
cultural" (guetos)<br />
Dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> recortar públicos-alvo <strong>de</strong>ntro<br />
dos conceitos mais amplos <strong>de</strong> "cultura" e<br />
"multiculturalismo"<br />
A agregação da causa indígena com a <strong>de</strong><br />
outras minorias po<strong>de</strong> enfraquecer o<br />
“indigenismo”<br />
A busca por abordagem “universal” <strong>de</strong><br />
multiculturalismo (principalmente pelos<br />
organismos internacionais) po<strong>de</strong> tolher<br />
abordagens locais diferentes<br />
O contexto brasileiro <strong>de</strong> aguda<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> é diferente daquele em que<br />
foram formuladas originalmente as<br />
vertentes do multiculturalismo<br />
Fonte: resultado da análise <strong>de</strong>sta pesquisa.<br />
Possibilitar base conceitual/teórica mais<br />
sólida, para ligar conceitualmente esta com<br />
outras abordagens<br />
A integração com direitos humanos facilita<br />
proteção externa aos indivíduos que<br />
queiram seguir trajetórias individuais na<br />
socieda<strong>de</strong> nacional<br />
A "imprecisão conceitual" po<strong>de</strong> propiciar a<br />
agregação <strong>de</strong> interesses <strong>de</strong> diversas<br />
minorias numa mesma agenda política<br />
Agregar a causa indígena com a <strong>de</strong> outras<br />
minorias po<strong>de</strong> levar todas a mutuamente se<br />
fortalecer e, ao mesmo tempo, po<strong>de</strong><br />
promover a diversida<strong>de</strong><br />
Legitimar a atuação <strong>de</strong> organismos<br />
internacionais por meio das “melhores<br />
práticas” e ajudar a <strong>de</strong>finir a agenda das<br />
políticas públicas no Brasil<br />
Proporcionar o ataque da questão da<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> por outras visões/linguagens<br />
137
Como pô<strong>de</strong> ser visto no Quadro 1, são seis os principais pontos observados. O primeiro<br />
diz respeito ao alto nível <strong>de</strong> abstração que o multiculturalismo possui como mo<strong>de</strong>lo<br />
teórico, o que lhe dificulta a operacionalida<strong>de</strong>, ou seja, a transformação em práticas <strong>de</strong><br />
ação governamental. Essa insuficiência po<strong>de</strong> ser notada no ProUni, pelo relato <strong>de</strong><br />
Moura Guarany sobre as “frau<strong>de</strong>s” no sistema <strong>de</strong> bolsas em razão do critério <strong>de</strong><br />
autoi<strong>de</strong>ntificação dos candidatos.<br />
Como garantir que haja uma operacionalida<strong>de</strong> congruente com a abordagem<br />
multicultural no caso <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação dos membros do grupo? Esse autor propõe que<br />
a i<strong>de</strong>ntificação étnica seja objeto <strong>de</strong> avaliação das comunida<strong>de</strong>s indígenas, respaldada<br />
no direito <strong>de</strong> autogoverno. Nesse caso e no <strong>de</strong> outros programas que apresentam<br />
impedimentos quanto à prática operacionalização, uma mudança no plano do<br />
programa sanaria os problemas ou não haveria como garantir que o multiculturalismo<br />
se manifestasse como previsto na teoria?<br />
Não consi<strong>de</strong>ramos esse tipo <strong>de</strong> formalismo <strong>de</strong> Moura Guarany como solução<br />
a<strong>de</strong>quada, porque as minorias são muito fluidas, ainda mais no caso brasileiro, que<br />
tem elevada miscigenação populacional. Mesmo assim, não estamos afirmando que o<br />
sistema <strong>de</strong> cotas (um aspecto da abordagem multicultural) seja impraticável. Po<strong>de</strong>mos<br />
consi<strong>de</strong>rar o multiculturalismo como uma oportunida<strong>de</strong> para dar base conceitual mais<br />
sólida aos arranjos das políticas. Por não existir uma teoria completa, essa po<strong>de</strong>rá<br />
complementar as <strong>de</strong>mais, como a da <strong>de</strong>mocratização e a dos direitos humanos.<br />
As limitações do segundo ponto são uma continuação das do primeiro, porque a<br />
proposta <strong>de</strong> autogoverno, embora esteja <strong>de</strong> acordo com o multiculturalismo, po<strong>de</strong><br />
levar indiretamente, por exemplo, às “restrições internas” <strong>de</strong> Kymlicka, ou seja, a<br />
138
abordagem multicultural po<strong>de</strong> incorrer no risco <strong>de</strong> se tornar apenas uma retórica dos<br />
lí<strong>de</strong>res das minorias para a conquista <strong>de</strong> direitos coletivos, com o intuito <strong>de</strong><br />
“conservantismo cultural” e reforçar a coerção ou o isolamento dos seus membros.<br />
Porém, como oportunida<strong>de</strong>, se houver <strong>de</strong> fato uma articulação da cultura minoritária<br />
indígena com os direitos humanos e os <strong>de</strong>mais direitos individuais nacionais, políticas<br />
multiculturais po<strong>de</strong>rão garantir mais autonomia a esses grupos e, ao mesmo tempo,<br />
zelar pela proteção dos direitos individuais <strong>de</strong>les no que se refere à escolha das<br />
próprias trajetórias <strong>de</strong>ntro ou fora da comunida<strong>de</strong>.<br />
O terceiro ponto remete-nos a certa imprecisão dos termos cultura e<br />
multiculturalismo. Para esta dissertação, foi necessário optar por um autor (Geertz)<br />
que nos <strong>de</strong>sse um conceito preliminar <strong>de</strong> cultura. Como mostramos ao longo do<br />
trabalho, apesar <strong>de</strong> a base dos três outros autores selecionados (Taylor, Kymlicka e<br />
Sousa) ser a mesma (o respeito às diferenças culturais e o reconhecimento <strong>de</strong>las), eles<br />
apresentam distintas compreensões sobre o multiculturalismo.<br />
Mas a imprecisão que po<strong>de</strong> gerar muitas divergências também po<strong>de</strong> facilitar a reunião<br />
<strong>de</strong> diversas minorias na mesma agenda política. O gran<strong>de</strong> argumento <strong>de</strong>sta abordagem<br />
é reconhecer uma socieda<strong>de</strong> multicultural, ou seja, aquela em que as diferenças sejam<br />
consi<strong>de</strong>radas, mas não gerem segregação, e em que a a<strong>de</strong>são <strong>de</strong> diferentes grupos<br />
possa, inclusive, fortalecer o movimento multicultural.<br />
Isso nos leva ao quarto ponto, porque não temos como garantir que os resultados <strong>de</strong><br />
políticas públicas voltadas para grupos diferenciados (com várias <strong>de</strong>mandas) sejam<br />
139
melhores do que os voltados para grupos específicos (necessida<strong>de</strong>s particulares), isto<br />
é, entramos na discussão <strong>de</strong> políticas multiculturais versus políticas indigenistas.<br />
No período <strong>de</strong> criação da SECAD/MEC, pu<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar (por meio das entrevistas<br />
para esta dissertação) que houve, ao menos inicialmente, resistência dos indígenas a<br />
serem inclusos numa secretaria que cuidaria <strong>de</strong> “toda” a diversida<strong>de</strong> brasileira. A<br />
proposta <strong>de</strong> que haveria uma ban<strong>de</strong>ira comum não agradou a eles, que <strong>de</strong>sejavam – e<br />
em muitos momentos ainda <strong>de</strong>sejam – reivindicar as próprias <strong>de</strong>mandas. A restrição<br />
<strong>de</strong>veu-se ao temor <strong>de</strong> que, ao entrarem para um grupo maior, suas especificida<strong>de</strong>s<br />
pu<strong>de</strong>ssem ser diluídas diante das diferentes posturas e interesses i<strong>de</strong>ológicos das<br />
várias minorias.<br />
Portanto po<strong>de</strong>mos afirmar que, no caso dos índios brasileiros – e também po<strong>de</strong>ríamos<br />
esten<strong>de</strong>r isso para outros grupos do Brasil que pe<strong>de</strong>m políticas diferenciadas –, a<br />
busca pela afirmação <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> peculiar do grupo, e não por uma que<br />
promova uma espécie <strong>de</strong> coesão social, po<strong>de</strong> resultar num aumento das<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s. Devemos ressaltar que estamos no “campo das possibilida<strong>de</strong>s e<br />
especulações” e, por isso, não temos como prever as consequências das políticas, mas<br />
a conveniência numa eventual mudança <strong>de</strong> paradigma, baseada em políticas<br />
multiculturais (indigenista com outras minorias), também po<strong>de</strong> fortalecer as minorias.<br />
O quinto ponto está relacionado ao contexto brasileiro e latino-<br />
-americano. Um empecilho da abordagem multicultural é que ela tem a tendência <strong>de</strong><br />
ser apresentada, em especial pelos organismos internacionais, como “universal” ou,<br />
em outras palavras, aplicável a vários países, o que po<strong>de</strong> tolher a probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
tratamentos locais diferenciados.<br />
140
Mas a universalida<strong>de</strong> também po<strong>de</strong> contribuir para a legitimação dos organismos<br />
internacionais no sentido <strong>de</strong> introduzirem as “melhores práticas” em vários países que<br />
as adaptarão localmente. Como pô<strong>de</strong> ser examinado, os países da América Latina que<br />
ratificaram os mesmos tratados tiveram resultados diferentes, em parte pelo contexto<br />
distinto em que suas minorias se inserem. Um exemplo foi o tamanho populacional<br />
dos indígenas da Colômbia (3%) e da Bolívia (65%), que permitiram diferentes<br />
proporções <strong>de</strong> terras concedidas.<br />
O sexto ponto complementa o anterior, porque sua concepção se dá no Hemisfério<br />
Norte, com países cujas minorias estão em situação muito diversa das do Brasil. Aqui a<br />
questão do multiculturalismo parece precisar ser antecedida por ações que tratem das<br />
diferenças sociais e da pobreza. É o caso do tema da <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social como fator<br />
<strong>de</strong>terminante da formação da agenda.<br />
Essa variável é <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> influência no resultado das políticas multiculturais. Nos EUA,<br />
berço do multiculturalismo, as ações voltadas para uma minoria têm reflexo<br />
homogêneo no país justamente por ele possuir população mais igualitária, enquanto<br />
no Brasil temos pirâmi<strong>de</strong>s socioeconômicas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um grupo minoritário. Seria<br />
oportuno perguntar, portanto, se políticas multiculturais no Brasil po<strong>de</strong>riam produzir<br />
elites no interior das minorias.<br />
Não obstante esse conjunto <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>rações, a abordagem multicultural, mesmo<br />
diante das limitações mencionadas, po<strong>de</strong> contribuir para a redução das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s<br />
por uma perspectiva diferente das convencionais políticas assistencialistas,<br />
reformistas, etc., ou seja, o multiculturalismo po<strong>de</strong>rá alcançar outros beneficiários<br />
além das populações cujo recorte <strong>de</strong>corre apenas da renda, por exemplo, ao introduzir<br />
141
a dimensão das <strong>de</strong>ssemelhanças culturais na elaboração das políticas públicas. Além<br />
disso, essa abordagem po<strong>de</strong>rá completar atuais políticas públicas ao refinar a<br />
tratamento dado aos públicos-alvo do ponto <strong>de</strong> vista da dimensão cultural.<br />
Diante <strong>de</strong>sse quadro (1), po<strong>de</strong>mos inferir que o multiculturalismo tem muito a<br />
proporcionar não só nas relações entre o Estado e as minorias, como também entre a<br />
socieda<strong>de</strong> nacional e as minorias.<br />
Há muitas “oportunida<strong>de</strong>s” para o Brasil reconhecer e aceitar a própria diversida<strong>de</strong><br />
cultural, mas também para isso não acontecer (os limites).<br />
A pergunta a ser feita é: Há verda<strong>de</strong>iro comprometimento do país com a realização <strong>de</strong><br />
políticas multiculturais ou trata-se apenas <strong>de</strong> um discurso para apaziguar os ânimos<br />
dos grupos “minoritários” com relação às próprias <strong>de</strong>mandas?<br />
142
Referências<br />
ARAÚJO, Ana Valéria (2006). Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. IN:<br />
Ana Valéria Araújo (Org.). Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. Brasília:<br />
Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>;<br />
LACED/Museu Nacional. 208p. Coleção Educação para Todos, 14.<br />
ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira (2001). Imagens do Índio: Signos da Intolerância. IN: Luís<br />
Donisete Benzi Grupioni, Lux Boelitz Vidal, Roseli Fischmann (Org.). Povos Indígenas e<br />
Tolerância: construindo práticas <strong>de</strong> respeito e solidarieda<strong>de</strong>. – São Paulo: Editora da<br />
Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, 2001.<br />
BANTING, Keith & KYMLICKA, Will; JOHNSTON, Richard; SOROKA, Stuart (2006). Do<br />
Multiculturalism Policies Ero<strong>de</strong> the Welfare State? An Empirical Analysis. IN: Keith Banting and<br />
Will Kymlicka (Org.). Multiculturalism and the Welfare State – Recognition and Redistribution in<br />
Contemporary Democracies. NY: Clarendon Press – Oxford.<br />
BRASIL (1916). Código Civil <strong>de</strong> 1916. Disponível em:<br />
, acesso em 2009.<br />
BRASIL (1973). Estatuto do Índio <strong>de</strong> 1973. Disponível em:<br />
, acesso em 2009.<br />
BRASIL (1988). Constituição da República Fe<strong>de</strong>rativa do Brasil <strong>de</strong> 1988. Disponível em:<br />
, acesso em<br />
2009.<br />
BRASIL (2002). Novo Código Civil <strong>de</strong> 2002. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>, acesso em 2009.<br />
BRASIL (2007). Plano plurianual 2008-2011: projeto <strong>de</strong> lei / Ministério do Planejamento,<br />
Orçamento e Gestão, Secretaria <strong>de</strong> Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília: MP,<br />
2007. 540 p., v.2<br />
CAPETILLO-PONCE, JORGE (2004). Challenges to Multiculturalism. New England Journal of<br />
Public Policy, 20(1):139-147 (Fall/Winter 2004-2005).<br />
COLEBATCH, Hal K. (2002). Policy (Concepts in the Social Sciences). 2nd Edition. Buckingham e<br />
Phila<strong>de</strong>lphia: Open University Press.<br />
COLLET, Celia Letícia Gouvêa (2006). Interculturalida<strong>de</strong> e educação <strong>escola</strong>r indígena: um breve<br />
histórico. IN: Luís Donisete Benzi Grupioni (Org.). Formação <strong>de</strong> Professores indígenas:<br />
repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada,<br />
Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>; LACED/Museu Nacional. 230p. Coleção Educação para Todos, 8.<br />
CRAVEIRO, Silvia da Silva (2004). Educação Escolar e Saú<strong>de</strong> Indígena: Uma Análise Comparativa<br />
das Políticas nos Níveis Fe<strong>de</strong>ral e Local. Dissertação <strong>de</strong> Mestrado. São Paulo: FGV-EAESP.<br />
143
Cultural Survival (2009). Future, Tense. IN: The Other Brazil. Cultural Survival Quarterly, 33.2,<br />
Summer, 2009.<br />
FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen (2009). Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e <strong>de</strong>safios<br />
da implementação dos direitos dos povos indígenas na América Latina. IN: Ricardo Verdum<br />
(Org.). Povos Indígenas: Constituições e Reformas Políticas na América Latina. – Brasília:<br />
Instituto <strong>de</strong> Estudos Socioeconômicos, 2009. 236p.<br />
FAUSTINO, Rosângela Célia (2006). Política educacional nos anos <strong>de</strong> 1990: o multiculturalismo<br />
e a interculturalida<strong>de</strong> na educação <strong>escola</strong>r indígena. Tese <strong>de</strong> Doutorado. Florianópolis: UFSC.<br />
Filippeto (2007). Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong>. Apresentado<br />
no I Encontro Baiano <strong>de</strong> Gestão Pública. Bahia: Salvador, 18 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2007. Disponível<br />
em: , acesso em 2010.<br />
FUNAI – Fundação Nacional do Índio: . Acesso em 2009.<br />
FUNAI (2007). Plano Plurianual 2008-2011 – Programa Proteção e Promoção dos Povos<br />
Indígenas. Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio. Brasília. Disponível em:<br />
, acesso em 2010.<br />
FUNASA – Fundação Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>: . Acesso em 2009.<br />
GALZÓN, Biviany Rojas & VALLE, Raul Silva Telles do (2006). Brasil e Colômbia: Resultados<br />
diferentes para realida<strong>de</strong>s semelhantes. IN: ISA (2006). Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005.<br />
Carlos Alberto Ricardo e Fany Ricardo, Editores Gerais. – São Paulo: Instituto Socioambiental.<br />
GEERTZ, Clifford ([1968], 1989). A interpretação das Culturas. LTC – Livros Técnicos e<br />
Científicos Editora S.A.: Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
GOMES, Mércio Pereira (2003). O Caminho Brasileiro para Cidadania Indígena. IN: Jaime Pinsky<br />
e Carla Bassanezi Pinsky (Org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto.<br />
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (2001). Os Povos Indígenas e a Escola Diferenciada:<br />
comentários sobre alguns Instrumentos Jurídicos Internacionais. IN: Luís Donisete Benzi<br />
Grupioni, Lux Boelitz Vidal, Roseli Fischmann (Org.). Povos Indígenas e Tolerância: construindo<br />
práticas <strong>de</strong> respeito e solidarieda<strong>de</strong>. – São Paulo: Editora da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo.<br />
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (2006). Contextualizando o Campo da Formação <strong>de</strong> Professores<br />
Indígenas no Brasil. IN: Luís Donisete Benzi Grupioni (Org.). Formação <strong>de</strong> Professores<br />
indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação<br />
Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>; LACED/Museu Nacional. 230p. Coleção Educação<br />
para Todos, 8.<br />
GUTMANN, Amy (1994). Introduction. IN: Amy Gutman (Org.). Multiculturalism. Examining the<br />
Politics of Recognition. Princeton University Press, Princeton, NJ 1994.<br />
HENRIQUES, Ricardo; Teles, Jorge Luiz, Cláudia; Franco, Tereza Signori (2006). Educação na<br />
Diversida<strong>de</strong>: como indicar as diferenças? Ricardo Henriques, Jorge Luiz Teles, Cláudia Tereza<br />
144
Signori Franco (Org.). – Brasília: Secretaria <strong>de</strong> Educação Continuada, Alfabetização e<br />
Diversida<strong>de</strong>, 2006. Coleção Educação para Todos, Série Avaliação; n. 8, v. 25.<br />
HEYWOOD, Andrew (2000). Key Concepts in Politics. NY: Palgrave.<br />
IBGE (2005). Tendências Demográficas: Uma análise dos Indígenas com Base nos Resultados da<br />
Amostra dos Censos Demográficos 1991 e 2000. Estudos e Pesquisas, nr. 16. Brasília:<br />
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.<br />
ISA (2006). Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005. Carlos Alberto Ricardo e Fany Ricardo (Org.).<br />
– São Paulo: Instituto Socioambiental.<br />
KYMLICKA, Will (1995). Multicultural Citizenship – A Liberal Theory of Minority Rights. NY:<br />
Clarendon Press – Oxford.<br />
___________ (2007). Multicultural Odyssey – Navigating the New International Politics of<br />
Diversity. NY: Clarendon Press – Oxford.<br />
LUCIANO BANIWA, Gersem dos Santos (2006a). O Índio Brasileiro: O que você precisa saber<br />
sobre os povos indígenas no Brasil <strong>de</strong> hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong><br />
Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>; LACED/Museu Nacional. 224 p. Coleção<br />
Educação para Todos, 12.<br />
LUCIANO BANIWA, Gersem dos Santos (2006b). Os Desafios da Escolarização Diferenciada. IN:<br />
ISA (2006). Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005. Carlos Alberto Ricardo e Fany Ricardo (Org.).<br />
– São Paulo: Instituto Socioambiental.<br />
MARTUCCELLI, Danilo (1996). As contradições políticas do multiculturalismo. Revista Brasileira<br />
<strong>de</strong> Educação, No.2, Mai/Jun/Jul/Ago.<br />
MODOOD, Tariq (2007). Multiculturalism – A Civic I<strong>de</strong>a. Paperback. UK: Polity Press.<br />
MOURA GUARANY, Vilmar Martins (2006). Desafios e perspectivas para a construção e o<br />
exercício da cidadania indígena. IN: Ana Valéria Araújo (Org.). Povos Indígenas e a Lei dos<br />
“Brancos”: o direito à diferença. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação<br />
Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>; LACED/Museu Nacional. 208p. Coleção Educação<br />
para Todos, 14.<br />
NEVES, Lino João <strong>de</strong> Oliveira (2003). Os Olhos Mágicos do Sul (do Sul): lutas contrahegemônicas<br />
dos povos indígenas no Brasil. IN: Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos (Org.). Reconhecer<br />
para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização<br />
Brasileira.<br />
SECAD (2005). Nota Técnica sobre Fatores <strong>de</strong> Diferenciação do FUNDEB: Educação <strong>de</strong> Jovens e<br />
Adultos (EJA), Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola. Ministério da<br />
Educação. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>. Documento<br />
Interno.<br />
145
OLIVEIRA, Fernanda Martinez <strong>de</strong> (2006). Dilemas <strong>de</strong> Inclusão da Diversida<strong>de</strong> Étnica no<br />
Fe<strong>de</strong>ralismo Brasileiro: as perspectivas dos povos indígenas. Dissertação <strong>de</strong> Mestrado. São<br />
Paulo: FGV-EAESP.<br />
RICARDO, Carlos Alberto; MARÉS, Carlos & SANTILLI, Márcio (2004). Autonomias Indígenas e<br />
Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Publicação eletrônica, Disponível em:<br />
. Acesso em 2009.<br />
SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa & NUNES, João Arriscado (2003). Introdução: para ampliar o<br />
cânone do reconhecimento, da diferença e da igualda<strong>de</strong>. IN: Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos<br />
(Org.). Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Civilização Brasileira.<br />
SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa (2003). Por uma concepção multicultural dos direitos humanos.<br />
IN: Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos (Org.). Reconhecer para Libertar: os caminhos do<br />
cosmopolitismo multicultural. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira.<br />
SECAD (2006). Diferentes Diferenças – Educação <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong> para Todos. Ministério da<br />
Educação. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversida<strong>de</strong>. São Paulo: Editora<br />
Brasil.<br />
SEMPRINI, Andrea (1999). Multiculturalismo. Andrea Semprini; tradução Laureano Pelegrin. –<br />
Bauru, SP: EDUSC. 178p.<br />
SILVA, Larissa Tenfen (2006). O Multiculturalismo e a Política <strong>de</strong> Reconhecimento <strong>de</strong> Charles<br />
Taylor. NEJ, Vol. 11, n.2. p.313-322, jul-<strong>de</strong>z.<br />
SORJ, Bernardo; MARTUCCELLI, Danilo (2008). The Latin American Challenge: Social Cohesion<br />
and Democracy. pp. 245. Rio <strong>de</strong> Janeiro: The E<strong>de</strong>lstein Center for Social Research. Disponível<br />
em:<br />
. Acesso em 2009.<br />
SOUZA FILHO, Carlos Fre<strong>de</strong>rico Marés (2003). Multiculturalismo e Direitos Coletivos. IN:<br />
Boaventura <strong>de</strong> Sousa Santos (Org.). Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo<br />
multicultural. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira.<br />
TOURAINE, Alain (1997). Iguais e diferentes: po<strong>de</strong>remos viver juntos? Lisboa: Instituto<br />
Piaget.<br />
TAYLOR, Charles e BOUCHARD, Gérard (2008). Building the Future: a Time for Reconciliation.<br />
Report to the Consultation Commission on Accommodation Practices Related to Cultural<br />
Differences. Governo <strong>de</strong> Québec.<br />
TAYLOR, Charles (1994). The Politics of Recognition. IN: Amy Gutman (Org.). Multiculturalism.<br />
Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press, Princeton.<br />
146
VALLE, Raul Silva Telles do (2006). Contra-ataque Conservador. IN: ISA (2006). Povos Indígenas<br />
no Brasil: 2001-2005. Carlos Alberto Ricardo e Fany Ricardo, Editores Gerais. – São Paulo:<br />
Instituto Socioambiental.<br />
VAN COTT, Donna Lee (2006). Multiculturalism versus neoliberalism in Latin America. IN: Keith<br />
Banting & Will Kymlicka (Org.). Multiculturalism and The Welfare State: Recognition and<br />
redistribution in contemporary <strong>de</strong>mocracies. NY: Oxford University Press.<br />
VERDUM, Ricardo (2009). Povos Indígenas no Brasil: o <strong>de</strong>safio da autonomia. In: Ricardo<br />
Verdum (Org.). Povos Indígenas: Constituições e Reformas Políticas na América Latina. –<br />
Brasília: Instituto <strong>de</strong> Estudos Socioeconômicos. 236p.<br />
VERKUYTEN, MAYKEL (2004). Everyday Ways of Thinking about Multiculturalism. Ethnicities; 4;<br />
53.<br />
WEBER, Max (2004). Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Martin Claret, 128p.<br />
WOLF, Susan (1994). Comment. IN: Amy Gutman (Org.). Multiculturalism. Examining the<br />
Politics of Recognition. Princeton University Press, Princeton.<br />
147
Anexos<br />
Anexo 1 – PPA 2004-2007<br />
148
Anexo 2 – PPA 2008-2011<br />
149
150