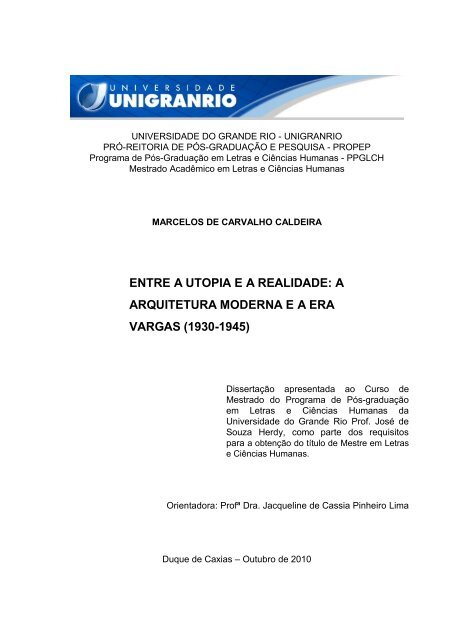a arquitetura moderna e a era vargas - Unigranrio
a arquitetura moderna e a era vargas - Unigranrio
a arquitetura moderna e a era vargas - Unigranrio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO<br />
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPEP<br />
Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas - PPGLCH<br />
Mestrado Acadêmico em Letras e Ciências Humanas<br />
MARCELOS DE CARVALHO CALDEIRA<br />
ENTRE A UTOPIA E A REALIDADE: A<br />
ARQUITETURA MODERNA E A ERA<br />
VARGAS (1930-1945)<br />
Dissertação apresentada ao Curso de<br />
Mestrado do Programa de Pós-graduação<br />
em Letras e Ciências Humanas da<br />
Universidade do Grande Rio Prof. José de<br />
Souza Herdy, como parte dos requisitos<br />
para a obtenção do título de Mestre em Letras<br />
e Ciências Humanas.<br />
Orientadora: Profª Dra. Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima<br />
Duque de Caxias – Outubro de 2010
MARCELOS DE CARVALHO CALDEIRA<br />
ENTRE A UTOPIA E A REALIDADE: A<br />
ARQUITETURA MODERNA E A ERA<br />
VARGAS (1930-1945)<br />
Dissertação apresentada ao Curso de<br />
Mestrado do Programa de Pós-graduação<br />
em Letras e Ciências Humanas da<br />
Universidade do Grande Rio Prof. José de<br />
Souza Herdy, como parte dos requisitos<br />
para a obtenção do título de Mestre em Letras<br />
e Ciências Humanas.<br />
Orientadora: Profª Dra. Jacqueline de Cassia<br />
Pinheiro Lima<br />
Aprovado em ___ de __________ de _____.<br />
Banca examinadora:<br />
______________________________________________<br />
Professora Doutora Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima<br />
Universidade do Grande Rio<br />
______________________________________________<br />
Professora Doutora Angela Maria Roberti Martins<br />
Universidade do Grande Rio<br />
______________________________________________<br />
Professora Doutora Lia Calabre<br />
Fundação Casa de Rui Barbosa
A Lize, Camila e Guilherme, o porto<br />
sempre seguro.<br />
A Edison e Maria José pelo exemplo de<br />
vida e pelos princípios transmitidos.
AGRADECIMENTOS<br />
Em primeiro lugar à minha família, incluindo os recém-chegados Pedro e<br />
Marina, pelo apoio, paciência e tolerância nos momentos de ausência.<br />
Aos amigos do Colégio Pedro II, especialmente aos professores Anderson<br />
Ribeiro, Denise Mattos, Eunice Couto, Oscar Halac, Leonardo Bueno e Walber<br />
Carvalho Melo pelo apoio em todos os momentos, especialmente naqueles mais<br />
difíceis.<br />
Aos professores do Curso de Mestrado da UNIGRANRIO pelo carinho, pela<br />
acolhida, pela compreensão, por tudo que ensinaram e pela forma como ensinaram.<br />
Às funcionárias da Secretaria do Mestrado, prestativas e pacientes, mesmo<br />
com a nossa correria de sempre.<br />
Aos amigos Ana Lucia, Davidson, Denise, Luciana, Obertal, Sonia e<br />
Terezinha, que conheci no curso e partilhei as dificuldades e angústias, mas onde<br />
também encontrei apoio para seguir adiante.<br />
À Professora Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima, pelo incentivo e pela<br />
orientação atenta, paciente e cuidadosa.<br />
Ao Paulo Seabra, amigo fraterno de muitas caminhadas percorridas e outras<br />
que ainda virão.
RESUMO<br />
O objetivo deste trabalho é apresentar a relação entre <strong>arquitetura</strong> e<br />
monumentalidade durante as reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, então<br />
Distrito Fed<strong>era</strong>l, durante a Era Vargas, especialmente no período do Estado Novo<br />
(1937-1945). Foram escolhidas algumas obras simbólicas pela sua<br />
monumentalidade: a Avenida Presidente Vargas e os novos edifícios do Ministério<br />
da Educação e Saúde, do Ministério da Guerra (Palácio Duque de Caxias) e da<br />
Estrada de Ferro Central do Brasil. Serão analisadas as disputas entre as diversas<br />
correntes pela hegemonia no campo da <strong>arquitetura</strong> naqueles anos e o papel do<br />
Estado ao utilizar as reformas como meio de erguer símbolos <strong>arquitetura</strong>is do poder,<br />
que se constituíram em legados à memória coletiva.<br />
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, Memória, Modernismo, Monumentalidade,<br />
Positivismo, Trabalhismo.
ABSTRACT<br />
The objective of my work is to understand the relation between architecture<br />
and monumentality during the urban reforms in the city of Rio de Janeiro, then<br />
Fed<strong>era</strong>l District, during the Age Vargas, especially in the period of the New State<br />
(1937-1945).<br />
I will analyze the disputes between diverse chains for the hegemony in the<br />
field of the architecture in those years and the paper of the State when using the<br />
reforms as half to raise architectural symbols of the power, that if had constituted in<br />
legacies to the collective memory.<br />
Some symbolic workmanships for its monumentality had been chosen: the<br />
Avenue President Vargas and the new buildings of the Ministry of the Education and<br />
Health, the Ministry of the War (Palace Duke of Caxias) and of the Central Train<br />
Station of Brazil.<br />
labourism.<br />
KEYWORDS: Architecture, memory, modernism, monumentality, positivism,
LISTA DE ILUSTRAÇÕES<br />
FIGURA TÍTULO PÁGINA<br />
1 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA (1936) 34<br />
2 - AEROPORTO SANTOS DUMONT (1938) 34<br />
3 - A AVENIDA CENTRAL NA DÉCADA DE 1920 37<br />
4 - A AVENIDA CENTRAL NA DÉCADA DE 1920 37<br />
5 - EXEMPLAR DO ESTILO ECLÉTICO NA EXPOSIÇÃO DE<br />
1922 – PAVILHÃO DE SÃO PAULO<br />
6 - IMAGEM ATUAL DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL 40<br />
7 - IMAGEM ATUAL DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL 40<br />
8 - O EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE NA<br />
DÉCADA DE 1940<br />
9 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - AFRESCOS DE<br />
CÂNDIDO PORTINARI<br />
10 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - MURAIS EM<br />
AZULEJOS NA FACHADA DO TÉRREO<br />
11 - MONUMENTO À JUVENTUDE BRASILEIRA 62<br />
12 - MONUMENTO À JUVENTUDE BRASILEIRA 62<br />
13 - PONTE DOS MARINHEIROS (1924) 64<br />
14 - O CAIS DOS MINEIROS NO INÍCIO DO SÉCULO XX DIAS<br />
ATUAIS<br />
15 - O CAIS DOS MINEIROS – O QUE RESTOU NOS DIAS<br />
ATUAIS<br />
16 - RUAS SENADOR EUZÉBIO E VISCONDE DE ITAÚNA –<br />
TRECHO ENTRE O CAMPO DE SANTANA E A PRAÇA<br />
ONZE<br />
17 - ABERTURA DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS –<br />
TRECHO ENTRE O CAMPO DE SANTANA E A<br />
CANDELÁRIA (14 DE AGOSTO DE 1940)<br />
18 - ABERTURA DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS –<br />
TRECHO ENTRE O CAMPO DE SANTANA E A<br />
CANDELÁRIA (28 DE AGOSTO DE 1944)<br />
39<br />
57<br />
58<br />
59<br />
65<br />
65<br />
68<br />
71<br />
71
19 - PRAÇA ONZE DE JUNHO (DÉCADA DE 1910) 73<br />
20 - IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS 74<br />
21 - PRAÇA DA REPÚBLICA NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1930 76<br />
22 - EDIFICIO DO JORNAL “A NOITE” - PRAÇA MAUÁ (RJ) –<br />
DÉCADA DE 1930<br />
23 - CINEMA ICARAÍ, EM NITERÓI (RJ), NA DÉCADA DE 1940 78<br />
24 - TEATRO CARLOS GOMES – FACHADA 78<br />
25 - TEATRO CARLOS GOMES – INTERIOR (HALL) 78<br />
26 - O PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS DURANTE A SUA<br />
CONSTRUÇÃO<br />
27 - VISTA ATUAL DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS 80<br />
28 - CROQUI DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS 81<br />
29 - EDIFÍCIO DA CHANCELARIA DURANTE O III REICH 82<br />
30 - PROJETO PARA O MEMORIAL AOS SOLDADOS 82<br />
31 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 83<br />
32 - SALÃO NOBRE DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS 84<br />
33 - PAINEL “REPÚBLICA” 84<br />
34 - PROJETO ORIGINAL DO NOVO EDIFÍCIO DA ESTRADA<br />
DE FERRO CENTRAL DO BRASIL<br />
35 - CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DA ESTRADA DE<br />
FERRO CENTRAL DO BRASIL<br />
36 - TRANSEUNTE DIANTE DA TORRE DO EDIFÍCIO DA<br />
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL<br />
77<br />
80<br />
86<br />
87<br />
88
LISTA DE TABELAS<br />
TABELA TÍTULO PÁGINA<br />
1 PARTICIPAÇÃO ELEITORAL, 1872-1945 12
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS<br />
DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda.<br />
DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público.<br />
IBESP – Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política.<br />
ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros.<br />
ENBA – Escola Nacional de Belas Artes.<br />
IUP – Institute D’Urbanisme de Paris.<br />
MES – Ministério da Educação e Saúde.<br />
ABI – Associação Brasileira de Imprensa.<br />
SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.<br />
CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do<br />
Brasil.<br />
ECEME - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
SUMÁRIO<br />
INTRODUÇÃO 1<br />
CAPÍTULO 1 – O POSITIVISMO E A ERA VARGAS<br />
1.1) o positivismo e o movimento republicano ..................................................... 7<br />
1.2) A Revolução de 1930 e a retomada do projeto positivista ............................ 14<br />
1.3) Populismo ou Trabalhismo? .......................................................................... 20<br />
CAPÍTULO 2 – A ARQUITETURA MODERNA<br />
2.1) A origem e a ascensão da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> ........................................... 30<br />
2.2) Arquitetura <strong>moderna</strong> e monumentalidade ..................................................... 43<br />
CAPÍTULO 3 – A ERA VARGAS E AS REFORMAS NO RIO DE JANEIRO<br />
3.1) Os monumentos do progresso ...................................................................... 49<br />
a) O Ministério da Educação e Saúde .................................................................. 49<br />
b) A Avenida Presidente Vargas .......................................................................... 63<br />
3.2) Os monumentos da ordem............................................................................. 75<br />
a) O Palácio Duque de Caxias ............................................................................. 79<br />
b) O Novo Prédio da Estrada de Ferro Central do Brasil ..................................... 85<br />
CONCLUSÃO ...................................................................................................... 89<br />
REFERÊNCIAS .................................................................................................... 93<br />
Pg.
INTRODUÇÃO<br />
Esse trabalho foi amadurecido após um longo caminho, com algumas<br />
correções de rumo.<br />
Desde os tempos de graduação na Universidade Fed<strong>era</strong>l Fluminense, entre<br />
1984 e 1988, a problemática urbana me despertava interesse.<br />
Naqueles anos ocorriam intensas discussões sobre o tema, proporcionando<br />
trabalhos que troux<strong>era</strong>m uma notável contribuição para melhor conhecermos as<br />
transformações por que passou o Rio de Janeiro, especialmente nas primeiras<br />
décadas do século XX. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro financiou os<br />
volumes que constituíram a Coleção Biblioteca Carioca 1 ; o Instituto de<br />
Planejamento Municipal do Rio de Janeiro (IPLANRIO) patrocinou a publicação<br />
Evolução Urbana do Rio de Janeiro, de Maurício de A, Abreu; a Universidade<br />
Fed<strong>era</strong>l Fluminense, em parceria com outras instituições lançou os quatro volumes<br />
da Revista Rio de Janeiro, entre 1985 e 1986.<br />
Entretanto, apesar do meu entusiasmo pelo assunto, não pude ao concluir a<br />
graduação dar prosseguimento a uma pesquisa acadêmica. As necessidades<br />
pessoais me levaram a buscar oportunidades no magistério tanto em escolas<br />
particulares como em públicas, onde sucessivamente lecionei nas Redes Municipal,<br />
Estadual e Fed<strong>era</strong>l no Rio de Janeiro. No Colégio Pedro II trabalho desde 1992, e,<br />
desde o ano passado, respondo pela direção da Unidade Escolar Descentralizada<br />
Niterói, a primeira a ser criada fora do município do Rio de Janeiro.<br />
Durante todos esses anos, lecionando todos os dias úteis da semana, a<br />
maioria das vezes em três turnos, e utilizando o pouco tempo livre para dar uma<br />
atenção prioritária à família, me vi afastado dos debates acadêmicos.<br />
Em 2008, Paulo Seabra, amigo desde os tempos da UFF e colega do Colégio<br />
Pedro II, onde ingressamos no mesmo concurso, me deu a notícia da abertura do<br />
1 Algumas obras importantes desta coleção foram: A <strong>era</strong> das demolições, de Oswaldo Porto Rocha<br />
e Lia de Aquino Carvalho; Pereira Passos: um Haussmann tropical, de Jaime Larry Benchimol;<br />
Avenida Presidente Vargas: uma drástica cirurgia, de Evelyn Furquim Werneck Lima; Dos<br />
trapiches ao porto, de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão.<br />
1
Mestrado Acadêmico em Letras e Ciências Humanas na Universidade do Grande<br />
Rio – UNIGRANRIO. Mais uma vez, juntos, decidimos enfrentar um novo desafio.<br />
Ao iniciar o primeiro semestre do mestrado, o interesse pela pesquisa foi<br />
reforçado quando cursei as disciplinas Os Conceitos de Memória, ministrada pela<br />
Professora Ângela Maria Roberti Martins, e Cidade, Cultura e Transformação<br />
Urbana, ministrada pela Professora Jacqueline de Cássia Pinheiro Lima, que viria a<br />
me orientar nesta dissertação.<br />
Na primeira, as discussões dos trabalhos de Pierre Nora, Jacques Le Goff,<br />
Maurice Halbwachs e Ecléa Bosi foram muito úteis para entender a relação entre<br />
memória e monumentalidade.<br />
Na segunda, as leituras e discussões dos trabalhos de Antony Giddens,<br />
Georg Simmel, Manuel Castells, Barbara Freitag e Richard Sennett se revelaram<br />
fundamentais para o caminho que escolhi para pesquisar.<br />
Inicialmente, meu objeto seria as reformas urbanas realizadas em Niterói<br />
durante o período em que <strong>era</strong> administrada pelo interventor Ernâni do Amaral<br />
Peixoto, genro de Getúlio Vargas, que governava o Brasil com plenos poderes no<br />
período de 1937 a 1945. Pretendia fazer um paralelo entre elas e as que ocorriam<br />
ao mesmo tempo na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Porém,<br />
encontrei dificuldades que se revelavam dificílimas de serem transpostas no tempo<br />
que tinha para realizar a dissertação. Niterói não possui um núcleo organizado de<br />
documentação ou de memória da cidade. Apenas na década de 1990 foi criado o<br />
Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural da cidade. Nem mesmo o<br />
jornal “O Fluminense”, o mais antigo em circulação na cidade, possui um acervo<br />
para consulta sobre aquele período da história.<br />
Ao constatar essas dificuldades, resolvi fazer uma correção no objeto da<br />
pesquisa. Decidi trabalhar com as reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro<br />
durante a Era Vargas (1930-1945) 2 relacionando-as ao surgimento e afirmação da<br />
“escola carioca” da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>. Ao mesmo tempo, mostrar que as ações<br />
do governo, incluindo as obras monumentais, foram fortemente influenciadas pelo<br />
2 Adoto nessa pesquisa a denominação utilizada na maioria dos livros que tratam do assunto, quando<br />
distinguem a Era Vargas (1930-1945) do outro período, de 1951 a 1954, quando chegou à<br />
presidência através de uma eleição direta.<br />
2
positivismo, que, como discutiremos, exerceu forte influência em Getúlio Vargas<br />
desde a sua juventude.<br />
A <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e o legado da Era Vargas são temas que até hoje<br />
g<strong>era</strong>m estudos e debates, demonstrando o quanto sua influência foi marcante na<br />
História recente do Brasil.<br />
A <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>, surgida ainda na década de 1920, se afirmou na<br />
década seguinte, criando uma “escola” até hoje influente e ativa, realizando projetos<br />
importantes em diversas cidades, alguns dos quais se tornando marcas da sua<br />
identidade. É o caso, por exemplo, do Museu de Arte Contemporânea, em Niterói.<br />
Inaugurado em 2 de setembro de 1996, o museu tornou-se o principal símbolo da<br />
cidade, ilustrando inclusive a logomarca da Prefeitura Municipal, deixando em<br />
segundo plano a estátua de Araribóia, situada na Praça Martim Afonso, em frente à<br />
Estação das Barcas.<br />
A denominada Era Vargas iniciou-se a Revolução de 1930, movimento que<br />
marcou o colapso da República oligárquica e a redefinição do papel do Estado<br />
brasileiro, que assumiu a função de um agente impulsionador de um projeto<br />
“modernizador”.<br />
Esse período, consid<strong>era</strong>ndo-se as transformações político-institucionais, é<br />
dividido em três etapas: Governo Provisório (1930-1934); Governo Constitucional<br />
(1934-1937); e Estado Novo (1937-1945). Foi exatamente nesta última, onde<br />
Getúlio governou com poderes ditatoriais, que aquele novo papel do Estado pôde<br />
ser plenamente posto em prática.<br />
Ao nível político, todos os partidos foram suprimidos e a censura à imprensa<br />
e às manifestações culturais tornou-se cada vez mais rígida. Ao Departamento de<br />
Imprensa e Propaganda (DIP), criado logo após o golpe que instituiu o regime, foi<br />
atribuída a tarefa de fiscalizar e controlar os meios de comunicação e a produção<br />
cultural, estabelecendo um rigoroso controle ideológico. Era também atribuição do<br />
DIP a elaboração de uma “propaganda oficial”, visando a reforçar os laços entre o<br />
“chefe da nação” e o “seu povo”.<br />
Foi durante o Estado Novo que se consolidou a imagem de Vargas como o<br />
“pai dos pobres” em função de uma legislação trabalhista que, se por um lado<br />
3
garantiu determinadas conquistas para os trabalhadores, por outro, devido ao<br />
“sindicalismo oficial”, atrelou os trabalhadores ao Estado por meio da ação do<br />
Ministério do Trabalho.<br />
Ao controle social dos trabalhadores somou-se, no plano econômico, um<br />
expressivo avanço no campo industrial pela forte presença do Estado (modelo<br />
nacionalista, industrializante e estatizante).<br />
Uma das marcas desse período foi a criação de empresas estatais, como a<br />
Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Fábrica<br />
Nacional de Motores, entre outras. O governo Vargas entendia que esses setores<br />
estratégicos da economia deveriam estar sob controle do Estado, reduzindo<br />
gradualmente a presença do capital estrangeiro nessas áreas fundamentais ao<br />
desenvolvimento do país, em nome da “sob<strong>era</strong>nia nacional”.<br />
Verificou-se assim, não apenas um grande avanço do setor industrial, mas<br />
também uma mudança qualitativa deste, com o surgimento de indústria de base no<br />
país.<br />
A Era Vargas, constituiu-se naquilo que muitos historiadores conceituaram<br />
como modernização conservadora, na medida em que Getúlio, ao lado da<br />
modernização econômica, estabeleceu um rígido autoritarismo político, e,<br />
paralelamente às conquistas de direitos, como a legislação trabalhista, a população<br />
foi obrigada a conviver com a repressão e a censura.<br />
A Era Vargas continua despertando polêmicas até a atualidade. Durante a<br />
década de 1990, quando o neolib<strong>era</strong>lismo desfrutava de enorme influência após a<br />
queda dos regimes socialistas do Leste europeu, a presença do Estado na<br />
economia e a legislação trabalhista foram duramente criticadas como obstáculos ao<br />
desenvolvimento por reduzirem a competitividade da economia nacional. Não por<br />
acaso, Fernando Henrique Cardoso, ao vencer a eleição presidencial de 1994,<br />
anunciou que iria que iria encerrar a Era Vargas. Por outro lado, o movimento<br />
operário desde aquela década até os dias atuais continua mobilizado para manter<br />
os direitos trabalhistas implantados naquele período.<br />
Neste sentido nossa pesquisa tem como objeto a relação entre as reformas<br />
urbanas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro durante aquele período de<br />
4
intensas transformações da Era Vargas e a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>, discutindo os<br />
aspectos coerentes e contraditórios dessa relação.<br />
Paralelamente, pretendemos discutir outro aspecto aparentemente<br />
contraditório da Era Vargas, especialmente durante o Estado Novo (1937-1945).<br />
Durante o regime ditatorial daqueles anos, construíram-se sedes ministeriais com<br />
estilos arquitetônicos tão diversos, ao mesmo tempo em que se abriam espaços na<br />
administração - especialmente no Ministério da Educação e Saúde, chefiado por<br />
Gustavo Capanema -, a intelectuais com uma formação ideológica distinta da<br />
ideologia oficial. Portanto, ao menos no que se refere à <strong>arquitetura</strong> e à<br />
monumentalidade o regime não foi caracterizado pelo monolitismo.<br />
Mostraremos que essa contradição na verdade é apenas aparente, na<br />
medida em que as ações de Getúlio Vargas no governo foram em grande parte<br />
inspiradas em sua formação intelectual positivista. Nessa linha, as grandes obras<br />
(Avenida Presidente Vargas, Edifício-sede da Estrada de Ferro Central do Brasil,<br />
Palácio Duque de Caxias) foram idealizadas como símbolos que deveriam transmitir<br />
uma mensagem para os que os olhassem ou deles tomassem conhecimento. E para<br />
simbolizar o que o regime queria – a estabilidade, o progresso, a ordem, a disciplina<br />
e a eficiência – encontrou o meio de fazê-lo recorrendo à monumentalidade, onde<br />
os projetos dos arquitetos modernos revelaram-se bastante adequados.<br />
A dissertação está dividida em três capítulos, seguidos de uma conclusão.<br />
No primeiro, “O positivismo e a Era Vargas”, será apresentado as bases<br />
teóricas que orientaram a pesquisa, discutindo a influência daquela corrente<br />
filosófica na formação intelectual de Getúlio Vargas – o que explicará em grande<br />
parte o seu estilo de governar. Por outro lado, será feito uma análise crítica do<br />
conceito de populismo, mostrando minhas restrições a ele e explicando porque<br />
adotei o conceito de trabalhismo na formulação de Ângela de Castro Gomes como<br />
mais adequado para entendermos aquele período da História do Brasil.<br />
No segundo capítulo será tratado especificamente da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>:<br />
seus fundamentos teóricos, seu amadurecimento e as razões que levaram esse<br />
grupo a conquistar a hegemonia diante de outras correntes. Além disso, será feita<br />
uma discussão entre a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e a monumentalidade.<br />
5
No terceiro capítulo, relacionaremos as “partes” abordadas nos dois outros<br />
capítulos, mostrando o significado simbólico de algumas obras monumentais<br />
erguidas naqueles anos, destacando como a <strong>arquitetura</strong> de algumas delas<br />
representariam o ideal da “ordem” e outras do “progresso”, sendo que foi<br />
exatamente nestas últimas que os projetos dos arquitetos modernos mais se<br />
destacaram.<br />
Na conclusão realizaremos um balanço das reformas, destacando os projetos<br />
que foram bem e mal sucedidos, assim como as contradições entre a utopia e a<br />
realidade no legado deixado pela <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>.<br />
6
CAPÍTULO 1 – O POSITIVISMO E A ERA VARGAS<br />
1.1) O positivismo e o movimento republicano<br />
O positivismo foi uma das correntes filosóficas mais influentes na Europa<br />
durante o século XIX e início do XX, quando o capitalismo alcançava um<br />
extraordinário desenvolvimento: a siderurgia com máquinas cada vez mais<br />
complexas elevavam de forma crescente a produtividade das indústrias; a<br />
navegação à vapor e as ferrovias interligavam os mercados, além de aproximar a<br />
cidade e o campo; o telégrafo e o telefone, ao facilitavam as comunicações, abriam<br />
oportunidades para novos negócios (HOBSBAWN, 1983).<br />
Paralelamente às transformações econômicas, a ciência em g<strong>era</strong>l também<br />
alcançava avanços importantíssimos. Multiplicavam-se museus e escolas<br />
politécnicas, introduziu-se o ensino regular da ciência. Charles Darwin publicava a<br />
Teoria da Evolução das Espécies; Johann Friedrich Miescher anunciava a<br />
descoberta da molécula de DNA; na Física, os resultados mais significativos<br />
ocorr<strong>era</strong>m no campo da óptica, da teoria do calor e da eletricidade; e muito<br />
importante para nossa pesquisa, em 1848, a invenção do concreto armado por<br />
Joseph Monnier serviu de base para novas mudanças na arte da construção.<br />
Nesse contexto que o Positivismo surgiu e foi largamente difundido nos meios<br />
acadêmicos. Seu fundador e principal teórico foi o francês Augusto Comte (1789-<br />
1857). Segundo ele, no desenvolvimento do espírito humano existiria uma lei<br />
fundamental, denominada Lei dos Três Estados, que é a base de sua explicação<br />
da História: o estado teológico, que tem diferentes fases (fetichismo, politeísmo e<br />
monoteísmo) e em que o espírito humano explica os fenômenos por meio de<br />
vontades transcendentes ou agentes sobrenaturais; o estado metafísico-abstrato,<br />
onde os fenômenos são explicados por meio de forças ou entidades ocultas e<br />
abstratas; e o estado positivo-científico, no qual se explicam os fenômenos,<br />
subordinando-os às leis experimentalmente demonstradas. O estado positivo<br />
seria, pois, o estágio definitivo em que o espírito humano encontraria a ciência,<br />
concluindo a evolução dos indivíduos e da sociedade.<br />
7
A obra de Augusto Comte constituiu-se, outrossim, em uma tentativa de<br />
síntese g<strong>era</strong>l dos conhecimentos de seu tempo, cujo programa fundamental <strong>era</strong><br />
unificar as duas culturas – a humanística e a científica – num novo humanismo,<br />
fundado na ciência 3 .<br />
Os avanços científicos e tecnológicos do século XIX, aos olhos dos<br />
seguidores de Augusto Comte, pareciam confirmar a chegada do estado positivo.<br />
No Brasil, a influência de doutrinas políticas e filosóficas surgidas na Europa<br />
esteve presente em diversos movimentos importantes de sua História. Porém, a<br />
circulação dessas idéias limitava-se aos membros ilustrados da classe senhorial,<br />
muitos dos quais realizaram seus estudos na Europa, fazendo com que as idéias<br />
fossem reinterpretadas à luz dos seus interesses, o que acarretou inúm<strong>era</strong>s<br />
contradições.<br />
Um exemplo foi a Conjuração Mineira, primeiro movimento, embora regional,<br />
a propor a separação de Portugal. Suas lid<strong>era</strong>nças inspiravam-se no iluminismo,<br />
utilizando o lema “liberdade e igualdade” para contestar o domínio português sobre<br />
o Brasil, mas em nenhum momento a defesa desses princípios se ampliou ao ponto<br />
de defender o fim da escravidão no novo país que pretendiam construir (MOTA,<br />
2008). Importante destacar que, à exceção de Tiradentes, todas as outras<br />
lid<strong>era</strong>nças pertenciam a famílias abastadas da sociedade mineira.<br />
Tempos depois, durante o processo que conduziu à emancipação política do<br />
Brasil, várias lid<strong>era</strong>nças brasileiras que se articularam com D. Pedro I, utilizaram-se<br />
do lib<strong>era</strong>lismo para contestar as medidas recolonizadoras aprovadas pelas Cortes<br />
portuguesas a partir da Revolução do porto de 1820, porém como afirma Emília<br />
Viotti da Costa:<br />
As elites brasileiras que tomaram o poder em 1822<br />
compunham-se de fazendeiros, comerciantes e membros de sua<br />
clientela, ligados à economia de importação e exportação e<br />
interessados na manutenção das estruturas tradicionais de<br />
produção cujas bases <strong>era</strong>m o sistema de trabalho escravo e a<br />
grande propriedade. Após a Independência, reafirmaram a tradição<br />
agrária da economia brasileira; opus<strong>era</strong>m-se às débeis tentativas de<br />
alguns grupos interessados em promover o desenvolvimento da<br />
indústria nacional e resistiram às pressões inglesas visando abolir o<br />
tráfico de escravos. Formados na ideologia da Ilustração,<br />
3 Coleção “Os pensadores” – COMTE. São Paulo: Abril Cultural, 1978.<br />
8
expurgaram o pensamento lib<strong>era</strong>l das suas feições mais radicais,<br />
talhando para uso próprio uma ideologia essencialmente<br />
conservadora e antidemocrática. A presença do herdeiro da Casa<br />
de Bragança no Brasil ofereceu-lhes a oportunidade de alcançara<br />
Independência sem recorrer à mobilização das massas.<br />
Organizaram um sistema político fortemente centralizado que<br />
colocava os municípios na dependência dos governos provinciais e<br />
as províncias na dependência do governo central. Continuando a<br />
tradição colonial, subordinaram a Igreja ao Estado e mantiv<strong>era</strong>m o<br />
catolicismo como religião oficial... (COSTA, 1999, p. 9).<br />
Com a doutrina positivista não foi diferente. Sua influência foi crescente no<br />
Brasil nas três últimas décadas do século XIX, exercendo forte atração em<br />
profissionais lib<strong>era</strong>is, intelectuais e – especialmente após a Guerra do Paraguai –<br />
na oficialidade do Exército.<br />
Militares e civis tinham em comum o fato de terem sido<br />
seduzidos pela doutrinação positivista. A influência exercida por<br />
esta filosofia nos meios militares foi decisiva para que ocorresse a<br />
aproximação com os civis. A idéia de cientificidade a permear toda a<br />
explicação dos fenômenos sociais, distanciando-se dessa maneira<br />
das filosofias impregnadas de subjetivismos e reducionismos<br />
metafísicos, exerceu uma forte atração junto aos oficiais jovens e<br />
cultos, levando-os a se situarem mais comodamente no campo<br />
deste postulado doutrinário. Além disso, a explicação positivista de<br />
que a república <strong>era</strong> superior à monarquia, posto que ela simbolizava<br />
o ingresso a uma etapa superior reclamada pelo progresso humano,<br />
conduziu finalmente a corporação a aderir ao republicanismo e,<br />
particularmente, aos ideólogos deste movimento. (PENNA, 1997, p.<br />
46)<br />
O líder que melhor representou esse alinhamento militar foi sem dúvida<br />
Benjamin Constant 4 . Repudiando as ações violentas, acreditava que as agitações<br />
não conduziriam à república e sim à “anarquia”, à destruição da sociedade. Já<br />
estava claro em seu pensamento, portanto que o progresso só ocorreria<br />
paralelamente ao desenvolvimento da ordem.<br />
Lid<strong>era</strong>nças como Benjamin Constant e outras, especialmente militares e<br />
profissionais lib<strong>era</strong>is que militavam no movimento republicano, acreditavam que a<br />
República seria, portanto, uma etapa fundamental em direção ao progresso humano<br />
4 BENJAMIN Botelho de Magalhães CONSTANT (1836-1891) foi um dos principais articuladores e<br />
ideólogos do movimento que conduziu à proclamação da República em 15 de novembro de 1889.<br />
Engenheiro formado pela Escola Militar, combateu na Guerra do Paraguai e posteriormente dedicouse<br />
ao magistério. Foi ministro da Guerra no primeiro governo republicano, quando remodelou as<br />
escolas militares. Passou depois para o Ministério da Instrução Pública, onde fez o mesmo com todo<br />
o ensino no país. Em 1890, alcançou o posto de gen<strong>era</strong>l do Exército brasileiro.<br />
9
e social no Brasil, aquele momento apontado por Comte como o estágio positivo da<br />
humanidade.<br />
No entanto, esse idealismo republicano positivista encontrava obstáculos<br />
dentro do próprio Partido Republicano, onde o componente civil mais importante do<br />
movimento <strong>era</strong> a oligarquia cafeeira do denominado Oeste paulista. O interesse<br />
desse grupo residia fundamentalmente na sup<strong>era</strong>ção do unitarismo do Império pelo<br />
fed<strong>era</strong>lismo republicano – na verdade, antes de republicanos, <strong>era</strong>m fed<strong>era</strong>listas. O<br />
que desejavam <strong>era</strong> a concessão de uma ampla autonomia administrativa e<br />
financeira para os estados, o que beneficiaria diretamente São Paulo, que já se<br />
destacava como o pólo mais dinâmico da economia brasileira. Assim, a defesa da<br />
República atendia muito mais aos seus interesses particulares do que propriamente<br />
a interesses verdadeiramente republicanos. É o que podemos perceber no trecho<br />
da primeira edição do jornal “A República”, em 03 de dezembro de 1870:<br />
Para nós, a República não estará fundada senão quando<br />
cada província for um verdadeiro Estado senhor de seus destinos,<br />
podendo dispor de todos os seus recursos sem dependência de<br />
tutela da capital. Para nós a república é – fed<strong>era</strong>ção. Sem<br />
fed<strong>era</strong>ção no Brasil, não há república. (PENNA, 1997, p. 34)<br />
Após a vitória do movimento republicano, em 1889, pouco a pouco as<br />
oligarquias regionais lid<strong>era</strong>das pelos Partidos Republicanos Paulista e Mineiro<br />
foram conquistando hegemonia no controle do Estado, afastando aqueles grupos<br />
que tinham uma identificação mais forte com o projeto positivista.<br />
Muito embora a contribuição da Escola Militar tenha sido<br />
bastante importante para a unidade da corporação, ela não<br />
conseguiu produzir uma estratégia clara e definida com relação à<br />
República da qual os militares tiv<strong>era</strong>m uma participação decisiva.<br />
Instalados no poder ressentiram-se de um projeto político a partir do<br />
qual pudessem imprimir tudo aquilo que mais os unia: promover o<br />
progresso na ordem. Diante da constatação de que careciam de um<br />
programa que viabilizasse este intento, foram forçados a se<br />
submeterem de imediato aos representantes do setor cafeeiro. Esta<br />
oligarquia paulista possuía engrenagens que facilitavam a adoção<br />
de uma política de alianças voltada principalmente aos interesses<br />
regionais dispersos no território nacional. Esta coalizão<br />
conservadora unia a oligarquia rural e o Estado, enfraquecendo a<br />
representação dos demais setores da sociedade que, excluídos<br />
antes, assim permanec<strong>era</strong>m mesmo após a transição da monarquia<br />
à República. (PENNA, 1997, p. 49).<br />
10
O controle das diversas instâncias de poder pelas oligarquias, especialmente<br />
a partir do governo Campos Sales (1898-1902), conduziu a república para um<br />
caminho bem diferente daquele idealizado pelos positivistas.<br />
Do ponto de vista econômico, não ocorr<strong>era</strong>m mudanças estruturais<br />
significativas. Fora alguns limitados “surtos industriais” – como o que ocorreu no<br />
período da I Guerra Mundial -, a economia continuou ancorada na agricultura de<br />
exportação, com uma dependência excessiva da cafeicultura, o que deixava o país<br />
em uma situação de grande vuln<strong>era</strong>bilidade, como ficou demonstrado com os<br />
efeitos devastadores da Quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929.<br />
Além disso, a industrialização brasileira nessa fase esteve subordinada ao<br />
capital cafeeiro. Cafeicultoras paulistas, principalmente, interessados em diversificar<br />
seus investimentos, passaram a destinar uma parte do seu capital às indústrias de<br />
bens de consumo não-duráveis, como tecidos, vestuário e alimentos, produtos com<br />
baixo valor agregado e tecnologia limitada. As indústrias de base e bens de<br />
produção praticamente inexistiam naquele momento.<br />
Os dados apresentados pelo primeiro Censo nacional de<br />
produção, realizado no país em 1920, demonstram como <strong>era</strong> nossa<br />
estrutura industrial no período; as indústrias alimentícias constituíam<br />
30,7% do valor produzido; as indústrias têxteis, 29,3%; as fábricas<br />
de bebidas e cigarros, 6,3%; e apenas 4,7% representam as<br />
indústrias metalúrgicas e mecânicas. (MENDONÇA, 1995, p. 18)<br />
Portanto, o progresso prometido pelo movimento republicano, ocorreu, na<br />
prática, de forma muito limitada.<br />
Na organização política, o progresso foi tão ou mais limitado quanto na<br />
ordem econômica, apesar da Constituição promulgada em 1891, inspirada na norte-<br />
americana, promover mudanças institucionais importantes, como a implantação do<br />
fed<strong>era</strong>lismo e a separação e independência entre os Poderes Executivo, Legislativo<br />
e Judiciário, eliminando definitivamente o Poder Mod<strong>era</strong>dor, um dos principais<br />
instrumentos do unitarismo imperial e alvo de duras críticas por parte dos<br />
republicanos, como podemos constatar no Manifesto Republicano de 1870:<br />
A centralização, tal qual existe, comprime a liberdade,<br />
constrange o cidadão, subordina o direito de todos ao arbítrio de um<br />
só poder, nulifica de fato a sob<strong>era</strong>nia nacional, mata o estímulo de<br />
11
progresso local. O regime de fed<strong>era</strong>ção, [ao contrário, está]<br />
baseado na independência recíproca das províncias, e é aquele que<br />
adotamos no nosso programa, como sendo o único capaz de<br />
manter a comunhão da família brasileira. (PESSOA, 1976, p. 39).<br />
Prometia-se a liberdade, a cidadania e o fim do arbítrio, no entanto, na<br />
prática ocorreu uma grande distância entre a lei e a realidade. O sistema eleitoral<br />
instituído pela República substituía o voto censitário pelo universal, mas as<br />
exigências para qualificação dos eleitores <strong>era</strong>m tantas – mulheres e analfabetos,<br />
por exemplo, não tinham direito de votar -, que o percentual de participação eleitoral<br />
da população pouco mudou em relação ao Império.<br />
TABELA 1<br />
PARTICIPAÇÃO ELEITORAL, 1872-1945<br />
(porcentagem de pessoas que votavam)<br />
Ano Votantes % da população total<br />
1872 1.097.698 10,8 (13,0)*<br />
1886 117.022 0,8<br />
1894 290.883 2,2<br />
1906 294.401 1,4<br />
1922 833.270 2,9<br />
1930 1.890.524 5,6<br />
1945 6.200.805 13,4<br />
*Excluindo a população escrava.<br />
Fonte: CARVALHO, 2007, p 395<br />
Mais grave foram as práticas políticas nada democráticas ou progressistas,<br />
como as inúm<strong>era</strong>s e frequentes fraudes eleitorais e a ação truculenta e clientelista<br />
dos chamados “coronéis”, grandes proprietários que controlavam a política em seus<br />
municípios, atores políticos fundamentais num período em que o eleitorado rural<br />
pesava mais que o urbano.<br />
Entretanto, setores importantes aos poucos manifestavam sua insatisfação<br />
com os rumos da República. A classe média urbana ressentia-se do fato de sua<br />
influência política ser limitada, não só devido à predominância do eleitorado rural,<br />
12
mas principalmente por ser no campo onde ocorriam as maiores fraudes eleitorais e<br />
desmandos (LEAL, 1978).<br />
O movimento que melhor expressou esse descontentamento foi o tenentismo,<br />
organizado pela jovem oficialidade do Exército e iniciado a partir do episódio<br />
conhecido como o “Movimento dos 18 do Forte de Copacabana”. Ainda que os<br />
tenentes não apresentassem um programa claro de reformas econômicas e<br />
políticas, a crítica presente em todas as suas manifestações <strong>era</strong> dirigida às fraudes<br />
eleitorais e à corrupção em g<strong>era</strong>l, cuja culpa <strong>era</strong> atribuída aos políticos civis.<br />
Uma demonstração deste descontentamento é o depoimento de um militar<br />
positivista, Ximeno de Villeroy, autor de uma biografia sobre Benjamin Constant,<br />
publicada em 1928, exatamente no período em que a República Oligárquica vivia<br />
seus momentos difíceis.<br />
Duas causas principais concorrem para esta aflitiva situação<br />
cujo termo parece-nos afastado, uma de ordem g<strong>era</strong>l e outra<br />
especial. Esta última consiste essencialmente no imoral predomínio<br />
dessa casta de politiqueiros profissionais que fez da política a arte<br />
de bater moeda; e aquela, na desordem permanente, na indisciplina<br />
g<strong>era</strong>l em que vive o povo brasileiro... (COSTA, 1999, p. 405)<br />
Embora os movimentos tenentistas fracassassem, ficava claro que o poder<br />
oligárquico atravessava um período de intenso desgaste que encontrará seu ponto<br />
culminante a partir da Quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929.<br />
13
1.2) A Revolução de 1930 e a retomada do projeto positivista<br />
Em 1930 estava marcada a eleição para escolher o novo Presidente da<br />
República. A partir do Governo Campos Sales, constituiu-se um pacto para a<br />
disputa da presidência conhecido como política do café-com-leite, uma aliança<br />
envolvendo os partidos que representavam os estados com maior eleitorado, ao<br />
mesmo tempo em que se constituíam nos maiores produtores de café, o Partido<br />
Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Pelo acordo, os dois partidos<br />
caminhariam unidos nas eleições presidenciais, revezando-se na indicação do<br />
candidato à presidência. Esse pacto foi muito bem sucedido, o que pode ser<br />
constatado pelo fato de que essa aliança não perdeu uma eleição sequer ao longo<br />
da República Velha (FAUSTO, 2008).<br />
Essa situação mudou na eleição de 1930. Como apontamos anteriormente,<br />
durante a década de 1920 o questionamento ao controle político das oligarquias <strong>era</strong><br />
crescente, especialmente entre a classe média urbana. Por outro lado, dentro das<br />
próprias oligarquias já começavam a ocorrer divisões. Havia um descontentamento<br />
crescente das oligarquias do Nordeste e do Sul em relação aos privilégios<br />
concedidos aos cafeicultores, na medida em que quanto mais o Governo Fed<strong>era</strong>l<br />
socorria os cafeicultores, menos recursos <strong>era</strong>m destinados às outras regiões.<br />
Desde o início do século XX, a cafeicultura começava a apresentar sinais de<br />
desequilíbrio entre oferta e procura, já que a produção de café no Brasil e em outras<br />
partes do mundo crescia a um ritmo muito mais acel<strong>era</strong>do do que a expansão dos<br />
mercados consumidores. Para evitar uma crise no setor, os governadores dos três<br />
principais estados produtores (São Paulo, Minas G<strong>era</strong>is e Rio de Janeiro)<br />
assinaram um acordo em 1906, conhecido como Convênio de Taubaté,<br />
determinando que o Estado compraria os excedentes da produção de café sempre<br />
que houvesse um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Esse acordo deixava<br />
claro o quanto os estados cafeicultores tiravam proveito de sua maior influência na<br />
política nacional para obterem um privilégio que não <strong>era</strong> estendido a nenhum outro<br />
setor da economia.<br />
Essa situação chegou a um ponto insustentável com a Quebra da Bolsa de<br />
Nova Iorque em 1929, que atingiu duramente a economia brasileira, demonstrando<br />
14
o quanto <strong>era</strong> frágil o tradicional modelo primário-exportador do país, especialmente<br />
pela sua dependência da exportação de um produto que não pode ser consid<strong>era</strong>do<br />
essencial – o café. A consequência disso foi que nosso comércio internacional<br />
despencou, até porque nosso maior consumidor <strong>era</strong> justamente os Estados Unidos,<br />
que vivia o período da Grande Depressão. Paralelamente, o governo brasileiro teria<br />
que socorrer os cafeicultores num nível muito maior do que qualquer outra crise.<br />
Foi nesse contexto que teve início a campanha eleitoral de 1930. De acordo<br />
com a política do café-com-leite, o candidato oficial deveria ser indicado pelo<br />
Partido Republicano Mineiro, que substituiria o Presidente em exercício,<br />
Washington Luís, que na eleição anterior fora indicado pelo Partido Republicano<br />
Paulista. Porém, a oligarquia paulista temendo que um presidente mineiro não<br />
suportasse a pressão contra os privilégios concedidos à cafeicultura, decidiu romper<br />
o pacto e indicar outro candidato do Partido Republicano Paulista à Presidência,<br />
Júlio Prestes. Como resposta, a oligarquia mineira iniciou as articulações com<br />
outras oligarquias descontentes com as ações do governo - especialmente as<br />
oligarquias gaúcha e paraibana - para a formação de uma chapa de oposição,<br />
denominada Aliança Lib<strong>era</strong>l, resultando na indicação de Getúlio Vargas como<br />
candidato à Presidência.<br />
A eleição ocorreu em 1º de março de 1930, marcada por fraudes<br />
gen<strong>era</strong>lizadas dos dois lados, mas ao final da apuração Júlio Prestes e o Partido<br />
Republicano Paulista saíram vitoriosos. Inicialmente, Getúlio Vargas e outras<br />
lid<strong>era</strong>nças da Aliança Lib<strong>era</strong>l demonstraram conformidade com o resultado.<br />
Todavia, jovens lid<strong>era</strong>nças das oligarquias dissidentes 5 e do movimento tenentista<br />
iniciaram uma forte pressão sobre os dirigentes da Aliança Lib<strong>era</strong>l para a<br />
organização de um movimento armado que deveria ser desencadeado antes da<br />
posse do novo presidente, o que acabou por ocorrer vitoriosamente em outubro de<br />
1930, quando Washington Luís foi deposto e Getúlio Vargas assumiu a presidência,<br />
de onde só sairá 15 anos depois. Para entendermos melhor as profundas mudanças<br />
pelas quais o Brasil passará nesse período, é importante lembrar resumidamente a<br />
trajetória anterior do líder gaúcho.<br />
5 Entre eles destacamos Osvaldo Aranha, João Batista Luzardo, João Neves da Fontoura, Virgílio de<br />
Melo Franco, Artur Bernardes Filho, Caio e Carlos de Lima Cavalcanti.<br />
15
Getúlio Vargas (1882-1954) nasceu no município de São Borja, zona rural e<br />
interiorana do Rio Grande do Sul, fronteiriça com a Argentina. Bacharelou-se em<br />
Direito em 1907, trabalhando em seguida como promotor público em Porto Alegre,<br />
para logo depois iniciar uma bem sucedida carreira política. Em 1909, elegeu-se<br />
para deputado pelo Partido Republicano Riograndense para a Câmara de<br />
Representantes (atualmente Assembléia Legislativa) do seu estado. Em 1923, foi<br />
eleito deputado fed<strong>era</strong>l, deixando o cargo em 1926 para ocupar o Ministério da<br />
Fazenda no governo Washington Luís, onde ficou até o ano seguinte, quando<br />
renunciou para concorrer vitoriosamente ao governo do Rio Grande do Sul.<br />
A formação intelectual de Getúlio desde a juventude foi fortemente marcada<br />
pela influência positivista, doutrina que transitava com muita intensidade naquela<br />
região de fronteira, como apontaram LOVE (1975) e PAIM (1980 e 1984). O pai,<br />
estancieiro, foi militante no Partido Republicano Riograndense, sendo um fiel<br />
seguidor de seu líder, Júlio de Castilhos (1860-1903). Este último constituiu-se em<br />
personagem central da política gaúcha durante o movimento republicano e no início<br />
do novo regime, tendo ocupado a Presidência do estado e redigido a maioria dos<br />
artigos da Constituição riograndense, aprovada em 1891.<br />
Para Castilhos, a República seria o regime da virtude, da moralidade e da<br />
competência. Esses princípios legitimariam suas ações autoritárias, especialmente<br />
no que se refere a pouca importância atribuída à vida parlamentar. Era como se o<br />
valor da ordem e da virtude estivesse acima da participação. Também podemos<br />
observar nas ações de Castilhos o princípio de que a democracia econômica e<br />
social deveria ser privilegiada em relação à democracia política, o que se<br />
constituiria em outra justificativa para ações autoritárias.<br />
Foi dentro dessa tradição positivista autoritária que Getúlio Vargas constituiu<br />
sua formação política e intelectual, o que nos ajuda a compreender em parte muitas<br />
ações de seu governo, especialmente durante o Estado Novo (1937-1945). A forte<br />
ligação de Getúlio com o castilhismo pode ser notada quando foi escolhido, ainda<br />
cursando a faculdade de Direito, para ser o orador no fun<strong>era</strong>l de Júlio de Castilhos,<br />
em 1903, e na sua militância na Juventude Castilhista, onde manteve vínculos de<br />
amizade com vários jovens da elite do estado que o apoiariam futuramente na<br />
16
Revolução de 1930, entre eles João Neves da Fontoura e Joaquim Maurício<br />
Cardoso.<br />
Em trabalho onde analisa o pensamento político de Getúlio Vargas ao longo<br />
de sua trajetória, FONSECA (2001) destaca que em sua juventude, no início de sua<br />
carreira política, seus discursos revelavam a influência positivista tanto no<br />
vocabulário utilizado (evolução, etapas, progresso, ordem, ciência), como nos<br />
autores citados (Comte, Stuart Mill, Spencer), assim como já anunciavam sua visão<br />
contrária ao lib<strong>era</strong>lismo econômico. Em um debate travado com um adversário<br />
durante uma sessão da Assembléia dos Representantes do Estado do Rio Grande<br />
do Sul (Assembléia Legislativa), em 1919, Vargas afirmava:<br />
(...) permita-me dizer que V. Exa. está filiado à velha teoria<br />
econômica do ‘laissez faire’, teoria essa que pretende atribuir<br />
unicamente à iniciativa particular o desenvolvimento econômico ou<br />
industrial de qualquer país, deixando de lado a teoria da<br />
nacionalização desses serviços por parte da administração pública,<br />
amplamente justificada pelas lições da experiência, não levando V.<br />
Exa., em linha de conta, que nos países novos, como o nosso, onde<br />
a iniciativa é escassa e os capitais ainda não tomaram o incremento<br />
preciso, a intervenção do governo em tais serviços é uma<br />
necessidade real. (FONSECA, 2001, p. 107)<br />
Portanto, o estilo e as ações de Getúlio Vargas na Presidência da República<br />
representaram, em linhas g<strong>era</strong>is, uma retomada do projeto positivista do início da<br />
República. Entre 1930 e 1945 buscou-se promover o progresso econômico, tendo<br />
como um pré-requisito fundamental a manutenção da ordem. Porém, a grande<br />
novidade introduzida no período reside na compreensão de que o progresso<br />
material e econômico só seria alcançado e garantido ao mesmo tempo em que<br />
promovesse a valorização do trabalho e da melhoria das condições de vida dos<br />
trabalhadores em todos os aspectos: salário, moradia, educação e saúde.<br />
Já durante a campanha eleitoral, a Aliança Lib<strong>era</strong>l anunciava um ambicioso<br />
programa de reformas para a época: no campo social, previa o reconhecimento por<br />
lei dos direitos trabalhistas, tais como o direito de aposentadoria, a regulamentação<br />
do trabalho do menor e do da mulher e o direito ao gozo de férias, e, no campo<br />
político, condenava o abuso do poder, a corrupção, a interferência oficial na escolha<br />
dos sucessores. Pregava a defesa das liberdades individuais, o voto secreto, a<br />
instituição da justiça eleitoral, anistia (visando atrair os ''tenentes") e a reforma<br />
17
política, com o objetivo de estabelecer eleições que expressassem a verdadeira<br />
vontade do povo.<br />
Ao assumir o governo, Getúlio tratou de por em prática alguns dos<br />
compromissos assumidos na campanha eleitoral, além de paulatinamente tomar<br />
medidas que garantissem o PROGRESSO e a manutenção da ORDEM 6 .<br />
Na avaliação do novo governo, o PROGRESSO seria alcançado através de<br />
um amplo programa de industrialização fomentado pelo Estado, na medida em que<br />
inexistia no Brasil uma classe empresarial forte e organizada, com acumulação de<br />
capital suficiente para conduzir esse projeto. Ao mesmo tempo, a própria<br />
administração pública deveria ser totalmente reformulada através de uma<br />
profissionalização crescente, para atender ao novo papel que o estado deveria<br />
representar no desenvolvimento econômico 7 .<br />
Além disso, para esse progresso econômico ser alcançado seria fundamental<br />
a melhoria das condições de vida e trabalho da população. Esse bem estar social<br />
seria garantido pela paulatina concessão das leis trabalhistas. Assim, a questão<br />
social deixava de ser um “caso de polícia” para ser uma questão a ser solucionada<br />
pelo Estado, que assume o papel de provedor e protetor da classe trabalhadora.<br />
Portanto, o progresso que se pretendia alcançar deveria trazer não apenas o<br />
desenvolvimento econômico, mas também a melhoria das condições de vida da<br />
classe trabalhadora através da concessão de direitos. Por outro lado, o pré-requisito<br />
para o progresso econômico e social <strong>era</strong> a manutenção da ORDEM. Para isso, o<br />
governo criou diversos mecanismos para controlar e disciplinar a classe<br />
trabalhadora: a propaganda oficial, a criação de uma estrutura sindical<br />
corporativista, submetendo os sindicatos à tutela do Estado, ou através da<br />
repressão policial aplicada sobre os elementos ameaçadores da ordem,<br />
especialmente os comunistas.<br />
6 Para a análise da evolução política e econômica da Era Vargas (1930-1945) tomei como referência<br />
o CD ROM A Era Vargas - 1º tempo - dos anos 20 a 1945", lançado pelo CPDOC em 1997. Seu<br />
conteúdo também está disponibilizado na página Navegando na História no portal do CPDOC.<br />
7 Diretamente subordinado ao Presidente da República, o Departamento Administrativo do<br />
Serviço Público (DASP) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 579, de 30/07/1938, com o objetivo de<br />
profissionalizar a dar maior eficiência à máquina administrativa fed<strong>era</strong>l.<br />
18
Entendo que aí estaria a gênese para a compreensão da conduta de Getúlio<br />
no poder. Levando-se em conta que os positivistas primavam pela ciência e pela<br />
técnica como meio de construir uma sociedade melhor, <strong>era</strong> natural que esses<br />
princípios estivessem acima das diferenças e interesses político-partidários. Da<br />
mesma forma, a influência positivista pode nos ajudar a compreender também a<br />
composição heterogênea dos ministros, assessores e quadros administrativos<br />
recrutados durante seu período na presidência. Onde o fundamental <strong>era</strong> a<br />
manutenção da ORDEM, a escolha de pessoas com um perfil conservador e<br />
autoritário – foi o caso de Góis Monteiro, Ministro da Guerra entre 1934 e 1935 e,<br />
em seguida, chefe do Estado-Maior do Exército, e de Francisco Campos, Ministro<br />
da Justiça. Por outro lado, para cuidar da EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, fundamentais<br />
para a construção do PROGRESSO, a escolha de pessoas como Gustavo<br />
Capanema, que monta uma equipe composta por intelectuais com um perfil<br />
claramente progressista, muitos influenciados pelo modernismo, comprometidos<br />
com o projeto de construção do “homem novo” para o Brasil.<br />
19
1.3) Populismo ou Trabalhismo?<br />
No meio acadêmico, durante muito tempo <strong>era</strong> amplamente aceita a tese de<br />
que a Era Vargas seria o marco inicial da formação do populismo na política<br />
brasileira, um “estilo de governo e política de massas” que se perpetuaria até o<br />
Golpe Militar de 1964.<br />
Nos dias atuais, o conceito de populismo é muitas vezes, a maioria talvez,<br />
utilizado de forma gen<strong>era</strong>lista e depreciativa. É comum ouvirmos “tal político é um<br />
populista”, insinuando que ele foi eleito devido à sua capacidade de manipular e de<br />
enganar o povo. Consid<strong>era</strong>-se, assim, o eleitorado despreparado e destituído de<br />
discernimento político, tornado-se vulnerável à ação de políticos carismáticos e<br />
manipuladores.<br />
Mas, afinal, quem são os populistas? Difícil saber, pois<br />
depende do lugar político em que o personagem que acusa se<br />
encontra. Para os conservadores, populismo é o passado político<br />
brasileiro, são políticas públicas que garantam os direitos sociais<br />
dos trabalhadores... O populista, portanto, é o adversário, o<br />
concorrente, o desafeto. O populista é o Outro. Trata-se de uma<br />
questão eminentemente política e, muito possivelmente, políticopartidária,<br />
que poderia ser enunciada da seguinte maneira: o meu<br />
candidato, o meu partido, a minha proposta política não são<br />
populistas, mas o teu candidato, o teu partido e a tua proposta<br />
política, estes, sim, são populistas. Populista é sempre o Outro,<br />
nunca o Mesmo. (FERREIRA, 2001, p. 124).<br />
Não concordamos com essa análise e, tomando como referência os trabalhos<br />
de FERREIRA (2001) e GOMES (1988), apresentaremos nosso ponto de vista<br />
destacando em primeiro lugar como surgiu e em que contexto foi criado o conceito<br />
de populismo no Brasil.<br />
A origem da formulação do conceito encontra-se em agosto de 1952, quando<br />
um grupo de estudiosos começou a se reunir periodicamente no Parque Nacional<br />
de Itatiaia, entre Rio de Janeiro e São Paulo, para realizar estudos e debates<br />
acerca dos grandes problemas relacionados ao desenvolvimento nacional – esse<br />
grupo ficou conhecido, por esse motivo de “Grupo de Itatiaia”. Alguns meses depois,<br />
já em 1953, ele levaria à criação do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e<br />
Política - IBESP, responsável, entre 1953 e 1956, pela edição de cinco volumes dos<br />
Cadernos de Nosso Tempo. A importância do IBESP e dos Cadernos é que eles<br />
20
contêm, no nascedouro, toda a ideologia do nacionalismo, que ganharia força cada<br />
vez maior no país nos anos subseqüentes, e serviriam de ponto de partida para a<br />
constituição do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).<br />
Um dentre os principais problemas divisados na agenda deste grupo é o do<br />
surgimento do populismo na política brasileira. Ele pode ser sugestivamente<br />
exemplificado, por um pequeno ensaio, sem autor identificado, intitulado: Que é o<br />
Ademarismo? (FERREIRA, 2001, p. 23). Publicado durante o primeiro semestre do<br />
ano de 1954, portanto antes do suicídio do presidente Vargas, o artigo tem como<br />
preocupação e motivação imediata a projeção do político paulista, Adhemar de<br />
Barros, como candidato à sucessão presidencial de 1955.<br />
Resumidamente, de uma forma bem esquemática, pode-se dizer que o<br />
ensaio aponta duas condições fundamentais para a emergência/caracterização do<br />
populismo. Atuando como variáveis histórico-sociais, elas terão longa carreira em<br />
inúm<strong>era</strong>s formulações posteriores, integrando-se ao esforço coletivo empreendido<br />
no campo das ciências sociais.<br />
Em primeiro lugar, o populismo é uma política de massas, vale dizer, ele é um<br />
fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na sociedade complexa<br />
<strong>moderna</strong>, sendo indicativo de que tais trabalhadores não adquiriram consciência e<br />
sentimento de classe: não estão organizados e participando da política como<br />
classe. As massas, interpeladas pelo populismo, são originárias do proletariado,<br />
mas dele se distinguem por sua inconsciência das relações de espoliação sob as<br />
quais vivem.<br />
Em segundo lugar, o populismo está igualmente associado a uma certa<br />
conformação da classe dirigente, que perdeu sua representatividade e poder de<br />
exemplaridade, deixando de criar os valores e os estilos de vida orientadores de<br />
toda a sociedade. Em crise e sem condições de dirigir com segurança o Estado, a<br />
classe dominante precisa conquistar o apoio político das massas emergentes.<br />
Finalmente, satisfeitas estas duas condições mais amplas, é preciso um terceiro<br />
elemento para completar o ciclo: o surgimento do líder populista, do homem<br />
carregado de carisma, capaz de mobilizar as massas e controlar de forma<br />
centralizada o poder.<br />
21
O que importa aqui destacar é a seleção das pré-condições para a<br />
construção do modelo, bem como o perfil dos atores que o integram: um<br />
proletariado sem consciência de classe; uma classe dirigente em crise de<br />
hegemonia; e um líder carismático, cujo apelo subordina instituições e transcende<br />
fronteiras sociais.<br />
As características acima serviram de referência para inúmeros estudos<br />
posteriores, mas para nossa análise crítica ao conceito iremos tomar como base a<br />
obra clássica O populismo na política brasileira, de Francisco Weffort, sem<br />
dúvida o principal teórico do populismo no Brasil.<br />
Analisando a origem e a evolução do populismo, Weffort afirma que:<br />
O populismo, como estilo de governo, sempre sensível às<br />
pressões populares, ou como política das massas, que buscava<br />
conduzir, manipulando suas aspirações, só pode ser compreendido<br />
no contexto do processo de crise política e de desenvolvimento<br />
econômico que se abre com a revolução de 1930. Foi a expressão<br />
do período de crise da oligarquia e do lib<strong>era</strong>lismo, sempre muito<br />
afins na história brasileira, e do processo de democratização do<br />
Estado que, por sua vez, teve que apoiar-se sempre em algum tipo<br />
de autoritarismo, seja o autoritarismo institucional da ditadura<br />
Vargas (1937-45), seja o autoritarismo paternalista ou carismático<br />
dos líderes de massas da democracia do pós-guerra (1945-64). Foi<br />
também uma das manifestações das debilidades políticas dos<br />
grupos dominantes urbanos quando tentaram substituir-se à<br />
oligarquia nas funções de domínio político de um País<br />
tradicionalmente agrário, numa etapa em que pareciam existir as<br />
possibilidades de um desenvolvimento capitalista nacional. E foi<br />
sobretudo a expressão mais completa da emergência das classes<br />
populares no bojo do desenvolvimento urbano e industrial verificado<br />
nestes decênios e da necessidade, sentida por alguns dos novos<br />
grupos dominantes, de incorporação das massas ao jogo político.<br />
(WEFFORT, 1978p. 61)<br />
O autor também constata que a classe trabalhadora não tem consciência de<br />
classe e, assim, desorganizada, torna-se facilmente suscetível ao apelo de um líder<br />
carismático.<br />
Se baseados na tradição européia de luta de classes,<br />
entendemos como participação política ativa aquela que implica<br />
uma consciência comum dos interesses de classe e na capacidade<br />
de auto-representação política, caberia concluir que todas as<br />
classes sociais brasileiras foram politicamente passivas nos<br />
decênios posteriores à revolução de 1930. (WEFFORT, 1978, p. 71)<br />
22
A partir dessa análise, o conceito de populismo tem sido usado de forma um<br />
tanto quanto gen<strong>era</strong>lizada e destituída de historicidade. Assim, políticos com perfis<br />
e projetos tão diversos como Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Adhemar de<br />
Barros, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, entre outros foram<br />
tachados de populistas.<br />
Detendo-me na Era Vargas (1930-1945), período escolhido para essa<br />
pesquisa, prefiro optar por outro caminho, tomando como referência os trabalhos de<br />
dois autores: Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira.<br />
Acompanhando os autores acima, não considero adequadas algumas das<br />
conclusões do trabalho de Weffort. Ao invés de consid<strong>era</strong>r as “massas” como<br />
manipuladas por um líder messiânico e carismático, entendo que na verdade elas<br />
foram tão pragmáticas quanto os governos ditos populistas e seus líderes. Se estes<br />
pretendiam modernizar o Brasil implantando um modelo industrializante com forte<br />
conotação nacionalista, tentando promover a transição para um modelo avançado<br />
de capitalismo, acredito que a classe trabalhadora das cidades apoiou esse projeto<br />
ao obter de forma crescente benefícios na forma de leis trabalhistas.<br />
Como afirma Ângela de Castro Gomes,<br />
...o processo de produção do consentimento não se sustenta<br />
somente em apelos ideológicos, tendo uma explícita dimensão<br />
sócio-econômica. Isto é, ele está fundado em procedimentos que<br />
asseguram a existência de vantagens materiais efetivas para os<br />
grupos dominados. A legitimidade de um arranjo institucional não<br />
advém simplesmente da manipulação e/ou repressão políticas,<br />
deitando raízes em práticas que incorporam — em graus muito<br />
variados — interesses e valores concretos dos que estão excluídos<br />
do poder. (GOMES, 1999, p. 56).<br />
A crítica que os autores citados acima fazem ao conceito de populismo<br />
refere-se à sua utilização para explicar a política brasileira, como também à maneira<br />
como os trabalhadores alcançaram a cidadania social. Destacam que foi após a<br />
Revolução de 1930 que ocorreu o processo em que os assalariados tiv<strong>era</strong>m acesso<br />
aos direitos sociais e, após 1945, aos direitos políticos. Enquanto na experiência<br />
européia os trabalhadores, primeiro, tiv<strong>era</strong>m acesso aos direitos de votar e ser<br />
votado para, mais adiante, alcançarem os direitos sociais, no caso brasileiro,<br />
ocorreu o processo inverso. Ou seja, no Brasil, os trabalhadores se tornaram<br />
23
cidadãos não pelo direito de votar e ser votado, mas com a obtenção de seus<br />
direitos sociais: regulamentação da jornada de trabalho, férias, descanso semanal<br />
remun<strong>era</strong>do, pensões, aposentadorias, etc. Isso teria marcado a cultura política<br />
brasileira.<br />
... o “mito” Vargas não foi criado simplesmente na esteira da<br />
vasta propaganda política, ideológica e doutrinária veiculada pelo<br />
Estado. Não há propaganda, por mais elaborada, sofisticada e<br />
massificante, que sustente uma personalidade pública por tantas<br />
décadas que beneficiem, em termos materiais e simbólicos, o<br />
cotidiano da sociedade. O “mito” Vargas expressava um conjunto de<br />
experiências que, longe de se basear em promessas irrealizáveis,<br />
fundamentadas tão-somente em imagens e discursos vazios, alterou<br />
a vida dos trabalhadores. (FERREIRA, 2001, p. 88)<br />
Nesse sentido, os trabalhadores, a partir dos anos de 1930, tiv<strong>era</strong>m acesso à<br />
cidadania com leis sociais e reconhec<strong>era</strong>m o papel do Estado naquele processo. A<br />
partir de 1945, parcelas significativas do eleitorado identificaram seus direitos<br />
sociais com a pessoa de Getúlio Vargas e, consequentemente, com o Partido<br />
Trabalhista Brasileiro e o trabalhismo. Mas isso é um processo de reconhecimento,<br />
resultado de experiências vividas pelos próprios trabalhadores – e não de<br />
manipulação. Os trabalhadores, nesse sentido, fiz<strong>era</strong>m suas escolhas. Estado e<br />
trabalhadores int<strong>era</strong>giram um com o outro. Contudo, na ótica do populismo, tudo<br />
não teria passado de manipulação das massas.<br />
O Estado Nacional do pós-1937, por seu ideal de justiça<br />
social, voltava-se para a realização de uma política de amparo ao<br />
homem brasileiro, o que significava basicamente o reconhecimento<br />
de que a civilização e o progresso <strong>era</strong>m um produto do trabalho...<br />
O ideal de justiça social ia sendo explicitado como um ideal<br />
de ascensão social pelo trabalho, que tinha no Estado seu avalista e<br />
intermediário. O ato de trabalhar precisava ser associado a<br />
significantes positivos que constituíam substantivamente a<br />
sup<strong>era</strong>ção das condições objetivas vividas no presente pelo<br />
trabalhador. A ascensão social, principalmente em sua dimensão<br />
g<strong>era</strong>cional, apontava o futuro do homem como intrinsecamente<br />
ligado ao “trabalho honesto”, que devia ser definitivamente despido<br />
de seu conteúdo negativo. O trabalho <strong>era</strong> civilizador.... (GOMES,<br />
1999, p. 58-9)<br />
Portanto, entendemos que com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder o<br />
projeto de desenvolvimento voltado para o progresso econômico tornou-se<br />
prioridade fundamental para o governo, mas com uma novidade em relação ao<br />
24
discurso oficial durante o período da República Velha: a incorporação e a<br />
valorização do trabalho e dos trabalhadores como parte desse projeto de<br />
desenvolvimento.<br />
Durante a República Velha a questão social <strong>era</strong> tratada como um caso de<br />
polícia. Enquanto na Europa o movimento operário vinha conquistando desde a<br />
segunda metade do século XIX avanços progressivos na legislação trabalhista, no<br />
Brasil os operários ainda trabalhavam em condições não muito diferentes dos seus<br />
pares europeus do século XVIII. Insensíveis a esses problemas, os sucessivos<br />
governos da República Velha ocupara-se apenas com a repressão às greves e aos<br />
sindicatos, prova disso foi a aprovação da Lei Cel<strong>era</strong>da, em 1927, durante a<br />
presidência de Washington Luís. Na tentativa de conter as greves essa lei dava ao<br />
Executivo o direito de intervir em sindicatos e criminalizar qualquer manifestação<br />
dos operários, além de permitir o fechamento de qualquer instituição que não<br />
seguisse as diretrizes do governo. Como consequências imediatas dessa lei, o<br />
Partido Comunista Brasileiro foi posto na ilegalidade e sindicatos trabalhistas e<br />
clubes militares foram fechados.<br />
Esse descaso com a condição da classe trabalhadora começou a ser revisto<br />
a partir da Revolução de 1930, especialmente durante o período do Estado Novo,<br />
quando houve o entendimento de que a questão social <strong>era</strong> um problema a ser<br />
solucionado e não reprimido pelo Estado. Dentro desse contexto, o regime utilizava<br />
um discurso de legitimação através de uma “ideologia política de valorização do<br />
trabalho e de ‘reabilitação’ do papel e do lugar do trabalhador nacional” (GOMES,<br />
1999, p. 53).<br />
Operários do Brasil: No momento em que se festeja o ‘Dia do<br />
Trabalho’, não desejei que esta comemoração se limitasse a<br />
palavras, mas que fosse traduzida em fatos e atos que<br />
constituíssem marcos imperecíveis, assinalando pontos luminosos<br />
na marcha e na evolução das leis sociais do Brasil.<br />
Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a sua<br />
função sem satisfazer as justas aspirações das massas<br />
trabalhadoras. (Muito bem; palmas.)<br />
Podeis interrogar, talvez: Quais são as aspirações das massas<br />
obreiras, quais os seus interesses? E eu vos responderei: a ordem,<br />
e o trabalho! (Muito bem; palmas prolongadas.)<br />
Em primeiro lugar, a ordem, porque na desordem nada se constrói:<br />
porque, num país como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar,<br />
onde há tantas iniciativas a adotar, onde há tantas possibilidades a<br />
25
desenvolver, só a ordem assegura a confiança e a estabilidade.<br />
(Muito bem.)<br />
O trabalho só se pode desenvolver em ambiente de ordem. Por isso,<br />
a Lei do Salário Mínimo, que vem trazer garantias ao trabalhador,<br />
<strong>era</strong> necessidade que há muito se impunha. Como sabeis, em nosso<br />
país, o trabalhador, principalmente o trabalhador rural, vive<br />
abandonado, percebendo uma remun<strong>era</strong>ção inferior às suas<br />
necessidades. (Muito bem.)<br />
No momento em que se providencia para que todos os<br />
trabalhadores brasileiros tenham casa barata, isentos dos impostos<br />
de transmissão, torna-se necessário, ao mesmo tempo, que, pelo<br />
trabalho, se lhes garanta a casa, a subsistência, o vestuário, a<br />
educação dos filhos. (Muito bem; palmas prolongadas.)<br />
O trabalho é o maior fator da elevação da dignidade humana.<br />
Ninguém pode viver sem trabalhar; (Muito bem.) e o operário não<br />
pode viver ganhando apenas o indispensável para não morrer de<br />
fome! (Muito bem; aplausos prolongados.) O trabalho justamente<br />
remun<strong>era</strong>do eleva-o na dignidade social. Além dessas condições, é<br />
forçoso observar que num país como o nosso, onde em alguns<br />
casos há excesso de produção, desde que o operário seja melhor<br />
remun<strong>era</strong>do, poderá, elevando o seu padrão de vida, aumentar o<br />
consumo, adquirir mais dos produtores e, portanto, melhorar as<br />
condições do mercado interno.<br />
Após a série de leis sociais com que tem sido amparado e<br />
beneficiado o trabalhador brasileiro, a partir da organização sindical,<br />
da Lei dos Dois Terços, que terá de ser cumprida e que está sendo<br />
cumprida, (Muito bem; palmas prolongadas.) das férias<br />
remun<strong>era</strong>das, das caixas de aposentadoria e pensões, que<br />
asseguraram a tranqüilidade do trabalhador na invalidez e a dos<br />
seus filhos na orfandade, a Lei do Salário Mínimo virá assinalar,<br />
sem dúvida, um marco de grande relevância na evolução da<br />
legislação social brasileira. Não se pode afirmar que seja o seu<br />
termo, porque outras se seguirão.<br />
O orador operário, que foi o intérprete dos sentimentos de seus<br />
companheiros, declarou, há pouco, que a legislação social do Brasil<br />
veio estabelecer a harmonia e a tranqüilidade entre empregados e<br />
empregadores. É esta uma afirmativa feliz, que ecoou bem no meu<br />
coração. (Muito bem; palmas.) Não basta, porém, a tranqüilidade e a<br />
harmonia entre empregados e empregadores. E preciso a<br />
colaboração de uns e outros no esforço espontâneo e no trabalho<br />
comum em bem dessa harmonia, da coop<strong>era</strong>ção e do<br />
congraçamento de todas as classes sociais. (Muito bem;<br />
prolongados aplausos.) O movimento de 10 de novembro pode ser<br />
consid<strong>era</strong>do, sob certos aspectos, como um reajustamento dos<br />
quadros da vida brasileira. (Muito bem; palmas.) Esse reajustamento<br />
terá de se realizar, e já se vem realizando, exatamente pela<br />
coop<strong>era</strong>ção de todas as classes. O governo não deseja, em<br />
nenhuma hipótese, o dissídio das classes nem a predominância de<br />
umas sobre as outras. (Muito bem.) Da fixação dos preceitos do<br />
coop<strong>era</strong>tivismo na Constituição de 10 de novembro deverá decorrer,<br />
naturalmente, o estímulo vivificador do espírito de colaboração entre<br />
todas as categorias de trabalho e de produção. Essa colaboração<br />
será efetivada na subordinação ao sentido superior da organização<br />
26
social. Um país não é apenas um conglom<strong>era</strong>do de indivíduos<br />
dentro de um trecho de território, mas, principalmente, a unidade da<br />
raça, a unidade da língua, a unidade do pensamento nacional.<br />
(Muito bem; palmas.)<br />
E preciso, portanto, para a realização desse ideal supremo, que<br />
todos marchem unidos, em ascensão prodigiosa, heróica e vibrante,<br />
no sentido da colaboração comum e do esforço homogêneo pela<br />
prosperidade e pela grandeza do Brasil! (Muito bem, muito bem;<br />
aplausos vibrantes.) 8<br />
Durante o Estado Novo, o governo entendeu também que a pobreza <strong>era</strong> um<br />
problema que entravava o desenvolvimento nacional, estando associada à<br />
ignorância e à doença. Dessa forma, houve a compreensão da necessidade de<br />
políticas públicas que enfrentassem esses problemas, elevando a condição social<br />
do trabalhador brasileiro, tornando-o um “homem novo”.<br />
Promover o homem brasileiro, defender o desenvolvimento<br />
econômico e a paz social do país <strong>era</strong>m objetivos que se unificavam<br />
em uma mesma e grande meta: transformar o homem em<br />
cidadão/trabalhador, responsável por sua riqueza individual e<br />
também pela riqueza do conjunto da nação. (GOMES, 1999, p. 55)<br />
Partindo do princípio de que o trabalho <strong>era</strong> civilizador, ele deveria ser<br />
humanizado e apresentado ao trabalhador como o meio fundamental de melhorar<br />
sua condição social. Ao mesmo tempo em que o Estado utilizava o controle dos<br />
meios de comunicação para veicular esse discurso, por outro lado decretava<br />
progressivamente uma legislação trabalhista, que, comparando com a situação da<br />
República Velha, continha avanços bastante significativos.<br />
Juntamente com a legislação trabalhista, complementavam as políticas<br />
públicas para a transformação do homem brasileiro em “cidadão-trabalhador”, os<br />
investimentos na medicina social, na educação e nas habitações populares. . Não<br />
por acaso uma das inovações da Era Vargas foi a criação do Ministério da<br />
Educação e Saúde, fundindo duas áreas que, acreditava-se, estavam intimamente<br />
relacionadas.<br />
No próprio interesse do progresso do país, deviam-se<br />
vincular estreitamente as legislações social e sanitária, já que o<br />
8 VARGAS. Getúlio. Discurso no Palácio Guanabara, 1º de maio de 1938. Citado em Biblioteca da<br />
Presidência da República, acessado através de www2.gestao.presidencia.serpro.gov.br/areapresidencia/pasta.2008-10-08.1857594057/pasta.2008-10-08.9262201718/pasta.2008-12-<br />
17.8067491282/pasta.2009-08-04.8476074125/07.pdf, em 13/março/2010.<br />
27
objetivo de ambas <strong>era</strong> construir trabalhadores fortes e sãos, com<br />
capacidade produtiva ampliada. (GOMES, 1999, p. 60)<br />
Isso não significa que o governo deve ser isentado de utilizar meios de<br />
coerção e propaganda para se legitimar junto à sociedade e particularmente aos<br />
trabalhadores.<br />
...Por outro lado, a produção de uma ideologia política, ao<br />
mesmo tempo que atinge a finalidade de articulação de informações<br />
e ideais legitimadores — o que se garante por sua função de<br />
propaganda —, assume conotação repressiva, na medida em que<br />
exclui e combate a veiculação de mensagens anti-regime — o que<br />
se verifica por sua função de censura.<br />
Assim, tanto as regras legais como a ideologia política<br />
podem ser pensadas como mecanismos organizadores do<br />
consentimento e controladores do conflito social, através de formas<br />
diferenciadas do exercício da coesão e da coerção. Suas relações<br />
precisam ser percebidas para que a própria configuração de um<br />
projeto político seja captada mais perfeitamente dentro de<br />
determinada conjuntura. (GOMES, 1999, p. 56)<br />
Por tudo o que foi exposto, considero mais correto e melhor relacionado ao<br />
meu objeto conceituar a ideologia oficial da Era Vargas como trabalhismo,<br />
envolvendo ao mesmo tempo coerção e consenso com a classe trabalhadora. Não<br />
há dúvidas quanto ao caráter autoritário do regime, assim como não podemos negar<br />
que demandas importantes da classe trabalhadora pela primeira vez no Brasil foram<br />
colocadas na ordem do dia.<br />
***<br />
Portanto, no que se refere ao contexto histórico da Era Vargas (1930-1945)<br />
nossa pesquisa se orienta pelos seguintes princípios:<br />
1 – A Era Vargas representou uma retomada do projeto positivista do início<br />
da República, pretendendo modificar estruturalmente o país e alcançando o<br />
PROGRESSO econômico, deixado de lado durante a República Oligárquica.<br />
2 – Fazia parte dessa concepção de progresso o atendimento das demandas<br />
da classe trabalhadora, na medida em que essa classe <strong>era</strong> consid<strong>era</strong>da um ator<br />
fundamental, juntamente com a indústria, para o desenvolvimento econômico.<br />
28
Passou a época dos lib<strong>era</strong>lismos imprevidentes, das<br />
democracias estéreis, dos personalismos inúteis e semeadores da<br />
desordem. À democracia política substitui a democracia econômica,<br />
em que o poder, emanado diretamente do povo e instituído para<br />
defesa do seu interesse, organiza o trabalho, fonte do<br />
engrandecimento nacional e não meio de fortunas privadas. Não há<br />
mais lugar para regimes fundados em privilégios e distinções;<br />
subsistem, somente, os que incorporam toda a Nação nos mesmos<br />
deveres e oferecem, eqüitativamente, justiça social e oportunidades<br />
na luta pela vida.<br />
(Discurso de Getúlio Vargas, proferido a 11 de junho de 1940, citado<br />
em Getúlio Vargas, As Diretrizes da Nova Política do Brasil, Rio de<br />
Janeiro, José Olímpio, s/d)<br />
3 – O apoio da classe trabalhadora ao governo não deve ser entendido<br />
apenas como uma m<strong>era</strong> manipulação, mas também como uma atitude pragmática<br />
diante de um governo com o qual ela em grande parte se identificava por ter<br />
encaminhado a solução de problemas sociais que tradicionalmente estiv<strong>era</strong>m<br />
relegados ao esquecimento pelas autoridades.<br />
4 – Para alcançar o progresso, o governo estabeleceu diversos mecanismos<br />
garantidores da ORDEM, como construção de um eficiente aparato repressivo<br />
policial, mas também através da manipulação da sociedade através da censura e da<br />
repressão.<br />
5 – As ações de Getúlio Vargas no poder demonstram uma linha de<br />
coerência com a sua formação política positivista desde a juventude no Rio Grande<br />
do Sul.<br />
Foi nesse contexto que os arquitetos modernos, mais especificamente sua<br />
vertente “carioca”, encontraram espaços dentro da administração pública para se<br />
projetarem e aos poucos conquistarem a hegemonia p<strong>era</strong>nte outras correntes.<br />
Porém, apesar de se apresentassem como um grupo de vanguarda disposto a<br />
colocar a <strong>arquitetura</strong> a serviço de uma sociedade mais justa e democrática, veremos<br />
que na prática esse projeto incorreu em fortes contradições, embora a nova<br />
linguagem trazida por sua <strong>arquitetura</strong> exerça forte influência até a atualidade.<br />
29
CAPÍTULO 2 – A ARQUITETURA MODERNA<br />
2.1) A origem e a ascensão da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong><br />
a nova <strong>arquitetura</strong> se converte... em um ponto de chegada<br />
que sup<strong>era</strong> todas as buscas anteriores, as das vanguardas e a do<br />
neocolonial, ambas representativas, para [Lucio] Costa, de<br />
realidades parciais do Brasil que agora se deseja uno,<br />
materializando na <strong>arquitetura</strong> uma velha aspiração dos intelectuais<br />
recém-compartilhada, a partir de 1930, pelo Estado: a construção da<br />
identidade nacional capaz de romper com o particularismo dos<br />
poderes regionais da República Velha. (GORELIK, 2005, p. 45)<br />
No início da década de 1930, havia em alguns setores políticos e intelectuais<br />
um sentimento de que o Brasil <strong>era</strong> um país com uma nação ainda por construir, um<br />
Brasil sem identidade nacional. Ainda no século XIX, o professor de Botânica<br />
Auguste de Saint-Hilaire tinha chegado a mesma conclusão, quando, entre 1816 e<br />
1822, percorreu os territórios dos atuais estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo,<br />
Minas G<strong>era</strong>is, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em<br />
um de seus livros observou que “...havia um país chamado Brasil; mas<br />
absolutamente não havia brasileiros...” (SAINT-HILAIRE ,1974, p. 213).<br />
Esse mesmo sentimento também <strong>era</strong> compartilhado pelos mesmos setores<br />
em outros países latino-americanos. Ernesto Sabato, em seu romance Sobre<br />
héroes y tumbas, ambientado em Buenos Aires, o expressa através de um dos<br />
seus personagens:<br />
...nossa desgraça <strong>era</strong> que não tínhamos terminado de construir uma<br />
nação quando o mundo onde ela se originara começou a rachar e<br />
depois a desmoronar, de modo que aqui não tínhamos nem sequer<br />
esse simulacro de eternidade que na Europa, ou no México, ou em<br />
Cuzco, são as pedras milenares. Aqui... não somos Europa nem<br />
América, mas uma região fraturada, um lugar de fratura e<br />
dilac<strong>era</strong>ção instável, trágico e transtornado. De modo que aqui tudo<br />
<strong>era</strong> mais transitório e frágil, não havia nada sólido em que se<br />
agarrar, o homem parecia mais mortal, e sua condição, mais<br />
efêm<strong>era</strong>. (SABATO, 2002, p. 309).<br />
A <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> começou a se constituir e se afirmar no Brasil na<br />
década de 1930, paralelamente à revolução de 1930 e aos anos da Era Vargas<br />
(1930-1945), quando o regime então instaurado pretendia sup<strong>era</strong>r o “atraso” da<br />
30
economia nacional com um arrojado conjunto de reformas dirigidas pelo Estado,<br />
como vimos no capítulo anterior. Por outro lado, o novo regime também consid<strong>era</strong>va<br />
como parte integrante e essencial desse projeto de desenvolvimento, a construção<br />
de um sentimento de unidade nacional, buscando assim criar uma identidade entre<br />
a sociedade e o modelo econômico nacionalista. Para alcançar esses objetivos, o<br />
governo investiu fortemente nos meios de comunicação, especialmente no rádio,<br />
além de apoiar manifestações culturais que exaltassem o Brasil e os brasileiros 9 .<br />
Essa preocupação com a identidade nacional <strong>era</strong> partilhada com setores do<br />
meio intelectual e acadêmico que se projetavam naqueles anos. Nas décadas de<br />
1930 e 1940, intelectuais com formações teóricas distintas se debruçaram sobre o<br />
tema, o que resultou em algumas obras que são referências até os adias atuais:<br />
Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil (1936), de<br />
Sérgio Buarque de Holanda; Formação do Brasil Contemporâneo (1942), de Caio<br />
Prado Júnior<br />
O movimento de surgimento e ascensão da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> teve como<br />
marco inicial a nomeação de Lúcio Costa como diretor da Escola Nacional de Belas<br />
Artes (ENBA), em 1930 pelo então Ministro da Educação e Saúde, Francisco<br />
Campos. Em entrevista concedida em dezembro daquele ano, Lúcio Costa<br />
anunciava claramente seus objetivos:<br />
Embora julgue imprescindível uma reforma em toda a Escola,<br />
aliás, como é pensamento do governo, vamos falar um pouco de<br />
<strong>arquitetura</strong>. Acho que o curso de <strong>arquitetura</strong> necessita uma<br />
transformação radical. Não é só o curso em si, mas os programas<br />
das respectivas cadeiras e principalmente a orientação g<strong>era</strong>l do<br />
ensino. A atual é absolutamente falha. A divergência entre a<br />
<strong>arquitetura</strong> e a estrutura, a construção propriamente dita, tem<br />
tomado proporções simplesmente alarmantes. Em todas as épocas<br />
as formas estéticas e estruturais se identificam... Fazemos<br />
cenografia, “estilo”, arqueologia, fazemos casas espanholas de<br />
terceira mão, miniaturas de castelos medievais, falsos coloniais,<br />
tudo, menos <strong>arquitetura</strong>. (AZEVEDO, 2003, p. 3).<br />
9 Uma das manifestações culturais surgidas naqueles anos que alcançou grande popularidade foi o<br />
“samba-exaltação”, gênero musical que se caracterizava pelo ufanismo, exaltando as qualidades do<br />
país e do seu povo. O principal representante desse estilo foi Ary Barroso que em 1939 compôs<br />
“Aquarela do Brasil”, a canção mais simbólica desse estilo, apresentada pela primeira vez no musical<br />
Joujoux e balangandans, espetáculo beneficente patrocinado por Darcy Vargas, a então primeiradama.<br />
31
Para acel<strong>era</strong>r a renovação do ensino de <strong>arquitetura</strong> na ENBA, Lúcio Costa<br />
contratou novos professores identificados com esse projeto, destacando-se Gregori<br />
Warchavchik, precursor do modernismo em São Paulo, Attílio Correa Lima, recém-<br />
chegado do doutoramento no IUP de Paris, que introduziu a disciplina urbanismo no<br />
curso e Affonso Eduardo Reidy, ocupando a cadeira de Composição de Arquitetura<br />
(AZEVEDO, 2003, p. 3).<br />
A renovação no ensino de <strong>arquitetura</strong> provocou reações e<br />
descontentamentos no corpo docente da Escola, onde predominavam duas outras<br />
correntes: os acadêmicos, adeptos dos estilos neoclássico e eclético, e os<br />
neocoloniais ou tradicionalistas. José Mariano Filho, defensor do estilo<br />
neocolonial e antecessor de Lúcio Costa na ENBA, articulou junto à reitoria sua<br />
demissão depois de um período de nove meses (8 de dezembro de 1930 a 18 de<br />
setembro de 1931) no cargo. Entretanto, as bases da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> estavam<br />
lançadas recebendo ampla aceitação entre os alunos naquele período - prova disso<br />
foi a greve estudantil que se seguiu à demissão de Lúcio Costa -, e, nos anos<br />
seguintes, pouco a pouco os modernos foram ganhando hegemonia p<strong>era</strong>nte seus<br />
adversários.<br />
Esse período coincide com uma valorização profissional crescente dos<br />
arquitetos. Em 11 de dezembro de 1933, pelo Decreto-Lei nº 23.569 da Presidência<br />
da República a profissão de arquiteto foi regulamentada. Entre 1930 e 1939 o<br />
número de formandos na ENBA atingiu trezentos e quarenta e quatro, um<br />
crescimento altamente significativo se levarmos em conta que os formandos entre<br />
1890 e 1900 foram apenas três, e entre 1901 e 1929, trinta e sete.<br />
Em 1932, Affonso Eduardo Reidy tornou-se arquiteto-chefe da Diretoria de<br />
Engenharia da prefeitura do Distrito Fed<strong>era</strong>l, projetando inúmeros edifícios públicos<br />
de linhas <strong>moderna</strong>s como o edifício-sede da Polícia Municipal do Distrito Fed<strong>era</strong>l e<br />
o Albergue da Boa Vontade. Em Pernambuco, o mineiro Luiz Carlos Nunes de<br />
Souza, líder da greve contra o afastamento de Lucio Costa da Direção da ENBA,<br />
esteve à frente da Secretaria de Obras Públicas a partir de 1934, durante o governo<br />
de Carlos de Lima Cavalcanti.<br />
Entretanto, o passo decisivo para a conquista dessa hegemonia foi a<br />
nomeação de Gustavo Capanema para o Ministério da Educação e Saúde, em julho<br />
32
de 1934, fazendo deste órgão do governo a porta de entrada para diversos<br />
intelectuais alinhados com as propostas inovadoras do modernismo. Assessorado<br />
por seu chefe de gabinete, o poeta Carlos Drummond de Andrade, cercou-se de<br />
uma equipe diversificada, integrada, entre outros, por Mário de Andrade, Cândido<br />
Portinari, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Cecília Meireles, Vinícius de Morais,<br />
Afonso Arinos de Melo Franco e Rodrigo Melo Franco de Andrade.<br />
O Ministério da Educação e Saúde preocupava-se não apenas com a<br />
educação, mas principalmente, com a formação desse novo homem que pretendia<br />
moldar, adotando uma séria de iniciativas que iam ao encontro das preocupações<br />
nacionalistas do governo.<br />
Era preciso “elevar” o nível das camadas populares, sendo<br />
necessário para isso “desenvolver a alta cultura do país, sua arte,<br />
sua música, suas letras”. Órgãos oficiais como a revista Cultura<br />
Política veiculavam artigos insistindo na inexistência de um povo<br />
brasileiro e na premência de forjá-lo. Para a gigantesca tarefa de<br />
formar a nacionalidade, necessário seria tornar o país homogêneo,<br />
aplainando as distinções regionais e raciais que distinguiriam,<br />
negativamente, o Brasil. (CAVALCANTI, 1999, p. 180).<br />
Em artigo onde compara a atuação dos intelectuais nos governos de Juan<br />
Domingo Perón e Getúlio Vargas, FIORUCCI (2004) destaca as inúm<strong>era</strong>s<br />
realizações ocorridas quando o líder brasileiro decidiu “convidá-los” a participar da<br />
construção do seu projeto de nação, através do ministro Capanema: a inauguração<br />
dos Museus Nacional de Belas Artes, Imperial, da Inconfidência; o Serviço de<br />
Radiodifusão Educativa; o Instituto Cayru (depois Instituto do Livro) e o Instituto de<br />
Cinema Educativo. Também foram reformadas a Biblioteca Nacional, a Casa Rui<br />
Barbosa e o Museu Histórico Nacional.<br />
Aproveitando a oportunidade, os arquitetos modernos foram conquistando<br />
cada vez mais espaço e influência, o que pode ser comprovado pelo fato de que<br />
inúm<strong>era</strong>s edificações estatais foram erguidas com base em seus projetos, como o<br />
Aeroporto Santos Dumont, a nova sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI),<br />
a Estação de Hidros e, especialmente, do Ministério da Educação e Saúde. Ao<br />
mesmo tempo sua ação se estendeu à abertura das largas avenidas e aterros,<br />
demolindo quadras e criando novos espaços que modificaram substancialmente a<br />
feição da cidade.<br />
33
FIGURA 1<br />
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA (1936)<br />
Extraído de www.almanaquedacomunicacao.com.br, em agosto de 2010<br />
FIGURA 2<br />
AEROPORTO SANTOS DUMONT (1938)<br />
Extraído de www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
Nesse aspecto, encontramos uma especificidade da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> no<br />
Brasil, na medida em que esta se afirma principalmente através de encomendas<br />
estatais, ao contrário do ocorrido na Europa. Assim, não foi por acaso que alguns<br />
34
arquitetos europeus, sem oportunidades em um continente afetado pela crise<br />
econômica do período entre-guerras, manifestaram interesse em trabalhar no Brasil,<br />
onde se abria uma espécie de mercado de obras públicas (CAVALCANTI, 2006, p.<br />
46).<br />
Outra demonstração da supremacia dos arquitetos modernos ocorreu quando<br />
em 1937 o grupo foi convidado para fundar e dirigir o Serviço de Patrimônio<br />
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O controle desse órgão teve uma<br />
importância estratégica na medida em que o grupo passaria a ter poder de decisão<br />
sobre o que deveria ser preservado e sacralizado e o que poderia ser removido.<br />
Em 1936, com a escolha para a construção da sede do MES<br />
e para constituírem a equipe do Serviço do Patrimônio Histórico e<br />
Artístico Nacional, logram os modernos serem consid<strong>era</strong>dos os mais<br />
aptos a erigir os novos monumentos do Estado, assim como são<br />
consid<strong>era</strong>dos “dignos” pelo Estado para tornarem “digna”, em seu<br />
nome, a produção do passado que será por ele protegida para a<br />
posteridade. Na implantação do “modernismo” como dominante de<br />
uma política cultural, conseguem realizar o sonho de todo<br />
revolucionário: deter as rédeas da edificação do futuro e da<br />
reconstrução do passado... (CAVALCANTI, 1999, p. 182).<br />
Durante a Era Vargas, como já assinalamos, o Estado pretendia alavancar o<br />
desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo construir um sentimento de unidade<br />
nacional. Os arquitetos modernos acreditaram que seus princípios de vanguarda<br />
adequavam-se a esses objetivos, mas foram além, pretendendo com seus projetos<br />
construir uma sociedade mais justa e democrática.<br />
Aproveitando as oportunidades criadas pelo governo com as inúm<strong>era</strong>s obras<br />
públicas, criaram monumentos que projetavam o futuro, e, ao controlarem a direção<br />
do SPHAN, também selecionavam o que deveria ser conservado como parte<br />
integrante da memória nacional. Detinham, em aliança com o governo, os<br />
instrumentos de construção da memória, da identidade e do projeto, como assinala<br />
Gilberto Velho (VELHO: 2003, p. 97-105).<br />
O projeto e a memória associam-se e articulam-se ao dar<br />
significado à vida e às ações dos indivíduos, em outros termos, à<br />
própria identidade. Ou seja, na constituição da identidade social<br />
dos indivíduos, com particular ênfase nas sociedades e segmentos<br />
individualistas, a memória e o projeto individuais são amarras<br />
fundamentais. São visões retrospectivas e prospectivas que situam<br />
35
o indivíduo, suas motivações e o significado de suas ações, dentro<br />
de uma conjuntura de vida, na sucessão das etapas de sua<br />
trajetória. (VELHO, 2003, p. 101)<br />
Ao controlarem o SPHAN, com o firme apoio de Gustavo Capanema, o órgão<br />
passou a ter uma ação ao mesmo tempo dinâmica e inovadora. Isso pode ser<br />
constatado quando observa-se a política de preservação em outros países no<br />
mesmo período, quando os bens culturais <strong>era</strong>m tratados isoladamente<br />
(monumentos, museus, arte popular etc.). No Brasil, pelo contrário, buscava-se<br />
sempre tratá-la de forma ampla, abrangendo os diversos bens culturais em conjunto<br />
(FONSECA, 2005, p. 118-119). Além disso, enquanto em outros países os<br />
responsáveis pela preservação normalmente <strong>era</strong>m escolhidos entre intelectuais<br />
identificados com uma concepção nostálgica e conservadora da cultura, no Brasil os<br />
modernos sempre buscavam fundamentar seus pareceres após rigorosos estudos<br />
técnicos e históricos, almejando a criação de um elo entre a tradição e a<br />
modernidade.<br />
(...) para muitas pessoas menos informadas, cabe ao Serviço<br />
de Patrimônio apenas a restauração de obras históricas. Daí as<br />
freqüentes acusações que recebemos, quando um prédio de<br />
reconhecido valor histórico tem a aparência de um “pardieiro” (esta é<br />
a expressão mais comumente usada por aqueles que nos<br />
censuraram). Mas não é a aparência que importa. Ao contrário, o<br />
mais importante é a conservação da integridade do monumento, isto<br />
é, a proteção das características primitivas, do ambiente adequado.<br />
(ANDRADE, 1987, p. 39)<br />
Não por acaso, seus maiores opositores <strong>era</strong>m personalidades com um perfil<br />
ultraconservador, como Gustavo Barroso e José Mariano Filho, de quem voltaremos<br />
a comentar mais à frente.<br />
Fica claro, portanto, que na década de 1930 a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> se<br />
consolidou como o estilo hegemônico. Mas, que razões explicariam essa ascensão<br />
tão rápida em detrimento de outras correntes que até então gozavam de grande<br />
influência? Antes da resposta, vejamos com mais detalhes as principais correntes<br />
opositoras dos modernos.<br />
O grupo dos acadêmicos, defensores do estilo eclético, viveu seu apogeu na<br />
primeira década do século XX, especialmente durante a abertura da Avenida<br />
Central, inaugurada em 15 de novembro de 1905. Naquele tempo, em que<br />
36
pretendia-se transformar o Rio de Janeiro em uma Paris nos trópicos, o estilo<br />
eclético pareceu mais adequado para equiparar a capital do Brasil à capital da<br />
França. Mais que isso, a capital, porta de entrada do país, transmitiria a todos,<br />
especialmente aos estrangeiros, uma nova imagem do Brasil, culto e civilizado,<br />
libertado do passado colonial que simbolizaria o atraso.<br />
Uma prova incontestável do predomínio dos acadêmicos ocorreu quando foi<br />
lançado o concurso público para as edificações da nova avenida, ficando a disputa<br />
restrita aos arquitetos-engenheiros formados pela ENBA, onde os acadêmicos<br />
desfrutavam de ampla hegemonia, que perduraria mais alguns anos.<br />
FIGURAS 3 e 4<br />
A AVENIDA CENTRAL NA DÉCADA DE 1920<br />
Extraídasde www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
Na década seguinte, começou a se fortalecer outra corrente, os neocoloniais<br />
ou tradicionalistas, especialmente quando José Mariano Filho assumiu a direção<br />
da ENBA. Embora não fosse engenheiro ou arquiteto por formação, tornou-se uma<br />
espécie de mecenas, utilizando sua fortuna pessoal para patrocinar os estudos dos<br />
jovens arquitetos e propagar o seu estilo. Lucio Costa, antes da conversão ao<br />
modernismo, foi um dos que se beneficiou de sua ajuda (CAVALCANTI, 1999, p.<br />
180).<br />
O grupo neocolonial começou a ganhar evidência em 1922, quando foi<br />
realizada a Exposição Internacional do Centenário da Independência, quando<br />
executaram vários projetos para as edificações construídas especialmente para o<br />
37
evento, que pretendia transmitir aos brasileiros e ao mundo mais uma vez a imagem<br />
de um país em sintonia com o progresso, porém orgulhoso de sua cultura e<br />
criatividade.<br />
A Exposição não teria somente o caráter de uma vitrine<br />
dupla, onde os visitantes do exterior conheceriam a riqueza e as<br />
potencialidades do país e onde os brasileiros teriam a oportunidade<br />
de tomar contato com as maravilhas do estrangeiro; o espaço<br />
tomado ao mar e ao Castelo deveria ser também um espelho, onde<br />
a cidade e a nação pudessem buscar a imagem que<br />
verdadeiramente queriam e deveriam projetar, a imagem do<br />
progresso, da civilização, da higiene e da beleza. (KESSEL, 2001,<br />
p. 61)<br />
Naquele evento, o governo inspirou-se nas Exposições Universais da<br />
segunda metade do século XIX, onde a <strong>arquitetura</strong> desempenhou um papel<br />
fundamental na criação de cenários monumentais, sendo um dos fatores<br />
fundamentais de atração e de sucesso destes eventos. Símbolos de progresso e<br />
modernidade, as exposições buscavam mostrar a ousadia das novas tecnologias.<br />
Na exposição brasileira, o ecletismo europeu continuava presente, mas<br />
dividiria espaço com as manifestações em busca das raízes nacionais, através do<br />
movimento neocolonial 10 . Nesse ponto, é importante lembrar que o nacionalismo<br />
ganhava ímpeto na Europa, especialmente com a ascensão de Benito Mussolini na<br />
Itália, cujas idéias despertavam a admiração em uma parte importante do meio<br />
artístico, intelectual e político no Brasil.<br />
A exposição ocorreu no último ano da presidência de Epitácio Pessoa, que<br />
não escondia sua admiração pelo líder fascista italiano, como podemos observar no<br />
trecho da entrevista concedida por ele ao jornal Il Popolo d’Italia no final de 1922,<br />
quando já havia deixado a presidência:<br />
...a personalidade energica e voluntariosa do Presidente<br />
Mussolini me dispertou profunda sympathia. Admiro e comprehendo<br />
a sua forte concepção de Governo, realizada com vontade inflexível,<br />
que sempre considerei virtude necessaria e inestimável fortuna para<br />
o Governo dos povos, hoje mais que nunca, dado o estado de crise<br />
e de perturbações em que se encontra o mundo inteiro. (ROCHA,<br />
2009, p. 17-18)<br />
10 Dos pavilhões construídos no estilo colonial, o que ganhou mais destaque foi o das Grandes<br />
Indústrias, de Archimedes Memória e F. Cuchet, que atualmente abriga o Museu Histórico Nacional.<br />
38
Apesar de dividir o espaço com o estilo eclético, as edificações neocoloniais<br />
atraíram a atenção das autoridades, obtendo o apoio oficial para se afirmarem nos<br />
anos seguintes. Governo, arquitetos e artistas relacionavam a comemoração da<br />
independência com o surgimento de um símbolo da emancipação artística, como<br />
testemunhou o prefeito Carlos Sampaio:<br />
... [meu] principal objetivo naquela Exposição que consegui<br />
que fosse Internacional foi fazer ver ao Mundo Civilizado não só que<br />
nós tínhamos arquitetos de valor, mas que também tínhamos uma<br />
arte nacional que podia ser devidamente apreciada por nacionais e<br />
estrangeiros... esse objetivo foi atingido... a nossa Exposição, não<br />
envergonhou o nosso país e constituiu uma prova da alta<br />
capacidade e do gosto artístico dos nossos arquitetos. (KESSEL,<br />
2001, p. 61)<br />
FIGURA 5<br />
EXEMPLAR DO ESTILO ECLÉTICO NA EXPOSIÇÃO DE 1922 – PAVILHÃO DE SÃO<br />
PAULO<br />
Extraído de www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
39
FIGURAS 6 e 7<br />
IMAGENS ATUAIS DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, QUE NA EXPOSIÇÃO DE 1922<br />
ABRIGOU O PALÁCIO DAS GRANDES INDÚSTRIAS, CONSTITUINDO-SE EM UM DOS<br />
PRINCIPAIS EXEMPLARES DA ARQUITETURA NEOCOLONIAL.<br />
Extraído de www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
Dessa forma, ao iniciar a década de 1930, os grupos que iriam disputar a<br />
hegemonia no campo da <strong>arquitetura</strong> apresentavam-se da seguinte forma: os<br />
acadêmicos, vivendo um período de decadência, os neocoloniais, fortalecidos com<br />
pelo controle da ENBA, e os modernos, um grupo de jovens arquitetos com sólida<br />
formação técnica e intelectual em busca de espaços e oportunidades para se<br />
projetarem.<br />
Portanto, o principal enfrentamento que se daria nos anos seguintes seria<br />
entre as correntes neocolonial e <strong>moderna</strong>.<br />
Voltemos, então, às razões da vitória dos modernos. Esta ocorreu<br />
principalmente porque sua <strong>arquitetura</strong> adequava-se ao projeto de nação proposto<br />
durante a Era Vargas e também pela sua formação teórica e técnica superior aos<br />
seus opositores.<br />
Ao elaborarem projetos para a edificação de ministérios e órgãos públicos,<br />
eles se apresentavam adequados ao modelo econômico que se pretendia implantar,<br />
articulando indústria e nacionalismo. Influenciados pelo arquiteto franco suíço Le<br />
Corbusier, mas desenvolvendo uma linguagem própria, planejavam seus prédios<br />
como indústrias: pragmáticos, austeros, funcionais e racionais.<br />
A eliminação de ornamentos desnecessários e a simplicidade do mobiliário<br />
também cumpria uma função social ao reduzir a necessidade de empregados<br />
40
encarregados da faxina, disponibilizando mão-de-obra para as tarefas intelectuais e<br />
produtivas mais adequadas à <strong>era</strong> da industrialização, símbolo do progresso.<br />
Os arquitetos modernos relacionavam os “trabalhos domésticos” à<br />
escravidão, maior símbolo da opressão social e do atraso econômico. Lúcio Costa<br />
consid<strong>era</strong>va a casa <strong>moderna</strong> um instrumento de lib<strong>era</strong>ção dos trabalhadores:<br />
A máquina de morar ao tempo da Colônia dependia do<br />
escravo... O negro <strong>era</strong> esgoto, <strong>era</strong> água corrente quente e fria; <strong>era</strong><br />
interruptor de luz e botão de campainha. (CAVALCANTI, 2006, p.<br />
14)<br />
As críticas mais duras aos seus projetos partiram dos representantes da<br />
corrente neocolonial, especialmente José Mariano Filho, que, na ausência de<br />
argumentos técnicos bem fundamentados, suas críticas foram deslocadas do campo<br />
da <strong>arquitetura</strong> para o político-ideológico e até racial, referindo-se aos modernos<br />
como “lit<strong>era</strong>tos extremistas”, “derrotistas universais”, “judeus sem pátria”,<br />
“antinacionalistas mulatos” (CAVALCANTI, 2006, p. 103).<br />
Por outro lado, a criação do SPHAN esvaziou a Inspetoria de Monumentos<br />
Nacionais do Museu Histórico Nacional,dirigido por Gustavo Dodt Barroso, antigo<br />
militante integralista e defensor entusiástico do arianismo:<br />
Pode-se dizer que o característico moral da raça branca é o<br />
altruísmo. Daí sua monogamia quase g<strong>era</strong>l,sua sociabilidade e sua<br />
vocação para os apostolados... Com essa força, a raça ariana, cujo<br />
símbolo será o Carneiro, Áries, motivo heráldico determinado por<br />
motivos astronômicos, entrará na História e construirá o maior dos<br />
Impérios, não sobre o sangue e as angústias dos povos esmagados<br />
mas sobre as bases eternas do Espírito. (CAVALCANTI, 2006, p.<br />
100)<br />
Gustavo Barroso e José Mariano Filho uniram-se na crítica à gestão dos<br />
modernos no SPHAN com o argumento, sem nenhuma prova concreta, de supostas<br />
irregularidades na gestão dos recursos públicos. Mais uma vez, ficava demonstrada<br />
a ausência de argumentos técnicos diante de rigorosos e abrangentes trabalhos de<br />
pesquisa realizados pelos modernos, organizados especialmente por Mário de<br />
Andrade. Como assinalou Ítalo Campofiorito:<br />
Vê-se logo que o nacionalismo é outro. Escolhendo-se, entre<br />
tantos, um volume referente a 1942, dos Anais do Museu Histórico<br />
41
Nacional, basta percorrer os títulos. A heráldica dos Vice-Reis. A<br />
louça blasonada (dos barões, Condes, Marqueses etc.) no museu.<br />
O culto da Virgem Maria na numismática, e daí por diante... A sua<br />
fundação em 1922 teria respondido a um artigo de Gustavo Barroso,<br />
empossado como primeiro (e quase vitalício) diretor que rezava: ‘ O<br />
Brasil precisa de um museu onde se guardem objetos gloriosos... –<br />
espadas, canhões, lanças.’ O mesmo autor, no mesmo volume,<br />
consid<strong>era</strong> como uma das tarefas de nossas forças armadas ‘destruir<br />
focos de fanatismo e desordem’. Em comparação, já se vê o quanto<br />
o SPHAN <strong>era</strong> aberto e progressista. (CAMPOFIORITO, 1985, p. 6).<br />
A materialização de inúmeros projetos dos arquitetos modernos durante a Era<br />
Vargas, como veremos com mais detalhes no próximo capítulo, assim como a<br />
permanência de Lúcio Costa no SPHAN até sua aposentadoria em 1972, atestam a<br />
hegemonia conquistada pelo grupo, cuja influência será marcante na formação de<br />
várias g<strong>era</strong>ções de arquitetos.<br />
42
2.2) A <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e a monumentalidade<br />
Em seu trabalho Documento/Monumento, Jacques Le Goff aponta as<br />
origens etimológicas dessas duas palavras e mostra as maneiras como os<br />
historiadores têm usado esses conceitos:<br />
A palavra latina monumentum remete para a raiz indoeuropéia<br />
men, que exprime uma das funções essenciais do espírito<br />
(mens), a memória (memini). O verbo monere significa “fazer<br />
recordar”, donde “avisar”, “iluminar”, “instruir”. O monumentum é um<br />
sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o<br />
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a<br />
recordação, por exemplo, os actos escritos. Quando Cícero fala dos<br />
monumenta hujus ordinis[...], designa os atos comemorativos,<br />
quer dizer; os decretos do senado. Mas desde a Antiguidade<br />
romana o monumentum tende a especializar-se em dois sentidos:<br />
1) uma obra comemorativa de <strong>arquitetura</strong> ou de escultura:<br />
arco de triunfo, coluna, troféu, pórtico, etc.;<br />
2) um monumento funerário destinado a perpetuar a<br />
recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é<br />
particularmente valorizada: a morte. (LE GOFF, 1996, p. 526).<br />
Acompanhando Le Goff, consid<strong>era</strong>mos como monumentos as obras<br />
<strong>arquitetura</strong>is, esculturais, artísticas, mas também documentos escritos e<br />
iconográficos que expressem a atividade e o pensamento social de uma época.<br />
O monumento traz consigo uma determinada intencionalidade, tornando-se<br />
um símbolo para ser ao mesmo tempo registrado pelos testemunhos<br />
contemporâneos como também um legado às g<strong>era</strong>ções futuras.<br />
É essa intencionalidade do monumento que dá origem à monumentalidade.<br />
Se o monumento é algo concreto como uma estátua, um quadro ou uma edificação,<br />
a monumentalidade relaciona-se ao seu caráter abstrato, simbólico, a mensagem<br />
que se deseja transmitir aos contemporâneos e às g<strong>era</strong>ções futuras. Em outras<br />
palavras, o monumento é uma categoria concreta, palpável. Porém, a simbologia, a<br />
mensagem nele embutida, é o que consid<strong>era</strong>mos como monumentalidade. Por isso,<br />
ele nunca é neutro:<br />
...É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem,<br />
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que<br />
o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais<br />
continuou a viver; talvez esquecido, durante as quais continuou a<br />
ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento e uma coisa<br />
que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento [...] que ele traz<br />
43
devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu<br />
significado aparente. O documento é monumento. Resulta do<br />
esforço das sociedades históricas para impor ao futuro voluntária ou<br />
involuntariamente determinada imagem de si próprias... (LE GOFF,<br />
1996, p. 537-538)<br />
Ao longo da História monumentos foram erguidos como transmissores de<br />
ideologias dominantes. Monumentos, configurados sobretudo em obras<br />
arquitetônicas ou esculturais, falam por uma minoria, especialmente pelo grupo que<br />
dirige o Estado, para uma maioria dominada, da qual se esp<strong>era</strong> como resposta o<br />
respeito, a admiração, a fé e até o medo. É a afirmação do poder por intermédio da<br />
<strong>arquitetura</strong>.<br />
Tomando como referência Jacob Burckhardt, Aldo Rossi destaca o diálogo<br />
entre a história, a arte e os monumentos:<br />
...de que modo a história fala mediante a arte? Isso<br />
acontece, antes de mais nada, através dos monumentos<br />
arquitetônicos que são a expressão voluntária do poder, seja em<br />
nome do Estado, seja em nome da religião. (ROSSI, 1995, p. 198)<br />
A íntima relação entre <strong>arquitetura</strong>, espaço e poder também foi estudada pelo<br />
filósofo e professor francês Michel Foulcault:<br />
Seria preciso fazer uma “história dos espaços” ― que seria<br />
ao mesmo tempo uma “história dos poderes” ― que estudasse<br />
desde as grandes estratégias da geopolítica até as pequenas táticas<br />
do habitat, da <strong>arquitetura</strong> institucional, da sala de aula ou da<br />
organização hospitalar; passando pelas implantações econômicopolíticas.<br />
(FOULCAULT, 1982, p. 212)<br />
Sobre a utilização da <strong>arquitetura</strong> por alguma forma de poder instituído,<br />
Foulcault aponta as diferenças qualitativas entre a sociedade estruturada em<br />
relações feudais com a sociedade capitalista. Segundo ele, o poder exercido até o<br />
século XVIII tinha como base principal a relação sob<strong>era</strong>no-súdito, onde o poder<br />
sob<strong>era</strong>no articulava-se com o poder eclesiástico. Naquele tempo, configurou-se<br />
uma <strong>arquitetura</strong> que:<br />
(...) respondia sobretudo à necessidade de manifestar o<br />
poder, a divindade, a força. O palácio e a igreja constituíam as<br />
grandes formas, às quais é preciso acrescentar as fortalezas;<br />
manifestava-se a força, manifestava-se o sob<strong>era</strong>no, manifestava-se<br />
44
Deus. A <strong>arquitetura</strong> durante muito tempo se desenvolveu em torno<br />
destas exigências. (FOULCAULT, 1982, p. 211)<br />
A <strong>arquitetura</strong> monumental daquele tempo foi erguida para transmitir a todos a<br />
representação de dois poderes incontestáveis – o rei absoluto e a Igreja – porque<br />
emanavam da vontade de Deus.<br />
No século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a<br />
afirmação da ordem capitalista promoveu “a invenção de uma nova mecânica de<br />
poder, com procedimentos específicos, instrumentos totalmente novos e aparelhos<br />
bastante diferentes, o que e absolutamente incompatível com as relações de<br />
sob<strong>era</strong>nia” (FOULCAULT, 1982, p. 187). O poder sob<strong>era</strong>no dava lugar a um novo<br />
poder, um poder disciplinar, estruturado não como propriedade ou privilégio pessoal<br />
de um governante ou classe social. A <strong>arquitetura</strong>, acompanhando essas mudanças,<br />
torna-se mais específica, mais funcional, quando “(...) no final do século XVIII.<br />
começa a se especializar, ao se articular com os problemas da população, da<br />
saúde, do urbanismo (...) trata-se de utilizar a organização do espaço para alcançar<br />
objetivos econômico-políticos” (FOULCAULT, 1982, p. 211).<br />
Não por acaso a nova ordem industrial capitalista gerou nos séculos<br />
seguintes as necessidades de uma nova ordenação do espaço urbano, que<br />
garantissem ao mesmo tempo, oportunidades crescentes para os negócios como<br />
também mecanismos de controle sobre a sociedade que assegurassem a segurança<br />
para os investimentos. Esse foi o caso, por exemplo, das grandes reformas urbanas<br />
em Londres e Paris no século XIX.<br />
Em suas origens, na Europa durante a década de 1920, o movimento<br />
moderno na <strong>arquitetura</strong> rejeitava a monumentalidade por considerá-la um<br />
instrumento do poder autoritário, possivelmente por consid<strong>era</strong>r que os monumentos<br />
buscavam transmitir às pessoas uma concepção estática do mundo, sem lugar para<br />
transformações que ameaçassem a estrutura social (CAVALCANTI, 2006, p. 136).<br />
Partindo do princípio de que o monumento no passado foi um instrumento<br />
ideológico conservador, os arquitetos modernos entendiam que seu trabalho<br />
deveria afastar-se das construções dedicadas aos sob<strong>era</strong>nos e a Igreja para serem<br />
dirigidas a outros propósitos sociais, como escolas, fábricas e habitações<br />
populares.<br />
45
Dessa forma, os arquitetos modernos europeus apresentavam um discurso<br />
de rompimento com a <strong>arquitetura</strong> conservadora e repressora do passado, rejeitando<br />
uma possível utilização ideológica ou simbólica de seus projetos, ambicionando<br />
torná-los instrumentos de construção de uma nova <strong>era</strong> de liberdade e progresso<br />
social. Para os modernos, portanto, o monumento e a monumentalidade tornavam-<br />
se coisas do passado, não tendo mais lugar em um mundo onde avançavam as<br />
práticas democráticas e que os interesses coletivos se sobrepunham às ambições<br />
pessoais.<br />
Esse posicionamento começou a ser revisto durante a década de 1930 e foi<br />
aprofundado na década de 1940. Em 1943, o arquiteto José Luis Sert, o historiador<br />
Siegfried Giedon e o pintor Ferdinand Léger lançaram o manifesto intitulado Nove<br />
Pontos sobre a Monumentalidade, defendendo a elaboração de uma nova<br />
monumentalidade para as cidades. Destacamos seis desses pontos:<br />
1. Os monumentos são marcos humanos que os homens<br />
criaram como símbolos de seus ideais, objetivos e atos. Sua<br />
finalidade é sobreviver ao período que lhes deu origem e<br />
constituir um legado às g<strong>era</strong>ções futuras. Enquanto tais,<br />
formam um elo entre o passado e o futuro.<br />
2. Os monumentos são a expressão das mais altas<br />
necessidades culturais do homem. Devem satisfazer à<br />
eterna exigência das pessoas, que desejam ver sua força<br />
coletiva transformada em símbolos. Os monumentos mais<br />
vitais são aqueles que expressam o sentimento e as idéias<br />
dessa força coletiva ― o povo;<br />
3. Os últimos cem anos testemunharam a desvalorização da<br />
monumentalidade. Isto não significa que exista ausência<br />
alguma de monumentos formais ou exemplos arquitetônicos<br />
que pretendam servir a essa finalidade; com raras exceções,<br />
porém, os chamados monumentos dos últimos tempos<br />
transformaram-se em fachadas vazias. De modo algum<br />
representam o espírito e o sentimento coletivo dos tempos<br />
modernos;<br />
4. O declínio e o mau uso da monumentalidade são a principal<br />
razão pela qual os arquitetos modernos delib<strong>era</strong>damente<br />
abandonaram a idéia de monumento e se revoltaram contra<br />
ele;<br />
5. Um novo passo está à nossa frente. As mudanças do pósguerra<br />
em toda a estrutura econômica das nações podem<br />
trazer consigo a organização da vida comunitária na cidade,<br />
que foi praticamente ignorada até o presente momento;<br />
6. As pessoas querem que os edifícios que representam sua<br />
vida social e comunitária proporcionem algo além da m<strong>era</strong><br />
satisfação funcional. Devem atender e expressar os seus<br />
46
desejos por monumentalidade, alegria, orgulho e excitação.<br />
(FRAMPTON, 1997, p. 270)<br />
Ao analisar o documento, podemos observar que para os autores não deveria<br />
existir distinção entre <strong>arquitetura</strong> e urbanismo. Além disso, a nova monumentalidade<br />
(<strong>moderna</strong>) serviria aos interesses comunitários e democráticos, projetando uma<br />
sociedade mais justa no futuro, simbolizando uma força coletiva e popular.<br />
É provável que esse novo sentido à monumentalidade defendido pelos<br />
arquitetos modernos seja uma resposta aos modelos de <strong>arquitetura</strong> praticados na<br />
Itália fascista e na Alemanha nazista, utilizados como instrumentos de poder e de<br />
dominação. Também é possível que eles estivessem preocupados com os impactos<br />
econômicos, sociais e culturais provocados pela II Guerra Mundial (1939-1945),<br />
marcada pela destruição maciça das cidades e pela mortalidade nunca vista antes -<br />
especialmente entre civis - em um conflito militar. Nesse sentido, os autores do<br />
manifesto dão ênfase à questão da identidade e do vínculo do habitante com a<br />
cidade, cuja <strong>arquitetura</strong> deve restabelecer e/ou reforçar o sentimento de<br />
coletividade.<br />
Essa proposta de uma nova monumentalidade foi amplamente aceita pelos<br />
arquitetos modernos no Brasil, e aplicada em inúmeros projetos de moradia coletiva<br />
popular como o do Pedregulho (São Cristóvão, Rio de Janeiro), de Affonso Eduardo<br />
Reidy; Monlevade (MG), de Lucio Costa; e a Cidade dos Motores (Xerém, RJ), de<br />
Attilio Corrêa Lima. 11<br />
Em depoimento a Lauro Cavalcanti em 1989, Oscar Niemeyer assume a<br />
procura da emoção na monumentalidade dos seus projetos:<br />
Uma pessoa pode até não gostar de um projeto meu, mas<br />
não consegue ficar indiferente; a <strong>arquitetura</strong> deve surpreender e<br />
criar emoções. O que nos ficou do Egito não foram as casas do diaa-dia,<br />
mas as grandes realizações. (CAVALCANTI, 2006, p. 226)<br />
Entretanto, a grande contradição dos arquitetos modernos no Brasil na<br />
década de 1930 - quando o movimento estava na fase de afirmação p<strong>era</strong>nte outras<br />
correntes -, foi que para alcançarem seus objetivos, isto é, utilizar a <strong>arquitetura</strong><br />
11 Enquanto o Conjunto do Pedregulho foi concluído e até hoje é bastante estudado nas faculdades<br />
de <strong>arquitetura</strong>, os dois últimos não saíram do papel. Para uma análise desses projetos, consultar:<br />
CAVALCANTI, 2006, p. 134-144.<br />
47
como meio de promover uma sociedade mais justa e democrática, associaram-se a<br />
um regime nada democrático.<br />
Um traço igualmente distintivo do modernismo brasileiro é<br />
que, desde os seus primórdios, ele se constitui com o apoio e o<br />
patrocínio do Estado. Há uma coincidência dos princípios modernos<br />
com os de correntes intelectuais do Ministério da Educação,<br />
encarregadas de estabelecer os parâmetros artísticos de um Estado<br />
que se queria novo e que pretendia “fundar” um país.<br />
(CAVALCANTI, 2006, p. 228)<br />
A principal demonstração dessa contradição está no fato de que sua obra<br />
mais simbólica, o novo edifício do Ministério da Educação e Saúde, que<br />
analisaremos no próximo capítulo, foi construído exatamente durante o Estado<br />
Novo.<br />
Dessa forma, o movimento moderno conquistou progressivamente a<br />
hegemonia no campo da <strong>arquitetura</strong> no final da década de 1930 e durante a década<br />
de 1940 ao construir grandes obras para o Estado Novo. O estilo moderno de fazer<br />
monumentos conseguia conciliar economia, simplicidade e imponência, além de<br />
transmitir às pessoas uma mensagem de confiança no progresso do Brasil.<br />
Estabelecia-se, assim, uma união, no que se refere ao aspecto pedagógico,<br />
entre a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e o discurso estadonovista. Ao mesmo que o governo<br />
buscava impor um modelo de nacionalidade – e de civilização - aos brasileiros, os<br />
arquitetos modernos através dos seus projetos buscaram reeducar os hábitos e criar<br />
uma identidade entre a população e nova estética monumental.<br />
48
CAPÍTULO 3 – OS MONUMENTOS DA ORDEM E DO PROGRESSO<br />
3.1) Os monumentos do Progresso<br />
a) O Ministério da Educação e Saúde<br />
Vitoriosa a revolução de 1930, Getúlio Vargas organizou o novo governo e<br />
tomou uma série de medidas que apontavam seus grandes objetivos a longo prazo:<br />
tornar o Brasil um país moderno e industrializado, constituindo um capitalismo com<br />
forte componente nacionalista.<br />
No entanto, para tal finalidade, o governo entendeu que duas pré-condições<br />
<strong>era</strong>m fundamentais. Em primeiro lugar, na ausência de capital privado forte o<br />
suficiente para levar à frente esse projeto, o Estado assumiria o papel de principal<br />
indutor do desenvolvimento. Para isso, o Estado deveria ser reinventado de forma<br />
que rompesse com os vícios do passado e administração pública passasse a ser<br />
norteada pela qualidade e eficiência tanto na sua estrutura como nos seus quadros<br />
funcionais.<br />
Em segundo lugar, essa busca pela modernização deveria incluir a classe<br />
trabalhadora como agente e beneficiária desse processo. O governo entendeu que<br />
operários saudáveis, tecnicamente preparados e, seguros quanto ao futuro, com o<br />
amparo da legislação trabalhista, iriam aderir com entusiasmo às mudanças pelas<br />
quais o país passaria. Não por acaso, ainda em novembro de 1930, logo no início<br />
do governo, foram criados dois emblemáticos ministérios: o do Trabalho e o da<br />
Educação e Saúde (MES).<br />
O trabalho e a indústria se complementariam representando o presente, o<br />
ponto de partida para o Brasil moderno. Porém, para esse projeto ter continuidade,<br />
<strong>era</strong> necessário cuidar da educação e da saúde das g<strong>era</strong>ções futuras. Portanto, a<br />
educação e a saúde projetariam o futuro, a garantia da caminhada do progresso do<br />
país. Não por acaso, em seu discurso de posse no MES Francisco Campos<br />
afirmava “sanear e educar – eis o primeiro dever da Revolução”. (BUENO, 2005, p.<br />
140)<br />
Inicialmente dirigido por Francisco Campos (1930-1932), o MES sem dúvida<br />
viveu sua fase mais ativa durante a gestão de Gustavo Capanema (1934-1945). A<br />
49
vinculação da educação com o progresso e o futuro, bem como a preocupação com<br />
o novo homem brasileiro que o Estado pretendia moldar fica explícita quando, em<br />
carta ao Presidente Vargas, Capanema afirma que “o Ministério da Educação e<br />
Saúde se destina a preparar, a compor, a aperfeiçoar o homem do Brasil. Ele é<br />
verdadeiramente o Ministério do Homem” (LISSOVSKY e SÁ, 1996, p. 224-225).<br />
Comentamos no capítulo 2 as preocupações do governo e alguns<br />
representantes da elite intelectual do país quanto a inexistência de um sentimento<br />
de nacionalidade entre os brasileiros. Especialmente durante o Estado Novo, o<br />
governo empenhou-se em forjá-lo, acreditando que essa ação <strong>era</strong> parte integrante<br />
do projeto de desenvolvimento em curso no país. Além disso, o desenvolvimento<br />
econômico deveria caminhar ao lado do desenvolvimento intelectual do povo<br />
brasileiro. Portanto, o MES naqueles anos adquiria uma atenção e importância<br />
estratégica para o governo, atuando como “civilizador” da sociedade.<br />
Se a tarefa educativa visava, mais do que a transmissão de<br />
conhecimentos, a formação de mentalidades, <strong>era</strong> natural que as<br />
atividades do ministério se ramificassem por muitas outras esf<strong>era</strong>s,<br />
além da simples reforma do sistema escolar. Era necessário<br />
desenvolver a alta cultura do país, sua arte, sua música, suas letras;<br />
<strong>era</strong> necessário ter uma ação sobre os jovens e sobre as mulheres<br />
que garantisse o compromisso dos primeiros com os valores da<br />
nação que se construía, e o lugar das segundas na preservação de<br />
suas instituições básicas; <strong>era</strong> preciso, finalmente, impedir que a<br />
nacionalidade, ainda em fase tão incipiente de construção, fosse<br />
ameaçada por agentes abertos ou ocultos de outras culturas, outras<br />
ideologias e nações 12 .<br />
Ao entender o MES como instrumento fundamental para a formação do<br />
homem e da nacionalidade, da renovação e da vanguarda, Gustavo Capanema<br />
durante a sua gestão apoiou uma série de ações pedagógicas através da música,<br />
da educação física, cinema, rádio e habitação. Para isso, convidou para integrar ou<br />
participar dos quadros do ministério intelectuais importantes que se projetavam<br />
naquele período, muitos deles claramente identificados com o modernismo 13 .<br />
12<br />
In: http://www.schwartzman.org.br/simon/capanema/capit3.htm#_1_1, acessado em agosto de<br />
2010.<br />
13 Entre os colaboradores com órgãos do MES, estavam Gilberto Freyre, Joaquim Cardoso, Abgar<br />
Renault, Emílio Moura, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Prudente de Morais Neto e Afonso<br />
Arinos de Melo Franco.<br />
50
Porém, para atingir objetivos tão ambiciosos, o ministério necessitava de uma<br />
nova sede, ampla o suficiente para centralizar todos os órgãos que estavam sob<br />
sua direção. O ministério, dessa forma, reproduziria a concepção de administração<br />
pública implantada durante a Era Vargas, especialmente após a instituição do<br />
Estado Novo: a centralização como instrumento da racionalidade, da eficiência e da<br />
modernização.<br />
Inicialmente, a escolha do projeto seria feita através de concurso, cujo edital<br />
foi publicado em 23 de abril de 1935 no Diário Oficial da União e nos principais<br />
jornais da capital. O júri <strong>era</strong> constituído por Eduardo Sousa Aguiar, engenheiro,<br />
superintendente do Setor de Obras e Transportes do MES; Salvador Duque Estrada<br />
Batalha, indicado pelo Instituto Central de Arquitetos; Adolfo Morales de Los Rios<br />
Filho, representado a ENBA; Natal Palladini, engenheiro e representante da Escola<br />
Politécnica da Universidade Técnica Fed<strong>era</strong>l e o Ministro Capanema, na condição<br />
de presidente, com direito a voto somente no caso de desempate (CAVALCANTI,<br />
2006, p. 34).<br />
O concurso foi realizado em duas etapas. A primeira levaria em conta a<br />
adequação dos projetos às posturas municipais. As limitações impostas por elas<br />
levaram à desclassificação de 33 projetos, restando apenas três para a segunda e<br />
última etapa.<br />
Em 1º de outubro de 1935 foi realizada a reunião para a escolha dos<br />
premiados no concurso. Ao final, o projeto vitorioso foi o de Archimedes Memória,<br />
planejando uma “sede misturando estilo neoclássico e elementos decorativos<br />
alusivos a uma fictícia civilização marajoara que teria existido durante a<br />
Antiguidade, na região norte do Brasil” (CAVALCANTI, 2006, p. 40).<br />
Archimedes Memória <strong>era</strong> diretor da ENBA e membro da Câmara dos<br />
Quarenta, órgão máximo da Ação Integralista Brasileira. Seu projeto “marajoara”<br />
guardava coerência com o nacionalismo radical que constava dos princípios<br />
daquela agremiação política, como pode ser comprovados ao observarmos parte<br />
dos seus estatutos, apresentados em 1937 no seu Manifesto-programa às eleições<br />
presidenciais, que não chegaram a acontecer devido ao golpe que instituiu o Estado<br />
Novo:<br />
51
A “Ação Integralista Brasileira”, como sociedade civil, de fins<br />
culturais, objetiva, de uma maneira imediata, de conformidade com<br />
os seus Estatutos:<br />
• a formação de uma consciência nacional de grandeza da Pátria<br />
e dignidade do Homem e da sua Família;<br />
• o desenvolvimento do gosto pelos estudos na mocidade<br />
brasileira, objetivando a criação de uma cultura nacional própria,<br />
nas grandes expressões das atividades intelectuais, como sejam<br />
a filosofia, a ciência, a lit<strong>era</strong>tura, as belas-artes;<br />
• a eugenia da raça, pela prática metodizada do atletismo da<br />
ginástica, dos esportes;<br />
• a assistência social, às mães, às crianças, aos sertanejos e<br />
operários desamparados, assistência essa que não será apenas<br />
material, porque procurará criar uma consciência espiritual e<br />
uma consciência nacional nas massas brasileiras;<br />
• o combate ao comunismo por uma educação sistematizada 14 .<br />
Para Capanema, que desejava um prédio que representasse uma ação<br />
voltada para o futuro e a formação do novo homem brasileiro, o projeto vitorioso<br />
representava exatamente o contrário.<br />
Ainda durante o concurso, ele já demonstrava sua insatisfação com os rumos<br />
que as escolhas caminhavam. Prova disso foi que, na penúltima reunião do júri,<br />
quando seriam classificados para a última etapa os anteprojetos que recebessem<br />
votação igual ou superior a três votos, foi devido ao voto de Capanema que o<br />
projeto de Gérson Pinheiro, único dos concorrentes que possuía - ainda que tímidas<br />
-, feições <strong>moderna</strong>s, conseguiu ser classificado. Ao final, esse projeto ficou em<br />
terceiro lugar.<br />
Decepcionado com resultado final, em 11 de fevereiro de 1936 Capanema<br />
enviou carta ao Presidente Vargas expondo sua opinião acerca da inadequação do<br />
projeto vitorioso e propondo a contratação de Lúcio Costa para a realização de um<br />
novo projeto:<br />
Nenhum desses projetos premiados me parece adequado ao<br />
edifício do Ministério da Educação. Não se pode negar o valor dos<br />
arquitetos premiados. Mas exigências municipais tornaram difícil a<br />
execução de um projeto realmente bom. Julguei de melhor alvitre<br />
mandar fazer novo projeto. Solicito verbalmente a sua autorização.<br />
E pedi à prefeitura municipal que dispensasse as exigências, que<br />
impediam a realização de uma bela obra arquitetônica. Não quis<br />
14 http://integralismope.blogspot.com/2009/12/manifesto-programa-da-aib.html, acessado em agosto<br />
de 2010.<br />
52
abrir novo concurso... Encarreguei, assim, o arquiteto Lucia Costa<br />
da realização do trabalho. Este arquiteto chamou a colaborar<br />
consigo outros arquitetos de valor. E entraram a executar o serviço<br />
que já está bem adiantado. É preciso, porém, que se faça um<br />
contrato de honorários. A proposta feita pelos arquitetos foi julgada<br />
razoável pelo técnico deste Ministério, como consta deste processo.<br />
Venho, pois, solicitar a V Excia. que me autorize a fazer os<br />
contratos, nos termos da minuta junta, salvo uma ou outra alt<strong>era</strong>ção<br />
da data para a entrega do trabalho. (CAVALCANTI, 2006, p. 40)<br />
Para conquistar o aval político, Capanema buscou argumentações técnicas<br />
para rejeitar o projeto vencedor, solicitando pareceres ao embaixador Maurício<br />
Nabuco, ao engenheiro Saturnino de Brito e ao inspetor de engenharia sanitária do<br />
MES, Domingos da Silva Cunha. Todos condenaram o projeto. Este último, em seu<br />
despacho, foi categórico:<br />
Penso que o edifício projetado não deverá ser concluído se o<br />
governo quer, realmente, além de satisfazer perfeitamente às suas<br />
necessidades de administração, possuir uma notável obra de<br />
<strong>arquitetura</strong>, digna de nossa cultura artística. (CAVALCANTI, 2006, p.<br />
41)<br />
Tanto Capanema como Domingos Cunha justificam suas opiniões com<br />
argumentando as necessidades administrativas, mas também a preocupação com a<br />
monumentalidade - “bela obra arquitetônica”; “notável obra de <strong>arquitetura</strong>”.<br />
Todos os argumentos acabaram por convencer o presidente. Em 25 de março<br />
de 1936, Capanema convida oficialmente Lúcio Costa para elaborar o novo projeto.<br />
Em seguida, este procede à formação de uma equipe composta por alguns dos<br />
representantes mais importantes da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> naquele tempo: Affonso<br />
Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer.<br />
Ao receber a notícia de que seu projeto não seria executado, Archimedes<br />
Memória reagiu de forma veemente através de uma carta enviada diretamente ao<br />
Presidente Getúlio Vargas. Destituído de qualquer embasamento técnico, Memória<br />
ataca a equipe convidada apelando com argumentos repletos de preconceitos:<br />
O que acabamos de narrar tem, no presente momento,<br />
gravidade não pequena, em se sabendo que esse arquiteto é sócio<br />
do arquiteto Gregori Warchavchik, judeu russo de atitudes<br />
suspeitas .... Não ignora o sr. ministro da Educação as atividades<br />
do arquiteto Lucio Costa, pois pessoalmente já mencionamos a S.<br />
Excia. vários nomes dos filiados ostensivos à corrente modernista<br />
53
que tem como centro o Club de Arte Moderna, célula comunista<br />
cujos principais objetivos são a agitação no meio artístico e a<br />
anulação de valores reais que não comungam no seu credo. Esses<br />
elementos deletérios se desenvolvem justamente à sombra do<br />
Ministério da Educação, onde têm como patrono e intransigente<br />
defensor o sr. Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete do<br />
ministro. Expondo aos olhos de V. Excia. esses fatos, esp<strong>era</strong>mos<br />
que V. Excia., defendendo o Tesouro Nacional e a honorabilidade<br />
de vosso governo do país, alente a arte nacional que ora atravessa<br />
uma crise dolorosíssima, próxima do desfalecimento.<br />
(CAVALCANTI, 2006, p. 43-44)<br />
Em maio de 1936, Lucio Costa apresentou o primeiro resultado do trabalho<br />
ao ministro e sugere o convite ao arquiteto franco-suíço Le Corbusier para prestar<br />
consultoria ao grupo. Provavelmente acreditava que sua participação no projeto<br />
daria maior legitimidade trabalho. Capanema, então, convidou Lucio Costa para<br />
uma audiência com o Presidente da República para encaminharem a sugestão. Ao<br />
final da reunião, Vargas concordou com os argumentos e autorizou a contratação de<br />
Le Corbusier.<br />
Após ser contactado e examinar o projeto, Corbusier aceitou com entusiasmo<br />
o convite, não só pela admiração que o trabalho lhe causou, mas também por<br />
encontrar nele uma oportunidade que <strong>era</strong> cada vez mais limitada na França durante<br />
o período entre-guerras, onde o campo da <strong>arquitetura</strong> <strong>era</strong> dominado pela tradicional<br />
Escola de Belas Artes, refratária à <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> (CAVALCANTI, 2006, p. 45).<br />
A aproximação de Lucio Costa e outros arquitetos brasileiros com as idéias<br />
de Le Corbusier teve início em 1929, quando arquiteto visitou o Brasil para ministrar<br />
um ciclo de palestras (HARRIS, 1987).<br />
Uma das bases do pensamento de Le Corbusier que atraiu Lucio Costa foi a<br />
proposta de que a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> traduzisse em seu campo uma ruptura com<br />
a sociedade anterior. A modernidade estaria situada na indústria e na máquina, em<br />
oposição ao trabalho artesanal. Le Corbusier defendia que a casa deveria ser uma<br />
“máquina de morar”, com economia e eficiência industriais, eliminando os<br />
ornamentos desnecessários, simplificando e racionalizando as construções. O<br />
arquiteto acreditava que dessa forma o novo estilo aboliria as fronteiras nacionais e<br />
de classes, formando uma comunidade democrática universal (CORBUSIER, 1981).<br />
54
A consultoria de Le Corbusier aliada à sólida formação técnica e intelectual<br />
do grupo, propiciou aos modernos a vitória em um longo embate iniciado em 1935,<br />
ano da realização do concurso de projetos para a nova sede do MES, e concluído<br />
em 1945, data da inauguração no prédio. A sede do MES havia se transformado em<br />
uma das principais arenas da disputa entre neocoloniais e modernos. Afinal,<br />
“tratava-se obra monumental, da sede do ministério encarregado de traçar as<br />
diretrizes ‘culturais’ da nação; o aval estético governamental é, portanto, disputado<br />
palmo a palmo” (CAVALCANTI, 2006, p. 48).<br />
O debate girava em torno de três elementos: passado, vínculo com o Brasil e<br />
futuro. Cada corrente reivindicava para si a primazia sobre eles. Ao contrário dos<br />
modernos, os neocoloniais cultuavam a tradição colonial, de onde brotaria o futuro,<br />
que para eles é basicamente restaurador (e não inovador), como defendia José<br />
Marianno Filho:<br />
A única estrada que nos conduzirá à verdade é a estrada do<br />
passado...A volta ao espírito tradicional da arte brasileira não<br />
significa uma homenagem fetichista ao passado esquecido, mas a<br />
volta ao bom senso... Qualquer monumento colonial representa um<br />
esforço muito maior do que as arapucas do cimento armado, diante<br />
das quais nos extasiamos. (CAVALCANTI, 2006, p. 48)<br />
Os modernos, pelo contrário, alegavam que a leitura neocolonial do passado<br />
<strong>era</strong> superficial, enquanto a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> estabelecia fortes ligações com os<br />
princípios estruturais da <strong>arquitetura</strong> colonial. Uma <strong>arquitetura</strong> que projetava o futuro,<br />
conciliando a tradição com a modernidade.<br />
Apontavam semelhanças estruturais entre as casas<br />
“tradicionais” sobre estacas e o pilotis, a estrutura em madeira das<br />
casas coloniais <strong>era</strong> comparada ao esqueleto de concreto armado e<br />
relacionavam-se as grandes extensões caiadas da <strong>arquitetura</strong><br />
“tradicional” à pureza do novo modo de construir. Dessa forma a<br />
<strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> brasileira, embora característica de condições<br />
técnicas e sociais novas, se proporia a reinterpretar , através de<br />
uma leitura estrutural e de técnicas de seu tempo, a tradição<br />
construtiva brasileira. (CAVALCANTI, 2006, p. 49)<br />
Além disso, os pressupostos teóricos da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> iam ao encontro<br />
dos princípios estabelecidos pela vanguarda literária daquela época, o que pode ser<br />
55
constatado com o minucioso trabalho de Mário de Andrade no SPHAN, ao conciliar<br />
o erudito com elementos tradicionais e populares.<br />
Os modernos venc<strong>era</strong>m a disputa do MES, etapa fundamental para sua<br />
supremacia no campo arquitetônico, apresentando o argumento de que suas<br />
construções <strong>era</strong>m ao mesmo tempo inovadoras, nacionais e estruturalmente ligadas<br />
ao passado.<br />
Após a vitória no campo das idéias, restava aos modernos provarem a<br />
funcionalidade do projeto, bem como a adequação de sua monumentalidade à<br />
imagem que o ministério deveria transmitir à população.<br />
Em artigo publicado em 1935 na Revista da Diretoria de Engenharia, editada<br />
pelo Ministério da Educação e Saúde, Affonso Eduardo Reidy demonstra como as<br />
novas técnicas proporcionariam ao mesmo tempo funcionalidade e versatilidade:<br />
Uma das maiores conquistas da técnica construtiva <strong>moderna</strong><br />
é a estrutura livre, isto é, independente das paredes do edifício. A<br />
estrutura livre permite a standartização dos elementos estruturais e<br />
flexibilidade quanto à utilização dos espaços, de forma a que em<br />
qualquer época possam ser modificadas as divisões internas do<br />
edifício sem prejuízo para as boas condições de estabilidade e<br />
aspecto da edificação. (CONDURU, 2005, p. 25)<br />
Testemunho importante dessa preocupação com a funcionalidade foi o de<br />
Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete do Ministro, ao registrar seu<br />
primeiro dia de trabalho (22/07/1944) no gabinete da sede recém construída.<br />
Dias de adaptação à luz intensa, natural, que substitui as<br />
lâmpadas acesas durante o dia; às divisões baixas de madeira, em<br />
lugar de paredes; aos móveis padronizados (antes obedeciam às<br />
fantasias dos diretores ou ao acaso dos fornecimentos). Novos<br />
hábitos são ensaiados... (CAVALCANTI, 2006, p. 56)<br />
Portanto, a luz natural, intensa em uma cidade tropical como o Rio de<br />
Janeiro, propiciaria a economia de energia. O mobiliário padronizado, sem luxos<br />
(fantasias) despersonalizaria a administração pública.<br />
A monumentalidade foi preocupação dominante no projeto da sede do MES.<br />
A produção da obra monumental começa na própria ocupação do prédio, criando<br />
enorme praça com amplo espaço de circulação no centro do Rio de Janeiro, de<br />
56
forma a abrir espaço para a contemplação da obra. Tal efeito é obtido com a<br />
verticalização do prédio em 14 pavimentos e a utilização de amplo pilotis. O bloco<br />
do auditório, portaria e sala atravessa por baixo da estrutura vertical, fazendo com<br />
que o espaço entre as colunas, embaixo desse grande bloco, funcione como parte<br />
aberta do jardim público, utilizando espécimes da flora nacional, criado pelo<br />
paisagista Burle Marx. Os dois blocos transmitem uma representação de leveza,<br />
idealizados para parecerem desprovidos de peso ao sustentarem-se sobre o pilotis.<br />
FIGURA 8<br />
O EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE NA DÉCADA DE 1940<br />
Extraído de http://www.maxpressnet.com.br/e/iphan/iphan_17-10-08.html, em agosto de 2010<br />
Mais uma vez podemos constatar a influência de Corbusier sobre a equipe<br />
brasileira, quando observamos a plena aplicação dos Cinco pontos da Nova<br />
Arquitetura, propostos pelo arquiteto franco-suíço no início de sua carreira em<br />
1926.<br />
57
1. Pilotis, lib<strong>era</strong>ndo o edifício do solo e tornando público o uso<br />
deste espaço antes ocupado, permitindo inclusive a circulação de<br />
automóveis;<br />
2. Terraço jardim, transformando as coberturas em terraços<br />
habitáveis, em contraposição aos telhados inclinados das<br />
construções tradicionais;<br />
3. Planta livre, resultado direto da independência entre estruturas<br />
e vedações, possibilitando maior diversidade dos espaços internos,<br />
bem como mais flexibilidade na sua articulação;<br />
4. Fachada livre, também permitida pela separação entre<br />
estrutura e vedação, possibilitando a máxima abertura das paredes<br />
externas em vidro, em contraposição às maciças alvenarias que<br />
outrora recebiam todos os esforços estruturais dos edifícios; e<br />
5. A janela em fita, ou fenêtre en longueur, também<br />
conseqüência da independência entre estrutura e vedações, se trata<br />
de aberturas longilíneas que cortam toda a extensão do edifício,<br />
permitindo iluminação mais uniforme e vistas panorâmicas do<br />
exterior. 15<br />
Buscando articular a técnica com a arte, Portinari foi contratado para realizar<br />
um grande afresco sobre os principais ciclos econômicos da história brasileira na<br />
sala de reuniões anexa ao gabinete do ministro, além dos murais em azulejos azuis<br />
e brancos na fachada do térreo e nos pilotis.<br />
FIGURA 9<br />
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - AFRESCOS DE CÂNDIDO PORTINARI<br />
Extraído de http://blogillustratus.blogspot.com/2010/05/candido-portinari.html, em agosto de 2010<br />
15 Os Cinco pontos da Nova Arquitetura são o resultado das pesquisas realizadas nos anos iniciais<br />
da carreira de Le Corbusier, sendo publicados em 1926 na revista francesa L’Esprit Nouveau. Para<br />
mais detalhes ver: MACIEL, Carlos Alberto. Villa Savoye: <strong>arquitetura</strong> e manifesto (1). In: Revista<br />
arquitextos 024.07, ano 02, mai 2002. http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.<br />
024/785. Acessado em agosto de 2010.<br />
58
FIGURA 10<br />
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - MURAIS EM AZULEJOS NA FACHADA DO<br />
TÉRREO<br />
Extraído de http://www.c<strong>era</strong>micanorio.com/conhecernorio/portinarigcapanema/portinarigcapanema<br />
em agosto de 2010.<br />
Ainda no que se refere à monumentalidade e ao papel pedagógico que todo o<br />
conjunto deveria transmitir à sociedade, merece uma análise o debate acerca da<br />
construção da escultura O Homem Brasileiro.<br />
Em carta ao Presidente Vargas, em 14 de julho de 1937, o ministro apresenta<br />
com entusiasmo a obra, que seria a principal na área externa ao prédio:<br />
...a principal delas será a estátua do homem, do homem<br />
brasileiro... O homem estará sentado num soco. Será nu, como o<br />
Penseur de Rodin. Mas o seu aspecto será o da calma, do domínio,<br />
da afirmação. A estátua terá cerca de 11 metros de altura... A<br />
concepção, parece-me, é grandiosa. Há, na obra planejada,<br />
qualquer coisa de parecido com os colossos de Memon, em Tebas,<br />
ou com as estátuas do templo de Amon, em Karnak... A estátua<br />
ficará localizada numa grande área, em frente ao edifício. O edifício<br />
e a estátua se completarão, de maneira exata e necessária.<br />
(KNAUSS, 1999, p. 30)<br />
O MES, como já assinalamos, seria o “ministério do homem”, ou melhor, do<br />
novo homem brasileiro que o Estado deveria moldar. Não por acaso, Capanema<br />
afirmava que “o edifício e a estátua se completarão, de maneira exata e<br />
necessária”.<br />
Para a execução da obra, o ministro convidou o escultor Celso Antônio, que<br />
em 1931 já havia ministrado cursos na ENBA, quando ela ainda <strong>era</strong> dirigida por<br />
59
Lucio Costa, o que já apontava um alinhamento do escultor com o movimento<br />
modernista.<br />
No entanto, quando Celso Antônio apresentou o esboço do monumento,<br />
caracterizando um homem com feições sertanejas, barrigudo e com um tipo físico<br />
nada atlético, a decepção do ministro ficou evidente. Não seria aquele o tipo de<br />
homem brasileiro projetado para o futuro.<br />
Enquanto o escultor insistia em dar ao seu “homem” as feições “brasileiras”<br />
de um caboclo, o ministro desejava que ele o executasse segundo rigorosos<br />
cálculos antropométricos que antecipassem as feições cientificamente mais<br />
prováveis do “homem brasileiro” do futuro. Consulta sobre o assunto alguns<br />
representantes importantes da elite intelectual daqueles anos 16 , enviando cartas<br />
com as seguintes perguntas: “Como será o corpo do homem brasileiro, do futuro<br />
homem brasileiro, não do homem vulgar ou inferior, mas do melhor exemplar da<br />
raça? Qual sua cultura? O seu volume? A sua cor? Como será sua cabeça? A forma<br />
do seu rosto? A sua fisionomia?” (CAVALCANTI, 2006, p. 51)<br />
Todos respondem que deverá ser um homem branco, acreditando que essa<br />
<strong>era</strong> a evolução natural da espécie humana. Roquete Pinto, em pequeno bilhete<br />
posterior, acrescenta uma advertência ao ministro: “Penso que o homem brasileiro<br />
deve ser representado na posição de quem marcha. Sentado? Nunca” (KNAUSS,<br />
1999, p. 33).<br />
Nada mais coerente com um Estado que valorizava o trabalho na propaganda<br />
oficial. O homem sentado representaria o conformismo e a preguiça, uma imagem<br />
do homem comum, meditando sobre um destino incerto – nada parecido com “os<br />
colossos de Memon” -, enquanto o homem marchando representaria a confiança e a<br />
disciplina, projetando uma nação trabalhadora e integrada ao modelo de<br />
desenvolvimento em curso no país.<br />
Como Celso Antônio rejeitou a intromissão em sua obra, seu projeto foi<br />
descartado definitivamente em dezembro de 1937. Em seguida, Capanema solicitou<br />
a Mario de Andrade que procurasse Victor Brecheret para uma nova encomenda:<br />
16 Entre eles estavam Oliveira Vianna, Rocha Vaz e Roquete Pinto.<br />
Venho pedir a você um favor. Tudo confidencialmente. O<br />
60
trabalho que está sendo, aqui, elaborado, para a ereção da estátua<br />
do homem brasileiro, não me parece que chegará a bom termo... E<br />
julgo que terei que começar o trabalho de novo. Abrir concurso foi<br />
a primeira idéia. Mas concurso não tem dado certo aqui no<br />
Ministério... Você diga ao Brecheret, como coisa sua, que não faça<br />
trabalho estilizado nem decorativo. Seguir o rumo dos grandes<br />
escultores de hoje: Maillol, Despian etc. O homem estará sentado e<br />
deverá ser uma figura sólida, forte, de brasileiro. Nada de rapaz<br />
bonito. Um tipo moreno, de boa qualidade, com o semblante<br />
denunciando a inteligência, a elevação, a coragem, a capacidade<br />
de criar e realizar. Você imagine outras coisas que devam, ainda,<br />
ser ditas ao Brecheret e lhe dê o meu recado, sem lhe mostrar esta<br />
carta. (KNAUSS, 1999, p. 35)<br />
Não há registros quanto a alguma resposta de Brecheret, o que pode<br />
significar seu desinteresse quanto ao projeto ou pelo fato do escultor estar ocupado<br />
com a construção do Monumento às Bandeiras, em São Paulo 17<br />
O projeto da estátua do Homem Brasileiro acabou sendo substituído pela<br />
construção do Monumento da Juventude Brasileira, construído pelo escultor<br />
Bruno Giorgi e custeado pelo Sindicato dos Educadores e pelo Movimento da<br />
Juventude Brasileira 18<br />
Em outubro de 1943, no programa de rádio Hora da Juventude, a locutora<br />
Lucia Magalhães, em outubro de 1943, anunciava o projeto de construção do novo<br />
monumento, convocando uma mobilização para a arrecadação de fundos para<br />
realizá-lo. Segundo ela, a estátua seria definida como:<br />
...uma expressão de confiança no futuro da raça, (..) é o que<br />
deve ser esse monumento (...). Eu muitas vezes disse, através<br />
deste microfone, que a atual g<strong>era</strong>ção da Juventude Brasileira <strong>era</strong><br />
predestinada. Confirmando essa intuição, é preciso ver mais um<br />
signo de predestinação nesse momento que perpetuando no bronze<br />
toda a Juventude da nossa terra, a que amanhã surgirá para tomar<br />
das mãos dos seus maiores o facho da civilização (...). É esse<br />
sentimento, fator precioso e unificador da Pátria, que o Monumento<br />
da Juventude Brasileira quer perpetuar. (...) Entrego aos meus<br />
ouvintes da Hora da Juventude a missão honrosa de propagar a fé<br />
no futuro de seus próprios destinos. (KNAUSS, 1999, p. 37)<br />
17 Em 1923 o governo do Estado de São Paulo encomendou-lhe a execução do Monumento às<br />
Bandeiras, ao qual Brecheret viria a se dedicar nos vinte anos seguintes.<br />
18 Criado em março de 1940, o Movimento da Juventude Brasileira tinha um caráter cívico,<br />
voltado para o culto dos símbolos nacionais, com uma ação oposta àquela realizada pela combativa<br />
União Nacional dos Estudantes, fundada em11 de agosto de 1937.<br />
Para uma análise mais detalhada desses movimentos, consultar o CD ROM A Era Vargas -<br />
1º tempo - dos anos 20 a 1945". Seu conteúdo também está disponibilizado na página<br />
Navegando na História no portal do CPDOC.<br />
61
Ao final, portanto, ergueu-se um monumento simbolizando o futuro projetado<br />
pela ação do Estado, especialmente através do MES. Caberia à predestinada<br />
juventude cumprir a missão de unificar a pátria. Era a comunhão da juventude com o<br />
governo. Não por acaso, no dia 1º de fevereiro de 1944, quando foi lançada a pedra<br />
fundamental do movimento, o discurso do professor Frederico Ribeiro,<br />
representando o Sindicato Nacional dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e<br />
Primário, afirmou que o movimento buscava “perpetuar na pedra e no bronze os<br />
sentimentos de afeto e respeito da juventude brasileira pelo Presidente Getúlio<br />
Vargas” (KNAUSS, 1999: 38). Nesse mesmo discurso, como homenagem ao<br />
Presidente, decidiu-se instituir o Dia da Juventude na mesma data de aniversário de<br />
Getúlio Vargas.<br />
FIGURA 11 e 12<br />
O MONUMENTO À JUVENTUDE BRASILEIRA, VISTO DE DOIS ÂNGULOS<br />
Extraído de: http://www.csvp.g12.br/fotoartes8a/804/14_804.htm, em agosto de 2010.<br />
Os objetivos da equipe dos arquitetos que projetaram o MES, vislumbrando<br />
um futuro otimista de progresso aliado à justiça social ficam evidentes na carta<br />
enviada por Lucio Costa a Gustavo Capanema, em outubro de 1945, ao ver a obra<br />
concluída. Segundo ele, foi efetivamente naquele edifício onde:<br />
62
) A Avenida Presidente Vargas<br />
... pela primeira vez, se conseguiu dar corpo, em obra de<br />
tamanho vulto, levada a cabo com esmero de acabamento e pureza<br />
integral de concepção, às idéias mestras porque, já faz um quarto<br />
de século, o gênio criador de Le Corbusier se vem batendo com a<br />
paixão, o destemor e a fé de um verdadeiro cruzado (...) Neste oásis<br />
circundado de pesados casarões de aspecto uniforme e enfadonho,<br />
viceja agora, irreal na sua limpidez cristalina, tão linda e pura flor -<br />
flor do espírito, prenúncio certo de que o mundo para o qual<br />
caminhamos inelutavelmente, poderá vir a ser, apesar das previsões<br />
agourentas do saudosismo reacionário, não somente mais humano<br />
e socialmente mais justo, senão, também, mais belo. 19<br />
Quando iniciativas municipais relacionam-se a necessidades<br />
denunciadas pela população e a propostas discutidas, há muitas<br />
influências, muitos motivos, inclusive motivos acidentais. Mas<br />
quando a câmara municipal não representa a vontade popular<br />
(como em Paris, entre 1831 e 1871), como não pôr em primeiro<br />
plano as idéias de estética, de higiene, de estratégia urbana, de<br />
prática social de um indivíduo ou de poucos indivíduos no poder?<br />
Desse ponto de vista, a configuração atual de uma grande cidade<br />
será como a superposição da obra de certos partidos, de certas<br />
personalidades, de certos sob<strong>era</strong>nos; assim, planos diversos se<br />
sobrepus<strong>era</strong>m, se misturaram, se ignoraram... (ROSSI, 1995, p.<br />
216)<br />
O projeto de abertura de uma grande avenida ligando a Ponte dos<br />
Marinheiros ao Cais dos Mineiros já existia há muito tempo. Segundo LIMA (1992),<br />
a primeira idéia foi de Grandjean de Montigny, ainda no século XIX. Porém, aos<br />
poucos, algumas intervenções caminharam nesse sentido desde o início do século<br />
XX.<br />
19 Extraído de http://www.schwartzman.org.br/simon/capanema/capit3.htm#_1_1, em agosto de 2010.<br />
63
FIGURA 13<br />
PONTE DOS MARINHEIROS (1924)<br />
Próxima à estação ferroviária da Leopoldina, <strong>era</strong> uma ligação muito importante na época entre a<br />
Zona Sul/Centro e a Zona Norte. Atualmente neste local há um conjunto enorme de viadutos.<br />
Fotografia de Malta, extraída de http://www.fotolog.com.br/luiz_o/87163817, extraída em agosto de<br />
2010<br />
Durante a gestão de Pereira Passos, foi feita a canalização do Mangue e o<br />
alargamento da Rua Estreita de São Joaquim, atual Rua Marechal Floriano. Em<br />
1920, na administração de Carlos Sampaio (1920-1922), foi apresentado um novo<br />
projeto prevendo a abertura da Avenida da Independência, ligando a Avenida Rio<br />
Branco à Praça da República. Porém, tal projeto também não foi levado adiante.<br />
Entre 1926 e 1930, o urbanista Alfred Agache foi contratado para elaborar o<br />
primeiro plano diretor para a capital, que ficou conhecido como Plano Agache.<br />
Dentre as várias intervenções previstas, previa-se novamente a idéia da abertura da<br />
avenida.<br />
64
FIGURAS 14 e 15<br />
O CAIS DOS MINEIROS, NO INÍCIO DO SÉCULO XX E O QUE RESTOU DELE NOS<br />
DIAS ATUAIS 20<br />
Fonte: Coluna Rio Antigo, de Paulo Pacina, no JB on line.<br />
Extraída de http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?itemid=16668, em agosto de 2010<br />
Contratado na administração Prado Jr., último prefeito do Distrito Fed<strong>era</strong>l da<br />
República Velha, o plano foi abandonado pelo sucessor, Pedro Ernesto. Com a<br />
decretação do Estado Novo em 1937 e a nomeação de Henrique Dodsworth para o<br />
cargo de interventor na capital, o projeto finalmente foi executado.<br />
Observando o contexto político e econômico podemos identificar dois fatores<br />
que contribuíram para a execução da obra. Em primeiro lugar, a economia brasileira<br />
já se encontrava em plena expansão após se recup<strong>era</strong>r da crise decorrente da<br />
quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929. Como já assinalamos, na década de<br />
1930 o Estado realizou uma intervenção crescente na economia como forma de<br />
sup<strong>era</strong>r a crise e promover o desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma,<br />
sendo o Estado o grande agente investidor naquele modelo econômico, tornava-se<br />
necessária a criação e a expansão de diversos órgãos e repartições públicas,<br />
especialmente na capital. Por isso o centro da cidade do necessitavam se adequar<br />
à nova conjuntura vivida no país. Paralelamente, também se abriam novas<br />
oportunidades de negócios ao capital privado, especialmente no setor de serviços.<br />
Em segundo lugar, com a decretação do Estado Novo, o governo não apenas<br />
aprofundaria a intervenção na economia, mas também teria plenos poderes para<br />
controlar a sociedade, especialmente os movimentos sociais e os meios de<br />
20 O Cais dos Mineiros situava-se aproximadamente entre a Rua da Alfândega e o Arsenal de<br />
Marinha (hoje o 1º Distrito Naval), e recebeu esse nome por ter se tornado na segunda metade do<br />
século XVIII um importante escoadouro do ouro proveniente de Minas G<strong>era</strong>is.<br />
65
comunicação. Portanto, qualquer manifestação contra os atos do governo poderia<br />
ser abafada pela repressão, pela censura e pela propaganda oficial.<br />
Iniciativas desse tipo, articulando desenvolvimento econômico e controle<br />
social, já tinham sido implementadas em outros países capitalistas desenvolvidos, e<br />
de certa forma, serviram de referências para outras intervenções no espaço urbano<br />
em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil.<br />
É o que podemos constatar a partir da análise de SENNET (1997) sobre a<br />
revolução urbana passada nas metrópoles de Londres e Paris na segunda metade<br />
do século XIX.<br />
Segundo ele, a profunda reforma implantada nas duas cidades foi um dos<br />
reflexos do triunfo do capitalismo em sua fase monopolista, quando a Inglaterra e a<br />
França comandavam a corrida imperialista, impondo seu domínio sobre uma grande<br />
parte da África e da Ásia.<br />
As intervenções na estrutura e na organização nas duas cidades fiz<strong>era</strong>m com<br />
que o espaço urbano fosse recortado em grandes corredores, onde o deslocamento<br />
das pessoas da residência para o trabalho e vice-versa seria feito com rapidez<br />
crescente, atendendo não só as necessidades das atividades capitalistas em<br />
expansão – rendimento e produtividade -, mas também ao interesse do Estado em<br />
desarticular grupos sociais “ameaçadores à ordem”, mantendo-os sob controle e<br />
vigilância, lembrando que no mesmo período, o movimento operário mostrava-se<br />
melhor articulado para lutar por suas reivindicações, além de estar influenciado por<br />
ideologias que defendiam abertamente o fim do capitalismo, como o socialismo<br />
marxista e o anarquismo.<br />
Uma das consequências da revolução urbana foi a desconexão entre as<br />
pessoas e o espaço. Assim, os indivíduos, cada vez mais dispersos e isolados,<br />
atentos apenas à rapidez do ir e vir teriam cada vez menos contato entre si, o que<br />
dificultaria a ação de grupos organizados ou a sua formação.<br />
... As cidades planejadas do século XIX pretendiam tanto<br />
facilitar a livre circulação das multidões quanto desencorajar os<br />
movimentos de grupos organizados. Corpos individuais que<br />
transitam pela cidade tornam-se gradualmente desligados dos<br />
lugares em que se movem e das pessoas com quem convivem<br />
66
nesses espaços, desvalorizando-os através da locomoção e<br />
perdendo a noção de destino comum. (SENNETT, 1997, p. 216)<br />
As reformas naquelas metrópoles se assemelharam a atos cirúrgicos, onde<br />
as cidades <strong>era</strong>m tratadas como um corpo humano, cujas veias e artérias (ruas e<br />
avenidas) deveriam ser desobstruídas e alargadas para facilitar a circulação. Uma<br />
obra emblemática desse período foi a construção do metrô de Londres, que<br />
cumpriria uma dupla função, como artéria e veia da cidade. Além disso,<br />
Com o transporte barato, pelo menos parte daqueles 50%<br />
que tinham acesso a 3% da riqueza nacional pud<strong>era</strong>m procurar<br />
domicílio em algum lugar melhor. Graças ao capital fornecido por<br />
coop<strong>era</strong>tivas habitacionais, por volta de 1880, a maré urbana<br />
começou a refluir. Quem conseguia juntar dinheiro mudava-se para<br />
a tão sonhada casa própria, ao norte do centro da cidade, em South<br />
Bank, ou nos distritos de Camden Town... (SENNETT, 1997, p. 272)<br />
É importante ressaltar que essas melhorias, ainda que limitadas, das<br />
condições de habitação e transporte, não pode ser atribuída a alguma política oficial<br />
de reduzir as desigualdades sociais naqueles dois países. Se o Estado pôde de<br />
alguma forma compensar os efeitos perversos das reformas, é porque dispunha de<br />
abundantes recursos decorrentes da expansão imperialista na África e na Ásia.<br />
Portanto, as tímidas melhorias das condições da classe trabalhadora em Londres e<br />
Paris foram alcançadas às custas de uma brutal espoliação de africanos e asiáticos.<br />
Outros aspectos importantes da revolução urbana foram a estética das novas<br />
construções e o novo ordenamento urbano que foi imposto. Deslocando as fábricas<br />
e as habitações populares para bairros distantes das áreas centrais, estas d<strong>era</strong>m<br />
lugar a sedes de bancos, da administração de grandes empresas e, evidentemente,<br />
dos órgãos da administração pública, situados nas grandes e arborizadas avenidas,<br />
próximas a grandes parques, muito bem simbolizados pelo conjunto Regent's Park e<br />
Regent Street, em Londres. Nessa nova “ordem”, não havia lugar para as ruas<br />
estreitas da malha medieval e da renascença, cujo patrimônio foi duramente afetado<br />
pelas intervenções.<br />
Podemos concluir, portanto, que a revolução urbana em Londres e Paris no<br />
século XIX, ao mesmo tempo em que promoveu o embelezamento e o saneamento<br />
das cidades, possibilitou o deslocamento acel<strong>era</strong>do das pessoas, atingindo dessa<br />
67
forma a outros importantes objetivos da elite dirigente: a dispersão da classe<br />
trabalhadora e o seu insulamento em bairros afastados do centro das metrópoles,<br />
ao mesmo tempo em que a disciplinava politicamente.<br />
No Brasil, pensamento semelhante influenciou a elaboração do projeto de<br />
abertura da Avenida Central na gestão do prefeito Pereira Passos e mais ainda da<br />
Avenida Presidente Vargas, um dos objetos de nosso estudo.<br />
Em 1938, o projeto foi apresentado com a denominação Avenida Dez de<br />
Novembro - aludindo à data do golpe que instituiu o Estado Novo – prevendo a<br />
eliminação de quadras inteiras para a sua realização, como pode ser observado na<br />
fotografia a seguir, onde aparece delimitado o trecho entre a Praça Onze, na parte<br />
superior, e a Praça da República, na parte inferior. As ruas marcadas <strong>era</strong>m Senador<br />
Euzébio e Visconde de Itaúna:<br />
FIGURA 16<br />
RUAS SENADOR EUZÉBIO E VISCONDE DE ITAÚNA – TRECHO ENTRE O CAMPO DE<br />
SANTANA E A PRAÇA ONZE<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
68
Apesar do Brasil estar sob um regime ditatorial, as autoridades do governo se<br />
esforçaram para convencer o empresariado e os meios de comunicação acerca dos<br />
benefícios que a obra traria para o desenvolvimento da cidade. Foi o que fez, por<br />
exemplo, o engenheiro Edison Passos, Secretário de Viação, ao defender o projeto<br />
em palestra realizada na Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 10 de<br />
dezembro de 1940:<br />
Sob o ponto de vista urbanístico, a abertura da Avenida<br />
Presidente Vargas concorrerá, outrossim, para melhorar a massa<br />
edificada da cidade, levando para a zona que atravessa e dela<br />
tributária, novos conjuntos arquitetônicos e gabaritos de maior<br />
altura. Ela será elemento de valorização e pesará favoravelmente<br />
na transformação urbana. (LIMA, 1992, p. 33)<br />
A expectativa quanto às oportunidades de negócios pode ser observada<br />
quando foi decidido que o gabarito lib<strong>era</strong>do para a construção de prédios <strong>era</strong> de 22<br />
andares até a Rua da Quitanda. Dali até o mar o gabarito seria de 12 andares,<br />
prevendo nesse trecho uma grande praça em torno da Igreja Nossa Senhora da<br />
Candelária, o que aponta o interesse do governo em não encontrar oposição por<br />
parte da Igreja Católica. Essa perspectiva racional e simbólica da Avenida<br />
Presidente Vargas fica mais uma vez realçada na citada palestra do Secretário da<br />
Viação na ABI: “Da Avenida Rio Branco às Docas da Alfândega ela dará realce<br />
monumental à Igreja da Candelária, desafogando o centro bancário” (LIMA, 1992, p.<br />
32).<br />
A monumentalidade da obra e seu papel didático junto à população podem<br />
ser observados através do discurso enaltecedor a Getúlio Vargas realizado pelo<br />
prefeito Henrique Dodsworth durante a cerimônia de inauguração do primeiro trecho<br />
da avenida, não por acaso no dia 10 de novembro de 1941:<br />
“Exmo. Sr. Presidente da República: É de tradição que os<br />
presidentes atravessem os eixos das avenidas rasgadas em benefício do<br />
progresso da cidade. Esta tradição esteve interrompida por mais de duas<br />
décadas e hoje V. Ex a , retoma-a, percorrendo trecho inicial da avenida<br />
que menos um decreto do que a aclamação dos seus compatriotas<br />
denominou Av. Presidente Vargas.<br />
Permita que V. Ex a , que eu guarde desta cerimônia apenas<br />
lembranças de nela ter tido a honra de ser o intérprete do governo de V.<br />
Ex a nos agradecimentos e louvores devidos aos operários de todas as<br />
categorias e ofícios dessa obra, que enaltece o valor da engenharia<br />
brasileira e do trabalhador nacional.<br />
69
Exceção feita da maquinaria, tudo que aqui nos rodeia é brasileiro.<br />
Os projetos da nova urbanização da cidade são da autoria dessa<br />
maravilhosa floração de engenheiros que trabalham na Prefeitura e que<br />
alvorecem para as responsabilidades dos largos públicos, técnicos,<br />
escritórios, capital e mão-de-obra brasileiros.<br />
Depois de quatro anos ininterruptos de atividades de restauração<br />
administrativa e financeira, a Prefeitura do Distrito Fed<strong>era</strong>l deu início a<br />
esse empreendimento. Não se trata de um espetáculo de aformosamento<br />
da cidade, mas de realização de um programa que procura resolver<br />
problemas econômicos de tráfego e do saneamento da cidade.<br />
Convidando V. Ex a Sr. Presidente, a percorrer o trecho inicial da<br />
avenida, solicito que V. Ex a incorpore estas obras que, resolvendo os<br />
problemas apontados irão por igual transformar a Cidade Maravilhosa na<br />
Cidade das Maravilhas.” (LIMA, 1992, p. 32)<br />
Nota-se no discurso a preocupação do prefeito em destacar o nacionalismo,<br />
um dos principais traços da política econômica getulista, e em enaltecer os<br />
trabalhadores que participaram da obra, em sintonia com a ideologia trabalhista.<br />
Ao mesmo tempo ele equipara em importância a obra com as reformas<br />
executadas durante a administração de Pereira Passos, afirmando que estava<br />
retomando uma tradição progressista interrompida por mais de duas décadas.<br />
A construção da avenida representava, portanto, o progresso e o<br />
desenvolvimento, propiciando maior eficiência e dinamismo nas atividades<br />
econômicas praticadas no Centro da cidade, maior rapidez nos meios de transporte<br />
e na circulação das mercadorias. Ao mesmo tempo, simbolizava a “nova” classe<br />
trabalhadora que o regime pretendia criar: disciplinada e dedicada ao seu ofício.<br />
Ao observarmos os prédios construídos ao longo da avenida, fica evidente a<br />
influência da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>. Edificações funcionais, sem grandes<br />
preocupações estéticas, onde os extensos pilotis se projetavam sobre as largas<br />
calçadas, facilitando o rápido deslocamento dos trabalhadores e dificultando as<br />
aglom<strong>era</strong>ções, que na visão das autoridades, <strong>era</strong> um estímulo à “desordem”.<br />
Portanto, a avenida propiciava ao mesmo tempo melhor aproveitamento da força de<br />
trabalho, que perderia menos tempo para começar seu ofício, como também criava<br />
obstáculos para manifestações.<br />
70
FIGURA 17<br />
AV. PRESIDENTE VARGAS - TRECHO ENTRE O CAMPO DE SANTANA E A<br />
CANDELÁRIA (14 DE AGOSTO DE 1940)<br />
Nesta fotografia, destacam-se os quarteirões das ruas Gen<strong>era</strong>l Câmara e de São Pedro, entre a<br />
Praça da República e o Cais da Alfândega, demolidos para a abertura da avenida, vendo-se em<br />
primeiro plano a Escola Rivadávia Correia (ainda existente) e o Palácio da Prefeitura; no alto a Igreja<br />
da Candelária.<br />
Fonte: Arquivo G<strong>era</strong>l da Cidade do Rio de Janeiro.<br />
FIGURA 18<br />
AV. PRESIDENTE VARGAS - TRECHO ENTRE O CAMPO DE SANTANA E A<br />
CANDELÁRIA (28 DE AGOSTO DE 1944)<br />
A avenida, pouco antes da sua inauguração, já aberta e em fase de finalização de sua implantação<br />
viária, expõe sua escala monumental, totalmente diversa das acanhadas ruas, de gênese colonial,<br />
daquela parte da cidade na qual se inseriu.<br />
Fonte: Arquivo G<strong>era</strong>l da Cidade do Rio de Janeiro.<br />
71
Cumpre ainda destacar que a avenida também traduzia outro aspecto<br />
importante do modelo político-econômico vigente. Da mesma forma que o Estado<br />
não tinha limites institucionais para intervir na economia e controlar a sociedade,<br />
também não haveria nenhum obstáculo ao progresso que não pudesse ser<br />
transposto por ele. Assim, diversos marcos importantes do contexto urbano-<br />
arquitetônico carioca foram sumariamente eliminados – o Paço Municipal e as<br />
Igrejas de São Pedro dos Clérigos, do Bom Jesus do Calvário, de São Domingos e<br />
de N. Sra. da Conceição - ou drasticamente alt<strong>era</strong>dos – Campo de Santana e Praça<br />
Onze.<br />
Como assinala Evelyn Furquim Werneck Lima:<br />
É típico dos governos autoritários o processo de demolição<br />
dos centros históricos, as inchações dos bairros periféricos,<br />
g<strong>era</strong>lmente com o prejuízo das camadas sociais de menor poder<br />
aquisitivo, que perdem sua moradia e seu habitat natural. Isto<br />
ocorreu na Paris de Napoleão III, na Itália, na Alemanha, na Rússia<br />
na década de 1930 e acabou também ocorrendo no Rio de Janeiro<br />
durante o regime de exceção do Estado Novo. (LIMA, 1992, p. 15)<br />
A intervenção na Praça Onze é especialmente simbólica. Área de intenso<br />
comércio e grande diversidade social 21 e cultural, com a ocorrência das famosas<br />
rodas de samba, especialmente as da casa da tia Ciata. Com o fortalecimento das<br />
instituições carnavalescas, a cultura da cidade cresceu também em vibração e<br />
prestígio popular.<br />
A praça, ao lado de tantas atividades, constituía um centro de animado<br />
carnaval de rua, cantada em versos por poetas e compositores musicais. Em 9 de<br />
fevereiro de 1932 o Jornal do Brasil noticiava:<br />
A Praça Onze de Julho, tradicional pelos seus folguedos,<br />
tipicamente característicos, manteve ainda este ano galhardamente<br />
os seus foros de reduto inexpugnável da genuína festa da cidade.<br />
O que ali se viu anteontem e ontem, das primeiras horas da<br />
tarde às últimas da madrugada, vale como um atestado do quanto<br />
aquela gente se reúne, sabe se divertir.<br />
O que a Praça Onze de Julho mostrou ao carioca excedeu a<br />
qualquer previsão e foi ainda uma nota inédita, porque teve<br />
aspectos diferentes dos que se apreciam em outros pontos da<br />
cidade.<br />
21 A Praça Onze constituía uma área plural, onde conviviam harmonicamente árabes, judeus,<br />
italianos, portugueses, negros e mulatos.<br />
72
O Carnaval da Praça Onze é privativo da Cidade Nova e por<br />
isso tem atrativos e motivos exclusivamente seus. Um sucesso, um<br />
grande sucesso o carnaval da Praça Onze. (LIMA, 1992, p. 15)<br />
A abertura da avenida também trouxe consigo também o desaparecimento de<br />
exemplares importantíssimos do patrimônio histórico da cidade, como foi o caso da<br />
Igreja de São Pedro dos Clérigos, situada na Rua São Pedro, que depois se<br />
transformou em pista lat<strong>era</strong>l da Avenida Presidente Vargas.<br />
Construída em 1773, foi possivelmente a primeira igreja do continente<br />
americano com traçado curvilíneo. Segundo Lima (1992), um apelo por sua<br />
preservação foi enviado pelo SPHAN 22 , através de Rodrigo de Melo Franco, porém,<br />
a Prefeitura ignorou o pedido, alegando que o prédio não estava ligado “a nenhum<br />
acontecimento político ou social do país que lhe desse lustro histórico (...), nem sua<br />
construção <strong>era</strong> tão sólida quanto parecia à primeira vista, nem tão valiosa” (LIMA,<br />
1992, p. 42). O progresso sobrepunha-se ao patrimônio.<br />
FIGURA 19<br />
PRAÇA ONZE DE JUNHO (DÉCADA DE 1910)<br />
A praça situava-se, aproximadamente, onde hoje está a área circundada pelo monumento a Zumbi<br />
dos Palmares. Na parte superior, vemos a Escola São Sebastião, onde o D. Pedro II havia estudado.<br />
Com a proclamação da República, seu nome foi trocado para Benjamim Constant. Por trás dela<br />
iniciava-se o Canal do Mangue.<br />
Foto de A. Malta, extraída de http://receitadesamba.blogspot.com, em agosto de 2010.<br />
22 Órgão controlado por simpatizantes do modernismo, como vimos no capítulo anterior.<br />
73
FIGURA 20<br />
IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em setembro de 2010.<br />
A grande intervenção urbanística projetada na gestão de Henrique Dodsworth<br />
promoveu a demolição de quarteirões inteiros da Praça Onze, alt<strong>era</strong>ndo<br />
substancialmente a paisagem local e empurrando seus moradores para outras<br />
localidades, como os morros próximos ao Centro ou os bairros do subúrbio, que<br />
cresciam às margens da Estrada de Ferro Central do Brasil. Era o símbolo do<br />
progresso (a larga avenida) e do trabalho se sobrepondo ao símbolo da cultura<br />
popular espontânea, associada pelas autoridades à desordem ou à malandragem.<br />
O governo fed<strong>era</strong>l dessa forma realizava uma das mais profundas<br />
intervenções na capital, constituindo uma nova linguagem urbanística - de<br />
inspiração modernista –, racional, sem preocupações estéticas especiais, cuja<br />
monumentalidade buscava transmitir a imagem de um país que avançava em<br />
direção ao progresso.<br />
74
3.2) Os monumentos da ordem<br />
A Avenida Presidente Vargas, como já assinalamos, foi projetada como um<br />
monumento ao progresso, associada ao desenvolvimento econômico e industrial<br />
que o Brasil passava naquele período da Era Vargas, especialmente o Estado<br />
Novo.<br />
Idealizada como uma grande artéria, atravessaria uma região importante do<br />
centro do Rio de Janeiro, estabelecendo um entroncamento com outra grande<br />
artéria - a Avenida Rio Branco -, abrindo novas oportunidades de negócios e<br />
investimentos.<br />
Quem percorre a avenida até os dias de hoje (local de bancos e escritórios<br />
públicos e particulares no trecho entre o Campo de Santana e a Candelária)<br />
observa o ritmo apressado das pessoas atravessando rapidamente a avenida. A<br />
<strong>arquitetura</strong> não transmite ou estabelece um diálogo com os transeuntes, que,<br />
circulando sob os largos pilotis não têm como observar sequer a fachada dos<br />
prédios. A única preocupação é transpassá-la para chegar rapidamente ao trabalho.<br />
Observamos que não existe nesse trecho nenhum ponto que facilite a<br />
aglom<strong>era</strong>ção, vista pelas classes dominantes como um instrumento da desordem.<br />
Tomando como referência Monique Seyler, LIMA (1992) destaca que:<br />
Desde sua invenção,a avenida, reta e larga, é antes de mais<br />
nada um espaço que permite o desfile e a marcha triunfal das tropas<br />
(...). Delimitada por construções bastante parecidas entre si, numa<br />
ordem lógica, clara e ventilada. A avenida desemboca em um<br />
monumento... a <strong>arquitetura</strong> não prevê mais locais para a reunião<br />
das pessoas, porém perspectivas para serem contempladas. O<br />
cidadão, de ator que <strong>era</strong>, torna-se um passivo expectador da parada<br />
do poder: o do Estado e do Dinheiro; tanto um quanto o outro nos<br />
olhando alto do calçamento. (LIMA, 1992, p. 12)<br />
Porém, se nas edificações erguidas ao longo da avenida fica evidente a<br />
preocupação em garantir às pessoas o abrigo para um deslocamento rápido ao<br />
trabalho, por outro lado, foram criados na avenida alguns importantes símbolos<br />
<strong>arquitetura</strong>is do poder, utilizando a expressão de LIMA (1992, p. 56).<br />
São esses símbolos, situados exatamente em um dos poucos pontos<br />
possíveis de aglom<strong>era</strong>ção que foram erguidas edificações que, pela sua<br />
75
monumentalidade, transmitiam a quem passasse a mensagem da ordem, da<br />
disciplina e da hi<strong>era</strong>rquia. Foi o caso do Palácio Duque de Caxias e o novo prédio<br />
da Central do Brasil.<br />
Na fotografia abaixo, do final da década de 1920, podemos ter uma dimensão<br />
g<strong>era</strong>l da profunda intervenção no tecido urbano que passou a Praça da República<br />
durante o Estado Novo.<br />
FIGURA 21<br />
PRAÇA DA REPÚBLICA NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1930<br />
Áreas afetadas pelas reformas:<br />
1. Área do Campo de Santana, removida para a abertura da Avenida Presidente Vargas.<br />
2. Praça Onze de Junho, à esquerda.<br />
3. Antigo prédio da Central do Brasil.<br />
4. Antigo Quartel-G<strong>era</strong>l, cuja ala principal, à esquerda, também será removida. No local, situa-se<br />
atualmente o Pantheon do Duque de Caxias.<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010<br />
Ao contrário do que ocorreu no edifício do MES, o estilo escolhido para a<br />
construção dessas duas obras foi o Art Déco. 23<br />
1<br />
2<br />
Lançado oficialmente em 1925 na Exposição Internacional de Artes<br />
Decorativas e Industriais Modernas de Paris, o Art Déco foi um movimento que se<br />
23<br />
Uma boa descrição sobre a aplicação do estilo Art Déco no Brasil é encontrada em: CORREIA,<br />
Telma de Barros. Art déco e indústria: Brasil, décadas 1930 e 1940. São Paulo: Anais do Museu<br />
Paulista, v. 16, n. 4, p. 47, jul-dez 2008.<br />
76<br />
3<br />
4
manifestou na <strong>arquitetura</strong>, nas artes plásticas, no design gráfico, e no design<br />
industrial, ganhando força na década de 1930 na Europa e nas Américas.<br />
Os edifícios projetados pela <strong>arquitetura</strong> Art Déco utilizavam o concreto<br />
armado e possuíam fachadas com rigor geométrico e ritmo linear, com fortes<br />
elementos decorativos em granito e mármore. No interior, as esculturas, jóias e<br />
móveis também são geometrizados, com ornamentos em bronze, mármore, prata<br />
marfim e outros materiais nobres.<br />
Inúmeros projetos neste estilo foram aplicados a partir da década de 1930 no<br />
Brasil, como repartições públicas, cinemas, teatros e sedes de emissoras de rádio.<br />
Muitos desses edifícios existem até os dias de hoje e fazem parte da paisagem<br />
urbana de várias cidades brasileiras, como podemos observar nos exemplares<br />
abaixo:<br />
FIGURA 22<br />
EDIFICIO DO JORNAL “A NOITE” - Praça Mauá (RJ) – década de 1930 24<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010<br />
24 Construído em fins dos anos 20, com a nova tecnologia do concreto armado, é<br />
consid<strong>era</strong>do o introdutor da <strong>arquitetura</strong> em estilo Art Decó no Brasil, além de ser o primeiro<br />
arranha céu da capital.<br />
77
FIGURA 23<br />
CINEMA ICARAÍ, em Niterói (RJ), na década de 1940, pouco após sua inauguração<br />
Extraído de http://blogandoarte.blogspot.com, em agosto de 2010<br />
FIGURAS 24 e 25<br />
TEATRO CARLOS GOMES – FACHADA E INTERIOR (HALL)<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010<br />
78
a) O Palácio Duque de Caxias<br />
A construção do Palácio Duque de Caxias foi realizada entre 07/09/1937 e<br />
28/08/1941, e sua ocupação definitiva foi concluída em 1944. Portanto, a obra<br />
coincidia tanto com o período do Estado Novo como com as obras de abertura da<br />
Avenida Presidente Vargas.<br />
O projeto foi de Cristiano Stockler das Neves, arquiteto com escritório em São<br />
Paulo e com larga experiência com a construção de prédios em concreto armado,<br />
sendo autor do projeto do primeiro arranha-céu da capital paulista, o Edifício<br />
Sampaio Moreira, inaugurado em 1924. Designou-se uma comissão composta<br />
pelos engenheiros militares Major Raul de Albuquerque e Capitão Rubens<br />
Rousado Teixeira para executar a obra. Toda a estrutura de concreto foi calculada<br />
pela comissão. Portanto, a construção do edifício ficou todo o tempo<br />
supervisionada pelo Exército, que poderia providenciar as modificações ou<br />
adaptações que fossem consid<strong>era</strong>das necessárias.<br />
A construção do edifício foi feita na área afastada vinte metros do antigo<br />
quartel, este demolido após a conclusão das obras da nova sede, como podemos<br />
observar na figura 26. As alas, respectivamente voltadas para a Praça Cristiano<br />
Otonni e para o Palácio Itamaraty, foram, no entanto, conservadas sem alt<strong>era</strong>ção.<br />
Em termos de área construída, foi o maior edifício público administrativo de<br />
seu tempo, com 86 mil metros quadrados de área e 23 andares, destacando a<br />
monumentalidade do projeto. Seu imponente embasamento e pórtico de entrada<br />
foram executados em granito vermelho-escuro e preto. Com mármore oriundo do<br />
Paraná, Santa Catarina e Minas G<strong>era</strong>is, foram executados os pisos da ala<br />
principal. No saguão de entrada, que abrange dois andares, vê-se ao fundo um<br />
vitral de 13 metros de altura representando o “Duque de Caxias em Itororó”, de<br />
autoria de Alcebíades Miranda Júnior.<br />
79
FIGURA 26<br />
O PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS DURANTE A SUA CONSTRUÇÃO, COM O ANTIGO<br />
QUARTEL-GERAL AINDA À FRENTE<br />
Fonte: Acervo Histórico do Exército. Extraído de www.ahex.ensino.eb.br, em agosto de 2010.<br />
FIGURA 27<br />
VISTA ATUAL DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS<br />
Extraído de http://img716.imageshack.us/img716/1452/conjunto.jpg, em agosto de 2010<br />
80
A obra transmite robustez e estabilidade, impondo a quem passa uma<br />
sensação de submissão e obediência diante do monumento. Ela atemoriza quem se<br />
aproxima, se apresentando como um espaço hermético, inacessível a quem não faz<br />
parte da instituição.<br />
O pavimento térreo, tal como um gigantesco rodapé, revestido em granito<br />
vermelho-escuro, aparenta uma barra de proteção, como se fosse uma área de<br />
transição entre os pavimentos superiores e os pedestres que circulam abaixo: o<br />
poder e o povo. Ao que tudo indica, o projeto também teve a preocupação de<br />
transmitir a disciplina do poder militar. LIMA (1992) observou que a simetria entre o<br />
corpo central, destacando as alas lat<strong>era</strong>is, parece associar à imagem de um gen<strong>era</strong>l<br />
à frente de suas divisões.<br />
Fonte: LIMA, 1992, p. 66.<br />
FIGURA 28<br />
CROQUI DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS<br />
Como afirma Robert Goodman:<br />
A essência da <strong>arquitetura</strong> hierárquica é reforçar visualmente<br />
as estruturas políticas, também hierárquicas. Quanto mais<br />
majestosos e monumentais forem os locais públicos oficiais, mais<br />
81
trivial parece ser o ambiente de vivência pessoal do cidadão. (LIMA,<br />
1992, p. 92)<br />
Podemos encontrar algumas semelhanças da edificação com algumas obras<br />
executadas ou projetadas pelo arquiteto Albert Speer 25 na Alemanha nazista.<br />
EDIFÍCIO DA CHANCELARIA DURANTE O<br />
III REICH<br />
Extraído de http://germanhistorydocs.ghi-dc.org,<br />
em setembro de 2010<br />
FIGURAS 29 e 30<br />
PROJETO PARA O MEMORIAL AOS<br />
SOLDADOS<br />
Extraído de http:// aen.com.sapo.pt/mundial/<br />
Berlim, em setembro de2010.<br />
O Memorial aos Soldados nunca saiu do papel, mas a nova chancelaria foi<br />
inaugurada em 1939, constituindo a sede do governo da Alemanha até sua<br />
destruição pelos ataques aliados em 1945. A <strong>arquitetura</strong> do edifício manifestava o<br />
estilo que Hitler e os seus seguidores pretendiam dar ao Reich, demonstrando a<br />
força a pujança e o poder do "Império Alemão".<br />
Outras edificações militares construídas durante o Estado Novo<br />
acompanharam o mesmo estilo e transmitiam a mesma mensagem. Foi o caso da<br />
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), localizada na Praia<br />
Vermelha (Rio de Janeiro) e inaugurada em 1940.<br />
25 Albert Speer (1905-1981) foi ministro do Armamento e arquiteto-chefe do Terceiro Reich, sendo<br />
responsável por alguns dos mais importantes projetos arquitetônicos do regime nazista.<br />
82
FIGURA 31<br />
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO (ECEME)<br />
Fonte: Acervo Histórico do Exército. Extraído de : www.ahex.ensino.eb.br, em setembro de 2010.<br />
Na fachada principal do Palácio Duque de Caxias, na altura do terceiro e<br />
quarto andares, foi aposta uma ornamentação em bronze com os temas “A Glória<br />
Militar” e “Apoteose à Bandeira”, de autoria do escultor Hildegardo Leão Veloso. A<br />
escolha dos artistas foi feita pelos mesmos membros da Comissão Construtora,<br />
lid<strong>era</strong>da pelo Professor Pedro Calmon, diretor da Faculdade Nacional de Direito da<br />
Universidade do Brasil entre 1938 e 1948.<br />
Um das áreas mais imponentes do Palácio Duque de Caxias é o salão nobre<br />
de recepções no 10º pavimento, onde sobressaem os diversos ornamentos e,<br />
principalmente, os painéis em forma de vitrais localizados no teto.<br />
A confecção desses painéis ficou a cargo do pintor acadêmico Armando<br />
Martins Viana, vencedor do concurso realizado para a obra. Nota-se nesses painéis<br />
a imagem de um nacionalismo nostálgico e heróico, com o estilo bem diferente<br />
daquele proposto pelos arquitetos modernos. Essa visão do passado pode ser<br />
demonstrada pelos próprios títulos dos vitrais: “A Batalha de Guararapes”, “A<br />
Defesa das Fronteiras”, “Batalha do Avaí”, “República” e “A Pátria Brasileira”.<br />
Curiosamente no painel “República” são retratados importantes personagens<br />
do movimento republicano, como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin<br />
Constant, e Quintino Bocaiúva, mas não há qualquer referência a Silva Jardim,<br />
possivelmente por representar a corrente mais radical e democrática do Partido<br />
Republicano.<br />
83
FIGURA 32<br />
SALÃO NOBRE DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS<br />
Fonte: Acervo Histórico do Exército. Extraído de: www.ahex.ensino.eb.br, em agosto de 2010.<br />
FIGURA 33<br />
Painel “REPÚBLICA”<br />
Fonte: Acervo Histórico do Exército. Extraído de: www.ahex.ensino.eb.br, em setembro de 2010<br />
84
Portanto, dentro do espírito conservador e autoritário das forças armadas, foi<br />
adotado um estilo artístico e arquitetônico que impõe a quem passa a mensagem da<br />
ordem: obediência, hi<strong>era</strong>rquia e disciplina.<br />
b) O Novo Prédio da Estrada de Ferro Central do Brasil<br />
O desenvolvimento econômico acel<strong>era</strong>do na década de 1930 foi<br />
acompanhado por uma série de investimentos estatais na infraestrutura do Brasil,<br />
incluindo os serviços de transportes.<br />
As ferrovias ainda se constituíam no principal meio de transporte de carga e<br />
passageiros do Brasil, embora o transporte rodoviário estivesse se multiplicando. A<br />
antiga estação da Estrada de Ferro Central do Brasil mostrava-se insuficiente para<br />
atender as necessidades de transporte, além de obsoleta diante de um serviço cuja<br />
eletrificação exigia altíssimos investimentos.<br />
O projeto original foi elaborado em 1936 por Roberto Magno de Carvalho,<br />
arquiteto formado pela ENBA em 1921 e funcionário de carreira da Estrada de Ferro<br />
Central do Brasil. Porém, no início das obras, verificou-se que ele precisava ser<br />
revisto e ampliado. Em primeiro lugar, porque se constatou que ele não se<br />
adequava ao terreno proposto. Em segundo lugar, o governo decidiu que o novo<br />
prédio deveria abrigar todos os setores da administração da ferrovia, que se<br />
achavam dispersos em imóveis alugados em várias partes da cidade. Novamente,<br />
aplicava-se a um órgão estatal o modelo centralizador que norteava a administração<br />
pública em g<strong>era</strong>l naquele período, visto como instrumento para promover maior<br />
racionalidade e eficiência da burocracia.<br />
As modificações no projeto foram feitas pelos arquitetos húngaros Adalberto<br />
Szillard e Geza Heller, contratados para substituir Roberto Magno de Carvalho que<br />
tinha falecido pouco antes do início efetivo dos trabalhos, em 1937.<br />
85
FIGURA 34<br />
PROJETO ORIGINAL DO NOVO EDIFÍCIO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO<br />
BRASIL APRESENTADO POR ROBERTO M. DE CARVALHO<br />
Fonte: LIMA, 1992, p. 89.<br />
Interessante observar que a ditadura do Estado Novo ainda não tinha sido<br />
instaurada quando foi lançada a pedra fundamental do prédio, em 28 de março de<br />
1936. Porém, as modificações no projeto original, executado já no período<br />
autoritário, demonstram não apenas a preocupação com a funcionalidade, mas<br />
também a maior atenção à monumentalidade, adequando-a aos interesses do<br />
governo. Não é por acaso que a mudança que ganhou mais destaque foi a torre e o<br />
relógio, que foram substancialmente ampliadas em comparação com o projeto<br />
original.<br />
Inaugurada em 29 de março de 1943, a estação é o único ponto de<br />
concentração popular ao longo da Avenida Presidente Vargas. Como as elites<br />
tradicionalmente associavam as aglom<strong>era</strong>ções à desordem, <strong>era</strong> necessário criar<br />
mecanismos de controle e disciplina.<br />
86
FIGURA 35<br />
CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL,<br />
TENDO À FRENTE AINDA O ANTIGO PRÉDIO DA ESTAÇÃO<br />
Extraído de http://www.rioquepassou.com.br, em agosto de 2010.<br />
Assim, não é por acaso que em frente à estação estava o Palácio Duque de<br />
Caxias, sede do Ministério da Guerra, maior símbolo do poder militar. Importante<br />
destacar também que durante o Estado Novo, a Estrada de Ferro Central do Brasil,<br />
subordinada ao Ministério de Viação e Obras Públicas, também <strong>era</strong> dirigida por um<br />
militar, o Coronel João de Mendonça Lima.<br />
Por outro lado, o que mais se destaca no prédio da Central do Brasil é o<br />
gigantesco relógio situado no alto de uma torre de 135 metros de altura, como que<br />
estivesse disciplinando o horário da chegada dos trabalhadores aos seus<br />
escritórios, o que pode ser observado na emblemática figura 36, de 1963:<br />
87
FIGURA 36<br />
TRANSEUNTE DIANTE DA TORRE DO EDIFÍCIO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL<br />
DO BRASIL<br />
Extraído de http://img34.imageshack.us/img34/9914/centraldobrasil1963.jpg, em agosto de 2010.<br />
Como bem lembrou LIMA (1992, p. 92), “a torre, desde as épocas mais<br />
remotas sempre representou um signo de poder mítico, em que a verticalidade faz<br />
crer que a matéria atinge espíritos superiores, toca o firmamento”. No caso da torre<br />
da Central do Brasil, ela representa um poder concreto e disciplinador sobre os<br />
trabalhadores, que ao desembarcarem na estação, se deparavam com duas<br />
“sentinelas do poder” impondo a eles a disciplina e a obediência ao trabalho<br />
(relógio) e à autoridade (Estado).<br />
88
CONCLUSÃO<br />
A própria cidade é a memória coletiva dos povos; e como a<br />
memória está ligada a fatos e a lugares, a cidade é o ‘locus’ da<br />
memória coletiva. Essa relação entre o ‘locus’ e os citadinos tornase,<br />
pois, a imagem predominante, a <strong>arquitetura</strong>, a paisagem; e,<br />
como os fatos fazem parte da memória, novos fatos crescem juntos<br />
na cidade. (ROSSI, 1995, p. 198)<br />
Realizar uma pesquisa cujo objeto é a relação entre a Era Vargas e a<br />
<strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> foi uma tarefa árdua, por serem assuntos permanentemente<br />
envolvidos em debates e discussões no meio acadêmico. Ao finalizar, quero<br />
esclarecer que não tive a pretensão de esgotar o tema, mas apresentar uma<br />
contribuição, ainda que modesta, ao debate.<br />
Demonstrei que Getúlio Vargas, ao chegar ao poder, em 1930, buscou<br />
progressivamente implantar um novo modelo de desenvolvimento econômico ao<br />
Brasil. Fazia parte dessas mudanças uma ampla reforma na administração pública,<br />
capacitando a burocracia para o novo papel que o Estado desempenharia como<br />
principal agente indutor do desenvolvimento.<br />
A centralização política e administrativa chegou ao ápice com a decretação<br />
do Estado Novo em 1937. Essa articulação entre centralização político-<br />
administrativa e intervenção estatal na economia como instrumento que alavancaria<br />
o desenvolvimento econômico <strong>era</strong> uma crença que Getúlio Vargas alimentava<br />
desde a juventude, quando sua formação intelectual foi decisivamente influenciada<br />
pelo positivismo.<br />
O crescimento do aparelho estatal com a criação ou ampliação de ministérios<br />
e órgãos públicos gerou a necessidade de construir edifícios que abrigassem uma<br />
burocracia que não parava de crescer. Essas mudanças permitiram que fosse<br />
aberto uma espécie de mercado de obras públicas, oferecendo oportunidades aos<br />
profissionais da <strong>arquitetura</strong>, carreira que testemunhou um crescimento notável na<br />
década de 1930.<br />
Ao mesmo tempo, toda essa produção arquitetônica teve que obedecer aos<br />
interesses do governo que pretendia que os novos prédios fossem, ao mesmo<br />
89
tempo, funcionais e monumentais, transmitindo mensagens de confiança e<br />
otimismo, mas também de obediência ao Estado.<br />
Esse programa de obras públicas proporcionou uma disputa entre as<br />
principais “escolas” de <strong>arquitetura</strong> daquele tempo: de um lado, os acadêmicos e os<br />
neocoloniais; de outro, os modernos.<br />
Observamos como os modernos aproveitaram melhor as oportunidades,<br />
iniciando uma trajetória onde progressivamente foram conquistando a hegemonia no<br />
campo da <strong>arquitetura</strong>. Entre as razões dessa conquista estão a sua melhor<br />
fundamentação técnica e intelectual, o apoio que tiv<strong>era</strong>m do Ministro Gustavo<br />
Capanema e o controle do SPHAN.<br />
Por outro lado, mesmo com a influência crescente dos modernos,<br />
constatamos que a postura do governo Vargas com relação às escolas<br />
arquitetônicas, não teve uma orientação monolítica, variando principalmente entre a<br />
<strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e o Art-Déco, sem excluir outros estilos que, embora em menor<br />
grau, também estivessem presentes, como o neoclássico, utilizados nos Ministérios<br />
do Trabalho e da Fazenda.<br />
Essa ambiguidade não constitui, como pode parecer a princípio, uma<br />
contradição. Na verdade, essa atitude do governo Vargas, especialmente durante o<br />
Estado Novo, demonstra o quanto a influência positivista ainda estava presente no<br />
pensamento do presidente. O Estado patrocinava as obras, mas definia de forma<br />
autoritária o estilo que seria utilizado: a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> apresentava-se mais<br />
adequada aos monumentos que representariam o PROGRESSO, enquanto os<br />
outros estilos, especialmente o Art-Déco, mostravam-se mais adequados à<br />
mensagem da ORDEM.<br />
A contradição ficou por conta dos modernos, na medida em que propunham<br />
com sua <strong>arquitetura</strong> contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e<br />
democrática. Porém, seus grandes projetos, ao serem encomendas estatais,<br />
acabaram por fortalecerem um regime autoritário, do qual se beneficiaram.<br />
Importante aqui lembrar o episódio do MES, quando o Ministro Capanema, com<br />
autorização de Getúlio Vargas, decidiu não executar o projeto vencedor do<br />
concurso organizado para aquele fim. Provavelmente, se o Brasil não estivesse<br />
90
vivendo um regime de exceção, tal atitude g<strong>era</strong>ria muito mais contestações e<br />
polêmicas do que aquelas que ocorr<strong>era</strong>m na época.<br />
Podemos concluir afirmando que a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> na Era Vargas ficou<br />
em um ponto intermediário entre a utopia e a realidade. Por um lado, inovaram<br />
criando uma nova linguagem na <strong>arquitetura</strong> marcada pela funcionalidade, leveza e<br />
despojamento. Por outro, a contribuição de sua <strong>arquitetura</strong> como instrumento da<br />
democracia e justiça social foi muito limitada.<br />
Nos anos que se seguiram ao fim do Estado Novo, a <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong><br />
afirmou-se cada vez mais ao ponto de ser consid<strong>era</strong>da por muitos o gênero nacional<br />
por excelência, estando à frente de grandes projetos estatais, seja para sede de<br />
órgãos públicos ou de moradias populares. Porém, as contradições entre a utopia e<br />
a realidade continuaram acompanhando seus projetos.<br />
Affonso Eduardo Reidy, ao projetar o Conjunto Residencial do Pedregulho,<br />
destinado aos funcionários de baixa renda da Prefeitura do Distrito Fed<strong>era</strong>l,<br />
acreditava na ação reformadora da <strong>arquitetura</strong>, que desempenharia forte papel na<br />
mudança social. O projeto constituiu em uma das primeiras tentativas de construir<br />
conjuntos habitacionais no país deixando clara a opção de oferecer uma maior<br />
dignidade à classe trabalhadora, compreendendo blocos de habitação, mercado,<br />
posto de saúde, creche, escola, ginásio, piscina, campos de jogos e lavanderia<br />
mecânica. Porém, a realidade ficou bem distante daquilo que projetou. A obra,<br />
iniciada em 1946, demorou quinze anos para ser concluída. Além disso,<br />
A demora na construção de unidades residenciais, embora<br />
estrategicamente correta, ocasionou um problema. As pessoas<br />
originalmente recenseadas raramente se beneficiaram dos<br />
apartamentos e, em muitos casos, sua situação familiar e<br />
necessidades modificaram consid<strong>era</strong>velmente com o correr dos<br />
tempos. Por outro lado, freqüentemente a mudança para o<br />
Pedregulho correspondia a uma ascensão que não <strong>era</strong><br />
acompanhada por melhoria efetiva de vida, como emprego melhor,<br />
remun<strong>era</strong>ção condizente etc. Dessa forma, os moradores se viram<br />
diante de espaço que exigia um aumento de repertório econômicosocial<br />
que não havia ocorrido. Passaram a habitar, como<br />
"estrangeiros", organizações espaciais que pressupunham hábitos<br />
e modos de vida totalmente distintos dos seus. Algumas vezes, tal<br />
fato gerou inadaptações e mau uso de equipamentos.<br />
(CAVALCANTI, 1999, p. 138)<br />
91
Brasília está completando 50 anos em 2010. Inaugurada em 1960,<br />
certamente se constitui no maior símbolo da <strong>arquitetura</strong> modernista no Brasil. No<br />
plano de Lucio Costa, as ruas foram eliminadas da nova capital, substituídas por<br />
pistas, vias, passeios, eixos etc., acreditando que dessa forma eliminar-se-ia o caos<br />
das cidades tradicionais. O setor residencial buscava criar novas formas de<br />
convivência, rejeitando as divisões por classes dos bairros das cidades<br />
convencionais. Os apartamentos, de propriedade pública, deveriam ser distribuídos<br />
por moradores de diferentes origens sociais.<br />
No entanto, mais uma vez a realidade suplantou a utopia. Os espaços da<br />
capital democrática acabaram proporcionando aquilo que Lauro Cavalcanti<br />
denominou de positivismo espacial, onde o convívio é basicamente entre iguais: as<br />
elites nos clubes à beira dos lagos e os mais pobres nas proximidades da rodoviária<br />
ou nas cidades-satélites. Ironicamente, um dos poucos espaços de convívio<br />
relativamente “democrático” são os shopping-centers, que crescem no trecho<br />
intermediário entre o plano-piloto e as cidades-satélites.<br />
92
REFERÊNCIAS<br />
ABREU, Maurício de Almeida. Da habitação ao habitat: a questão da habitação<br />
popular no Rio de Janeiro e sua evolução. In: Revista do Rio de Janeiro. Niterói:<br />
EDUFF, jan/abr 1986, vol. 1, nº 2, p. 47-58.<br />
_____________. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar, 1987.<br />
ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Rodrigo e o SPHAN. Rio de Janeiro:<br />
Minc/Sphan/FNpM, 1987.<br />
ARANTES, Otília. Esquema de Lucio Costa. Em: NOBRE, A. et alii. Um modo de<br />
ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac & Naify,<br />
2004.<br />
BARROS, José D’Assunção. Cidade e história. Petrópolis: Vozes, 2007.<br />
BENCHIMOL, Jaime Larry . Pereira Passos: um Haussmann tropical. Rio de<br />
Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Divisão de<br />
Editoração, 1992 (Coleção Biblioteca Carioca).<br />
BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo: Perspectiva,1983.<br />
BERNARDES, Lysia M. C. e SOARES, Therezinha de Segadas. Rio de Janeiro:<br />
Cidade e região. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1990.<br />
BITTAR, William. Formação da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> no Brasil (1920-1940).<br />
Disponível em . Acessado em junho de 2010.<br />
BOSI, Alfredo. O positivismo no Brasil: uma ideologia de longa duração. In:<br />
PERRONE-MOISÉS, Leyla (org.). Do positivismo à desconstrução: idéias<br />
francesas na América. São Paulo: EDUSP, 2004.<br />
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembrança dos velhos. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 1994.<br />
BRESCIANI, Stella. Imagens da cidade – séculos XIX e XX. São Paulo: Marco<br />
Zero, 1994.<br />
93
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva,<br />
1981.<br />
BUENO, E. A sua saúde: a vigilância sanitária na História do Brasil. Brasília:<br />
Ministério da Saúde/ANVISA, 2005.<br />
CAMPOFIORITO, Ítalo. O patrimônio cultural: um balanço crítico. Revista do<br />
Brasil, n. 4, 1985.<br />
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial.<br />
Teatro das sombras: a política imperial. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização<br />
Brasileira, 2007.<br />
_____________. A formação das almas: o imaginário republicano no Brasil.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.<br />
_____________. Os bestializados: O Rio de Janeiro e a república que não foi.<br />
3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.<br />
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Quatro vezes cidade. Rio de Janeiro: Sette<br />
Letras, 1994.<br />
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. São Paulo: Paz e Terra, 2000.<br />
CAVALCANTI, Lauro. Modernistas, <strong>arquitetura</strong> e patrimônio. In: PANDOLFI, Dulce<br />
(org). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas,<br />
1999, p. 180.<br />
CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do belo. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.<br />
_____________. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na<br />
<strong>arquitetura</strong> (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.<br />
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São<br />
Paulo: Companhia das Letras, 1996.<br />
COMAS, Carlos Eduardo Dias. Questões de base e situação: <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> e<br />
edifícios de escritórios, Rio de Janeiro, 1936-45. Arquitextos, Portal de Arquitetura<br />
Vitruvius n. 78, nov. 2006. Disponível em . Acesso em<br />
fevereiro de 2010.<br />
94
CONDURU, Roberto. Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço<br />
arquitetônico moderno. In: RISCO - revista de pesquisa em <strong>arquitetura</strong> e<br />
urbanismo. EESC/USP – 2/2005. Disponível em: . Acesso em novembro de 2009.<br />
_____________. Vital Brasil. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000.<br />
CORBUSIER, Le. Por uma <strong>arquitetura</strong>. São Paulo: Perspectiva, 1981.<br />
CORREIA, Telma de Barros. Art déco e indústria: Brasil, décadas 1930 e 1940.<br />
São Paulo: Anais do Museu Paulista, v. 16, n. 4, p. 47, jul-dez 2008.<br />
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. São<br />
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999, 6. ed.<br />
COSTA, Lucio. Lúcio Costa, Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa das<br />
Artes, 1995.<br />
D´ARAÚJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997.<br />
DELGADO, Lucília de Almeida Neves e FERREIRA, Jorge Luiz. O Brasil<br />
republicano: livro 2. O tempo do nacional-estatismo : do inicio da década<br />
de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Record, 2003.<br />
DOMINGUES, José Maurício. A Dialética da Modernização Conservadora e a Nova<br />
História do Brasil. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol.<br />
45, nº 3, 2002, pp. 459 a 482.<br />
FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930 – Historiografia e História. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 2008.<br />
FRAMPTON, Kenneth. História crítica da <strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong>. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1997.<br />
FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de<br />
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.<br />
_____________. O imaginário trabalhista: getulismo, PTB e cultura popular,<br />
1945-1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.<br />
_____________. Trabalhadores do Brasil: o imaginário popular, 1930-45. Rio de<br />
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1997.<br />
95
FIORUCCI, Flávia. Aliados o enemigos. Los intelectuales en los gobiernos de<br />
Vargas y Perón. Estudios disciplinarios de América Latina y el Caribe, volumen<br />
XV, nº 2. Disponível em . Acesso em:<br />
fevereiro de 2010.<br />
FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: Trajetória da<br />
política fed<strong>era</strong>l de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Minc –<br />
Iphan, 2005.<br />
FONSECA, Pedro Cezar Dutra. As fontes do pensamento de Vargas e seu<br />
desdobramento na sociedade brasileira. In: RIBEIRO, Maria Thereza Rosa (org.).<br />
Intérpretes do Brasil; leituras críticas do pensamento social brasileiro. Porto<br />
Alegre, Mercado Aberto, 2001, p.103-124.<br />
FOULCAULT. Michel. Microfísica do Poder. 3ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982.<br />
FREITAG, Barbara. Teorias da cidade. Campinas: Papirus, 2006.<br />
GIDDENS, Antony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. UNESP,<br />
1991.<br />
GOMES, Ângela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. São Paulo: Vértice,<br />
1988.<br />
GORELIK, Adrián. Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e <strong>arquitetura</strong> na<br />
América Latina. Belo Horizonte: UFMG, 2005.<br />
GUERRA, Abílio. Arquitetura e Estado no Brasil. Arquitextos, Portal de Arquitetura<br />
Vitruvius n. 64, set. 2005. Disponível em . Acesso em<br />
outubro de 2009.<br />
HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: Riscos Brasileiros. São Paulo: Studio Nobel,<br />
1987.<br />
HERSCHMANN, Micael e PEREIRA, Carlos. O imaginário moderno no Brasil. In: A<br />
invenção do Brasil moderno: medicina, educação e engenharia nos anos 20-<br />
30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.<br />
HOBSBAWN, Eric. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 3 ed. Rio de<br />
Janeiro: Forense-Universitária, 1983.<br />
96
HOBSBAWN e RANGER. Introdução: A invenção das tradições. In: HOBSBAWN,<br />
Eric e RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra,<br />
1997. P. 9-23.<br />
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 17ª ed. Rio de Janeiro: Livraria<br />
José Olympio, 1984.<br />
IANNI, Octavio. O colapso do populismo no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 1971.<br />
KNAUSS, Paulo ET alii. Cidade vaidosa: imagens urbanas do Rio de Janeiro.<br />
Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999.<br />
KESSEL, Carlos. A vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio. Rio<br />
de Janeiro: Secretaria das Culturas, Departamento G<strong>era</strong>l de Documentação e<br />
Informação Cultural, Arquivo G<strong>era</strong>l da Cidade do Rio de Janeiro, 2001.<br />
_____________. Vanguarda efêm<strong>era</strong>: <strong>arquitetura</strong> neocolonial na Semana de Arte<br />
Moderna de 1922. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 30, 2002, p.<br />
110-128.<br />
LACERDA, Aline Lopes de. A “Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram o<br />
regime. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 14, 1994, p.<br />
241·263.<br />
LAMARAO, Sergio Tadeu de Niemeyer. Dos trapiches ao porto - um estudo<br />
sobre a area portuaria do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de<br />
Cultura, 1991.<br />
LE GOFF, Jaques. História e Memória. São Paulo: UNICAMP, 1996.<br />
LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: O Município e o regime<br />
representativo no Brasil. 4 ed.. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978.<br />
LEONÍDIO, Otávio. Em busca da palavra do mestre. Novos estudos – CEBRAP, nº<br />
79, São Paulo, nov. 2007. Disponível em .<br />
Acessado em: julho de 2010.<br />
97
LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Avenida Presidente Vargas: uma drástica<br />
cirurgia. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes,<br />
Divisão de Editoração, 1992 (Coleção Biblioteca Carioca).<br />
LIMA, Jacqueline de Cassia Pinheiro. A pobreza como um problema social: As<br />
ações de Victor Tavares de Moura e Agamenon Magalhães nas favelas do Rio<br />
e nos Mocambos do Recife durante o Estado Novo. Tese apresentada ao<br />
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ. Rio de Janeiro,<br />
2006. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: maio de 2009.<br />
LOVE, J. L. O regionalismo gaúcho e as origens da revolução de 1930. São<br />
Paulo: Perspectiva, 1975.<br />
LINHARES, Maria Yedda (org.). História G<strong>era</strong>l do Brasil. Rio de Janeiro: Campus,<br />
1990.<br />
LISSOVSKY, Maurício e SÁ, Paulo. Colunas da Educação: a construção do<br />
Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio de Janeiro: IPHAN, 1996.<br />
MARTINS, Carlos. Identidade Nacional e Estado no projeto modernista. Óculum,<br />
Campinas, n. 2, p.: 71-76, set. 1992.<br />
MENDONÇA, Sônia Regina de. A industrialização brasileira. São Paulo: Moderna,<br />
1995.<br />
_____________. Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio<br />
de Janeiro: Graal, 1985.<br />
MOTA, Carlos Guilherme. A ideia de revolução no Brasil e outras idéias. São<br />
Paulo: Globo, 2008.<br />
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista do<br />
Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de<br />
História da PUC-SP - História e Imagens. Nº 10. dez/1993.<br />
OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de<br />
Castro. Estado Novo: ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1992.<br />
OS PENSADORES – COMTE. São Paulo: Abril Cultural, 1978.<br />
98
PADILHA, Sylvia. Da “Cidade Velha” à periferia. In: Revista do Rio de Janeiro.<br />
Niterói: EDUFF, jan/abr 1986, vol. 1, nº 1, p. 15-23.<br />
PAIM, Antonio. “Como se caracteriza a ascensão do positivismo”. In: Revista<br />
Brasileira de Filosofia, vol. XXX, fasc. 119, pp. 249:269, julho/agosto/setembro,<br />
1980.<br />
_______________. História das Idéias Filosóficas no Brasil. 3 ed. São Paulo:<br />
Convívio, 1984.<br />
PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed.<br />
Fundação Getulio Vargas, 1999.<br />
PARANHOS, Adalberto. O roubo da fala. Origens da ideologia do trabalhismo<br />
no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.<br />
PENNA, Lincoln de Abreu. O Progresso da Ordem: O Florianismo e Construção<br />
da República. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997.<br />
_____________. Uma História da República. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,<br />
1989.<br />
PESSOA, Reinaldo Carneiro. A idéia republicana no Brasil através de<br />
documentos. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1976.<br />
PINHEIRO, Maria Lucia Bressan Pinheiro. Lúcio Costa e a Escola Nacional de<br />
Belas Artes. Disponível em . Acessado em maio de 2010.<br />
PINHEIRO, Gerson. “O novo director da Escola de Belas Artes e as diretrizes de<br />
uma Reforma: o estylo ‘Colonial’ e o ‘Salon’”. O Globo, Distrito Fed<strong>era</strong>l, DF, 29<br />
dez. 1930. Arquivo Biblioteca Nacional.<br />
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. In: Revista Estudos<br />
Históricos, vol. 02, n 03, 1989, p. 3-15. Disponível em:<br />
. Acesso em: outubro de 2008.<br />
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Revista Estudos Históricos,<br />
Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212. Disponível em:<br />
. Acesso em: novembro de 2008.<br />
99
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz e PECHMAN, Robert. Cidade, povo e nação –<br />
gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.<br />
ROCHA, Oswaldo P. A <strong>era</strong> das demolições: Cidade do Rio de Janeiro (1870-<br />
1920). Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1995.<br />
ROCHA, Ricardo. Algumas questões sobre autoritarismo e formação do ideário da<br />
<strong>arquitetura</strong> <strong>moderna</strong> carioca. In: RISCO: revista de pesquisa em <strong>arquitetura</strong> e<br />
urbanismo - programa de pós-graduação em <strong>arquitetura</strong> e urbanismo - EESC/USP<br />
– 2/2006. Disponível em . Acesso em: julho de 2009.<br />
ROSSI, Aldo. A <strong>arquitetura</strong> da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.<br />
SABATO, Ernesto. Sobre heróis e tumbas. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.<br />
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e litoral do<br />
Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1974, p. 213.<br />
SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de <strong>arquitetura</strong>. Rio de Janeiro: IAB, 1981.<br />
SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria<br />
Ribeiro. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio<br />
Vargas, 2000. Disponível em . Acesso<br />
em: agosto de 2010.<br />
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1999. São Paulo: EDUSP, São<br />
Paulo, 1997.<br />
SENNET, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental.<br />
Rio de Janeiro: Record, 1997.<br />
SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil República: da<br />
Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.<br />
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964).<br />
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.<br />
TOTA. Antonio Pedro. O Estado Novo. São Paulo: brasiliense, 1987.<br />
TRONCA, Ítalo. Revolução de 1930: a dominação oculta. 6 ed. São Paulo:<br />
brasiliense, 1988.<br />
100
VAZ, Lilian Fessler. Notas sobre o cabeça de porco. In: Revista do Rio de Janeiro.<br />
Niterói: EDUFF, jan/abr 1986, vol. 1, nº 2, p. 29-35.<br />
VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades<br />
complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.<br />
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e<br />
Terra, 1978, p. 61.<br />
WISNIK, Guilherme. Plástica e anonimato: modernidade e tradição em Lucio Costa<br />
e Mário de Andrade. Novos estudos – CEBRAP, nº 79, São Paulo, nov. 2007.<br />
Disponível em . Acessado em: março de 2010.<br />
101