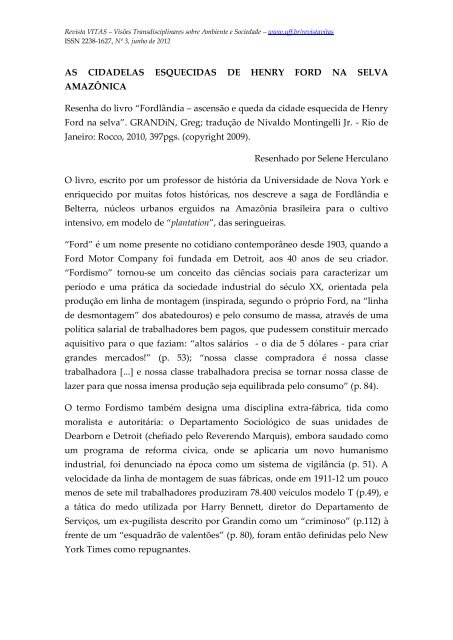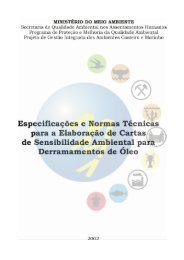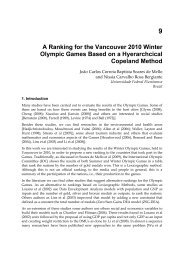AS CIDADELAS ESQUECIDAS DE HENRY FORD NA SELVA ... - UFF
AS CIDADELAS ESQUECIDAS DE HENRY FORD NA SELVA ... - UFF
AS CIDADELAS ESQUECIDAS DE HENRY FORD NA SELVA ... - UFF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
<strong>AS</strong> CIDA<strong>DE</strong>L<strong>AS</strong> ESQUECID<strong>AS</strong> <strong>DE</strong> <strong>HENRY</strong> <strong>FORD</strong> <strong>NA</strong> <strong>SELVA</strong><br />
AMAZÔNICA<br />
Resenha do livro “Fordlândia – ascensão e queda da cidade esquecida de Henry<br />
Ford na selva”. GRANDiN, Greg; tradução de Nivaldo Montingelli Jr. - Rio de<br />
Janeiro: Rocco, 2010, 397pgs. (copyright 2009).<br />
Resenhado por Selene Herculano<br />
O livro, escrito por um professor de história da Universidade de Nova York e<br />
enriquecido por muitas fotos históricas, nos descreve a saga de Fordlândia e<br />
Belterra, núcleos urbanos erguidos na Amazônia brasileira para o cultivo<br />
intensivo, em modelo de “plantation”, das seringueiras.<br />
“Ford” é um nome presente no cotidiano contemporâneo desde 1903, quando a<br />
Ford Motor Company foi fundada em Detroit, aos 40 anos de seu criador.<br />
“Fordismo” tornou-se um conceito das ciências sociais para caracterizar um<br />
período e uma prática da sociedade industrial do século XX, orientada pela<br />
produção em linha de montagem (inspirada, segundo o próprio Ford, na “linha<br />
de desmontagem” dos abatedouros) e pelo consumo de massa, através de uma<br />
política salarial de trabalhadores bem pagos, que pudessem constituir mercado<br />
aquisitivo para o que faziam: “altos salários - o dia de 5 dólares - para criar<br />
grandes mercados!” (p. 53); “nossa classe compradora é nossa classe<br />
trabalhadora [...] e nossa classe trabalhadora precisa se tornar nossa classe de<br />
lazer para que nossa imensa produção seja equilibrada pelo consumo” (p. 84).<br />
O termo Fordismo também designa uma disciplina extra-fábrica, tida como<br />
moralista e autoritária: o Departamento Sociológico de suas unidades de<br />
Dearborn e Detroit (chefiado pelo Reverendo Marquis), embora saudado como<br />
um programa de reforma cívica, onde se aplicaria um novo humanismo<br />
industrial, foi denunciado na época como um sistema de vigilância (p. 51). A<br />
velocidade da linha de montagem de suas fábricas, onde em 1911-12 um pouco<br />
menos de sete mil trabalhadores produziram 78.400 veículos modelo T (p.49), e<br />
a tática do medo utilizada por Harry Bennett, diretor do Departamento de<br />
Serviços, um ex-pugilista descrito por Grandin como um “criminoso” (p.112) à<br />
frente de um “esquadrão de valentões” (p. 80), foram então definidas pelo New<br />
York Times como repugnantes.
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
Pacifista, antimilitarista, internacionalista (Ford chegou a fretar um navio em<br />
1915 para enviar uma delegação à Europa a fim de negociar o fim da I Guerra<br />
Mundial); sufragista, construtor de hidrelétricas, antifinancista (teve a idéia de<br />
uma moeda regional que detivesse o poder dos bancos), amante da dança e da<br />
jardinagem, antisemita e anti-sindicatos, Grandin salienta em Ford sua crença<br />
transcendentalista na possibilidade de perfeição do homem, sua aversão a<br />
tradicionalismos e, o que seria bem atual, laivos de ambientalismo: sua serraria<br />
industrial em Iron Mountain, River Rouge do Norte, teria praticado<br />
experiências de reflorestamento e de reciclagem de resíduos (p 72, 73). Quando<br />
visitou a Inglaterra para promover o lançamento de seu Modelo A, ao ser<br />
informado do depósito de lixo em Dagenham, Essex, propôs a construção de<br />
uma usina para transformar seu calor em vapor para operar sua fábrica (p. 133).<br />
Vale também apontar a atualidade de sua ideia de eliminar todos os animais<br />
das fazendas (p.54).<br />
O que se conhece menos, e que o livro de Grandin nos conta, é Ford como<br />
urbanista, construtor de núcleos urbanos que seriam comunidades industriais-<br />
rurais. E, tal como a grande maioria dos urbanistas, sua aversão a metrópoles.<br />
Em Pequaming e em Alberta, na península Superior, perto de Iron Mountain,<br />
Ford concretizou sua ideia de “totalidade industrial-rural” (p. 73), com ruas<br />
pavimentadas, grama, flores e atividades contínuas de pintura de todos os<br />
edifícios:<br />
“Em vez de cabanas imundas, frias e infestadas de vermes, com as quais os<br />
trabalhadores estavam acostumados, Alberta era um oásis eletrificado da<br />
América moderna. Havia iluminação nas casas e ruas, passeios de cimento,<br />
chuveiros, salas de recreação e cinemas” (P. 75).<br />
Em Muscle Shoals, ao longo do rio Tennessee, no noroeste do Alabama, Ford<br />
concebeu a implantação de uma nova “Arcádia industrial” nas palavras de<br />
Grandin, uma cidade longitudinal de 120 km de extensão, junto a fábricas de<br />
nitrato e represas para usinas hidrelétricas, um projeto que o célebre urbanista<br />
Frank Lloyd saudou como “uma das melhores coisas de que ele ouvira falar”<br />
(p. 79). Segundo o relato de Grandin, Muscle Shoals não se efetivou, não apenas<br />
porque o Congresso a rejeitara, mas também porque especuladores de Detroit<br />
se adiantaram, ali comprando terras – formando a Muscle Shoals Land<br />
Corporation - com o intuito de revendê-las com lucro ao próprio Ford. A região<br />
viria a ser objeto da Tennessee Valley Authority, do Presidente Franklin Delano
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
Roosevelt, para levar eletricidade e empregos em um programa oposto ao de<br />
Ford, que preferia descentralização e indústrias em vilarejos.<br />
Em 1929 Ford, amante de maquinarias antigas, criou Greenfield Village<br />
(próxima a River Rouge), um pequeno núcleo urbano que era um museu a céu<br />
aberto, uma “homenagem à América rural” (p. 255) e para onde mandou<br />
transplantar diversas edificações: uma agência de correio de 1803 de<br />
Connecticut, a oficina de bicicletas dos irmãos Wright, a casa de Edgar Allan<br />
Poe em Nova York, a casa de Walt Whitman, os laboratórios de seu amigo<br />
Thomas Edison em Menlo Park (New Jersey), a casa de fazenda de sua própria<br />
infância. Greenfield Village expressou a um só tempo a celebração do<br />
progresso tecnológico, dos artesãos e dos motores, e também a celebração da<br />
solidez de objetos feitos para durar: era “um antídoto ao fetichismo de bens de<br />
consumo baratos” (p. 258). Um detalhe ele se recusou a reproduzir em sua<br />
cidadezinha-museu: um banco (p. 257).<br />
No mesmo ano de 1929, “depois de dirigir por uma floresta da Península<br />
Superior que considerava especialmente bonita, enviou uma equipe de trabalho<br />
para cavar um lago e construir um conjunto de doze bangalôs em torno de um<br />
gramado. Alberta, batizada por Ford com o nome do gerente de suas operações<br />
na Península Superior, tornou-se o mais novo acréscimo ao programa de<br />
indústrias em vilarejos, e seus trabalhadores dividiriam seu tempo entre o corte<br />
de árvores, o beneficiamento da madeira e a agricultura.[...] Hoje Alberta<br />
permanece intacta e é dirigida pela Universidade Técnica de Michigan como<br />
estação de pesquisa florestal e atração turística” (p. 320).<br />
Passemos à experiência fordista de produção de látex na Amazônia.<br />
No início do século XX o Brasil havia perdido o monopólio da borracha para a<br />
Malásia e Sumatra, no sudeste da Ásia (em 1915 a Ásia passara a exportar 370<br />
mil toneladas, mais de dez vezes a produção amazônica). Quando em 1919 o<br />
preço da borracha asiática começou a cair, por causa da guerra, Winston<br />
Churchill aprovou a idéia de um cartel para sustentar os preços. Precavendo-se<br />
ao cartel, o Presidente dos EUA, Herbert Hoover, e seu Secretário do Comércio<br />
recomendaram então aos fabricantes estadunidenses que fizessem expedições<br />
científicas à Amazônia e investissem na produção de borracha na América<br />
Latina. Harvey Firestone e Henry Ford atenderam ao chamado, enquanto que<br />
Goodrich, Goodyear e U.S.Rubber continuaram a trabalhar com os britânicos.
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
Em 1924 Ford já havia cogitado em cultivar seringueiras na Flórida, em<br />
Everglades, mas desistiu porque os boatos sobre seu interesse provocaram a<br />
especulação de terras: especuladores de Detroit criaram a Florida and Cape Cod<br />
Realty Company para comprar e subdividir terras na cidade de Labelle,<br />
também para revendê-las a Ford. Firestone iniciou uma plantação de<br />
seringueiras na Libéria, mas Ford foi aconselhado a cultivá-las na sua origem,<br />
isto é, na Amazônia.<br />
Muitos brasileiros participaram, em diferentes momentos, da empreitada de<br />
atrair Henry Ford para o Brasil: o diplomata José Custódio Alves de Lima;<br />
Monteiro Lobato, seu tradutor; o cafeicultor Jorge Dumont Villares; Dionysio<br />
Bentes, governador do Pará em 1925, que lhe ofereceu terras gratuitamente;<br />
Antonio Castro, prefeito de Belém; William Schurz, adido comercial dos EUA<br />
no Rio; Maurice Greite, um inglês sediado em Belém. Em 1926 Bentes concedeu<br />
a Villares, Schurz e Greite uma opção sobre 10 milhões de hectares no baixo<br />
vale do Tapajós (p. 94). Em 1926 Villares viajou a Dearborn (Michigan) para<br />
apresentar a Henry Ford e a seu filho Edsel um mapa rascunhado das terras,<br />
incluindo duas cidadezinhas que denominou de Fordville e Edselville.<br />
Ford enviou inicialmente ao Brasil um botânico da Universidade de Michigan,<br />
Carl de La Rue, que lhe fez um relatório sobre as excelências do vale do Tapajós<br />
– vegetação luxuriante, árvores que renderiam até um galão de látex por dia,<br />
ausência de pântanos em platôs sem mosquitos - uma região em tudo superior a<br />
Sumatra. Descreveu também a extrema pobreza das pessoas, as crianças<br />
doentes, o sistema de escravidão por endividamento montado por comerciantes<br />
“sírios”. Grandin faz seu leitor supor que teria sido em muito a perspectiva de<br />
resgatar essas gentes o que motivou Henry Ford. Em 1927 ele dá procurações a<br />
dois de seus funcionários, O.Z.Ide e Wl.L. Reeves Blakeley para negociar uma<br />
concessão de terras:<br />
“Ide desdobrou um mapa do vale do Tapajós, com um lápis preto traçou<br />
uma linha de 120 km rio acima, uma de outros 120 terra adentro e outra,<br />
paralela à primeira, voltando ao ponto de partida. Um total de 14562<br />
km² [...] Num bloco de papel amarelo, Ide, Blakeley e Villares<br />
escreveram exatamente o que queriam na lei que iria ao Legislativo [...]<br />
pediram tudo em que puderam pensar: direito de exploração da<br />
madeira e reservas minerais, direito de construção de uma ferrovia e<br />
pistas de pouso, de erigir edificações sem a supervisão do governo, abrir<br />
bancos, organizar força policial privada, dirigir escolas, extrair energia<br />
de quedas d’água, represar rios, ficar isenta de impostos, ter autorização
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
para enviar ao exterior peles e couros, óleos e sementes, madeira e<br />
outros artigos de qualquer natureza. Em troca, os negociadores da Ford<br />
obrigaram a empresa a apenas plantar 400 hectares de seringueiras no<br />
período de um ano.” (p. 116)<br />
O estado do Pará cedeu a Ford pouco mais de um milhão de hectares, um<br />
pouco menos do que Ide havia delineado no mapa, a mil quilômetros de Belém<br />
e 160 km de Santarém. Metade eram terras públicas, que Ford recebeu de graça,<br />
e metade provinha de reivindicação de Villares, pela qual ele deveria pagar 125<br />
mil dólares. Ali havia a aldeia Boa Vista, de propriedade da família Franco,<br />
egressa da Revolta da Cabanagem, de 1835. A aldeia foi comprada por quatro<br />
mil dólares à vista (p. 125) e a Companhia Ford Industrial do Brasil ficou sendo<br />
a proprietária legal das terras. Em 30 de setembro de 1927 o legislativo estadual<br />
paraense ratificou a concessão. Para a imprensa local, Ford estaria mais<br />
interessado era em petróleo, ouro e influência política e a soberania brasileira<br />
havia sido violada.<br />
Dois navios de Ford – o Ormoc e o Lake Farge - trouxeram suprimentos e<br />
pessoal: um médico, um engenheiro eletricista, um químico, um contador e<br />
gerentes: “ciência, cérebro e dinheiro. Mas, sublinha Grandin, não tinha<br />
horticultor, agrônomo, botânico, microbiologista, entomologista ou qualquer<br />
pessoa que pudesse saber algo de seringueiras silvestres e seus inimigos” (p.<br />
138). O Farge encalhou e seu capitão gastou cerca de 130 mil dólares para<br />
descarregar sua carga de 3.800 toneladas.<br />
Enquanto esperava pelos navios, Blakeley, que tinha carta branca para gastar<br />
até doze milhões de dólares no empreendimento amazônico (p. 144), iniciou o<br />
desmatamento da área através de queimadas de centenas de hectares, com<br />
mortes de animais, exaustão e doenças entre os trabalhadores contratados, que<br />
se sublevaram por receberem comida estragada.<br />
Havia dificuldades de toda sorte: escândalos afloraram sobre subornos por trás<br />
da concessão de terras: “ao que parecia, o grande homem [Ford] foi convencido<br />
por um grupo de provincianos a pagar por terras que estavam sendo cedidas de<br />
graça.” (p. 151). As elites locais eram hostis, pois temiam perturbações nas<br />
relações de clientelismo praticadas. Contratar trabalhadores tornou-se difícil,<br />
pois os seringueiros desapareciam na selva tão logo ganhassem o suficiente<br />
para passar alguns meses sem trabalhar (p. 163). Ao mesmo tempo, a notícia<br />
sobre a Fordlândia atraía brasileiros pobres de outras regiões, mas a taxa de
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
rotatividade era muito alta: “Fordlândia precisava fazer cerca de seis mil<br />
contratações para manter uma folha de pagamento de dois mil.” (p. 166).<br />
Muitos desses preferiram ficar em assentamentos na periferia, escapulindo da<br />
disciplina rígida fordista e praticando uma economia de serviços, como na<br />
localidade de Pau d’Água. Doenças enchiam o hospital de Ford: sífilis, malária,<br />
beribéri, disenterias, micoses, parasitoses, doenças venéreas: “ao final de 1929,<br />
noventa pessoas foram enterradas no cemitério da empresa, inclusive filhos dos<br />
gerentes vindos dos Estados Unidos”. (p. 172, 173). Quem sobrevivia enfrentava<br />
náuseas e pesadelos causados por comprimidos diários de quinino, empregados<br />
na profilaxia da malária. As famílias dos gerentes estrangeiros relataram o<br />
convívio com “insetos grandes como lagostas”, piuns, morcegos-vampiros. No<br />
início de 1929, “Ford já havia gasto mais de um milhão e meio de dólares, com<br />
poucos resultados” (p. 174). Fordlândia também enfrentava dificuldades com o<br />
governo brasileiro, federal e estadual, na forma de embargo de material,<br />
taxações a importações e exportações (a isenção fiscal chegou depois, em 1933,<br />
com Vargas). Sementes importadas tinham sido apreendidas e a direção acabou<br />
usando sementes locais, plantando-as erradamente na época da seca. As mudas<br />
nasciam fracas, pois a gasolina usada nas queimadas tinha também afetado o<br />
solo desmatado. A atividade complementar de Fordlândia, a extração de<br />
madeira e a serraria, também não deu certo e as madeiras armazenadas ou<br />
apodreciam ou empenavam.<br />
Apesar destas dificuldades, ao final de 1930 “parecia que a Fordlândia tinha<br />
superado seu começo difícil” (p. 231): índios mundurukus forneciam um<br />
suprimento de sementes nativas; equipes de saneamento inspecionavam<br />
roupas, disposição do lixo, casas dos trabalhadores; oito mil metros quadrados<br />
de seringais estavam formados, com mudas de 1,80 de altura alinhadas em<br />
“filas perfeitas”; a “docilidade dos trabalhadores brasileiros” era elogiada em<br />
relatórios. Foi então que uma sublevação foi deflagrada em dezembro de 1930 e<br />
seu estopim foi o novo sistema de refeições: seu custo passava a ser deduzido<br />
dos salários, sua dieta seguia os gostos de Henry Ford (aveia, cereais integrais,<br />
enlatados), filas substituíram garçons e o novo refeitório, de concreto e telhas de<br />
amianto, era uma fornalha. “A multidão ficou enlouquecida. Depois de demolir<br />
o refeitório destruíram tudo que pudesse ser quebrado [...] arrancaram pilares<br />
do píer, atiraram cargas no rio, destruindo caminhões, tratores e carros,<br />
queimaram arquivos e atearam fogo à oficina [...] Cantavam “o Brasil para os<br />
brasileiros, matem todos os americanos” (p. 234, 236).
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
Mas o grande problema foi a própria “plantation”. Os homens de Ford<br />
aplicaram as técnicas da produção intensiva, plantando as seringueiras em<br />
linhas, próximas umas às outras: seguindo os planos, dois homens plantavam<br />
de 160 a 200 árvores por dia, usando de 2 a 3 minutos no plantio de cada muda.<br />
Assim era feito no sudeste da Ásia, onde as seringueiras foram plantadas aos<br />
milhares por hectare sem maiores problemas, pois lá não existiam os fungos<br />
nem os predadores nativos amazônicos. Mas na Amazônia esta técnica de<br />
plantation foi um erro enorme. Se a primeira leva de seringueiras não prosperou<br />
porque as sementes não eram boas e porque haviam sido plantadas em solo<br />
calcinado, a segunda leva acabou dizimada por fungos, insetos e toda sorte de<br />
praga. A Hevea brasileira silvestre dá de forma espontânea e afastada umas das<br />
outras (duas a três para cada quatro mil metros quadrados), o que reduz a<br />
propagação das lagartas, formigas, moscas brancas, percevejos e todo tipo de<br />
pragas que se alimentam de suas folhas. A floresta densa à sua volta as protege<br />
do excesso de sol e chuva. Mas mudas de Fordlândia ficavam expostas aos<br />
ventos, ao sol e sobretudo às pragas.<br />
A diretoria de Ford – tanto a local quanto a de Dearborn (sede da Ford em<br />
Michigan) – decidiu então condenar as plantações em Fordlândia e transferir-se<br />
para um platô rio Tapajós acima, próximo a uma cidade já estabelecida,<br />
Itaituba. “Depois de gastar seis anos e US$ 7 milhões [...] os agentes de Ford, em<br />
1936, trocaram um pouco mais de 202 mil hectares ainda inexplorados da<br />
Fordlândia por uma área equivalente na nova localidade, que chamaram de<br />
Belterra.” (p. 311). Foram plantadas 700 mil árvores e cultivado um viveiro com<br />
5 milhões de mudas.<br />
As casas de Belterra seguiam o estilo Cape Cod das casas de Alberta; havia<br />
escolas, hospital, esquadrão de saneamento, jardins (Ford incentivava a<br />
jardinagem), salão de dança, um campo de golfe. A proximidade de Santarém<br />
facilitava os contatos. O terreno plano tornava os cuidados com o cultivo menos<br />
trabalhosos. A disciplina fordista também havia abrandado.<br />
Tudo parecia correr bem até que os insetos atacaram: ácaros vermelhos, moscas<br />
brancas, formigas pretas, besouros brancos, gafanhotos, mandruvás, aranhas<br />
(que atacavam também máquinas, causando curto circuito em equipamentos<br />
telegráficos – p. 327). E sobretudo as lagartas. A empresa mobilizou toda a<br />
população, que em cinco horas colheu cerca de 250 mil lagartas que foram<br />
queimadas. Foi preparado um xarope venenoso com veneno de timbó,
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
mandioca, óleo de peixe, querosene e um composto de sulfato e arseniato de<br />
nicotina. Seringueiras híbridas, enxertadas, de maior rendimento e robustez,<br />
foram plantadas em novos 8 mil hectares (p.329).<br />
Em 1937 John Rogge, um dos diretores de Belterra, morreu afogado no rio<br />
Tapajós; outro diretor, Pringle, teve um colapso nervoso e retornou<br />
definitivamente a Michigan. Em 1937 os trabalhadores de Belterra e Fordlândia<br />
organizaram-se em sindicato, reconhecido legalmente em 1939. Em outubro de<br />
1940 o Presidente Getúlio Vargas visitou Belterra e fez um discurso que, embora<br />
louvasse os termos humanitários do empreendimento, testemunhava seu<br />
fracasso econômico. Grandin assim o descreve:<br />
“Vargas pareceu repudiar o tipo de holismo rural/industrial motivado pelo<br />
respeito à natureza que o industrial acreditava poder conseguir [...] Conhecido<br />
como ‘Marcha para o Oeste’, o discurso de Vargas não tinha clemência com a<br />
natureza. ‘A mais elevada tarefa do homem civilizador, disse o presidente<br />
brasileiro, era ‘conquistar e dominar os vales das grandes torrentes<br />
equatoriais”. (p. 337)<br />
Em 1941, não mais os insetos, mas a “praga das folhas” infectou as copas das<br />
seringueiras híbridas, aniquilando os 70% dos novos lotes plantados. Belterra<br />
havia produzido 750 toneladas de látex, bem abaixo do consumo anual de 20<br />
mil toneladas da própria indústria Ford.<br />
Com a eclosão da II Guerra Mundial e a ocupação japonesa no sudeste da Ásia,<br />
a borracha brasileira voltou a ser estratégica. Roosevelt assinou tratados com os<br />
países amazônicos e Vargas começou a trabalhar em conjunto com a Rubber<br />
Development Corporation e organismos do governo dos Estados Unidos. A<br />
migração interna em direção à Amazônia foi encorajada e tudo prometido aos<br />
‘soldados da borracha’ (p. 342). Botânicos do Departamento de Agricultura dos<br />
Estados Unidos vieram para Fordlândia e Belterra para a produção de clones de<br />
seringueiras, mas “pragas e insetos continuaram a solapar todos os esforços” (p.<br />
343) e extraía-se somente cerca de 178 quilos de látex por hectare, duas vezes<br />
menos os que os camponeses de Sumatra haviam conseguido ainda em 1930.<br />
Fordlândia e Belterra atraíram atenções (Walt Disney visitou Fordlândia em<br />
1941 para fazer um documentário); um campo de pouso foi construído durante<br />
a guerra. O governo dos EUA chegou a tentar conversar com Ford sobre a<br />
possibilidade de ali alocar judeus refugiados da guerra, apesar de reconhecer
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
que isso seria para eles uma ‘perda de condição social’ porque os trabalhadores<br />
na Amazônia eram ‘nativos de cor’ e apesar de saber do antisemitismo de Ford.<br />
(p. 346). Segundo Grandin, Fordlândia e Belterra, com suas ruas limpas,<br />
serviços públicos, assistência médica, higiene, jardins e bangalôs agradáveis,<br />
ficaram como símbolo das possibilidades da cooperação exterior, mas ficaram<br />
também, ponderamos nós, como um exemplo efetivo dos erros de gestão e da<br />
impossibilidade de convivência do industrialismo massivo com a floresta: ou a<br />
indústria humana é derrotada pelo “inferno verde” da floresta ou a dizima.<br />
Quando o neto de Ford, Henry Ford II, herdou o império de seu avô, em 1945,<br />
Fordlândia e Belterra haviam consumido 20 milhões de dólares e estavam<br />
avaliadas em US$ 8 milhões. Ele as vendeu ao governo brasileiro por US$<br />
244.200 (p.348), que as entregou ao Instituto Agronômico do Norte; seu chefe, o<br />
agrônomo Felisberto Camargo, mandou arrancar grande parte das seringueiras,<br />
substituindo-as pelo plantio de juta, cacau e introduzindo ali o gado zebu.<br />
Terminada a Guerra Mundial, os barões da borracha (os seringalistas que<br />
exploravam os seringais silvestres) “fizeram lobby para que o Rio [isto é, o<br />
governo federal] deixasse de subsidiar as plantações de seringueiras e reduzisse<br />
sua assistência à saúde, educação e outros serviços que ameaçavam solapar seu<br />
poder [...] Os comerciantes da borracha conseguiram grande parte do que<br />
queriam”. O sistema de endividamento voltou e Camargo foi transferido para o<br />
Rio (pgs. 352-353).<br />
Ford, que nunca pôs os pés em seu empreendimento amazônico, havia tentado<br />
implantar no Pará o seu ‘capitalismo ao estilo Ford’ – altos salários, benefícios<br />
humanos e melhoria de ânimo, sem intromissões de governos (p. 345) e assim,<br />
tentou ser uma cunha de modernidade frente à exploração oligárquica.<br />
Grandin define Fordlândia e Belterra como a “representação cristalina da utopia<br />
que impelia o fordismo e o americanismo” (p. 353), bem como da fé de que a<br />
tecnologia resolveria qualquer problema social decorrente do progresso. O<br />
autor termina por concordar que Fordlândia é uma “parábola da arrogância”,<br />
mas ressalva, não da arrogância de pensar que se podia domar a Amazônia,<br />
mas de “acreditar que as forças do capitalismo, uma vez liberadas, poderiam<br />
ser contidas”(p. 354). A frase é ambígua e soa errônea, pois o relato desta saga<br />
mostra as forças capitalistas contidas sim, tanto pela floresta quanto pela<br />
espécie de capitalismo político vigente no Brasil.
Revista VIT<strong>AS</strong> – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade – www.uff.br/revistavitas<br />
ISSN 2238-1627, Nº 3, junho de 2012<br />
Nesta história minuciosa de Fordlândia e Belterra, rica em registros detalhados,<br />
Grandin traça um perfil de Henry Ford bastante positivo: além de seu espírito<br />
empreendedor já bem conhecido, de inventor e tycoon da indústria, de seus<br />
laivos de ambientalismo, passamos a conhecer seu urbanismo anti-urbano e,<br />
sobretudo, sua atitude crítica de antifinancista: segundo Grandin, Ford chegou<br />
a declarar que a Grande Depressão de 1929 foi benéfica (p. 244), por ter atacado<br />
os “inescrupulosos trocadores de dinheiro de Wall Street”, expressão usada por<br />
F.D.Roosevelt, de quem, aliás, ele discordava, a não ser neste particular. Este<br />
traço merece destaque nos dias atuais, em que o mundo atravessa crises<br />
financeiras que não são exatamente crise dos bancos e sim crises criadas por<br />
estes.