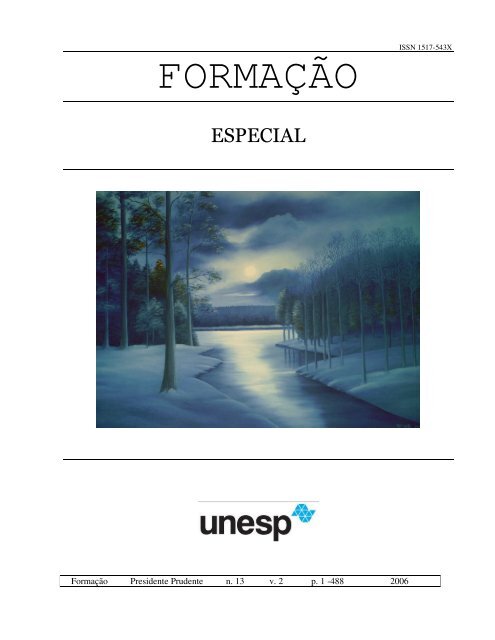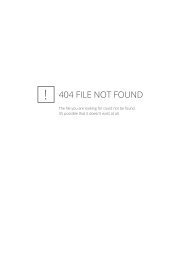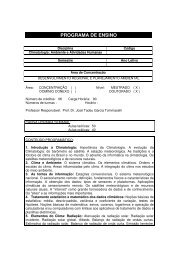FORMAÇÃO - Professor Assistente Doutor FCT/Unesp
FORMAÇÃO - Professor Assistente Doutor FCT/Unesp
FORMAÇÃO - Professor Assistente Doutor FCT/Unesp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FORMAÇÃO</strong><br />
ESPECIAL<br />
Formação Presidente Prudente n. 13 v. 2 p. 1 -488 2006<br />
ISSN 1517-543X
<strong>FORMAÇÃO</strong><br />
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA<br />
<strong>FCT</strong>/UNESP<br />
2<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA<br />
MESTRADO E DOUTORADO<br />
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRAFICO<br />
ESPECIAL<br />
Formação Presidente Prudente n o 13 v.2 p. 1 – X 2006<br />
ISSN 1517-543X
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
Revista Formação<br />
n. 13 v.2 2006<br />
Universidade Estadual Paulista<br />
Reitor: Marcos Macari<br />
Vice-reitor: Herman C. Voorwald<br />
Editor da Revista<br />
Eda Maria Góes<br />
Comissão Editorial<br />
Beatriz Medeiros de Melo<br />
Giunei Machado<br />
Umberto Catarino Pessoto<br />
Carlos Roberto Loboda<br />
Formação é uma publicação semestral do<br />
Programa de Pós-Graduação em Geografia<br />
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da<br />
<strong>Unesp</strong>, campus de Presidente Prudente –<br />
SP, destinada à divulgação da produção<br />
acadêmica de seus alunos e professores,<br />
sem excluir a participação de outros<br />
colaboradores. Pretende também<br />
estabelecer permuta com outras<br />
publicações de instituições nacionais e<br />
estrangeiras.<br />
Assessoria técnica<br />
Bibliotecária: Teresa Raquel Vanalli<br />
Jader Mozella Marton Soares<br />
Paulo César Zangalli Junior<br />
Capa<br />
“Caminho”<br />
Óleo sobre tela<br />
Maria Neuza Rotta<br />
Conselho Editorial<br />
Antônio César Leal<br />
Antônio Nivaldo Hespanhol<br />
Antônio Thomaz Junior<br />
Arthur Magon Whitacker<br />
Bernardo Mançano Fernandes<br />
Claudemira Azevedo Ito<br />
Eda Maria Góes<br />
Eliseu Savério Sposito<br />
José Tadeu Tomaselli<br />
João Lima Sant´Anna Neto<br />
João Osvaldo Rodrigues Nunes<br />
Manoel Carlos Toledo F. de Godoy<br />
Margarete Cristiane de C. T. Amorin<br />
Maria Encarnação Beltrão Sposito<br />
Raul Borges Guimarães<br />
Rosângela Ap. de M. Hespanhol<br />
Formação/Universidade Estadual<br />
Paulista – nº 1, 1994 –<br />
Semestral<br />
V. il.; 25 cm.<br />
ISSN 1517-543x<br />
Endereço Eletrônico<br />
www.fct.unesp.br<br />
www4.fct.unesp.br/pos/geo<br />
Revista formação<br />
3
APRESENTAÇÃO<br />
4<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
É com muita satisfação que trazemos ao público a publicação de número 13 da Revista<br />
Formação. Com este número, agora em versão eletrônica, em sua primeira edição, a Revista Formação dá<br />
continuidade ao seu papel de contribuir para o avanço da discussão geográfica. Neste número,<br />
excepcionalmente, não haverá, como é de praxe, a publicação de entrevista, que deve ser retomada com o<br />
número 14.<br />
A segunda edição deste número será comemorativa, com a publicação de artigos - publicados em<br />
edições anteriores - de autores importantes dentro da Geografia e de alunos que se formaram no Programa<br />
de Pós-Graduação em Geografia desta universidade, publicaram seus trabalhos na Revista Formação e<br />
estão, hoje, trabalhando em instituições de ensino e pesquisa no Brasil.<br />
Os artigos publicados nesta revista são oriundos de trabalhos finais de disciplinas da pósgraduação<br />
e de resultados de pesquisas finalizadas em dissertações e teses, o que demonstra a qualidade<br />
dos trabalhos e, logicamente, do programa de pós-graduação. Ao final, há a publicação das provas dos<br />
melhores colocados em cada linha de pesquisa e informações sobre as últimas defesas de dissertações e<br />
teses. Aproveitamos o ensejo para agradecer a colaboração de Elias Oliveira Noronha e de Oscar Gabriel<br />
Benítez Gonzáles na elaboração do sumário em Espanhol.<br />
A presença de artigos sobre a temática trabalho de campo, nesta edição, é um convite aos<br />
geógrafos à reflexão sobre uma prática importante de pesquisa. Ao mesmo tempo, o leitor encontrará<br />
trabalhos voltados à temática ambiental, a alguns estudos de caso e a conceitos geográficos.<br />
Finalmente, destacamos que a pintura “Caminhos”, de Maria Neusa Rotta, na capa da revista, é<br />
uma continuidade à divulgação de obras artísticas de autores da Região de Presidente Prudente.<br />
Erika Vanessa Moreira<br />
Leandro Bruno dos Santos<br />
Comissão de publicação
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
SUMÁRIO<br />
SUMARIO<br />
A informática no processo ensino-aprendizagem:<br />
contribuindo para uma nova escola.<br />
La informática en el processo del enseñanza-aprendizaje:<br />
contribuyendo a una nueva escuela.<br />
Denis RICHTER; Flávia Spinelli BRAGA; Mônica<br />
FÜRKOTTER ...................................................................... 8<br />
Considerações sobre o debate tempo e espaço.<br />
Consideraciones sobre el debate tiempo y espacio.<br />
João Marcio Palheta da SILVA ........................................... 14<br />
A recriação da grafia do planeta na produção da<br />
natureza e do espaço: a necessidade de se saltar escalas.<br />
La recriação de la ortografía del planeta en la producción de<br />
la naturaleza y del espacio: la necesidad de saltar las<br />
escalas.<br />
Fabrício Pedroso BAUAB ................................................... 20<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e<br />
circulação no Brasil.<br />
Eliminación de "barreras": la producción de fluidez y<br />
circulación en Brasil.<br />
Roberto França da SILVA JUNIOR.................................... 29<br />
Padrões socioeconômicos e centralidade urbana: Catuaí<br />
Shopping e Zona Norte de Londrina.<br />
Patrones socio-económicos y centralidad urbana: Catuaí<br />
Shopping y el Zona Norte de Londrina.<br />
Willian Ribeiro da SILVA; Maria Encarnação Beltrão<br />
SPOSITO ............................................................................. 42<br />
Expansão e estruturação interna do espaço urbano de<br />
Presidente Prudente – SP<br />
Expansión y estructuración interna del espacio urbano de<br />
Presidente Prudente – SP.<br />
Silvia Regina PEREIRA .................................................... 55<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
El urbano como la libertación - una lectura en Lefebvre.<br />
Helton Ricardo OURIQUES ............................................. 73<br />
À luz do tempo: imagem e memória urbana em Presidente<br />
Prudente.<br />
A la luz del tiempo: la imagen y la memoria urbana en<br />
Presidente Prudente.<br />
Valéria Cristina Pereira da SILVA .................................... 79<br />
5
Violência marginal: a construção da identidade e o<br />
sentido da violência.<br />
Violencia marginal: la construcción de la identidad y el<br />
sentido de la violencia.<br />
André Luís ANDRÉ; Eda GOES ....................................... 91<br />
Aos “vadios”, o trabalho: considerações em torno de<br />
representações sobre o trabalho e a vadiagem no Brasil.<br />
A los "vagabundos", el trabajo: las consideraciones<br />
alrededor de las representaciones sobre el trabajo y el<br />
vagabundeo en Brasil.<br />
Jones Dari GOETTERT ..................................................... 101<br />
Fetiche do Estado e a regulamentação do conflito capital<br />
trabalho.<br />
Fetiche del Estado y la regulación del conflicto capital<br />
trabajo.<br />
Marcelino Andrade GONÇALVES; Eliseu Savério<br />
SPÓSITO............................................................................ 118<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da<br />
“Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
La crisis del contrato social de la modernidad: el caso de la<br />
"reforma agraria” del Banco Mundial.<br />
Eraldo da Silva RAMOS FILHO ....................................... 132<br />
O MST e a formação da consciência de classe<br />
trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
El MST y la formación de la conciencia de la clase obrera:<br />
¿ideología política o realidad campesina?<br />
Rosemeire Aparecida de ALMEIDA ................................ 142<br />
Fronteira: natureza e cultura.<br />
Frontera: naturaleza y cultura.<br />
Celso Donizete LOCATEL ............................................... 163<br />
Ruralidade nos territórios: o exemplo do Estado do<br />
Paraná.<br />
Ruralidad en los territorios: el ejemplo del Estado de<br />
Paraná.<br />
Diânice Oriane SILVA; Rosângela Ap. de Medeiros<br />
HESPANHOL ................................................................... 173<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola no Norte do Paraná.<br />
Las Paradojas del tecnificación agrícola en el Norte de<br />
Paraná.<br />
Eliane Tomiasi PAULINO …........................................… 181<br />
Estudo de Ilhas de calor em Presidente Prudente/SP a<br />
partir dos transectos móveis.<br />
El estudio de Islas de calor en Presidente Prudente/SP com el<br />
origen en el transectos movible.<br />
Simone Scatoion Menotti VIANA; Carlos Eduardo Secchi<br />
6<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
CAMARGO; Margarete Cristiane de Costa Trindade<br />
AMORIM; João Lima SANT’ANNA NETO ................... 199<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade<br />
climática: contribuição ao problema.<br />
Acción antropica, alteraciones en el geossistemas,<br />
variabilidad climática: contribución al problema.<br />
Victor Assunção BORSATO; Edvard Elias SOUZA<br />
FILHO................................................................................ 213<br />
Normas Editoriais ........................................................... 224<br />
7
8<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
INFORMÁTICA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM: CONTRIBUINDO PARA UMA<br />
NOVA ESCOLA ∗<br />
Denis RICHTER ∗∗<br />
Flávia Spinelli BRAGA ∗∗∗<br />
Mônica FÜRKOTTER ∗∗∗∗<br />
Resumo: Este artigo tem o objetivo de discutir e analisar as relações entre o processo ensinoaprendizagem<br />
e o uso das Novas Tecnologias em Educação. A partir desse espaço, apontaremos as<br />
possibilidades e os limites do uso do computador em sala de aula, bem como a importância da Formação<br />
do <strong>Professor</strong> visando à verdadeira integração da tecnologia às práticas educacionais.<br />
Palavras-chave: novas tecnologias; ensino-aprendizagem; práticas, pedagógicas; formação do professor.<br />
Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir y analizar las relaciones entre el proceso de<br />
enseñanza-aprendizaje y el uso de la nuevas Tecnologías en Educación. A partir de aquí, señalaremos las<br />
posibilidades y los limites del ordenador en clase, así como la importancia de la Formación del Profesor<br />
que busca la real integración de la tecnología a las prácticas educacionales.<br />
Palabras-llave: nuevas tecnologías; enseñanza-aprendizaje; prácticas pedagógicas; formación de<br />
profesores.<br />
1. Introdução.<br />
No mundo dinâmico em que vivemos atualmente, precisamos acompanhar suas transformações<br />
para nele interagirmos de forma mais construtiva. As tecnologias têm influenciado muito, seja através da<br />
própria mídia, que cada vez mais nos circunda, ou mesmo pela crescente indústria das comunicações,<br />
onde ocorrem as mudanças mais profundas nos últimos anos. Analisar o atual processo ensinoaprendizagem,<br />
sem estabelecer relação alguma com as transformações da sociedade, parece-nos viver em<br />
um espaço fechado e alheio às mudanças.<br />
Estar atento e interligado ao dinamismo mundial não é questão de apenas sobreviver, mas de<br />
possibilitar a participação e atuação mais significativa em todos os campos, em nosso caso, na Educação.<br />
As novas idéias ou concepções de como pensar ou de como se relacionar com o mundo não partem<br />
apenas de nossas interpretações do dia-a-dia escolar, mas provêm também de leituras que nos permitem<br />
dimensionar novas realidades e propostas.<br />
Podemos citar as contribuições significativas de Almeida (1999), Papert (1994) e Valente (1993<br />
e 1999), ligadas às questões das Novas Tecnologias na Educação; e Barreiro (2001), Fazenda (1994),<br />
Freire (1986), Hernandéz e Ventura (1998) e Perrenoud (2000), as quais se destacam no âmbito da<br />
interdisciplinaridade, metodologia de projetos e competências docentes. Esses teóricos ajudam-nos a<br />
refletir sobre o processo ensino-aprendizagem, demonstrando como as novas tecnologias representam um<br />
recurso para potencializá-lo.<br />
Podemos destacar ainda a grande contribuição dos trabalhos de Valente e da equipe do Núcleo<br />
de Informática Aplicada á Educação - NIED/Unicamp, que tem pesquisado continuamente a importância<br />
das Novas Tecnologias no ambiente escolar, vislumbrando mudanças.<br />
∗<br />
Texto publicado em 2003 (n.10 v.2), produzido para o encerramento da disciplina “Novas Tecnologias em Educação”, oferecida pelo<br />
Programa de Pós-Graduação em Educação, da <strong>FCT</strong>/ <strong>Unesp</strong>, ministrada pela Profa. Dra. Mônica Fürkotter, no segundo semestre de 2002.<br />
∗∗<br />
Mestre e <strong>Doutor</strong>ando pelo Programa de pós Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/ <strong>Unesp</strong> –Presidente Prudente (SP). Atualmente é professor<br />
da <strong>Unesp</strong> de Ourinhos. E-mail: drichtersa@hotmail.com<br />
∗∗∗<br />
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong>- Presidente Prudente (SP). Atualmente é professora da Rede<br />
Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E-mail: flaviamestrado@hotmail.com<br />
∗∗∗∗<br />
<strong>Professor</strong>a <strong>Doutor</strong>a no Programa de Pós-Graduação em Educação da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> Presidente Prudente (SP). E-mail:<br />
mônica@prudente.unesp.br
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
O que seria a utilização do computador na educação de maneira diferente? Seria fazer aquilo que o professor<br />
faz tradicionalmente, ou seja, passar a informação para o aluno, administrar e avaliar as atividades que o<br />
aluno realiza, enfim, ser o “braço direito’’ do professor; ou seria possibilitar mudanças no sistema atual de<br />
ensino, ser usado pelo aluno para construir o conhecimento e, portanto, ser um recurso com o qual o aluno<br />
possa criar, pensar, manipular a informação? (VALENTE, 1999, p. 19).<br />
O uso “diferente’’ do computador na Educação, é denominado por Valente (1999) de<br />
construcionismo, referindo-se à construção do conhecimento através da produção de algo, do seu<br />
interesse, utilizando o computador. A partir dos trabalhos desse autor podemos analisar alguns pontos<br />
fundamentais para melhor entendermos a proposta construcionista.<br />
2. Um pouco da história da informática na educação.<br />
A aproximação e uso do computador nas escolas é fato que tem se tornado comum nos últimos<br />
anos, tanto em escolas públicas como particulares. No entanto, reconhecemos e temos consciência de que<br />
em nosso país, onde as diferenças sociais, econômicas e culturais são profundas, algumas realidades<br />
escolares mostram o oposto da situação de vanguarda. A introdução do computador na educação tem sido<br />
um dos maiores pontos de discussão nos fóruns de debate educacional.<br />
Assim, podemos nos questionar: qual a realidade da escola de hoje? Segundo o raciocínio cético,<br />
como pensar em computadores, se a escola não tem estrutura básica, ou seja, se faltam os materiais mais<br />
triviais para o ensino? Por outro lado, podemos nos remeter aos otimistas que acreditam que o ensino<br />
deve acompanhar as transformações tecnológicas e, dessa forma, o computador precisa fazer parte da vida<br />
cotidiana do estudante.<br />
Se refletirmos sobre as posições, cética ou otimista, não vamos conseguir nos aprofundar, pois o<br />
computador de uma forma direta ou indireta já se encontra presente em muitas escolas e, mais ainda, na<br />
vida cotidiana das crianças e jovens.<br />
Primeiramente, devemos pensar e escolher entre ensino de computação ou ensino pelo<br />
computador.<br />
No primeiro, o aluno adquire conceitos sobre o computador. No segundo, o professor utiliza os<br />
recursos computacionais para que o aluno possa adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio<br />
(VALENTE, 1993).<br />
Tendo decidido pelo segundo, é fundamental discutir a possibilidade de nortear o uso, já que no<br />
meio educacional, muitas vezes o computador tem sido utilizado simplesmente para reproduzir o que<br />
acontece em uma sala de aula tradicional, por meio de um software educacional.<br />
Vale ressaltar que o ensino pela informática tem seu elo ao ensino através das máquinas. Pressey,<br />
em 1924, foi o pioneiro nesse tipo de trabalho, inventando uma máquina que corrigia textos. Após isso,<br />
Skinner na década de 50 criou outra para ensinar usando instrução programada. Os softwares baseados<br />
em Instrução Programada são denominados CAI`s, no Brasil mais conhecidos como Instrução Auxiliada<br />
por Computador (VALENTE, 1993).<br />
Hoje, apresentam-se duas vertentes de trabalho: o computador ensinando o aprendiz, considerada<br />
como instrucionista; e a outra, na qual o aprendiz ensina o computador, gerenciando sua própria<br />
aprendizagem, denominada construcionista.<br />
A primeira abordagem, quando o computador ensina o aluno, é fundamentada nos métodos de<br />
instrução programada tradicionais e, ao invés do papel ou do livro, é usado o computador. Os softwares<br />
mais utilizados nessa abordagem são tutoriais, exercício-prática e jogos educacionais.<br />
Já na segunda abordagem, quando o aprendiz ensina o computador, são utilizados os softwares<br />
abertos e as linguagens de programação, que permitem ao aprendiz expressar a resolução de um<br />
problema.<br />
Surge, então, um questionamento: como devemos usar os computadores? Somente como mais<br />
um recurso para o professor transmitir informações? Ou como uma ferramenta de aprendizagem, com a<br />
qual o aluno busca informações, trata-as e as transforma em conhecimento?<br />
As leituras, reflexões e discussões realizadas na disciplina Novas Tecnologias em Educação,<br />
levaram-nos a concluir que a primeira abordagem, que contempla a transmissão de conhecimento, procura<br />
9
10<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
reproduzir o ensino tradicional, enraizado na escola. Na verdade, podemos utilizar o computador como<br />
um recurso para potencializar a aprendizagem, como uma possibilidade para mudar o paradigma<br />
educacional vigente, utilizando-o no desenvolvimento de projetos.<br />
3. Computador e software: sua utilização em projetos de trabalho.<br />
Segundo Hernadez e Ventura, o termo projeto conduz-nos a um<br />
[...] procedimento de trabalho que diz respeito ao processo de dar forma a uma idéia que está no horizonte,<br />
mas que admite modificações, está em diálogo permanente com o contexto, com as circunstâncias e com os<br />
indivíduos que, de uma maneira ou outra, vão construir para esse processo (1998, p. 22).<br />
Estamos aqui, em consonância com os autores acima, utilizando o termo “projetos de trabalho”,<br />
contrapondo-o á idéia do “deixar fazer” da aprendizagem espontaneísta.<br />
Pensar em projetos de trabalho motiva-nos a rever nossas práticas de modo a favorecer “o<br />
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a compreender com e do outro que hoje a<br />
UNESCO assinala como finalidades de Escola’’ (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p. 22), conduzindo<br />
o aluno a relacionar os conceitos trabalhados na escola com o mundo que o cerca.<br />
A interdisciplinaridade surge então como uma possibilidade para o professor ampliar sua prática,<br />
como preconiza o parágrafo acima.<br />
Apesar de existir análise e forte crítica sobre as atuações e caminhos da Educação como<br />
reprodução do espaço e do poder econômico, nos quais a interdisciplinaridade está arraigada ao processo<br />
de globalização, o movimento – interdisciplinaridade – que surgiu em meados das décadas de 1960,<br />
contribui para a ampliação das análises dos mais diversos assuntos e temas das diferentes áreas do<br />
conhecimento (FAZENDA, 1994), favorecendo a formação de um cidadão mais atento aos fatos do seu<br />
cotidiano, bem como do mundo.<br />
A parceria entre as diversas áreas<br />
[...] pode constituir-se em fundamento de uma proposta Interdisciplinar, se considerarmos que nenhuma<br />
forma de conhecimento é em si mesma racional. A parceria consiste numa tentativa de incitar o diálogo com<br />
outras formas de conhecimento a que não estamos habituados, e nessa tentativa a possibilidade, surge sempre<br />
de uma necessidade de troca, embora em certos casos possa iniciar-se até de uma insegurança inicial em<br />
desenvolver um trabalho interdisciplinar. A parceria surge também da solidão dos profissionais em relação às<br />
instituições que habitam; solidão essa que vem sendo constatada em nossas pesquisas como uma constante<br />
entre os profissionais que já assumiram uma atitude interdisciplinar (FAZENDA, 1994, p. 04).<br />
Numa proposta interdisciplinar, os computadores podem ser um produtivo recurso no<br />
desenvolvimento de projetos de trabalho, levando a uma aprendizagem mais significativa.<br />
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – as Novas tecnologias abrangem muito mais<br />
do que o computador (BRASIL, 1997). A televisão, o vídeo-cassete, a filmadora, o rádio gravador e o<br />
retroprojetor, representam alguns exemplos de que “tal” Nova Tecnologia não está tão distante de nossas<br />
vidas e do nosso uso cotidiano. Alguns são equipamentos que possuímos em nossas próprias residências,<br />
os quais empregamos diariamente, sem que o uso desencadeie qualquer conflito “ideológico”.<br />
Os professores também são forçados a pensar no uso dessas Novas Tecnologias uma vez que<br />
diretores, supervisores ou coordenadores pedagógicos constantemente lhes lembram que as mesmas<br />
precisam ser utilizadas. E é a partir desta “força superior” que ronda o perigo pedagógico – como usar<br />
essas Novas Tecnologias?<br />
Uma maneira é utilizá-las no desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Acreditamos que o<br />
uso permitirá um trabalho mais conectado com a formação de um aluno crítico e independente.<br />
A aprendizagem por objetos ocorre por meio da interação e articulação entre conhecimentos de distintas<br />
áreas, conexões estas que se estabelecem a partir dos conhecimentos cotidianos dos alunos, cujas<br />
expectativas, desejos e interesses são mobilizados na construção de conhecimentos científicos. Os<br />
conhecimentos cotidianos emergem como um todo unitário da própria situação em estudo, portanto sem
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
fragmentação disciplinar, e são direcionados por uma motivação intrínseca. Cabe ao professor provocar a<br />
tomada de consciência sobre os conceitos implícitos nos projetos e sua respectiva formalização, mas é<br />
preciso empregar o bom-senso para fazer as intervenções no momento apropriado (ALMEIDA, 2000, p. 1 -<br />
2).<br />
Claro que uma prática semelhante requer mais tempo de preparo e organização do professor,<br />
tanto em materiais quanto em fundamentação teórica. Entretanto, com certeza, o resultado de um trabalho<br />
diferenciado, no qual o aluno possa produzir conhecimentos deverá render belos frutos.<br />
Portanto, não basta equipar as escolas, é preciso preparar o professor para o uso das novas<br />
tecnologias, numa perspectiva de mudança do fazer pedagógico.<br />
A formação do professor para ser capaz de integrar a informática nas atividades que realiza em sala de aula<br />
deve prover condições para ele construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender por que e<br />
como integrar o computador na sua prática pedagógica e ser capaz de superar barreiras de ordem<br />
administrativa e pedagógica. Essa prática possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para<br />
uma abordagem integradora de conteúdo [...]. Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba<br />
recontextualizar o aprendizado e a experiência vividas durante a sua formação para a realidade de sala de<br />
aula, compatibilizando as necessidade de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir<br />
(VALENTE, 1999, p. 153).<br />
Por outro lado, demonstrar que as práticas escolares relacionadas com as Novas Tecnologias são<br />
mais fáceis ou nos dão menos trabalho representa um engano. Devemos ter claro que o trabalho de<br />
organização será ampliado, mas precisamos estar cientes também de que serão bem valiosos os resultados<br />
finais, já que a aprendizagem do aluno servirá de termômetro para a análise final.<br />
Como ponto a incluir em nossa análise, queremos destacar a significativa importância da<br />
Formação de <strong>Professor</strong>es e a Formação Continuada para o processo do uso das Novas Tecnologias.<br />
Permitir e possibilitar condições de aprendizagem para o educador é de extrema necessidade, se<br />
quisermos reconhecer que o trabalho de construção de um novo paradigma somente irá ocorrer quando<br />
todos estiverem aptos a receber e transmitir seus conhecimentos, objetivando, dessa forma, a construção<br />
ampla e democrática de ensino.<br />
Para isso, utilizamos as palavras do professor Paulo Freire, que chamam a atenção para as<br />
questões de mudança no ambiente escolar. De nossa parte, compreendemos que as práticas e estudos<br />
sobre a Formação de <strong>Professor</strong>es constituem um marco a ser referenciado na busca pela qualidade<br />
educacional.<br />
[...] é preciso quem não nos deixemos cair nesse sonho do chamado pragmatismo, de achar que o que serve é<br />
dar um pouco de conhecimento técnico ao trabalhador para que ele consiga um emprego melhor. Isso não<br />
basta, e é cientificamente um absurdo, porque na medida em que a gente se pergunta o que significa o<br />
processo de conhecer, do qual somos sujeitos e objetos – afinal de contas o que é a curiosidade, para o<br />
conhecimento? – percebemos que uma das grandes invenções das mulheres e dos homens, ao longo da<br />
história, foi exatamente transformar a vida em existência – e a existência não se faria jamais em linguagem,<br />
sem produção de conhecimento, sem transformação. Mas jamais com transferência de conhecimento.<br />
Conhecimento não se transfere, conhecimento se discute. Implica uma curiosidade que me abre, sempre<br />
fazendo perguntas ao mundo. Nunca demasiado satisfeito, ou em paz com a própria certeza (FREIRE, 1986,<br />
p. 42).<br />
A viabilização da Formação do <strong>Professor</strong> deve ser entendida como um processo contínuo,<br />
porque a formação inicial (acadêmica) não será um produto acabado. Ela está atrelada às questões e às<br />
buscas por mudanças em suas atividades e resultados. Em conseqüência, o processo deverá estar muito<br />
ligado ao fato de transformação da escola, favorecendo a grande interação entre teoria e prática (GARCÍA<br />
, 1999).<br />
Em razão dessas abordagens, as propostas de ensino estão sofrendo alterações significativas.<br />
Vale destacar a importância de se analisarem as reais possibilidades de viabilizar o uso das Novas<br />
Tecnologias no processo educacional, integrando as diversas áreas do saber no desenvolvimento de<br />
projetos de trabalho.<br />
11
4. As possibilidades do uso do computador no ambiente escolar.<br />
12<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O ensino que conhecemos em nosso tempo de banco escolar está precisando de novas<br />
compreensões e análises. Nos tempos de hoje, nos quais a informação cria um espaço cada vez maior de<br />
abrangência e influência, continuar com os mesmos métodos de ensino é de certa forma contrapor-se a<br />
tudo que está posto e menosprezar o dito “progresso’’ da sociedade humana.<br />
Nessa direção, pensar no processo ensino-aprendizagem integrado às Novas Tecnologias requer<br />
um reconhecimento bem específico da necessidade de mudança no fazer do professor. Como decorrência,<br />
ele deve estudar, analisar e compreender algumas possibilidades ou até limites do uso das Novas<br />
Tecnologias no ambiente escolar.<br />
Para realizar um trabalho incorporando o uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem,<br />
devemos refletir sobre as seguintes questões:<br />
a) o que se entende hoje por processo ensino-aprendizagem;<br />
b) quais as possibilidades de uso das tecnologia no desenvolvimento de projetos de trabalho<br />
interdisciplinares;<br />
c) as vantagens e desvantagens do uso da informática na educação.<br />
No estágio atual, estamos, muitas vezes, presos às abordagens pedagógicas tradicionais, fechadas<br />
para mudanças ou novos olhares. A ênfase é colocada no conteúdo a ser memorizado, e não nas<br />
habilidades que permitem a aplicação do conhecimento na transformação da realidade.<br />
Ao integrar o computador às práticas escolares, precisamos repensar o processo de ensinar e<br />
aprender, para que o conhecimento seja construído e contextualizado. A construção ocorre com a<br />
realização de uma ação. A contextualização é necessária para assegurar o significado da ação, tendo em<br />
vista a realidade do aluno. Nesse sentido, é preciso rever o papel do professor e do aluno. O primeiro deve<br />
“ser capaz de assumir responsabilidades, tomar decisões e buscar soluções” (VALENTE, 1999, p. 44),<br />
deve ser ativo, crítico e integrado, de modo a estar sempre aprendendo, mesmo quando deixar o sistema<br />
educacional. Ao segundo, cabe o papel de mediador, desafiador, que consegue manter vivo o interesse<br />
dos alunos, e tendo “consciência de que a construção do conhecimento dá-se por meio do processo de<br />
depurar o conhecimento que o aluno já dispõe” (VALENTE , 1999, p. 43).<br />
Devemos estar preparados para as mudanças, como também preparar nossos alunos. Novos<br />
paradigmas não podem existir sem a interlocução com o educando, desconhecendo suas necessidades,<br />
angústias e dúvidas, que são de extrema importância para efetivar as modificações.<br />
É importante também superar a idéia de que o computador é somente mais uma ferramenta de<br />
que o professor pode dispor no processo ensino-aprendizagem. Essa idéia precisa estar clara para o<br />
educador não fazer sub-uso do equipamento, ou limitar sua utilização ao repasse de informação, sem que<br />
o aluno consiga transformá-las em conhecimento. As Novas Tecnologias devem ser integradas no<br />
contexto escolar, utilizadas no desenvolvimento dos conteúdos curriculares, levando a um aprendizado<br />
integrado.<br />
O professor deve conhecer as vantagens e desvantagens do uso e aplicação da informática na<br />
educação. Para aprofundar a reflexão, deve buscar leituras específicas sobre o tema, bem como discutir<br />
com seus colegas professores as possibilidades de integrar as Novas Tecnologias às práticas escolares do<br />
cotidiano da escola e aos conteúdos da sua disciplina.<br />
O caminho indicado para a mudança é vivenciar práticas escolares aliadas às Novas Tecnologias.<br />
Como resultado, o professor terá condições de avaliar a funcionalidade e aplicabilidade das mesmas. Ao<br />
refletir sobre suas ações, sobre os resultados do trabalho com o aluno, o professor pode depurar e<br />
aprimorar sua atenção no novo ambiente de aprendizagem.<br />
5. Palavras finais.<br />
Criar aportes para a verdadeira integração das Novas Tecnologias com as atuais abordagens<br />
pedagógicas, permite que a escola esteja mais ajustada ás mudanças que transformam o nosso mundo.<br />
Pode-se dizer, também, que os novos métodos apaziguam as ansiedades e a “sede” pelo uso da tecnologia
RICHTER, D.; et all.<br />
A informática no processso ensino-aprendizagem: contribuindo para uma nova escola.<br />
que existe atualmente, compreendida aqui como o computador e seus periféricos, sendo dessa forma<br />
integrado ao processo ensino-aprendizagem.<br />
Saber reunir no espaço escolar essas qualidades ou iniciativas, muitas vezes comparadas à<br />
vanguarda do ensino, representa um trabalho muito difícil e árduo, se comparado ao já conhecido e<br />
comumente praticado ensino tradicional. Entretanto, muitos são as experiências bem sucedidas. Os fatos<br />
permitem-nos vislumbrar um processo de aprendizagem mais integrado com a construção do<br />
conhecimento do aluno. Ou vale dizer, um processo que respeita a sua forma de aprender, que o torna<br />
cidadão mais crítico e integrado ao mundo e à realidade em que vive e atua.<br />
6. Referências bibliográficas.<br />
ALMEIDA, M. E. B. Projeto: um nova cultura de aprendizagem. PUC/SP, jul.1999. Disponível em<br />
www.proinfo.mec.gov.br/biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2003.<br />
BRASIL. Ministério da Educação e cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília:MEC/SEF, 1997.<br />
______. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Média e Profissionalizante.<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília MEC/SEMP, 1997<br />
FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus, 1994.<br />
FREIRE, P. Novos Tempos, Velhos Problemas. In: III Congresso Estadual Paulista sobre a Formação<br />
de Educadores. São Paulo: <strong>Unesp</strong>, 1994. p. 37 - 44.<br />
GARCÍA, C. M. Formação de professores - para uma mudança educativa. Tradução: Isabel Narciso.<br />
Porto: Porto Editora, 1999.<br />
HERNÁNDEZ, F. e Ventura, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. Porto Alegre:<br />
Artes Médicas, 1998.<br />
______. Transgressão e mudanças na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas,<br />
1998.<br />
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes<br />
Médicas, 1994.<br />
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.<br />
VALENTE, J. A. e ALMEIDA, F. J. Visão analítica da informática na Educação no Brasil: a questão da<br />
formação do professor. In: Revista Brasileira de Informática na Educação, n. 1. Florianópolis, 1997. p.<br />
45 - 60.<br />
________. Diferentes usos do computador na educação. In: ______ .(Org). Computadores e<br />
conhecimento: repensando a educação. Campinas: Unicamp, 1993. p. 1 - 23.<br />
________. Mudanças na sociedade, mudanças na educação: o fazer e o compreender. In: VALENTE, J.<br />
A. (Org). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: Unicamp/NIED, 1999. p. 29 - 48.<br />
________. O uso inteligente do computador na Educação. In: Revista Pátio. A. 1, n. 1. Porto Alegre:<br />
Artes Médicas Sul, 1998. p. 19 - 21. Disponível em: www.proinfo.mec.gov.br/biblioteca. Acesso em 28<br />
mar. 2003.<br />
_______. Por que o computador na educação. In: _____. (Org). Computadores e conhecimento:<br />
repensando a educação. Campinas: Unicamp, 1993. p. 24 - 44.<br />
13
CONSIDERAÇÕES SOBRE O DEBATE TEMPO E ESPAÇO *<br />
João Marcio Palheta da SILVA **<br />
“O movimento de uma coisa<br />
é a modificação das suas condições exteriores<br />
em relação a um espaço dado” (Immanuel Kant).<br />
Resumo: Neste ensaio, minha pretensão é fazer uma breve discussão sobre o debate tempo e espaço e<br />
como esses conceitos/definições podem ser úteis no debate científico com destaque para as ciências<br />
humanas, especialmente a Geografia. Esse debate parte do pressuposto de diversos autores que pensaram<br />
de forma diferenciada a questão do tempo e do espaço.<br />
Palavras-chave: Tempo; Espaço; Ciências; Geografia.<br />
Resumen: En este ensayo, mi pretensión es realizar una pequeña discusión sobre el debate tiempo y<br />
espacio, y como estos conceptos/definiciones pueden ser de utilidad en el debate científico con destaque<br />
dentro de las ciencias humanas, especialmente en Geografía. Este debate parte del presupuesto de<br />
diversos autores que pensaron de forma diferenciada la cuestión del tiempo y el espacio.<br />
Palabras llave: Tiempo; Espacio; Ciencias; Geografía.<br />
1. Introdução<br />
O debate sobre tempo e espaço é muito complexo e, neste ensaio, apenas tenho a pretensão de<br />
levantar alguns questionamentos que me permitam analisar ainda mais esta relação entre tempo e espaço e<br />
tentar distanciar-me dos conceitos/definições como algo dado e acabado e, sim, entendê-los como algo<br />
em constantes transformações, pois o movimento da sociedade é também complexo e, as relações entre as<br />
sociedades não são lineares, mas sim dinâmicas e respondem aos diferentes momentos históricos e<br />
geográficos.<br />
Gostaria então de discutir alguns fatos que me parecem ser de extrema relevância para minhas<br />
ansiedades aqui explicitadas. A curiosidade me leva a pensar como espaço e tempo são discutidos nas<br />
ciências, a partir da evolução dessas discussões no pensamento filosófico e, nesse ínterim, a filosofia tem<br />
uma contribuição importantíssima para dar ao campo científico.<br />
Nas próximas seções, procuro enfatizar a discussão sobre tempo e espaço, tendo como base<br />
fundamental de minha proposição os pensamentos diferenciados de Immanuel Kant, Aristóteles, Bernard<br />
Piettre, Christopher Ray, David Harvey, Milton Santos, Henry Lefebvre, Skinner, Norbert Fenzel,<br />
Gottfried Stockinger, Félix Guattari e Gilles Deleuze. Sei que existe um número expressivo de autores, no<br />
tempo histórico e no espaço geográfico, que procuraram analisar a questão do tempo e do espaço e não<br />
nego suas importâncias mas, para este ensaio, me dediquei a entender apenas o pensamento de algumas<br />
obras escritas por esses autores acima mencionados, e que foram por mim selecionados, pois neste<br />
momento acredito que satisfaçam minhas ansiedades acadêmicas.<br />
2. Procurando a realização do tempo e espaço.<br />
Definição ou conceito? Do que falamos quando nos reportamos ao tema tempo e espaço?<br />
Procurar, a princípio, explicações para uma formulação onde possa formar e entender as transformações<br />
*<br />
Texto publicado em 2001 (v.8), produzido para avaliação da disciplina “Metodologia Científica em Geografia”, ministrada pelo Profº. Dr.<br />
Eliseu Savério Sposito no ano de 2000.<br />
**<br />
Atualmente é <strong>Doutor</strong> pelo Curso de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> de Presidente Prudente. <strong>Professor</strong> do Depto 123 15de<br />
Geografia<br />
da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: palheta@ufpa.br
SILVA, J. M. P.<br />
Considerações sobre o debate tempo e espaço.<br />
que ocorrem no tempo e no espaço é complicado quando pensamos a sociedade e as transformações<br />
ocorridas noespaço geográfico e no tempo histórico.<br />
Essas inquietações ocorrem todas as vezes que a própria ciência coloca em evidência e em xeque<br />
a existência das verdades dos conceitos ou das definições. Verdade que aparece virtualizada pelo avanço<br />
do conhecimento e das idéias, sobre como conceber e entender as teorias que procuram debater com mais<br />
intensidade as questões sobre tempo e espaço.<br />
Tempo e espaço estão em contínua transformação? Falar com clareza como os acontecimentos se<br />
manifestam traduz a variabilidade desses acontecimentos no tempo e no espaço? Não há como dividi-los,<br />
separá-los sem ter perda na totalidade dos acontecimentos? E, na perda do valor de análise sobre<br />
determinado fenômeno? Não é uniforme e nem estático, sendo assim, tempo e espaço são conceitos<br />
inseparáveis?<br />
Pensar como as coisas acontecem no tempo e no espaço tem como desafio conceber as diferentes<br />
interpretações que tentam explicar as manifestações dos fenômenos, sejam eles nas ciências naturais,<br />
sejam nas ciências humanas. Fenômenos que a realidade nos coloca e que se tornam passíveis de<br />
observação e de teorização.<br />
No senso comum, uma carta seria o exemplo que me proporciona mostrar com simplicidade<br />
tempo e espaço, dentro de uma variável analítica que incorpora a distância entre dois pontos. Ao enviar<br />
uma carta, uma pessoa espera que ela chegue ao seu destino, porém, em se tratando da distância que<br />
separa dois corpos para pegar o exemplo da física, a distância seria o intervalo de tempo que a carta leva<br />
para chegar ao seu destino; dessa forma, a probabilidade do tempo e espaço, tornam-se únicas, mutáveis,<br />
pode ser descartada, quando a carta pode não chegar ao seu destino. Qual seria então o evento que causou<br />
tamanha fragilidade na matemática do tempo e do espaço, fazendo com que o fenômeno pré-estabelecido<br />
não acontecesse?<br />
A realidade do tempo e do espaço é um acontecimento concreto que permite ao observador tirar<br />
conclusões de tais fenômenos. Embora não se veja o tempo nem tão pouco o espaço, enquanto conceitos,<br />
sabe-se que eles são onipresentes. O fato de sabermos por que eles participam ativamente em nossa vida<br />
mostra sua validade e, de acordo com sua influência, podemos interpretar que acontecimentos são<br />
realizados no tempo e no espaço.<br />
A própria teoria que sustenta a discussão de Tempo e Espaço, como nos fala Piettre (1994),<br />
passa pela relação, que vai desde Aristóteles, até as discussões mais recentes da Física, passando por<br />
diversas concepções de entender espaço e tempo como conceitos/definições chaves nas intervenções de<br />
determinados fenômenos. O próprio Bernard Piettre (1994) discute a relação da subjetividade do tempo,<br />
passando pela própria negação filosófica do tempo na ciência clássica, fazendo questionamentos sobre a<br />
existência do começo e o fim da limitação dos conceitos.<br />
De que forma, poder-se-ia então pensar em analisar mais detalhadamente as questões que<br />
envolvem tempo e espaço? A materialidade seria um caminho que aproximasse minhas ansiedades da<br />
elaboração de um tempo e espaço ligado às questões sociais. Os conflitos sociais no tempo e no espaço<br />
apresentam uma historicidade e uma geograficidade relacionadas aos processos de desenvolvimento da<br />
humanidade.<br />
Como entender então as transformações da evolução das sociedades sem precisar tempo e espaço<br />
e seus fenômenos que dão razão para materializar tais questões? Pensar nas transformações ocorridas na<br />
sociedade durante a evolução do pensamento científico, caracteriza pensar como esses acontecimentos<br />
foram discutidos nas ciências.<br />
Desde o pensamento que discute a concepção de tempo e espaço pelo divino, ou seja, pela<br />
concepção de Deus, o tempo e o espaço são eternos, e a criação do mundo é uma forma divina de<br />
perceber tempo e espaço como obras de Deus. É também pensada por Aristóteles como fórmula<br />
matemática de ver as transformações no tempo e no espaço; nesse sentido, o tempo é um número que<br />
classifica um movimento 1 .<br />
1 Para Aristóteles não existe tempo onde não há movimento, o movimento é a mudança, que assume quatro variáveis para sua interpretação:<br />
o movimento segundo o lugar; o movimento segundo a qualidade; o movimento segundo a quantidade; e o movimento segundo a essência.<br />
Para ele o movimento celeste serviria para medir o tempo dos outros movimentos. Aristóteles (1997 ).<br />
15
16<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A relação de espaço e tempo se encontra no sentido de perceber as transformações que desafiam<br />
a explicação do movimento do planeta Terra na física clássica. A própria interpretação do tempo e do<br />
espaço absolutos é considerada, até então na física clássica, como a verdade do conhecimento 2 .<br />
A relação tempo e espaço entendida enquanto material pode ser percebida e explicitada;<br />
enquanto conceitos, tempo e espaço são “soluções” filosóficas que os cientistas abstraem pra explicar as<br />
transformações que ocorrem tanto internamente quanto externamente aos fenômenos observados.<br />
A regulação do tempo e espaço social é condicionada pela relação dialética entre tempo e<br />
espaço. Utilizando apenas um exemplo desta relação e da discussão dos conceitos/definições de tempo e<br />
espaço, podemos dizer que de dentro de um avião não há controle sobre os mesmos, e isto depende de<br />
cada um de nós (subjetividade), quando da necessidade de ver as horas por exemplo, pois dependemos do<br />
tempo e do espaço percorrido pela aeronave. Enquanto isso, nada pode ser feito por nós; às vezes será<br />
realizado pela tecnologia (para manter contato com outras pessoas via telefone, computador), mas é um<br />
outro exemplo. Então estamos presos ao tempo e ao espaço do plano do piloto para atingirmos<br />
determinados compromissos.<br />
São exemplos que podem auxiliar-me a pensar na questão do tempo e do espaço, mas com<br />
certeza não respondem a todas as minhas inquietações no campo da filosofia e da própria geografia, e<br />
nem poderiam, pois para esse caso seria necessário fazer um corte epistemológico e, mesmo assim,<br />
correria o risco de cometer equívocos, provando o quanto tão polêmico é analisar a questão tempo e<br />
espaço nas sociedades.<br />
O que queremos explicar quando invocamos o tempo e o espaço para elementos de nossas<br />
reflexões? Posso dizer que tempo e espaço são conceitos ou definições que por serem tratados como<br />
totalidade expressam dúvidas na sua apreensão. De que forma, as ciências compreendem tempo e espaço<br />
e como elas podem conduzir para fomentar o debate do tema espacial e temporal.<br />
Para os geógrafos, o espaço geográfico é analisado por um viés de interpretação em que a<br />
sociedade é objetivada pela sua organização espacial; como tal, poderia utilizar aqui como exemplo as<br />
discussões de Milton Santos no seu livro “Espaço e Método”; para ele, o espaço é pensado enquanto:<br />
estrutura, processo, função e forma, enquanto categorias metodológicas de análise, levando em<br />
consideração o período técnico-científico e os recursos sociais. O espaço geográfico, para Lefebvre, por<br />
outro lado, não é apenas parte das forças e meios de produção, é um produto dessas relações. Espaço do<br />
consumo e o consumo do espaço (Lefebvre,1991, p.131). Dessa forma, ele se torna um espaço das<br />
representações e, também, torna-se a representação do espaço.<br />
Para Kant (1990) 3 , a natureza do tempo e espaço está ligada à existência das coisas; nesta<br />
condição, a razão e a experiência estão na origem de todo conhecimento, condicionadas pela consciência<br />
que determina nossa concepção de mundo, sejam no sentido externo, sejam no sentido interno, onde este<br />
mundo é a “soma de fenômenos no tempo e no espaço”.<br />
Ainda utilizando o pensamento de Kant (1990), os conceitos/definições de tempo e espaço estão<br />
relacionados à metafísica da natureza, tendo como base o movimento; neste particular, o espaço e o<br />
tempo são formas absolutas (espaço puro ou espaço absoluto), seja o espaço material seja o espaço<br />
relativo.<br />
Em relação ao espaço-tempo, podemos pensar como as telecomunicações encurtam o tempo e<br />
mantém e aproximam o lugar (espaço): cada vez mais você se comunica, encurta a distância (tempo) sem<br />
sair do lugar (espaço), embora as informações, possam modificar o lugar através do tempo.<br />
Encurtar o tempo e acelerar o tempo, no momento que você recebe as informações aumenta seu<br />
tempo pelas trocas, marcando uma união entre o tempo côncavo com o tempo convexo e sua união, o<br />
espaço inter-relacionado. Convexo na medida de um afunilamento que ao encontrar o côncavo aumenta o<br />
tempo que antes havia diminuído, virtualmente, fazendo-me pensar na inversão dos tempos onde o<br />
homem estica cada vez mais a sua própria escala de espaço-tempo para integrar nele todos os processos<br />
que observa (Stockinger & Fenzel, 1991, p. 36).<br />
2 Para Newton existiria três formas distintas em que espaço e tempo seriam considerados absolutos: por apresentarem uma independência de<br />
objetos e eventos; por possuir propriedades invariáveis absolutas e distintas ;e por serem irredutíveis e essenciais no movimento. Ray (1996).<br />
3 Para Kant, espaço e tempo não são absolutamente conceitos. Não são formas que contêm um conteúdo material como se diz de um conceito<br />
que possui um conteúdo diferenciado, para ele a ciência só é válida enquanto seus conceitos são suscetíveis de aplicação experimental.
SILVA, J. M. P.<br />
Considerações sobre o debate tempo e espaço.<br />
Redução da distância, dos custos, a ampliação dos bens, da tecnologia, a redução do tempo e a<br />
ampliação do espaço pela competitividade encontram nas formas organizacionais um dos meios que dão<br />
vazão às interpretações do sistema capitalista de produção e de novas idéias que percorrem o<br />
conhecimento e nos colocam diante de novos desafios.<br />
Pensar dessa forma, o espaço e o tempo quando materializados em ações dos povos, da cultura,<br />
onde diferentes interesses, modos de ser, viver e pensar a sociedade se fazem presentes, parece ser ainda<br />
muito complicado. Como entender o tempo e o espaço de culturas como as dos indígenas? Como colocálas<br />
numa escala que demonstre com clareza o tempo e o espaço dessas formas diferenciadas de<br />
sociedades? Como procurar entender que novas transformações no tempo ocasionam mudança no espaço?<br />
3. O tempo e o espaço geográfico.<br />
Os avanços da tecnologia, das redes telemáticas modificaram e fizeram acelerar o tempo-espaço<br />
das sociedades. Para lembrar Harvey (1992), quando nos fala da experiência do espaço e do tempo, onde<br />
o mundo encurtou as distâncias, há um aniquilamento do espaço onde o tempo tecnológico, via<br />
inovações, assume um papel fundamental. As inovações têm modificado o tempo e o espaço entre as<br />
diferentes regiões do planeta. Um exemplo claro, dessa forma, é a internet que aproxima virtualmente as<br />
pessoas e os lugares, fazendo com que ocorra uma relação instantânea entre as mesmas, embora de forma<br />
virtualizada, via informática.<br />
Porém, essas transformações não trouxeram consigo uma ampliação dos recursos, entendidos<br />
aqui como possibilidades a serem socializados por todos. O tempo encurtou o espaço, modificou-o, a<br />
inovação acelerou o tempo modificando o espaço das ações humanas, porém sua distribuição é reduzida e<br />
consumida diferentemente.<br />
Mas de que tempo estamos falando? A psicologia nos fala das doenças psicossomáticas e de um<br />
tempo psicológico, e passando pela interpretação de Skinner 4 , posso dizer que a sociedade seria<br />
governada por regras e , dessa forma, qual o tempo do indivíduo em sociedade, tempo do lazer, do<br />
trabalho, da família, tempo da regulação da vida cotidiana? Qual a inserção do indivíduo na sociedade<br />
capitalista via de regra, e sobretudo governado por regras?<br />
Segundo essa explicação de Skinner (1953), tudo em sociedade acontece a partir do indivíduo,<br />
mas esse indivíduo vivendo em grupo. Para chegar a essa formulação e explicar tal situação, diríamos que<br />
o surgimento das primeiras ferramentas utilizadas pelos seres humanos, foi uma criação individual e<br />
necessária do ser humano, como isto foi importante para a sobrevivência do grupo, foi incorporado pelo<br />
grupo e assim passado de geração em geração, fazendo com que as práticas sejam elas culturais,<br />
econômicas ou políticas sobrevivam ao tempo, devido a maior ou menor importância que o grupo assume<br />
dentro de um determinado contexto histórico-geográfico.<br />
O capitalismo impõe um tempo sócio-econômico entre as regiões, dessa forma, constrói e<br />
modifica os espaços-territoriais, em espaço que ora são incluídos ora são excluídos das relações de<br />
produção mais dinâmicas dentro do sistema-mundo. Assim, como entender do tempo e do espaço quando<br />
relacionamos diferentes variáveis de interpretação, seja individual ou coletiva, para entender o avanço do<br />
conhecimento e suas implicações na sociedade?<br />
O sentido espaço-temporal na geografia está relacionado ao avanço dos modos de produção e à<br />
incorporação de novos valores comparando as sociedades e delas interpretando seus modos de ser, viver e<br />
pensar a humanidade. O sentido de ir e vir dos seres humanos torna-se a construção de suas vidas dentro<br />
de determinado sistema de produção em que se insere determinada sociedade.<br />
A inserção do tempo na tecnologia, via relações capitalistas, de acordo com as possibilidades e<br />
as potencialidades, definem o tempo do capital. A aceleração do tempo no espaço geográfico é formulada<br />
pelo sistema com que o espaço geográfico se insere no capitalismo, seja como reserva para<br />
aproveitamento futuro, virtualizado pelo valor econômico, seja inserido de forma imediata para acúmulo<br />
capitalista na divisão social e internacional do trabalho. Dessa forma, o tempo dos lugares acontece em<br />
4 Para Skinner (1953), uma “lei social” deve ser gerada pelo comportamento de indivíduos. É sempre o indivíduo que se comporta, e que se<br />
comporta com o mesmo corpo e de acordo com os mesmos processos usados em uma situação não social (Skinner, 1953, p. 285).<br />
17
18<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
espaços diferenciados, e a aceleração do tempo é regulada pela dinâmica capitalista, definindo a posição<br />
dos lugares no espaço geográfico capitalizado.<br />
Ao tratar o tempo e o espaço do capital, comparando com o tempo e o espaço da natureza,<br />
encontramos contradições nas formas de conceber essa dualidade do sistema de produção capitalista. Por<br />
exemplo, o tempo e o espaço da natureza é dado pelas eras geológicas, como seu tempo de recomposição<br />
também, dependendo da relação com que esta pode ser incorporada; diferentemente, o tempo e o espaço<br />
do capital é imediato. Há uma aceleração pela busca da eficiência do lucro na absorção da natureza, onde<br />
esta é incorporada numa velocidade tal que levaria anos para se recompor, e quem nos garante que as<br />
condições ambientais futuras darão conta de torná-la novamente aproveitável, mesmo no sentido<br />
econômico? Por outro lado, quem se apropriará destes recursos?<br />
Tempo e espaço, dependem também de uma sociedade dos ritos e mitos que são preservados<br />
pelos povos em sua cultura, que a mantém viva e permanece na vida de descendentes, preservando assim<br />
a memória e a tradição de um povo, diferenciada no espaço-mundo, no tempo-mundo.<br />
A geografia espaço-temporal se coloca como suporte das relações sociais de produção das<br />
sociedades e permanece no cerne das discussões sobre a produção do espaço geográfico, diferenciando<br />
povos e culturas, territórios e regiões envolvendo um paradoxo entre aceleração a manutenção do espaçotempo.<br />
4. Considerações Finais: percorrendo o tempo e o espaço.<br />
Inicialmente, trabalhei com a breve idéia de tempo e espaço no contexto filosófico e fiz, como<br />
opção, pequeno destaque pela física e a matemática, percorrendo um longo caminho para entender a<br />
aceleração espaço-temporal. Este caminho, que não tem final e nem tão pouco é linear, permitiu uma<br />
melhor compreensão das situações que ocorrem nas sociedades. Seria muito difícil ensaiar sobre tempo e<br />
espaço sem tentar entender as transformações ocorridas, principalmente na filosofia.<br />
A questão central colocada para mim era de não buscar respostas prontas, mas trilhar um<br />
caminho que permitisse levantar mais questionamentos sobre a relação tempo e espaço. Em “O que é<br />
Filosofia”, Deleuze e Guattari (1992) levantam o dilema sobre a relação filosófica sobre conceito e<br />
definição. Espaço e tempo são conceitos ou definições?<br />
Tratando da ciência e da filosofia, Deleuze e Guattari discutem a apropriação, ou melhor, o<br />
tratamento dos conceitos e das definições, sendo que a primeira trata das definições e, a segunda, dos<br />
conceitos. Sem entrar no mérito da apropriação de quem é responsável pela produção das formas e<br />
funções, tempo e espaço parecem ser únicos e ao mesmo tempo, complexos. São únicos no sentido de não<br />
se poder separá-los, de não podermos tratá-los na sociedade como fenômenos díspares, e são complexos<br />
por terem nas sociedades diferentes interpretações.<br />
O tempo real e o tempo virtual se confundem com o espaço das relações sociais? Às vezes nos<br />
deparamos com situações que nos colocam desafios no sentido de entender a produção do espaço<br />
geográfico, que por muitas vezes acaba negligenciando o tempo das relações sociais e o tempo das formas<br />
tecno-informatizadas.<br />
O tempo e o espaço cósmico, o tempo do relógio, a regulação da vida social pelo trabalho, pelas<br />
regras ou pelas atividades que desenvolvemos durante a nossa vida, são questões que permitem ir além da<br />
concepção do tempo mecânico. Como pensar então em tempo e espaço, em se tratando das horas e dos<br />
lugares? Quais os acontecimentos que ocorrem em lugares diferentes e com fusos diferenciados? O que<br />
rege a vida das pessoas, o tempo social? Tais questionamentos devem fazer parte das discussões que<br />
envolvem tempo e espaço.<br />
A filosofia, ao questionar os conceitos, coloca para as ciências a necessidade de uma nova<br />
invenção dos conceitos e das definições, e a sua libertação quando da sua (re)produção sem debate. O<br />
papel da ciência e da filosofia é de criação e, ao pensar o avanço do conhecimento nessas bases,<br />
observamos que necessitam sempre de serem reformuladas.<br />
Assim, o debate tempo e espaço deve continuar a ser um dos mais realizados, principalmente<br />
pelos cientistas sociais, para efeito de avançar as discussões seja em relação ao mundo cósmico seja na
SILVA, J. M. P.<br />
Considerações sobre o debate tempo e espaço.<br />
sociedade. Termino este breve ensaio, perguntando-me: Qual o tempo e o espaço ideal para vivermos<br />
numa sociedade sem contradições e mais digna para os seres humanos?<br />
5. Referências Bibliográficas.<br />
ARISTÓTELES. Política. Tradução: Mário Kury. Brasília, UNB, 1997.<br />
DELEUZE, G; GUATTARI, F. O que é filosofia. Tradução: Bento Prado Jr & Alberto Muñoz. Rio de<br />
Janeiro, Editora 34, 1992.<br />
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1992.<br />
KANT, I. Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. Lisboa, Edições 70, 1990.<br />
LEFEBVRE, H. O Direito à Cidade. São Paulo, Moraes, 1991.<br />
PIETTRE, Bernard. Filosofia e Ciência do Tempo. Tradução : Maria Pires de Carvalho. Bauru, EDUSC,<br />
1997.<br />
RAY, Christopher. Tempo, Espaço e Filosofia. Tradução: Thelma Nóbrega. Campinas, Papirus, 1993.<br />
SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1992.<br />
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. São Paulo, Martins Fontes 1953.<br />
STOCKINGER, G; FENZEL, N. A Inversão dos Tempos. Belém, Cejup, 1991.<br />
19
A RECRIAÇÃO DA GRAFIA DO PLANETA NA PRODUÇÃO DA NATUREZA E DO<br />
ESPAÇO: A NECESSIDADE DE SE SALTAR ESCALAS ∗<br />
Fabrício Pedroso BAUAB ∗∗<br />
Resumo: A produção da natureza pelo advento do modo de produção capitalista, potencializada pelo<br />
indissociável vínculo entre ciência e técnica que possibilita, nestes termos, uma recriação na grafia dos<br />
lugares, do planeta, agora incrustados em artifícios do trabalho humano que recriam os sentidos do espaço<br />
geográfico e operacionalizam recortes, socialmente produzidos, que, ao invés de originar fragmentos,<br />
articulam diferentes dimensões da realidade, do humano, pela interconexão de diferentes escalas<br />
geográficas.<br />
Palavras-chave: espaço; natureza; geografia; escala geográfica.<br />
Resumen: La producción de la naturaleza a partir de la aparición del modo de producción capitalista,<br />
agravada por el vinculo indisociable entre ciencia y técnica, el cual posibilita, en tales términos, una<br />
recreación en la grafia de los lugares, del planeta, insertos en artificios del trabajo humano que<br />
reproducen los sentidos del espacio geográfico y gestionan recortes, socialmente producidos, que, al<br />
contrario de originar fragmentos, articulan diferentes dimensiones de la realidad, de lo humano, por la<br />
interconexión de diferentes escalas geográficas.<br />
Palabras-llave: espacio; naturaleza. geografía; escala geográfica.<br />
1. Introdução.<br />
Iniciamos este trabalho já com a necessidade de enfatizar a dificuldade maior que permeará a sua<br />
realização: a associação de nossa pesquisa, relativa à recriação da natureza enquanto força produtiva no<br />
capitalismo, o que desde já, produz uma global alternância na grafia do próprio planeta, com a produção<br />
da escala geográfica.<br />
A dificuldade de associação da temática de nosso trabalho com o tema escala geográfica,<br />
abrangente, como veremos, de urna perspectiva bastante distinta do perfil instrumental da chamada escala<br />
cartográfica, faz-se, desta feita, avultada pelo, inclusive, pouco pensar na produção escalar associada a<br />
processos sócio-culturais mais amplos, como os que objetivamos estudar.<br />
Assim, pensar, como sugere Neil Smith (2000), a dimensão escalar do corpo, ou mesmo da casa,<br />
locus da gestação da identidade, da emanação da intimidade, pode ser atrelada à produção da natureza no<br />
sentido inclusive proposto por Milton Santos, de gênese, no estágio atual do capitalismo, de um meio<br />
técnico-científico-informacional. Isto torna a recriação da natureza um fenômeno que origina o<br />
contemporâneo espaço geográfico, intencional no sentido de (re)produção do sistema, de extração de uma<br />
mais valia global, torna-se empreitada de não fácil realização.<br />
A solução, se é que assim podemos chamá-la, para a articulação de fenômenos, que, na<br />
realidade, se fazem imbricados mas pouco perceptíveis devido à nossa tradição de análise calcada nos<br />
recortes de razão e de objeto, como ressalta Santos (2002), se atrela à própria articulação de escalas que,<br />
sem negar a própria divisão — para facilitar a apreensão, diga-se — proposta por Smith (2000), referente<br />
à escala do corpo, da casa, da comunidade, do espaço urbano, da região, da nação e, finalmente, das<br />
fronteiras globais, permite a percepção de igualizações e diferenciações geográficas cuja espacialidade<br />
perpassa, necessariamente, pela própria articulação entre produção da natureza, produção do espaço e<br />
gênese da escala geográfica, tríade esta que alicerça o próprio Desenvolvimento Desigual discutido por<br />
Neil Smith (1988).<br />
∗ Texto publicado em 2003 (n.10 v.1), produzido no contexto da realização do Seminário do <strong>Doutor</strong>ado ministrado pelo Prof. Dr. Raul<br />
Borges Guimarães, intitulado “Escola Geográfica”, no ano de 2002.<br />
∗∗ <strong>Doutor</strong> em Geografia pela <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong>, campus de Presidente Prudente. Atualmente professor da UNIOESP, campus de Francisco Beltrão.<br />
Email para contatos fabriciobauab@bol.com.br.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
É esta a articulação que aqui procuraremos discutir e que constitui este trabalho muito mais<br />
enquanto um ensaio reflexivo do que um artigo nutrido pela rigidez acadêmica. Vamos, então, a ele.<br />
2. A Revolução científica do século XVII e a nova visão de natureza.<br />
Século XVII, Galileu Galilei retoma o pensamento atomista de Demócrito e proclama: o<br />
verdadeiro saber científico é aquele que expressa a matemática imanente ao mundo objetivo, cujas leis,<br />
funcionamento, constituem-se independentes do crivo deformador da subjetividade, de todo e qualquer<br />
conhecimento bastardo que, antes de mais nada, expressa as disposições do sujeito que sobre quantidades<br />
alça uma série de qualidades que somente a ele dizem respeito.<br />
Indo mais longe ainda, Galileu ressalta a necessidade de distinção da linguagem do livro da<br />
natureza, repleto de caracteres geométricos, da moral cristã expressa no livro das Sagradas Escrituras,<br />
como ressalta Rossi (1992). A incompatibilidade entre tais livros — o da natureza e o das Sagradas<br />
Escrituras – faz-se, por exemplo, manifestada no livro de lsaías, através do célebre momento em que Deus<br />
parara o Sol!<br />
Em meio ao forte ressoar da Revolução Copernicana, na qual Galileu foi mais do que um adepto,<br />
um verdadeiro corruptor dos céus por perceber manchas solares em meio a um imutável céu e por<br />
experimentalmente provar a própria centralidade do Sol, a afirmação bíblica parecia se contrapor ao<br />
verdadeiro funcionamento da natureza, talvez procurando buscar no milagroso aspecto de uma<br />
sobrenatureza, “explicitada” pelo “parar” do Sol por parte de Deus, uma tentativa de aliciamento de<br />
crentes, como bem destacou o filósofo Spinoza no século XVII (Durant, 1999).<br />
A corrupção do universo aristotélico-ptolomaico já há muito vinha se dando, desmontando a<br />
mescla da qualitativa ciência aristotélica com teologia que alicerçou a interpretação de mundo surgida na<br />
Idade Média. Em 1577, Tycho Brahe, como destaca Crosby (1999), calculou a distância de um cometa<br />
que cortava o céu além do mundo celeste “construído” nas esferas concêntrico cristalinas de Aristóteles, o<br />
mesmo Brahe que reconheceu novas estrelas em Cassiopéia, contribuindo para este processo de<br />
transmutação da ordem do universo de que há pouco falávamos.<br />
As mudanças percebidas no céu, no próprio funcionamento do universo fizeram-se em<br />
consonância, como não poderia deixar de ser, com as próprias transformações ocorridas no âmbito do<br />
gradual alargamento do ecúmeno, da descoberta da verdadeira grafia do planeta atrelada ao amplo e não<br />
linear processo de origem do modo de produção capitalista. Temos, e adiante falaremos mais disso, uma<br />
similitude entre a transformação do conceber e a recriação, após a descoberta das reais feições, de uma<br />
nova grafia do planeta, ancorada em um amplo processo de mudança de olhar e de atitude que o<br />
nascimento da ciência operou diante da natureza. A citada contribuição de Galileu caminha nesse sentido.<br />
No mesmo século XVII, Francis Bacon, em seu Novum Organum, concordou com a separação<br />
galileana entre qualidades objetivas e subjetivas, recuando até Demócrito:<br />
[...] o intelecto humano, por sua própria natureza, tende ao abstrato, e aquilo que flui, permanente lhe parece.<br />
Mas é melhor dividir em partes a natureza que traduzí-la em abstrações. Assim procedeu a escola de<br />
Demócrito, que mais que as outras penetrou os segredos da natureza. O que deve ser sobretudo considerado<br />
é a matéria, os seus esquematismos, o ato puro, e a lei do ato puro que é o movimento (BACON, 1999, p.<br />
44).<br />
Como ressaltava o próprio Bacon, os falsos ídolos precisam ser afastados da natureza, por ele<br />
vista enquanto uma selva cujo labiríntico teor deveria ser desbravado pelo aperfeiçoamento do método<br />
indutivo. A natureza não conta a história da moral cristão, sendo somente matéria e movimento. Tal<br />
história é contada pelos homens.<br />
Mesmo fazendo críticas aos dogmas da cristandade, Bacon não deixa de neles buscar auxílio na<br />
exaltação de um projeto, tornado evidente na utópica obra Nova Atlântida, de domínio dos quadros<br />
naturais que devem ser torturados, nos mesmos termos das torturas usadas contra as “bruxas”, para que<br />
seus segredos fossem revelados. Tal “tortura” faz da ciência nascente diferenciada com relação à chamada<br />
ciência clássica grega, contemplativa por excelência, atribuidora de um caráter qualitativo aos corpos:<br />
21
22<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
eram eles leves, pesados, líquidos, sólidos, etc. O espaço, por seu turno, era visto por uma série de<br />
atributos qualitativos como alto, perto, longínquo, próximo.<br />
Paolo Rossi, em sua obra Os filósofos e as máquinas, destaca a importância das chamadas artes<br />
mecânicas na gênese da ciência moderna. Em tal obra, destaca o apreço nutrido por Descartes, Galileu<br />
Galilei, Bacon, entre outros pelas produções mecânicas da época que, para eles detinham o mérito de<br />
aprisionar nas máquinas o movimento da natureza, atuando em sua recriação. Era, portanto, do trabalho<br />
dos engenheiros que advinha o verdadeiro saber, não do julgo das autoridades.<br />
Aos poucos, essa natureza vista enquanto que dotada de um funcionamento independente dos<br />
anseios humanos vai ganhando o perfil de uma outra construção humana. O modelo das máquinas se<br />
agiganta, tomando o tamanho do universo. A alma, alçada sobre o mundo pelos antigos, fica,<br />
principalmente após a distinção entre substância extensiva e pensamento (cogito), por Descartes, restrita<br />
ao homem, tornando-se sinônimo de uma razão operacional por excelência, o que leva Descartes a<br />
afirmar: a natureza é uma máquina e a ciência é a técnica de exploração dessa máquina. Cabe, ao<br />
cientista, portanto, saber operar este mundo de autômatos que constituem a natureza, fazendo-a cada vez<br />
mais interagir com a necessidade de um modo de produção que realmente coloca o saber voltado para a<br />
vida prática do homem, como bem ansiava Diderot no século XVIII. Aqui, o grande problema é a<br />
generalidade atribuída ao termo homem.<br />
3. A nova grafia do planeta.<br />
Amsterdã. Também século XVII. Ali estava estabelecido um dos grandes centros de navegação<br />
da Europa, com fortes laços com as costas orientais da Ásia, Índico e Pacífico. Neste contexto, os<br />
contatos científicos e comerciais entre Holanda e Japão foram estreitados e Bernhard Varenius, um<br />
médico por formação e geógrafo por afinidade, considerado por Capel (1984) o pai da Geografia<br />
Moderna, publicou uma obra descrevendo as características de tal porção da superfície do globo,<br />
intitulada Descriptio Regni Japoniae cum quibusdan affinis materiae. Em tal obra, Varenius faz uma<br />
compilação de vários autores cujos trabalhos traziam informações sobre o Extremo Oriente.<br />
Este aludido trabalho de Varenius servirá aqui, para nós, de exemplo para algumas questões que<br />
aqui buscamos refletir, pois bem ilustra a relação que o conhecimento geográfico, ainda distante do corpo<br />
metodológico e teórico que ganhou com sua sistematização, possuiu com o alargamento do ecúmeno. Os<br />
descobrimentos marítimos, relatores por excelência do caráter estritamente alegórico do conhecimento<br />
geográfico presente na Idade Média, dispersaram as sombras alçadas por sobre a dita zona tórrida<br />
demonstrando seu caráter habitável e, até mesmo, a incoerência por detrás do termo. Na verdade, é da<br />
transposição da Zona Tórrida que vemos a possibilidade de ocorrência da chamada acumulação primitiva<br />
do capital.<br />
Varenius existiu neste contexto, cujo papel atribuído ao geógrafo é o de precisar o olhar e ainda<br />
mais o instrumental que deveria fazer do conhecimento geográfico algo aplicável, lançando a Terra no<br />
plano das cartas, medindo os cantos e recantos do planeta, descrevendo costumes que, antes de servirem<br />
ao lazer de um leitor mais desinteressado, serviram para perpetuar a própria possibilidade de aprimorar o<br />
já citado processo de acumulação primitiva do capital através, inclusive, da corrida colonialista. Na<br />
dedicatória de sua Geografia Geral, como ressalta Capel (1984) o legado mais conhecido, Varenius atesta<br />
para a necessidade de uma geografia aplicada às navegações e ao comércio, fator este que para Capel,<br />
constitui a modernidade inerente ao seu pensamento.<br />
Cabe ressaltar ainda que a Geografia Geral de Varenius teve uma edição traduzida por lsaac<br />
Newton, que aclamou a atualidade de uma obra recheada de alusões a Copérnico e a Galileu.<br />
Na mesma Holanda, um século antes, outra contribuição de amplo destaque para o conhecimento<br />
geográfico veio de Gerhard Mercator que segundo Santos (2002), na constituição da projeção<br />
cartográfica, operou uma mudança substancial na relação sujeito-objeto. Se nos mapas portulanos a<br />
leitura cartográfica finda por exigir do usuário um percurso mental ponto a ponto, fazendo-se ainda<br />
estritamente presa aos contornos de um Mediterrâneo que não mais se constituía no único foco das<br />
navegações, com o mapa de Mercator temos uma projeção dada em escala planetária em que o sujeito<br />
desloca-se da superfície da Terra, observando-a de seu centro ou de outro ponto escolhido por
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
conveniência. A imperfeição das áreas próximas aos pólos faz-se compensada pela precisão das<br />
coordenadas geográficas, que acabaram por grafar o espaço do mundo atribuindo-lhe um perfil métrico<br />
que se fez em consonância com o projeto intelectual que vinha empreendendo o Ocidente desde antes do<br />
século XVII. Tal projeto se constituiu, como afirma Crosby (1999), em unir matemática e a mensuração,<br />
impondo-lhes a tarefa de dar sentido a uma realidade sensorialmente perceptível e que foi tratada pelos<br />
ocidentais enquanto espacial e temporalmente uniforme. Aqui, a matemática penetra na metrificação do<br />
tempo que contabiliza a pungente extração da mais valia, na emergência da música polifônica, na<br />
natureza cujo funcionamento, segundo Japiassu (1985), parece começar a obedecer às exigências de uma<br />
gestão contábil.<br />
Podemos dizer que o redimensionamento das noções de homem e de mundo fez-se em<br />
consonância com aquilo que Foucault (1999) veio a chamar de mudança na prosa do mundo. Tal autor<br />
ressalta que até o século XVI o mundo “enrolava-se” sobre si mesmo e que por sua reduplicação em<br />
espelho acabava por abolir a distância que lhe é própria. Ora, por sobre o mundo eram alçados os dizeres<br />
de Deus condensados na alegórica linguagem bíblica e este, assim como a Sua “grafia”, pouco diziam em<br />
termos de precisão de formas, de métrica das distâncias. O mundo símbolo, destacado por Clemente de<br />
Alexandria, em que há uma correspondência entre o espiritual e o material através do grau de parentesco<br />
entre todos os seres, enlaçados pela unidade que deriva de Deus, faz do empírico, na verdade, a grafia<br />
daquilo que se encontra mais além, não transmissível pela linguagem humana e apreendido somente pela<br />
descoberta de sua similitude com a própria significação simbólica das Escrituras (Santos, 1959). Kimble<br />
(2000), ressaltou tal situação ao apontar que os padres da Idade Média, inspirados em Sócrates, diziam<br />
que a única busca frutífera é aquela que nos ensina os deveres morais e as esperanças religiosas e estes<br />
estavam esparramados sobre o mundo conhecido, falante de uma mesma linguagem.<br />
Foucault vai enfatizar que, neste contexto, o mundo é recoberto por símbolos que se constituem<br />
em formas de similitude, mostrando a unidade de toda microordem com o cosmos e destes com os<br />
desígnios divinos. Fazia-se necessária somente uma adivinhação das marcas do planeta que coincidiam<br />
com uma visão de linguagem enquanto descoberta de palavras de um mundo prestes a se redimir,<br />
escutando a verdadeira palavra das coisas nele depositadas por Deus.<br />
A Revolução Científica datada do século XVII vai justamente se opor a este jogo de linguagens<br />
que transfigurava uma natureza recoberta pelos desígnios cristãos. No próprio Discurso sobre o método,<br />
Descartes vai justamente demonstrar os caminhos para que o pensamento escape de si mesmo e penetre<br />
na essência do mundo extensivo, distinto, separado da alma e, portanto, incapaz de ser prova da existência<br />
humana. A linguagem do mundo faz-se separada da alma humana, sendo repleta de matemática, de leis<br />
invariáveis e equações que requerem do cientista uma objetividade que relegue as paixões, os dramas da<br />
existência, o conhecimento bastardo que expressa somente as disposições do sujeito no caso, repletas dos<br />
desígnios da cristandade. Portanto, a linguagem do mundo é inerente às próprias coisas, devendo ser<br />
objetivamente explorada.<br />
Este contexto coloca-se, inclusive, posterior ao processo de descortinamento pelos<br />
descobrimentos geográficos de mundo que possibilitou, cada vez mais, o conhecimento da natureza<br />
terrestre como um todo. Aqui, bem no sentido da modernidade do pensamento de Varenius, o<br />
conhecimento geográfico busca responder a questão do onde, desenvolvendo procedimentos para isso. Os<br />
descobrimentos marítimos, por sua vez, demonstraram a imprecisão da geografia medieval, com base nos<br />
princípios simbólicos dos mapas TOs.<br />
Talvez aqui encontremos a manifestação histórica para a frase de Smith (1988) que ressalta que<br />
no capitalismo, a natureza torna-se um meio universal para o processo de reprodução do capital. O olhar<br />
alçado sobre os inóspitos recantos já se faz carregado de uma predisposição aos encantos dos recursos<br />
naturais. A natureza começa a ser, além de reconhecida nos seus nexos mecânicos de causa e efeito,<br />
tratada no sentido de utilização, bem no sentido de dominação para a vida prática de que falava Francis<br />
Bacon no século XVII. A descoberta de novas terras, em um mundo grafado na precisão — ainda<br />
imprecisa — das linhas de latitudes e longitudes, na utilidade náutica da carta de Mercator, em um<br />
primeiro momento coloca-se enquanto descoberta das potencialidades dos recursos naturais, depois dos<br />
humanos que uma História Natural, do tipo da realizada por Buffon, começa a desenvolver, como ressalta<br />
Quaini (1992).<br />
23
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A própria natureza do Ocidente, reconstruída a partir, principalmente, da chamada Revolução<br />
Científica do século XVII, é estendida para os recantos de um mundo que suprimiu a noção de ecúmeno.<br />
Não que a teologia ficasse ausente dessa nova forma de se conceber a natureza e Glacken (1992) bem<br />
ressalta os fortes resquícios dela no pensamento de Buffon e de Carl Ritter. Contudo, a contabilização das<br />
forças da natureza, seguida da necessária descrição dos costumes dos povos não cristãos, se coloca<br />
enquanto procedimento inerente a qualquer História Natural, fazendo do conhecimento do outro um<br />
aprimoramento para o estabelecimento de si próprio em uma Europa mercantil, quase industrial na<br />
Inglaterra, com finalidades bem explícitas quanto ao recolhimento de matéria prima, extração de metais<br />
preciosos e escravidão de nativos. Rousseau bem criticou esse olhar sobre um “outro” recheado dos<br />
limites de si mesmo:<br />
Há trezentos ou quatrocentos anos, os habitantes da Europa invadem as outras partes do mundo e publicam<br />
sem cessar novas coletâneas de viagens e relatórios, mas eu estou convencido de que os únicos homens<br />
conhecidos por nós são os europeus; além disso, pelos preconceitos ridículos que ainda sobrevivem entre as<br />
pessoas cultas, parece que cada um, sob o nome pomposo de estudo do homem, estuda somente os homens<br />
de seu país. Os indivíduos podem ir e vir, mas a filosofia parece que não viaja; e a filosofia de cada povo é<br />
pouco adaptada a outra [...] Não se abre um livro de viagens sem encontrar descrições de caracteres e<br />
hábitos; mas espanta ver como estas pessoas que descreveram tantas coisas tenham dito somente aquilo que<br />
todos já sabiam, já não conseguindo descobrir, do outro lado do mundo, senão aquilo que dependia deles<br />
observarem sem se afastar de seu caminho, e como os verdadeiros traços distintivos das noções que saltam<br />
aos olhos capazes de ver, tenham quase sempre escapado aos seus olhos. (ROUSSEAU apud QUAINI, 1992,<br />
p. 104).<br />
Desta feita, como afirma Santos (2002), cada rio, cada montanha, espécie vegetal e animal ou<br />
ainda novas expressões étnicas, irá compor o sistema de produção e reprodução da vida originariamente<br />
européia, compondo o seu vocabulário, suas referências éticas e filosóficas e seu próprio entendimento do<br />
que é ciência, natureza e em que medida a parte se relaciona com o todo.<br />
Neste contexto, a noção de espaço, composto da soma das partes que o constituem, aproxima-se<br />
do espaço absoluto teorizado por Newton, que, nos dizeres de Smith (1988), constitui-se em receptáculo<br />
universal, homogêneo, dos diferentes atributos que se movem no mundo do espaço relativo. Daí, boa<br />
parte da Geografia produzida no século XIX por Alexander von Humboldt e Carl Rifter considerar a<br />
Terra enquanto um imenso organismo, cujo conhecimento das partes — eis um dos intuitos da Geografia<br />
Comparada ritteriana e dos próprios Quadros da Natureza de Humboldt — implica na compreensão do<br />
todo, do hólos terrestre componente do hólos universal. Daí Humboldt, no segundo livro dos Quadros da<br />
Natureza, intitulado “As cataratas do OrenocoAturés e Maipurés”, considerar a descoberta da nascente do<br />
Orenoco por parte de Robert Schomburgk enquanto uma eloqüente conquista para a ciência geográfica.<br />
Em todo livro, temos um papel bem claro atribuído à geografia, reconhecido também por Capel<br />
(1981): uma precisão na localização, na delimitação das nascentes, na demarcação dos afluentes. Não<br />
que a contribuição humboldtiana se limite somente a esta perspectiva. Longe disso. Mas sua empresa,<br />
explicitada nos Quadros da Natureza (1950), se mostra em consonância com a perspectiva da precisão<br />
locacional sob o prisma das coordenadas geográficas.<br />
A geografia, nesse sentido, em seu processo caminha no sentido de aumento da cognoscibilidade<br />
do planeta, dessacralizando a natureza e precisando os contornos do mundo, mensuráveis na escala<br />
operacional da cartografia.<br />
4. A produção do espaço na recriação da natureza enquanto força produtiva.<br />
Smith (1988) ressalta que a produção do espaço se dá enquanto resultado lógico da produção da<br />
natureza, e que a generalização do capitalismo na natureza é a unificação prática de todos os quadros<br />
naturais no processo de produção. Citando Marx, o mesmo autor ressalta que poderia parecer um<br />
paradoxo afirmar que um peixe não fisgado, por exemplo, é um meio de produção da indústria de pesca.<br />
Contudo, até hoje ninguém descobriu a arte de pescar peixes em águas que não os contêm.<br />
As águas que contêm peixes, o substrato terrestre rico em recursos, a variação vegetal, enfim, o<br />
conjunto do planeta também ganha no sentido de mensuração de suas potencialidades. “Na busca de<br />
24
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
lucro, o capital corre o mundo inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em qualquer coisa que ele vê, e a<br />
partir dessa etiqueta de preço é que ele determina o destino da natureza” (SMITH, 1988, p.94).<br />
Da natureza medieval sonhada pelo poeta, estudada pelo mesmo sob os auspícios da qualitativa<br />
ciência aristotélica e visualizada em sua narrativa da história da salvação cristã, a natureza do cientista<br />
transformou-se em objetividade plena, apreensível verdadeiramente no seu movimento, na taxonomia que<br />
lhe mostrava em partes. O conhecimento científico que a explica verdadeiramente desvincula-se do uso<br />
de suas descobertas. Daí, o controle da natureza, tão avultado naqueles que preconizaram o saber<br />
revolucionário enriquecido no século XVII, ter se vinculado a uma apropriação classista, preenchendo o<br />
conteúdo científico de ideologia, indo ao encontro da afirmação de Smith (1988) de que as relações<br />
limitadas dos homens com relação à natureza determinam as relações limitadas de uns para com os<br />
outros, sendo as relações limitadas de uns para com os outros determinantes das relações estritas do<br />
homem para com a natureza. Daí a natureza tomada enquanto condição geral para a reprodução do<br />
capital.<br />
Japiassu (1985) ressalta o desenvolvimento das técnicas atrelado à aplicação particular das leis<br />
gerais descobertas pela ciência. O resultado de tal imbricação é a tecnologia. É justamente na<br />
potencialização que as máquinas realizam frente à atividade corporal, fisica do homem, que temos alçado<br />
sobre a natureza, próteses, nos dizeres de Milton Santos, que se apropriam de suas forças atribuindo-lhes<br />
um caráter eminente de força produtiva. Aqui, as palavras de Marx, extraídas por Smith (1996) do<br />
Grundrisse, bem expressam este tipo de transformação:<br />
A natureza não constrói máquinas, nem locomotivas, telégrafo, redes telegráficas, equipamentos<br />
automáticos, etc. Estes são produtos da indústria humana natural transformados em órgãos do homem sobre a<br />
natureza [...]. São órgãos do cérebro humano, criados pela mão do homem; o poder do conhecimento<br />
objetivado (MARX apud SMITH, 1988, p. 89).<br />
Desta feita, na ampliação do processo produtivo, os instrumentos de trabalho deixam de ser um<br />
apêndice do corpo transformando-se, como ressalta Santos (1 996a), em um apêndice da natureza, dando,<br />
ao corpo do mundo, uma gradual carga de técnica e informação resultante do que Santos (1 996b) chama<br />
de meio técnico-científico-informacional, sinônimo do meio geográfico atual onde os objetos mais<br />
proeminentes são elaborados a partir dos próprios mandamentos da ciência, servindo-se de uma técnica<br />
informacional que lhe empresta o alto coeficiente de uma intencionalidade servidora das diferentes<br />
modalidades do modo de produção.<br />
Da gradual inserção de um sistema de técnicas no meio natural, que no estágio atual aumenta a<br />
cognoscibilidade do planeta, a extração de uma mais valia global pela sua unicidade técnica (SANTOS,<br />
2000), temos que:<br />
A técnica potencializa a produção e a circulação, a primeira através de um sistema de máquinas ferramentas<br />
e a segunda através dos meios de transporte e comunicação e, sob essa forma, viabiliza, torna possível e<br />
implementa a sucessão do primado entre as esferas, implementando a hegemonia da forma dominante de<br />
capital (MOREIRA, 2001, p. 12).<br />
Eis o perfil da simbiose entre produção da natureza e produção do espaço: das mudanças de<br />
visões que nos remetem ao Renascimento à gênese da ciência moderna cujas conseqüências atrelaram-se<br />
à descoberta, na métrica das distâncias, na exatidão dos números, dos verdadeiros contornos do planeta,<br />
das potencialidades inerentes ao teatro da vida que tem como pano de fundo o espaço absoluto,<br />
receptáculo universal. O resultado é a grafia da simultaneidade, da compressão espaço-tempo que dá<br />
origem, na contemporaneidade dos eventos tidos enquanto geradores do chamado fenômeno de<br />
globalização, ao que Smith (2001), chama de escala global.<br />
5. Produção do espaço e produção da escala geográfica.<br />
Antes de discutirmos o significado mais específico da escala global, faz-se necessário uma maior<br />
clarificação no que se refere ao termo escala geográfica. Neil Smith, em artigo intitulado Geografía,<br />
25
26<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Diferencia y Políticas de Escala, destaca a produção da escala enquanto um processo social, aspecto este<br />
que a diferencia com relação à escala cartográfica, recurso instrumental dependente da arbitrariedade de<br />
recorte do pesquisador. Nestes termos, a diferenciação de escalas estabelece e se estabelece através da<br />
estrutura geográfica das interações sociais, assumindo um sentido que não se refere somente à escala<br />
material, trabalhada e re-trabalhada como paisagem, sendo também a escala da resolução ou abstração<br />
que nós empregamos para entender as relações sociais qualquer que seja a sua impressão geográfica<br />
(SMITH, 1992).<br />
Desta feita, temos na escala global, trabalhada por Smith (2000), enquanto, primariamente, uma<br />
construção para a circulação do capital. Aqui, o papel da unicidade técnica, ofertada pela gestação do<br />
meio técnico científico informacional, potencializador da produção e da circulação, faz-se determinante<br />
na formação de um mercado cuja construção se deu a partir da sua globalização no século XIX. Como<br />
bem ilustra Smith (2000), “fazemos negócios em um único lugar”, diz um anúncio da Salomon Brothers<br />
de seus serviços financeiros, sob uma fotografia visionária da “Espaçonave Terra” (SMITH, 2000, p.l 56).<br />
Smith (1992,1996, 2000) ressalta que mais do que estabelecer uma hierarquia de escalas,<br />
necessário se faz o saltar escalas, permitido pela conexão social e política que oferece um princípio<br />
unitário para as abstrações geográficas que o conceito de escala permite construir.<br />
Neste salto de escalas podemos citar o lugar enquanto conceito que bem permite explicitar as<br />
conectividades existentes entre os diferentes níveis escalares apontados por Neil Smith. Alguns geógrafos<br />
brasileiros também fazem referência a isto. Carlos (1996), por exemplo, ressalta, citando José de Souza<br />
Martins, que a história local é a história da particularidade, embora esta se determine pelos componentes<br />
universais da história. No mesmo sentido, a autora se referencia em Milton Santos para enfatizar que o<br />
lugar permite ao mundo realizar-se em uma dialética do próximo e do distante em que ambos se retroalimentam.<br />
Neste sentido, Carlos irá considerar que a história do lugar passa cada vez mais pela história<br />
compartilhada que se reproduz além de seus limites físicos.<br />
A mesma autora, no entanto, discute que o lugar, além de manifestação da globalidade, é o<br />
espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo, constituindo-se, portanto,<br />
na porção de espaço apropriado para a vida. Assim, temos, na tradição dos estudos da universalidade,<br />
uma redução dos estudos do lugar, redobrada pelo estatuto epistemológico que toma a totalidade enquanto<br />
essencial e o fragmento enquanto acidental, acessório. Aqui temos um ponto que merece ser aprofundado.<br />
Smith (1992), discutindo as perspectivas inerentes à chamada pós-modernidade, destaca a morte<br />
do discurso totalizante, processo este que Moreira (1997), por seu turno, chama de queda dos universais.<br />
Assim, como ressalta Smith (1992), o que previamente era um todo agora se faz distendido em<br />
fragmentos, em que cada generalização pode desfazer-se em diferentes experiências, sendo cada uma<br />
delas, potencialmente, uma generalização. O discurso das diferenças emerge abrindo possibilidades de<br />
surgimento para uma teoria da espacialização social em que a escala geográfica possa aparecer enquanto<br />
conceito central balizador da diferença espacial. Neste sentido, teríamos a produção do espaço enquanto o<br />
meio através do qual se dá a construção e reconstrução da diferença social.<br />
Contudo, neste privilegiar da possibilidade de generalização de um discurso construído através<br />
do lugar, ou de qualquer outra referência que expresse uma ruína das perspectivas universalizantes, podese<br />
cair naquilo que o próprio Neil Smith aponta, com base em Edward Soja, no que se refere a um<br />
relativismo de pobreza epistemológica. Aqui, a questão que se coloca é a inadiável necessidade de um<br />
discurso que aclame e perceba o próprio processo de diferenciação espacial (geográfica) em relação com<br />
processos sociais mais amplos, fugindo do subjetivismo mais relativista. Neste sentido, a articulação de<br />
escalas, a percepção da imbricação de processos que atuam em uma localização que em um sentido amplo<br />
“ata-se” a processos mais amplos, coloca-se enquanto indispensável. Em contrapartida, o problema<br />
também se relaciona a um novo recair na diluição da diferença pelo discurso totalizante.<br />
Quando ressaltamos, com base em Carlos (1997), o lugar enquanto uma constituição dialética em<br />
que o próximo e o distante se combinam em uma auto-recriação constante, destacamos também o papel<br />
do corpo na própria apropriação do espaço imediato e do mundo. Eis o ponto de partida da proposta, não<br />
hierárquica diga-se de passagem, de divisão escalar realizada por Smith (2000). É ele o local físico<br />
primário da identidade pessoal, marcando a fronteira entre o eu e o outro. Também enquanto lugar do<br />
prazer e da dor, tem vontades, desejos e medos e é o órgão biológico definidor das noções de doença e
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
saúde. A construção do lugar refere-se à cotidianeidade de suas relações, das áreas mais comuns de<br />
convívio.<br />
Do corpo para a casa encontramos um nível mais diferenciado de abstração, o que permitiu a<br />
Smith a reconsideração de mais uma escala. O referido autor ressalta que os atos rotineiros de reprodução<br />
social — comer, dormir, fazer sexo, limpar, criar filhos, baseiam-se — mas não são exclusivamente<br />
praticados — no lar, em torno dele. Aqui, as relações de gênero fazem-se mais explícitas: o homem,<br />
menos preso aos limites da casa, alcança escalas geográficas mais altas, enquanto as mulheres buscam<br />
suprimir tal tipo de desigualdade.<br />
Da casa, constituída e constituinte de um corpo formador da identidade pessoal, chegamos até a<br />
comunidade, cuja contigüidade espacial é menos definida, quase inexistente dependendo da classe social<br />
que a forma. Neil Smith ressalta a comunidade enquanto a escala espacial menos especificamente<br />
definida, com significado bastante vago. Desta feita, temos que as classes altas vivenciam um diferente<br />
tipo de comunidade, pois além dos limites da casa, podem incluir, por exemplo, o local de uma casa de<br />
verão situada a centenas de quilômetros ou de outros lugares não contíguos habitualmente visitados.<br />
Passando pela escala urbana, cuja simultaneidade de eventos demonstra ali a mais rápida<br />
realização do mundo, em consonância com os “pontos luminosos” apontados por Santos (1998), que<br />
conhecem a mais alta concentração de técnica e de informação, chegando a escala regional, lugar da<br />
produção econômica, ligada à uma divisão territorial do trabalho atrelada, por seu turno, aos mais amplos<br />
ritmos da economia global, temos um caminhar, um saltar escalas que nos permite, na exaltação da<br />
diferença espacial, fugir do monismo atrelado ao mais ingênuo discurso totalizador e, ao mesmo tempo,<br />
escapar do relativismo ignóbil que saúda a diversidade por ela própria!<br />
Por fim, a escala do estado-nação, cujo impulso para a formação é encontrado, como realça<br />
Smith (1988), na circulação de capital e sua competição. A internacionalização do capital leva à sua<br />
nacionalização, em um acordo fundado entre uma classe dominante nacional minoritária com grupos<br />
internacionais, cujos interesses são incorporados ao tecido legal e ideológico do Estado (SMITH, 2000).<br />
Voltando ao âmbito da escala global, ou escala das fronteiras globais, temos uma totalidade que<br />
não se mostra clara e muito menos formada pela soma das partes. Há, em todo o processo de produção da<br />
natureza que destacamos nos primeiros momentos desse texto, a produção do espaço, cuja relatividade e<br />
diferencialidade só foi possível de ser notada na aproximação da geografia com as demais ciências<br />
sociais. Portanto, a produção da natureza, que discutimos principalmente tomando como base a<br />
Revolução Científica do século XVII, ganhou o aspecto universal enquanto conseqüente possibilidade de<br />
universalização da natureza para a reprodução do sistema, tendo como resultado lógico a própria<br />
produção do espaço que, na unicididade técnica que lhe explicita a globalidade, não condiz com uma<br />
homogeneidade supressora das diferenças, do localmente constituído na dialética do próximo-distante.<br />
Eis, dentro deste amplo processo de transmutação da grafia do planeta, a importância do estudo da<br />
diferença espacial inclusive no sentido de resistência proposto por Smith (2000).<br />
6. Considerações finais.<br />
Do espaço repleto de fronteiras sociais da cidade, cujo veículo de sem-teto de Krzysztof<br />
Wodiczkol 5 cumpriu a função de “perfurar” a privatização da apropriação do espaço público, rompendo<br />
escalas que comprimem o habitante nos estreitos limites de sua possibilidade de pagar, ao espaço global,<br />
temos, como destacam Moraes e Costa (1994), a integração do valor do espaço e do valor no espaço.<br />
Aqui, a natureza recria-se enquanto valor de troca e a unicidade técnica permite a gestação de um<br />
mercado mundial que atua na penetração do mundo no lugar. Isto, como vimos, foi um longo processo e a<br />
congruência dos diferentes níveis escalares aqui destacados realça-se no sentido de produzir e ser<br />
produzido pelo espaço. Daí a importância das diferenciações geográficas que não anulam o sentido do<br />
espaço geográfico; pelo contrário, na verdade o reafirmam ao esmiuçar diferenças que, no alto nível de<br />
5 Para maiores informações ver Smith (2000). Em tal texto, Neil Smith cita o veículo dos sem-teto criado pelo artista plástico Krzysztof<br />
Wodiczko, uma alternativa metafórica. irônica, que lhes permitiria agrupar diferentes possibilidades de moradia e mobilidade espacial.<br />
27
28<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
abstração do conceito espaço geográfico, ficariam suprimidas. Temos, então, um enriquecimento do<br />
conceito e um aumento do potencial interpretativo dos conceitos geográficos.<br />
7. Referências bibliográficas.<br />
BACON, Francis. Novum Organum. São Paulo: Abril Cultural, 1999. (Colos Pensadores)<br />
CAPEL, Horacio. Edición y estúdio introductorio: Geografía Geral de Bernhard Varenio. 2.ed.<br />
Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1984.<br />
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1997.<br />
CROSBY, Alfred W. A mensuração da realidade — quantificação e a sociedade ocidental 1250-<br />
1600. Trad. Vera Ribeiro. São Paulo: Ed. UNESP, 1999.<br />
DESCARTES, Renée. O discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1999. (Col. Os Pensadores)<br />
DURANT, Will. História da filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 1999.<br />
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. (Col. Tópicos)<br />
GLACKEN, Clarence J. Huellas en la playa de Rodas — naturaleza y cultura en el pensamiento<br />
occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.<br />
HUMBOLDT, Alexander von. Quadros da Natureza. Tradução de Assis de Carvalho. São Paulo: W.M.<br />
Jackson, 1950. 2.v<br />
JAPIASSU, Hilton. A revolução científica moderna. Rio de Janeiro: lmago, 1985.<br />
KIMBLE, H.T. A Geografia na Idade Média. Trad. Márcia Siqueira de Carvalho. Londrina: Ed. UEL,<br />
2000.<br />
LENOBLE, Robert. História da idéia de natureza. Lisboa: Edições 70, s.d.<br />
MORAES, Antônio Carlos Robert de & COSTA, Wanderley Messias da. A geografia e o processo de<br />
valorização do espaço. In: SANTOS, Miiton. Novos rumos da geografia brasileira. 4.ed. São Paulo:<br />
Hucitec, 1994.<br />
MOREIRA, Ruy. A pós-modernidade e o mundo globalizado do trabalho. Revista Paranaense de<br />
Geografia, Curitiba, n.2, 1997.p.48-56.<br />
_______________________ As novas noções do mundo (geográfico) do trabalho. Revista Ciência<br />
Geográfica, Bauru, n.20, 2001, p1O-l 3<br />
QUAINI, Massimo. A construção da Geografia Humana. Trad. Liliana Logana Femandes. Rio de<br />
Janeiro: Paz e Terra, 1992. (Col. Geografia e Sociedade)<br />
ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos. Trad. de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora da<br />
<strong>Unesp</strong>, 1992.<br />
Rossi, Paolo. Os filósofos e as máquinas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.<br />
SANTOS, Douglas. A reinvenção do espaço: diálogos em torna da construção do significado de uma<br />
categoria. São Paulo: Ed. <strong>Unesp</strong>, 2002.<br />
SANTOS, Mário Ferreira dos. Tratado de Simbólica. In: Enciclopédia das ciências filosóficas e sociais.<br />
2.ed. São Paulo: Logos, 1959.<br />
SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. São Paulo: Flucitec, 1996.<br />
_______________ A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. Técnica, Espaço e Tempo:<br />
globalização e meio técnico científico informacional. São Paulo: Hucitec, 1997.<br />
_______________ Por uma outra globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.<br />
SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.<br />
_______________ Geography, difference and the politcs of scale. In: DOHERTY, J. Graham and<br />
MALEK, M. (Eds.). Postomodernism and the social science. London: Maximillian, 1992, p.57-79.<br />
(Trad. para o espanhol de Maria Franco Garcia, Presidente Prudente, 2002)<br />
_______________ Contornos de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção da escala<br />
geográfica. In: ARANTES, Antônio (org.). O espaço da diferença. Campinas-SP: Papirus, 2000.<br />
VARENIO, Bernhard. Geografía General — en laque se explican las propiedades generales de la<br />
tierra. 2.ed. Trad. José Maria Requejo Prieto. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona,<br />
1984.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
ELIMINAÇÃO DE “BARREIRAS”:<br />
Produção de fluidez e circulação no Brasil ♣<br />
29<br />
Roberto França DA SILVA JUNIOR ♣♣<br />
La geografía histórica del capitalismo ha sido simplesmente notable. Pueblos con la mayor diversidad de<br />
experiencia histórica, que vivían en una serie de circunstancias físicas increíbles, han quedado unidos, a<br />
veces con halagos pero la mayoría de las veces por el ejercicio cruel de la fuerza bruta, en una unidad<br />
compleja bajo la división internacional del trabajo. (DAVID HARVEY - Los Límites del Capitalismo y la<br />
Teoría Marxista, 1990)<br />
Resumo: Quando se fala em “Custo Brasil”, logo vem à tona a imagem do transporte rodoviário, que é<br />
considerado dispendioso. Diante disto, elaboram-se os “clássicos” estudos comparativos entre os modais<br />
de transporte, demonstrando que da composição total, a maior parte do transporte de mercadorias no<br />
Brasil se realiza no sistema rodoviário. Assim sendo, é comum lermos e ouvirmos diversas afirmações<br />
descabidas e superficiais, que não passam do nível do senso comum, como se esses números fossem as<br />
únicas representações da realidade do transporte de mercadorias no Brasil, desconsiderando a formação<br />
territorial brasileira. Este artigo visa contribuir para uma leitura geográfica da circulação, discutindo a<br />
formação do espaço da circulação no Brasil, procurando ir além das constatações meramente econômicas<br />
e geopolíticas.<br />
Palavras-chave: circulação, sistemas de transporte, técnica, tecnologia, Estado, divisão internacional do<br />
trabalho, fluidez<br />
Resumen: Cuando se habla en “Casto Brasil”, luego surge el imagen del transporte rodoviario, que es<br />
considerado dispendioso. Enfrente disto, hacen elaboraciones del “classicos” estudios comparativos entre<br />
el modales de transporte, demonstrando que de la composición total, la mayor parte del transporte de<br />
mercancías en el Brasil se realiza en el sistema rodoviario. Desta manera, es común leermos y oírmos<br />
diversas afirmaciones descabidas y superficiales, que no pasan de nivel de el sentido-común, como si eses<br />
números fosem las únicas representaciones de a realidad del transporte de mercancías en el Brasil,<br />
desconsiderando la formación territorial brasileña. Este artículo visa contribuir para una lectura<br />
geográfica de la circulación, discutindo la formación del espacio de la circulación en el Brasil, procurando<br />
decorrer además de las constataciones solamente económicas e geopoliticas.<br />
Palabras llave: circulación, sistemas de transporte, tecnica, tecnología, Estado, división internacional del<br />
trabajo, fluidez.<br />
1. Introdução.<br />
A ascensão dos transportes modernos, a partir da segunda metade do século XVIII, provocou no<br />
mundo uma reviravolta sem precedentes na história, diferenciando-se dos transportes dos demais<br />
períodos, por se tornarem mercadorias e por transportarem mercadorias. Além desses importantes<br />
aspectos, do ponto de vista tecnológico ocorre uma revolução, que propicia ao capital grande mobilidade<br />
e fluidez de seu espaço.<br />
Até então, segundo Aron citado por De Masi (2000, p.16):<br />
♣ Texto publicado em 2002 (n.9 v.1).<br />
♣♣ Mestre e <strong>Doutor</strong>ando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente -<br />
UNESP. Membro do GAsPERR - Grupo de Pesquisa “Produção do Espaço e Redefinições Regionais”. Atualmente professor da<br />
UNICENTRO, campus de Irati. E-mail: rfrancasilvajr@hotmail.com
30<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A irregularidade do progresso técnico é um dos fatos capitais da história. Entre a Antiguidade e o mundo de<br />
ontem, as diferenças em termos das possibilidades técnicas são medíocres. Para deslocar-se de Roma a Paris,<br />
César empregava aproximadamente o mesmo tempo que Napoleão. Os inventos técnicos foram inúmeros,<br />
mas não modificaram as características fundamentais da sociedade humana.<br />
Assim, progressivamente, todos os ramos da economia foram criando vínculos de dependência<br />
com esta atividade responsável pela movimentação e circulação de mercadorias.<br />
A história da circulação e dos meios de transportes no capitalismo, mostra a crescente vinculação<br />
com as forças produtivas, assumindo nos dias atuais um papel preponderante. Assim, os transportes<br />
possuem uma importância central na sociedade capitalista na medida em que passa haver maior<br />
mobilidade de pessoas, idéias e principalmente, do capital. Este último encontra na facilidade da<br />
circulação proporcionada pelo constante crescimento do meio técnico e da estrutura fixa do território, a<br />
base para sua reprodução 6 . Desta forma, a maior circulação e fluidez são causas e conseqüências do maior<br />
dinamismo e mobilidade do capital.<br />
O sistema de transporte ferroviário foi o que primeiro cumpriu o papel acima descrito, para<br />
viabilizar a aceleração da circulação de mercadorias das indústrias inglesas da primeira revolução<br />
industrial, entretanto, no Brasil, este sistema serviu principalmente para o escoamento do café colhido das<br />
fazendas paulistas durante a segunda metade do século XIX.<br />
Segundo Santos (2001, p.l74), “a cada momento histórico os objetos modernos não se distribuem<br />
de forma homogênea, e as normas que regem seu funcionamento pertencem a escalas diversas. Isso é<br />
ainda mais válido para o sistema ferroviário.”<br />
Antes da ascensão do rodoviarismo no Brasil, os sistemas de transportes predominantes eram o<br />
ferroviário e o aquaviário (mais especificamente o marítimo, que detinha o papel de integração mínima do<br />
território brasileiro), que aos poucos foram perdendo espaço.<br />
Para analisar os sistemas de transportes de carga no Brasil se faz necessário o entendimento da<br />
promoção da fluidez no âmbito das relações internacionais sustentadas pela divisão internacional do<br />
trabalho, que definiu, de uma certa maneira, a forma de transporte predominante em cada período<br />
histórico 7 . No âmbito brasileiro, como veremos a seguir, a produção da fluidez se deu através dos<br />
interesses imediatistas das elites brasileiras no decorrer do tempo que sucumbiram diante dos interesses<br />
de ingleses e posteriormente de estadunidenses, sem a elaboração de um planejamento com vistas ao<br />
futuro.<br />
2. Raízes e desenvolvimento do rodoviarismo no Brasil.<br />
Consideramos como marco da ascensão do sistema rodoviário o 1º Congresso Paulista de<br />
Estradas de Rodagem realizado em 1917 em São Paulo, presidido por Washington Luiz, então prefeito<br />
dessa cidade.<br />
Nesse Congresso discutiu-se o retardamento rodoviário do Brasil, procurando soluções para a<br />
ampliação dessa forma de transporte. Alguns participantes do Congresso fizeram críticas à política<br />
ferroviária existente no país.<br />
Em 1919 a Ford obteve autorização para funcionar no Brasil e montar o modelo “T”, sendo<br />
instalada em São Paulo.<br />
Para se ter uma idéia do impacto causado pelo setor automotivo, neste período, nas zonas<br />
pioneiras paulistas, surgia, a partir do prolongamento dos trilhos, a estrada e o caminhão. O transporte<br />
entre as fazendas e as estações, até então, era realizado por meio de tropas de muares ou de lentos e<br />
6 Conforme KOLARS e NYSTEN (1974, p.113. In: SANTOS, 1996, p.28, nota 2), “A sociedade opera no espaço geográfico por meio dos<br />
sistemas de comunicação e transportes. À medida que o tempo passa, a sociedade atinge níveis cada vez maiores de complexidade pelo uso<br />
das hierarquias e pelo manejo especial dos materiais e das mensagens.”<br />
7 Cf. CONTEL, Fábio Betioli. Os sistemas de movimento do território brasileiro. In: SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil.<br />
Território e Sociedade no início do século XXI. 2ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2001.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
pesados carros de boi. Já os viajantes, usavam o cavalo ou o trole, que foram “substituídos pelos Ford”,<br />
que “revolucionaram a circulação”. Nos mesmos anos generalizou-se o uso do caminhão, que surgiu nas<br />
zonas pioneiras em 1924 8 . Assim, os fazendeiros sentiram a necessidade de abrir estradas e alargar os<br />
velhos caminhos, pois descobriram no transporte rodoviário um meio rápido e de menor custo de<br />
implantação. Nota-se que até então, a produção de fluidez partia em grande parte de iniciativas não<br />
governamentais, denotando os anseios das elites por um meio de transporte mais rápido.<br />
Para expressar esta idéia, tomaremos emprestada a seguinte afirmação baseada em Barat (1978),<br />
que fizemos em recente artigo 9 :<br />
A chegada mais sistemática dos primeiros automóveis e caminhões e a abertura de novas estradas com<br />
melhoramento dos antigos caminhos, deram à elite brasileira da época, uma certa ‘crença em que o bom<br />
governo seria aquele que promovesse a expansão acelerada da infra-estrutura rodoviária’. Daí em<br />
diante houve uma herança desta concepção pelos demais governos, que achavam que através das ligações<br />
rodoviárias haveria automaticamente aumento da produção, do emprego e renda, transformando o<br />
investimento no setor rodoviário em ‘um fim em si mesmo do qual dependeria o dinamismo econômico<br />
de regiões inteiras’. Caminhões, ônibus e automóveis, foram inovações tecnológicas que passaram a<br />
constituir no imaginário coletivo, modernizações frente à ferrovia, que a partir de então passou a ser<br />
considerada como uma representação do ‘atraso’. Isto bastava para justificar os investimentos rodoviarios. 10<br />
Em 1926, Washington Luiz, que havia sido Presidente da Província de São Paulo desde 1920 11 e<br />
posto em prática uma política de desenvolvimento rodoviário com base no 1º Congresso Paulista de<br />
Estradas de Rodagem, se tornou Presidente da República. Uma das primeiras frases dita por ele, no<br />
discurso da posse foi: “Governar é abrir estradas”. Já em 1926, Washington Luiz conseguiu do<br />
Congresso Nacional, a criação do Fundo Especial para Construção e Conservação de Estradas de<br />
Rodagem Federais, arrecadado através de impostos sobre consumo de combustíveis e de peças de<br />
reposição.<br />
Depois de ter construído a Rio-Petrópolis (69 km), a primeira rodovia asfaltada do Brasil, iniciou<br />
a construção da rodovia Rio-São Paulo em 1928 que foi concluída em 1929, aproveitando ao máximo o<br />
antigo traçado (80% da estrada só recebeu revestimento primário).<br />
Havia neste momento, uma certa tendência à industrialização que ganhava impulso com as<br />
estradas na medida que também impulsionava o rodoviarismo. A economia cafeeira demonstrava sinais<br />
de crise, havendo um movimento pela industrialização.<br />
O crash de 29, marcou a aceleração do processo de derrocada da hegemonia das oligarquias, que<br />
sucumbiriam frente às classes médias, à burguesia industrial e alguns chefes oligarcas (como Getúlio<br />
Vargas) depois da “revolução por cima” de 1930. Esses grupos clamavam pelo fim da política oligarca e<br />
da economia do café, para dar lugar à industrialização 12 .<br />
A prova do fortalecimento do setor industrial é a criação do Centro das Indústrias do Estado de<br />
São Paulo (Ciesp) em 1928 e posteriormente, a criação da Federação das Indústrias do Estado de São<br />
Paulo (Fiesp) em 1931 13 .<br />
Neste período, a Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca, criada em 1909, intensificou o seu<br />
projeto de construção de estradas a partir do Plano Rodoviário do Nordeste. Segundo Xavier (2001,<br />
p.331) citando Manoel Corrêa de Andrade, isto ocorreu com o intuito de criar postos de trabalho e reter a<br />
mão-de-obra local.<br />
No entanto, o que se verificou foi a intensificação dos fluxos migratórios para o Sudeste, centro<br />
dinâmico da economia brasileira.<br />
8 MONBEIG, P., 1984, p. l98.<br />
9 SILVA JR, Roberto França & MAGALDI, Sérgio Braz. Formação da estrutura dos meios de transportes modernos e das redes fixas:<br />
desdobramentos econômico-territoriais e logísticos em Presidente Prudente-SP. In: Geografia em Atos. Presidente Prudente: Departamento<br />
de Geografia, 2001. No prelo.<br />
10 As palavras grifadas são de BARAT, p. 345-346.<br />
11 Naquela época os Estados eram chamados de Província e o Governador era chamado Presidente.<br />
12 WEFFORT, F. 1978, pp. 61-78. Segundo este autor, apesar da crise, o café continuou sendo o principal produto brasileiro para exportação<br />
por algum tempo.<br />
13 VESENTINI, J. W., 1986, p.125.<br />
31
32<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Neste contexto, aos poucos o Estado brasileiro passa a intervir na economia, investindo cada vez<br />
mais em infra-estrutura. O processo de reordenação estatal, prossegue com o Governo Getúlio Vargas, em<br />
especial após 1937, promovendo uma centralização político-administrativa, em detrimento dos Estados e<br />
municípios.<br />
Em 1937 foi construída a primeira grande estrada do Brasil, a Régis Bittencourt, ligando São<br />
Paulo a Porto Alegre, passando por Curitiba. No mesmo ano foi iniciada a construção da Rio-Bahia.<br />
Em 1942, o Brasil dispunha de 240.000 km de estradas, sendo um pouco mais de 1.000 km<br />
pavimentadas, ou seja, 0,5%. Quanto aos veículos, havia 197.316 a motor e 411.650 movidos por tração<br />
animal em todo o país. Durante a guerra, o ritmo de construção de rodovias foi diminuído devido à<br />
restrição de importação de combustíveis líquidos, impedindo a plena utilização de equipamentos<br />
motorizados empregados nos trabalhos de terraplanagem.<br />
Com estes empreendimentos, Vargas criou “condições institucionais para uma maior circulação<br />
e maior mobilidade da força de trabalho” 14 . Portanto, a maior capacidade de circulação se deveu à<br />
eliminação de barreiras físicas, através da melhor infra-estrutura de circulação e da eliminação de<br />
barreiras fiscais dentro do país.<br />
Segundo Xavier (2001, p.33 1):<br />
Ao longo da década de 1930 e início da década de 1940, quando o país conhecia um primeiro crescimento<br />
industrial significativo, deslocando o centro dinâmico da economia para o mercado interno, a extensão das<br />
estradas foi mais que duplicada. Esse aumento concentrou-se entre os anos de 1930 e l937 [...]<br />
Sobre o momento econômico, Barat (1978, p.9l) afirma:<br />
Com a intensificação do processo de industrialização, a partir da década de 40, alterou-se bastante a<br />
estruturação do espaço geoeconômico; do predomínio quase absoluto, de unidades produtivas pequenas e<br />
médias, disseminadas pelo espaço geoeconômtco e produzindo para mercados locais e regionais, chegou-se<br />
às tendências recentes de concentração industrial no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, com mercados de âmbito<br />
nacional, à medida que eram implantadas etapas mais avançadas do processo industrial. Com a expansão e<br />
diversificação da oferta final de bens, o deslocamento dos fluxos adicionais de bens intermediários e finais<br />
passou a ser feito com a participação crescente do transporte rodoviário. A expansão da carga geral justificou<br />
a suplementação da capacidade de transporte através das rodovias, surgindo, de início, as primeiras ligações<br />
rodoviárias de âmbito interestadual e inter-regional. Muitos investimentos na infra-estrutura rodoviária<br />
passaram a objetivar, posteriormente, a função de transporte a longa e média distância, para a consolidação<br />
de um mercado nacional, surgindo, na década de 50, as ligações troncais paralelas às ferrovias e ao mar.<br />
A implantação de um sistema rodoviário principal acompanhou a consolidação das etapas superiores do<br />
processo de industrialização. A substituição de bens anteriormente importados fez-se no sentido dos mais<br />
simples — para consumo semi-durável e durável — aos mais complexos insumos básico de bens de capital.<br />
As densidades e partidas de carga justificavam, de certa forma, o uso intensivo do caminhão.<br />
Os “Planos de Viação” também revelavam um ímpeto geopolítico da necessidade de integração<br />
territorial evidenciado na figura de Getúlio Vargas.<br />
Nos dizeres deste ditador:<br />
“O imperialismo do Brasil consiste em ampliar as suas fronteiras econômicas e integrar um sistema coerente,<br />
em que a circulação das riquezas e utilidades se faça livre e rapidamente, baseada em meios de transportes<br />
eficientes, que aniquilarão as forças desintegradoras da nacionalidade. O sertão, o isolamento, a falta de<br />
contato são os únicos inimigos terríveis para a integridade do país. Os localismos, as tendências centrífugas<br />
são o resultado da formação estanque de economias regionais fechadas. Desde que o mercado nacional tenha<br />
a sua unidade assegurada, acrescentado-se a sua capacidade de absorção, estará solidificada a federação<br />
política. A expansão econômica trará o equilíbrio desejado entre as diversas regiões do país, evitando-se que<br />
existam irmãos ricos ao lado de irmãos pobres. No momento nacional só a existência de um governo central,<br />
forte, dotado de recursos suficientes, poderá trazer o resultado desejado” 15 .<br />
14 SEABRA, M e GOLDENSTEIN, L, 1982, p. 39.<br />
15 SCHWARTZMAN, Simon (org.). Estado Novo, um auto-retrato (Arquivo Gustavo Capanema). Brasília: EDUnB, 1982, pp.422-423,<br />
citado por COSTAn (1922, 9. 124)
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
Na verdade, o modal rodoviário apresentou, entre outras vantagens, o transporte porta a porta,<br />
que com grande flexibilidade passou a atender à demanda exigida, atraindo principalmente os fretes de<br />
carga geral e alimentos acondicionados em sacaria para atender o mercado interno que ampliava o seu<br />
alcance 16 , principalmente depois do movimento de centralização promovido por Getúlio Vargas, na<br />
década de 1930.<br />
Além de envolver operações mais simplificadas de carga e descarga (porta a porta), o transporte<br />
rodoviário envolvia relativamente menos mão-de-obra com níveis de remuneração mais baixos devido ao<br />
excesso de oferta. Com o transporte rodoviário evitava-se fortes pressões sindicais como ocorria nos<br />
setores marítimo e ferroviário, que tinham sindicatos mais consolidados.<br />
Outra facilidade encontrada no transporte rodoviário, é que pelas suas características específicas,<br />
oferece maior velocidade e rapidez, além de possuir maior regularidade nos seus deslocamentos, estando<br />
submetido a menos avarias. “Assim, os incrementos de carga geral resultantes do processo de<br />
industrialização foram deslocados, em grande parte por caminhão, reforçando cumulativamente a<br />
expansão rodoviária”. (BARAT, op. cit., p.56)<br />
O uso das rodovias localmente, atendendo à função urbana, não atingia o caráter complementar<br />
com os outros meios. Mesmo com uma industrialização incipiente já se notava os “avanços” que as<br />
rodovias traziam. Isto motivou a construção de rodovias troncais (como foi o caso da Régis Bittencourt),<br />
com a crença de que este era o caminho para o desenvolvimento.<br />
A partir deste período, nota-se no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, uma<br />
absorção do setor rodoviário de parte do ferroviário e hidroviário, mas não necessariamente levando estes<br />
ao colapso, mas, a uma especialização. No entanto, no Brasil, no processo de delineamento dos<br />
transportes, houve uma forte expansão do setor rodoviário e um acentuado declínio dos setores ferroviário<br />
e marítimo.<br />
O setor ferroviário passou a concorrer com o setor rodoviário no sistema troncal, perdendo com<br />
relação ao quesito carga geral, que cresceu muito com o processo de substituição de importações, iniciada<br />
na Era Vargas no período de 1930 a 1945, sendo decisivo para a sua derrocada. Desta maneira, segundo<br />
Barat (1978, p.23):<br />
O sistema ferroviário brasileiro [...] revelou-se inadequado para responder aos estímulos do intenso processo<br />
de industrialização, iniciado a partir da década de trinta. As profundas modificações estruturais da economia<br />
brasileira colocaram gradativamente, como elementos mais importantes no movimento geral de carga, os<br />
fluxos de bens intermediários e finais para o atendimento do mercado interno. A capacidade instalada e a<br />
operação do sistema ferroviário não foram flexíveis ou eficientes para transportar os acréscimos substanciais<br />
na oferta final de bens resultantes da industrialização.<br />
No período de eclosão da II Guerra Mundial (1939-45), o sistema ferroviário brasileiro entrou<br />
em decomposição, devido à cessação das importações de peças e acessórios para reposição. Além disto,<br />
todo material era importado, não havendo uma preocupação no investimento de indústrias para o setor.<br />
(TORLONI, 1990, p. 222)<br />
O conflito mundial levou a Inglaterra a uma crise que se transferiu para o setor ferroviário do<br />
Brasil, pois muitas ferrovias eram fruto de capitais ingleses ou associados. Estas companhias não<br />
conseguiram manter as estradas de ferro a elas pertencentes, então, o Poder Público passou a processar a<br />
aquisição de algumas linhas. (FERREIRA NETO, 1975, p.l23)<br />
Torloni (1990, p.223) explica que após o conflito, um balanço da situação demonstrou que 50%<br />
do sistema ferroviário brasileiro, exigiria reconstrução total ao preço de US$ 295 mil por quilômetro. Nos<br />
outros 50%, era preciso substituir o leito e a via permanente a US$ 70 mil por quilômetro. Ao passo que a<br />
construção de uma rodovia custava US$ 125 mil por quilômetro, “com a vantagem de ficar o material<br />
rodante e a parte operacional por conta dos usuários. E o petróleo custava apenas 2 dólares o barril...”<br />
Para a perda de importância do setor ferroviário, também contribuíram: as diferenças de bitolas e<br />
as deficiências de traçado, que impossibilitaram a existência de uma rede ferroviária integrada que ligasse<br />
16 BARAT, obra citada, p.348)<br />
33
34<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
os diversos pontos do território brasileiro. Os elevados custos de implantação, bem como a demora na<br />
maturação dos investimentos, também contribuíram para a queda das ferrovias 17 .<br />
Após a II Guerra Mundial, uma importante parte das reservas cambiais acumuladas durante o<br />
conflito, foram destinadas para a aquisição de ativos ingleses das ferrovias obsoletas. Segundo Barat<br />
(p.252):<br />
As razões da aquisição foram, em parte, a existência desta disponibilidade de divisas que possibilitaria<br />
efetivamente ao Governo Federal centralizar sob seu comando e adaptar a rede marítimo-ferroviária as<br />
novas condições de desenvolvimento do país e, em parte, às pressões dos proprietários dos ativos visando<br />
reconvertê-los em outras possibilidades de investimento com maior rentabilidade. Por sua vez, o Governo,<br />
ao adquiri-los, não estava em condições de operá-los eficientemente, além de herdar o seu obsoletismo. Esta<br />
operação deficiente da rede marítimoferroviária acelerou a tendência de modificação na estrutura da<br />
demanda pelos serviços de transporte em favor do rodoviano.<br />
Com as divisas adquiridas no período da guerra, o Brasil investiu pesado na construção de<br />
rodovias e na importação de veículos automotores. Mais tarde, a implantação da indústria automobilística<br />
iria confirmar a tendência “sem volta” dos investimentos rodoviários. Soma-se a esses fatos, o rápido<br />
crescimento da oferta final de bens produzidos no Brasil, resultado do dinamismo do setor industrial, que<br />
daí em diante, encontraria no estrangulamento dos transportes, o impedimento à obtenção de maiores<br />
faturamentos.<br />
Desta forma, as elites empresariais, com ascendente influência política, já no início da década de<br />
40 abordavam em seus discursos a fraqueza da infra-estrutura de base, especialmente siderurgia,<br />
combustível e transportes 18 . Havia também um interesse por parte das elites na expansão da fronteira<br />
agrícola, que vai determinar a ocupação de áreas de floresta, possíveis através da abertura de estradas para<br />
o escoamento da produção de produtos agrícolas 19 .<br />
No ano de 1945 foi criado o polêmico Fundo Rodoviário Nacional (mantido durante o Regime<br />
Militar), alimentado pelo imposto sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos usados no país.<br />
Como o uso destes combustíveis não se restringia aos usuários de rodovias, houve um favorecimento do<br />
setor em detrimento do restante da sociedade 20 .<br />
A partir de 1950, na composição percentual entre os modais de transporte, o rodoviário de carga<br />
já aparecia com a participação de 38%, o ferroviário com 29,2% e o de cabotagem com 32,4% 21 .<br />
Em 1951, a Comissão Mista Brasil/Estados Unidos, elaborou uma política para o<br />
desenvolvimento e melhoramento do transporte ferroviário, decorrente de um acordo entre o Governo<br />
brasileiro e o BIRD. Esta comissão elaborou 24 projetos de políticas ferroviárias, entre os quais podemos<br />
destacar a supressão de linhas antieconômicas 22 .<br />
Em 1953, foi criada por Getúlio Vargas a Petrobrás, que municiou o desenvolvimento do<br />
rodoviarismo no Brasil na medida em que se produziu muito asfalto, facilitando principalmente o serviço<br />
de pavimentação 23 . Além disto, do ponto de vista subjetivo, a criação da Petrobrás incentivou ainda mais<br />
o uso de automóveis e caminhões para o transporte de carga. No primeiro ano de funcionamento a<br />
17 Ibidem, pp. 23-24.<br />
18 DINIZ, 1978, p.102.<br />
19 Este discurso se fez mais presente na Ditadura Militar com lemas como “Integrar para não entregar” e “A Amazônia é um lugar de terras<br />
sem homens e o Nordeste é um lugar de homens sem terra”. Esta última frase foi dita pelo presidente Médici ao inaugurar a rodovia<br />
Transamazônica.<br />
20 Para mais detalhes Cf. Barat, op.cit. pp. 62-71.<br />
21 Brasil. Ministério dos Transportes. Anuário Estatístico dos Transportes, 1970. Este foi o primeiro anuário estatístico elaborado pelo<br />
Ministério, através do Serviço de Estatística dos Transportes da Assessoria de Planejamento e Orçamento do respectivo ministério. Para este<br />
primeiro anuário, foi elaborada uma série histórica da composição modal a partir de 1950. Os dados referentes ao decênio de 1950 a 1960,<br />
foram obtidos através do relatório do BIRD de maio de 1965 e os dados referentes aos anus de 1961 até 1968, foram elaborados pelo Geipot<br />
(na época Grupo de Estudos para Integração da Política dos Transportes). O segundo anuário (1971) foi elaborado pelo Geipot. Em 1965,<br />
ano em que foi criado o Geipot. Em 1965 a sigla significava Grupo Executivo para Integração da Política dos Transportes, em 1969, passou a<br />
significar Grupo de Estudos para Integração da Política dos Transportes e a partir de 1973, passou a ser Empresa Brasileira de Planejamento<br />
dos Transportes, o mesmo significado que tem nos dias atuais.<br />
22 FERREIRA NETO, obra citada, p. 124.<br />
23 FERREIRA NETO, obra citada, p. 124.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
Petrobrás produziu 2.500 barris de petróleo por dia, o que era muito pouco ainda, tendo o Brasil que<br />
importar grande parte do petróleo consumido.<br />
No período de 1950 a 1954, o transporte rodoviário ascendeu fortemente, chegando a atingir um<br />
crescimento de 37%. Entre os anos de 1951-1952 chegou a crescer mais de 20%. Ver gráfico a seguir.<br />
Gráfico 1. O surto do transporte rodoviário de cargas na era Vargas. Participação entre os modais (%)<br />
Em uma conjugação de interesses, Juscelino Kubitschek abordou na sua campanha eleitoral o<br />
slogan “Energia e Transporte” 24 e, quando eleito cumpriu “à risca” o compromisso com o empresariado,<br />
elaborando um Plano de Metas de caráter desenvolvimentista, no qual os transportes tinham um lugar de<br />
destaque.<br />
Diante disto, com relação aos transportes pode-se destacar a expansão das rodovias federais, que<br />
foram aumentadas em 15.000 Km (as pavimentadas foram 6.200 Km) de 1956 a 1961. Entre as rodovias<br />
construídas estão a Belém-Brasília (2.000 km), a Belo Horizonte-Brasília (700 km), a Goiânia-Brasília<br />
(200 km), Fortaleza-Brasilia (1.500 km) e Acre-Brasília (2.500 km) 25 . Portanto, podemos considerar a<br />
construção de Brasília como fundamental para a concretização do transporte rodoviário no Brasil.<br />
Para trafegar nestas novas estradas de rodagem era necessário estimular o uso do automóvel em<br />
um país de industrialização tardia, com baixos níveis de remuneração e de economia dependente. Por isto,<br />
Juscelino Kubitscheck incentivou o modelo de substituição de importações de automóveis.<br />
Em 1957, foram implantadas a FNM (Fabrica Nacional de Motores), a primeira indústria<br />
automobilística do Brasil e montadoras como a Chevrolet e Mercedes Benz, com a intensificação da<br />
produção de caminhões e ônibus. A Fábrica Nacional de Motores produzia aproximadamente 2.500<br />
caminhões por ano. Com a instalação de algumas multinacionais do setor, chegou-se a uma produção (de<br />
1956 a 1960) de 154.000 caminhões e ônibus, 61.300 jipes, 53.200 utilitários e 52.000 automóveis de<br />
passeio. A indústria brasileira em geral se expandiu, atingindo um aumento de 80% na produção, sendo<br />
que a taxa mais elevada ficou por conta das indústrias de equipamentos de transportes com 600%.<br />
(VESENTINI, 1986, p.104)<br />
Durante o Governo Juscelino Kubitscheck o setor rodoviário apresentou um crescimento de<br />
15%, principalmente depois da implantação da indústria automobilística, conforme podemos observar no<br />
gráfico 2 a seguir:<br />
24 VESENTINI, 1986, p. 127.<br />
25 Ibidem, p. 104<br />
35
Gráfico 2. Crescimento do setor rodoviário durante o Governo JK.<br />
36<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O Governo Federal, “tentando” dar uma solução ao contínuo processo de deterioração das<br />
ferrovias brasileiras, encampou 80% delas, criando a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) em 1957.<br />
As ferrovias integrantes do sistema RFFSA e de administração paulista, passaram então a<br />
absorver grandes subvenções, que chegou em 1969 a 92,7%, sendo que a porcentagem do PIB era de<br />
0,4%, valor que veio declinando desde 1964, cuja porcentagem do PIB foi de 1 ,7% 26 .<br />
Mesmo as subvenções foram incapazes de evitar a constante deterioração do setor, que<br />
continuou em queda na sua participação entre os modais.<br />
Durante a Ditadura Militar manteve-se a opção rodoviária, mesmo com as “tentativas” de<br />
melhoria das ferrovias, sendo assim, foram construídos vários quilômetros de estradas de rodagem, frutos<br />
de planos de integração nacional e programas de desenvolvimento regionais. Nesse contexto, foram<br />
construídas a Transamazônica e outras rodovias de integração na região Amazônica, Nordeste e Centro-<br />
Oeste.<br />
Durante os governos de Castelo Branco e Costa e Silva (1964-1969), foram criados o Geipot (ver<br />
nota 12) e o Ministério dos Transportes. Neste período, o transporte rodoviário teve um crescimento<br />
menor que dos períodos anteriores, atingindo cerca de 4%, conforme demonstrado no gráfico 3 a seguir:<br />
Gráfico 3. O crescimento do Transporte rodoviário nos primeiros anos do Regime Militar. Participação entre os modais<br />
(%).<br />
Em 1970, foi criada pelo Governo de São Paulo a FEPASA (Ferrovias Paulistas S/A), que<br />
encampou as ferrovias privadas, juntando-as à Sorocabana que era de propriedade do Governo paulista<br />
desde sua construção.<br />
Neste período até 1972 (metade do Governo Médici), as rodovias consumiam cerca de 80% dos<br />
recursos destinados a transportes, quando foi criado o I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), o<br />
programa rodoviário absorveu 53% dos investimentos, principalmente com grandes rodovias de<br />
integração. Apesar disto, houve uma queda de 3% na participação do transporte rodoviário entre os<br />
modais, conforme podemos observar no gráfico 4 a seguir:<br />
26 BARAT, obra citada, pp. 24-25.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
Gráfico 4. Participação nos modais no Governo Médici (%)<br />
O II PND veio no Governo Geisel (1975-1979), que procurou dar ênfase aos transportes urbanos<br />
(metrô e vias expressas), às ferrovias e às hidrovias. Neste plano, o transporte rodoviário acabou ficando<br />
com 24,1% e o ferroviário com 22,3% dos investimentos 27 .<br />
Entre 1980 e 1984 foi lançado o III PND, que deu prioridade às hidrovias (que receberam 32%<br />
dos investimentos) e às ferrovias (que receberam 31% dos investimentos em transportes), ao passo que o<br />
setor rodoviário recebeu 21%. Neste período, o transporte rodoviário de cargas apresentou uma queda de<br />
7%, conforme gráfico 5, a seguir:<br />
Gráfico 5. Transporte Rodoviário de Carga no Governo Figueiredo. Participação entre os modais<br />
(%)<br />
No Governo Sarney (1985-1989), investiu-se 43% em rodovias, 25% em ferrovias e 20% em<br />
hidrovias. No entanto, no ano de 1985, o transporte rodoviário de cargas continuou apresentando queda,<br />
chegando a 53,6%, se recuperando no ano de 1988, com 56,4% e 1989 com 57,20% 28 .<br />
A partir de 1987 passou-se a adotar uma política de atração de capitais privados para a<br />
construçao de ferrovias.<br />
Na última década, em relação aos anos 1980, houve um leve crescimento do modal rodoviário de<br />
cargas, atingindo níveis de participação variando na casa dos 62% (Geipot, 2000).<br />
No geral, na última década, os modais se mantiveram estáveis com a ressalva de que houve uma<br />
leve queda dos transportes terrestres e um leve crescimento na participação dos modais dutoviário e<br />
aquaviário, que receberam os maiores investimentos públicos, depois do rodoviário, conforme tabela 1, a<br />
seguir:<br />
27 Não encontramos dados comparativos entre os modais dos anos compreendidos entre 1977 a 1980. Nos anos de 1975 e 1976, os modais se<br />
mantiveram estáveis em relação a 1974, mas já no ano de 1981, o transporte rodoviário de cargas apresentou uma queda de 14%.<br />
28 Não obtivemos dados comparativos entre os modais relativos aos anos de 1986 e 1987.<br />
37
3. Considerações finais.<br />
38<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O Brasil, país de industrialização tardia, estruturou seu território a partir de uma lógica diferente<br />
dos países do centro da economia-mundo, portanto, as simples comparações a partir de números que<br />
mostram que o Brasil é um país onde o transporte rodoviário é predominante, enquanto que outros países<br />
possuem uma “racionalidade” em termos de equilíbrio entre os sistemas de transportes, não vai explicar<br />
corretamente a formação socioespacial brasileira pelos transportes.<br />
A Europa, no período de primeira revolução industrial, necessitou de ferrovias, enquanto que no<br />
mesmo período, no Brasil, foi a atividade cafeeira que necessitou delas. O Brasil se industrializou<br />
definitivamente a partir dos anos 1940, necessitando do transporte rodoviário, já que os avanços<br />
tecnológicos neste setor eram mais evidentes e acessíveis. Veja que esta situação configura uma<br />
defasagem de mais de cem anos.<br />
A ferrovia, verdadeira “coqueluche” do período da primeira revolução industrial, foi espalhada<br />
pelo mundo inteiro sobretudo com capital, ferro e carvão ingleses.<br />
Diante disto, Pedrão (1996, p.176) afirma que no contexto da economia mundial do século XIX,<br />
o Brasil ressurge como exportador de café, no entanto, o autor enfatiza que o significado principal do país<br />
“era como mercado de investimentos de baixo risco”. Em nota da mesma página o autor afirma:<br />
Nesse período, que corresponde ao Segundo Império, o Brasil tornou-se atrativo para investimentos na<br />
capitalização de empresas dedicadas à prestação de serviços públicos, em que atuaram como contratistas do<br />
governo, portanto, investimentos em que o Estado absorvia os riscos.<br />
Apesar disto, até o ano de 1862 várias concessões para exploração de ferrovias em todo o Brasil<br />
foram dadas com diversos tipos de privilégios e facilitações, mesmo assim, o ritmo de implantação ainda<br />
era lento, principalmente para o escoamento de café, pois as ferrovias existentes não davam conta da<br />
produção 29 . Situação esta, que se arrastou por toda a história dos transportes no Brasil, incentivando<br />
assim, o rodoviarismo.<br />
O Brasil iniciou o século XX com 500 km de estradas com revestimento macadame 30 com um<br />
tráfego muito reduzido de viaturas, quase todas movidas por tração animal, enquanto na Europa e nos<br />
Estados Unidos, o desenvolvimento da indústria automobilística já se encontrava, como já nos referimos<br />
anteriormente, na vanguarda das inovações.<br />
Os primeiros automóveis foram importados no final do século XIX, sendo que poucos tinham<br />
acesso. Em 1903 começou o emplacamento de veículos; em 1906 começaram os exames para a obtenção<br />
de carteira de motorista e em 1907 foi fundado o Automóvel Clube do Brasil.<br />
Em 1908 foi efetuada a primeira viagem de automóvel entre Rio e São Paulo, cuja estrada havia<br />
sido aberta antes de 1822. A viagem realizada pelo conde francês Lesdain levou 33 dias.<br />
29 Segundo Santos e Silveira (2001, p.174): “A produção da fluidez é o resultado de conflitos e cooperações, acordos e negociações, sempre<br />
provisórios, entre o Estado e as empresas, na construção e operação de grandes sistemas técnicos. A participação dos governos mundiais<br />
(organismos internacionais financeiros) é permanente, viabilizando os emprecndimentos por meio de crédito ou impondo os próprios projetos<br />
de engenharia. E os fluxos ferroviários decorrem dessas dinâmicas, que são sempre datadas.”<br />
30 Mac Adam criou o revestimento que leva o seu nome, em 1775. Este revestimento trazia uma camada de 15 a 20 cm de cascalho, recoberta<br />
de pedras britadas e areia, regadas e passadas por um cilindro a fim de torná-lo compacto (DERRUAU, 1982, p.l29). Segundo o autor, isto<br />
rompeu com a tradição das fundações profundas e do calcetamento”, O revestimento ficou conhecido no Brasil como macadame.
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
Em 1917, ano do 1º Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, foi registrado um total de<br />
aproximadamente 5.000 veículos circulando basicamente no perímetro urbano de Rio de Janeiro e São<br />
Paulo que juntas possuíam 90% da frota.<br />
Diante destes episódios, vemos que o automóvel no Brasil tinha um acesso dificultado, pelo fato<br />
de ocorrer um atraso na implantação da indústria automotiva no país, porém em plena expansão. Sendo<br />
assim, grande parte das atividades desenvolvidas através dos automóveis eram esportivas e de passeio,<br />
sendo estes, os principais fatores de investimento, antes do desenvolvimento das atividades agropecuárias<br />
no interior do estado de São Paulo, quando aos poucos os veículos automotores passaram a dar conta de<br />
cargas mais pesadas. Os automóveis apresentavam rápidas melhorias, juntamente à indústria de<br />
pneumáticos. Os caminhões sucessivamente aumentavam sua tonelagem.<br />
Uma carga de três toneladas está em 1925 no limite das possibilidades. Dez anos mais tarde, ultrapassam-se<br />
as doze toneladas: um caminhão transportará, daqui a diante, quase tanto como um pequeno vagão de<br />
mercadorias. O aumento das velocidades é acompanhado por progressos na sinalização rodoviária e de uma<br />
adaptação das estradas (por exemplo, a elevação das curvas e a atenuação do bombeamento central) 31 .<br />
A segunda revolução industrial, comandada pelos Estados Unidos, inaugurou a era do<br />
automóvel. Indústrias automotivas norte-americanas procuraram consumidores em vários países.<br />
Segundo Furtado (1961, p.l5l):<br />
Assim como a indústria têxtil caracterizava a revolução industrial de fins do século XVIII e a construção de<br />
estradas de ferro os decênios da metade do século seguinte, a indústria de veículos terrestres a motor de<br />
combustão interna será o principal fator dinâmico das economias industrializadas durante um período que<br />
corresponde o último decênio do século passado e os três primeiros do presente.<br />
A partir da busca dos elementos de origem na formação do aparato fixo de transporte, podemos<br />
interpretar sobre a atual situação deste setor no Brasil. Desta forma, o que podemos notar é que houve<br />
uma confluência entre os interesses imediatistas das elites brasileiras e principalmente, da Inglaterra com<br />
o financiamento ferroviário e posteriormente dos Estados Unidos através da exportação de automóveis<br />
para o Brasil. Quando o modelo do financiamento ferroviário começou a entrar em declínio juntamente à<br />
política agrícola do café, entraram na cena brasileira, empresas norte-americanas que estimularam o uso<br />
do automóvel pela “imposição” de um modelo de transporte.<br />
Apesar deste fator, devemos entender que não foi apenas o investimento rodoviário ou o<br />
sucateamento das fenovias e hidrovias que levaram o transporte rodoviário a ser predominante, mas a<br />
conjugação dos dois fatos, até porque nos momentos de abrupta decadência dos ramos não rodoviários,<br />
houve injeções de capitais que não foram suficientes para a retomada do crescimento dessas atividades.<br />
Segundo Barat (op. cit., p.135O) citando Abouchar, o subsídio ao setor rodoviário através de<br />
mecanismos indiretos de transferência de recursos oriundos de outros setores da economia, “não foi<br />
menos importante, no passado, que o financiamento dos déficits das modalidades não rodoviárias”, que<br />
receberam maciças subvenções com o dinheiro direto do tesouro nacional.<br />
Hoje, o modelo de transporte de cargas no Brasil possui distorções que devem ser sanadas, pois<br />
no cômputo geral do escoamento da produção há prejuízos. É aí que começam os problemas analíticos,<br />
pois se começa a comparar custos de transportes a partir de abstrações, afirmando que “o transporte<br />
rodoviário de cargas encarece a produção, pois é o modal mais caro”.<br />
Tendo em vista esta afirmação, questionamos: O transporte rodoviário encarece qual produção?<br />
Para responder a esta questão, ratificamos que a afirmação não está totalmente errada, mas não<br />
está totalmente correta.<br />
O transporte rodoviário de cargas encarece a produção de produtos como: açúcar, milho, trigo,<br />
soja, minérios, adubo, cimento, combustíveis, café, etc. Porém, para produtos como autopeças,<br />
confecções, eletro-eletrônicos, produtos de papelaria, produtos para informática, produtos alimentícios<br />
industrializados, utilidades domésticas, medicamentos, cosméticos, entre outros, devemos relativizar, pois<br />
estes produtos demandam partidas constantes e fracionadas, que o transporte ferroviário e aquaviário não<br />
podem oferecer.<br />
31 DERRUAU, M. p.129<br />
39
40<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Os agentes transportadores rodoviários circulam em rodovias com péssimas condições de uso.<br />
Segundo a CNT (Confederação Nacional do Transporte) com base na sua 6ª Pesquisa Rodoviária (2001),<br />
68,8% das rodovias brasileiras foram reprovadas, ficando conceituadas entre péssimo, ruim e deficiente.<br />
As rodovias públicas estão em um péssimo estado de conservação e as rodovias privatizadas, que<br />
possuem um “bom” estado de conservação, cobram elevadas tarifas de pedágio que são incorporados aos<br />
preços dos fretes, ou seja, são repassados ao consumidor. Segundo Portella (2000), nos últimos quatro<br />
anos as viagens no Estado de São Paulo, ficaram 45% mais caras 32 , ao passo que, no mesmo período, a<br />
inflação medida pela Fipe ficou em 25,88%.<br />
Diante destas condições, pensamos que não se pode deixar de investir alto na melhoria da<br />
circulação rodoviária. Apesar de ter recebido os maiores investimentos na última década, devemos frisar<br />
que não conseguimos visualizar melhorias significativas e ficamos com a seguinte indagação: Será que o<br />
dinheiro está realmente sendo destinado para o transporte rodoviário?<br />
Segundo o Geipot, os investimentos no transporte rodoviário vem sendo destinados para<br />
aplicações em construção, pavimentação, melhoramento de rodovias, terminais rodoviários, estudos e<br />
projetos, desapropriações, indenizações e duplicação de rodovias.<br />
Nota-se que a maior parte das aplicações são as chamadas “tapa-buracos”, que apenas amenizam<br />
a situação precária do setor.<br />
Desta forma, fazemos outras perguntas: Se o dinheiro na última década foi investido<br />
idoneamente, qual é a solução para a melhoria dos sistemas de transporte? Deve-se buscar melhorias no<br />
setor rodoviário, onde atuam 12 mil empresas transportadoras e 350 mil transportadores 33 autônomos ,<br />
que respondem por cerca de 3,4% na participação do PIB, ou investe-se mais em outros sistemas de<br />
transporte?<br />
Diríamos de antemão, que deve haver um equilíbrio nos investimentos entre os modais, com<br />
planejamento e idoneidade, algo que faltou nesta breve história dos transportes de cargas no Brasil<br />
contemporaneo.<br />
4. Referências Bibliográficas.<br />
BARAT, Josef. A Evolução dos Transportes no Brasil. Rio de<br />
Janeiro: IBGE/LPEA, 1978.<br />
BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Brasil em Números. v.6. Rio de Janeiro: IBGE,<br />
1998.<br />
BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Pesquisa Anual do Transporte Rodoviário. Rio de<br />
Janeiro: v.9, IBGE, 1998.<br />
BRASIL. Ministério dos Transportes. Anuário Estatístico dos Transportes. Secretaria Geral de<br />
Planejamento e Orçamento. Serviço de Estatística dos Transportes, 1970.<br />
BRASIL. Ministério dos Transportes. Anuário Estatístico dos Transportes. Geipot, 1977, 1986, 1992-<br />
1993, 1997.<br />
BRASIL. Ministério dos Transportes. Anuário Estatístico dos Transportes. Geipot, 2000. In:<br />
homepage: http://www.geipot.gov.br.<br />
CONTEL, Fábio Betioli. Os sistemas de movimento do território<br />
brasileiro. In: SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e Sociedade no início<br />
do século XXI. 2ed. Rio de<br />
Janeiro-São Paulo: Record, 2001.<br />
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica.<br />
São Paulo: Edusp/Hucitec, 1992.<br />
DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. 3 ed. São Paulo:<br />
Senac, 2000.<br />
DERRUAU, Max. Geografia Humana. v. 2,3 ed. Lisboa: Presença, 1982.<br />
32 No Estado de São Paulo, as concessionárias de rodovias administram 3,5 mil Km, equivalentes a 15% das estradas do Estado.<br />
33 Das empresas transportadoras, 95% são pequenas e médias. Além desses agentes, 50 mil empresas transportam a própria carga. NTC<br />
(Associação Nacional do Transporte de Carga)
FRANÇA, R.<br />
Eliminação de “barreiras”: produção de fluidez e circulação no Brasil.<br />
DINIZ, Eh. Empresário, Estado e capitalismo no Brasil: 1930-1945. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.<br />
FERREIRA NETO, Francisco. 150 Anos de Transportes no Brasil.<br />
Brasília: Centro de Documentação e Publicações do Ministério dos<br />
Transportes, 1974.<br />
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 3 ed. Rio de<br />
Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.<br />
GOLDESTEIN, Lea e SEABRA, Manoel. Divisão Territorial do<br />
Trabalho e Nova Regionalização. Revista do Departamento de<br />
Geografia. São Paulo: FFLCH/USP, n.1, pp.2l-47, 1982.<br />
HARVEY, David. Los Límites del Capitalismo y la Teoría Marxista. México: Fundo de Cultura, 1990.<br />
HISTÓRICO da Petrobrás. PETROBRÁS (Petróleo Brasileiro S/A), 2001. Informações sobre a história<br />
da Petrobrás. In:. Acesso em:<br />
20 jun. 2001.<br />
MONBEIG. Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec/Polis, 1984.<br />
PERFIL do transporte rodoviário de cargas. São Paulo: NTC (Associação Nacional do Transporte de<br />
Carga), 2000. Informações sobre transporte rodoviário de cargas. Disponível em: . Acesso em: 15 mai. 2000.<br />
PORTELLA, Andréa. Praças de pedágio dobram e tarifa dispara. O Estado de S. Paulo. Caderno 3,<br />
13/ago/00.<br />
SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e<br />
Sociedade no início do século XXI. 2ed. Rio de Janeiro-São Paulo:<br />
Record, 2001.<br />
PESQUISA RODOVIÁRIA. São Paulo: CNT (Confederação<br />
Nacional do Transporte), 2001. Informações sobre transportes.<br />
Disponível em: . Acesso em: 14 fev. 2001.<br />
TORLONI, Hilário. Estudo de Problemas Brasileiros. 2ed. São<br />
Paulo: Pioneira, 1990.<br />
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de<br />
Janeiro: Paz e Terra, 1978.<br />
VESENTINI, José William. A Capital da Geopolítica. São Paulo:<br />
Ática, 1986.<br />
XAVIER, Marcos. Os sistemas de engenharia e a tecnicização do território. O exemplo da rede rodoviária<br />
brasileira. In: SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e Sociedade no início<br />
do século XXI. 2ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2001.<br />
41
PADRÕES SOCIOECONÔMICOS E CENTRALIDADE URBANA: CATUAÍ SHOPPING<br />
CENTER E ZONA NORTE DE LONDRINA ∗<br />
Willian Ribeiro da SILVA ∗∗<br />
Maria Encarnação Beltrão SPOSITO ∗∗∗<br />
Resumo: Este artigo tem por objetivo principal a análise do processo da redefinição da centralidade na/da<br />
cidade de Londrina - PR, com intuito de explicitar a segmentação do espaço urbano, que apresenta um<br />
considerável nível de fragmentação. Para tanto, apresenta-se um estudo sobre os processos de<br />
descentralização e de (re)centralização dispersa, para o qual foram escolhidas duas áreas centrais de<br />
Londrina, que se diferem em relação à camada social a que atendem e quanto à sua escala de atração de<br />
consumidores. Estudamos o Catuaí Shopping Center, que expressa uma centralidade de escala<br />
interurbana, que atrai população de camadas sociais mais abastadas e a Zona Norte, que é constituída de<br />
conjuntos habitacionais populares, construídos nos anos de 1970, possuindo uma população de<br />
aproximadamente 100.000 habitantes, apresentando uma concentração de estabelecimentos comerciais e<br />
prestadores de serviços bastante elevada, atendendo à população local. Portanto, este estudo realiza uma<br />
análise comparativa entre essas duas áreas centrais, avaliando seus graus de centralidade e seus padrões<br />
socioespaciais.<br />
Palavras-chave: Centralidade urbana; Londrina; padrões socioespaciais; estruturação urbana; áreas<br />
centrais; poli(multi)centralidade.<br />
Resumen: Este artículo objetiva analizar el processo de de definición de la centralidad en/de la ciudad de<br />
Londrina - PR, con el propósito de explicar la segmentación del espacio urbano, que presenta un nivel<br />
considerable de fragmentación. Para esto, presentamos un estudio de los procesos urbanos de<br />
descentralización y de (re)centralización dispersa, para el que fueron seleccionadas dos áreas centrales de<br />
Londrina, cuya diferencia se relaciona con el estrato social al que atienden así como sua escala de<br />
atracción. Estudiamos el Catuaí Shopping Center, que expresa centralidad de escala interurbana, que atrae<br />
a la población de los estratos sociales más favorecidos y a la Zona Norte, la cual se constituye de<br />
conjuntos de viviendas de protección oficial, construidos en los años setenta y con una población actual<br />
de aproximadamente 100.000 habitantes. Presenta además una concentración de establecimientos<br />
comerciales y de servicios bastante elevada, que atiende a la población local. Por tanto, la tendencia de<br />
nuestro estudio es el análisis comparativo de áreas centrales, avaluando los grados de centralidad y sus<br />
patrones socioespaciales.<br />
Palabras-llave: Centralidad urbana; Londrina; patrones socioespaciales; estruturación urbana; áreas<br />
centrales; poli(multi)centralidad.<br />
1. Introdução.<br />
O presente artigo visa levantar a discussão sobre as relações existentes entre as características<br />
socioespaciais e a centralidade, de modo a ressaltar que a territorialização de atividades funcionais é um<br />
dos elementos fundamentais na determinação dos fluxos internos na cidade. Serão caracterizadas as duas<br />
áreas estudadas - Catuaí Shopping Center e Zona Norte - para, então, analisarem-se os padrões<br />
∗ Texto publicado e em 2003 (n.10 v.2), produzido a partir das discussões apresentadas no capítulo 5 da dissertação de mestrado intitulada<br />
“Descentralização e redefinição da centralidade em e de Londrina”, defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da<br />
<strong>FCT</strong>/UNESP, no ano de 2002, com financiamento da FAPESP.<br />
∗∗ <strong>Doutor</strong> em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP. Membro do<br />
GAsPERR (Grupo de pesquisa “Produção do Espaço e Redefinições Regionais”). Atualmente professor da UFRJ. E-mail:<br />
williamribeiro@hotmail.com<br />
∗∗∗ <strong>Professor</strong>a do Departamento de Geografia da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente-SP. Membro do GAsPERR.<br />
E-mail: mebsposito@prudenet.com.br
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
socioespaciais dos estabelecimentos instalados nas mesmas e suas influências na redefinição da<br />
centralidade na cidade de Londrina.<br />
2. Catuaí Shopping Center.<br />
Trata-se de um empreendimento que foi inaugurado no final do ano de 1990, construído pela<br />
Construtora Khouri, de capital local, associado a: Catuaí Construtora, Banco Pontual, Banco Multi Stock,<br />
Badressa Participações, Ceres Fundação, Fundação Braslight, PRHOSPER, Instituto Rhodial, Prebeg<br />
Caixa e Regius Sociedade. Para a realização desse empreendimento, demandaram-se investimentos da<br />
ordem de 55 milhões de dólares, oriundos da Caixa Econômica Federal e dos fundos de previdência<br />
privada da Light e da White Martins.<br />
Possui uma área total de 92.266 metros quadrados, sendo 57.726 metros quadrados de área<br />
construída, com 180 lojas, das quais, quatro são lojas âncoras, cinco de artigos do lar, 40 de artigos<br />
diversos, três de conveniência, 83 de vestuário, 16 lanchonetes, três restaurantes, cinco cinemas, agência<br />
dos correios, nove estabelecimentos prestadores de serviços gerais, uma agência bancária, sete caixas<br />
eletrônicos de outros bancos e estacionamento para 2.300 automóveis 34 .<br />
É, portanto, um empreendimento de grande porte que foi construído numa área onde, antes de<br />
sua construção, produzia-se soja. Havia poucas condições favoráveis aos fluxos entre essa área e o Centro<br />
Principal de Londrina, ou seja, era um setor do entorno urbano de difícil acessibilidade. Para a viabilidade<br />
de tal empreendimento, foi necessária a resolução de tal problema, com a duplicação de uma via de<br />
acesso, a Avenida Madre Leônia Milito e a construção de um viaduto que facilitou a conexão com a PR -<br />
445, que serve de acesso à Curitiba e aos municípios da região de Londrina e do interior do Estado de São<br />
Paulo.<br />
Reforçando o que Lúcio Kowarick chama de “contradição urbana”, os custos da construção de<br />
tais obras foram arcados, em sua maior parte, pelo Estado do Paraná, no Governo de Álvaro Dias, pela<br />
Prefeitura Municipal de Londrina, na administração de Antônio Belinatti, e em menor parte pelos<br />
empreendedores, evidenciando que a produção do espaço urbano se faz de forma coletiva, mas sua<br />
apropriação se faz de forma privada e seletiva.<br />
As palavras de Alfredo Khouri, o empreendedor do Shopping, em entrevista ao jornal Mais<br />
Londrina, de 29 de junho de 2001, são muito ilustrativas das relações entre o público e o privado:<br />
Enfrentamos muitas dificuldades porque não dava para duplicar a avenida de acesso, a Madre Leônia, e não<br />
havia dinheiro do Governo do Estado [...].<br />
Eu e o então prefeito Antônio Belinati fomos até Curitiba para falar com o Álvaro Dias [...].<br />
Álvaro tinha a vontade, mas não os recursos. E entendia como bom administrador, que é preciso apoiar os<br />
empresários em seus empreendimentos, principalmente disponibilizando a infra-estrutura necessária. E nós<br />
trouxemos o progresso para essa região.<br />
Percebe-se, então, que há uma forte ação, por parte das elites, pressionando o poder público para<br />
atuação em seus proveitos e, para isto, se utiliza a ideologia, ou seja, criam-se argumentos para justificar a<br />
apropriação de recursos públicos, em nome do que é comumente chamado de “progresso da região”,<br />
quando, no entanto, as metas eram os lucros dos empreendedores. Acrescenta-se, ainda, que o Shopping<br />
recebeu da Prefeitura uma isenção, por 10 anos, de IPTU, o que gerou e gera muitos protestos por parte<br />
dos comerciantes de outras áreas e que vem sendo contestado atualmente pelos proprietários do Royal<br />
Plaza Shopping, que também reivindicam uma isenção semelhante.<br />
Gaeta (1992, p.55) contribui com a análise ao apontar uma estreita relação entre os planos de<br />
implantação de shopping centers e os investimentos públicos, pois:<br />
34 Nota-se que o estacionamento do Catuaí Shopping Center foi ampliado no início do ano de 2002, aumentado consideravelmente sua<br />
capacidade.<br />
43
44<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A gerência cientifica aplicada à construção de espaços imobiliário-comerciais, como os shopping centers,<br />
parte de uma ampla programação do espaço, na qual a contribuição do Estado tem sido importante. Esta<br />
ocorre de forma a limitar o peso das determinações locais, o que garante a esses empreendimentos uma certa<br />
(e crescente) “autonomia do capital” em relação à herança da localização. Permite ainda uma ampliação do<br />
controle privado sobre as chamadas externalidades.<br />
A análise de como as relações se estabeleceram e como os investimentos foram realizados para a<br />
construção do Catuaí Shopping Center, demonstra que tal empreendimento é de total interesse econômico<br />
dos proprietários e não possui qualquer cunho social que justificasse investimentos públicos, mas a partir<br />
dos aparelhos de dominação do Estado, isto se faz e se legitima através da idéia de progresso e<br />
desenvolvimento econômico.<br />
Atualmente, com toda a infra-estrutura implantada na área do shopping, há o surgimento de<br />
vários condomínios horizontais de elevado padrão residencial, implementados nas glebas de terras que<br />
constituíram o “estoque” das áreas que se valorizariam com a construção deste grande equipamento<br />
comercial e de serviços. Atualmente, estes loteamentos fechados são lançados associados à idéia de status<br />
social e melhor qualidade de vida 35 . Os preços da terra nessa área variam de 20 a 100 reais (o metro<br />
quadrado).<br />
O Catuaí Shopping Center conta com um fluxo de 180.000 veículos e uma freqüência de 500.000<br />
pessoas por mês, expressando uma centralidade de escala intra-urbana e interurbana, ou seja, sua atração<br />
35 Para tal cria-se, no imaginário da população, a idéia, por exemplo, de que a área não possui os problemas da cidade, portanto, se assemelha<br />
aos lugares “tranqüilos” da zona rural.
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
extrapola os limites de Londrina e alcança a população de outras cidades da região e de outros estados,<br />
como será visto adiante.<br />
3. Zona Norte de Londrina.<br />
A Zona Norte de Londrina é resultado de uma política habitacional implementada em escala<br />
federal, estadual e municipal, a partir da articulação entre esses três níveis do poder executivo, num<br />
momento que houve a confluência da crise no Brasil, a reorganização da rede urbana brasileira e a<br />
diminuição radical do plantio da cultura do café na Região Norte do Paraná, com a conseqüente<br />
intensificação da migração rural-urbana, pois, com a introdução de novas culturas mecanizáveis no campo<br />
e com o aumento da concentração da propriedade da terra, muitos trabalhadores agrícolas, foram<br />
obrigados a se mudarem para as cidades.<br />
A cidade de Londrina foi uma das áreas de atração desta população, em parte, pela propaganda<br />
que se fazia da prosperidade da cidade e pela ilusão de ser fácil arrumar empregos e “ganhar” casas, fato<br />
que atraiu não apenas trabalhadores da zona rural, mas, também, de outras cidades da região.<br />
Porém, com a chegada dos trabalhadores às cidades, intensificada a partir dos anos de 1970,<br />
houve uma escassez de oferta de emprego, e parcela deles, que não possuía qualificação para os trabalhos<br />
urbanos, ficou desempregada e terminou não tendo outra opção, produzir suas moradias na cidade de<br />
forma precária, ou seja, em áreas normalmente irregulares e em condições baixas de higiene.<br />
No entanto, como já afirmado, havia uma confluência de interesses e ações envolvidos na<br />
construção de habitações, para buscar a suavização da crise que se instaurava. Nesse contexto é<br />
importante considerar a ação do então prefeito Municipal, Antônio Casemiro Belinatti, que, como já<br />
mencionado, realizou uma administração de caráter populista, fato que acabou por aumentar a atração de<br />
pessoas, pois se criou a imagem de que, em Londrina, não haveria problemas com a falta de moradia, pois<br />
“o prefeito” a forneceria a todos os habitantes 36 .<br />
A crise de moradia é inerente ao desenvolvimento da cidade capitalista, como se verifica pelas<br />
reflexões já elaboradas no século XIX:<br />
Uma sociedade não pode existir sem crise de moradia, quando a grande massa dos trabalhadores só dispõe<br />
exclusivamente de seu salário, quer dizer, da soma dos meios indispensáveis à sua subsistência e à sua<br />
reprodução; quando as novas melhorias mecânicas retiram o trabalho das massas dos operários: quando<br />
crises industriais violentas e cíclicas determinam, por um lado, a existência de um verdadeiro exército de<br />
reserva de desempregados e, por outro lado, jogam momentaneamente na rua a grande massa dos<br />
trabalhadores: quando estes estão amontoados nas grandes cidades e isto, num ritmo mais rápido do que o da<br />
construção de moradias nas circunstâncias atuais e que, por mais ignóbeis que sejam os pardieiros, sempre se<br />
encontram locatários para eles: quando, enfim, o proprietário de uma casa, na qualidade de capitalista, tem<br />
não só o direito mas também, em certa medida, graças à concorrência, o dever de obter de sua casa, sem<br />
escrúpulos, os aluguéis mais altos. Neste tipo de sociedade, a crise de moradia não é um acaso, é uma<br />
instituição necessária; ela não pode se eliminada, bem como suas repercussões sobre a saúde, etc., a não ser<br />
que a ordem social por inteiro, de onde ela decorre, transforme-se completamente (ENGELS citado por<br />
CASTELLS, 2000, p. 221 - 222).<br />
Desta forma, deve-se entender a crise da moradia como uma instituição, ou seja, como algo<br />
inerente às determinações da reprodução de capital, e não apenas decorrente da cobrança de aluguéis,<br />
como afirma Engels, mas também de suas etapas de produção, pois através de vários mecanismos, o<br />
capital imobiliário, com a participação e/ou conivência do poder público, implanta estratégias de<br />
produção de moradias, nos diferentes padrões sociais, deixando a existência de áreas denominadas<br />
“vazios urbanos”, como forma de valorização.<br />
No entanto, segundo Castells (200, p. 230) a produção de moradias sociais é de exclusivo<br />
encargo do poder público por não ser uma prática suficientemente rentável, pois,<br />
36 Utiliza-se a expressão “o prefeito forneceria a moradia” pelo fato de que a população foi levada a acreditar que quem “dava” as casas era o<br />
prefeito e não que elas eram construídas com recursos públicos.<br />
45
46<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Não há praticamente produção privada de moradia “social”, ao mesmo tempo em que encontramos indústrias<br />
que fabricam bens de consumo destinados a todas as faixas de renda. Se isto é verdade, podemos supor que a<br />
rentabilidade dos capitais neste setor é bem menor que nas outras indústrias, a tal ponto que são<br />
desencorajados e torna-se necessária uma intervenção pública maciça para limitar os prejuízos.<br />
Por tal motivo, a produção de habitações populares fica a cargo do poder público, seguindo os<br />
pressupostos da ideologia capitalista, pois conforme afirma Chauí (1984), sem a estrutura do Estado, que<br />
é tido como uma instituição “neutra”, não haveria a ordem de dominação capitalista.<br />
Em Londrina, houve um crescimento populacional e uma intensa construção, principalmente na<br />
Zona Norte, de conjuntos habitacionais populares, com a produção, nos anos de 1970, de 8.369 unidades<br />
residenciais em conjuntos habitacionais chegando ao total, no ano de 1996, de 15.641 unidades<br />
residenciais, segundo dados da COHAB - Londrina (1996).<br />
Com esta produção, houve o surgimento de um estoque de moradias numa área distante do<br />
Centro Principal, com a constituição de vazios urbanos nos espaços intermediários, nos quais a<br />
implantação de infra-estrutura, por parte do poder público, serviu para a valorização dessas terras, por<br />
meio de práticas especulativas.<br />
Com isso, a Zona Norte de Londrina, que ficou conhecida popularmente por “Cinco conjuntos”<br />
ou, mais recentemente, “Cincão” passou a receber a instalação de meios de consumo coletivo e, devido à<br />
distância em relação ao Centro Principal, uma concentração de estabelecimentos comerciais e prestadores<br />
de serviços, constituindo aos poucos, um subcentro.<br />
Vários autores afirmam que os subcentros se constituem enquanto núcleos secundários, como<br />
“miniaturas” do Centro Principal, e, portanto, não possuem diferenças em relação a este, com exceção da<br />
escala, como demonstram as afirmações que seguem.<br />
Para Corrêa (1995,p.51):<br />
Os núcleos hierarquizados são uma réplica intra-urbana da rede regional de localização centrais. O subcentro<br />
regional constitui-se em uma miniatura do núcleo central. Possui uma gama complexa de tipos de lojas e<br />
de serviços, incluindo uma enorme variedade de tipos, marcas e preços de produtos.<br />
Muitas de suas lojas são filiais de firmas da Área Central, e, à semelhança desta, porém em menor escala, o<br />
subcentro regional constitui-se em importante foco de linhas de transporte intra-urbano. (destaque nosso).<br />
E Villaça (1998, p. 293):<br />
[...] o subcentro consiste, portanto, numa réplica em tamanho menor do centro principal, com o qual<br />
concorre em parte sem, entretanto, a ele se igualar. Atende aos mesmos requisitos de otimização de acesso<br />
apresentados anteriormente para o centro principal. A diferença é que o subcentro apresenta tais requisitos<br />
apenas para uma parte da cidade, e o centro principal cumpre-os para toda a cidade. (destaques<br />
nossos).<br />
Porém, o crescimento/aparecimento dos subcentros está vinculado á própria estruturação do<br />
espaço urbano, entendido enquanto conjunto, pois, mesmo que se observe dinâmicas de fragmentação,<br />
mantêm-se as articulações entre as partes. Quando Corrêa (1995) afirma que o subcentro é uma<br />
“miniatura da Área Central” está considerando que esta parcela do espaço urbano é vinculada e<br />
dependente de fluxos com o Centro Principal.<br />
Por isso, entende-se que os subcentros são formados, inicialmente, por estabelecimentos de<br />
proprietários locais, visando atender a uma demanda local, gerado pelo consumo específico de uma<br />
população com características homogêneas, que difere da teórica pluralidade socioeconômico dos<br />
freqüentadores do Centro Principal.<br />
Quando se desenvolvem, gradativamente passam por um estágio de substituição e/ou incremento<br />
de filiais dos estabelecimentos do Centro Principal (daí a expressão “miniaturas”). No entanto, de acordo<br />
com o crescimento da área e com a dinâmica dos agentes envolvidos, há uma penetração de capitais<br />
externos à área que modificam as lógicas de atuação e localização dos estabelecimentos e geram uma<br />
redefinição na forma urbana e na expressão de centralidade desses subcentros.
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
Pelo fato de os subcentros atenderem a uma parcela particular (local) na âmbito de uma cidade e,<br />
ainda, de que os espaços urbanos são caracterizados por diferenciação e segmentação socioeconômica e<br />
funcional, o que pode levar à emergência de segregação e exclusão socioespacial temos parcelas de<br />
população diferenciadas para consumir nos subcentros, sendo esta uma distinção crucial entre essas áreas<br />
e o Centro Principal, que, em princípio, atende à população de toda a cidade.<br />
Desta forma, encontra-se uma diferenciação em relação à escala, mas, também, em relação aos<br />
padrões socioespaciais, entre os subcentros e o Centro Principal da cidade. Com isso, considera-se um<br />
equívoco entender tais formas espaciais apenas como réplicas menores do Centro Principal, quando se<br />
trata de áreas que se constituem a partir das características econômicas da população local e dos conflitos<br />
e contradições decorrentes das atuações dos capitais locais, municipais e regionais, que irão produzir um<br />
espaço urbano diferenciado, porém, articulado internamente.<br />
Acrescenta-se a este fato, a presença dos processos de fragmentação sóciopolítico-espacial do<br />
espaço urbano, que produzem, cada vez mais, padrões socioespaciais diferenciados. Como afirma Souza<br />
(200, p. 214),<br />
[...] o que está em jogo, na esteira da fragmentação do tecido sóciopolítico-espacial, é a própria cidade em<br />
seu sentido usual – ou seja, como uma unidade na diversidade, em que as contradições de classe, as tensões<br />
de fundo étnico e a segregação residencial não eliminam a percepção da cidade como uma entidade<br />
geográfica coerente.<br />
De início, por se tratar de uma área popular, portanto, de moradores que possuem uma menor<br />
mobilidade devido às dificuldades de transporte, os estabelecimentos comercias e prestadores de serviços<br />
que foram se instalando eram de propriedade dos moradores locais, que os abriam nas frentes ou nos<br />
quintais de suas casas, buscando abastecer a população com produtos de primeira necessidade,<br />
principalmente alimentos.<br />
Porém, na medida em que houve a implantação de infra-estrutura, a área foi sendo valorizada, e<br />
houve a instalação de filiais dos estabelecimentos do Centro Principal de Londrina. Atualmente, pode-se<br />
encontrar a instalação de um hipermercado, com lojas de suporte, uma agência bancária e dois caixas<br />
eletrônicos de outros bancos. Este hipermercado é de capital externo, oriundo de Cascavel - PR que,<br />
recentemente, instalou outras duas lojas em Londrina e em outras cidades do Estado do Paraná. Sua<br />
instalação gerou uma redefinição do padrão da subcentralidade local.<br />
Atualmente, há uma concentração, em grande número e em grande variedade, de<br />
estabelecimentos na Zona Norte de Londrina, sobretudo, na Avenida Saoul Elkind, que possui a maior<br />
densidade de atividades comerciais e de serviços. Isto termina por produzir uma valorização dos imóveis<br />
que se localizam mais próximos desta avenida, criando certa diferenciação nos padrões residenciais<br />
locais.<br />
A tabela 01 mostra a variedade dos estabelecimentos existentes na área, tabulados a partir da<br />
proposta de classificação de Muller (1958), de Cordeiro (1980), do Censo de comércios, serviços e<br />
indústrias do IBGE (1980) e de pesquisa de campo. Percebe-se haver uma predominância de<br />
estabelecimentos relacionados ao comércio de alimentos e de bebidas, e de prestação de serviços. Isso<br />
mostra que muitas das características da implantação e ocupação, ainda, estão presentes, acrescentando-se<br />
que muitos destes estabelecimentos ainda estão funcionando juntos ou na mesma edificação que tem uso<br />
residencial.<br />
Tabela 1 - Atividades Econômicas na Zona Norte de Londrina.<br />
Atividades<br />
Número de<br />
Estabelecimentos<br />
Comércio 384 48,9<br />
47<br />
Percentual
Lanchonetes, restaurantes, bares, etc. 216 27,4<br />
Comércio de armarinhos, fotos,<br />
informática, livrarias papelarias, etc.<br />
71 9,02<br />
Materiais de Construção;<br />
peças de veículos.<br />
elétricos;<br />
44 5,59<br />
Artigos pessoais e para casa<br />
(Vestuário, louças, móveis, etc.)<br />
23 2,92<br />
Abastecimento, alimentos<br />
(açougues, supermercados etc)<br />
10 1,27<br />
Farmácias e perfumarias 9 1,14<br />
Comércio atacadista 6 0,76<br />
Outros 5 0,63<br />
Serviços 335 42,56<br />
Oficinas (mecânica, costura, alfaiataria,<br />
transporte etc.)<br />
224 28,46<br />
Instituições culturais, sociais, políticas e<br />
religiosas<br />
35 4,44<br />
Serviços de estética/salões de beleza/<br />
cabeleireiros/academias de ginástica<br />
Serviços relacionados à saúde (clínica<br />
33 4,19<br />
odontológica, fisioterapia, posto de 23 2,92<br />
saúde, hospital etc.)<br />
Profissionais Liberais e imobiliárias 37 16 2,03<br />
Finanças (agências bancárias e caixas<br />
eletrônicos)<br />
4 0,50<br />
Indústrias 22 2,79<br />
Uso misto 46 5,84<br />
48<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Total 787 100<br />
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2000; Editel, 1999-2000, 2001-2001; Pesquisa de campo, 2001.<br />
Pode-se verificar uma expressiva concentração de estabelecimentos na Zona Norte, em três<br />
setores: - uma maior concentração a leste, em área conhecida por Cinco Conjuntos, - uma concentração<br />
com características diferentes na Avenida Gines Parra, e - outra mais a oeste, nas proximidades do<br />
Terminal de Transportes Coletivos Urbanos do Vivi Xavier, no Conjunto Vivi Xavier.<br />
Pode-se apreender algumas relações a respeito da concentração dos estabelecimentos nestas<br />
áreas as quais irão reforçar vários aspectos que já foram mencionados anteriormente. A seguir, o destaque<br />
será dado à presença de fluxos de transportes coletivos que reforçam a expressão de centralidade, já que<br />
se tratam de áreas freqüentadas por população de poder aquisitivo reduzido.<br />
Analisando o percurso do transporte coletivo urbano na Zona Norte e sobrepondo suas<br />
informações com a territorialização das atividades funcionais da Zona Norte, encontram-se as três áreas,<br />
anteriormente mencionadas, com uma intensidade expressiva de linhas de ônibus, o que significa uma<br />
movimentação maior de pessoas e, consequentemente, uma maior facilidade para visibilidade das<br />
mercadorias a serem comercializadas ou dos serviços a serem oferecidos. Essa maior concentração de<br />
estabelecimentos reforça a centralidade e atrai mais pessoas, estabelecendo um movimento dialético,<br />
como afirma de Sposito (1991, p. 10), “De uma forma ou de outra, os subcentros estão em áreas de<br />
densidade habitacional alta, constituindo-se centros ‘regionais’ no interior da estrutura urbana, e<br />
pequenos nódulos de convergência de transporte coletivo” (destaque nosso).<br />
37 Incluímos as imobiliárias como atividade de serviços por se tratar, além do comércio de imóveis, dos aluguéis dos mesmos.
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
Esta relação é fundamental para o entendimento da centralidade junto a Avenida Gines Parra, no<br />
Conjunto Habitacional Maria Cecília, que, em certo ponto, é uma área relativamente próxima da Avenida<br />
Saul Elkind, onde há maior concentração comercial e, portanto, maior centralidade.<br />
No entanto, percebe-se que em função das pessoas que residem no Conjunto Maria Cecília<br />
utilizarem-se basicamente o transporte coletivo para se deslocarem em suas práticas cotidianas,<br />
necessitam freqüentar e permanecer na Avenida Gines Parra para embarcar e desembarcar do ônibus, o<br />
que facilita a prática do consumo na área, portanto, constitui-se num nódulo de convergência que reforça<br />
a expressão da subcentralidade local. Os estabelecimentos localizados na Avenida Gines Parra, mesmo<br />
sendo variados, são, basicamente, comerciais voltados ao abastecimento alimentar, pois fazem parte das<br />
compras rápidas feitas no cotidiano, sendo que as demais compras são praticadas, principalmente, na<br />
Avenida Saul Elkind.<br />
4. Características dos estabelecimentos e suas estratégias.<br />
Para se analisar os padrões socioeconômicos relacionados ás áreas em estudo faz-se necessária<br />
uma abordagem das características dos estabelecimentos presentes nas duas áreas, pois há uma relação<br />
intrínseca entre esses aspectos: de acordo com o padrão de estabelecimentos, tem-se um perfil de<br />
consumidor, assim como, de acordo com o perfil do consumidor, tem-se um padrão de comércio e<br />
serviços. Para avançar nessa análise é necessário estudar o processo de formação das áreas, para se<br />
conhecer as características iniciais que possibilitaram a emergência de uma expressão de centralidade.<br />
Como já foram apresentadas as duas áreas, passaremos a destacar as características dos estabelecimentos<br />
nelas presentes.<br />
Foram realizadas entrevistas junto aos estabelecimentos comercias e prestadores de serviços das<br />
duas áreas, em número de dez em cada área, de forma a se realizar uma análise de cunho qualitativo que<br />
fornecesse elementos que pudessem esclarecer a dinâmica do processo de descentralização e de<br />
redefinição da centralidade em e de Londrina, a partir do discurso de alguns dos agentes responsáveis por<br />
essas dinâmicas. Apresentar-se-á os resultados obtidos de forma comparativa para serem avaliadas as<br />
diferenças e/ou similaridades entre as duas áreas.<br />
Sobre o número de funcionários dos estabelecimentos das duas áreas, encontrou-se uma<br />
diferença significativa. Dos dez estabelecimentos entrevistados na Zona Norte, três não possuem<br />
funcionários contratados e as atividades são realizadas apenas com mão-de-obra familiar, quatro possuem<br />
entre um e quatro funcionários e nenhum mais que dez funcionários. Diferentemente, em relação aos<br />
estabelecimentos que foram entrevistados no Catuaí Shopping Center, nenhum funciona apenas com mãode-obra<br />
familiar, quatro têm até cinco funcionários e dois tem número superior a 50 funcionários. Este<br />
fato evidencia a diferença de porte dos estabelecimentos, pois mostra que os da Zona Norte, possuem<br />
ainda, uma forte característica herdada de sua origem, ou seja, daqueles moradores que abriram uma loja<br />
ou um bar em frente ás suas casas e, por não terem concorrência na área foram se desenvolvendo<br />
juntamente com ela, constituindo um comércio de vizinhança. Esta prática é muito comum na formação<br />
de subcentros de características populares. Já no Catuaí Shopping center, a lógica conduz á implantação<br />
de estabelecimentos que implicam em elevados investimentos.<br />
Quanto aos motivos de se instalarem nas áreas, percebeu-se novamente esta tendência, pois os<br />
entrevistados da Zona norte, na grande maioria, residem na área, e iniciaram seus negócios por não haver<br />
nenhuma concorrência. Muitos dizem que apostam na área pelo fato de possuir uma grande população.<br />
Encontrou-se também, pessoas que moram em outras áreas e possuem outros estabelecimentos comerciais<br />
e de serviços, sendo esta tendência representativa de uma nova etapa no processo de consolidação e<br />
desenvolvimento da área, como atesta esse trecho de entrevista:<br />
Escolhi os “Cinco Conjuntos” por ser um lugar bom. As pessoas com menor poder aquisitivo pagam melhor.<br />
O comércio daqui é forte. Está dentro de Londrina, Mas é uma outra cidade. Aqui, as pessoas têm menos<br />
condições financeiras, mas pagam melhor (Christiane, proprietária da Auto Escola Christiane, 2002) 38 .<br />
38 Entrevista realizada em março de 2002.<br />
49
50<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Porém encontrou-se, também, estabelecimentos de grupos em outro estágio de desenvolvimento,<br />
com maiores graus de capitalização, pertencentes a empresas estrangeiras, como o caso da Farmácia<br />
Drogamed Saul Elkind, de uma multinacional do Chile (Rede FASA - Rede de Farmácias Ahumada do<br />
Chile), que se instalou na área, em dezembro de 2001 e possui sete funcionários.<br />
Já no Catuaí Shopping Center, os estabelecimentos possuem sempre um padrão tipicamente<br />
capitalista, como se pode perceber pelas características das respostas. Encontrou-se algumas franquias<br />
que, inclusive, valorizam os lugares de abertura, como foi o caso das lanchonetes “M´cDonald´s” e Casa<br />
do Pão de Queijo, servindo como âncoras. Em ambos casos, os proprietários são oriundos de São Paulo e<br />
nem conheciam Londrina quando as franqueadoras apontaram-na como um local apropriado para a<br />
instalação desses empreendimentos.<br />
Fiz a proposta de abrir uma franquia com a Casa do Pão de Queijo; gostaria de abrir uma loja em São Paulo,<br />
mas lá a espera seria maior, em torno de dois anos, então, quando apareceu a proposta de abrir em Londrina,<br />
vim para conhecer a cidade e o shopping, gostei do movimento e me interessei (Anselmo, proprietário da<br />
lanchonete Casa do Pão de queijo, 2002) 39 .<br />
Pelo fato de alguns dos comerciantes entrevistados possuírem lojas, também, no Centro Principal<br />
de Londrina, torna-se possível uma análise dos fatos que propiciam a ocorrência do processo de<br />
descentralização, ou seja, da abertura de outros estabelecimentos em outras áreas da cidade, no caso, o<br />
Catuaí Shopping Center. Para tal efeito, serão abordados os motivos apontados como definidores da<br />
preferência de abertura de loja no shopping e, posteriormente, apresentar-se-á, uma análise comparativa<br />
entre o desenvolvimento das lojas no shopping e em ouras áreas, para avaliar as tendências atuais do<br />
processo de redefinição da centralidade.<br />
Alguns lojistas, tradicionais em Londrina, ou seja, que possuem lojas há mais de 20 anos,<br />
receberam convites/propostas para abrirem lojas no shopping, fato que foi uma das marcas do processo de<br />
descentralização, como o caso da Mirex:<br />
Faltava uma loja de variedades em artigos de bebê. Recebi uma boa proposta do shopping, e como já<br />
estavam confirmadas várias âncoras, resolvi aceitar (Helena, gerente proprietária da Mirex, 2002) 40 .<br />
Outras lojas foram instaladas posteriormente, quando o shopping já estava consolidado, em<br />
função de que a imagem de possuir uma loja no Catuaí Shopping Center poderia ser uma estratégia de<br />
marketing, como no caso da loja de calçados London London, cujo gerente responsável afirmou que a<br />
abertura no shopping foi em função do “nome do shopping”, de sua “tradição”, pois, segundo ele, seria<br />
muito bom para a marca da empresa.<br />
Existem casos como o da Bergerson, já mencionada anteriormente, que é uma joalheria destinada<br />
ao consumidor de elevado poder aquisitivo e que permaneceu instalada no “calçadão” de Londrina por 25<br />
anos, sendo transferida para o Catuaí Shopping Center em dezembro de 2002, numa busca de melhor<br />
infra-estrutura e segurança.<br />
Desde 1990, quando foi inaugurado o Catuaí Shopping Center, muitas lojas, inclusive âncoras, já<br />
fecharam e saíram da área. Estas substituições sempre foram vistas com atenção pela administração do<br />
shopping, pois mexem com a sua imagem. Como exemplo, tem-se o caso da abertura da livraria “Bom<br />
Livro”. Quando a “Livraria Saraiva” decidiu fechar sua loja, a administração precisava substituí-la, e<br />
convidou a “Bom Livro” que, segundo sua gerente, era a única empresa do ramo com potencial para<br />
assumir a loja do shopping. Foi, então, que se realizou a compra da Livraria Saraiva, com o ponto<br />
completo e com o apoio financeiro do shopping.<br />
Assim, percebe-se que se tratam de estratégias capitalistas, as quais diferem das aplicadas na<br />
Zona Norte, onde, atualmente, inicia-se um acirramento da competição, mas ainda conservam-se<br />
características de sua etapa inicial de comércio de vizinhança.<br />
39 Entrevista realizada em março de 2002.<br />
40 Entrevista realizada em março de 2002.
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
5. Rompimento de relações com o conjunto urbano.<br />
Com base na quantidade de filiações junto a ACIL (Associação Comercial e Industrial de<br />
Londrina), tem-se que dos 10 estabelecimentos entrevistados na Zona Norte de Londrina, sete não são<br />
filiados, o que ocorre, exatamente em mesmo número nos estabelecimentos entrevistados do Catuaí<br />
Shopping Center. Este fato revela uma fragmentação das relações com o restante da cidade, por parte dos<br />
comerciantes das duas áreas estudadas, pois em ambos casos, há a união em torno de uma Associação<br />
Patronal própria para a defesa de seus interesses, perdendo a necessidade de filiação junto a ACIL, que<br />
seria um órgão representativo da unidade dos comerciantes de Londrina.<br />
Analisando a opinião dos lojistas sobre a infra-estrutura das áreas em que estão instalados,<br />
percebe-se que há, também, uma diferença de satisfação, pois os comerciantes da Zona Norte, em grande<br />
maioria, apontaram problemas de segurança, de falta de limpeza da rua e de coleta de lixo, ou seja,<br />
problemas relacionados à atuação do poder público que, segundo eles, não destina a atenção devida à<br />
área, enquanto que no Catuaí Shopping , as reclamações se encaminham pra outras direções, como as<br />
elevadas taxas de condomínio e, portanto, referentes ao custo elevado para se manter no shopping.<br />
Em função das insatisfações, em 2001, a Associação Comercial e Industrial da Zona Norte –<br />
ACIRENOR, em conjunto com Associação de moradores da Zona Norte de Londrina, lançaram um<br />
protesto e uma tentativa de emancipação política, alegando não receber recursos suficientes para uma boa<br />
manutenção da área. Este projeto acabou não tendo êxito, pois não haveria geração suficiente de recursos<br />
para a instalação de um município. Posteriormente, reivindicaram a instalação de uma subprefeitura, o<br />
que ainda vem sendo discutido.<br />
O grau de fragmentação urbana, gerada pelo distanciamento sociofuncional, da Zona Norte vem<br />
aumentando na medida em que aqueles que desenvolvem atividades econômicas neste setor da cidade<br />
organizam-se em torno de outras estratégias, como a criação de periódicos de anúncios publicitários dos<br />
comerciantes da Zona Norte, com circulação restrita à área, o que provocou a diminuição da necessidade<br />
de se anunciar em meios que atinjam toda a cidade de Londrina.<br />
Este fato ganhou novas proporções quando houve, no final do ano de 2001, a criação de um<br />
jornal informativo local, a “Folha Norte de Londrina”, que é semanal, com uma tiragem de 5.000<br />
exemplares, atinge cerca de 20.000 leitores e é distribuído, gratuitamente, na Zona Norte, aos sábados.<br />
Entrevistando a Diretora de Redação do Jornal, Mahoko Kasuya, percebeu-se que o jornal<br />
considera a Zona Norte de Londrina como um espaço que possui grande diferença do restante da cidade e<br />
uma dinâmica própria, sendo, a partir daí que surgiu a idéia de criar o jornal. A empresa responsável por<br />
ele, existe em Londrina há 52 anos, com uma equipe que constitui uma agência de notícias que funciona<br />
com 28 jornalistas e que produz um jornal destinado à comunidade nipo-brasileira, um jornal para um<br />
colégio da cidade, um jornal para a Cooperativa integrada e, agora, a Folha Norte de Londrina.<br />
Segundo a diretora de redação, o jornal está prosperando muito rapidamente, pois os<br />
comerciantes estão anunciando muito e a população está participando ativamente com denúncias, queixas<br />
e sugestões e, em contrapartida, o jornal oferece informação. Como afirma Mahoko:<br />
Está sendo um sucesso porque é uma população muito grande, mais de 100.000 habitantes, em que o jornal<br />
atinge em cheio o público da classe b, c, e d. Foi por isso que começamos e está dando muito certo em tempo<br />
muito mais rápido que todos os outros produtos que temos. O retorno é ótimo. Nós somos a informação da<br />
Zona Norte de Londrina (Mahoko Kosuya, diretora de redação da Folha Norte de Londrina) 41 .<br />
Estes fatos reforçam a fragmentação do espaço urbano e fortalecem a expressão de centralidades<br />
diferenciadas, o que altera a própria estruturação da cidade de Londrina.<br />
6. As tendências do processo de descentralização.<br />
41 Entrevista realizada em abril de 2002.<br />
51
52<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Os lojistas que possuem estabelecimentos instalados em áreas comerciais e de serviços que não o<br />
shopping, forneceram alguns elementos importantes para a análise das tendências do processo de<br />
redefiniçao da centralidade, pois traçaram comparações sobre as vantagens e desvantagens de se manter<br />
no shopping.<br />
A Livraria Bom Livro, possui sua matriz em Maringá - PR, onde tem quatro lojas, sendo que<br />
uma, considerada “mega store” 42 , está instalada em um shopping e três lojas de rua. Em Londrina,<br />
possui duas lojas, uma no Catuaí, de porte “mega store” que, inclusive, é a maior do grupo, e uma loja de<br />
rua. A loja do Catuaí, como dito anteriormente, comprou o espaço que era ocupado pela Livraria Saraiva,<br />
em 1996, e mudou-se, em 2001, para o espaço atual, chamado de “mega store”, o que segundo a gerente<br />
local, aumentou o movimento em quatro vezes.<br />
Depois da abertura da “Mega Store”, o público passou a freqüentar quatro vezes mais a loja e a comprar três<br />
vezes mais; se transformou num centro de lazer e, ainda, de compras e uso de serviços (Josiane, gerente local<br />
da livraria Bom Livro do Catuaí Shopping Center) 43 .<br />
A gerente local, afirmou que, antes da abertura da “mega store” a loja de rua localizada no<br />
Centro Principal de Londrina vendia mais que a do shopping, mas que agora ocorre o inverso, pois a<br />
“mega store” supera em, praticamente, o dobro a loja do centro. Porém, esclarece que a loja do Centro<br />
vende produtos mais relacionados à papelaria, enquanto que a loja do shopping vende mais livros, ou seja,<br />
possuem um público diferenciado. Como a “mega store” está com um movimento elevado, está<br />
compensando as elevadas despesas com a manutenção da loja.<br />
A Mirex, que é uma loja especializada em roupas infantis, aberta desde a abertura do shopping,<br />
como já mencionado, iniciou suas atividades em Londrina há 43 anos, possuindo quatro lojas nessa<br />
cidade, (três no Centro Principal, e uma no Catuaí) duas lojas em Maringá - PR, uma em Cornélio<br />
Procópio, uma em Cascavel (franqueada), uma em Blumenau - SC, uma em Camburiú - SC e uma em<br />
Apucarana - PR. A gerente proprietária da loja do shopping, revelou que de todas as lojas, a do Catuaí é a<br />
que mais vende, porém, é que possui os maiores custos, pois,<br />
Além dos custos elevados de condomínio, é preciso ter duas caixas, dois gerentes, pela questão dos horários.<br />
Por isso, precisa ter um movimento maior e, com a atual queda do movimento, o efeito sentido pela loja do<br />
shopping é maior (Helena, gerente proprietária da Mirex, 2002).<br />
A Loja Toque de Classe, especializada no comércio de bijuterias e acessórios, foi instalada desde<br />
o início do shopping, e é uma das cinco lojas de uma mesma proprietária, sendo que dessas, quatro se<br />
localizam em Londrina, (três no Centro Principal e uma no Catuaí). Estas lojas possuem o gerenciamento<br />
centralizado em um escritório localizado no Centro principal de Londrina, e o entrevistado Ricardo,<br />
gerente responsável por todas as lojas, afirmou que, após uma recente reforma e ampliação, a Toque de<br />
Classe passou a ser a primeira em questão de faturamento, no entanto, deve-se considerar que as despesas<br />
são elevadas, pois se paga, entre aluguel do ponto e condomínio, R$ 8.0000,00 mensais. A reforma<br />
consistiu na modificação da estética interna e na ampliação da loja, com a compra da loja vizinha, por<br />
R$ 80.000,00.<br />
Como se tem conhecimento de que muitas lojas do Catuaí tiveram que fechar pela questão do<br />
elevado custo, depreende-se que é um local bastante valorizado, pois consegue atrair um fluxo de 20.000<br />
pessoas por dia, mas que necessita de elevados investimentos, como os que foram realizados pelas duas<br />
últimas lojas relatadas. Além do fato de que existem comentários sobre a existência de uma união entre os<br />
lojistas mais “fortes” do shopping que realizam um controle sobre a abertura de novas lojas, como uma<br />
“máfia”, fato que foi relatado em entrevista junto a um ex-lojista.<br />
Há indicadores de que o potencial de consumo no shopping é alto, embora sejam necessários<br />
investimentos altos, como afirma Ricardo Gaspar, gerente responsável pelo “McDonald´s” do Catuaí<br />
42 A denominação “mega store” se refere a um novo conceito de livraria, sendo um espaço aconchegante para se apreciar os livros, com<br />
espaço para consulta de internet, para um café, e até mesmo, com brinquedos para as crianças.<br />
43 Entrevista realizada em março de 2002.
SILVA, W. R; SPOSITO, M. E. B.<br />
Padrões sópcio-econômicos de centralidade urbana: Catuaí Shopping Center e Zona Norte de Londrina.<br />
Shopping Center 44 , que possui 58 funcionários operacionais, 12 gerentes e quatro ligados à administração.<br />
Por tratar-se de uma franquia, a Corporação “McDonald´s” escolhe e toma todas as decisões sobre<br />
implantação, reforma e ampliação de qualquer restaurante da rede. Tal empreendimento foi implantado<br />
junto com o Shopping, em 1990, com o pagamento de uma franquia no valor de 500.000 dólares mais<br />
investimentos com o treinamento, mas consegue aferir uma receita de 4.000.000 de reais bruto, por mês,<br />
sendo o sexto colocado no ranking dos da franquia do Sul do Brasil, em que o primeiro é o de Porto<br />
Alegre 45 . Em comparação com os demais “McDonald´s” de Londrina, é o do shopping é o que possuí o<br />
maior faturamento, chegando a ser mais que o dobro dos outros. (da Avenida Higienópolis, da Avenida<br />
Tiradentes e do Royal Plaza Shopping - incluindo os quiosques em galerias e shoppings).<br />
O gerente do “McDonald´s” ainda comentou que o restaurante possui uma dependência em<br />
relação ao Carrefour, que segundo ele, é o responsável por atrair 50% do seu movimento, sendo que às<br />
quartas-feiras este papel é desempenhado pelos cinemas, que operam com preços promocionais e<br />
conseguem atrair consumidores que redinamizam o comércio durante a semana. Aos fins de semana, tem<br />
alcançado faturamentos elevados, sendo que os domingos já estão superando o movimento dos sábados,<br />
que sempre foram os recordistas, confirmando noção da centralidade móvel que está incutida nas<br />
estratégias dos empreendedores.<br />
Tem-se, portanto, uma tendência de concentração de empresas comerciais e de serviços no<br />
shopping, que possuem elevadas quantias de capital disponível para investimento, sendo que, os outros<br />
estão sendo obrigados a deixarem o shopping e retornar ao Centro Principal, que foi apontado por alguns<br />
estabelecimentos, como de maior faturamento que no shopping, o que mostra existir uma seletividade<br />
quanto ao poder de investimento, mas também quanto ao ramo de atuação.<br />
Para lojas como a “London London”, que possui três lojas em Londrina, sendo uma no Catuaí e<br />
duas no Centro Principal, que segundo o gerente local, Leandro, possui maior poder de vendas que as<br />
demais, os custos são elevados, o que faz com que as lojas do centro obtenham faturamento líquido maior<br />
que a do shopping. Entretanto, esse gerente afirma que vale a pena manter a loja no Catuaí, mesmo com o<br />
maior custo, em função da tradição, do nome e da capacidade de atrair clientes. Percebe-se, pois, que<br />
seria uma forma de divulgar a marca, e uma estratégia de marketing, a manutenção da loja no shopping 46 .<br />
A mesma situação foi detectada na loja “Pura Mania”, que é uma rede que possui quatro lojas em<br />
Londrina, sendo três no centro Principal de Londrina e uma no Catuaí, pois o gerente, Oscar, afirmou que:<br />
Em minha opinião o Centro de Londrina possui uma capacidade de vendas superior ao shopping, pela<br />
questão do movimento de pessoas, que é superior ao do shopping, que só dá movimento nos finais de semana<br />
ou durante as noites [...].<br />
Entre os problemas que podem ser destacados no shopping é a abertura em feriados que, tradicionalmente,<br />
geram movimentos, porém não vendas satisfatórias, servem apenas para gastar dinheiro [...].<br />
A marca vende bem, e por isso, aqui não é diferente, porém, a empresa precisa ter uma loja no shopping para<br />
divulgar a marca e, consequentemente, para vender mais (Oscar, gerente local da Pura Mania do Catuaí<br />
Shopping Center, 2002) 4714 .<br />
Tem-se, por fim, que, em Londrina, não há a tendência imediata de um “empobrecimento” do<br />
Centro Principal, como pode ser verificado em outras cidades que passam pelo mesmo processo, mas<br />
sim, uma tendência a um reforço da centralidade que se expressa no Centro Principal, daí a necessidade<br />
de se discutir, com maior precisão, as características da dinâmica das chamadas cidades médias. Porém,<br />
percebe-se que há um movimento dialético, pois, ao mesmo tempo em que são criadas condições que<br />
propiciam o surgimento de novas áreas centrais e, consequentemente, de novas expressões de<br />
centralidade, criam-se, também, elementos que reforçam a centralidade do Centro Principal.<br />
Desta forma, torna-se difícil uma generalização, pois, devido às especificidades da cidade de<br />
Londrina, identifica-se um processo que, conforme Lefebvre (1999), “cria e estilhaça a centralidade”.<br />
44 Nota-se que o proprietário do “McDonald´s” do Catuaí Shopping Center era o presidente da ACIL, quando da entrevista.<br />
45 A título de curiosidade, o primeiro colocado, no ranking da corporação, em vendas do mundo é o restaurante de Moscou e no Brasil, o que<br />
se localiza no Shopping Iguatemi, em São Paulo, segundo Ricardo Gaspar.<br />
46 Ressalte-se que esta afirmação não significa dizer que a loja opera no prejuízo, mas que possui rentabilidade menor que o centro.<br />
47 Entrevista realizada em abril de 2002.<br />
53
7. Considerações finais.<br />
54<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Apresentam-se como considerações finais, o fato de que com o processo de redefinição da<br />
centralidade, há uma modificação na estruturação urbana da cidade, que via mexer e alterar a convivência<br />
entre as pessoas que nela habitam ou a freqüentam. Há uma separação considerável decorrente dos<br />
diferentes padrões de poder aquisitivo, o que se mostra decisivo nas escolhas das áreas a serem<br />
freqüentadas e evidencia a segmentação existente no espaço urbano.<br />
Percebe-se, então, que o crescimento da cidade de Londrina, assim como a mudança da lógica da<br />
produção do espaço urbano e os interesses que a engendram provocam um processo de fragmentação do<br />
espaço urbano, decorrente da emergência de áreas que podem ser diferenciadas claramente pelo padrão de<br />
rendimento. Essa segmentação reduz as possibilidades de convívio entre as diferenças sociais, ou seja, é<br />
uma forma de ampliar a diferenciação interna nos espaços urbanos. Considera-se que os diferentes<br />
padrões residenciais decorrem da valorização diferenciada do solo urbano e dos imóveis que se<br />
constituem mercadorias no âmbito de nossa sociedade. Portanto, é fundamental considerar que o espaço<br />
urbano é apropriado seletivamente.<br />
Tem-se, então, a tendência de formação de áreas no interior das cidades que possuem cada vez<br />
mais uma maior homogeneidade no que diz respeito ao padrão residencial, fazendo com que os conflitos<br />
entre as classes sociais fiquem encobertos pela diferenciação e separações socioespaciais.<br />
E, ainda, há que se considerar a dialética que orienta o movimento de mudanças nas relações,<br />
pois, o processo segue várias determinações, sob a atuação de vários agentes, que nem sempre possuem<br />
os mesmos interesses. Portanto, estas relações fazem do processo de redefinição da centralidade, um<br />
processo complexo, com variações espaciais e temporais que determinam quais pontos e em quais<br />
momentos se expressará a centralidade.<br />
8. Referências Bibliográficas.<br />
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. São Paulo: Paz e Terra, 2000.<br />
CENSO COMERCIAL. IX Recenseamento Geral do Brasil - 1980. v. 4, n. 1.<br />
CENSO DOS SERVIÇOS. IX Recenseamento Geral do Brasil - 1980. v. 5, n. 1<br />
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Abril cultural/Brasiliense, 1984.<br />
CORDEIRO, Helena Kohn. A metodologia e as técnicas de pesquisa. In:______. O centro da metrópole<br />
paulistana. Expansão recente. São Paulo: USP – IG, 1980.<br />
CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1995.<br />
GAETA, Antonio Carlos. Gerenciamento dos Shopping Centers e Transformação no Espaço<br />
Urbano. In: PINTAUDI, Silvana Maria; FRÚGOLI JR., Heitor (Org.). Shopping Centers: Espaço,<br />
Cultura e Modernidade nas cidades brasileiras, São Paulo: UNESP, 1992.<br />
KOWARICK, Lucio. A espoliação urbana. 2. ed. Paz e terra, 1993.<br />
LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Tradução de Sérgio Martins. Belo Horizonte: UFMG, 1999.<br />
MULLER, Nice Leccocq. A área central da cidade. In: AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo.<br />
Estudos de Geografia Urbana. Vol III. Aspectos da metrópole paulista. Companhia Editora Nacional.<br />
São Paulo, 1958. pág. 121 - 182.<br />
SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio Metropolitano: um estudo sobre a problemática sócio-espacial<br />
nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.<br />
RIBEIRO, William da Silva. Descentralização e redefinição da centralidade em e de Londrina. 2002.<br />
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2002.<br />
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Centro e as formas de expressão da centralidade urbana, Revista<br />
de Geografia. Universidade Estadual Paulista/UNESP. São Paulo, 1991 v. 10.<br />
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln<br />
Institute, 1998.
EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO INTERNA DO ESPAÇO URBANO DE PRESIDENTE<br />
PRUDENTE-SP ∗<br />
Silvia Regina PEREIRA ∗∗<br />
Resumo: Procuramos retratar a expansão e estruturação do espaço urbano de Presidente Prudente, no<br />
intuito de compreender a constituição do centro e dos subcentros e sua relação com as diferenças<br />
socioespaciais no interior da cidade, que por sua vez estão associadas à lógica de produção/apropriação<br />
do espaço urbano.<br />
Palavras-chave: expansão urbana; espaço urbano; centros; subcentros; centralidades.<br />
Resumen: Intentamos retratar la expansión y estructuración del espacio urbano de Presidente Prudente,<br />
con la intención de comprender la constitución del centro y de los subcentros y su relación con las<br />
diferencias socioespaciales en el interior de la ciudad, que a su vez se asocian a la lógica de producción y<br />
apropiación del espacio urbano.<br />
Palabras llave: expansión urbana; espacio urbano; centro; subcentros; centralidades.<br />
1- Expansão urbana de Presidente Prudente - SP<br />
Para o entendimento da configuração atual de Presidente Prudente, precisamos considerar o<br />
processo de sua formação, pois o espaço urbano é o resultado de diferentes ações que se justapõem ao<br />
longo do tempo (MELAZZO, 1993). Como enfatiza Choriey:<br />
[...] la ciudad es dinámica y está sometida a un proceso estado de constante cambio y crecimiento de sus<br />
partes constitutivas, por la extensión periférica de la zona urbana, y/o por la reorganización interna de sus<br />
actuales usos de suelo. Ambos originan cambios, a su vez, en la accesibilidad intra-urbana y, por tanto, en la<br />
estructura de usos del suelo, que a su vez, se refleja en el cambio del sistema de localizaciones. (CHORLEY,<br />
1971, p. 282)<br />
A produção desse espaço urbano, ao longo das últimas décadas, reflete a lógica geral de<br />
produção das cidades sob o capitalismo, pois nele se apresentam: - crescimento territorial descontínuo<br />
com expansão horizontal e vertical; - ocorrência de inúmeros “vazios urbanos”; -implantação de vários<br />
conjuntos habitacionais periféricos e condomínios fechados; - multiplicação de áreas centrais, bem como<br />
a constituição de subcentros e vias especializadas; - desigual distribuição/concentração de equipamentos<br />
comerciais, de serviços, infra-estrutura e equipamentos urbanos; dinâmicas essas que resultam em uma<br />
configuração espacial bastante desigual.<br />
Quais são, diante dessa configuração espacial desigual, as condições de vida dos moradores das<br />
diferentes áreas do interior da cidade?<br />
A partir das iniciativas dos coronéis Goulart e Marcondes de colonizar e comercializar terras<br />
surgiram os núcleos urbanos que originaram Presidente Prudente, que é reconhecida em 1921 como<br />
Município. Os núcleos urbanos iniciais foram se desenvolvendo à medida que atraíam compradores para<br />
os lotes rurais, favorecendo o povoamento, concomitante a especulação de terras e a expansão cafeeira<br />
que ocorreu na Alta Sorocabana.(ABREU, 1972).<br />
A estação ferroviária era o ponto de referência para os dois núcleos, sendo que a Oeste dessa se<br />
encontrava a Vila Goulart e a Leste a Vila Marcondes. A Vila Goulart, implantada pelo coronel Francisco<br />
de Paula Goulart, possuía uma regularidade na planta, projetada por um agrimensor, era considerada um<br />
∗ Texto publicado em 2002 (n.9 v.1), referente ao primeiro capítulo da dissertação de mestrado intitulada “Subcentros e Condições de vida no<br />
Jardim Bongiovani e Conjunto Habitacional Ana Jacinta- Presidente Prudente-SP, orientada pela <strong>Professor</strong>a Maria Encarnação Beltrão<br />
Sposito, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP, financiada pela FAPESP e defendida em Dezembro de 2001.<br />
∗ ∗ Graduada em Geografia, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP. Atualmente professora<br />
contratada da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. E-mail para contato: silviarpereira@hotmail.com
56<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
empreendimento individual, destinado a povoar o núcleo e a partir de então atrair compradores para as<br />
terras dos arredores. Esse loteamento deu origem ao núcleo urbano localizado em frente à ferrovia, no<br />
qual o Coronel Goulart fazia concessões e oferecia facilidades para a aquisição de terras.<br />
Já a Vila Marcondes, implantada pelo coronel e agente de negócios José Soares Marcondes, associado à<br />
Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio, fundada em 1920 (ABREU, 1972), tinha um<br />
caráter empresarial e, também, visava a venda de lotes, ocorrendo duas colonizações distintas, mas ambas<br />
com o objetivo de comercializar as terras existentes naquela época.<br />
A colonização Marcondes divulgou por meio de campanha publicitária as qualidades do solo, o<br />
que favoreceu a venda dos lotes em pouco tempo, como ocorreria com a Vila Goulart, conforme destaca<br />
Abreu:<br />
Em pouco tempo, todos os lotes estavam vendidos. Do outro lado da estação em frente à Vila Goulart, traçou<br />
a Vila Marcondes a fim de, como no caso da outra, servir de centro de abastecimento de gêneros e<br />
instrumental de trabalho, onde se encontrassem escola, médico, farmácia e hospital. Esses elementos seriam<br />
atrativos para a fixação dos compradores de terra. (ABREU, 1972, p.l9)<br />
O movimento de especulação ganhou importância com o aumento do número de moradores, com<br />
a procura por terras para implantação seja de residências, estabelecimentos industriais e de serviços, áreas<br />
de lazer, gerando assim o aumento da área da cidade. (SPOSITO, 1990)<br />
A preferência por terras em relação aos outros tipos de bens imóveis pode ser explicada pela<br />
dinâmica de expansão territorial que atrai compradores por meio dos preços baixos em relação a áreas<br />
mais consolidadas e também por haver a perspectiva de valorização futura (MELAZZO, 1993). Há, então,<br />
uma expansão territorial, com a incorporação de novas áreas, concomitante à permanência e surgimento<br />
de “vazios urbanos” e a um déficit habitacional, já que a busca por terrenos muitas vezes não está<br />
associada à edificação de moradias.<br />
Desde a origem tem-se uma ocupação ao longo da ferrovia, que de certa forma conduziu a<br />
expansão, no período em que esse era o principal meio de transporte interurbano, ocorrendo, até a década<br />
de 1940, um crescimento nas proximidades do núcleo da Vila Goulart, hoje entendido como área central,<br />
implantando-se, a oeste da ferrovia, o Bairro do Bosque e Vila Formosa e, a leste, Vila Furquim e Vila<br />
Brasil, como exemplos, dentre outros loteamentos. (BELTRÃO SPOSITO, 1991)<br />
Foi ocorrendo uma reestruturação do espaço à medida que foram implantados os loteamentos,<br />
não se podendo esquecer que o “[...] poder público contribui com essa organização do espaço, realizando<br />
intervenções viárias que redirecionam esta expansão”.<br />
(SOARES, 1994, p. 136)<br />
Já na década de 1950, de acordo com Beltrão Sposito, houve uma paralisação nesse crescimento,<br />
tendo destaque, na década de 1960, a implantação do Jardim Bongiovani. Na porção leste foi implantado<br />
o Jardim Santana, Vila Aurélio e Planaltina, que foram vendidos a segmentos de baixo poder aquisitivo.<br />
A área denominada além linha (zona leste), tem declividade considerável, o que se constituí como<br />
obstáculo, até hoje, para a ocupação residencial de padrão elevado e implantação de estabelecimentos,<br />
não atraindo muitos investimentos.<br />
O Jardim Bongiovani, implantado em 1962, era de propriedade da Família Bongiovani e possuía,<br />
desde o início, preços mais altos em relação ao mercado de terras, mesmo desprovido de asfalto, esgoto,<br />
com acesso dificultado pela presença do Córrego do Veado, distante do centro e dos serviços públicos,<br />
resultando em uma baixa demanda por terrenos nesse loteamento na década de 1960. (BELTRÃO<br />
SPOSITO, 1983). Com as melhorias instaladas nessa área, a partir do final da década de 1960, há um<br />
crescimento da demanda por terrenos.<br />
Com a canalização do Córrego do Veado (1973-1974) e implantação do Parque do Povo,<br />
ampliou-se a acessibilidade e promoveu-se uma série de externalidades positivas para os loteamentos<br />
adjacentes, como o Jardim Bongiovani. Este se tomava atraente para as classes de renda mais elevadas,<br />
que viriam pagar mais tributos, mas não conviveriam com uma vizinhança de baixo poder aquisitivo, pois<br />
desde o início possuía preços elevados no intuito de atrair camadas de médio/alto poder aquisitivo.<br />
(BELTRÃO SPOSITO, 1983)
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
Nas proximidades do Jardim Bongiovani os demais loteamentos foram também beneficiados,<br />
como a Cidade Universitária.<br />
Já os loteamentos Jardim Caiçara e Vila Matilde Vieira, que estão próximos à Cidade<br />
Universitária tiveram processos de ocupação diferentes. Surgiram na década de 1960, mas com péssimos<br />
atributos locacionais, destinando-se a segmentos de baixa renda, e, a partir de 1975, com a melhoria de<br />
condições gerais dessa localização e a demanda por terrenos nas áreas próximas à Cidade Universitária e<br />
ao Jardim Bongiovani, a área foi valorizada e gerou um processo de substituição de moradores, por outros<br />
de classe média. A demanda por terrenos no Jardim Caiçara foi bastante alta em relação aos loteamentos<br />
mais valorizados de Presidente Prudente, principalmente na década de 1970, especificamente entre os<br />
anos de 1979 e 1980. (BELTRAO SPOSITO, 1983)<br />
Próximo a esses últimos loteamentos destacados, em direção a Oeste, a partir de 1966 foram se<br />
implantando os loteamentos Jardim Aquinópolis, Esplanada, Cinqüentenário, Colina, Morumbi, Icaray,<br />
Campo Belo e Petrópolis, com acesso pela Avenida Ciro Bueno, Jardim Marupiara e das Rosas, com<br />
acesso pela Pista Sul do Parque do Povo e Rua João Gonçalves Foz. (BELTRÃO SPOSITO, 1983)<br />
Dentre esses, o Jardim Morumbi é o primeiro loteamento fechado de Presidente Prudente e se<br />
encontra entre loteamentos voltados a uma clientela de menor poder aquisitivo. O metro quadrado nesse<br />
loteamento, mesmo diante dos investimentos realizados, estava, em 1979, na faixa de Cr$ 485,00 em<br />
comparação a Cr$ 785,00 na Cidade Universitária, um loteamento de melhor localização mais sem as<br />
vantagens de um condomínio fechado. (BELTRÃO SPOSITO, 1983)<br />
Segundo a autora, nas áreas mais antigas, o processo de ocupação foi bastante diversificado.<br />
Pressupõe-se que, por tal motivo, a diferenciação entre os preços de terrenos das diversas localizações não<br />
era tão grande.<br />
Algumas das áreas loteadas, a partir da década de 1940, as quais eram marcadas pela ocupação<br />
de segmentos de diferentes perfis socioeconômicos, viveram um processo de valorização.<br />
A Vila Formosa, por exemplo, estende-se ao longo da Avenida Brasil, estando seu uso ligado ao<br />
acesso à rodovia, o que proporciona um aumento dos preços dos lotes e com isso os terrenos internos<br />
tornam-se desinteressantes para o uso residencial pelas classes de renda mais alta.<br />
Com a valorização do Jardim Paulista há uma melhora no padrão de ocupação do Parque São<br />
Judas Tadeu, considerando o acesso que é dificultado para esse loteamento e a ausência de externalidades<br />
positivas.<br />
Apesar do Jardim Paulista ter elevações no preço do m 2 , no ano de 1970, o Jardim Caiçara e<br />
Jardim Bongiovani, com a implantação do Parque do Povo e asfalto, esgoto e iluminação pública<br />
(instalados em 1977 e 1981), destacaram-se no crescimento do preço de terrenos.<br />
Na porção sul, ultrapassando a Rodovia Raposo Tavares, que poderia também ser considerada<br />
como obstáculo, surgiram loteamentos como: Jardim Alto da Boa Vista em 1979, Chácara do Macuco, e<br />
outros de médio e alto padrão. Ou seja, nesse caso o automóvel constitui-se como meio de deslocamento<br />
de seus moradores, que podem alcançar as diferentes áreas no interior da cidade com maior rapidez,<br />
permitindo-lhes proceder à opção pela moradia nessa área.<br />
Na zona norte, houve uma descontinuidade no tecido urbano, com a formação, por exemplo, do<br />
Parque Alexandrina, ocorrendo assim um aumento da apropriação da renda fundiáia por proprietários que<br />
possuíam terras intermediárias. (BELTRÃO SPOSITO, 1991)<br />
Determinadas áreas podem ser valorizadas se houver interesse do capital, instalando melhorias,<br />
criando imagens, ou seja, a transformação das áreas no interior da cidade depende dos inúmeros interesses<br />
que permeiam a produção e reprodução do espaço urbano, ao longo dos anos.<br />
Os mecanismos de especulação imobiliária vão, com a implantação de loteamentos em<br />
determinados pontos, favorecer os terrenos intermediários, pois muitas vezes a expansão se dá sem<br />
continuidade com o tecido urbano, não pelo fato de não haver ofertas, mas em função dessa lógica de<br />
produção territorial ser calcada nos interesses dos agentes desse processo.<br />
Diante da intensa especulação imobiliária ocorre um crescimento diferenciado entre as áreas da<br />
cidade. Em Presidente Prudente, como destaca Beltrão Sposito, houve um intenso crescimento na porção<br />
oeste:<br />
57
58<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
[...] foi sobretudo para oeste, que a cidade cresceu ainda mais [...] a partir da localização de dois grandes<br />
conjuntos habitacionais - COHAB e CECAP (com cerca de 3000 casas) - que “incentivou”a implantação de<br />
inúmeros outros loteamentos da iniciativa privada. A uma distância ainda maior ao longo da Rodovia<br />
Alberto Bonfiglioli, outros cinco loteamentos particulares foram comercializados (a W-SW) ... (BELTRÃO<br />
SPOSITO, 1991, p. 300)<br />
Na década de 1980, de acordo com a referida autora houve uma retração no processo de<br />
expansão territorial horizontal de Presidente Prudente. O Conjunto Habitacional Ana Jacinta foi<br />
implantado, na década de 1990, com 2.500 casas, estando localizado na porção sudoeste, bem distante da<br />
área central e ocupado por um segmento de baixo poder aquisitivo. Esse conjunto faz parte de um<br />
empreendimento que compreende outros dois, o Mário Amato com 500 casas e CDHU com 104 casas,<br />
sendo bastante expressivo o número de residentes.<br />
Nessa área, a infra-estrutura e melhorias urbanas não atendem às necessidades dos moradores<br />
que realizam constantes deslocamentos para obtê-las, pois como sintetiza Lima:<br />
A apropriação do espaço acaba sendo uma questão de poder econômico, e apenas os que possuem maior<br />
poder aquisitivo se satisfazem quanto a essa apropriação, com os privilégios e usufrutos de uma moradia<br />
adequada. Já os de menor poder aquisitivo, [...] são “encaixados” em conjuntos “pré-moldados”. (LIMA,<br />
1980, p. 137)<br />
Outros loteamentos se encontram nas áreas periféricas sem terem recebido ainda toda a infraestrutura<br />
necessária, como o Jardim Morada do Sol, e alguns loteamentos estão sendo divulgados na<br />
mídia com a oferta de infra-estrutura e boas condições de vida, como o Maré Mansa, em<br />
desenvolvimento.<br />
Destacamos alguns dos inúmeros loteamentos que foram implantados, ao longo desses 84 anos<br />
em Presidente Prudente. Além da expansão territorial urbana mencionada, não podemos deixar de<br />
salientar que ocorrem duas formas de expansão, a horizontal, referente aos exemplos acima, e a vertical, e<br />
segundo Beltrão Sposito essas formas estão articuladas e fazem parte do mesmo processo, havendo<br />
contradições e complementaridades entre elas.<br />
À medida que os loteamentos foram implantados ocorrem modificações no espaço interno da<br />
cidade, e essas exercem grande influência na vida dos segmentos de baixo poder aquisitivo, pois diante<br />
dessa reestruturação, os equipamentos, infra-estrutura e serviços urbanos não acompanham de forma<br />
homogênea esse crescimento territorial urbano.<br />
Percebemos que o grande crescimento territorial que ocorreu até o momento, tanto na forma<br />
horizontal quanto na vertical, não atendeu às condições básicas de habitação, em meio a essa ampla<br />
extensão, pois os loteamentos favorecem, antes de tudo, a especulação imobiliária e, secundariamente, o<br />
oferecimento de moradias, pois “[...] a satisfação das necessidades dos indivíduos (entre as quais ocupa<br />
lugar de destaque a habitação) não se constitui parâmetro que orienta o crescimento espacial urbano, pelo<br />
menos nas sociedades capitalistas...” (BELTRÃO SPOSITO, 1983, p. 80)<br />
A lógica existente na produção e reprodução da cidade não visa unicamente a servir/abrigar,<br />
visto que ainda existem muitos lotes vazios, concomitantes ao déficit habitacional. A expansão territorial<br />
incorpora novas áreas em ritmo superior ao do crescimento populacional, com oferta de terrenos sem que<br />
as antigas áreas tenham esgotado seu potencial de ocupação.<br />
A expansão territorial incorpora áreas novas, mesmo existindo um grande número de terrenos<br />
vazios em áreas cuja ocupação se iniciou em períodos passados. (MELAZZO, 1993). Dessa forma o<br />
crescimento da área da cidade, ao mesmo tempo em que deixa “vazios urbanos”, incorpora a área rural<br />
que, de acordo com a demanda por habitações ou interesses imobiliários, tem esse caráter modificado,<br />
pois diante da demanda potencial por essa mercadoria, ocorre a valorização de áreas que tinham uso de<br />
solo rural e preços mais baixos.<br />
Mesmo que o aumento de habitantes não tenha sido tão intenso, a oferta de lotes colocados à<br />
venda sempre foi bastante considerável, não havendo uma relação proporcional entre oferta de terrenos e<br />
demanda pelo solo urbano.<br />
A influência política que os agentes econômicos exercem em relação ao poder público, faz com<br />
que se agravem as disparidades no espaço interno das cidades, mesmo que haja instrumentos e
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
profissionais para disciplinar o uso do solo urbano, pois, na prática, na maioria dos casos, não se visa ao<br />
atendimento das necessidades e sim aos interesses de setores da sociedade que acabam por determinar a<br />
expansão e a configuração do espaço urbano. Nesse sistema, os interesses de uma classe acabam por<br />
alterar ou flexibilizar leis concementes ao uso do solo urbano.<br />
Esse processo de implantação de loteamentos propicia aos proprietários fundiários a obtenção da<br />
renda, que está associada não somente à posse de uma propriedade, mas também ao que determinadas<br />
propriedades representam segundo a localização em que se encontram. Para desenvolver as funções de<br />
reprodução da força de trabalho, produção e consumo de mercadorias é preciso comprar ou pagar para<br />
que essas funções se efetivem, necessitando-se de uma localização, cujos atrativos e benfeitorias<br />
determinarão seu preço.<br />
Os usos desse espaço - residenciais, industriais, comerciais, serviços e lazer - são também<br />
ditados pelos interesses dos agentes econômicos, principalmente do setor imobiliário, que têm se<br />
apropriado das benfeitorias e infra-estruturas urbanas instaladas pelo poder público, pago pelo coletivo,<br />
mas apropriadas individualmente, pois as “[...] decisões sobre a compra e venda dos imóveis e a produção<br />
de novos terrenos urbanos passam cada vez mais pelas mãos de segmentos capitalistas que buscam a<br />
transformação do uso do solo como instrumento de valorização de seus capitais.” (MELAZZO, 1993, p.<br />
72)<br />
Como resultado do processo de reestruturação da cidade, a expansão urbana cria e recria espaços<br />
diferenciados, o que por conseqüência provoca a diferenciação e até segregação socioespacial, como o<br />
caso dos condomínios fechados em contraposição aos conjuntos periféricos que, geralmente, são de<br />
grande porte e não recebem as atenções necessárias. Nesse sentido:<br />
[...] é a propriedade privada da terra e sua sustentação jurídico-institucional que vai mediar o acesso ao (no<br />
caso) espaço urbano no modo de produção que estamos inseridos. Desta forma a procura pelas “melhores”<br />
localizações (o que é bastante relativo, tendo em vista o uso a que se queira dar a determinada porção do<br />
espaço urbano), limita-se aos segmentos sociais detentores de maior poder de compra e/ou influência junto<br />
às esferas institucionais. Há assim, uma tendência de que determinadas parcelas da sociedade exerçam uma<br />
espécie de controle que se aproximaria do monopólio ao acesso à terra. (WHJTACKER, 1991, p. 08)<br />
A tendência em permanecer e agravar essas disparidades é grande. No entanto, é preciso<br />
incentivar a sociedade a se conscientizar e tomar posicionamentos para que o exercício da organização e<br />
reivindicações em favor dos seus direitos e interesses seja uma constante, pois os outros segmentos de<br />
grande influência na organização do espaço estão, a todo o momento estabelecendo alianças e contatos<br />
com os agentes econômicos, principalmente com o poder público no sentido de obter vantagens.<br />
Serão apresentadas nos próximos itens, as nossas considerações relativas à multiplicação dos<br />
centros, constituição de subcentros e centralidades, diante do processo de reestruturação do espaço urbano<br />
que cria e recria novas formas comerciais e de serviços, em nome do consumo.<br />
2 – Multiplicação dos centros, das centralidades e constituição dos subcentros.<br />
2.1- Centros.<br />
Procuraremos apresentar sinteticamente como o centro foi e é considerado no estudo da estrutura<br />
urbana, por diferentes autores, dos clássicos aos contemporâneos, buscando visualizar o centro de<br />
Presidente Prudente, diante de suas transformações.<br />
Ao retratarmos o centro é preciso entender as diferentes concepções que foram formuladas, ao<br />
longo do tempo, e que serviram de bases para as novas reformulações. É preciso considerar o período em<br />
que tais formulações foram desenvolvidas, pois exprimem as particularidades de um processo histórico<br />
nas suas diferentes etapas e como bem explicita Villaça “[...] nenhuma área é ou não é centro; como fruto<br />
de um processo — movimento — torna-se centro. No social, nada é; tudo torna-se ou deixa de ser.<br />
Nenhuma área é (ou não é) centro; toma-se ou deixa de ser centro.” (VILLAÇA, 1998, p. 238)<br />
59
60<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Johnson (1974) retrata que o centro da cidade moderna apresenta características especiais com<br />
relação à ocupação do solo e desempenha funções particulares que o tornam mais conhecido diante das<br />
áreas urbanas e salienta que:<br />
En los textos geográficos, particularmente en Estados Unidos, el centro de la ciudad suele denominarse<br />
Central Bussines Distric (distrito central de negocios — o centro de negocio), abreviadamente CBD; se le ha<br />
definido como aquella área de la ciudad en la que predominan absolutamente la distribución al por menor de<br />
bienes y servicios, así como las diversas actividades burocráticas del sector privado. Estas utilizaciones del<br />
suelo se encuentran cada vez con mayor frecuencia en otras partes de las ciudades, pero no con el mismo<br />
nível de intensidad y sin ocupar el área extensa y compacta que se halla en el centro. (JOHNSON, 1974, p.<br />
153)<br />
Ao destacar o Distrito Central de Negócios, ressalta que o termo área central precisa ser também<br />
considerado como conceito distinto do anterior, sendo que as áreas centrais incluem ruas, nas quais se<br />
encontram funções próprias do CBD, além de áreas industriais e residenciais, não sendo fácil a tarefa de<br />
distinguir o CBD e área central.<br />
Segundo o autor:<br />
[…] este es el sector de la ciudad al que se puede llegar con mayor facilidad desde el resto del área<br />
edificada. Es también la parte más accesible en general para los que viven dentro de la esfera de influencia<br />
de la ciudad, especialmente si se desplazan por medio de los transportes públicos. (JOHNSON, l974,p. 155)<br />
Os moradores de menor poder aquisitivo que residem nas áreas periféricas, na maioria das<br />
cidades, pagam uma tarifa considerável diante de seu orçamento para se deslocar para a realização de<br />
atividades destinadas à sua manutenção. Vale ressaltar que:<br />
A acessibilidade e os fluxos estabelecidos no interior das cidades representam alguns dos processos<br />
definidores da reestruturação urbana. Tem-se a constituição de novos pontos, novos eixos de circulação que<br />
contribuem para acentuar a fragmentação do espaço no interior das cidades. (MONTESSORO, 1999, p.<br />
141).<br />
O centro da cidade, à medida que o tecido urbano se expande, vai sendo reestruturado,<br />
assumindo novas formas, novos usos. Para Johnson (1974), as características presentes em muitas cidades<br />
norteamericanas que contribuíram para uma reordenação do centro, foi o aumento da verticalização para<br />
usos comerciais e de serviços; a diminuição de residentes, paralela à crescente concentração de atividades<br />
comerciais. Essas características são encontradas em muitas cidades brasileiras de grande e médio porte.<br />
Aliado a essas características tem-se o problema dos congestionamentos gerados pela intensidade<br />
de fluxos e pelo aumento do número de automóveis particulares disputando espaço com os meios de<br />
transportes públicos, sendo que aqueles levam poucos passageiros em relação ao espaço que ocupam. A<br />
indústrias por não serem importantes no centro se deslocam para as áreas mais periféricas em busca de<br />
maiores terrenos, ligadas às vias de circulação (JOHNSON, 1974).<br />
Com a ocorrência de novas localizações e desdobramentos, emergem os subcentros que<br />
reproduzem as características do centro tradicional, que poderiam, de certa forma, atender aos consumos<br />
básicos dos moradores que se encontram mais distantes do centro e que também não possuem veículo<br />
próprio. Esses subcentros e desdobramentos, contudo, serão desenvolvidos de acordo com o potencial de<br />
consumo, de forma pontual e diversificada, atendendo diferentemente às necessidades, de acordo com a<br />
sua constituição e os atrativos de onde se instalam.<br />
Considerando que o centro nunca foi homogêneo e que seu traço marcante é a diversidade de<br />
estabelecimentos e funções que o compõem, é possível que se desenvolvam no seu interior, áreas com<br />
maiores fluxos diante de determinadas funções que por se agruparem, definem áreas especializadas em<br />
serviços ou comércios.<br />
A forma urbana sempre foi, diante das configurações das funções comerciais e de serviços,<br />
residenciais e industriais, enfocada nos estudos de estrutura urbana que retratavam as localizações, não<br />
considerando ou considerando pouco os processos e os fluxos, hoje destacados no estudo da<br />
reestruturação urbana, sendo que:
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
[…] las primeras teorías generales sobre la estructura urbana se referían a las ciudades de Estados Unidos, se<br />
basaban en las condiciones existentes hace 40 años, y subrayaban las mutuas influencias entre el ambiente<br />
urbano y la sociedad urbana en el interior de las diversas regiones de la ciudad. El más famoso de estos<br />
“modelos” de áreas sociales urbanas fue expuesto por E. W. Burgess en 1923, y se conoce con e nombre de<br />
teoría concéntrica o de las áreas concéntricas. Dicho modelo se basa en la noción de que el desarrollo de la<br />
ciudad tiene lugar hacia afuera a partir de su área central, formando una serie de coronas o áreas<br />
concéntricas. (JOHNSON, 19’74,p. 231)<br />
Esse modelo de zonas concêntricas explica o uso do solo da cidade por meio de zonas de<br />
diferentes idades e características, que se localizam a partir do centro. No caso de Chicago, foram<br />
identificadas cinco zonas ordenadas a partir do centro, que são:<br />
1) una zona central interna, el “corazón” de la vida comercial, social, cultural e industrial de la ciudad y foco<br />
del transporte urbano, rodeada por 2) una zona de transición con una gran mezcla de usos de suelo y<br />
predominio de la edificación residencial el proceso de deterioro progresivo (...), 3) una zona residencial<br />
obrera, en la que los inmigrantes de segunda generación constituyen un elemento importante en la estructura<br />
de población; 4) una zona residencial de mejor calidad, caracterizada por la vivienda unifamiliar y salpicada<br />
con mansiones y grupos de apartamentos de lujo, y 5) una borde, con comunidades suburbanas y satélites,<br />
verdaderos dormitórios para la gente que trabaja en el centro de la ciudad.<br />
(CHORLEY, 1971, p. 265)<br />
Segundo essa teoria, os trabalhadores vivem próximos ao centro, na área onde o solo é mais caro,<br />
enquanto os segmentos de maior poder aquisitivo residem na periferia, em terrenos mais baratos. Isso se<br />
deve ao custo do transporte coletivo, utilizado para o deslocamento casa-trabalho, que nem todos podem<br />
pagar, por isso os trabalhadores se instalam ao redor da área de trabalho, enquanto os outros segmentos<br />
têm o direito de escolha, por poder pagar pelo deslocamento ao centro da cidade. As considerações de<br />
Johnson (1974) a respeito dessa teoria são:<br />
La teoría de Burgess, aunque utilizada ampliamente como marco conceptual para estudiar las áreas urbanas,<br />
ha sufrido críticas severas de investigadores posteriores. Muchos de estos ataques han sido algo injustos, ya<br />
que se basaban en la interpretación demasiado literal de una teoría que no pretendía ser más que una<br />
generalización muy aproximada. Burgess, por ejemplo, suponía que su hipótesis se cumpliría solamente en<br />
ausencia de ciertos “factores de oposición”(como, por ejemplo, las características topográficas locales), que<br />
podrían dejar sentir su influencia en la localización de las áreas residenciales; suponía asimismo que se<br />
registrarían variaciones considerables en el interior de las distintas áreas por él definidas, con lo que se<br />
formarían “areas naturales” locales (caracterizadas por los rasgos demográficos, económicos y sociales de<br />
sus habitantes) en el marco más amplio de las grandes áreas principales. (JOHNSON, 1974, p. 233)<br />
Segundo Corrêa (1989), nas teorias da Ecologia Urbana houve a tentativa de uma transposição<br />
dos princípios básicos da ecologia vegetal para o urbano, ocorrendo uma competição em razão da luta<br />
pela sobrevivência, dominação dos mais adaptados ao meio ambiente e uma sucessão e substituição de<br />
um grupo por outro no espaço. O centro é considerado como “órgão” controlador e privilegiado dentro do<br />
organismo urbano (como é considerada a cidade, com células, tecidos, numa analogia biológica).<br />
No modelo de Burgess era essencial a noção de centralidade, sendo que o centro dominava a<br />
competição em torno dele e à medida que a cidade aumentava, com a presente idéia de hierarquia, a<br />
competição e a divisão do trabalho cada vez mais especializada se explicavam pelo processo de<br />
centralização e descentralização. A partir desse modelo, ocorrem reformulações que dão origem à:<br />
[…] la teoría de los sectores, propuesta por vez primera hacia 1939 y atribuida… al economista<br />
norteamericano H. Hoyt… era que los contrastes en la utilización del suelo originados cerca del centro<br />
urbano… se perpetúan al crescer la ciudad. Los sectores de utilización del suelo diferenciados tenían<br />
tendencia a crescer a partir del centro, siguiendo a menudo los principales ejes de transporte. (JOHNSON,<br />
1974, p. 234)<br />
Segundo Johnson (1974), a teoria de Hoyt constitui mais um aperfeiçoamento da teoria<br />
concêntrica que uma alteração. Nessa teoria teríamos uma especialização funcional e social da cidade a<br />
61
62<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
partir de eixos radiocêntricos, considerando os transportes e as indústrias, o que não ocorreu na de<br />
Burgess.<br />
Para Corrêa (1989), nessa teoria há uma tendência segregativa dos segmentos de alto status, que<br />
se instalam ao longo de um eixo de circulação que corta as melhores áreas da cidade, de onde podem<br />
exercer controle sobre seu território.<br />
Complementando com o que nos apresentou Johnson:<br />
Lo cierto es que la gente muy rica puede establecer su residencia donde le apetezca y que, en ciertas<br />
circunstancias, es posible que no siga la pauta “normal” que se describe en las teorías concéntrica y sectorial.<br />
Los grupos menos acomodados, en cambio, están más limitados por su situación económica, y por ello es<br />
más probable que se amolden a una configuración repetitiva de la estructura urbana, basada en la<br />
accesibilidad y los atractivos de cada paraje y en él precio de los alquileres. (JOHNSON, 1974, p. 239)<br />
O poder aquisitivo dos moradores é que vai determinar a localização de suas residências diante<br />
das características expressas no meio urbano, e que vão proporcionar diferentes configurações ao longo<br />
dos tempos e em diferentes lugares.<br />
Nas breves exposições acima descritas, temos modelos que se aplicariam, principalmente, à<br />
realidade de cidades norteamericanas nas primeiras décadas do século XX. Esses modelos eram propostos<br />
para explicar a realidade que muitas vezes não condizia com os mesmos, por estar diretamente ligados à<br />
morfologia urbana, sem considerar os processos e fluxos estabelecidos. Foram ocorrendo reformulações<br />
no sentido de dar explicação à forma urbana, mas que continuavam tentando encaixar a realidade em<br />
modelos, não dando ênfase ao processo de produção do espaço por meio do sistema capitalista, que<br />
resulta em uma configuração espacial ditada por relações de poder.<br />
Diante de uma nova reformulação foi apresentada a teoria dos núcleos múltiplos, formulada em<br />
1945 pelos geógrafos C. D. Harris y E. Ullman, expressando que “[...] las ciudades tienem una estructura<br />
esencialmente celular, en la cual los diferentes tipos de utilización del suelo se han desarrollado alrededor<br />
de ciertos puntos de crecimiento, o “núcleos”, situados em el interior del área urbana.<br />
(JOHNSON, 1974, p. 240)<br />
Nessa, o CBD está no ponto de acessibilidade máxima, posteriormente estão as atividades que se<br />
beneficiam da coesão, no entanto as atividades que se prejudicam mutuamente, como indústrias e áreas<br />
residenciais de luxo, não se encontram normalmente próximas. Nessa teoria, ao contrário das duas<br />
anteriores, além de um CBD, têm-se vários centros, em uma escala hierárquica, que atendem às<br />
necessidades de outras áreas da cidade e leva-se em conta o fato de que a configuração interna das<br />
cidades está diretamente ligada às peculiaridades de seus deslocamentos, bem como à ação das forças<br />
econômicas e sociais de caráter mais geral. Para Johnson (1974):<br />
Esta teoría tampoco excluye la posibilidad de que se encuentren elementos de las teorías concéntrica y<br />
sectorial en algunas ciudades concretas. Quizá sería mejor considerar él enfoque de los núcleos múltiples<br />
como una guía orientadora en los estudios sobre la estructura urban, y no como una generalización rígida<br />
sobre la forma de las ciudades. (JOHNSON, 1974, p. 241)<br />
Ao redor desses vários centros (subcentros) comerciais se formam distritos residenciais, de tal<br />
modo que as áreas suburbanas das grandes cidades adotam uma configuração policêntrica, independente,<br />
em parte pelo menos, das influências do lugar e da história. O resultado final é que a realidade parece<br />
consistir no que A. Hawley denominou de ‘‘uma constelação de centros formada por una mescla de áreas<br />
internamente homogêneas.” (JOHNSON, 1974)<br />
Nesses estudos, o espaço é tido como palco de ações, mas essas não sendo consideradas no seu<br />
âmago, como as determinantes do processo de produção e contínua reprodução do espaço urbano. Um dos<br />
exemplos, além dos estudos ecológicos, é o de Pierre George, da Escola Francesa que em seu Livro<br />
Geografia Urbana (1983) apresenta idéias representativas dessa escola, considerando o espaço como<br />
palco de ações não compreendendo as relações de produção como imbricadas com ele. Uma outra marca<br />
desse autor é sua análise que se constitui em avanço em relação às formulações ecológicas, à medida que<br />
não desenvolve modelos para neles encaixar a realidade.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
Johnson (1974), em seu “Geografia Urbana”, apresenta uma proposta diferente em relação à<br />
Ecologia, fazendo uma caràcterização do centro de acordo com várias denominações dadas à área central,<br />
procurando traços comuns entre vários centros. Não adota um modelo, e sim considera as diversas formas<br />
de centro, considerando como primordiais três características para explicá-lo, que são: acessibilidade,<br />
ausência de moradores e verticalização.<br />
Como podemos perceber nas teorias ou enfoques acima, o centro é sempre analisado com base<br />
nas funções que abriga, bem como as que ele expulsa, diante do processo de reestruturação urbana,<br />
permanecendo e implantando-se usos. Como vimos, a função residencial, durante muito tempo, esteve<br />
localizada nessa área, de forma marcante. Nas cidades norteamericanas, os trabalhadores residiam<br />
próximos ao centro, em outras cidades, como Paris (década de 1950), o segmento de alto poder aquisitivo<br />
residia nessa área, como em muitas cidades brasileiras.<br />
Com o crescimento do tecido urbano aliado à especulação imobiliária que faz com que o preço<br />
do solo seja máximo nessas áreas e, ainda, com o desenvolvimento dos transportes, ocorre uma<br />
substituição de usos, de acordo com o poder aquisitivo das diferentes camadas. Essa função não foi<br />
totalmente eliminada dessa área, mas diminuiu e também assumiu novas formas, como a verticalização<br />
para habitar.<br />
O centro reflete as formas atuais e as do passado, não há um só tipo de centro urbano, há velhas<br />
construções e edifícios recentes, há os constituídos de arranha-céus ou de casas térreas, ou mistura de<br />
atividades essenciais no andar térreo dos prédios e residências nos outros pavimentos, dependendo da<br />
complexidade do fenômeno urbano. (SANTOS, 1959)<br />
O centro urbano é o lugar de vários usos que se atraem/ repelem num processo contínuo<br />
(WHITACKER, 1991). Como ressalta esse autor, primeiramente o centro é tido como sede do poder<br />
local, do comércio principal, como núcleo lúdico da cidade, como local de residência da elite, estando em<br />
um lugar de mais fácil acesso. Com a saturação dessa área diante dos congestionamentos e fluxos de<br />
pessoas e de sua popularização, há uma saída desse segmento para áreas mais exclusivas, muitas vezes na<br />
periferia onde se localizam condomínios fechados. A acessibilidade, para aqueles que possuem meios de<br />
deslocamento, proporciona as escolhas de onde residir e onde consumir, evidenciando-se como uma das<br />
dinâmicas segregativas do espaço urbano.<br />
Diante do caráter político e religioso que esse centro possuía, havia uma “necessidade” de uma área que<br />
representasse esse poder, ocorrendo uma segregação em relação ao restante de atividades e porções da<br />
comunidade. (WHITACKER, 1991)<br />
Uma das funções que caracterizam fortemente essa área, diante de “...todas as atividades<br />
registradas no Centro da cidade, [...] é, sem nenhuma dúvida, o comércio, que ocupa a maior área e<br />
alcança a própria zona periférica. (MULLER, 1958, p. 159) Como bem apresentou Beaujeu-Garnier:<br />
Se algumas cidades não são segundo a expressão de HenriPirenne “filhas do comércio” [...] nenhuma, em<br />
todo o caso, se pode vangloriar de escapar à sua presença e à sua influência; nenhuma pode passar sem<br />
intercâmbio, por vezes criador e motor de crescimento urbano. (BEAUJEUGARNIIER, 198O, p. 2O3)<br />
A função comercial é a mais antiga devido ao papel de encruzilhada de vias vitais de<br />
comunicação (MULLER, 1958). Além do comércio, tem-se a instalação de serviços, que conforme<br />
Castells:<br />
[...] se endereçam ao maior número de consumidores ou usuários específicos, e a proximidade espacial não<br />
intervém absolutamente na utilização dos serviços oferecidos. É fácil explicar a implantação destas<br />
atividades no centro, se vemos na economia de mercado o regulador do esquema espacial urbano.<br />
Encontramos aí os estabelecimentos aos quais a centralização oferece um benefício suficiente para<br />
compensar o preço elevado do terreno e os problemas de organização derivados da congestão deste espaço.<br />
(CASTELLS, 1983, p. 313)<br />
O centro é tido também como núcleo lúdico, não se restringindo apenas ao aspecto diretamente<br />
funcional dos espetáculos e centros de diversão, mas, mais ainda, da sublimação do ambiente urbano por<br />
63
64<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
meio de escolhas possíveis e uma valorização da disponibilidade de consumo, que é a sua principal<br />
característica. (CASTELLS, 1983).<br />
O comércio encontrou, no interior da pequena cidade, um espaço privilegiado pelas<br />
possibilidades de acesso, que lhe assegurou o máximo de clientes e lhe permitiu desenvolver-se,<br />
mantendo-se no centro, onde pôde pagar os preços relativamente elevados do solo. Com o crescimento<br />
urbano, toma-se insuficiente a estrutura mononuclear, multiplicam-se os estabelecimentos comerciais ao<br />
longo de grandes eixos de circulação. Aparecem núcleos secundários e diante da acessibilidade, as<br />
localizações favoritas correspondem, ou a um cruzamento de grandes vias ou àproximidade de um bairro<br />
novo muito povoado (BEAUJEU-GARNIER, 1980). O comércio vai se desenvolvendo, criando a partir<br />
do processo de reestruturação urbana novas formas para se apresentar, como vias, eixos de circulação,<br />
subcentros e também os shopping centers. Para Müller (1958).<br />
A concentração do comércio varejista em determinadas ruas de bairros afastados ou não, a exemplo do que<br />
se registra em outras grandes cidades, nada tem de recente e de extraordinário. O que desejamos focalizar é<br />
o aparecimento de uma área, em quase tudo idêntica ao centro da cidade, como a que atualmente existe à<br />
Rua Augusta ... Este “pequeno centro” não se limita a atender à freguesia dos bairros que lhe estão<br />
próximos; em virtude da alta qualidade de seu comércio e das facilidades no que diz respeito ao<br />
estacionamento de automóveis particulares ... recebe a preferência de variada clientela, que muitas vezes<br />
procede de bairros afastados, representando, em proporções mais reduzidas, um papel idêntico ao da<br />
verdadeira área central das metrópole. (MULLER, 1958, p. 167)<br />
Essas formas de comércio e consumo, não mais restritas ao centro, vêm ocorrendo há muito<br />
tempo, como retrata Muller, já em 1958, em um estudo que realizou sobre a área central da cidade de São<br />
Paulo.<br />
Nas cidades de grande porte, a descentralização já vem acontecendo há mais tempo que nas<br />
cidades médias, o que pode dar a impressão de que os eixos, vias de especialização, subcentros, sejam<br />
formas particulares dessas cidades. Com nos mostra Villaça, “o primeiro subcentro a surgir no Brasil foi o<br />
Brás, em São Paulo, na década de 1910; logo em seguida, surgiu o subcentro da Tijuca, na Praça Saens<br />
Pefia, no Rio.” (VILLAÇA, 1998, p. 294)<br />
Diante da descentralização e formação de novos núcleos, não há uma satisfação das necessidades<br />
dos indivíduos que se encontram próximos a esses, pois não é somente a questão da localização que é<br />
considerada, mas também as condições para terem atendidas as suas necessidades.<br />
A área central, na maioria das vezes, reforça sua centralidade à medida que o tecido urbano se<br />
estende e novas formas de comércio se apresentam, pois mesmo com a descentralização, é nessa área que<br />
permanece uma diversidade e quantidade de estabelecimentos, voltados para o atendimento de toda a<br />
cidade, em contraposição às vias especializadas e subcentros que se destinam a uma clientela mais<br />
restrita. No<br />
[...] núcleo central, reconhece-se uma maior selecção de produtos e a possibilidade de agrupar as<br />
deslocações, mas censura-se os amontoados de gente e congestionamento da circulação. A favor do<br />
comércio suburbano conta, eventualmente, a maior proximidade da habitação e os horários mais favoráveis,<br />
mas critica-se a falta de variedade, os preços demasiado elevados e a falta de diversificação das actividades.<br />
(BEAUIEU-GARNIER, (1980, p. 213)<br />
O papel simbólico e a função comercial, amplamente considerados como traços característicos,<br />
sofrem uma tendência crescente à abertura espacial, à medida que ocorre a descentralização, sendo que<br />
“...o velho centro urbano se define cada vez mais por seu papel de gestão e de informação, e os novos<br />
centros se caracterizam sobretudo pela criação de meios sociais. (CASTELLS, 1983, p. 320)<br />
Concomitante a essa descentralização e à medida que a função residencial vai desaparecendo<br />
dessa área, a expressão “centro de negócios”, em sentido amplo incluindo a gestão pública, política e<br />
administrativa, torna-se a mais adequada para expressá-lo (CASTELLS, 1983). As novas áreas articuladas<br />
à malha urbana geraram mudanças na estrutura dos espaços intra-urbanos, novos nós de circulação foram<br />
se constituindo e novos pontos foram sendo utilizados para abrigar as funções comerciais e de serviços.<br />
(MONTESSORO, 1999)
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
No centro das cidades brasileiras se localizam os órgãos de administração pública, a igreja<br />
matriz, tribunais, distrito financeiro, comércio atacadista e comércio varejista, cinemas e teatros e ao<br />
redor estão as zonas residenciais dos segmentos mais rico. Os serviços urbanos se irradiam do centro à<br />
periferia. (SINGER, 1980)<br />
Em princípio, como ocorre na maioria das cidades, o centro de Presidente Prudente foi área que<br />
concentrava as atividades comerciais que se encontravam distribuídas no quadrilátero, que compreende a<br />
Vila Goulart, demarcado pela confluência das avenidas Washington Luiz, Manoel Goulart, Coronel<br />
Marcondes e Brasil. Essa área se constituía como nó de circulação, havendo a presença de uma<br />
centralidade única, formada pela concentração de usos comerciais e de serviços. A função bancária<br />
sempre foi bastante expressiva nessa área, além de hotéis e restaurantes que lá se instalavam<br />
(MONTESSORO, 1999). Além desses usos havia, até a década de 1960, a presença ainda significativa do<br />
uso residencial.<br />
Na década de 1980 essas avenidas possuíam os usos comerciais e de serviços outrora instalados,<br />
além da função residencial que passou a se concentrar nas ruas periféricas ao centro. Foi ocorrendo, ao<br />
longo do tempo, a instalação e retirada de usos de acordo com a predominância que se estabelece e que<br />
acaba por acirrar a disputa por essas localizações, bem como a intensificação dos fluxos e<br />
congestionamentos, poluição sonora, que levou os residentes a buscarem outras áreas.<br />
É importante salientar que a centralidade estará sempre associada aos fluxos que se estabelecem,<br />
redefinindo-se à medida que se redefinem os usos, e a partir da reestruturação das cidades que expressa a<br />
(re) produção de novos espaços, que retrata o surgimento de áreas comerciais em Presidente Prudente,<br />
além do centro, principalmente para o consumo, e novas relações e, diante disso, o conceito de centro<br />
precisa ser repensado. O centro é acima de tudo “... o nó de circulação, é o ponto de onde todos se<br />
deslocam para a interação dessas atividades aí localizadas com as outras que se realizam no interior da<br />
cidade ou fora dela. Assim o centro pode ser qualificado como integrador e dispersor ao mesmo tempo.<br />
(BELTRÃO SPOSITO, 1991, p. 06)<br />
Há uma construção diferenciada do que seja o centro da cidade, com base no uso e na<br />
apropriação que se estabelece, considerando as diferentes funções e prédios que vão das mansões aos<br />
cortiços, dos escritórios de grandes corporações ao despachante policial, do comércio de luxo ao camelô,<br />
que demonstram no estudo de seu processo as segregações urbanas e socioespaciais, que estão presentes<br />
na produção, reprodução, representação do centro e da centralidade e na hierarquização dos diferentes<br />
usos que se faz da cidade (WHITACKER, 1997). Ocorre diante dessa diferenciação várias delimitações e<br />
dimensões a respeito dessa área, principalmente na identificação de símbolos tidos como centrais (igreja,<br />
praça, calçadão, etc)<br />
A área central concentra qualidades como acessibilidade, uma quase ausência da função<br />
residencial e da função industrial, além de possuir uma certa diversidade de estabelecimentos comerciais<br />
e de serviços. Para Alves (1999) a acessibilidade ao centro, permite a uma boa parcela dos citadinos seu<br />
uso, e mantém o comércio variado com preços atraentes para os de menor poder aquisitivo, que utilizam o<br />
transporte coletivo.<br />
Como salienta Villaça:<br />
Nessa sociedade, as diferentes classes sociais têm condições distintas de acessibilidade aos diferentes pontos<br />
do espaço urbano. [...] Algumas possuem automóvel, outras não. Algumas podem tomar ônibus, outras são<br />
obrigadas a se deslocar a pé. Algumas estão próximas a ruas por onde passam cinco a seis linhas de ônibus;<br />
outras estão perto de vias onde passa apenas uma. [...] sendo objeto de disputa entre as classes, o centro se<br />
torna mais acessível a uns do que a outros... (VILLAÇA, 1998, p. 243)<br />
No caso do centro de Presidente Prudente, como de outras cidades brasileiras, aos poucos foi<br />
ocorrendo uma certa especialização de usos de solo em algumas vias, devido ao predomínio de um tipo.<br />
Ocorre uma certa diferenciação sócio-econômica de algumas áreas, ou pela especialização funcional ou<br />
pela clientela que servem. Na avenida Tenente Nicolau Maffei e Barão do Rio Branco, há a presença de<br />
várias agências bancárias. Nas imediações dessa área, há também a ocorrência de vias especializadas,<br />
como a avenida Washington Luiz onde há uma grande presença de serviços médicos e a Brasil onde há<br />
uma grande variedade de estabelecimentos destinados a automóveis.<br />
65
66<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Diante da “saída” dos residentes da área central, esse espaço é recriado à medida que outros usos<br />
se instalam, sendo importante considerarmos as transformações que ocorrem no seu interior ao longo do<br />
tempo, para entendermos a configuração espacial anterior e a presente, que estão diretamente ligadas aos<br />
interesses dos vários agentes que promovem a criação/recriação e a renovação de áreas no interior do<br />
espaço urbano, e a cidade é um retrato desse processo.<br />
O centro se encontra em constante transformação das formas materiais e das imateriais.<br />
(GREZEGORCZYK, 2000). Com essas constantes mudanças, as novas formas comerciais adquirem<br />
determinadas expressões de acordo com o porte da cidade. Nas médias, o centro geralmente é único, o<br />
que favorece a concentração de atividades, mas ocorre a presença de subcentros, que se articulam com o<br />
centro principal e não desempenham um número grande e diversificado de funções, que se definem de<br />
acordo com o potencial de consumo das diferentes áreas no interior da cidade. Os espaços da cidade são<br />
desiguais, pois a sua heterogeneidade:<br />
[...] não é dada apenas pelos momentos desiguais, pela necessidade de desigualdade para se realizar a<br />
produção hegemônica [...] o espaço não é homogêneo porque é globalmente produzido por uma ordem<br />
hegemônica. Ele é heterogêneo porque a desigualdade é necessidade para a produção hegemônica do espaço<br />
e da sociedade. A heterogeneidade do espaço se dá pelo desenvolvimento desigual e combinado, pela<br />
divisão internacional do trabalho, mas também pelas particularidades do lugar, país, do bairro.<br />
(WHITACKER, 1997, p. 47)<br />
Diante dessa heterogeneidade ocorre uma participação distinta de cada área no mercado<br />
imobiliário, levando à uma hierarquia no espaço urbano, de acordo com a atração que os imóveis exercem<br />
sobre compradores e vendedores, que consideram as suas característiças, “[...] como acessibilidade,<br />
preços, amenidades existentes, infra-estrutura, etc, ou, pela ação direta dos agentes empresarialmente<br />
organizados que se incubem de levar tais áreas ao mercado. “(MELAZZO, 1993, p. 65). O setor<br />
imobiliário tem grande influência nessa hierarquização de áreas, pois quem promove a distribuição<br />
perversa dos serviços urbanos não é o Estado, mas o mercado imobiliário (SINGER, 1980)<br />
Levando-se em consideração as características das diferentes áreas e a distância em que se<br />
encontram em relação ao centro, onde geralmente estão concentrados os equipamentos urbanos de uso<br />
coletivo, percebemos diferentes arranjos que evidenciam que as áreas assumiram e vêm assumindo, ao<br />
longo dos tempos, novas conotações, como as periferias que não abrigam somente segmentos de baixo<br />
poder aquisitivo, mas também de alto poder aquisitivo que reside em condomínios fechados.<br />
A periferia existe diferentemente para os segmentos, que com seu potencial de consumo atrai a<br />
instalação de equipamentos, melhorias, e uma interligação entre as demais áreas que possuem o que essa<br />
não tem. Para a periferia rica, a falta de estabelecimentos não é um agravante, pois seus moradores podem<br />
ir buscá-los, já que possuem os meios e condições de deslocamentos.<br />
Com a descentralização e a constituição de novos núcleos, ocorre uma melhoria nas áreas em<br />
que se instalam, em detrimento de áreas que permanecem sem receber a infra-estrutura adequada, por não<br />
se constituir em atrativo e abrigar moradores de baixo poder aquisitivo, como se visualiza nos conjuntos<br />
habitacionais periféricos.<br />
A cidade se estende territorialmente, amplia-se a relação entre o centro e a periferia e o centro<br />
não consegue mais satisfazer às necessidades da sociedade e do setor produtivo, pela intensidade dos<br />
fluxos e pelas distâncias. Torna-se difícil o seu acesso e ele explode, deixando, em outras localidades,<br />
parte de suas funções, principalmente no que diz respeito ao setor comercial e de serviços. Mas, também,<br />
ele implode com a “[...] deterioração de algumas de suas áreas que perderam as funções ou ainda que, na<br />
aparência, ele se deteriore, é por ele que se faz a articulação entre os diversos novos centros ou<br />
subcentros, já que nele continua conectado o poder econômico e político. (ALVES, 1999, p. 63) Diante da<br />
ocorrência de vários núcleos, o papel do centro principal é reforçado, pois a fragmentação do espaço se<br />
apresenta, ressaltando o poder de unificação do centro como articulador do processo. (ALVES, 1999)<br />
Os confrontos gerados pelo uso do espaço central, entre detentores de poder e outros segmentos<br />
da sociedade, muitas vezes não são explícitos, pois os primeiros favorecem constantes remodelações no<br />
intuito de ampliar ainda mais o valor da área, como por exemplo, os projetos de revitalização que ocorrem<br />
em cidades, na maioria de grande porte, como São Paulo.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
Por meio dos programas de revitalização da área central, tão presente nas cidades de grande<br />
porte, o centro é enfocado como degradado, deteriorado, e que necessita de uma melhora na forma<br />
estrutural. A forma é amplamente enfocada, pelo poder público e privado que visam a melhoria da<br />
aparência, no sentido de favorecer investimentos para o setor imobiliário.<br />
Para Frúgoli Júnior (2000), a revitalização de áreas centrais está diretamente associada ao<br />
surgimento de subcentros, na medida em que o centro tradicional começa a competir com os demais, do<br />
ponto de vista econômico.<br />
Faremos uma exposição sobre a constituição dos subcentros, como uma das formas comerciais<br />
que se desenvolvem com o processo de reestruturação urbana e, posteriormente, enfocaremos os<br />
subcentros analisados.<br />
2.2- Subcentros<br />
Resultante do processo de expansão urbana, os estabelecimentos comerciais e de serviços vão se<br />
instalando no tecido urbano de maneira diferenciada, atraídos por densidade populacional, por vias de<br />
circulação intensa e, mais ainda, pelo potencial de mercado. Com relação à expansão do setor terciário<br />
que caracteriza esses desdobramentos, Soares (1994) argumenta que:<br />
[...] a expansão do setor terciário se dá não apenas na área de maior concentração comercial da cidade, como<br />
também se difunde pelo tecido urbano, junto aos bairros mais populosos e as áreas de concentração da<br />
população de maior renda... o comércio popular forma pequenos centros comerciais de bairro, da mesma<br />
forma que estruturam-se as áreas comerciais sofisticadas junto aos bairros mais nobres. (SOARES, l994,p.<br />
133)<br />
Tem-se, assim, um reordenamento do espaço, que põe fim à centralidade única, possibilitando a<br />
multicentralidade, que de acordo com a diversidade funcional que se estabelece, gera também a<br />
policentralidade.<br />
Há, no entanto, diferentes escalas de centralidade que se articulam em função dos diferentes<br />
níveis de especialização funcional e diferenciação e/ou segregação social, havendo interesse dos<br />
proprietários fundiários e imobiliáios e empresários de cada área para ampliar sua capacidade de atração.<br />
Assim, a ocorrência de diferentes níveis de especialização e importância entre os centros é denominada<br />
como multicentralidade. As diferenças locacionais vão propiciar diferentes centralidades e dependendo de<br />
suas características e complexidade funcionais, permitir a diferenciação socioeconômica dessas áreas de<br />
concentração, segundo seus freqüentadores e consumidores, gerando uma centralidade diversificada ou<br />
policentralidade.<br />
Diante da multiplicação de áreas centrais emergem os subcentros o que “[...] é um fenômeno<br />
comum nas cidades grandes, mas também está presente em algumas médias, em processo de aglomeração<br />
urbana, as quais desempenham funções regionais, como é o caso de Maringá.” (GRZEGORCZYK,<br />
2000,p. 169). Esses possuem uma complexidade funcional reproduzindo as características essenciais do<br />
centro tradicional, gerando também centralidades por meio do intercâmbio de mercadorias, serviços,<br />
idéias, proporcionando fluxos de pessoas, de transportes, aglomerações e concentrações.<br />
Além dos conjuntos habitacionais das áreas distantes e das vias ou corredores especializados,<br />
ocorre em algumas cidades, nas proximidades de escolas o desenvolvimento de subcentros em áreas<br />
propícias, como eixos de circulação, parques, shopping-center, clubes, etc. Cada uma dessas áreas de<br />
adensamento pode favorecer a ocorrência de centralidades dependendo, porém, de características próprias<br />
que podem tornar-se atrativas para o seu desenvolvimento.<br />
Mtiller (1958) faz referência aos subcentros que ocorreram em São Paulo, classificando-os como<br />
pequenos centros, áreas onde quase tudo é idêntico ao centro da cidade (no caso de São Paulo a Rua<br />
Augusta, Rua Estados Unidos etc). Assim, é nesse sentido que os subcentros ou os pequenos centros vão<br />
se desenvolver, para atender à clientela que consumia no centro tradicional e agora já se encontra bem<br />
distante deste.<br />
Mesmo com a descentralização dos comércios e serviços, que poderia amenizar as grandes<br />
concentrações e distâncias entre a área central e outras áreas, o espaço urbano no seu todo não é<br />
plenamente atendido, permanecendo o deslocamento dos moradores das mais distantes áreas para o centro<br />
67
68<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
principal, pois os subcentros e outros desdobramentos não atendem às necessidades das camadas menos<br />
abastadas, principalmente daquelas que se encontram cada vez mais no entorno da área urbana. Os<br />
subcentros, como resultado do processo de descentralização inerente ao processo de reestruturação<br />
urbana, constituem-se em função das demandas potenciais de algumas áreas. Muitas vezes se<br />
desenvolvem de acordo com os atrativos proporcionados por algum tipo equipamento ou pelo poder<br />
aquisitivo dos moradores de algumas áreas, e não para facilitar a vida dos moradores das áreas periféricas.<br />
A área central continua, apesar da crescente descentralização, abrigando um grande número de<br />
estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente os financeiros e administrativos, o que se atrela<br />
a uma crescente popularização favorecida, principalmente, pelo comércio varejista voltado a atingir um<br />
mercado consumidor que se utiliza, principalmente, do transporte coletivo.<br />
Desse modo, essa área central que está voltada para uma demanda maior, formada por moradores<br />
provenientes de toda a cidade inclusive daqueles atendidos pelo subcentro em destaque, gera uma<br />
concentração e desenvolvimento diferentemente proporcional e também funcional em relação aos<br />
subcentros, com uma estreita relação entre oferta e procura permeando a configuração espacial, baseada<br />
nos diferentes fluxos de circulação, que vão favorecer a acessibilidade. (PEREIRA, 1998).<br />
Em algumas cidades tem-se a constituição de subcentros em áreas residenciais e, principalmente<br />
nos conjuntos habitacionais. Esses pequenos centros, assim denominados por Müller (1958), são<br />
constituídos por comércio varejista, abarcando uma grande diversidade de estabelecimentos como<br />
padarias, açougues, bares, mini-mercados, mercearias, confecções, lanchonetes, farmácias, etc, alguns<br />
serviços como consultórios médicos e odontológicos, cabeleireiros. Dependendo de cada formação, temos<br />
um maior ou menor número de estabelecimentos, com maior ou menor complexidade, gerando arranjos<br />
espaciais nesses subcentros, o que de certa forma os caracteriza.<br />
Em Presidente Prudente vários subcentros se constituíram, como o da COHAB, Conjunto<br />
Habitacional caracterizado por grande adensamento populacional e por uma certa distância da área<br />
central, favoreceu o desenvolvimento de um subcentro para atender às necessidades imediatas dos<br />
moradores que nele residem. Assim, instalaram-se no subcentro da COHAB inúmeros estabelecimentos<br />
comerciais e de serviços, como lanchonetes, açougues, padarias, sorveterias, lojas de roupas, de<br />
aviamentos, farmácias, papelaria, locadoras, postos de gasolina, etc.<br />
O referido subcentro é bem diversificado, estando mais direcionado às atividades comerciais,<br />
principalmente no ramo da alimentação. Devido à expansão constante do tecido urbano, que ultrapassou<br />
os limites dessa área, a mesma não se encontra tão periférica como no início da sua formação.<br />
Com a instalação do Conjunto Habitacional Ana Jacinta (1992), que se localiza na porção<br />
sudoeste da cidade, resultado da expansão do tecido urbano e do adensamento populacional da área<br />
escolhida pelo poder público para a implantação desse conjunto, houve, também nesse setor, a<br />
emergência de outro subcentro (o subcentro do Conjunto Habitacional Ana Jacinta será enfocado mais<br />
detalhadamente nos próximos capítulos).<br />
O conjunto habitacional encontra-se a aproximadamente 7 Km do centro tradicional, uma<br />
distância considerável, e abriga um grande contingente populacional.<br />
Nesses dois subcentros algumas necessidades básicas 48 de consumo, de equipamentos e serviços<br />
(alimentação: mercearias, mmi-mercados, açougues, padarias, sorveterias; serviços: pequenas oficinas,<br />
salões de beleza, imobiliária, agência dos correios) são atendidas, mas as atividades bancárias, o grande<br />
comércio varejista, serviços médicos e hospitalares continuam concentrados no centro tradicional. Os<br />
moradores continuam se deslocando até ele para satisfazer as demais necessidades.<br />
Já o subcentro do Jardim Bongiovani, que também se formou por características especiais, é bem<br />
mais diversificado, pois com a instalação da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) no loteamento<br />
vizinho, Cidade Universitária, houve um desenvolvimento de comércios e serviços para atender a<br />
clientela que reside nas suas imediações. Assim, temos não só os estudantes da UNOESTE, como<br />
também os moradores que possuem alto poder aquisitivo.<br />
Tais fatores. favoreceram e influenciaram a ocorrência de inúmeros estabelecimentos que, nessa<br />
área, foram se edificando, no intuito de atender as necessidades básicas de um mercado consumidor<br />
atraente e especial. Nesse sentido, foram se instalando os mais variados tipos de comércio como<br />
48 Consideramos por necessidades básicas: moradia; alimentação; saúde; segurança; educação, renda e lazer.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
papelarias, farmácias, padarias, lanchonetes, mercearias, lojas de confecções e de calçados, joalherias,<br />
floriculturas; serviços como correios, bancos, academias, salões de beleza, imobiliárias, despachantes,<br />
boates etc. (PEREIRA, 1998)<br />
Com os processos que ocorrem no interior da cidade, reestruturando-a, os deslocamentos são<br />
cada vez mais intensos e constantes estabelecendo-se os mais diferentes fluxos entre os moradores das<br />
áreas mais periféricas e o centro, para suprir suas necessidades. A especialização funcional das áreas,<br />
separando muitas vezes a função residencial da comercial e de serviços. Mas o deslocamento não é<br />
facilitado, repercutindo de forma negativa nas condições de vida das populações residentes nas áreas mais<br />
distantes do centro. Santos Neto (1991) deixa claro que:<br />
Uma cidade representativa de sociedade de classes mostra que “nem todos têm os mesmos recursos e meios<br />
de transporte”, o que leva à conclusão que “o ônus do deslocamento varia de classe para classe”. Se nem<br />
todos têm os mesmos meios e recursos para o deslocamento, o centro da cidade (como lugar que deve<br />
otimizar os deslocamentos de toda a população) não existe para todos, ou seja, “é centro para uns e não é<br />
centro para outros”. (SANTOS NETO, l991,p. 13)<br />
Pereira (1998) afirma que apesar de existirem vários estabelecimentos comerciais e de serviços<br />
como no centro principal, vê-se que a diversidade e/ou sofisticação não acontece nesses subcentros<br />
distantes, devido ao tamanho do mercado consumidor e/ou poder aquisitivo de sua clientela que, muitas<br />
vezes, não pode pagar por essa sofisticação. Geralmente, os moradores que residem nas áreas polarizadas<br />
por um subcentro utilizam-se, predominantemente, do transporte coletivo urbano para seu deslocamento e<br />
precisam se locomover até a área central para utilizar os serviços bancários, de escritórios, academias,<br />
igrejas, cinemas, pois o “seu” centro não está equipado com esses serviços. (PEREIRA, 1998)<br />
Ocorre uma descentralização de alguns estabelecimentos aliada à centralização de outros, um<br />
processo nitidamente contraditório. Nessa lógica de descentralização/centralização percebemos o<br />
movimento da realidade espacial urbana, que responde aos interesses do sistema capitalista que a<br />
engendra.<br />
Os subcentros possuem relações de complementaridade com o centro tradicional, mas à medida<br />
que as empresas deste buscam novas localizações nos subcentros, os impactos sobre ele ocorrem. Com<br />
isso, há mudança de moradores da área central e uma deterioração desse núcleo, havendo assim a<br />
propagação de projetos de revitalização para que o conteúdo econômico e social dessa área seja<br />
recuperado e o setor imobiliário recobre seus lucros.<br />
Segundo Pereira (1998), a área central é uma das regiões mais bem servidas de infra-estrutura e<br />
de todos os serviços necessários à manutenção das condições de vida. Encontramos calçamento de ruas,<br />
limpeza, água, luz, saneamento básico, praças e os serviços básicos que visam à manutenção das<br />
atividades essenciais para o desenvolvimento urbano. Claro que, em alguns centros, o que se encontra é<br />
muito mais precariedade, abandono, do que ambientes com características descritas acima. Essas vão<br />
variar de acordo com o desenvolvimento econômico de uma cidade atrelado à sua administração.<br />
Percebemos numa breve comparação, diferenciações nas áreas centrais e periféricas, estando<br />
estas últimas quase sempre desprovidas dos meios de consumo coletivo (infra-estrutura, serviços e<br />
equipamentos urbanos) para a vida urbana. (PEREIRA, 1998) Com relação a essas diferenças, Santos<br />
(1990) demonstra claramente a contradição centro-periferia, ao exemplificar o caso de São Paulo que tem<br />
na sua área central grande número de investimentos em infra-estrutura, desde o básico (iluminação, água,<br />
esgoto) até ensino, equipamentos culturais, de saúde, equipamentos de transportes etc. Em contrapartida,<br />
as áreas periféricas de São Paulo não possuem serviços básicos para os moradores que ali residem e não<br />
podem pagar por melhorias, vivendo em condições subnormais.<br />
Referindo-se também à periferização, Pereira (1998) destaca que, nas áreas periféricas, a infraestrutura<br />
é criada aos poucos e à medida que se valoriza a localização, os seus proprietáios são forçados a<br />
buscar outras áreas ainda mais periféricas, cujo desenvolvimento principalmente com relação à infraestrutura,<br />
favorece as áreas intermediárias entre centro e periferia, os denominados vazios urbanos, que se<br />
beneficiam da implantação dessas, gerando ainda mais a especulação imobiliária. O que se tem é o<br />
constante processo de reestruturação urbana, ampliando os limites territoriais, em termos de espaço físico,<br />
mas esse crescimento não é acompanhado das infra-estruturas e melhorias urbanas necessárias para a<br />
manutenção da vida, já que diante dos espaços diferenciados no interior da cidade, deveria haver<br />
69
70<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
melhores inter-relações entre os indivíduos e as frações que vão se definindo para os diversificados usos,<br />
aos quais todos deveriam ter acesso.<br />
A acessibilidade dentro desse espaço segmentado é dificultada para os indivíduos de baixo poder<br />
aquisitivo, que necessitam quase que, exclusivamente, do transporte coletivo para realizar esses usos. A<br />
configuração espacial que se visualiza, como o processo de expansão urbana, é composta por<br />
descontinuidades, espaços segmentados do habitar, do lazer, do consumir, tornando-se cada vez mais<br />
necessário promover a acessibilidade, principalmente para os segmentos de baixo poder aquisitivo.<br />
Seria importante favorecer a descentralização de equipamentos, para que os segmentos de menor<br />
poder aquisitivo possam adquirir os meios de consumo necessários a sua manutenção, sem grandes<br />
deslocamentos que são dispendiosos tanto em tempo quanto em dinheiro.<br />
Assim, a ocorrência de subcentros pode ser uma forma de diminuir as desigualdades<br />
socioespaciais, mesmo considerando que é preciso haver mercado potencial para atrair investimentos do<br />
setor comercial e de serviços nas diferentes áreas. O poder público ao instalar equipamentos urbanos,<br />
investir na infra-estrutura, poderá valorizar essas áreas mais prejudicadas. Consideramos que isso é um<br />
processo e que os resultados podem ser obtidos a longo prazo, mas é preciso iniciá-lo. Aliado a isso teria<br />
que ocorrer uma reestruturação do transporte coletivo para favorecer a acessibilidade dos que possuem<br />
menor poder aquisitivo às diferentes partes da cidade, de modo a adquirir o que não existe na sua área.<br />
Esses moradores, que dependem de transporte coletivo, pelo qual pagam (e para esses o custo é<br />
alto) precisam ter reduzido os seus constantes deslocamentos para adquirir serviços de saúde, serviços<br />
bancários, de educação e lazer já que ficam, na maioria das vezes, com restrições para a realização do<br />
consumo pelo encarecimento do deslocamento ou por falta de acessibilidade.<br />
No próximo item faremos breves considerações a respeito da centralidade, que se redefine,<br />
multiplica-se, e se dispersa com a reestruturação do espaço urbano.<br />
2.3. Centralidade.<br />
A centralidade é entendida como processo e o(s) centro(s) como expressão territorial, sendo a<br />
centralidade identificada pela diversidade de fluxos e pela fluidez no território. Ela não se localiza em<br />
toda a área central, sendo mais visível em alguns pontos, para onde convergem os fluxos materiais e<br />
imateriais. No interior do centro podemos encontrar um ou mais pontos que expressam a centralidade,<br />
podendo identificar a centralidade passada e a presente, pois ela está em constante movimento.<br />
(GRZEGORCZYK, 2000)<br />
Para Frúgoli Júnior (2000), o processo de expansão urbana favorece a descentralização, que dá<br />
origem a novas centralidades, mas mesmo assim não há uma perda da importância exercida pelo centro<br />
tradicional.<br />
Com a multiplicação e diversificação de áreas comerciais e de serviços, há uma descentralização<br />
e uma relocalização de novos centros, concomitante ao desenvolvimento de novas centralidades, que<br />
podem ser apreendidas em escalas intraurbana e interurbana.<br />
As novas formas que vão propiciar essas novas centralidades, não somente em cidades de grande<br />
porte, mas também nas cidades médias, como shopping-centers, hipermercados, galerias comerciais,<br />
subcentros, vias especializadas, são empreendidas pelo setor imobiliário, favorecem o fim da centralidade<br />
única e fazem emergir a centralidade múltipla e complexa (BELTRÃO SPOSITO, 2001). Associado a<br />
isso está a expansão territorial urbana, com uma descontinuidade da malha urbana, que proporciona uma<br />
fragmentação e diferenciação socioespacial, diante dessas redefinições de centralidades. É importante<br />
destacar que:<br />
Essa redefinição não pode, no entanto, ser analisada apenas no plano da localização das atividades<br />
comerciais e de serviços, como já tem sido destacado por diferentes autores, mas deve ser estudada a partir<br />
das relações entre essa localização e os fluxos que ela gera e que a sustentam. Os fluxos permitem a<br />
apreensão da centralidade, porque é através dos nódulos de articulação da circulação intra e interurbana que<br />
ela se revela. Essa circulação é, evidente, redefinida constantemente pelas mudanças ocorridas na localização<br />
territorial das atividades que geram a concentração.<br />
(BELTRAO SPOS1TO, 2001, p. 238)
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
A centralidade se redefine continuamente, pelos fluxos das pessoas, mercadorias, idéias,<br />
informações, não estando associada somente ao que está fixo no espaço, mais ainda pelas apropriações,<br />
pelas relações que se estabelecem com ele, no decorrer do tempo.<br />
Na cidade de Presidente Prudente, a redefinição da centralidade intraurbana se deu com a<br />
descentralização dos equipamentos comerciais e de serviços, que favoreceu o desenvolvimento de novas<br />
áreas centrais, além do quadrilátero definido como centro. Podemos perceber que surgiram, diante da<br />
expansão territorial, novas formas comerciais como: subcentros da COHAB, do Jardim Bongiovani, do<br />
Conjunto Habitacional Ana Jacinta; vias especializadas como Avenida Washington Luis (serviços<br />
médicos), Avenida Brasil (ramo de autopeças); shoppingcenters (Americanas e Prudenshopping), que<br />
geram centralidades que se diferenciam entre si e também durante o dia. Elas se redefinem diante dos<br />
fluxos, dos horários, da clientela, etc.<br />
Dessa forma, ocorrem centralidades e subcentralidades, pois algumas dessas formas citadas<br />
anteriormente, como subcentros, geram fluxos que se originam de parte do território urbano. (BELTRÃO<br />
SPOSITO, 2001)<br />
A centralidade é definida e redefinida constantemente diante da produção e reprodução do<br />
espaço, que cria e recria formas comerciais, propiciando mudanças espaciais, fluxos na escala intra e<br />
interurbana, possibilitado pelo uso intenso dos transportes que amplia a circulação.<br />
Com a descentralização e recentralização das atividades comerciais e de serviços, são criadas e<br />
recriadas centralidades a partir das novas formas que se expressam no espaço, portanto há uma<br />
centralidade múltipla, pois elas se diferenciam entre si, do ponto de vista funcional, no plano econômico e<br />
há uma centralidade polinucleada, que é determinada pelos fluxos gerados e clientela atendida, no plano<br />
socioespacial. Além dos fluxos e das diferentes formas comerciais, que definem a centralidade, há<br />
variações de consumo e mobilidade no decorrer do tempo, em relação aos espaços de consumo,<br />
favorecendo a definição de uma centralidade cambiante. No âmbito das escalas intra e interurbana, a<br />
descentralização e recentralização atende clientelas das diferentes partes da cidade e também de cidades<br />
da região, gerando uma centralidade complexa, à medida que essas escalas se entrecruzam. (BELTRÃO<br />
SPOSITO, 2001)<br />
Para Alves (1999), a centralidade contribui para o reforço da desigualdade espacial, diante das<br />
especificidades de funções de cada novo centro, que leva para as periferias pessoas e atividades, que não<br />
fazem mais parte dessa forma especializada e funcional. Para a autora, o processo de reprodução espacial<br />
tende a funcionalizar os espaços, com normas, limitando os usos e apropriações dos lugares pelos<br />
diferentes segmentos da sociedade.<br />
Há a expansão da centralidade, com novas formas comerciais e de serviços, algumas delas<br />
especializadas, o que restringe o acesso de todos, enquanto o centro em alguns momentos pode favorecer<br />
uma melhor possibilidade de apropriação, por abrigar a diversidade. Temos que ter claro, que essa<br />
diversidade não é condição única para permitir a apropriação, sendo necessário possibilitar o acesso, que<br />
muitas pessoas não possuem em função da área em que residem e dos custos exigidos para se chegar a<br />
esse centro.<br />
Tem-se uma multiplicidade de áreas centrais, que reforça a segmentação e fragmentação do<br />
espaço e redefine a centralidade como dispersa em núcleos especializados funcionalmente em<br />
contraposição à centralidade tradicional que se caracteriza pela diversidade da área central.<br />
3- Referências bibliográficas.<br />
ABREU, Dióres Santos. Formação histórica de uma cidade pioneira paulista: Presidente Prudente.<br />
Presidente Prudente: FFCLPP, 1972.<br />
ALVES, Glória da Anunciação. O uso do centro da cidade de São Paulo e sua possibilidade de<br />
apropriação. São Paulo: FFLCHJUSP, Tese, 1999.<br />
BEAUJEU- GUARNIER, Jaqueline. Geografia Urbana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980,<br />
p. 13-95.<br />
BELTRÃO SPOSITO, Maria E. O chão em Presidente Prudente: a lógica da expansão territorial<br />
urbana. Rio Claro: IGCE, Dissertação (Mestrado em Geografia) 1983.<br />
71
72<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
__________. O centro e as formas de expressão da centralidade urbana. Revista de Geografia. São<br />
Paulo: UNESP. n. 10, 1991, p. 1-18.<br />
__________. O chão arranha o céu: a lógica da (re)produção monopolista da cidade. São Paulo:<br />
USP, Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia), 1991.<br />
_________. Multi(poli)centralidade urbana em Bauru, São José do Rio Preto e Presidente<br />
Prudente. Projeto de Pesquisa Integrada. Presidente Prudente, 1996.<br />
_________ . (org.). Textos e Contextos para a leitura geográfica de uma cidade média. Presidente<br />
Prudente: Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2001, p. 235-253.<br />
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.<br />
CHORLEY, Richard; ARGETT, Peter. La Geografía y los modelos socio-económicos. Instituto de<br />
Estúdios de administracion local. Colecion Nuevo Urbanismo. Madrid, 1971.<br />
CORRÊA, Roberto L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor.<br />
Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São Paulo: Cortez: Ed.<br />
da Univ. de São Paulo, 2000.<br />
GEORGE, Pierre. Geografia Urbana. São Paulo: DIFEL, 1983. C,REGORZYK, V. Novo centro de<br />
Maringá: estratégias e conflitos na produção do espaço urbano. Presidente Prudente: <strong>FCT</strong>/UNESP,<br />
Dissertação, 2000.<br />
JOHNSON, James H. Geografia Urbana. Barceloiia: Oikos-tau, 1974. Trad. de Joan Olivar.<br />
LIMA, Mansa Davi. Os Conjuntos Habitacionais: Uma Modalidade de Ocupação do Espaço<br />
Urbano. São Paulo: USP, Dissertação, 1980.<br />
MELAZZO, Everaldo. Mercado Imobiliário, expansão territorial e transformações intraurbanas: o<br />
caso de Presidente Prudente-SP/1975-1990. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro,<br />
Dissertação (Mestrado em Economia), 1993. MONTESSORO, C. C. L. Shoppings Centers e a<br />
(re)estruturação urbana em Presidente Prudente-SP. Presidente Prudente: <strong>FCT</strong>/UNESP, Dissertação<br />
(Mestrado em Geografia), 1999. MULLER, Nice L. “A área central da cidade”. In: AZEVEDO, A. de. A<br />
cidade de São Paulo- Estudos de Geografia Urbana. São Paulo: Nacional, 1958.<br />
PEREIRA, Sílvia Regina. Análise do sub-centro comercial e de serviços do Jardim Bongiovani-<br />
Presidente Prudente-SP. Presidente Prudente: <strong>FCT</strong>/UNESP, Monografia (Bacharelado em Geografia),<br />
1998.<br />
SANTOS, Milton. O centro da cidade de Salvador. Salvador: Univ.da Bahia, 1959.<br />
________. Metrópole corporativa fragmentada: O caso de São Paulo.São Paulo: Nobel,1990.<br />
SANTOS NETO, Isaías de Carvalho. Centralidade Urbana, Espaço & Lugar: Esta questão na cidade<br />
do Salvador. São Paulo: FAU/USP, Tese, 1991.<br />
SINGER, Paul. O uso do solo urbano na economia capitalista. Boletim Paulista de Geografia. São<br />
Paulo: AGB, n. 57, p. 77-92, 1980.<br />
SOARES, Paulo R. Rodrigues. A metropolização de São Paulo e a produção do espaço urbano em<br />
Mogi das Cruzes: impactos da desconcentração metropolitana. Rio Claro: IGCE, Dissertação, 1994.<br />
SPOSITO, Eliseu Savério. Produção e Apropriação da Renda Fundiária Urbana em Presidente<br />
Prudente. São Paulo: USP, Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia), 1990<br />
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln Institui,<br />
1998.<br />
WHITACKER, Arthur M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente:<br />
expansão/desdobramento da área central. Presidente Prudente: <strong>FCT</strong>/UNESP, Monografia<br />
(Bacharelado em Geografia), 1991.<br />
________. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão sobre a<br />
centralidade urbana. Presidente Prudente: <strong>FCT</strong>/ UNESP, Dissertação (Mestrado em Geografia), 1997.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
O URBANO COMO LIBERTAÇÃO – UMA LEITURA SOBRE LEFEBVRE *<br />
73<br />
Helton Ricardo OURIQUES **<br />
Resumo: Este texto tem por objetivo central discutir o significado do urbano em Henri Lefebvre, um dos<br />
maiores pensadores do Século XX. Apresenta o ponto de vista do autor sobre a urbanização da sociedade,<br />
sobre o domínio capitalista na cidade e sobre os problemas da vida cotidiana. Discute ainda a sociedade<br />
urbana como possibilidade de emancipação humana.<br />
Palavras-chave: Cidade; Urbano; Cotidiano; Revolução.<br />
Resumen: Este texto tiene por objetivo central discutir el significado de lo urbano en Henri Lefebvre, uno<br />
de los mayores pensadores del siglo XX. Presenta el punto de vista del autor sobre la urbanización de la<br />
sociedad, sobre el dominio capitalista en la ciudad y sobre los problemas de la vida cotidiana. Discute<br />
además la sociedad urbana como posibilidad de emancipación humana.<br />
Palabras llave: Ciudad; Urbano; Cotidiano; Revolución.<br />
Sem dúvida, ousadia é uma palavra que pode, de maneira clara, caracterizar o pensamento de Lefebvre.<br />
Em sua obra, somos alertados para os perigos da fragmentação e da totalidade, formas distintas de<br />
reducionismo e de simplificação. Por isso, foi um crítico de todas as formas de totalitarismos (em especial<br />
o político e o científico), mostrando os equívocos dos determinismos históricos, sociológicos e<br />
econômicos. A preocupação que perpassa sua obra é o vir-a-ser 49 . Daí a aposta na sociedade urbana<br />
como caminho possível para a instauração do reino da liberdade de Marx.<br />
Iconoclasta de pré-conceitos, Lefebvre nos inquieta e nos faz refletir. Só isso já justifica sua<br />
importância, num tempo em que a produção científica caracteriza-se, predominantemente, pela repetição<br />
de verdades absolutas. Mas, para além da inquietação metodológica e teórica, há neste autor uma<br />
profunda reflexão sobre o sentido da urbanização da sociedade, sobre a miséria da vida cotidiana e sobre<br />
o domínio capitalista no espaço urbano. Assim, o objetivo deste texto é apresentar sucintamente essas<br />
reflexões, presentes na obra lefebvreviana 50 .<br />
1. A urbanização da sociedade.<br />
A urbanização da sociedade aparece em Lefebvre como uma tendência, um horizonte possível.<br />
Para ele, a sociedade urbana é uma necessidade teórica: “contra o empirismo que constata, contra as<br />
extrapolações que se aventuram, contra, enfim, o saber em migalhas pretensamente comestíveis, é uma<br />
teoria que se anuncia a partir de uma hipótese teórica” 51<br />
* Texto publicado em 2001 (v.8), produzido para conclusão da disciplina Urbanização e Produção da Cidade, ministrada pela Profa. Dra.<br />
Maria Encarnação Beltrão Sposito, no primeiro semestre de 2000.<br />
** <strong>Doutor</strong> pelo Curso de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> de Presidente Prudente. <strong>Professor</strong> do Departamento de Economia da<br />
UFSC. Correio eletrônico: heltonricardo@ig.com.br<br />
49 É sintomático, aliás, que Lefebvre tenha escrito um livro sobre Hegel, Nietzsche e Marx que, em sua opinião, expressavam o Pensamento<br />
do Século XIX.<br />
50 Foge ao limite deste tipo de trabalho um estudo aprofundado do conjunto da obra de Lefebvre. Assim, basearemos este texto em O direito<br />
à cidade, A revolução urbana, A vida cotidiana no mundo moderno e O pensamento marxista e a cidade.<br />
51 Lefebvre, H. A revolução urbana. Belo Horizonte, Ed. da UFMG, 1999, p. 18.
74<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O percurso que vai da cidade política à cidade industrial, passando pela cidade comercial, é<br />
analisado de forma sintética, mas complexa 52 . Importa aqui reter que a passagem da cidade comercial<br />
para a industrial é marcada pela “inflexão do agrário para o urbano”. Estando constituída a cidade<br />
industrial, entra-se no que é denominado de zona crítica, isto é, o duplo movimento de implosão –<br />
explosão. Sob o domínio da indústria coexistem, de forma conflituosa, várias lógicas: “a da mercadoria<br />
(levada ao limite de tentar a organização da produção de acordo com o consumo); a do Estado e da lei; a<br />
da organização espacial (planejamento do território e urbanismo); a do objeto; a da vida cotidiana; a que<br />
se pretende extrair da linguagem, da informação e da comunicação, etc.” 53 .<br />
Mas Lefebvre não deixa de assinalar enfaticamente o denominador comum: a lógica do capital,<br />
já que a cidade, “ou o que dela resta, ou o que ela se torna” é o espaço da produção, da realização e da<br />
distribuição da mais valia.<br />
O percurso em direção à sociedade urbana é também detalhado em outros termos. Há três tempos<br />
ou domínios: rural, industrial e urbano. Cada um destes corresponde, respectivamente, ao predomínio das<br />
lógicas da necessidade, do trabalho e da fruição. O rural implica a “orientação, a demarcação, a<br />
capacidade de se apossar dos sítios e nomear os lugares” 54 . É o tempo da distinção cidade – campo, que<br />
corresponde, como destacado no Direito à Cidade, “...à separação entre o trabalho material e o trabalho<br />
intelectual, e por conseguinte entre o natural e o espiritual” 55 . É o tempo da produção submetida à<br />
natureza, ou como diz Lefebvre, de predomínio de períodos de fome e escassez.<br />
Já o industrial é a “substituição das particularidades naturais, ou supostas como tais, por uma<br />
homogeneidade metódica e sistematicamente imposta” 56 . Ou seja, da racionalidade capitalista que<br />
domina a natureza e a cidade. É o espaço – tempo da mais–valia. Mas não só dominação, também<br />
produção da natureza e da cidade, produção do espaço do e para o capital. Assim, “em escala mundial, o<br />
espaço não é somente descoberto e ocupado, ele é transformado, a tal ponto que sua ‘matéria- prima’, a<br />
‘natureza’, é ameaçada por esta dominação que não é uma apropriação. A urbanização geral é um aspecto<br />
desta colossal extensão” 57 .<br />
Quanto à era do urbano, Lefebvre adverte que é necessário abandonar o olhar do passado: “sua<br />
fonte, sua origem, seu ponto forte, não se encontram mais na empresa. Ele não pode colocar-se senão do<br />
ponto de vista do encontro, da simultaneidade, da reunião, ou seja, dos traços específicos da forma<br />
urbana” 58 . O urbano, em processo de constituição, seria o espaço–tempo da fruição, da superação da vida<br />
cotidiana alienada.<br />
Afirmamos “em processo de constituição” porque ainda estamos, no dizer de Lefebvre, no<br />
momento em que “todas as condições se reúnem para que exista uma dominação perfeita, para uma<br />
exploração apurada das pessoas, ao mesmo tempo como produtores, como consumidores de produtos,<br />
como consumidores de espaço” 59 . Daí o espaço urbano ser uma “contradição concreta”.<br />
Contradição concreta porque, ao mesmo tempo em que a segregação e as decupagens se<br />
inscrevem no urbano, este aponta a possibilidade de um novo humanismo, o “humanismo na, para e pela<br />
sociedade urbana”, porque também há encontros, desencontros, desejos que se manifestam no espaço da<br />
urbanidade. A leitura dialética que ele faz a favor e contra a rua, a favor e contra o monumento ilustram<br />
que o urbano é, ao mesmo tempo “... um campo de tensões altamente complexo; é uma virtualidade, um<br />
possível – impossível que atrai para si o realizado, uma presença – ausência sempre renovada, sempre<br />
exigente” 60 . Neste sentido, a urbanização da sociedade ainda não é a sociedade urbana, que é um objeto<br />
virtual, ou objeto possível, que necessita ser entendido como processo e como práxis.<br />
2. Cidade, dominada pelo capital.<br />
52<br />
Ver o primeiro capítulo de A revolução urbana.<br />
53<br />
Idem, p. 43.<br />
54<br />
Idem, p. 41.<br />
55<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade. São Paulo, Moraes, 1991, p. 28.<br />
56<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana. Belo Horizonte, Ed. da UFMG, 1999, p. 42.<br />
57<br />
Lefebvre, H. O pensamento marxista e a cidade. Póvoa de Varzim, Ulissea, 1972, p. 169.<br />
58<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana. Belo Horizonte. Belo Horizonte, Ed. da UFMG, 1999, p. 44.<br />
59<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade, p. 26.<br />
60<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana, p. 47.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
A cidade, que no passado fora o espaço do lúdico e do uso (em uma palavra: a festa), sob o<br />
domínio do modo de produção capitalista é produzida e reproduzida como lugar de consumo e, ao mesmo<br />
tempo, como consumo de lugar, idéia que Lefebvre evidencia em várias passagens de seus livros.<br />
Em O direito à cidade, por exemplo, de início somos alertados para o sentido do patrimônio<br />
histórico e arquitetônico dos núcleos urbanos antigos nas cidades modernas: “as qualidades estéticas<br />
desses antigos núcleos desempenham um grande papel na sua manutenção. Não contém apenas<br />
monumentos, sedes de instituições, mas também espaços apropriados para as festas, para os desfiles,<br />
passeios, diversões. O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta qualidade para<br />
estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia, suburbanos” 61 .<br />
Lefebvre insiste que o domínio do valor de troca e a conseqüente disseminação da mercadoria<br />
pela industrialização trazem em si a tendência de destruir a cidade e a realidade urbana, já que<br />
subordinam o uso aos imperativos da lógica capitalista. Daí ele afirmar que a cidade capitalista criou o<br />
centro de consumo.<br />
Neste sentido, a centralidade é inserida no contexto de produção e reprodução das relações de<br />
produção, pela mediação do consumo, seja através da circulação de mercadorias (processo de venda), seja<br />
pelo consumo do centro urbano enquanto obra: “nesse lugares privilegiados, o consumidor também vem<br />
consumir o espaço; o aglomerado dos objetos nas lojas, vitrinas, mostras, torna-se razão e pretexto para a<br />
reunião de pessoas; elas vêem, olham, falam, falam-se. E é o lugar do encontro, a partir do aglomerado<br />
das coisas. Aquilo que se diz e se escreve é antes de mais nada o mundo da mercadoria, a linguagem das<br />
mercadorias, a glória e a extensão do valor de troca” 62 .<br />
Em A vida cotidiana no mundo moderno, Lefebvre escreve brilhantemente sobre os múltiplos<br />
significados do automóvel na vida urbana. A destacar aqui que o espaço acaba sendo concebido em<br />
função das necessidades do automóvel. A livre circulação dos veículos subjuga o ir e vir dos homens na<br />
cidade. Em suma, o automóvel conquista a cidade, mas não sem efeitos devastadores: “... no trânsito<br />
automobilístico, as pessoas e as coisas se acumulam, se misturam sem se encontrar. É um caso<br />
surpreendente de simultaneidade sem troca, ficando cada elemento na sua caixa, cada um bem fechado na<br />
sua carapaça. Isso contribui também para deteriorar a vida urbana e criar a psicologia, ou melhor, a<br />
psicose do motorista” 63 .<br />
O automóvel, expressão máxima do domínio do capital sobre a cidade, impõe–se como<br />
prioridade absoluta na produção do espaço. Em nome do sistema viário mais eficiente, mais adequado, “a<br />
cidade se defende mal”, no dizer de Lefebvre. As necessidades do trânsito (do circular) substituem as<br />
necessidades do imóvel (do habitar). A planificação do cotidiano pelo urbanismo é, na verdade, o<br />
urbanismo das necessidades do automóvel. Por isso “... o cotidiano, em larga proporção hoje em dia, é o<br />
ruído dos motores, seu uso racional, as exigências da produção e da distribuição dos carros, etc.” 64 .<br />
O urbanismo, aliás, é duramente criticado por Lefebvre. Todos os tipos de urbanismo – o dos<br />
homens de boa vontade, o dos administradores públicos e o dos promotores de vendas, singularmente<br />
descritos em O direito à cidade – expressam uma estratégia global de transformar o espaço urbano em<br />
lócus privilegiado da formação, realização e distribuição da mais valia global. O urbanismo é visto como<br />
uma superestrutura da sociedade burocrática de consumo dirigido, pois “organiza um setor que parece<br />
livre e disponível, aberto à ação racional: o espaço habitado” 65 .<br />
O urbanismo, que se pretende sistema, totalidade, não é a ordenação do caos urbano. Para<br />
Lefebvre, o urbanismo é o próprio caos, sob uma ordem imposta. A “ilusão urbanística” existe porque o<br />
urbanista não compreende o urbano: “ele substitui, tranqüilamente, a práxis por suas representações do<br />
espaço, da vida social, dos grupos e de suas relações. Ele não sabe de onde tais representações provém,<br />
nem o que elas implicam, ou seja, as lógicas e as estratégias a que servem. Se sabe, isso é imperdoável, e<br />
sua cobertura ideológica se rompe, deixando aparecer uma estranha nudez” 66 .<br />
61<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade, p. 14.<br />
62<br />
Idem, p. 131.<br />
63<br />
Lefebvre, H. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo, Ática, 1991, p. 111.<br />
64<br />
Idem, p. 111.<br />
65<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana, p. 150.<br />
66 Idem, p. 141.<br />
75
76<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A ilusão urbanística dissimula o sentido fundamental das estratégias capitalistas no espaço<br />
urbano: a reprodução das relações de produção. Por isso, Lefebvre insiste na perspectiva da produção do<br />
espaço: “o capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na conquista do espaço, em<br />
termos triviais, na especulação imobiliária, nas grandes obras (dentro e fora das cidades), na compra e na<br />
venda do espaço. Esse é o caminho (imprevisto) da socialização das forças produtivas, da própria<br />
produção do espaço” 67 .<br />
O urbanismo se constitui e se consolida como uma ideologia do capital, uma estratégia de<br />
dominação: “declarar que a cidade se define como rede de circulação e de consumo, como centro de<br />
informações e de decisões é uma ideologia absoluta; esta ideologia, que procede de uma redução–<br />
extrapolação particularmente arbitrária e perigosa, se oferece como verdade total e dogma, utilizando<br />
meios terroristas. Leva ao urbanismo dos canos, da limpeza pública, dos medidores” 68 .<br />
Inegavelmente, Lefebvre está muito distante dos planejadores urbanos, mesmo os de esquerda.<br />
Oscar Niemeyer, como que se isentando do resultado de sua obra máxima, refere-se a Brasília da seguinte<br />
forma: “hoje algumas pessoas criticam Brasília, acusam-na de ser desumana, fria, impessoal. Vazia, em<br />
suma. (...) Não temos culpa se ela tornou-se vítima das injustiças da sociedade capitalista” 69 . Para os que,<br />
como nós, concordam com a análise de Lefebvre sobre o urbanismo, brevemente exposta neste texto, não<br />
é possível isentar o arquiteto. A Obra em questão, para além dos monumentos, confirma o predomínio do<br />
automóvel e, portanto, da lógica individualista. Ela é o que é porque sua forma original, projetada,<br />
planejada e executada racionalmente, definiu seu sentido: expressa as injustiças do capitalismo porque<br />
seu urbanismo, enquanto ideologia e prática, é um urbanismo de classe, um urbanismo do capital.<br />
3. O cotidiano: entre a miséria e a emancipação.<br />
A crítica da vida cotidiana efetuada por Lefebvre chama a atenção para o predomínio do valor de<br />
troca na cidade, em detrimento do valor de uso (aliás, esse é um argumento - chave em suas análises). No<br />
mundo moderno, as ricas subjetividades possíveis do cotidiano tornam-se objeto de uma organização<br />
social: “o cotidiano deixou de ser sujeito para se tornar objeto” 70 . Há, em várias passagens das obras<br />
estudadas, referências a esta colonização do cotidiano.<br />
Em A vida cotidiana no mundo moderno, Lefebvre argumenta que o cotidiano existe como<br />
objeto de atuação capitalista: “o cotidiano torna-se objeto de todos os cuidados: domínio da organização,<br />
espaço–tempo da auto–regulação voluntária e planificada. Bem cuidado, ele tende a constituir um sistema<br />
com um bloqueio próprio (produção–consumo–produção). Ao se delinear as necessidades, procura-se<br />
prevê-las; encurrala-se o desejo. A cotidianidade se tornaria assim, a curto prazo, o sistema único, o<br />
sistema perfeito...” 71 . O cotidiano é visto, portanto, não como um setor à parte, como algo secundário.<br />
Lefebvre o coloca no centro das discussões porque é no cotidiano e pelo cotidiano que são produzidas e<br />
reproduzidas as relações sociais capitalistas.<br />
Em outra obra, Lefebvre vai conceituar o cotidiano como “...lugar social de uma exploração<br />
refinada e de uma passividade cuidadosamente controlada. A cotidianidade não se instaura no seio do<br />
urbano como tal, mas na e pela segregação generalizada: a dos momentos da vida, como a das atividades”<br />
72 . Essa exploração refinada se inscreve na cidade pela fragmentação dos momentos da vida: um morar<br />
periférico – um trabalhar central – um divertir (para os que podem) distante. E a passividade? As grandes<br />
avenidas, o predomínio, já comentado, da circulação sobre a reunião, individualizam o cotidiano: eis a<br />
cidade do automóvel! 73<br />
67<br />
Idem, p. 143.<br />
68<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade, p. 43.<br />
69<br />
In: O correio da Unesco. Rio de Janeiro, ano 27, n. 8, agosto de 1999, p. 30.<br />
70<br />
Lefebvre, H. A vida cotidiana no mundo moderno, p. 68.<br />
71<br />
Idem, p. 82.<br />
72<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana, p. 129.<br />
73<br />
Ainda quanto ao predomínio da circulação, lembramos aqui que Lefebvre detalha, em O direito à cidade, os significados da “renovação<br />
urbana” na Paris da segunda metade do Século XIX. A abertura das avenidas expulsou, segundo ele, o proletariado do centro urbano e da<br />
própria cidade. Afinal, depois da Comuna de Paris, a burguesia percebeu que a organização espacial também era importante enquanto<br />
estratégia de classe: as barricadas não seriam mais toleradas.
OURIQUES, H. R.<br />
O urbano como libertação – uma leitura sobre Lefebvre.<br />
A vida cotidiana fragmentada é taxativamente retratada como miséria generalizada: “basta abrir<br />
os olhos para compreender a vida quotidiana daquele que corre de sua moradia para a estação próxima ou<br />
distante, para o metrô superlotado, para o escritório ou para a fábrica, para retomar à tarde o mesmo<br />
caminho e voltar para casa a fim de recuperar as forças para o dia seguinte” 74 . Essa imagem, a princípio<br />
estereotipada, de um cotidiano pautado pela rotina, pela opressão, é surpreendentemente reforçada quando<br />
Lefebvre se refere à questão dos lazeres que aparecem como fuga do cotidiano, mas que também fazem<br />
parte – são o outro lado – do cotidiano alienado.<br />
Isso aparece com toda a ênfase na reflexão sobre o consumo turístico: “em Veneza, o turista não<br />
devora Veneza, mas o discurso sobre Veneza: discursos dos guias (escritos), dos conferencistas (orais),<br />
dos gravadores e discos. Ele escuta e olha. O artigo que lhe é fornecido mediante pagamento, a<br />
mercadoria, o valor de troca, é o comentário verbal sobre a Praça São Marcos... (...). O valor de uso, a<br />
coisa em si (a obra) escapa ao consumo devorador” 75 . Findo o tempo da Festa, resta o espetáculo.<br />
O mal–estar causado pela vida cotidiana, que se projeta na fuga do cotidiano, também é<br />
capturado pela lógica do valor de troca: “...como não querer fugir do cotidiano? Bem entendido, esse<br />
desejo, essa aspiração, essa ruptura e essa fuga são rápida e facilmente recuperáveis: organização do<br />
turismo, institucionalização, programação, miragens codificadas, colocação em movimento de vastas<br />
migrações controladas” 76 .<br />
Assim, mesmo os espaços destinados ao lúdico são, para Lefebvre, simulacros do que ele chama<br />
de “espaço livre” dos encontros e jogos. Inclusive os espaços verdes nas cidades modernas são “símbolos<br />
cuja presença marca a ausência” 77 e reforçam a vida cotidiana cinzenta e fria (desumana), da cidade<br />
produzida pelo capital. Os lazeres entram para a vida cotidiana porque a expansão dos tempos livres, em<br />
decorrência da automatização, é captada em benefício da “burguesia dirigente” 78 : “se expande os tempos<br />
livres, [a burguesia] só o faz subordinando-os à mais–valia através da industrialização e da<br />
comercialização desses mesmos tempos e dos espaços que lhes correspondem” 79 . Desta forma, se é<br />
permitida (e até mesmo incentivada) a evasão através das férias e do turismo é porque já estão colocados<br />
os mecanismos lucrativos de apropriação capitalista dos momentos de fuga do cotidiano. Enfim, foge-se<br />
do cotidiano apenas para reforçá-lo posteriormente e a própria fuga é um evento cotidiano.<br />
4. Conclusões: o urbano, teatro da revolução.<br />
Pela exposição precedente, poder-se-ia concluir que Lefebvre não vê saídas, pois tudo parece<br />
caminhar para a dominação perfeita. Contudo, apesar de toda a miséria e do controle capitalista, a cidade<br />
e o cotidiano encerram as possibilidades da revolução. O urbano deve ser realizado como prática social<br />
através do exercício do direito à cidade, eis o caminho apontado 80 .<br />
Há uma insistência, em todos os livros que neste texto foram utilizados, na afirmação de que o<br />
primeiro passo é a inversão da dominação do valor de troca sobre o valor de uso: o reino do uso se<br />
inscreve como necessidade social para a criação da sociedade urbana. Assim, o direito à cidade “...se<br />
manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na sociedade, ao<br />
habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do<br />
direito de propriedade) estão implicados no direito à cidade” 81 .<br />
74<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade, p. 117<br />
75<br />
Lefebvre, H. A vida cotidiana no mundo moderno. p. 144.<br />
76<br />
Idem, p. 94.<br />
77<br />
Lefebvre, H. A revolução urbana. p. 38.<br />
78<br />
Essa conclusão aparece no último capítulo de O pensamento marxista e a cidade.<br />
79<br />
Lefebvre, H. O pensamento marxista e a cidade, p. 171<br />
80<br />
Em A revolução urbana, Lefebvre assinala a necessidade de se compreender o urbano para além das ciências parcelares. Propõe,<br />
inclusive, uma “ciência do urbano”, a ciência de um “novo humanismo”.<br />
81<br />
Lefebvre, H. O direito à cidade, p. 135.<br />
77
78<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Especificamente em relação à apropriação, importante papel desempenha a centralidade urbana.<br />
Lefebvre destaca que, para além das funções criadas pelo capitalismo (centro de decisões, local de<br />
convergência das comunicações e informações), deve-se reafirmar o papel de lugar dos encontros e de<br />
vivência do lúdico, porque o verdadeiro projeto é acabar com as separações “...cotidianidade – lazeres ou<br />
vida cotidiana–festa. O problema é restituir a festa transformando a vida cotidiana. A cidade foi um<br />
espaço ocupado ao mesmo tempo pelo trabalho produtivo, pelas obras, pelas festas. Que ela reencontre<br />
essa função para além das funções, na sociedade urbana metamorfoseada” 82 .<br />
Portanto, caberia retomar a centralidade 83 e recuperar a Festa, restituindo o uso e gozar a cidade<br />
(a Obra). O projeto político 84 delineado por Lefebvre traduz-se na construção da sociedade urbana, o<br />
espaço–tempo da fruição, do uso e do gozo emancipatório da cidade e da Festa, hoje caricaturada em<br />
espetáculo. Se é esse o caminho possível, cabe vivenciá-lo na práxis.<br />
5. Referências Bibliográficas.<br />
LEFEBVRE, Henri A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. 178 p.<br />
LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991. 216 p.<br />
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991.145 p.<br />
LEFEBVRE, Henri . O pensamento marxista e a cidade. Póvoa de Varzim: Editora Ulisseia 175 p.<br />
82 Idem, p. 129.<br />
83 A centralidade é fundamental no projeto político de Lefebvre porque, como destacado em A revolução urbana: “não existem lugares de<br />
lazer, de festa, de saber, de transmissão oral ou escrita, de invenção, de criação, sem centralidade” (p. 93)<br />
84 Para detalhes sobre as estratégias políticas apontadas por Lefebvre, ver: a) em A vida cotidiana no mundo moderno o capítulo V; b) em<br />
O direito à cidade, os capítulos XII, XII e XIV; c) em A revolução urbana, os capítulos VII e IX.
Á LUZ DO TEMPO: IMAGEM E MEMÓRIA URBANA EM PRESIDENTE PRUDENTE ∗<br />
Valéria Cristina Pereira da SILVA ∗∗<br />
O tempo é a minha matéria<br />
o tempo presente, os homens presentes,<br />
a vida presente.<br />
(Carlos Drunimond de Andrade, 1967, p. 111..)<br />
Resumo: O presente artigo trata de memória e da imagem da cidade de Presidente Prudente. Esse<br />
trabalho da memória vem subsidiado por significativa e necessária discussão de conceitos. A cidade e o<br />
tempo descritos de uma memória viva apresentam-se como formas de compreensão e designam uma<br />
imagem, um retrato. No caminho das lembranças, nos labirintos do esquecimento a cidade se desenha<br />
revelada por aqueles personagens do cotidiano que viveram e construíram este espaço.<br />
Palavras-chave: cidade; memória; imagens; tempo; espaço.<br />
Resumen: El presente artículo tiene como temática la memoria e imagen de la ciudad de Presidente<br />
Prudente. Este trabajo viene subsidiad por una significativa y necesaria discusión de conceptos. La ciudad<br />
y el tiempo descriptos a partir de la memoria viva se presentan como formas de comprensión y designan<br />
una imagen, un retrato. En el camino de los recuerdos, en los laberintos del vivido la ciudad se presenta<br />
revelada por aquellos personajes del cotidiano que vivieron y construyeron este espacio.<br />
Palabras-llave: Ciudad; memoria; imagen; tiempo; espacio.<br />
A sensibilidade despertada de uma experiência viva é capaz de trazer poderosas imagens do<br />
passado. Contar, narrar é empreender novamente a viagem, é revisitar lugares urbanos convidando outros<br />
a o fazerem também. A dimensão simbólica da cidade liga-se aos percursos da memória, das lembranças<br />
que fazem da experiência/vivência deste espaço objeto de leiturização, compreensão e transformação<br />
textual inteligível. Dos artefatos temporalizados às histórias narradas observa-se um conjunto semântico<br />
que forma uma imagem da cidade, essa imagem organiza uma identidade em suma um elo afetivo.<br />
A memória faz-se de lembranças, esquecimentos e recordação num todo complexo e labiríntico,<br />
no qual tudo que se trabalha nessas instâncias lhe é matéria inextrincável e latente, inclusive o<br />
esquecimento. Os hiatos jamais apresentam uma deficiência, mas sim uma possibilidade de reflexão sobre<br />
o discurso, uma potencialidade de construção fisionômica do que foi, sob a ótica de quem ouve<br />
atentamente os relatos do expositor. Isento das paixões do tempo vivido, podemos “ver do alto” as<br />
amarras da memória na narrativa do memorialista, e assim construir um caminho sólido para interpretar<br />
com ferramentas apropriadas todas as propriedades do que é relatado, seja memória oral ou escrita.<br />
Para Bosi (1994), lembrança e recordação são os artifícios da memória que lhe dá movimento, a<br />
lembrança pode-se dar espontaneamente, faz emergir à consciência aquilo que guardamos do tempo, as<br />
experiências passadas, e que cuidadosamente o nosso inconsciente elege como digno de lembrança, já a<br />
recordação se processa através do estímulo, um esforço para trazer à tona fatos que permanecem<br />
incontidos no sujeito. Esquecer para tornar possível o relato não é uma atitude deliberada da qual se tem<br />
consciência das lacunas. Recordar é esforço para trazer lembranças contidas na memória e esquecer é<br />
distinto de omitir ou ocultar. Quando em nossa fala deliberadamente nos esquivamos de expor um fato,<br />
não é uma seleção do inconsciente, mas, simplesmente, algo que conscientemente preferimos não relatar.<br />
E ainda nos labirintos da memória existe a mimese ou o reconhecimento do homem a partir do que lhe é<br />
familiar.<br />
Para compreender e apreendermos amiúde esta dimensão simbólica estabelecida no mundo<br />
urbano procuramos delinear os signos urbanos nas imagens que temos da cidade de Presidente Prudente<br />
fazendo a ligação com os caminhos da memória.<br />
∗ Texto publicado em 2004 (n. 11 v.2). Faz parte das reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado “Ícones de uma cidade em<br />
expansão: imaginário e memória”, defendida na <strong>FCT</strong>/UNESP, campus de Presidente Prudente, sob a orientação do Prof. Dr. Jayro Gonçaives<br />
Melo e com o apoio financeiro da FAPESP.<br />
∗∗ Mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP/Presidente<br />
Prudente. Atualmente é docente da Universidade Federal do Tocantins, vpcsilva@hotmail.com
80<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Presidente Prudente, enquanto expressão da “cidade moderna” numa escala menor, por mais que<br />
pareça divorciada dos mitos e símbolos, seja, nos seus mais arrojados artefatos e pujantes equipamentos,<br />
na racionalidade do urbanismo, no desenho que favorece a circulação e no pragmatismo exigido pelo<br />
movimento acelerado e pela pulsão constante do homem na urbe, este divórcio é apenas aparente, pois, a<br />
cidade é um cosmo repleto de “símbolos de transcendência” e mesmo no “caos” urbano estão presentes<br />
conteúdos imaginários, arquétipos que se fundem ao novo, mitos, desejos, pesadelos, medos e sonhos em<br />
completa e íntima fusão com os novos paradigmas da cidade. O objetivo deste trabalho é abordar as<br />
representações da cidade aplicando os conceitos de imaginário e memória, entendendo-os como uma<br />
chave para a interpretação das imagens urbanas, suas metáforas, seus laços de resistência, mudança e<br />
permanência. Assim, chegamos aos lugares do imaginário social e visualizamos a cidade no espaço e no<br />
tempo.<br />
A cidade foi revisitada desde os seus primeiros anos a partir de suas múltiplas memórias:<br />
narrativa, visual e material. Também, como depositária de múltiplas experiências guarda em suas<br />
paisagens as utopias e os ideais de uma sociedade, além de linhas e formas. O espaço transubstanciado,<br />
construído, transluz uma imagem e impõe poeticamente seus signos. Mais do que pedras, a cidade é<br />
erguida e solidificada de representações. As imagens do passado com claro “valor de culto” acabam por<br />
selar um grau de eternidade já conquistada, na qual a saga da cidade por vezes confunde-se com a saga<br />
dos personagens que nela viveram.<br />
E comum no exercício da memória a história familiar confundir-se com a narrativa do<br />
surgimento da cidade. Ao mesmo tempo o memorialista fala dos “primórdios” da fundação, suas agruras e<br />
sinuosamente, a sublimação da auto-imagem aparece também ao longo de todo o relato, onde tudo é<br />
reminiscência.<br />
Logo após a roça queimada, já no ano seguinte, 1918, eu mesmo iniciei os trabalhos, delineando ruas e<br />
logradouros públicos, em sendo um só, ainda em plena palhada, tendo apenas como meu auxiliar o preto<br />
Antônio Serafim. Entretanto, como eu não podia pessoalnente continuar, pelos trabalhos da lavoura e outros,<br />
mesmos da colonização rural já iniciada, deliberei novamente chegar em Assis não só para conseguir mais<br />
trabalhadores, e algum engenheiro para prosseguir o serviço ou o delineamento do núcleo, assim como o<br />
loteamento rural 85 (Cel. Goulart F. P. 1917-1967, p.23)<br />
Neste trecho o fundador narra a primeira infância da cidade e, como um exercício de memória a<br />
narração permite não somente “contar fatos” mas refazer o enredo da conquista, que simboliza a<br />
hegemonia individual do conquistador. Em primeira pessoa, com os olhos voltados para o passado, o<br />
pioneiro lendário refaz seu mito, mito este mais forte do que o homem real. Seu relato faz vislumbrar o<br />
horizonte plástico de uma paisagem tão onírica, quanto histórica, a paisagem urbana que despontava em<br />
meio às cinzas e penumbras do sertão. Vida e morte encontram-se no ato dramatizado de penetrar o<br />
desconhecido, vencer a natureza hostil e colonizar. Nos interstícios da fala reiteradamente o arquétipo do<br />
herói emerge na figura do pioneiro.<br />
Desbravar, abrir caminhos novos significava também impor idéias, valores e obediência ao<br />
coronel, construindo relações de poder que ficariam para a posteridade. A figura do coronel representava<br />
a antítese e a síntese da liberdade e da cidadania, pois, como afirma Melo (1995) os subordinados só<br />
possuíam sua cidadania no chefe e através dele. O mito heróico é incorporado pela História Oficial<br />
povoando o imaginário e, assim, a sociedade constrói seu primeiro ícone.<br />
A cidade da memória tem sua existência nas lembranças, assim como o Cel. F. P. Goulart, em<br />
cada habitante inscreve-se uma biografia da cidade, narrada mais de uma vez por aqueles personagens<br />
que de um modo ou de outro resistem à trama do tempo e não se furtam de “contar” o que passou.<br />
Conjunto de vozes a ter por fio o mesmo enredo, polifonia em prosa traduzida numa síntese.<br />
Naquele tempo (duas primeiras décadas do século XX) a cidade era muito pequena, apenas o que<br />
é hoje o centro. Nas ruas de terra batida, cheias de tocos de árvores que o fogo não consumira,<br />
permaneciam delgados, esguios, espessos por todos os lados, onde as pessoas passavam a pé ou a cavalo,<br />
85 Cel. F. P. Goulart. Depoimento publicado em Bandeirante do século XX, fundação de Presidente Prudente narrada pelo fundador 1917-<br />
1967.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
transportando coisas em carroças. Essas foram as ruas da infância de uma cidade presente na lembrança<br />
dos atores sociais.<br />
Quando viemos para cá, foi construído um rancho, para abrigar três famílias: família Furlaneto, Vernille e<br />
Casatti, sendo que cada um ficou com um pedaço do barracão. Eu tinha quatro anos quando desembarquei na<br />
estação em 1919. Nessa época o patrimônio já tinha sido derrubado, mas o fogo não acabou com a madeira,<br />
ficou toda madeira grossa que era arrastada para dentro dos quarteirões. Derrubamos a madeira que não<br />
queimou para fazer a casa. Como queimou só as folhas e troncos finos, as árvores brotavam novamente e<br />
formava a ‘capoeira’. Assim o pessoal ia chegando e ia roçando, juntavam três ou quatro pessoas para limpar<br />
e faziam lenha para ter fogo a noite e fazer claro, por que não tinha luz. A cidade era um quadrilátero que<br />
abrangia quatro avenidas. Mas a finalidade das famílias que viam para cá, inclusive o meu pai, não era ficar<br />
morando na cidade, era abrir sítio para plantar café. Então logo fomos para o sítio, a mata era fechada. Tinha<br />
mata baixa: cabreúva, canelão, canela e mata grossa; peróba, ipê, figueira, cedro. Tinha em abundância.<br />
Então os animais saiam da mata para comer a plantação de milho, vinha a anta, vinha o veado, por isso o<br />
patrimônio ficou chamado de Veado, isso nos primórdios de Presidente Prudente. Aquelas árvores que o<br />
fogo não queimou, secaram galhos que finos e empobrecidos, quebravam ao pousar das pombas que vinham<br />
ao raiar do dia comer o milho que os animais silvestres deixaram. Da cama de manhã eu me recordo da<br />
minha mãe falando para o meu pai: “Olha quebrou mais um galho, e outro galho”. Cada proprietário<br />
derrubava o seu mato para plantar café e outras culturas. A propaganda do Goulart era que a terra era boa<br />
para plantar café e que aqui não tinha geada! Quando a geada matou o café em 1924, meu pai falou: “Vamos<br />
por o Vicente na escola, e aí voltamos para a cidade. V. Furlaneto (Informação Verbal) 86 .<br />
Muitas vezes a fala perfaz as cruzadas de uma vida difícil, fustigada pelo trágico que bate às<br />
portas do cotidiano em tempos difíceis, mas o desfecho de um pensamento verbalizado compõe um tom<br />
dramático de difícil tradução o que nos remete à reflexão sobre a célebre frase de Tobias Monteiro 87 no<br />
caminho de sua ironia romântica: “se a história não será em grande parte, um romance do historiador”;<br />
afirmação que nos faz pensar no próprio quintal. Mas se o fio da memória abre um leque para o lúdico<br />
que nos permite romancear sobre o real, ou melhor, ver na realidade o romance, não cometemos com isso<br />
nem um grave pecado. Quando cessa a filosofia a poesia tem que começar. Na imaginação está o centro<br />
do nosso entendimento 88 . E assim que buscamos o real nas falas mais singelas de uma infância esquecida<br />
e no enredo imaginante que recria o passado subjetivamente. E o que aparentemente é hiato não é mais do<br />
que a inteireza nas multiplicações desse mesmo real.<br />
Uma fabulosa memória imaginante a escoar da realidade, para estar nela de volta, o tempo todo,<br />
nas sutilezas da narrativa, nos intercursos do pensamento, no qual, uma única cidade permanece, além das<br />
duplicidades e das refrações, nas continuidades do sentido de uma teia simbólica.<br />
O papai foi o primeiro carpina da cidade. Ele que fez aqui o primeiro caixão de uma senhora que faleceu<br />
para sepultar no terreno que hoje é a rodoviária, o primeiro cemitério de P.Prudente. O velório era o velório<br />
comum de fazer a guarda do corpo e depois o sepultamento. Não é como hoje. Naquele tempo não tinha<br />
funerária e fazia-se o caixão rústico de madeira. Para alguns era só um lençol. Fazia a cova e descia com o<br />
lençol dentro dela. Assim enterravam as pessoas que não tinham condições de comprar o cedro. O transporte<br />
do defunto, naquele tempo, era no braço. Quando morria alguém no sítio e ia sepultar na cidade, ia um na<br />
frente alguns metros dizendo: “vai as almas, vai as almas, vai as almas” enquanto o pessoal vinha com o<br />
cavalo. O cavalo era uma vara e um lençol amarrado nas pontas de um lado e do outro com o falecido dentro,<br />
carregado por duas pessoas, uma na frente e outra atrás que traziam do sítio para a cidade desta maneira. Um<br />
pegava, cansava, outro pegava, assim funcionava a advertência: “que vai as almas, que vai as almas...”. O<br />
pessoal que estava na roça trabalhando ouvia, largava o serviço, pegava e ajudava a carregar um pedaço.<br />
Outro lá na frente ajudava carregar mais um pedaço e esse era o recurso de trazer do sítio, vinte quilômetros,<br />
dez quilômetros, quinze quilômetros, no lençol, no cobertor, no encerado, porque não tinha condução. V.<br />
Furlaneto (Informação Verbal) 89 .<br />
A descrição da infância foi muito reiterada, na persistência da memória. Cabe salientar que essas<br />
imagens descritas da vida urbana são visões da criança observadora que presenciou algum dia tais cenas<br />
no passado, submetendo-as aos juízos de valor do adulto, ou melhor, do idoso que é hoje. Já que a maioria<br />
86 Entrevista realizada com o Sr. Vicente Furlaneto no dia 27 de junho de 2001.<br />
87 MONTEIRO, T. apud. Carvalho, 1990.<br />
88 SCHELES, F. apud. SILVA S., 1999.<br />
89 Entrevista realizada com o Sr. Vicente Furlaneto no dia 27 de junho de 2001.<br />
81
82<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
dos entrevistados relata os anos da infância e adolescência, nessa construção verbal memorativa do<br />
espaço tecem-se interessantes mapas mentais a representar os lugares da cidade em que o narrador<br />
estabeleceu laços afetivos e identitários. São refeitas, em traço e prosa, as ruas da infância, as nascentes<br />
que cortavam a cidade. Os jardins e o próprio relevo ganham suas curvas de nível nesse mapa:<br />
Eu nasci aqui, em 1930, passei a minha infância toda na rua Antônio Prado, hoje Washington Luís, esquina<br />
com a Siqueira Campos. Descendo, depois da rua, tinha um Bosque, hoje bairro do bosque, para chegar a até<br />
ele era preciso, passar por uma pinguela e atravessar ‘o famoso buracão’ na rua Pedro de Oliveira Costa, em<br />
baixo da pinguela passava um monte de água. Depois do colégio Cristo Rei, onde é hoje o correio, não tinha<br />
mais nada. Descendo hoje onde é a av. cel. Marcondes tinha outra ponte que dava acesso as terras da família<br />
Goulart. A Antônio Prado indo em direção a estação era tudo terra, areia demais, do lado contrário tudo<br />
grama onde a gente brincava, tinha um campinho de futebol. A rua era bem acidentada, eu achava<br />
interessante aquelas carroças com animal, burros puxando terra de um lado para o outro para nivelar a rua.<br />
Depois pavimentou um lado e o outro ticou sem pavimentar. Na área onde hoje é o parque do povo tinha<br />
uma fonte de água a ‘esmeralda’ e um bananal de propriedade do Goulart, onde os garotos iam roubar<br />
bananas. E tinha pequenos córregos, um cortava ali onde hoje é o Prudenshopping, um que saia, onde hoje é<br />
o tênis clube. Essas poças d’ água era uma diversão para a criançada. Botosso (Informação Verbal) 90 .<br />
O processo de expansão espaço-temporal da cidade se dá, além de múltiplos fatores, por uma<br />
razão coletiva traduzida na soma de esforços individuais que vislumbrara uma nova paisagem no período<br />
que vai de 1917 ao fim da década de 20, quando as construções passaram a ganhar novos padrões uma<br />
outra cidade de pedra erguia-se, mesclando-se à cidade de madeira que aos poucos ia desaparecendo.<br />
Assim a primeira escola, a primeira igreja, uma rua da cidade, presentes na imagem enfumaçada pela<br />
névoa do tempo ou<br />
envolta pelo que experimentamos como esquecimento, resultam dessas ações e idéias.<br />
Paisagem e memória encontram textualmente no exercício de delinear um percurso temporal. A<br />
partir delas é possível fixar um olhar às imagens, procurar uma compreensão, uma dinamicidade e, não<br />
apenas restituir o cenário urbano, mas também as suas metáforas.<br />
As primeiras fotografias da cidade foram tiradas, certamente, com o intuito de registrar<br />
paisagens, fatos e personagens mais significativos da vida urbana e o que conta nessas imagens é a<br />
composição visual significativa da cidade.<br />
Presidente Prudente possui inúmeros desses registros, o que denota a valorização de tal atitude,<br />
principalmente considerando que o recurso fotográfico nas três primeiras décadas do século XX, apesar<br />
de sua difusão, era ainda bastante oneroso e, portanto, poucas pessoas podiam obtê-lo. Um mundo da<br />
representação, a ser desvendado e conhecido inscreve-se literalmente nos percursos da fala e na grafia dos<br />
retratos.<br />
As imagens da cidade nos seus primeiros anos revelam que, apesar de todos os esforços para<br />
forjar uma paisagem urbana, não se desfrutava de uma vida urbana no seu sentido pleno, pois os costumes<br />
e as práticas ainda estavam ligados ao mundo rural. Deste modo animais andavam pelas ruas em meio à<br />
construções de madeira. Nas imediações, a vegetação nativa aos poucos cedia lugar a habitações<br />
precárias, pastagens, futuros loteamentos e instalações. Essas dificuldades impostas pelo meio rude no<br />
princípio do povoamento de Presidente Prudente mobilizavam pessoas a trabalharem no preenchimento<br />
das condições básicas de sobrevivência. Assim a casa, a escola, e a igreja eram construídas por dezenas<br />
de pessoas, adultos e crianças participantes de mutirões.<br />
Eram construções rústicas, singelas às vezes provisória, apenas para suprir de imediato uma<br />
necessidade, mas que traziam consigo o sentido urbano e logo seriam transformadas, como a Igreja<br />
Católica que adquiriu expressões e desenhos até chegar a catedral e a multiplicações menores ao longo do<br />
tecido e da formação da cidade.<br />
A cidade modificava-se, não apenas ela, nas suas formas materiais, mas na vida social e cultural.<br />
A praça continha uma vida social intensa, lugar de sociabilidade por excelência das camadas médias e das<br />
elites locais. Havia o footing na Rua Maffei, onde homens e mulheres iam passear e era no coreto da<br />
praça, ja demolido, que tocava, todos os domingos, a banda da cidade, regida por seu maestro.<br />
90 Entrevista realizada com o Sr. José Botosso em julho de 2001.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
O cinema era outro ponto de encontro dessa sociedade mais abastada. Exibia um filme por noite<br />
e só permitia a entrada se o traje fosse terno e gravata, o longo para as mulheres. Os dois cinemas mais<br />
importantes da cidade foram o cine João Gomes e o cine e teatro Phenix, embora houvesse outros entre<br />
eles, como o cine Santa Emilia.<br />
Aqui, como em todo o país, a difusão de certos aspectos da cultura norte-americana se fizeram<br />
presentes. Assim, era apresentado no cinema principalmente o gênero faroeste:<br />
O primeiro filme de Presidente Prudente foi de vaqueiro no cinema que pertenceu ao Chico Lourenço num<br />
barracão de madeira, depois abriu o cine João Gomes onde passavam-se os filmes de Cawboys. Quando<br />
passava filmes de romance, a gente falava: “a fita do cine João Gomes não é boa não, é de namorado, lá no<br />
Chico Lourenço tem pei-pei. Furlaneto.<br />
O cine João Gomes existiu onde até pouco tempo estava instalada as ‘lojas brasileiras’ antes do João Gomes<br />
tinha o cine Phênix que era pequeno, mas era bom também. Eu ia toda noite no cinema, cada noite era um<br />
filme, não é como hoje que fica uma semana em cartaz. E as pessoas faziam fila para entrar no cine João<br />
Gomes que ficava lotado principalmente quando tinha filme do Tarzan. Quando terminava a gente ia para<br />
casa. Botosso (Informação Verbal) 91 .<br />
A missa na catedral era realizada apenas durante o dia em três horários: as seis da manhã, as oito<br />
e às dez horas, sendo que a missa das seis era freqüentada pelas pessoas que precisavam desocupar-se<br />
logo dos deveres religiosos para trabalhar, a missa das oito era para as crianças e à missa das dez<br />
freqüentava a camada mais abastada da sociedade que após o rito litúrgico, saia impecavelmente trajada<br />
para um passeio na Maffei. Os homens ilustres da sociedade freqüentavam o “Bar e Confeitaria Cruzeiro<br />
do Sul”, conhecido como “senadinho”, onde importantes decisões políticas da cidade eram tomadas.<br />
A maioria dos moradores da cidade que usufruía dos espaços públicos representavam as camadas<br />
médias e a elite. Na fala memorializada, comparece que a elite era representada pelos coronéis, grandes<br />
cafeicultores, latifundiários e aqueles que detinham o poder político. Boa parte dos políticos pertencia<br />
também à classe médica. É interessante ressaltar que na maioria dos casos uma única pessoa reunia mais<br />
de um desses papéis. Não raro o coronel era também latifundiário, cafeicultor, negociante de terras e<br />
representante político. O médico, como já dissemos, era também político que ora era prefeito, ora<br />
deputado e assim por diante. Processo intrincado de individuação a personificar numa mesma pessoa<br />
diferentes tipos de capital, inclusive simbólico amadurecido sob a forma de poder, que não se interrompia<br />
no seu exercício. A camada média era representada por pequenos fabricantes, industriários e<br />
comerciantes; detentores de algum capital que após algumas décadas adquiriram patrimônio razoável<br />
impulsionados pelo próprio contexto econômico da época no “auge” do café e ainda alguns profissionais<br />
liberais: advogados, dentistas, professores etc. Essas famílias, então, com o tempo passaram a fazer parte,<br />
se é que se pode assim chamar, de uma elite mediana que residia na cidade, a maioria com casa própria,<br />
possuindo autonomia no seu empreendimento comercial e/ou industrial. Podiam usufruir de considerável<br />
acesso a bens e serviços como educação, saúde, e lazer, como também consumo de suprimentos: bens<br />
duráveis e não duráveis. Os pobres eram trabalhadores e moradores da zona rural, aqueles que viviam em<br />
chácaras e pequenas propriedades, meeiros, arrendatários, colonos dos latifúndios, camaradas ou ainda<br />
residentes nas bordas do perímetro urbano, nas suas áreas de transição. Pessoas que pouco vivenciavam<br />
os espaços sociais e recreativos da cidade, viviam em habitações precárias de madeiramento de baixo<br />
valor como a “tabuinha” e o “sapé”. Não tinham acesso à maioria dos bens e serviços urbanos e<br />
encontravam-se numa situação restrita, em condições de sobrevivência.<br />
Quando interrogada a respeito da imagem da pobreza na época, uma das pessoas entrevistadas<br />
respondeu significativamente distinguindo de outros ecos a escapar, ainda que em parte, da trama<br />
labiríntica da memória. Dizia que os pobres eram os que viviam nos arredores em casas de madeira,<br />
tinham o fogão à lenha no quintal e uma alimentação muito precária, comiam apenas angu com feijão e<br />
chegavam sujos de lama e descalços, na cidade. Pedintes de esmolas às vezes amarravam seus cavalos na<br />
cerca das residências. Pobres eram ainda aqueles que não podiam estudar. Essa representação da miséria<br />
não é a de uma convivência amiúde, mas sim de uma observação distante, como algo que não se conhece<br />
a fundo, mas se observa como o pitoresco: pessoas despenteadas, mal vestidas e sujas. A pobreza vista da<br />
elite tangencia uma visualidade estética que toca apenas a epiderme do problema e não sua ossatura. Não<br />
91 Entrevista realizada com o Sr. José Botosso em julho de 2001.<br />
83
84<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
se pode negar, contudo, que é uma fala coerente, bastante lúcida, que escapa aos atalhos da memória. E<br />
visão opinativa, sem dúvida, mas resultante de observação e retenção de uma imagem. E a memória do<br />
vencedor que fala dos vencidos, porque estes não têm fala e nenhuma inscrição. As obras que ajudaram a<br />
construir imortalizam outros nomes. A memória dos vencidos é em si mesma inatingível não só porque os<br />
personagens morrem mais cedo, mas porque há uma cisão entre a linguagem e o vivido na dor das<br />
carências, das ausências e no desprovimento de tudo.<br />
O dado inimaginável da experiência desconstrói o maquinário da linguagem. Surge a<br />
impossibilidade de recobrir o real com o verbal. Essa linguagem aprisionada só pode enfrentar o real<br />
equipada com a própria imaginação. E apenas com a arte que a intraduzibilidade pode ser desafiada,<br />
todavia jamais completamente submetida 92 . A imagem do vencido só é visitada na imaginação de outrem.<br />
O sentido da memória 93 é que ela não é um fim para se chegar ao passado, mas sim um meio de<br />
atingí-lo. Distinguem-se dois tipos de memória que, por vezes, se dão dialeticamente: aquela que é<br />
pessoal e aquela que é coletiva. Ao pensar na escrita clássica da história, é possível observar que esta tem<br />
um grau de comprometimento com a memória coletiva em linha absoluta: demonstra o passado e aponta o<br />
futuro, como que ensinando os caminhos de uma memória remotíssima pertencente a uma classe social da<br />
qual somente temos as conseqüências; essa memória tenta mostrar-se a nós como se fosse espelho do real.<br />
Esta memória é na verdade história; mas há uma outra forma de memória menos finalista, mais<br />
explicativa e expositora do tempo. A memória que nasce dentro de cada um de nós e, em vez de nos falar<br />
sobre determinada história, remete-nos às origens das coisas que pensamos recordar, que queremos<br />
representar. Os seus documentos estão na experiência de quem as relata e nos espaços que ocupamos.<br />
Donatelli Filho (1996) recomenda que tomemos como exemplo o exercício da memória pessoal,<br />
a lembrança da cidade onde moramos, a parte mais antiga, as ruas mais velhas, seus prédios, suas igrejas,<br />
casas, tudo aquilo que se apresenta aos nossos olhos e tudo que não mais está à nossa disposição pelo<br />
olhar. Cada um dos pontos históricos tantas vezes vistos e que passaram a fazer parte da imaginação, as<br />
formas do espaço urbano, a sua composição e as mudanças no tempo. A apropriação do lugar não mais<br />
ocorre pela ordem cronológica, mas pela retenção das formas construídas no inconsciente. Por isso a<br />
apreensão da cidade pode dar-se também através da memória. A cidade memorial é um ponto de inflexão<br />
onde se reiteram os laços de identidade com o lugar.<br />
A memória, quando desprovida de sentidos, quando ausente dos sujeitos que se sentem<br />
incapacitados de relembrar qualquer coisa que de fato vale ser relembrada, mergulha, como muitos de<br />
nós, nos tempos pretéritos, dos monumentos espalhados pela cidade, do mundo interior dos museus 94 ,<br />
perplexos, diante de tantas experiências vividas e ao mesmo tempo tão presentes e ausentes de nós. Um<br />
dos atributos da memória é permitir que o processo de identidade seja realizado entre iguais. Ela,<br />
portanto, não pode ser entendida como um relicário, mas sim como um lugar do imaginário e de<br />
reconstrução da nossa condição de seres históricos. Para Decca (1992). se a grande história é memória de<br />
documentos acertados para legitimar, muitas vezes, o ilegítimo da opressão e da miséria, a memória se dá<br />
como a pequena anti-história particularizada na reflexão e na sensibilidade vivida pelos homens. Ao dizer<br />
quem somos e por que somos, estamos em busca de um novo tempo, contado por um outro homem sobre<br />
outros pressupostos. Nossa sociedade oferece a todos a possibilidade de ter saudades, memória e<br />
experiência de algo que não nos pertence, algo desprovido de sentido, de representação, mas que se<br />
apresenta e se legitima pelo consumo.<br />
Nos deteremos ainda na tentativa de estabelecer as linhas intercruzantes e contraditórias que<br />
unem e separam história e memória 95 . É possível dizer que hoje a memória coletiva encontra-se refugiada<br />
em lugares pouco visíveis, preservada tenuamente por meio de rituais e celebrações onde alguns grupos a<br />
mantém ciosamente resguardada do assalto da história. Neste contexto, memória e história se opõem<br />
constantemente 96 . Como afirma Decca<br />
(1992):<br />
92<br />
Ver SILVA, S. M. A literatura de testemunho. Cult Revista Brasileira de literatura, ano 11 nº23, 1999.<br />
93<br />
DONATELLI FILHO, “O sentido da memória”, In: Cidade, Revista do Patrimônio Histórico, 1996.<br />
94<br />
DONATELLI, F., 1996, p. 107.<br />
95<br />
Silva V. Santa Casa de Misericórdia de Trabalho de IC p. 7-20, 1999, mimeo.<br />
96 DECCA, 1992, p. 1 passim.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
[...] a memória é vida sempre guardada pelos grupos vivos e em seu nome abre-se à dialética da lembrança e<br />
do esquecimento suscetível de longas latências e súbitas revitalizações. A história é sempre a reconstrução<br />
problemática e incompleta daquilo que já nao é mais. A História liga-se em continuidades temporais,<br />
exigindo operação intelectual e discurso crítico. No coração da história trabalha-se um criticismo destruidor<br />
da memória espontânea a partir dessa crítica identifica-se nela um misto de desilusão frente ao futuro e um<br />
estranhamento em relação ao próprio passado capaz de produzir memória histórica que, além de destruir a<br />
memória coletiva transformando-a numa espécie de memória artificializada, esvazia também o próprio<br />
conteúdo da história. Neste sentido, a memória histórica ressurge ligada à afirmação do Estado, produzida<br />
não mais espontaneamente pela experiência social, mas pelas mãos dos historiadores. A história, alcançando<br />
a fase epistemológica, desvencilha-se da memória por que deixa de ser lembranças e recordações, signo dos<br />
ideais de identidade, para se tornar discurso crítico. A memória, então, persegue a identidade e a história se<br />
constrói como inventário das diferenças. A perpetuação da memória, do passado no presente constitui-se,<br />
dessa forma, na produção de memória voluntária. (DECCA, 1992, não paginado)<br />
Abreu (1998), ao procurar esclarecer as diferenças fundamentais entre memória e história, afirma<br />
que a memória, seja ela coletiva ou individual, é sempre parcial, descontínua e vulnerável a todas as<br />
utilizações e manipulações. A história, por sua vez, busca a objetividade. Nunca conseguirá atingir a<br />
objetivação total, mas chega mais perto dela do que a memória.<br />
A história, como a memória, não é neutra. Ao contrário do que pensavam os historiadores do passado, o fato<br />
histórico não é dado: o contexto em que o pesquisador se insere influi na forma como ele define e interpreta<br />
o fato histórico. Sabemos também que a história pode ser manipulada, e o foi várias vezes no passado.<br />
Apesar desses problemas, é incontestável que a história detém inúmeras vantagens sobre a memória, e que<br />
deve ser a partir dela, história, que devemos penetrar no difícil campo da memória das cidades, da identidade<br />
do lugar.<br />
As vantagens da história sobre a memória são inúmeras. A primeira delas é que, ao contrário da memória, a<br />
história tem que buscar a “verdade”. Trata-se de uma operação intelectual e laicizante, que segue um método<br />
científico, e que é posta à prova continuamente. Por isto, ela, a história está em contínua reconstrução, sendo<br />
sempre reinterpretada, o que permite detectar e denunciar as falsas interpretações feitas em seu nome. A<br />
história é registro, distanciamento, problematização, crítica, reflexão.<br />
A segunda vantagem da história sobre a memória é que a primeira está sempre recuperando e reavaliando os<br />
referenciais que contextualizam a segunda. E faz isto exatamente para poder relativizar as memórias. Em<br />
outras palavras, a história está sempre pondo em xeque as memórias. Ao contrário desta última, a história<br />
precisa dar conta do que foi esquecido. A história precisa iluminar as memórias, ajudando-as a retificar suas<br />
omissões e erros. Privilegiar apenas a memória seria afundar no ‘abismo escuro do tempo’. (ABREU, 1998,<br />
p. 16)<br />
Ao tentar iluminar esse abismo, a história não consegue atingir o sonho de recuperar o passado<br />
tal qual ele foi, um passado sem hiatos ou falhas. Sonho impossível, já que a história é a construção<br />
sempre problemática e incompleta do que já não existe. O “passado, como nos diz Abreu (1998) é um<br />
país estrangeiro”, impossível de se conhecer plenamente.<br />
A história, enquanto ciência, pode ser a narração metódica de fatos e atos dignos de memória. A<br />
memória, dentre diversas definições refere-se à faculdade de lembrar, reter impressões, idéias que podem<br />
estar baseadas na experiência vivida.<br />
Para Paoli (1992), a história é concebida como um processo acabado e fechado ao significado<br />
social, quando tudo aquilo que constitui o moderno e a modernidade, a constante produção do novo<br />
desafia a compreensão e a intervenção na cidade. A história acaba por perder sua identidade nesse<br />
caminho. Seria, então, inútil manter algo com pouco significado no presente, além de ser exatamente<br />
testemunha de um passado superado. Há, entretanto, uma atitude de gostar do passado, daquilo que foi<br />
legado numa identidade que parece estar apenas no sentimento de perda, constituindo-se numa nostalgia<br />
de algo que não é mais. É por isto que história, memória, patrimônio, passado, nenhuma dessas palavras<br />
têm um sentido único; formam um espaço de sentido múltiplo, onde diferentes versões se contrariam<br />
porque derivam de uma cultura plural e conflitante.<br />
Como apontam algumas discussões no Brasil, há uma deslegitimação da memória social<br />
constantemente cooptada por “intelectuais” e transformada na “história dos vencedores”. E preciso,<br />
porém, “recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas também a visibilidade de suas ações,<br />
resistências e projetos”. Para Paoli, (1992) a construção de um novo horizonte historiográfico se apóia na<br />
85
86<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
possibilidade de existência de memórias coletivas. É preciso que experiências silenciadas, suprimidas ou<br />
privatizadas reencontrem a dimensão histórica como um direito ao passado, desmontando o significado<br />
que a sociedade constrói de si mesma, neste momento em que a produção simbólica está dissociada de<br />
sua significação coletiva e, portanto, longe de expressar as experiências sociais. Mas a noção de<br />
“patrimônio histórico” deveria evocar essas dimensões múltiplas da cultura como imagens de um passado<br />
vivo, acontecimentos e coisas que merecem ser preservadas porque são coletivamente significativas em<br />
sua diversidade.<br />
Decca (1992), em sua análise acerca da memória, cidadania e História aponta algumas<br />
conclusões norteadoras:<br />
Hoje o cidadão se sente cada vez mais mutilado em seus sentimentos coletivos em relaçao ao passado. A<br />
tentativa de resgate de uma memória coletiva espontânea produzida por meio de símbolos, comemorações,<br />
livros e monumentos e que conservou lugares apropriados, não por um investimento particular e voluntário,<br />
mas por meio de vivências. Numa época onde a memória coletiva foi seqüestrada pela irreversibilidade do<br />
tempo histórico, resta redescobrir os lugares onde esta memória coletiva se preservou espontaneamente, em<br />
gestos, posturas, hábitos e na sabedoria de nossos silêncios. (DECCA, 1992, não paginado)<br />
É fundamental saber que a história de um lugar é o resultado da ação, num determinado<br />
momento e sobre um determinado espaço, de processos que atuam em escalas que são ao mesmo tempo<br />
desiguais e combinadas. Assim, a história de um lugar não pode se ater aos processos puramente locais<br />
que aí tiveram efeito. Ela precisa relacionar os processos mais gerais, que atuam em escalas mais amplas<br />
(regional, nacional, global) da ação humana. Isto não pode ser feito, entretanto, à margem da<br />
compreensão das singularidades locais e da sua devida valorização.<br />
Neste sentido, “a perda da memória é um evento escravizador... e o nosso destino depende de<br />
nossa capacidade e vontade de recuperar memórias perdidas, ‘ser livre’ exige que sejamos capazes de dar<br />
nome ao nosso passado”. (ALVES, 1989, p. 28). A memória resguardada no interior do sujeito retém um<br />
passado individualizado, mas que não foge das ligações com o grupo social, do qual o sujeito fez parte. E<br />
esse pertencimento é responsável pela construção das suas representações. A representação através da<br />
memória subjetiva dotada de imagens interiores, aflora e se manifesta no cotidiano grupal quando os<br />
detentores desta, as legam aos seus, disseminando-a na cultura. O indivíduo, ao herdá-la, incuti-lhe novos<br />
valores, interiorizando as experiências de outrem, atribuindo-lhe nova roupagem. Nota-se aí, portanto,<br />
uma pluralidade no sentido da memória, que se reflete no individual e no coletivo. Para o indivíduo que<br />
muito viveu, “relembrar” suas memórias é algo lúdico e inspirador, capaz de gerar completa fluição e<br />
cadência de lembranças. O que jazia no inconsciente, agora vem à tona... emerge<br />
à consciência nos interstícios da fala. E o esquecimento... um refúgio imperceptível, o que não surge não<br />
deixa de existir, apenas não é visível, mas permanece no subterrâneo do espírito.<br />
No interior da memória, então, a lembrança ocupa um lugar especial. Sua função e finalidade,<br />
reside no ato de fazer com que as coisas idas não se percam, ligando o passado ao futuro. Um tipo<br />
singular de lembrança se encontra nas memórias de velhos, que têm um caráter absoluto da entrega de<br />
uma vida inteira, de quem nada resta a não ser lembrar. Ecléia Bosi (1994), em sua tese de livre docência,<br />
faz um instigante trabalho sobre memória de velhos e recupera o valor de suas lembranças. Não deixa,<br />
porém, de denunciar a forma perversa com que a sociedade capitalista suprime a velhice por mecanismos<br />
institucionais e psicológicos, relegando-os ao banimento e à discriminação. Discorrendo sobre a<br />
argumentação de Bosi, Chauí 97 constata: “que a sociedade ao oprimir a velhice, destrói os apoios da<br />
memória e substitui a lembrança pela história oficial celebrativa. Ser velho em nossa sociedade é lutar<br />
para continuar sendo homem, é sobreviver” (BOSI, 1994, p.l8).<br />
Destruindo os suportes materiais da memória, a sociedade burguesa bloqueou os caminhos da<br />
lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros. O pior ocorre, porém, quando as lembranças<br />
pessoais e grupais restauram estereótipos oficiais do ideário dominante. Então as lembranças pessoais e<br />
grupais são invadidas por outra “história”, por outra memória que rouba das primeiras o sentido, a<br />
transparência e a verdade. Bosi escreve que urna lembrança é como um diamante bruto que precisa ser<br />
lapidado pelo espírito. Burilar, lapidar, trabalhar o tempo e nele recriá-lo constituindo-o como nosso<br />
97 Ibdem, p. 18-19.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
tempo. Duas memórias são identificadas em seu texto, segundo o qual o passado conserva-se e, além de<br />
conservar-se, atua no presente, mas não de forma homogênea. De um lado, o corpo guarda esquemas de<br />
comportamento que se valem muitas vezes automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da<br />
memória-hábito, a memória dos mecanismos motores. De outro lado, ocorrem lembranças independente<br />
de quaisquer hábitos: lembranças isoladas, singulares, que constituíram autênticas ressurreições do<br />
passado.<br />
Descrevendo a substância social da memória – a matéria lembrada – esta autora mostra-nos que<br />
o modo de lembrar é individual tanto quanto social: o grupo transmite, retém e reforça as lembranças, mas<br />
o recordador, ao trabalhá-las, vai paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no que<br />
lembra e como lembra, faz com que fique o que significa.<br />
A lembrança é, sobretudo, a sobrevivência do passado conservando-se no espírito de cada ser<br />
humano; aflora à consciência na forma de imagens-lembranças.<br />
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstituir, repensar com imagens<br />
e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se<br />
duvidar da sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A<br />
lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de<br />
representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um<br />
fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, por que nós não somos os<br />
mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se, com ela nossas idéias, nossos juízos de realidade e<br />
de valor.<br />
A essência da cultura atinge a criança através da fidelidade da memória. Ao lado da história<br />
escrita, das datas, da descrição de períodos, há correntes do passado que só desapareceram na aparência e<br />
que podem reviver numa rua, numa sala, em certas pessoas, como ilhas efêmeras de um estilo, de uma<br />
maneira de pensar, sentir, falar que são resquícios de outras épocas.<br />
A arte de lembrar em muitos aspectos compara-se ao ato criador, ambas ações requerem o<br />
esforço e a habilidade de fazer fluir o que encontra-se interiorizado no indivíduo, sua diferença primordial<br />
instala-se no fato de que toda criação resulta em dar vida e existência a algo que não existe. A lembrança,<br />
porém, já existe. Para trazê-la à superfície é preciso buscá-la no íntimo. Sua figuração se resume nisso. A<br />
lembrança ainda pode ser evocada pelo uso de alguns artifícios, que podem surgir deliberadas ou<br />
espontaneamente. Isso ocorre com freqüência quando nos surpreendemos regressando ao passado. Ao<br />
percorrer, por exemplo, as imagens de uma antiga fotografia, relendo escritos de outro tempo, muitas<br />
vezes uma frase, uma palavra ou ainda um objeto que contemplamos constitui-se numa chave para<br />
reavivar nossas lembranças. Esta capacidade extraordinária e tão humana de reter o tempo<br />
institucionaliza-se e transfere-se dos sujeitos para o espaço a fim de imortalizar as lembranças, perpetuálas<br />
para que as gerações futuras não percam os laços com o passado de sua civilização. Sem memória, o<br />
que seria das paisagens demolidas, dos símbolos que dão sentido a um povo, das tradições que fazem a<br />
cultura? Uma vida amnésica é destituída de sentido, a própria história sem memória é morta.<br />
A memória pode ainda permanecer e ser preservada através de instituições cujo cerne de<br />
preocupações se volta para guardar as reminiscências do passado. Sua importância reside,<br />
indiscutivelmente, no seu valor documental que permite remeter-se no tempo e encontrar o sentido<br />
daquilo que não mais existe, ao debruçarmos sobre uma pluralidade de experiências vividas, que porém<br />
não nos pertencem.<br />
Tais instituições assumem importância numa sociedade que se apresenta cada vez mais mutante<br />
e demolidora do passado. O novo surge a cada instante. Nada é permanente. O espaço, então,<br />
despersonifica-se, a própria cidade polidamente detentora de memórias, transubstancia-se, deforma-se e<br />
empalidece em sua originalidade, quando tomada por uma forma homogeinizante que torna comum o seu<br />
espaço, suprimindo a diversidade não só nas formas e no comportamento de seus habitantes.<br />
Donatelli F. (1996), como já vimos, faz ainda uma crítica à memória transformada em nostalgia,<br />
como um estado de alienação quando nos remetemos à memória dos homens, um particular momento da<br />
existência. A nostalgia, aparentemente, fala de forma delirante ou prazerosa do passado, das cidades, das<br />
coisas, mas na verdade, o nostálgico relembra coisas que não lhe pertenceram. Nossa sociedade oferece a<br />
todos a possibilidade de ter saudades de experiências que não vivemos, mas que se apresenta e se legitima<br />
pelo consumo.<br />
87
88<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Apesar da crítica, não se discute a imprescindibilidade das instituições de memória no conjunto<br />
da sociedade para compreender sua formação, já que não é possível “tirar do túmulo” aqueles que<br />
viveram os fatos históricos, ou seja, aqueles que não mais existem não poderão relatar a história. Assim,<br />
restam apenas as instituições de memória para manter vivo o passado. A contemporaneidade, sem a<br />
solidez oferecida pela memória no atributo de sua funcionalidade, tornar-se-ia refratária. O elo que nos<br />
une ao passado torna-se mais ameno a cada dia em decorrência do desequilíbrio gerado pela voracidade<br />
do nosso tempo, em que a única coisa realmente constante é a mudança.<br />
A composição da auto-imagem de um grupo social depende de suas lembranças. São estas que<br />
forjam a identidade coletiva, afirmam seus valores, suas glórias, suas crenças fazendo com que o grupo<br />
compartilhe de um sentimento comum contribuindo para coesão do mesmo, ainda que esse sentimento<br />
coletivo seja uma síntese de individualidades, quando nos remetemos à sociedade moderna.<br />
Pensando na memória urbana, Abreu (1998) nos indica que a valorização do passado das cidades<br />
é uma característica comum às sociedades deste final de milênio. Depois de um período que só se<br />
cultuava o novo – a justificativa é a necessidade de preservar a “memória urbana”. A valorização do<br />
passado, bem como as transformações que vêm ocorrendo no imaginário ocidental marcando o fim do<br />
otimismo ilimitado no futuro, constitui-se em período de transição, ou seja, período de perda de<br />
concordância de tempos, em que antigos tempos passaram a coexistir e a interagir obrigatoriamente com<br />
tempos recém chegados, tempos novos em busca de hegemonia (SANTOS, 1994, p. 45-46 apud.<br />
ABREU, 1996, p.5-25).<br />
A constatação de Abreu (1998) é que a sociedade brasileira mudou a forma de se relacionar com<br />
as suas memórias. Embora poucas sejam as cidades que ainda apresentem vestígios materiais<br />
consideráveis do passado, grande tem sido o esforço para salvar e valorizar o que restou. A “memoria<br />
urbana” aparece como elemento essencial na constituição da identidade de um lugar.<br />
Neste contexto, as duas memórias (individual e coletiva), cada qual com suas singularidades,<br />
contribuem para recuperar a memória das cidades. A partir da memória individual ou de seus registros é<br />
possível enveredar-se pelas lembranças das pessoas e atingir momentos urbanos que já passaram e formas<br />
espaciais que já desapareceram. Com a memória individual, porém, deve-se ter um certo cuidado por ser<br />
carregada de subjetividade. Mas há também outra memória intersubjetiva, compartilhada, muito mais do<br />
que uma simples agregação de memórias subjetivas: a memória de um lugar, de uma cidade, que é a<br />
memória coletiva, na qual Abreu recupera a definição de Halbwachs (1990). Segundo ele, memória<br />
coletiva é um conjunto de lembranças construídas socialmente e referenciadas a um conjunto que<br />
transcende o indivíduo. A memória coletiva envolve as memórias individuais, mas não se confunde com<br />
elas. É extremamente dinâmica, devido à fluidez do grupo social e apresenta-se em constante mutação.<br />
Outro ponto importante dos estudos de Halbawchs (1990) 98 é que as memórias coletivas se<br />
eternizam muito mais em registros, do que em formas materiais inscritas na paisagem. “São estes<br />
documentos que, ao transformar a memória coletiva em memória histórica, preservam a memória das<br />
cidades e permitem, também, que possamos contextualizar os testemunhos do passado que restaram na<br />
paisagem”. E nas instituições de memória (museus, arquivos, bibliotecas etc.) que as memórias das<br />
cidades são preservadas, nos documentos. Na visão de Abreu (1998), o fundamental é conscientizar-se de<br />
que o resgate da memória das cidades não “pode limitar-se à recuperação de formas materiais herdadas de<br />
outros tempos. Há que se tentar dar conta também daquilo que não deixou marcas na paisagem, mas que<br />
pode ainda ser recuperado nas instituições de memória”.<br />
Assim, a cidade é um lugar de memória por ser o local da sociabilidade. A vivência na cidade é<br />
responsável pela origem de inúmeras memórias coletivas, que atingem sua plenitude quando ancoradas no<br />
tempo e no espaço.<br />
Retomando o pensamento de Santos (1994), é traçada a distinção entre a história urbana e a<br />
história da cidade, não devendo confundir, e uma vez que a história do urbano seria a história das<br />
atividades que se realizam na cidade, não em uma determinada cidade, mas no ambiente urbano de um<br />
modo geral. A história da cidade seria a história dos processos sociais que se materializa de forma mais<br />
objetiva: a história dos transportes, a história da propriedade, da especulação, da habitação, do urbanismo,<br />
da centralidade. Para Abreu (1998), essa distinção é norteadora, mas não é suficiente. Para tratarmos da<br />
98 HALBWACHS, 1990, apud. ABREU, 1998, p. 13.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
complexidade da memória de um lugar há de se trabalhar na recuperação simultânea da historia “no e do<br />
lugar”.<br />
A cidade incontestavelmente é lugar da memória em primeira instância, memória solidificada<br />
nas formas materiais, herança da criação e da imaginação humana, como também é um conteúdo das<br />
memórias individuais e coletivas. Como vimos, a experiência urbana, no sentido de viver a cidade, é<br />
matéria da memória. São dignos de lembrança os espaços que fizeram parte de nossa existência e que se<br />
confundem com ela. São as memórias do lugar que estão nele, e além dele, estão em nós, na nossa<br />
narrativa. Trazê-las à luz é dar movimento à história e reiterar os laços de identidade que dão vida ao<br />
grupo social. Mas há que se cuidar para que a cidade seja mesmo o “lugar” e não “túmulo” da memória.<br />
Muitas vezes, a valorização da memória, especialmente a “memória urbana”, ganha uma<br />
conotação superficial por parte da população, uma valorização ligada ao pitoresco e até mesmo ao<br />
quimérico, à maneira dos nostálgicos. Restituir a memória requer, entretanto, transcender os lugares<br />
comuns, encontrar seu sentido e plasticidade para que a memória da cidade permaneça cada vez mais<br />
presente e provocadora.<br />
Referências Bibliográficas.<br />
ABREU, Maurício de . Sobre a memória das cidades. Território, Rio de Janeiro, v. 3, n.4. p. 5-26,<br />
jan./jun, 1998.<br />
________. Construindo uma geografia do passado: Rio de Janeiro, cidade portuária, século XVII.<br />
Resumo de texto apresentado no Congresso Portugal-Brasil, 2000, mimeo.<br />
________. O Tempo na Geografia Humana. Palestra proferida nas dependências da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong>, 2000.<br />
ABREU, Santos Dióres. Formação histórica de uma cidade pioneira paulista: Presidente Prudente.<br />
Presidente Prudente: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, 1972.<br />
ALVES, Rubem. Sobre Jequitibás e Eucaliptos - Amar. In: Conversas com quem gosta de ensinar. 23ª<br />
edição, São Paulo, Cortez 1989.<br />
AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas-SP: Papirus, 1993. BACHELARD, Gaston. A poética do<br />
espaço. São Paulo: Abril Cultural, 1974.<br />
BARBOSA, Jorge Luiz & MELO C. A paisagem e o trágico amuleto de Ogum. In: Rosendhal & Corrêa<br />
(org.) Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janerio: UERJ, 1999. p. 71 a 102.<br />
________. Paisagens naturais nos Estados Unidos: signos, simulacros e alegorias. Mimeo s/d p. 29 a<br />
39.<br />
BOSI, Ecléia. Memória e sociedade: lembrança de velhos. 3 ed. São Paulo: Companhia das Letras,<br />
1994. 488 p.<br />
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papiros, 1996.<br />
CAMARGO, Yara Varela de. Em busca da luz. In: RANGEL, Diva Farret. (et. al.). Mitos e símbolos.<br />
Blumenal: Fio do Mestrado n 0 8, 1995. p.39 a 51.<br />
CARVALHO, Vânia Carneiro de. Representação da natureza na pintura e na fotografia brasileiras do<br />
Século XIX. In: FABRIS, Annateresa (org.) . Fotografia usos e funções no século XIX. São Paulo :<br />
Edusp, 1991. p. 199 a 231.<br />
CHEVALLIER J. & CHEERBRANT A. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio. 2001,<br />
998 p.<br />
DECCA, Edgar Saivadori de. Memória e Cidadania. In: São Paulo (cidade). Secretária Municipal de<br />
Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O direito à memória: patrimônio histórico e<br />
cidadania. São Paulo: DPH, 1992.<br />
DONATELLI FILHO, Dante Donato. O Sentido da Memória. In: Cidade, São Paulo, v. 3, p. 104 a 108.<br />
set. 1996.<br />
MELO, Jayro Gonçalves. Imprensa e coronelismo. Ideologia e poder. Presidente Prudente, SP:<br />
<strong>FCT</strong>/UNESP, 1995.<br />
_________. “Ideologia e Poder”. In: MELO (org.). Região, Cidade e Poder. Presidente Prudente, São<br />
Paulo: GAsPERR, 1996.<br />
NOLL, João Francisco. A cidade e seus símbolos de transcendência.<br />
89
90<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
In: RANGEL, Diva Farret. (et. ai. ). Mitos e símbolos. Blumenau: Fio do Mestrado n 0 8, 1995, p.23 a 37.<br />
PAOLI, Maria Célia. Memória, História e Cidadania: o direito ao passado. In: São Paulo (cidade).<br />
Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O direito à memória:<br />
patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: DPH, 1992.<br />
SILVA, Márcio Seligmann. A literatura de testemunho. (In):Cult/Revista brasileira de literatura, n 0 23,<br />
ano II. São Paulo: junho de 1999.<br />
SILVA, Valéria Cristina Pereira da. & GUIMARAES, Raul Borges. Santa Casa de Misericórdia de<br />
Presidente Prudente — um estudo de caso. Revista de Iniciação Científica da UNESP. São Paulo:<br />
UNESP, v. 1 p. 195 a 201, 2000.<br />
___________. Representação das cidades. Formação. Presidente Prudente, n. 8 p. 75 a 86, 2001.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
VIOLÊNCIA MARGINAL:<br />
A construção da identidade e o sentido da violência ∗ .<br />
91<br />
André Luís ANDRÉ ∗∗<br />
Eda GOES ∗∗∗<br />
Resumo: Este texto tem como objetivo comunicar algumas das questões que temos investigado a respeito<br />
daquilo que entendemos primariamente como violência urbano—marginal, ou seja, violência utilizada<br />
pelos grupos incluídos de forma marginal na cidade de São Paulo, seja para resolver conflitos cotidianos,<br />
seja para instrumentar formas econômicas incriminadas juridicamente, com vista a otimizar sua<br />
capacidade de consumo e suas relações afetivas, mediante a elaboração de uma identidade que se constrói<br />
positivamente como marginal.<br />
Palavras-chave: Violência; identidade; sistema de trocas simbólicas.<br />
Resumen: Este texto tiene como el objetivo comunicar algunos de los asuntos que nosotros hemos estado<br />
investigando sobre esto que nosotros entendimos primariamente como violencia urbano-marginal, en<br />
otros términos, violencia usó por los grupos incluidos de una forma marginal en la ciudad de Sao Paulo,<br />
sea para resolver los conflictos diarios, sea para instrumentar maneras económicas incriminadas<br />
jurídicamente, con la vista perfeccionar sus capacidad de consumo y sus relaciones afectuosas, por la<br />
elaboración de una identidad que se construye positivamente como marginal.<br />
Palabras-llave: Violencia; la identidad; el sistema de cambios simbólicos.<br />
1. Introdução.<br />
Qualquer esforço intelectual que tenha como finalidade entender a violência nos dias atuais exige<br />
uma série de redefinições epistemológicas. A elaboração de um novo paradigma se faz necessário<br />
(WIEVIORKIA, 1997) para entendermos a violência de forma profunda e adequada, com vista, em última<br />
instância, a sua minimização.<br />
Procuramos compreender a violência a partir de diferentes perspectivas que relacionadas<br />
fornecem um arcabouço teórico fundamental. Assim, as diversas formas de violência podem ser<br />
entendidas, de modo geral, como tudo aquilo que fere o corpo e a psique de pessoas, grupos, classes,<br />
populações, nações e etc. (MORAIS, 1985; TAILLE. 2000); como técnica, isto é, como instrumento<br />
social através do qual determinados interesses e lógicas podem se realizar (SANTOS, 1996); como ato de<br />
um tipo específico de política organizada ou não animadora de novas práticas, discursos e ações<br />
(SOARES, 2000); e, por fim, como ação dotada de linguagem e conteúdo nem sempre evidente<br />
(BOURDIEU, 1996; PEREIRA; RONDELLI; HOLLHAMMER e HERSCHMANN, 2000; SOARES,<br />
2003).<br />
Isto posto, é inegável que o aumento exponencial da violência e de sua percepção, deixa a<br />
realidade em que vivemos ainda mais confusa e confusamente experimentada, de tal maneira que a cisão<br />
na totalidade e os desmembramentos abstratos dos fenômenos da realidade devem ser intensos, além de<br />
considerar elementos interiores e exteriores às pessoas (SANTOS, 1996; 2000). Neste sentido, no que se<br />
refere à análise dos fenômenos sociais na perspectiva da Geografia, a análise da topologia global dos<br />
objetos requer a análise daquilo que Hakin Bey (1999) chamou de psicotopologia ou aquilo que Milton<br />
Santos (1996) chamou de psicostera.<br />
∗ Texto publicado em 2004 (n. 11 v. 2). Refere-se a um dos resultados da monografia de Bacharelado em Geografia “Vida Bandida!<br />
Maginalização, Sistema de Trocas Simbólica e identidade”, apresentada no ano de 2003, no Curso de Geografia da UNESP, <strong>FCT</strong> –<br />
Presidente Prudente, cuja proposta estamos desenvolvendo e ampliando no mestrado.<br />
∗∗ Mestrando em Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, campus de<br />
Presidente Prudente.<br />
∗∗∗ <strong>Professor</strong>a do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da<br />
UNESP, campus de Presidente Prudente.
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Como fenômeno, que se transformou em um dos principais temas da sociedade globalizada, a<br />
violência se tornou estrutural e explícita (IDEM, 2000), não obstante, cada vez menos simbólica<br />
(BOURDIEU, 1996), isto é, reconhecida e legitimada, porém, capaz de produzir uma sensação na qual a<br />
violência, e o medo que ela inspira, é quase uni estado permanente. No entanto, violências de diferentes<br />
tipologias podem ser mais ou menos legitimadas ou repudiadas de acordo com sua natureza, quem são os<br />
seus protagonistas e vítimas, qual a força, poder ou potência econômica, política, técnico-científica,<br />
temporal e espacial dos que agridem e daqueles que são agredidos.<br />
Pode-se reconhecer ou repudiar diferentes tipologias de violência de acordo com a posição que<br />
se ocupa no espaço geográfico, sistema indivisível onde se disputa ou se esvazia poder, se sente e se torna<br />
sensível. É neste sentido que equivocadamente Yves Michaud (1998, p.7) define a violência como: “uso<br />
da força a margem da legitimidade ou da ilegitimidade desta força”. Primeiro porque as formas de<br />
violência institucionalizadas são aquelas que invariavelmente são necessárias para se manter uma<br />
determinada ordem dos objetos e de suas respectivas funções, das pessoas e dos seus respectivos papéis;<br />
segundo, por mais legítima que possa parecer a violência, isso não a torna menos dolorida no corpo e na<br />
psique daquele ou daqueles que a sofrem.<br />
Contudo, não há forma de violência alguma que não seja relativa e internamente coerente, que<br />
não tenha sua lógica, seu metabolismo, sua racionalidade e seu conteúdo. Por mais ilógica ou irracional<br />
que possa parecer, a violência é sempre um fenômeno racionalizado, seja para o exercício do poder, seja<br />
para que se viva ou sobreviva apesar do poder ou dos poderes, seja cuidadosamente calculado por<br />
tecnocratas de um Estado beligerante ou de megaempresas, para em um caso extremo deflagrar uma<br />
guerra, seja difusa e instintivamente racionalizada por um jovem de um subúrbio qualquer de um país<br />
periférico, em uma tentativa quase sempre suicida de sobreviver.<br />
Do ladrão de bancos da periferia da metrópole paulistana, passando pelo traficante varejista dos<br />
morros cariocas ou mesmo pelo “homem bomba” palestino, até chegar, não obstante, a uma declaração de<br />
guerra ou uma intervenção militar de um Estado contra outro, não há violência desprovida de lógica, por<br />
mais absurda que ela venha a ser. Sendo assim, Bourdieu (1996, p.l38) nos diz o seguinte:<br />
os agentes sociais não agem de maneira disparatada, [...] eles não são loucos, [...] eles não fazem coisas sem<br />
sentido. [...] há urna razão para os agentes fazerem o que fazem, [...] razão que se deve descobrir para<br />
transformar uma série de condutas aparentemente incoerentes, [...] em uma série coerente, em algo que se<br />
possa compreender a partir de [...] um conjunto coerente de princípios.<br />
Isto não implica uma justificação ou legitimação de qualquer ação agressiva, já que em si a<br />
violência é sempre causa de sofrimento, dor, degradação, limitação e constrangimento, negação da<br />
civilidade, do desenvolvimento pessoal e social, da autonomia e da liberdade.<br />
Entretanto, a descrição, análise, explicação e interpretação de qualquer forma de violência<br />
exigem esforços de compreensão de seu conteúdo e significado, natureza e finalidade. Nesta perspectiva,<br />
as diversas formas de violência podem ser avaliadas primariamente como violência do poder e violência<br />
não-normal (TOSTOI, 1981). A primeira utilizada para produzir, reproduzir e ampliar poder de pessoas,<br />
famílias, grupos, classes, empresas, governos e Estados; violência quase homogênea, potencialmente<br />
globalizada, situada no espaço de fluxos, onde o tempo é unificador - atemporal (CASTELLS, 2000),<br />
violência vertical aos lugares, geralmente comandada por uma ordem distante (LEFEBVRE, 1991) e<br />
consagrada pelos sistemas normativos, sejam as leis, os costumes e/ou as tradições. A violência nãonormal,<br />
por sua vez, é utilizada como reação ao exercício do poder; violência globalizada, mas não<br />
organizada globalmente, extremamente heterogênea, horizontal aos lugares, situada no espaço dos<br />
lugares, onde cada vez mais prevalece um tempo sem tempo, isto é, urgente, carregada de elementos<br />
pertencentes à ordem próxima, geralmente condenada pelos sistemas normativos, negativizada pela<br />
tradição e os costumes e incriminada pelas leis.<br />
Tendo isto como premissa, é mister apresentar algumas das nossas reflexões a respeito daquilo<br />
que temos entendido como violência urbano-marginal ou somente violência marginal, tipologia de<br />
violência não-normal, que tanto esgarça a sociabilidade urbana em suas relações com as violências dos<br />
poderes exercidos no espaço urbano, transformando a cidade — “... berço em que o homem (os seres<br />
humanos) se civiliza e civilizar é sinonimo de politizar, de transformar a ‘massa’ em corpo político<br />
deliberativo, racional e ético [...] [em que] os cidadãos formam-se a si mesmos (BOOKCHIN, 1999, p.<br />
92
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
16) — em uma não cidade, isto é, um lugar de negação da civilidade e da liberdade, lugar de afirmação<br />
dos poderes e da violência em estado cada vez mais puro (SANTOS, 2000), onde a força ideológica se<br />
submete à ideologia da força.<br />
O marginal não tem conotação negativa alguma, significa elaborar uma identidade a partir da<br />
vivência permanente em um estado de inclusão marginal no espaço urbano (MARTINS, 1997), ou seja,<br />
segregado na paisagem urbana e informalmente proibido de utilizar e acessar ou sub-utilizando e<br />
acessando de forma residual os recursos que a cidade concentra; possibi1itando que um sentimento de<br />
marginalidade seja elemento constitutivo de uma cultura suburbana positiva auto-entendida como<br />
marginal (TAILLE. 2000), criando referências, símbolos, papéis e funções, redefinindo valores e<br />
estigmas, dando positividade e densidade ao que venha a ser marginal, suas práticas e seus discursos,<br />
construindo uma identidade que não é outra coisa senão defensiva (CASTELLS, 2000), racionalizando a<br />
violência como instrumento técnico e normativo de circuitos econômicos criminalizados, bem como<br />
instrumento político para situações nas quais não há campos de negociação, ou mesmo, onde consensos<br />
mínimos se tornam quase impossíveis (ANDI, 2001);<br />
afirmando a violência corno mensagem corrente das sociedades contemporâneas, em um momento de<br />
crise global e de transição da “dialética da malandragem” para a “dialética da marginalidade” (ROCHA,<br />
2004).<br />
Nesta perspectiva, a investigação a respeito da violência marginal nos força a intercalar diferentes<br />
níveis de análise: primeiro, as transfonnações globais do sistema social que tangenciam a economia, a<br />
política, a comunicação, a técnica e a ciência, a religiosidade, o tempo e o espaço; segundo, a formação da<br />
identidade dos grupos subalternos da cidade de São Paulo diante deste processo de transformações<br />
estruturais; e, por último, a coerência da ação violenta e suas relações com tais mudança e tal identidade<br />
daí decorrente. Aqui vamos nos ater de forma breve à identidade marginal e a lógica da ação violenta, nos<br />
atendo à metrópole paulistana — São Paulo — como universo empírico e utilizando o RAP 99 como<br />
subsídio (ROCHA; DOMENICH e CASSEANO, 2001), gênero musical utilizado pelos grupos<br />
subalternos da metrópole para veicular, expressar e criar suas representações da sociedade, do cotidiano e<br />
da vida.<br />
2. Identidade marginal, identidade bandida!<br />
A ação e as construções identitárias que a sustentam devem ser compreendidas como síntese,<br />
posição e negação, causa e efeito da convergência de elementos comandados na escala global e<br />
elaborados na escala local, onde o corpo — espaço da dor e do prazer (SMITH, 2000) — dispõe de uma<br />
centralidade às vezes negligenciada. Sendo assim, o processo de formação de qualquer identidade —<br />
“fonte de significado e experiência” (CASTELLS. 2000, p.22), diferenciação, entendimento e autoentendimento,<br />
esconde disputas sutis entre variadas formas de apreender as condições objetivas nas quais<br />
tal identidade se assenta. Há na composição da identidade disputas que não se percebe: disputas de<br />
habitus (BOURDIEU, 1996), disputas de escolhas, disputas de ações, disputas discursivas, disputas<br />
estéticas e disputas de linguagens, de tal maneira que a identidade que se sobressai reivindica, mesmo<br />
sem o fazer, o monopólio da representação de determinado modo de vida, hegemonizando outras<br />
identidades, habitus, escolhas, visões do cotidiano e da vida, ações, estéticas, discursos e linguagens.<br />
Assim, a identidade é tanto objeto de disputas e concorrências endógenas, capaz de desencadear conflitos<br />
intragrupos quanto elemento que pode desencadear conflitos intensos entre diferentes grupos sociais e<br />
identitários.<br />
A identidade marginal se constitui naquilo que Castells (2000, p.24) chamou de:<br />
...identidade de resistência — criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou<br />
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheira de resistência e sobrevivência com<br />
base em princípios diferentes dos que pemeiam as instituiçõe da sociedade, ou mesmo opostos a estes<br />
últimos.<br />
99 Na condução desta pesquisa utilizamos inicialmente 15 músicas, de diferentcs álbuns do grupo de RAP: Racionais MC’s.<br />
93
94<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A concorrência de identidades marginais produziu uma personificação universal — Mano –, um<br />
personagem comum, elo de ligação das diferentes identidades e papéis internos aos grupos subalternos da<br />
cidade, um personagem que vai comportar todos os outros — trabalhador, bandido, sofredor, guerreiro –<br />
, mas que em determinadas circunstâncias também vai se submeter a eles. Sendo identidade primária e<br />
última, alicerça e comporta diferentes comportamentos, sem cindir o reconhecimento e o pertencimento;<br />
embora estes sejam instáveis devido às condições de marginalidade 100 .<br />
A identidade marginal, em todas suas personificações, vai contar com os seguintes elementos<br />
constitutivos: a questão étnica, territorial, a re-significação e o re-ordenamento de valores, solidariedade e<br />
rivalidades internas, a oposição ao Estado, particularmente à polícia e ao sistema penitenciário, e aos<br />
grupos entendidos como integrados à sociedade; não obstante, há a percepção de uma violência do poder<br />
que ao ser instituída tende a se naturalizar, bem como a colocação da figura materna no centro da<br />
construção familiar, embora seja esta uma identidade sexista; por fim, ocorre a construção de uma<br />
religiosidade compatível com as definições que esta identidade tem construído, isto é, há um processo de<br />
marginalização dos ícones religiosos, a imagem e semelhança dos marginais que a constroem.<br />
Castells (IBIDEM. p.76), ao investigar a construção de uma identidade negra nos Estados<br />
Unidos, nos ajuda a compreender alguns elementos dessa identidade marginal paulistana, até porque esta<br />
última é em vários aspectos verticalizada por aquela. Ele diz o seguinte:<br />
... os guetos do final do milênio vêm desenvolvendo uma nova cultura, composta de aflições, raiva e reação<br />
individual contra a exclusão coletiva, em que a negritude importa menos que as situações de exclusão que<br />
geram novas formas de vínculos, por exemplo, gangues territoriais, nascidas nas ruas e consolidadas pelo<br />
entra-e-sai das prisões. O rap, e não o jazz, é produto dessa nova cultura, que também expressa uma<br />
identidade, também está fundada na história negra e na longa tradição [..] de racismo e opressão social, no<br />
entanto incorpora novos elementos: a polícia e o sistema penal como instituições centrais, a economia do<br />
crime como chão da fábrica, as escolas como área de conflito, as igrejas como redutos de conciliação,<br />
famílias madrecêntricas, ambientes depauperados, organização social baseada em gangues, uso da violência<br />
como meio de vida.<br />
Esta leitura poder ser feita também para a identidade que vai se fazer na periferia da metrópole<br />
paulistana, todavia, onde ele escreve jazz podemos escrever samba.<br />
Assim, neste processo de identificação o corpo vai ser eleito como o lócus das signiticações e<br />
cumprirá a função de distinguir socialmente os grupos marginais dos demais grupos. Como a formação de<br />
uma identidade capaz de representar parcelas de gentes, cujas existências são em grande medida<br />
semelhantes, uma identidade universal ou básica se encarregará de produzir as ligações intersubjetivas,<br />
ao passo que varios personagens adjetivos serão criados para dar conta da heterogeneidade interna.<br />
A identidade primária e universal Mano é completada pelas seguintes identidades adjetivas:<br />
sofredor, sobrevivente, leão, guerreiro, sangue-bom, negro ou nego, preto, vagabundo, ladrão e bandido.<br />
Além destas existem identidades adjetivas para diferenciar moralmente e negativamente os indivíduos<br />
internamente: verme, bico, zé povinho e neguinho.<br />
O mano pode ser um trabalhador, um ladrão, um traficante: pode ou não ter os mesmos gostos e<br />
rotinas: pode ser negro, branco ou mestiço; o importante é que ele seja um marginal, para ser reconhecido<br />
como tal. Marginal do sistema econômico, do sistema político, do sistema técnico-científicoinformacional,<br />
marginal da e na cidade. Um elemento importante é esta oposição e desconfiança em<br />
relação às instituições do Estado, principalmente aquelas encarregadas das funções de coerção e repressão<br />
– as polícias e o sistema jurídico-penal, principalmente; há também uma oposição aos grupos<br />
relativamente incluídos, cuja representação foi ancorada em torno de um personagem denominado<br />
playboy. O playboy é entendido como alguém que transita e tem domínio da esfera pública e da esfera<br />
estatal, além do mercado, ele pode ser tanto um político quanto um empresário, um profissional liberal,<br />
um funcionário do Estado ou de empresas privadas. No limite, o playboy é alguém que de alguma<br />
100 No início dos anos 1990 havia uma música do grupo de rap da zona sul de São Paulo - Comando DMC -, que dizia que trabalhadores e<br />
bandidos deveriam formar uma aliança para combater o preconceito racial e social e a desigualdade. A letra dizia mais ou menos o seguinte:<br />
“...trabalhadores, bandidos todos serão aceitos no esquadrão guerrilheiro em defesa do povo preto, não podemos admitir, nem querer acordo,<br />
com essa raça de filhos da puta que querem nos ver mortos. Se eles podem agredir nós também podemos, eles tem músculos e armas, e nos<br />
também temos (...). Não somos anti-brancos, mas sim anti-racismo, se você é preto não fique parado, pegue seu oitão (revolver calibre 38)<br />
deixe carregado, se algum deles te atacar contra-ataque sem medo, puxe, aponte e aperte, manda pro inferno...”
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
maneira se beneficia da forma pela qual o sistema social se organiza. Esta organização é nomeada de<br />
sistema.<br />
Em seguida, apresentamos trechos das músicas selecionadas que ilustram bem este conjunto de<br />
significações:<br />
... Racistas otários [polícia] nos deixem em paz, pois as famílias pobres não<br />
agüentam mais.<br />
Pois todos sabem e eles temem, a indiferença por gente carente que se tem.<br />
E eles vêem, com toda autoridade e preconceito eterno e de repente o nosso espaço se transforma num verdadeiro infbrno e<br />
reclamar direitos de que forma.<br />
Se somos meros cidadãos e eles o sistema e a nossa desinformação é o maior<br />
Problema<br />
Mas mesmo assim enfim queremos ser iguais<br />
Racistas otários nos deixem em paz.<br />
(...) Justiça, em nome disso, eles são pagos, mas a noção que se tem é limitada e eu sei<br />
que a lei é implacável com os oprimidos, tornam bandidos os que eram pessoas de bem.<br />
(...) Então a velha história outra vez se repete, por um sistema falido, como<br />
marionetes nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram á incerteza e ao crime entim.<br />
Porque aí certamente estão se preparando, com carros e armas nos esperando e os<br />
poderosos bem seguros observando, o rotineiro holocausto urbano...<br />
(...) Os poderosos são covardes desleais, espancam nosso povo nas ruas por<br />
motivos banais...<br />
(RACISTAS OTÀRIOS) 101<br />
101 Nome da música.<br />
Se dit que moleque de rua rouba, o governo, a polícia no Brasil quem não rouba?<br />
Ele só não têm diploma pra roubar. Ele não se esconde atrás de uma farda suja. É<br />
tudo uma questão de reflexão irmão, é uma questão de pensar<br />
Há, a Polícia sempre dá o mal exemplo, lava minha rua de sangue, leva o ódio pra<br />
dentro, pra dentro, de cada canto da cidade, pra cima dos quatro extremos da<br />
simplicidade, a minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada, que<br />
nada.<br />
(MÁGICO DE ÓZ)<br />
...Se o barato é louco e o processo é lento.<br />
No momento deixa eu caminhar contra o vento.<br />
O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável<br />
O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável.<br />
É quente!<br />
Borrou a letra triste do poeta.<br />
Correu no rosto pardo do profeta.<br />
Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair.<br />
Este é seu B.O. pra eternidade.<br />
Diz que homem não chora. Tá bom! Falou.<br />
Não vai pra grupo irmão.<br />
Aí! Jesus chorou...<br />
Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando.<br />
Eta mundo bom de acabar.<br />
O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao se redor, melhor, se<br />
corrompeu.<br />
Epa! Pera lá! Muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do Capão.<br />
Lava o rosto nas águas, sagrada família.<br />
Nada como um dia após o outro dia...<br />
(...) Só de pensar em matar, já mato, prefiro ouvir o pastor.<br />
(...) Molha a medalha de um vencedor, chora agora, ri depois...<br />
Aí! Jesus chorou.<br />
(JESUS CHOROU)<br />
Tô ouvindo alguém gritar me nome parece um mano meu, é voz de homem.<br />
Eu não consigo ver quem me chama, é tipo a voz do Guina. Não, não, não, o Guina<br />
tá em cana.<br />
95
96<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Será? Ouvi dizer que morreu, sei lá! Última vez que eu o vi, eu lembro até que eu<br />
não quis ir, ele foi. Parceria forte aqui era nós dois. Louco, louco, louco e como<br />
era, cheirava pra caralho, vixe, sem miséria.<br />
Todo ponta firme. Meu professor no crime, também no sangue frio, não dava boi<br />
prá ninguém.<br />
Puta aquele mano era foda. Só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda.<br />
Deu uma par de blusa pra mim, naquela fita na butique do ltaim.<br />
Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim. Vida de ladrão, não é tão ruim. Pensei, entrei no outro assalto<br />
pulei, pronto, aí o Guina deu mó ponto.<br />
Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés.<br />
Apavorei, desempenho nota dez. Dinheiro na mão, o cofre já tava aberto.<br />
O segurança tentou ser mais esperto.<br />
Foi defender o patrimônio do playboy, não vai dar mais pra ser super-herói.<br />
Se o seguro vai cobrir foda-se, e daí...<br />
(TO OUVINDO ALGUÚM ME CHAMAR)<br />
No último trecho citado, o personagem da música se refere a um assalto, como momento em que<br />
o sistema foi domesticado e submetido. Neste caso, a violência marginal cumpre uma função simbólica de<br />
inversão da relação de domínio e de construção da visibilidade, uma quebra temporária de um anonimato<br />
mórbido, é quando a violência marginal supera, ao menos de forma circunstancial, a violência do poder.<br />
Nota-se que o patrimônio a ser violado não é qualquer um, é o patrimônio de alguém compreendido como<br />
oposto, como participante beneficiado e indutor de um sistema de divisão social. Quando o patrimônio a<br />
ser violado for dos grupos centrais, ou seja, dos grupos que centralizam os benefícios produzidos pelo<br />
sistema social, não obstante, que se encontram nas melhores localizações da cidade, tanto a violência<br />
empregada como transgressão da norma que protege o patrimônio serão encaradas, cada vez mais, sem o<br />
peso negativo de tempos atrás. Este é um dos fatores que vai dar ao personagem do ladrão um grau de<br />
relativização e reconhecimento maior que do traficante, na medida que este último é entendido como<br />
alguém que usa e vicia sua própria gente.<br />
Assim, gradativamente o ladrão vai ter sua negatividade sendo transformada em positividade, a<br />
tal ponto de ladrão virar conceito positivo e um adjetivo carinhoso, assim como vagabundo e bandido.<br />
Estes adjetivos têm sua negatividade dilacerada e passam, ao contrário de outrora, a designar positividade<br />
e orgulho. Primeiro, em razão da posição ótima no sistema de trocas simbólico-materiais, de que<br />
trataremos mais adiante, e, segundo, em razão do enfrentamento com os grupos centrais da cidade e com<br />
as forças policiais.<br />
A seguir trechos de diferentes músicas que apontam para este processo de redefinição de valores<br />
e de constituição de identidades:<br />
Você está nas ruas de São Pau lo, onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé.<br />
Não é pessimismo não, é assim que é, vivão e vivendo. Querreiro tira chifra, é o<br />
doce veneno.<br />
(...) Hei pé de black, vai pensando que tá bom, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber.<br />
Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser.. -<br />
(VIVÂO E VIVENDO)<br />
... Hoje eu sou ladrão, artigo 157, as cachorras me amam, os playboys se derretem.<br />
Hoje eu sou ladrão, artigo 157, a polícia paga um pau, sou herói, dos pivetes.<br />
Nego, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna.<br />
Muita calma ladrão, muita calma, eu vejo os ganso desce, e as cachorras subir...<br />
(EU SOU 157)<br />
Minha intenção é ruim, esvazia o lugar! Eu tô em cima, eu tô a fim, um dois pra<br />
atirar!<br />
Eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é cem por cento veneno!<br />
A primeira faz “bum!”, a segunda faz “tá!”. Eu tenho uma missão e não vou parar!<br />
Meu estilo é pesado e faz tremer o chão! Minha palavra vale um tiro, eu tenho<br />
muita munição!<br />
Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além!<br />
Se tem disposição pro mal e pro bem! Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um<br />
mágico ou juiz, ou réu, um bandido do céu! Malandro ou otário, quase sanguinário!
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
franco atirador se for necessário! Revolucionário ou insano, ou marginal!<br />
Antigo e moderno, imortal! Fronteira do céu com o inferno! Astral imprevisível,<br />
como um ataque cardíaco do verso! Violentamente pacífico! Verídico!<br />
... Vim pra sabotar seu raciocínio e pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo!<br />
Pra mim ainda é pouco, dá cachorro louco! Número um guia terrorista da<br />
periferia!<br />
Uni-duni-tê, que eu tenho pra você, o rap venenoso ou uma rajada de PT...<br />
(CAPÍTULO 4, VERSÍCULO 3)<br />
3. Sistema de trocas simbólicas: o sentido da ação.<br />
Pierre Bourdieu (1996), ao falar de trocas simbólicas, chamou-as de economia dos bens<br />
simbólicos ou economia das coisas sem preço. O sistema de trocas simbólicas é como um jogo, um jogo<br />
social, cujos participantes se prendem de tal forma que, presos ao jogo, acreditam quase que<br />
incondicionalmente que vale a pena joga-lo, reconhecem o jogo, seus objetivos e alvos, perseguem o<br />
jogo, ou melhor, a vitória no jogo, como objetivo primário da própria existência. O futuro deixa de ser um<br />
projeto e passa a ser a própria vivência do presente no jogo. As ações não são totalmente calculadas e<br />
projetivas, elas vão se inscrever nos instantes do jogo social quase como ações naturais, óbvias, evidentes<br />
e certas.<br />
No que tange aos grupos marginais, a marginalidade impede a variedade de sistemas simbólicos,<br />
privados dos recursos sociais e de escolhas variadas de desenvolvimento as ações, idéias, condutas e<br />
comportamentos tendem a convergir para um único jogo. O que é preocupante, por este jogo relativizar<br />
uma sociabilidade na qual o crime e a violência desempenham um papel importante.<br />
Frente a este problema, é relevante utilizar o conceito de ilusio ou investimento, trabalhado pelo<br />
próprio Bourdieu (IBIDEM, p. 139-140):<br />
Se (...) você tiver o espírito estruturado de acordo com as estruturas do mundo no qual você está jogando, tudo<br />
lhe parecerá evidente e a própria questão de saber se o jogo vale a pena não é nem colocada. Dito de outro<br />
modo, os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer, como é a illusio é essa relação encantada com um<br />
jogo que é produto de uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas<br />
objetivas do espaço social [e geográfico]. (...) a illusio [ou investimento] é estar envolvido, é investir nos alvos<br />
que existem em certo jogo, por efeito de concorrência, e que apenas existe para as pessoas que , presas ao jogo,<br />
e tendo as disposições para reconhecer os alvos que<br />
ai estão em jogo, estão prontas a morrer pelos alvos que inversamente, parecem desprovidos de interesse do<br />
ponto de vista daquele que não está preso a este jogo...<br />
inversamente, parecem desprovidos de interesse do ponto de vista daquele que não está preso a este jogo...<br />
Neste sentido, os grupos marginais criaram cotidianamente um sistema de trocas simbólicomateriais,<br />
nos quais os elementos a serem trocados são de um lado valores abstratos – poder, prestígio,<br />
reconhecimento, status etc. – atados ao corpo de determinadas mercadorias – carros, motos, jóias, roupas<br />
etc. – que configuram uma espécie de capital simbólico-estético-material e, ao mesmo tempo, um<br />
potencial afetivo, sensual e sexual, que também vai se configurar num capital simbólico-estético,<br />
objetivado no corpo, na estética do corpo.<br />
Neste sistema, aos gêneros – masculino e feminino – cabem funções quase que determinadas, ao<br />
masculino cabe acumular capital simbólico-estético-material, através do consumo de mercadorias e usálo<br />
na troca pelo potencial afetivo, sensual e sexual feminino. Ao feminino, cabe trocar seu potencial<br />
afetivo, sensual e sexual, expresso na estética do corpo, pelo capital simbólico-estético-material<br />
associado ao consumo e ao uso de determinadas mercadorias reconhecidas como portadoras e símbolos<br />
de valores abstratos. Talvez isto explique, em certa medida, o maior envolvimento dos homens com o<br />
crime e a violência se comparado ao envolvimento das mulheres.<br />
A passagem a seguir evidencia alguns destes elementos:<br />
Quem não quer brilhar, quem não mostra quem ninguém quer ser coadjuvante<br />
de ninguém.<br />
Quantos caras bom no auge se afundaram, por fama, e tá<br />
tirando dez de havaiana.<br />
97
E quem não quer chegar de Honda preto em<br />
banco de couro, e ter a caminhada escrita em letra de ouro.<br />
A mulher mais linda, sensual e atraente, a pele cor da noite, lisa e reluzente.<br />
Andar com quem é mais leal e verdadeiro, na vida ou na morte o mais nobre<br />
guerreiro.<br />
O riso da criança mais triste e carente, ouro, diamante, relógio e corrente.<br />
Ver minha coroa onde eu sempre quis por, de turbante, chofer, uma madame nagô.<br />
Sofrer pra que mais se o mundo jaz do maligno, morrer como homem e ter<br />
um velório digno.<br />
Eu nunca tive bicicleta ou video-gsme, agora eu quem o mundo igual cidadão<br />
Kane...<br />
(DA PONTE PRÁ CÁ)<br />
98<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Elementos importantes de serem destacados a partir da passagem acima são as relações<br />
fetichizadas entre reconhecimento social e acúmulo de objetos. Quanto mais mercadoria se acumula, mais<br />
se acumula capital simbólico-estético e, logo, se superdimensionam as possibilidades de relações afetivas,<br />
sensuais e sexuais. Neste sentido, quanto mais consumidor, mais se acumula capital simbólico-estético<br />
que garanta status, poder, prestígio, reconhecimento e relações afetivas.<br />
Assim, diferentes valores abstratos ganham corpo em objetos de consumo, o que vai dar ao<br />
consumidor maiores e melhores, segundo tal lógica, relações afetivas, sensuais e sexuais. As novas<br />
estratégias de produção de mercadorias, cuja publicidade é essencial para se produzir a disposição da<br />
necessidade, isto é, o consumidor, intervem diretamente nas formas de apreensão das mercadorias e do<br />
consumo, produzindo um hiperhedonismo, que se satisfaz a partir do ato de aquisição, acúmulo e uso<br />
público de determinados objetos. O que vai incidir diretamente na auto-estima, amplificando de forma<br />
concreta e imaginária a beleza da estética pessoal, funcionando como instrumento de atração, reconhecido<br />
e coisificado em objetos de consumo.<br />
As mercadorias vão trazer consigo um valor estético embutido, principalmente, via mecanismos<br />
publicitários. Ao serem consumidas, reproduziram o capital econômico preso a elas, não obstante, farão o<br />
consumidor acumular capital estético de feições, sobretudo, não-materiais, mas que exercem funções<br />
práticas e imediatas. Ao acumular mercadorias, se acumulará prestígio, poder, status, reconhecimento e,<br />
entre outras coisas, valorização pessoal, uma espécie de fama e visibilidade que, ao menos no interior das<br />
comunidades, no lugar de reprodução social – o bairro - quebrará a morbidez do anonimato, da<br />
insignificância e da indiferença. A acumulação material se equivalerá a uma acumulação simbólica, da<br />
qual dependem a auto-estima, o reconhecimento, formas de poder, prestígios, status, afirmação pessoal e<br />
as relações afetivas.<br />
As modificações do sistema social, que impôs maiores dificuldades ao trabalho e ao trabalhador,<br />
precarizando diversas formas de realização do trabalho, não obstante, impôs à produção de bens e<br />
serviços o uso extensivo da publicidade e da propaganda, como fatores de produção, essenciais à<br />
circulação e a agregação de valor; diminuiu nas apreensões da realidade das populações urbanomarginais<br />
de São Paulo, o capital simbólico associado ao trabalho e aumentaram o capital simbólico<br />
associado ao consumo. Há, não somente entre as populações marginais, um processo de supervalorização<br />
do consumo e do consumidor e uma superdesvalorização do trabalho e do trabalhador.<br />
O ponto crítico deste processo é que as condições reais de consumo destas populações em uma<br />
situação de marginalidade e daquelas que estão passando pelo processo de marginalização são<br />
extremamente restritas e residuais. As condições e os ganhos do trabalho das populações marginais<br />
limitam as suas possibilidades de consumo, assim, seu capital simbólico-estético padece de atrofiação, de<br />
tal maneira que o crime serve como um meio de otimizar relativamente as condições de consumo e do<br />
consumidor, o que vai garantir aos indivíduos envolvidos em práticas legisladas como crimes maior<br />
capital simbólico e estético em relação ao trabalhador, portanto, melhores condições de consumo.<br />
Em outras palavras, traficantes e ladrões, por exemplo, no interior dos grupos marginais, vão centralizar<br />
capital simbólico-estético em razão das suas condições de consumo se mostrarem melhores que as<br />
condições de consumo dos trabalhadores, dos subtrabalhadores e dos desempregados. Portanto, o crime<br />
possibilita a compra de mercadorias essenciais e mercadorias que coisificam valores abstratos. Viver ou<br />
tentar viver do trabalho significa situar-se em posição inferior dentro deste sistema de trocas simbólico-
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
materiais. Assim, paulatinamente o crime e a violência, bem como os indivíduos envolvidos em práticas<br />
criminosas, vão revertendo a negatividade que sempre lhes foram atribuídas.<br />
As passagens a seguir são reveladoras, neste sentido:<br />
Eu sei como é que é, é foda parceiro, é a maldade na cabeça o tia inteiro.<br />
Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem ibope, não tem rolê sem dinheiro.<br />
Sendo assim, sem chance, sem mulher, você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder!<br />
É embaçado ou não é?<br />
Ninguém é mais que ninguém, absolutamente! Aqui quem fala é mais um<br />
sobrevivente...<br />
(FORMULA MÁGICA DA PAZ)<br />
... Imigina nóis de Andi ou de Citroen, indo aqui, indo ali, só pam, de vai e vem.<br />
(...) Firmeza! Não é questão de luxo, não é questão de cor, questão que fartura, alega o sofredor.<br />
Não é questão de presa, nem cor, a idéia é essa.<br />
Miséria traz tristeza, e vice-versa.<br />
Inconscientemente, vem na minha mente inteira, uma loja de tênis, o olhar do<br />
parceiro, feliz de poder comprar, o azul, o vermelho, o balcã, o esteiro, o estoque, o modelo.<br />
Não importa, dinheiro é truta, e abre as porta...<br />
(V. L. PARTE II)<br />
Na segunda a Patrícia, terça a Marcela, quarta a Raissa. Quinta a Daniela, sexta a Elisangela, sábado a Rosangela, domingo, a<br />
matinê4, 16 o nome é Angela.<br />
Tenho a lista com as características e os nomes.<br />
— Qual é a fonte parceiro?<br />
— Isso não é segredo. Colo de moto, lá ligado, tenho dinheiro.<br />
As cachorras fica tudo ouriçada quando chego, ponho pânico, peço champanhe no gelo<br />
(...) Fico ali olhando, sentado, filmando, elas fazem de tudo pra chamar sua atenção, passa, taca na cara, na pretensão...<br />
(ESTILO CACHORRO)<br />
Nota-se que há na primeira passagem uma relação em cadeia entre a falta de dinheiro, de objetos<br />
de consumo, de trabalho e de mulher. Na segunda passagem há, por sua vez, a valorização da condição de<br />
consumidor e a valorização do uso público da mercadoria, no caso carros de empresas multinacionais. É<br />
impressionante como as marcas do capital globalizado intervém de forma constante na alimentação deste<br />
sistema de trocas, cujas melhores condições de sustentação estão ligadas às atividades que envolvam o<br />
crime e a violência.<br />
É mister observar que, embora haja uma associação direta entre mercadoria, valores abstratos:<br />
status, poder, prestigio etc., e potencial afetivo-sensual-sexual, há uma recusa da lógica do preço e do<br />
cálculo estritamente racional, o que impede que este sistema de trocas particular seja reduzido à economia<br />
das trocas econômicas, e a troca, em si, seja definitivamente encarada como prostituição. É necessário que<br />
a troca seja mistificada, de forma que sua explicitação seja sempre ambígua. “Dizer do que se trata,<br />
declarar a verdade da troca ou como dizemos, à vezes, ‘quanto custou’, [...] é anular a troca”<br />
(BOURDIEU, 1996, p.168). Essa é uma relação que não pode se introduzir um preço, mesmo que ele<br />
exista implicitamente ou esteja explícito.<br />
A verdade objetiva da troca exige um esforço de construção dissimulatória para impedir que a<br />
verdade sobre aquilo que se troca venha à tona. Uma alquimia simbólica, como disse Bourdieu<br />
(IBIDEM), que faz com que haja um duplipensar (ORWELL, 1984) sobre o sistema de trocas simbólicomateriais<br />
capaz de ao mesmo tempo ser apreendia como uma troca de algo por algo, tangível e factível,<br />
isto é, de uma forma extrema, troca de objetos de consumo, de um lado, pelo corpo, de outro, exigindo<br />
assim o cálculo racional, o preço e a explicitação; ela também não é apreendida totalmente como tal, de<br />
maneira que a troca não é apreendida como troca, por isto, não tem preço ou cálculo, e, assim, não tem<br />
que ser explicada, por que não existe.<br />
Interesse e desinteresse convivem na mesma atitude, porém. ambos os lados se mostram<br />
desinteressados em relação à troca, associando o interesse com o outro lado. Assim, vai se produzindo<br />
uma conotação negativa principalmente da mulher interessada, sem se produzir a mesma representação do<br />
homem interessado, seja ele bandido ou trabalhador, vai prevalecer a representação de desinteresse,<br />
99
100<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
enquanto em relação à mulher, a representação a priori vai ser sempre de interessada, de tal maneira que a<br />
representação positiva de mulher, será da mulher desinteressada pela troca, embora isto não implique em<br />
uma disputa menos acirrada por capita- simbólico-estético do gênero masculino.<br />
Dito isto, é importante notar que a violência para os grupos subalternos da cidade, particularmente<br />
os mais jovens, cumpri uma função central de possibilitar uma otimização do consumo e das relações<br />
afetivas e sexuais, produzindo uma nova forma de pertencimento, o que intercala um metabolismo<br />
próximo com um metabolismo distante e ao mesmo tempo fornece um sentido e uma finalidade para a<br />
violência, de modo a produzir sua positivização, juntamente com a positivização do crime, e a construção<br />
de uma identidade que anime esta lógica, uma identidade marginal, extremamente densa, que<br />
comportará,, por que não, uma identidade bandida!<br />
4. Referências bibliográficas.<br />
ANDI. Balas Perdidas: Um olhar sobre o comportamento da impressa brasileira quando a criança e o<br />
adolescente estão na pauta da violência. Brasília, DF. 2001.<br />
BOOKCHIN, Murray. Municipalismo Libertário. São Paulo: Editora Imaginário, 1999.<br />
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação social. Campinas: Papirus, 1996.<br />
CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. 2ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2000.<br />
LEFEBVRE, Henri. O direito à Cidade. São Paulo: Editora Moraes, 1991.<br />
MICHAUD, Yves. La violência. Madri: Acento Editorial, 1998.<br />
MORAIS, Régis. O que é violência? São Paulo: Brasiliense, 1985.<br />
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1984.<br />
PEREIRA, C. A M.; RONDELLI, E; SCHOLLHAMMER, K. M; HERSCHMANN, M. (orgs)<br />
Linguagens da Violência. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.<br />
ROCHA, Janaina; DOMENICH, Mirella e CASSEANO, Patrícia. HIP HOP: A periferia Grita. São<br />
Paulo, SP: Perseu Abramo, 2001.<br />
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica, e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec,<br />
1996.<br />
______________. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. São<br />
Paulo - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.<br />
SMITH, Neil. Contornos de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção de escala<br />
geográfica. In: ARANTES, A. A (org). O espaço da diferença. Campinas, SP: Papirus, 2000.<br />
SOARES, Luís Eduardo. Uma interpretação do Brasil para contextualizar a violência. In: PEREIRA, C. A<br />
M.; RONDELLI, E; SCHOLLHAMMER, K. M; HERSCHMANN, M. (orgs) Linguagens da Violência.<br />
Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p.23-46.<br />
__________________. Novas políticas de segurança pública. Revista Estudos Avançados, São Paulo.<br />
v.17, n.43, janeiro/abril, 2003, p.75-96.<br />
TAILLE, Yves de La. Violência: Falta de limites ou valor? Uma análise psicológica. In: In: ABRAMO,<br />
H. W; FREITAS, M. F. e SPOSITO, M. P. (Orgs). Juventude em Debate. São Paulo: Cortez – Ação<br />
Educativa, 2000, p.110-134.<br />
TOSTOI, Leon. A violência das Leis. In: WOODCOCK, G (org). Os grandes escritos anarquistas.<br />
Porto Alegre: L & PM, 1981, p.106-7.<br />
WIEVIORKA, M. O novo paradigma da violência. Tempo Social. Revista de Sociologia. São Paulo, v. 9.<br />
n 1 p 5-42m maio 1997.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
AOS “VADIOS”, O TRABALHO: CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE REPRESENTAÇÕES<br />
SOBRE O TRABALHO<br />
E A VADIAGEM NO BRASIL ∗<br />
101<br />
Jones Dari GOETTERT ∗∗<br />
“No primeiro dia tudo parece bem.<br />
No segundo dia já não sei o que fazer.<br />
No terceiro dia quase enlouqueço.<br />
No quarto dia vou visitar meus colegas.<br />
No quinto dia começo a esperar, num tempo<br />
que quase não passa, o fim de minhas férias.”<br />
(José, motorista)<br />
Resumo: Discorremos aqui sobre como no Brasil, durante os últimos 500 anos, foram construídas<br />
representações de trabalhadores e vadios. Representações que atenderam interesses e projetos das elites<br />
econômicas, desde a substituição do índio pelo negro, do escravo e do nacional pelo imigrante e, hoje, do<br />
“incômodo” desnecessário econômico.<br />
Palavras-chave: trabalhadores; vadios; representações.<br />
Resumen: En nuestro ensayo discutimos como se construyeron las representaciones de<br />
trabajadores y vagabundos en Brasil, durante los últimos 500 años. Estas representaciones atendían a<br />
intereses y proyectos de las elites económicas, y van desde la substitución del indio por el negro, del<br />
escravo y del nacional por el inmigrante y, hoy, hasta del “incómodo” desnecesario económico.<br />
Palabras-llave: trabajadores; vagabundos; representaciones.<br />
1. Introdução.<br />
A liberdade preconizada pelo trabalho é um dos sustentáculos das relações de produção e de<br />
trabalho, no capitalismo. A ideologia em torno da primazia do trabalho como condição sine qua non de<br />
ascensão sócio-econômica, é um dos aspectos de maior relevância na construção de mulheres e homens<br />
subordinados à lógica da submissão e exploração de seus corpos e mentes. As representações sobre os<br />
“não-trabalhadores”, construídas ao longo dos últimos cinco séculos no Brasil, refletem o quanto o ideal<br />
do trabalho é importante na manutenção do status quo dos donos dos meios de produção, dos que<br />
comandam o trabalho sem, necessariamente, trabalhar.<br />
Vadios, vagabundos, indolentes e preguiçosos, são alguns dos adjetivos empregados àqueles que<br />
se encontram “fora” do mundo do trabalho. Representações construídas e reconstruídas continuamente<br />
como garantia de manutenção do ícone-trabalho. Representações que figuram no imaginário social<br />
brasileiro e que tiveram sua origem já no contato entre europeus e índios a partir do século XVI.<br />
Representações que, também, sofreram mudanças na medida que novas relações de trabalho e novos<br />
trabalhadores foram necessários, e outros desnecessários, na reprodução das relações de poder que<br />
sustentam as bases material e simbólica para a opulência de poucos e a desclassificação social de muitos.<br />
Analisar, sucintamente, como representações de “não-trabalhadores” e “trabalhadores” foram<br />
construídas no Brasil, é o objetivo central deste texto. Também, em decorrência do objetivo primeiro e<br />
principal, verificar como tais representações sofreram mudanças na medida que certos sujeitos passaram a<br />
ser destituídos de um lugar central, substituídos por outros que apresentavam um “melhor perfil” nas<br />
novas conjunturas econômicas; arriscaremos lançar algumas hipóteses da necessidade ideológica da<br />
construção de representações, de trabalhadores e de não-trabalhadores, como garantia da manutenção de<br />
∗ Texto publicado em 2002, n. 9, v. 2 A produção deste texto tem por base a disciplina “História Social do Trabalho no Brasil” ministrada<br />
pela prof’. Dra. Eda Maria Góes, no primeiro semestre de 2001, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, <strong>FCT</strong>-UNESP.<br />
∗∗ <strong>Doutor</strong>ando junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia — <strong>FCT</strong>/UNESP. E-mail:<br />
jonesdari@hotmail.com. Atualmente é professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
102<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
um mundo dicotomizado e, portanto, passível de separação entre os “bons” e os “maus”. Por fim,<br />
apresentaremos uma breve trajetória dos “desclassificados sociais” do período colonial aos “excluídos<br />
desnecessários” contemporâneos, demonstrando possíveis continuidades e descontinuidades.<br />
É, ainda, buscar demonstrar que no Brasil, fundamentalmente, as representações sobre as suas<br />
gentes conservam as marcas da sociedade colonial escravista. Como enfatizou Marilena Chaui (2000, p.<br />
89),<br />
As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mandoobediência.<br />
O outro jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido<br />
como subjetividade nem como alteridade.<br />
2. Projetos e representações.<br />
As representações, enquanto componente estrutural da ideologia dominante, participam<br />
organicamente dos mecanismos de construção e reconstrução de concepções e práticas que sustentam os<br />
projetos dos dominadores (dos ricos, pois é assim que os trabalhadores melhor definem as mulheres e<br />
homens burgueses). Como parte da realidade e inseparável dela, as representações articulam-se no todo<br />
social para justificarprojetos e aliciar possíveis sujeitos dissonantes dos interesses hegemônicos. As<br />
representações em torno do trabalho, dos trabalhadores e dos nãotrabalhadores, participaram e participam<br />
da história brasileira como componentes ideológicos para a manutenção da dicotomização dos que<br />
trabalham e dos que “não-trabalham”, dos responsáveis pela riqueza colonial e nacional e dos “vadios<br />
irresponsáveis”, dilapidadores dos bens da Coroa Portuguesa e da Nação Brasileira 102 .<br />
É, portanto, a necessária construção de representações para a manutenção do mundo da<br />
propriedade privada dos meios de produção, mas também da produção daí decorrente, através do trabalho.<br />
Produzir trabalhadores e vadios, homens bons e homens maus, desde a chegada dos europeus no território<br />
por eles denominado Brasil, possibilitou a sustentação de braços para o trabalho de extração do paubrasil,<br />
de produção do açúcar, da exploração de metais preciosos, da produção de café e cacau, do<br />
desenvolvimento da indústria, da ocupação de “espaços vazios”, da construção de obras públicas... A<br />
sustentação de uma gama de mulheres e homens que “se negaram” à vadiagem e fizeram de seu trabalho<br />
o fundamento do Brasil Gigante.<br />
Marilena Chaui (2000) enfatizou que a representação do Brasil Gigante, como um dom de Deus<br />
e da Natureza, com um povo pacífico, ordeiro, generoso, alegre e sensual mesmo que sofredor, de um<br />
país sem preconceitos, acolhedor de todos que nele desejam trabalhar, e de contrastes regionais, por isso<br />
plural econômico e culturalmente, participa do “mito fundador do Brasil”. O mito que, em seu sentido<br />
antropológico, apresenta-se como uma narrativa no sentido de uma “solução imaginária para tensões,<br />
conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos em nível da realidade”; já em<br />
seu sentido psicanalítico, o mito é tido como “impulso à repetição de algo imaginário, que cria um<br />
bloqueio à percepção da realidade e impede lidar com ela” (CHAUI, 2000, p. 8-9).<br />
O mito como produtor de valores, idéias, comportamentos e práticas, também é produtor de<br />
representações. Representações que participam do conjunto de idéias que sustentam tanto o pensar quanto<br />
o fazer a realidade. Representações que participam da construção e efetivação das idéias que são<br />
interiorizadas e aceitas como verdades supra-realidade, universais e incontestáveis.<br />
102 A idéia de Nação Brasileira que é dada pela ‘forte prescnça de uma representação homogênea que os brasileiros possuem do país e de si<br />
mesmos”, é acentuado por Marilena Chaui; a autora ainda observa: “Essa representação permite, em certos momentos, crer na unidade, na<br />
identidade e na indivisibilidade da nação e do povo brasileiros, e, em outros momentos, conceber a divisão social e a divisão política sob a<br />
forma dos amigos da nação e dos inimigos a combater, combate que engendrará ou conservará a unidade, a identidade e a indivisibilidade<br />
nacionais” (CHAUI, 2000, p. 7-8). A presença de uma representaça homogênea poderia, num primeiro momento, estar em contradição com<br />
as representações dicotomizantes também presentes e construídas; no entanto, essa contradição é apenas aparente na medida que as suas<br />
construções atendem aos mesmos Interesses mas eni circunstâncias diferentes. A representação homogênea se coloca quando busca-se a<br />
unidade nacional frente a um “inimigo” externo ou quando da necessidade da sustentação do mito do desenvolvimento econômico (discutido<br />
por FURTADO, 1996) e do progresso. Já as representaçôes dicotomizantes são acentuadas como componente ideológico interno<br />
justificadoras do status quo de certos grupos, e como pressão para a obediência e a submissão à lógica capitalista e, por sua vez, à sua<br />
representação do trabalho e de trabalhadores.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
As representações, como surgidas magicamente sem autor e sem filiação, inserem-se no jogo das<br />
construções de concepções e práticas que se espraiam, de uma ou de outra forma, em toda sociedade. A<br />
partir destas mesmas representações são as mulheres e homens classificados, assumindo como<br />
centralidade o trabalho e, em decorrência, a classificação dos trabalhadores e dos não-trabalhadores, dos<br />
capazes e dos incapazes, dos esforçados e dos indolentes. Concepções e práticas que acabaram por<br />
engendrar os mecanismos de sustentação de projetos dos portugueses, dos senhores de engenho, dos<br />
caçadores e traficantes de escravos, dos mineradores, dos fazendeiros de café, de soja, dos industriais e<br />
banqueiros, enfim, dos que tiveram (e têm), na força de seus valores e idéias, as práticas para a<br />
acumulação ampliada e contínua de capital, propiciada pelo trabalho de outrem.<br />
Marx (1983) já colocara, no século XIX, que um “poder estranho” e “invisível” penetra sobre as<br />
mulheres e homens, trabalhadores ou não, quando no sistema da propriedade privada cada<br />
[...] homem especula sobre a criação de uma nova necessidade no outro a fim de obrigá-lo a um novo<br />
sacrifício, colocá-lo sob nova dependência, e induzi-lo a um novo tipo de prazer e, em conseqüência, à ruína<br />
econômica. Todos procuram estabelecer um poder estranho sobre os outros, para com isso encontrar a<br />
satisfação de suas próprias necessidades egoístas [...]. (MARX, 1983, p. 127).<br />
Este estranhamento, no entanto, também reflete a força de representações que escamoteiam o<br />
poder e asseguram a “aceitação” do sacrifício. Uma “aceitação” do trabalho que Marx, em outro<br />
momento, observava:<br />
O trabalhador só se sente consigo mesmo fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Ele está<br />
em casa quando não trabalha, quando trabalha não está em casa. Seu trabalho, por isso, não é voluntário, mas<br />
constrangido, étrabalho forçado. Por isso, não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de<br />
satisfazer necessidades exteriores a ele mesmo. A estranheza do trabalho revela sua forma pura no fato de<br />
que, desde que não exista nenhuma coerção física ou outra qualquer, foge-se dele como se fosse uma peste<br />
(GRUPO KRISIS, 1999, p. 29).<br />
Representações que ligadas ao trabalho (centralidade do sacrifício 103 ), constróem e reconstróem,<br />
simultaneamente, o amor e o ódio, inseparáveis no capitalismo. Ambos constituem o que poderia ser<br />
definido como os dois lados de uma mesma moeda: a necessidade que os capitalistas têm, a partir do<br />
trabalho de outros em produzir, circular e consumir mercadorias para a obtenção do lucro e, por outro<br />
lado, a necessidade posta para os despossuídos dos meios de produção em trabalhar, “dignificando-se” e<br />
acreditando em sua possível transformação em dono, senhor e patrão.<br />
Nesses termos, as mulheres e homens livres para o trabalho, não-escravos e não-servos da gleba,<br />
devem amá-lo até para suportarem, dia-a-dia, o peso da rotinização, da alienação e da remuneração<br />
aviltante e precária. Mas, o amor pelo trabalho esvai-se quando o corpo começa a sofrer o desgaste de<br />
jornadas prolongadas diante da ordem, das circulares internas, dos chefes carrancudos e do tempo que não<br />
passa. Já o ódio pelo trabalho é superado quando a preguiça, a indolência, a culpabilidade e o fracasso são<br />
atributos indispensáveis ao desempregado, ao sem-trabalho.<br />
Negócio e ócio, trabalho e não-trabalho, trabalhador e preguiçoso, esforçado e indolente,<br />
empreendedor e “sem-visão”... Dicotomias de um mundo do trabalho que reflete a necessidade de um<br />
mundo-todo que precisa ser dicotomizado continuamente, como garantia de sua própria reprodução. A<br />
dicotomia trabalho/ócio é parte de um mundo dicotomizado. Em outras palavras, as mulheres e homens<br />
dicotomizados e dicotomizantes são condição para a legitimação de concepções e práticas que buscam a<br />
reprodução das relações capitalistas. A atribuição a uns — representações – de trabalhadores e a outros<br />
de inaptos para o trabalho, parece ser um dos elementos de suporte da alienação que reina sobre as<br />
mulheres e homens do Trabalho (na relação com o Capital). Condição primordial para um certo equilíbrio<br />
entre o amor e o ódio ao trabalho pelos trabalhadores.<br />
103 A enfase na centralidade do trabalho se opõe, portanto, à perspectiva apontada por Claus Offe (1989), principalmente pela sua ressalta<br />
que o “trabalho foi deslocado de seu status dc fato vital central e óbvio” para os trabalhadores. Por Outro lado, mesmo com a reestruturação<br />
produtiva capitalista que se desenvolve desde os anos 1970, reduzindo drasticamente os postos de trabalho (o que levou o GRUPO KRISIS<br />
[1999] a ressaltar que o trabalho não mais passava de um “defunto’), ainda entendemos que o trabalho, em sua complexidadcs material e<br />
simbólica, continua exercendo uma centralidade expressiva nas relações humanas.<br />
103
104<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Fica explícita, nas representações dicotômicas entre trabalhador e não-trabalhador (ou mais<br />
trabalhador e menos trabalhador, esforçado e indolente), a ênfase na diferença. São diferentes os que<br />
trabalham dos que não trabalham; são diferentes os que se esforçam no trabalho e os que “enrolam”,<br />
“matam” e sabotam o serviço! É em nome das diferenças que a superioridade e inferioridade entre ambos<br />
é reforçada. As representações, assim, agem como um componente fundamental na aceitação da própria<br />
condição de trabalhador, ao mesmo tempo que impossibilitam a percepção do jogo no qual o trabalhador<br />
está inserido.<br />
Para tanto, a definição de representação dada por Pierre Bourdieu apud Galetti (1999, p. 2) é<br />
lapidar:<br />
[ ...] as representações como atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento em<br />
que os agentes investem os seus interesses e os seus pressupostos, e, em cuja elaboração, está em jogo o<br />
monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer. Trata-se, portanto, de considerar<br />
que as representações podem contribuir para produzir aquilo por elas descrito ou designado quer dizer: a<br />
realidade objetiva.<br />
No monopólio de “fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer”, as<br />
representações têm papel importante na instituição das relações, como já apontado por Marx e Engels<br />
(1984, p. 7): “Até aqui, os homens têm sempre criado representações falsas sobre si próprios, e daquilo<br />
que são ou devem ser. Segundo as suas representações de Deus, do homem normal, etc., têm instituído as<br />
suas relações”.<br />
Representações do “homem normal”: a normalidade conferida às mulheres e homens que se<br />
enquadram nos perfis preconizados diante das necessidades capitalistas. A normalidade que têm o amor, a<br />
dedicação e o empenho pelo trabalho como pontos de destaque nos sujeitos que “aceitam” desempenhar o<br />
papel a eles conferido por Deus, como condição, também, de acesso à “vida eterna”.<br />
O “homem normal”, portanto, é aquele que se insere no mundo do trabalho do Capital e “aceita”<br />
as condições ali colocadas. O “anormal”, inversamente, tem sua representação centrada na vadiagem, na<br />
preguiça e na indolência. Não raras vezes, entretanto, o “anormal” também difere do trabalhador por<br />
diferenças étnicas, regionais, culturais, econômicas e políticas. O branco trabalhador e o índio indolente, o<br />
imigrante trabalhador e o negro inapto para o trabalho assalariado, e o gaúcho empreendedor e o<br />
nordestino acomodado, exemplificam representações de normais e “anormais”.<br />
Se as “idéias de uma época sempre foram as idéias da classe dominante”, sendo estas idéias, sob<br />
o capitalismo, “produto das relações burguesas de produção e propriedade” (MARX e ENGELS, 1998, p.<br />
26 e 24), as representações (hegemônicas) de uma época também são as representações das elites. As<br />
representações de si e do mundo, dos outros e das relações que são estabelecidas, devem ser, sobretudo,<br />
compreendidas à luz das relações e atividades reais. Pois,<br />
Os homens são os produtores das suas representaçoes. idéias etc., mas os homens reais, os homens que<br />
realizam, tais como se encontram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças<br />
produtivas e do intercâmbio que a estas corresponde até às suas formações mais avançadas (MARX e<br />
ENGELS, 1984, p. 22).<br />
Portanto, as representações fazem parte da real. No ato de perceber e de apreciar, de conhecer e<br />
de reconhecer, os interesses, idéias, valores, concepções, práticas e representações, participam das<br />
relações materiais e simbólicas construídas e reconstruídas.<br />
3. Ìndios e negros.<br />
A terra brasilis, definindo no próprio nome o tom da colonização (de pau-brasil, produto<br />
altamente comercializável na Europa pela extração de matéria corante empregada na tinturaria), passava a<br />
reproduzir uma das máximas de Pero Vaz de Caminha: “aqui, em se plantando, tudo dá”, podendo ser<br />
reposta em aqui, em se trabalhando, tudo se consegue. Para a extração do pau-brasil foi necessário o<br />
trabalho de alguém. O índio foi a escolha. Não porque era considerado um trabalhador, mas porque
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
despojado de alma e o único a ser submetido, naqueles termos, ao trabalho pesado: “É graça aliás à<br />
presença relativamente numerosa de tribos nativas no litoral brasileiro que foi possível dar à indústria [do<br />
pau-brasil] um desenvolvimento apreciável” (PRADO JÚNIOR, 1998, p. 25).<br />
Mesmo com a atuação fundamental do índio na extração do pau-brasil, a construção de sua<br />
imagem diante do europeu não retirou a pecha de diferente e inferior que, na centralidade do trabalho na<br />
terra brasilis, foi a vadiagem a sua primeira representação:<br />
Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã, de encher os olhos só pelo prazer de vê-los, aos<br />
homens e às mulheres, com seus corpos em flor, tinha um defeito capital: eram vadios, vivendo uma vida<br />
inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que é que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis<br />
vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver (RIBEIRO, 1995, p. 45, grifos nossos).<br />
Cabe ressaltar que a questão não se ateve apenas ao trabalho (e até pelo contrário), mas às<br />
concepções, práticas e modos de vida dos europeus e dos índios. É aqui que parece haver a necessidade<br />
de construção da representação da diferença como pressuposto fundamental na relação entre “superiores”<br />
e “inferiores” 104 A representação e atribuição de vadios aos índios estava associada ao seu “estágio” de<br />
“desenvolvimento civilizatório” (hoje “tecnológico”!) e não à possível negação do trabalho na extração<br />
do pau-brasil ou mesmo em outras atividades. O sentido do trabalho, para os europeus, estava centrado na<br />
possibilidade empreendedora dos povos. Em outras palavras, a “vadiagem” dos índios relacionava-se a<br />
sua “incapacidade” de progresso e evolução, nos termos europeus.<br />
Mas, também, outro aspecto deve ser considerado, o da universalidade das idéias,<br />
representações, concepções e práticas, acarretando a inibição do diferente. Este aspecto está centrado na<br />
constante “necessidade” de afirmação de povos sobre outros. Para os europeus, e aqui em especial para os<br />
portugueses, a universalidade apresentava um componente importante que era o catolicismo (do grego<br />
katholikós, universal). A universalidade entendida e pretendida como verdadeira foi a do conquistador.<br />
Por isso, o fato do índio ser o principal trabalhador na extração do pau-brasil não o retirava de sua<br />
condição de diferente, neste caso de vadio, justamente porque o centro das concepções e práticas<br />
indígenas diferia substancialmente do centro das concepções e práticas do português.<br />
É importante lembrar que o período de expansão ultramarina européia e a expansão comercial,<br />
estão associadas ao início da construção do que se afirmaria, mais tarde, como modernidade, com anseio à<br />
universalidade. Como apontou Nascimento (2000, p. 62-63), a<br />
[...] sociedade moderna é concebida como uma sociedade aberta, de grande mobilidade social, em que os<br />
indivíduos se constituem como personagens centrais. Movida pela racionalidade, tendo a ciência como a<br />
forma de saber central, seu sistema econômico é naturalmente vocacionado àuniversalidade, expulsando a<br />
idéia de exterioridade.<br />
Assim, projetando-se à universalidade e “expulsando a idéia de exterioridade”, os europeus<br />
tinham nas suas concepções e práticas, e nas representações, a exclusividade do “fazer ver e do fazer<br />
pensar, de dar a conhecer e de fazer reconhecer”. As representações, no entanto, também são<br />
constantemente ressignificadas e repostas: se a “vadiagem” atribuída ao índio fora uma constante mesmo<br />
durante as atividades de exploração do pau-brasil, essa representação foi intensificada quando o trabalho<br />
indígena perde a centralidade no próprio centro dinâmico da economia colonial. Do pau-brasil à produção<br />
da cana-de-açúcar, a base da força de trabalho sofreu mudanças com a substituição progressiva da mãode-obra<br />
indígena pela mão-de-obra escrava africana.<br />
A representação do índio inapto para ao trabalho se acentuou justamente quando outro interesse<br />
se colocou em cena: o tráfico e a comercialização do negro. Mas e o negro, era apto ao trabalho? Possuía<br />
o negro uma pré-disposição maior que o índio para o trabalho nos canaviais, nos engenhos? É certo que as<br />
concepções e práticas de índios e negros eram diferentes... Mas deve-se considerar que os negros<br />
aprisionados para a escravidão se assemelhavam em muito aos índios; e o argumento de que muitas das<br />
tribos africanas já desenvolviam a escravidão é simplista para explicar a preferência pelos africanos. O<br />
104 Citando Meneses, Eduardo Yázigi (200], p. 48), aponta que “o semelhante é inofensivo, inócuo. E o diferente que encerra risco, perturba.<br />
Assim, a diferença está na base de todas as classificações, discriminações, hierarquizações sociais. Em outras palavras, não se precisam as<br />
diferenças apenas para fins de conhecimento, mas para fundamentar defesas e privilégios”.<br />
105
106<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
argumento principal é de natureza econômica: a dificuldade crescente de aprisionamento de índios e a<br />
formidável lucratividade do tráfico do negro passou a ser o definidor para a opção desse novo sujeito para<br />
o trabalho. Ou seja, como ressalta Novais (1993), a escravidão colonial, do negro, deve ser entendida a<br />
partir do tráfico negreiro, como engrenagem ao sistema mercantilista de colonização por se colocar como<br />
um importante setor do comércio colonial.<br />
Segundo Kowarick (1987), como prática altamente lucrativa o tráfico negreiro era um poderoso<br />
fator de acumulação primitiva. Portanto,<br />
[...] como modalidade de exploração do trabalho engrenada plena e unicamente ao processo de acumulação<br />
primitiva, o trabalho cativo toma-se elemento de fundamental importância na trajetória que leva ao avanço<br />
do capitalismo europeu (KOWARICK, 1987, p. 23).<br />
A substituição do trabalho do índio pelo trabalho negro, calcada também sobre as representações<br />
depreciativas sobre o primeiro, teve seu embasamento prático fincado sobre interesses econômicos<br />
advindos do próprio tráfico inter-continental de escravos. Portanto, a<br />
[...] adoção do trabalho escravo se deveu, nesse contexto, ànecessidade de maximizar os lucros através, por<br />
um lado, da superexploração de uma forma de trabalho compulsório limite<br />
— pois eram apropriados o trabalho e o trabalhador – e, por outro, às grandes vantagens comerciais que<br />
advinham do tráfico (SOUZA, 1990, p. 61).<br />
É nesses termos que se deve considerar a presença do escravo negro no Brasil, e como ele<br />
participou da construção ou não das representações das diferenças que acabaram realçando a questão do<br />
trabalhador e do “vadio”.<br />
Diferentemente do índio, o negro era traficado e chegava ao Brasil “despossuído” de sua<br />
humanidade. O negro não era nem trabalhador nem vadio: era escravo. Ao escravo não era possibilitado o<br />
“entrar e sair” do mundo do conquistado; ele nascia escravo e se formava dentro desse mundo ao ser<br />
embarcado nos navios do tráfico na costa africana. Portanto, a lentidão, o boicote e a sabotagem no<br />
trabalho derivavam de sua condição de cativo que estava em oposição à liberdade, e não a concepções e<br />
práticas que necessariamente destoassem das dos conquistadores. Isso não quer dizer que suas concepções<br />
e práticas eram as mesmas dos europeus; muito pelo contrário. E que seu mundo é “destroçado” pela sua<br />
condição de “coisa”, de mercadoria. A representação de “coisa”, como construção dos traficantes e dos<br />
senhores no engenho, não lhe possibilitava transitar entre dois mundos, como os índios. Escravo e longe<br />
de sua terra de origem, o negro refletia no banzo 105 o “roubo” de sua alma.<br />
Pelo menos até a substituição do escravo pelo “trabalhador livre”, pelo imigrante, na segunda<br />
metade do século XIX, representar e designar o negro como “preguiçoso”, “indolente” e “vadio”, fazia<br />
pouco sentido. Porque o negro era obrigado ao trabalho, diferente dos trabalhadores “livres” europeus que<br />
trabalhavam induzidos pela necessidade e ideologia do trabalho. E se, mesmo assim, os senhores e os<br />
feitores tinham no negro, além de escravo, também um vagabundo, porque resistia ao trabalho, isso deve<br />
ser compreendido à luz das relações escravistas: a compulsoriedade do trabalho, de um lado, e as práticas<br />
de resistência, de outro. Segundo Nascimento (2001, p. 43-44)<br />
[...] o negro era vagabundo para o senhor de escravos se não produzisse o quanto este desejava, sendo que no<br />
odioso regime de escravidão, principalmente no eito, uma das formas de resistência era, obviamente,<br />
procurar se trabalhar o menos possível, ou mesmo não trabalhar, quando a vigilância e a repressão<br />
arrefecessem por quaisquer motivos.<br />
A representação do “negro indolente” e pouco afeito ao trabalho começou a figurar no Brasil (ou<br />
no mínimo a se intensificar) quando o próprio sistema escravista entrou .em crise (que se estendeu até o<br />
último quartel do século XIX), quando o tripé monocultura, latifúndio e escravidão entrou em colapso 106 .<br />
Segundo Martins (1990, p. 28),<br />
105 “Banzo, saudade de negro, saudade de tudo aquilo que desejava ver e não via, da terra natal, da mãe Africa. O negro escravo definhava,<br />
com a alma apertada na goela, querendo evadir-se à procura das longínquas vivências costumeiras. De banzo, morria” (SILVEIRA. 1998, p.<br />
35).<br />
106 A “crise do antigo sistema colonial”, segundo Fernando A. Novais (1993).
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
A dupla função da escravatura, como fonte de trabalho e como fonte de capital para o fazendeiro, suscitava,<br />
na conjuntura de expansão do crédito e dos cafezais, o problema de como resolver a contradição que nela se<br />
encerrava. Objetivamente falando, a solução inevitável seria a abolição da escravatura. Com a demanda<br />
crescente de trabalho escravo e conseqüente elevação do preço do cativo, os fazendeiros teriam que<br />
imobilizar parcelas crescentes de seus rendimentos monetários sob a forma de renda capitalizada, pagando<br />
aos traficantes de negros um tributo que crescia desproporcionalmente mais do que a produtividade do<br />
trabalho.<br />
Era preciso, assim, substituir o escravo por outra força de trabalho em que era desnecessária a<br />
antecipação de capital 107 .<br />
Para tanto foi preciso, também, a construção de representações que justificassem a substituição<br />
do trabalho escravo pelo trabalho livre assalariado. Concomitantemente à necessidade de formação de um<br />
conjunto de trabalhadores “livres” que possibilitasse a “libertação” do escravo, representações dos negros<br />
eram construídas ou reforçadas, participando como componente ideológico indispensável às mudanças<br />
nas relações de trabalho. A condição de escravo e “coisa”, neste momento, passou a pesar fortemente<br />
como argumento para a construção das representações que o fizeram “livre”, mas também dispensável.<br />
A condição de escravo retirava do negro uma possível condição de trabalhador, na representação<br />
de trabalho como enobrecimento dos sujeitos nele envolvidos. De sujeito indispensável para o trabalho<br />
durante mais de três séculos, o negro escravo passou a ser representado justamente por práticas que<br />
assumiu nesse longo tempo enquanto resistência à compulsoriedade do trabalho: o negro é lento no<br />
trabalho, indolente, sabotador e mais afeito à festa. Desprovido de hábitos de disciplina ao trabalho,<br />
pouco afeito ao mando e à ordem (já que a desobediência e as fugas eram constantes), o negro escravo<br />
passa a ser representado como atrasado e inapto para o trabalho livre.<br />
Segundo Naxara (1998, p. 50),<br />
[...] a superação da escravidão implicava a substituição completa do trabalhador, O escravo, da forma como<br />
era visto e na situação em que se encontrava, não correspondia ao ideal do trabalhador livre e não tinha<br />
condições para preencher o espaço que viria a se abrir com a abolição — faltavam-lhe requisitos básicos:<br />
mentalidade e preparo para o exercício do trabalho livre e da cidadania.<br />
É importante registrar, no entanto, que as representações sobre o negro também deconeram da<br />
resistência frente à escravidão, como as revoltas, os assassinatos de senhores e o abandono da produção.<br />
Esse último aspecto demonstra que a abolição da escravidão no Brasil, se obedeceu a imperativos<br />
econômicos endógenos e exógenos, também foi resultado da luta de negros e abolicionistas.<br />
A pretensa recusa ao trabalho, ou melhor, a um tipo específico de trabalho por parte do negro,<br />
ex-escravo, de subordinação a um senhor, a um patrão, foi e é um dos elementos ainda presentes na<br />
representação sobre o negro na atualidade. O maior envolvimento do negro pela festa (“Bahia é o estado<br />
mais festeiro do Brasil!”), samba, música, dança e futebol, é constantemente ressaltado para exprimir a<br />
menor propensão do negro ao trabalho. São ressignificadas, portanto, representações que envolvem os<br />
negros, geralmente trabalhadores e pobres, nas tramas de poder político, econômico e ideológico que<br />
justificam a “superioridade” e a “inferioridade”, o “trabalho” e a “indolência<br />
4. “Desclassificados sociais”, nacionais e “excluídos desnecessários”.<br />
As mulheres e homens do período colonial e imperial brasileiro não eram apenas escravos,<br />
índios, senhores de engenho, funcionários púbicos e comerciantes. Havia uma camada bastante numerosa<br />
de pobres, mendigos, “vagabundos”, prisioneiros... Eram os “desclassificados sociais” que tinham como<br />
principal demérito a “apatia” pelo trabalho. Se a representação sobre os índios referentes à vadiagem foi<br />
um componente importante (não fundamental) para a sua substituição pelo escravo africano, aos<br />
107 As percepções do Brasil e da escravidão, construídas próximas à 1888, denunciavam o “peso” dos negros para o país: “obedecendo-se a<br />
uma impressão global, verifica-se que a gente preta é um pêso para o Brasil, formando a escravidão uma verdadeira chagam ainda pior para<br />
os senhores do que para os próprios escravos; e isso mais se nota atualmente [1882], nas vésperas de ser extinta” (BINZER, 1982: 121).<br />
107
108<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
“desclassificados sociais” a representação de vadios teve como função o contraponto aos “homens bons”,<br />
livres e proprietários. O fato de não estarem subordinados à compulsoriedade do trabalho, não habilitava<br />
os “desclassificados sociais” à igualdade frente aos senhores de escravos, comerciantes e governantes.<br />
Portanto, dentre as gentes do período escravocrata, os “desclassificados sociais” 108 também<br />
desempenharam o papel de “inferiores”, como garantia e segurança da “superioridade” dos “homens<br />
bons”, trabalhadores, sobre a indolência e a preguiça.<br />
A vadiagem é uma instituição que remonta à Idade Média 109 . Durante séculos o pobre foi o<br />
“pobre de Cristo”, “o coitadinho que merecia ajuda e com o qual a população das vilas convivia sem<br />
escândalo” (SOUZA, 1990, p. 51). Por outro lado, o trabalho era concebido como sofrimento e dor ao<br />
mesmo tempo que depurava os pecados para que se alcançasse o paraíso: “O desprezo que o cristianismo<br />
tem pelo corpo, pela carne, locus do prazer e da sensualidade, é que leva à idéia de que ‘o trabalho<br />
dignifica o homem’. O corpo está sempre à mercê da sedução demoníaca por isso é preciso mortificá-lo”<br />
(GONÇALVES, 1998, p. 109).<br />
Entretanto, com as grandes transformações no final do período medieval (convulsões,<br />
urbanização, comércio), as representações sobre a pobreza e a vadiagem tomaram novos contornos, sendo<br />
necessário combatê-las. O trabalho passava a ser alardeado como o salvador das “pessoas boas” contra o<br />
perigo dos “homens maus”: “o trabalho obrigatório para todo homem pobre válido, integrante não mais<br />
da legião dos “coitadinhos de Cristo”, mas da “classe perigosa” que começava a assombrar as cidades e<br />
os burgos no outono da Idade Média”<br />
(SOUZA, 1990, p. 54).<br />
A burguesia, além da transformação das relações materiais, necessitava da construção de um<br />
novo conjunto de idéias. A concepção de trabalho, nessa construção, foi um dos pilares da ideologia<br />
burguesa. A crítica ao ócio aristocrático toma grande vulto a partir dos séculos XV eXVI:<br />
À burguesia mercantil não interessava o ócio. Ao contrário, é da negação do ócio, do negócio,<br />
que ela vive: a preocupação de ampliar seus negócios impele a burguesia a se interessar pelo<br />
conhecimento das técnicas que tornem possível aumentar a gama de produtos que comercializa no<br />
mercado. A preocupação com a produtividade, sinônimo de eficácia do trabalho no universo burguês,<br />
expresso pelo mais (e não pelo melhor) que se produz numa determinada unidade de tempo, vai ser<br />
consagrada, sobretudo com a Revolução industrial dos séculos XVIII e XIX (GONÇALVES, l998,p.<br />
110).<br />
Com isso, o trabalho passou a se tornar um conceito positivo. Por outro lado, no Brasil,<br />
Partindo-se da análise da estrutura econômica da colônia, pode-se constatar que havia condições favoráveis à<br />
proliferação de desclassificados: nas suas linhas gerais, tratava-se de uma colônia de exploração voltada para<br />
a produção de gêneros tropicais cuja comercialização favorecesse ao máximo a acumulação de capital nos<br />
centros hegemônicos europeus. Uma economia de bases tão frágeis, tão precárias, centrada na grande<br />
propriedade agrícola e na exploração em larga escala, estava fadada a arrastar consigo um grande número de<br />
indivíduos, constantemente afetados pelas flutuações e incertezas do mercado internacional. Ao mesmo<br />
tempo, impedia que os desprovidos de cabedal tivessem acesso às fontes geradoras de riqueza” (SOUZA,<br />
l99O,p. 61-62).<br />
Os “desclassificados sociais”, portanto, faziam parte da própria estrutura do antigo sistema<br />
colonial. Diferente de parte das Treze Colônias inglesas, em especial as do nordeste norte-americano, o<br />
Brasil, enquanto colônia de exploração, impossibilitava (e até proibia) o desenvolvimento de outras<br />
atividades desconectadas dos interesses dos senhores, dos comerciantes e da Coroa Portuguesa.<br />
No entanto, ficaram as mulheres e homens não participantes da economia central colonial à<br />
revelia dos interesses das elites:<br />
108 Segundo Caio Prado Jtínior, “A população livre, mas pobre, não encontrava lugar algum naquele sistema que se reduzia ao binômio<br />
“senhor e escravo”. Quem não fosse escravo e não pudesse ser senhor, era um elemento desajustado, que não se podia entrosar normalmente<br />
no organismo econômico e social do país” (PRADO JR., 1998, p. 198).<br />
109 “Aliás, a detenção do vadio — uma instituição que vinha da Idade Média — projetou-se no Brasil até a Constituição de 1988, quando foi<br />
derrubada a contravenção definida como “vadiagem”, que dava à polícia o direito de detenção de qualquer pessoa por ao menos 24 horas”<br />
(LESSA, 2000, p. 13).
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
A camada dos desclassificados ocupou todo o”vacuo imenso” que se abriu entre os extremos da escala<br />
social, categorias “nitidamente definidas e entrosadas na obra da colonização”. Ao contrário dos senhores e<br />
dos escravos, essa camada não possuía estrutura social configurada, caracterizando-se pela fluidez, pela<br />
instabilidade, pelo trabalho esporádico, incerto e aleatório. Ocupou as funções que o escravo não podia<br />
desempenhar, ou por ser antieconômico desviar mão-de-obra da produção, ou por colocar em risco a<br />
condição servil: funções de supervisão (o feitor), de defesa e policiamento (capitão-do-mato, milícias e<br />
ordenanças), e funções complementares à produção (desmatamento, preparo do solo para o plantio)<br />
(SOUZA, 1990, p. 63).<br />
Também de acordo com Kowarick (1987), antes da abolição da escravidão, os “nacionais”<br />
[trabalhadores pobres e livres] estiveram presentes onde o cativo, pelos riscos de fuga ou perigos<br />
inerentes a certas atividades, era pouco utilizado, tais como transportes, abertura e conservação de<br />
estradas, obras públicas. Faziam também o desmatamento e cumpriam a tarefa de desbravamento do vasto<br />
território. Os “nacionais” também trabalharam na implantação de ferrovias, em atividades de subsistência,<br />
em guerras e sublevações, como executores da violência na conquista e manutenção das propriedades e<br />
repressão aos escravos. Era, portanto, “mão-de-obra acessória” (KOWARICK, 1987, p.lO9-llO).<br />
É nos “desclassificados sociais” que a representação da vadiagem no período colonial assumiu<br />
sua centralidade. Não-escravos, pobres: vadios. Entretanto, “vadios” que foram continuamente dirigidos<br />
para “atividades esporádicas” nas quais a utilização do escravo era inviável. Atividades secundárias,<br />
mesmo que importantes, mas que, mesmo assim, impediram o reconhecimento dos sujeitos participantes<br />
como trabalhadores, justamente por não estarem diretamente ligadas à produção do mais-trabalho capaz<br />
de ser expropriado, também diretamente, pelas elites econômicas.<br />
Fora da centralidade das atividades altamente lucrativas restava o lugar dos “desclassificados<br />
sociais”, os trabalhadores-”vadios” de atividades secundárias. Foram eles aproveitados nas bandeiras e<br />
entradas que entravam pelo mato (sertão, interior), na construção e manutenção dos presídios, no trabalho<br />
em obras públicas, nos corpos de guarda pessoal e de polícia privada, nas expedições para a expansão<br />
territorial e frentes de povoamento e nas milícias coloniais (SOUZA, 1990). Uma mão-de-obra alternativa<br />
à escrava, uma espécie de exército de reserva da escravidão:<br />
Era assim que a vadiagem, a desclassificação social, se atrelava a um novo contexto, no qual a utilidade<br />
ganhava destaque mas convivia também com o ônus”. [...] O ônus eventualmente representado pelos<br />
desclassificados convertia-se, através do castigo 110 , em trabalho, e portanto, em utilidade (SOUZA, 1990, p.<br />
73 e 74).<br />
Com a independência política do Brasil em 1822, a estrutura econômica-social permaneceu<br />
praticamente inalterada. O latifúndio, a monocultura e a escravidão persistiram, alinhados, até o fim do<br />
século XIX. O latifúndio se manteve e, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, o café<br />
começava a despontar como um produto importante e com grande aceitação, principalmente para os<br />
mercados europeus. Internamente o eixo econômico também se transferia territorialmente: das decadentes<br />
regiões nordeste – açucareiro — e mineira, as minas gerais — mineração – para o Vale do Paraíba, Rio<br />
de Janeiro e São Paulo, onde se proliferavam as plantações de café. O desenvolvimento da atividade<br />
cafeeira foi parte, de acordo com Prado Júnior (1998), do renascimento agrícola iniciado em fins do<br />
século XVIII, e que tomaria vulto considerável no século seguinte. A mão-de-obra utilizada, até 1888,<br />
continuou sendo a do escravo negro, priorizando, semelhante ao nordeste, apenas uma cultura.<br />
Persistiram, assim, as relações entre senhores e escravos, entre traficantes e negros, entre<br />
fazendeiros e comerciantes... E persistiram existindo os “desclassificados sociais” 111 . Agora brasileiros:<br />
110 A multiplicação dos pobres e livres no interior da cidade escravagista engendrou um sistema ampliado de controle social. A polícia foi<br />
conferido o direito de controlar a vadiagem, ou seja, foi-lhe concedida autoridade para vigiar a livre circulação na cidade — uso imenso do<br />
poder sobre o pobre urbano. Quem não tivesse residência e meio de subsistência comprovados podia, ao arbítrio da autoridade policial, ser<br />
colocado em trabalhos forçados por exemplo, em obras públicas. Os melhoramentos urbanos no Rio do século XIX e as primeiras estradas<br />
cafeeiras (da Polícia e do Comércio) foram construídas com “vadios” arregimentados à força” (LESSA, 2000, p. 12-13).<br />
111 Às vésperas da independência, no final do século XVIII, “a população residente no Brasil atingia quase 3 milhões de habitantes, dos quais<br />
quase a metade era formada por livres e libertos: indivíduos de várias origens sociais, cujo traço comum residia na sua desclassificação em<br />
relação às necessidades da grande propriedade agroexportadora” (KOWARICK, 1987, p. 28).<br />
109
110<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
os nacionais 112 . Não há dúvidas que a maior parte deles, senão todos, assistiram “bestializados” 113 a<br />
proclamação da independência. Independência que provocou, desde o seu início, a problematização da<br />
continuação ou não do regime escravocrata, motivada tanto por questões externas (pressão inglesa,<br />
Revolução Industrial) e questões internas (preço do escravo, fugas, rebeliões, movimento abolicionista).<br />
Um problema que se avolumou e se colocou claramente para os fazendeiros e para o Estado com o ato<br />
inglês “Bill Aberdeen”, que declarou lícito o apresamento de qualquer embarcação empregada no tráfico<br />
africano, e a Lei Eusébio de Queirós de 1850 aprovada pelo Parlamento brasileiro, que declarava ilegal o<br />
tráfico negreiro.<br />
Colocou-se para os fazendeiros de café e para o Estado brasileiro, de maneira mais incisiva na<br />
segunda metade do século XIX, a questão da substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre; em<br />
outras palavras, do trabalhador compulsório para o trabalhador livre assalariado. As motivações que<br />
levaram à substituição foram apontadas no tópico anterior, mas vale ressaltar que o alto custo do escravo,<br />
principalmente com a necessária antecipação de capital para a sua compra, juntamente com o movimento<br />
abolicionista e a pressão internacional, foram condicionantes importantes.<br />
Mas sem escravos, era preciso encontrar uma solução que assegurasse a disponibilidade de mãode-obra.<br />
Seriam, agora, os nacionais? Não:<br />
Marginalizados desde os tempos coloniais, os livres e libertos tendem a não passar pela “escola<br />
do trabalho”, sendo freqüentemente transformados em itinerantes que vagueiam pelos campos e cidades,<br />
vistos pelos senhores como a encarnação de uma corja inútil que prefere a vagabundagem, o vício ou o<br />
crime à disciplina do trabalho”, ao mesmo tempo que, para os nacionais pobres, todo trabalho manual era<br />
considerado coisa de escravo, em deconência, aviltante e repugnante. (KOWARICK, 1987, p. 47-48).<br />
Não poderiam ser eles, portanto, os “escolhidos” para comporem o elemento humano no qual estava se<br />
construindo a idéia de nação: o povo brasileiro.<br />
Era necessário um novo sujeito para fazer progredir o Brasil; era preciso investir no<br />
branqueamento do povo brasileiro; era, para isso, imprescindível o trabalho de alguém de fora. O<br />
imigrante foi o escolhido uma vez que para o desenvolvimento do “progresso” impulsionado pelo<br />
imaginário existente, esses trabalhadores viriam disciplinados:<br />
o trabalhador ideal — aquele que reunia em si, enquanto agente coletivo, de forma acabada, todas as<br />
qualidades do bom trabalhador — sóbrio e morigerado. Elemento capaz de, por si só, promover a<br />
recuperação da decadente raça brasileira nos mais diversos aspectos: sangue novo, raça superior (branca),<br />
civilizado, disciplinado, trabalhador, poupador, ambicioso... No extremo oposto desse imaginário, como<br />
contrapartida, estava o brasileiro — vadio, indisciplinado, mestiço, racialmente inferior. Foi, portanto, da<br />
depreciação do brasileiro como tipo social que emergiu a valorização do imigrante<br />
(NAXARA, 1998, p. 63).<br />
Parte dos imigrantes foram deslocados para a formação de colônias agrícolas no sul do país,<br />
principalmente alemães e italianos. Parte dos imigrantes ingressaram em atividades industriais e urbanas.<br />
Mas, a maior parte deles foi dirigida para as grandes fazendas de café do sudeste, com destaque para São<br />
Paulo. No entanto, cabe ressaltar que as relações de produção e de trabalho nas fazendas de café que se<br />
desenvolveram com a introdução da mão-de-obra imigrante não foram tipicamente capitalistas. O “regime<br />
de colonato” envolvia uma complexa gama de relações entre a família do imigrante e o fazendeiro de<br />
café, desde o endividamento progressivo junto ao armazém da fazenda até o desenvolvimento de<br />
atividades complementares pelo imigrante e sua família, como a produção de alimentos para a<br />
subsistência (MARTINS, 1990). Não deixaram de ocorrer, no entanto, conflitos de interesses entre<br />
fazendeiros e imigrantes.<br />
Esses conflitos, por sua vez, foram importantes para a reconstrução, pelo menos parcial, das<br />
representações sobre os imigrantes:<br />
112 “Nos documentos do século XIX e início do XX usou-se o termo nacional quando se pretendeu falar da população pobre, (mal)nascida no<br />
Brasil, em geral mestiça, pertencente ou egressa da escravidão” (NAXARA, 1998, p. 15).<br />
113 Um paralelo a “Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi”, em que José Murilo de Carvalho (1987) discutiu a relação<br />
entre o povo de Rio de Janeiro e a proclamação da República, em 1898.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
A construção mítica e romantizada do imigrante como trabalhador ideal quebrou-se sob o impacto das<br />
relações efetivas de trabalho e do choque e distância existentes entre os desejos e interesses de imigrantes e<br />
fazendeiros. Foi utilizada de forma ambígua, dependendo do ponto de vista que interessava defender<br />
(NAXARA, 1998, p. 67).<br />
Por outro lado, ocorreu a necessidade da “produção ideológica da noção de trabalho” para o<br />
imigrante; segundo José de Souza Martins:<br />
A autonomia do trabalhador, preconizada no que tenho chamado de ideologia do trabalho, embora fosse<br />
ideologicamente mobilizada pelos setores mais conspÍcuos da burguesia cafeeira, era sabotada na prática.<br />
(...) A idéia é a de que os imigrantes deveriam cultivar as principais virtudes consagradas da ética capitalista<br />
(MARTINS, 1990, p. 129-130).<br />
Mesmo com a primazia dos imigrantes frente aos nacionais, depois da abolição da escravidão os<br />
últimos tiveram papel importante enquanto mão-de-obra. Segundo Kowarick (1987), os nacionais foram<br />
mais absorvidos pelas áreas de economia estagnada, em tarefas mais árduas e de menor remuneração<br />
como o desbravamento e preparo da terra. Assim, foram incorporados às tarefas produtivas onde não<br />
acorreram imigrantes: lá trabalhou e, como por encanto, de um momento para outro, deixou de ser<br />
“vadio”. Também em atividades acessórias e residuais na indústria o trabalhador nacional teve importante<br />
participação 114 . Portanto, mesmo “vadio”, trabalhou!<br />
Assim, tanto foram produzidas representações sobre os nacionais (os vadios) quanto para os<br />
imigrantes (os trabalhadores). Mas, já no início do século XX tais representações começaram a sofrer<br />
significativas mudanças. Três condicionantes podem ser apontadas para compreendê-las: (1) a primeira<br />
guerra mundial que passou a dificultar a entrada de estrangeiros no Brasil; (2) os conflitos tanto nas<br />
fazendas de café como na indústria nascente entre empregados e patrões, motivados principalmente por<br />
imigrantes que traziam da Europa concepções político-ideológicas anarquistas e socialistas; e (3), a<br />
necessidade crescente para a indústria tanto de mão-de-obra quanto da formação de um ‘‘exército<br />
industrial de reserva”.<br />
De acordo com Kowarick (987), quando começa a cair o número de imigrantes principalmente<br />
em decorrência da primeira guerra mundial (1914-1918), a propalada vadiagem do nacional passou a se<br />
mostrar inconseqüente. Nesse momento, houve empenho do discurso dominante para recuperar o ‘‘braço<br />
nacional’’ (o nordestino atingido pelas secas, por exemplo), com apelo ao espírito de “comunhão<br />
brasileira” acima dos regionalismos antinacionais. Assim,<br />
‘estava sendo minada a secular percepção segundo a qual os nacionais eram vadios, corja inútil imprestável<br />
para o trabalho disciplinado’, pois, ‘tradicionalmente estigmatizado de apático, preguiçoso ou vagabundo, o<br />
braço pátrio poderia e deveria ser regenerado, pois sua indolência era conseqüência do abandono a que fora<br />
relegado’, dando mostra de sua bravura na Amazônia como o ‘sertanejo do Norte’ (KOWARICK, 1987, p.<br />
120-124).<br />
Por outro lado, características positivas sobre os nacionais começam a ser produzidas,<br />
principalmente em contraposição às práticas e concepções do movimento operário nascente no Brasil:<br />
Sua desambição [do nacional] passa a ser encarada com parcimônia de alguém que se contenta com pouco,<br />
não busca lucro fácil, e, sobretudo, não reivindica; a inconstância traduz-se enquanto versatilidade e aptidão<br />
para aprender novas tarefas, e o espírito de indisciplina metamorfoseia-se em brio e dignidade<br />
(KOWARICK, 1987, p. 124).<br />
A indolência, por sua vez, não é mais atribuída à preguiça ou àvadiagem, mas à falta de<br />
oportunidades de trabalho.<br />
114 No Rio de Janeiro a participação de trabalhadores nacionais na indtistria foi bem mais expressiva que em São Paulo. Talvez isso tenha<br />
contribuído para a produção, no imaginário social brasileiro, das representações do carioca mais afeito à malandragem, ao samba, ao bar e à<br />
festa.<br />
111
112<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Mas, nem todos os nacionais foram “aproveitados” como mão-de-obra para a indústria ou outras<br />
atividades urbanas. Nem todos os paulistas e cariocas, por exemplo, mudaram suas representações sobre<br />
as mulheres e homens nordestinos, “nortistas”, mestiços, mulatos, caboclos e caipiras. Nem todas as<br />
representações preconceituosas sobre os trabalhadores pobres foram rompidas, como ignorantes e<br />
preguiçosos. No entanto, tiveram, durante todo o século XX, participação importante na expansão da<br />
produção agropecuária ou não, nas sucessivas frentes de expansão para o oeste paulista, norte e oeste<br />
paranaenses, para o Mato Grosso e para a Região Norte do Brasil. Tiveram papel importante na indústria<br />
da construção civil das grandes cidades ou no corte de cana de açúcar nas regiões produtoras, como<br />
Ribeirão Preto (SP), por exemplo.<br />
Com os apontamentos até aqui levantados sobre os índios, negros, “desclassificados sociais” e<br />
sobre os nacionais, , tentamos demonstrar a construção e reconstrução de representações de “nãotrabalhadores”,<br />
tidos como vadios, e, por extensão, imbuídos de um espírito e prática da preguiça, da<br />
“vida mansa”, da “folga” e da falta de arrojo e iniciativa. Por outro lado, entretanto, esses mesmos<br />
“vadios” foram participantes importantes na produção das riquezas coloniais (até 1822) e nacionais, sem<br />
perder, no entanto, a representação de indolentes e inferiores frente aos “desafios” que a lógica central do<br />
trabalho (capitalista) apresentava.<br />
Tais representações continuaram presentes em todo o século XX. Da representação do imigrante<br />
europeu e asiático como superiores sobre o negro, índios e nacionias, à representação da superioridade<br />
dos “profissionais qualificados” sobre a “incompetência” dos milhões de brasileiros desempregados do<br />
mercado formal de trabalho, tais representações espraiaram-se vertiginosamente sobre os lugares e<br />
mulheres e homens do Brasil. Representações que, em escalas diversas, construíram preconceitos e<br />
imagens que colaboram, ainda, na valoração de certos grupos e classes sobre outros.<br />
Paulistas e cariocas, gaúchos e nordestinos, brancos e negros, brancos e índios, brasileiros e<br />
paraguaios, brasileiros e hispânicos 115 , sulistas e nortistas, empregados e desempregados, médicos e<br />
catadores de papelão, “trabalhadores limpos” e trabalhadores braçais, competentes e incompetentes,<br />
qualificados e não-qualificados... Oposições que são sustentáculos de representações sobre as mulheres e<br />
homens trabalhadores e sobre as mulheres e homens “pouco afeitos” ao trabalho, e que, pelas condições<br />
de sobrevivência nas quais se inserem, foram incapazes, por herança genética, cultural ou regional, ou por<br />
determinismos climáticos como o calor dos trópicos 116 , de subirem e vencerem na vida.<br />
Mas sobrevivem. Muito mais que mendigar e roubar, os “desclassificados sociais” de hoje<br />
inserem-se em atividades às mais variadas possíveis. Desde a prostituta pobre (e para os pobres) ao<br />
biscateiro, as mulheres e homens “sem qualificação” e destituídos de postos no mercado de trabalho<br />
formal participam no desenvolvimento de inúmeras às atividades. De “vadios”, “incompetentes” e<br />
“desqualificados”, buscam sem a possibilidade de escolha, nas atividades mais degradantes possíveis,<br />
alcançarem o status de trabalhador tão importante numa sociedade que despreza e rechaça a preguiça 117 .<br />
Já para os mendigos, as representações atuais construídas os retiram da própria condição de<br />
mulheres e homens, criando a “dessemelhança entre os seres humanos” (BUARQUE, 2000, p. 8). Os<br />
mendigos nas ruas “Não são homens ou mulheres efetivamente, pois não são assim representados pelos<br />
que vão às compras ou ao trabalho” (NASCIMENTO, 2000, p. 56). Destituídos da condição de humanos,<br />
os moradores das ruas formam uma “nova”camada (social?!) que os distancia não apenas do mercado<br />
115 Teresa Sales, discutindo a identidade étnica entre imigrantes brasileiros na região de Boston, nos Estados Unidos, observou que “Ao<br />
afirmar sua marca identitária como povo trabalhador, o imigrante brasileiro de certo modo reproduz lá fora o que, um século atrás, era aqui<br />
no Brasil imputado como marca também do imigrante estrangeiro (o italiano, o japonês, etc.), em contraposição ao brasileiro nativo, aqui<br />
tido então por aqueles imigrantes estrangeiros como um povo preguiçoso. Nos Estados Unidos o brasileiro também arranjou o seu alter ego<br />
preguiçoso. Não o americano, com o qual sua alteridade se estabelece em uma posição subordinada no trabalho e que contribui para reforçar<br />
sua marca de povo trabalhador. Mas o Hispânico.” (...)“Em alguns poucos casos esse estereótipo de não trabalhar e viver do Welfare é<br />
também imputado aos negros americanos’ (SALES, 1999, p. 41).<br />
116 Segundo a percepção de lna Von Binzer, cm 1882, “O norte-americano respeita o trabalho e o trabalhador (...) O brasileiro, menos<br />
perspicaz e também mais orgulhoso, embora menos culto, despreza o trabalho e o trabalhador. (...) diz Smarda as mesmas coisas que acabo<br />
de afirmar: ‘Nos trópicos ninguém trabalha com prazer “ (BINZER, 1982, p. 122).<br />
117 “‘ Em “O direito à preguiça”, Paul Lafargue enfatizou: “o proletariado, a grande classe que abrange todos os produtores das nações<br />
civilizadas, a classe que, ao se emancipar, emancipará a humanidade do trabalho servil e fará do animal humano um ser livre o proletariado,<br />
traindo seus instintos, desconhecendo sua missão histórica, deixou-se perverter pelo dogma do trabalho. Duro e terrível foi seu castigo. Todas<br />
as misérias individuais e sociais nasceram de sua paixão pelo trabalho” (LAFARGUE, 2000, p. 67).
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
formal de trabalho e em decorrência de direitos assegurados pela legislação trabalhista e previdência<br />
social, como também da linha limite entre a “civilização” e a “barbárie” 118 .<br />
A distância social, econômica, política e cultural, é um elemento importante para a reprodução<br />
da segregação espacial. “Tender a segregar é um processo em andamento, alimentado pela estigmatização<br />
do ‘estar na rua’ e por uma neo-satanização da pobreza em geral e da população de rua em especial”<br />
(LESSA, 2000, p. 17). O estigma 119 sobre o outro, o diferente, constitui-se numa construção de repulsa a<br />
características representadas como anormais pela maioria da sociedade. Na sociedade do trabalho,<br />
qualquer atitude desviante sofre a construção de representações que dificultam a sua vivência e aceitação<br />
no meio social. Assim, o indivíduo excluído não é simplesmente quem é rejeitado física, geográfica ou<br />
materialmente, ele não apenas é excluído da troca material e simbólica, como também (e principalmente)<br />
ocupa um espaço negativo na representação social dominante” (TOSTA, 2000, p. 204).<br />
Parte da mais recente reestruturação produtiva do modo de produção capitalista, da ideologia do<br />
mercado pleno, do Estado Mínimo e nas políticas neoliberais, os “excluídos” também são representados<br />
como inúteis e perigosos. Portanto, para a compreensão do fenômeno da nova exclusão social é<br />
necessário, hoje, introduzir a dimensão da representação social: “Os grupos sociais sujeitos à exclusão<br />
social sofrem uma mutação na forma como a sociedade os representa. Deslocam-se de uma representação<br />
da diferença, de diversidade, para uma de dessemelhança” (NASCIMENTO, 2000, p. 68).<br />
A representação de “dessemelhança” é decorrente, sobretudo, da reestruturação produtiva<br />
capitalista que ao gerar uma drástica diminuição de postos de trabalho (informatização, robotização,<br />
flexibilização do trabalho, etc.), também criou um abismo praticamente intransponível entre os<br />
tecnologicamente desqualificados e os reduzidos postos de trabalho que são abertos. Decorre disso que, se<br />
os excluídos do mercado formal de trabalho de décadas passadas tinham oportunidades, por mínimas que<br />
fossem, de conseguir um emprego, atualmente essas oportunidades são muito reduzidas (até porque a<br />
distância entre um analfabeto e o posto de trabalho de maior exigência de qualificação era extremamente<br />
menor que atualmente). Não é por acaso, portanto, que os excluídos de hoje “possam” ser,<br />
cotidianamente, eliminados por grupos de extermínio, por grupos neo-nazistas ou mesmo pelos filhos da<br />
classe média-alta, que incendeiam “corpos” deitados nos pontos de ônibus porque “apenas pensavam que<br />
eram mendigos” 120 .<br />
Assim, se pobreza e segregação são elementos constantes na história, como colocou Marcel<br />
Bursztyn,<br />
sempre houve um certo elo orgânico entre os mundos da riqueza e da pobreza: o trabalho e a inevitável<br />
interdependência entre os dois lados. Mas os tempos atuais estão mostrando uma nova realidade: a<br />
separação, pela crise do mundo do trabalho, entre os mundos da riqueza e da pobreza que se vai tornando<br />
excluída (BURSZTYN, 2000, p. 36).<br />
Se os “desclassificados sociais” do Brasil-Colônia apresentavam-se como um “exército de<br />
reserva da escravidão”, hoje um maior número de pessoas se transforma de exército de reserva em lixo<br />
industrial 121 , das quais decorrem novas representação social e exclusão:<br />
A nova exclusão social constitui-se de grupos sociais que se tornam, em primeiro lugar, desnecessários<br />
economicamente. Perdem qualquer função produtiva, ou se inserem de forma marginal no processo<br />
produtivo, e passam a se constituir em um peso econômico para a sociedade (dos que trabalham e/ou têm<br />
renda) e para os governos (NASCIMENTO, 2000, p. 69-70).<br />
118 “Por mais diferentes que fossem, culturalmente, quando aqui se encontraram há 500 anos, os portugueses e os índios tinham mais em<br />
comum, do ponto de vista das condições de vida, do que um rico em relação aos moradores de rua da mesma cidade” (BUARQUE, 2000, p.<br />
9).<br />
119 Estigma: “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (GOFFMANN, 1988, p. 7).<br />
120 A violência e a exclusão social nos grandes centros urbanos estão fortalecendo processos de subjetivação que produzem juízes e autores<br />
como sujeitos necessários à “limpeza” do corpo social “enfermo”: “Enfermo” que são competentemente construídos para serem percebidos<br />
como ameaçadores e perigosos através de identidades que lhes são conferidas. Identidades modeladas de tal jeito que suas formas de sentir,<br />
viver e agir são tornadas homogêneas e vistas como negativas, menores e desqualificadas” (COIMBRA, 1999, p. 12).<br />
121 De acordo com Viviane Forrester. : “Uma quantidade importante de seres humanos já não é mais necessária ao pequeno número que<br />
molda a economia e detém o poder. Segundo a lógica reinante, uma multidão de seres humanos encontra-se assim sem razão razoável para<br />
viver neste mundo, onde, entretanto, eles encontraram a vida” (FORRESTER, 1997, p. 27).<br />
113
114<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Mas, discriminados e representados socialmente como bandidos e perigosos, os sem-trabalho e<br />
moradores de rua, também incompetentes e preguiçosos por estarem em tal situação, participam dos<br />
projetos das classes dominantes ao possibilitarem a visualização e os resultados da uma “vida sem<br />
esforço”, “sem dedicação” e “sem visão moderna”, para aqueles que acreditam no trabalho como bem<br />
supremo. Discriminação e representação sociais que, no entanto, encobrem um elemento já<br />
estruturalmente presente: a exclusão econômica absoluta. O “excluído moderno” já constitui-se como<br />
“um grupo social que se torna economicamente desnecessário, politicamente incômodo e socialmente<br />
ameaçador, podendo, portanto, ser fisicamente eliminado. É este último aspecto que funda a nova<br />
exclusão social” (NASCIMENTO, 2000, p. 81).<br />
E, atualmente, pela eliminação física “ainda” ser politicamente incorreta, os “desclassificados<br />
sociais” sobrevivem. Sobrevivem movidos pelos reflexos da ideologia da centralidade do trabalho, com a<br />
esperança de ingressarem, um dia quem sabe, no mercado formal. E ter um emprego. Mas, como colocou<br />
Forrester (1997, p. 11),<br />
Um desempregado, hoje, não é mais objeto de uma marginalização provisória, ocasional, que atinge apenas<br />
alguns setores; agora, ele está às voltas com uma implosão geral, com um fenômeno comparável a<br />
tempestades, ciclones e tomados, que não visam ninguém em particular, mas aos quais ninguém pode<br />
resistir. Ele é objeto de uma lógica planetária que supõe a supressão daquilo que se chama trabalho; vale<br />
dizer, empregos.<br />
Aos “vadios “, o trabalho, atualmente, parece ter perdido o sentido... Velhas e novas relações<br />
materiais e simbólicas participam do velho-novo “mundo do trabalho”. Velhas e novas representações<br />
rodeiam as mentes e os corações... Mas eles estão aí. Os “desclassificados sociais”, mais do que nunca,<br />
estão tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes, como o lixo produzido diariamente e levado para<br />
junto dos ratos, urubus, mosquitos e gentes - para bem longe dos “trabalhadores”, “puros” e “dedicados” à<br />
construção e edificação do Brasil Gigante.<br />
5. Considerações finais: as diferenças, a igualdade e o poder.<br />
5.1. Sobre as diferenças.<br />
As representações construídas e reconstruídas por e sobre as mulheres e homens, inseridos nas<br />
relações de produção e de trabalho, lidaram e lidam com a questão das diferenças. São diferentes índios e<br />
europeus, negros e brancos, gaúchos e nordestinos, vadios e trabalhadores, competentes e<br />
incompetentes... Foi sobre diferenças que representações depreciativas, preconceituosas e<br />
discriminatórias foram construídas. Foi sobre diferenças que idéias, valores, concepções, práticas e<br />
projetos foram erigidos em nome da ordem, do progresso e do bem-estar para “todos”. Foi sobre<br />
diferenças que as classes dominantes mantiveram o poder da construção de representações sobre o<br />
“outro”. Foi sobre diferenças que parcela dos dominados foram representados como vadios, preguiçosos,<br />
pouco afeitos ao trabalho, indolentes, perigosos e inúteis, dos “desclassificados sociais” aos<br />
“economicamente desnecessários”.<br />
A ênfase nas diferenças, constantemente, foi obra dos dominadores 122 .<br />
Hodierna, a defesa das diferenças é uma luta das esquerdas 123 !<br />
A questão é: a ênfase da diferença não roubaria perigosamente a cena da igualdade e, por<br />
extensão, como acentuado por Pierucci (1999, p. 54), “quem pode garantir que, em meio a essa pósmoderna<br />
celebração das diferenças, as pulsões de rejeição e de agressão não venham a se sentir<br />
autorizadas a aflorar, crispadas de vontade de exclusão e profilaxia”?<br />
122 Como acentuou Antônio Flávio Pierucci, “a pavilhão da defesa das diferenças, hoje empunhado à esquerda com ares de recém-chegada<br />
inocência pelos “novos” movimentos sociais (o das mulheres, o dos negros. o dos índios, o dos homossexuais, os das minorias étnicas ou<br />
linguísticas ou regionais etc.), foi na origem — e permanece fundamentalmente — o grande signo/desígnio das direitas, velhas ou novas,<br />
extremas ou moderadas. Pois, funcionando no registro da evidência, as diferenças explicam as desigualdades de fato e reclamam a<br />
desigualdade (legítima) de direito” (PIERUCCI, 1999, p. 19).<br />
123 E aqui, por esquerda, entende-se como “aquele que pretende, acima de qualquer coisa, libertar seus semelhantes das cadeias a eles<br />
impostas pelos privilégios de raça, casta, classe etc.” (COFRANACESCO, apud BOBBIO, 1995, p. 81).
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
Qual o sentido que a defesa das diferenças pelos setores e movimentos sociais progressistas<br />
apontam, em superação da histórica “defesa das diferenças” construída pelos dominadores?<br />
Sem pretensão à solução da questão, talvez um dos grandes desafios para os que lutam pela<br />
transformação da realidade, seja justamente realçar as diferenças como condição de igualdade. Em outras<br />
palavras, se fazer igual nas diferenças e se fazer diverso na unidade.<br />
5.2. Sobre a igualdade.<br />
Octavio Souza (1994), a partir um viés psicanalítico, diz que o exotismo e o racismo resultam de<br />
nossa incapacidade para lidar não com o diferente, mas com o igual. Tendo por base o “estranhamento<br />
familiar” elaborado por Freud, o autor ressalta a “angústia da castração” como um componente<br />
importante para a construção no outro (o estranho, o eu-outro) da “suposição de um outro não-castrado,<br />
ou seja, de um outro que não encontra limites para seu arbítrio, que pode dispor de minha virilidade para<br />
sua própria fruição”. A definição do outro como exótico seria a tentativa de dominar a familiaridade<br />
íntima daquilo que não se quer reconhecer em sim mesmo (cf. SOUZA, 1994, p. 132e 136).<br />
Já o racismo, ao lado do exotismo, é a outra modalidade de domínio sobre o estranho que o outro<br />
representa. O racismo sempre existiu ao lado das diferenças. Mas, com o advento da Revolução Francesa<br />
e o ímpeto da exigência de igualdade, o racismo se exacerba porque as diferenças, até então explicitadas<br />
pelo nascimento e condição social, passam a ser definidas pela relação que o eu estabelece com o outro,<br />
entre um “superior” e um “inferior”. Ou seja, enquanto as diferenças se colocavam pela própria dinâmica<br />
sócio-econômica, como entre senhores feudais e servos, o racismo não precisava ser construído; mas<br />
quando é proclamada a igualdade entre todos, práticas e concepções racistas assumem nova tessitura, no<br />
sentido de que “há no racismo o projeto de se tornar outro pelo igualamento da própria diferença que se<br />
pretende anular” (cf. SOUZA, 1994, p. 140).<br />
Na mesma direção, e também sob o prisma psicanalítico, Chnaiderman (1996, p. 85) contesta o<br />
freqüente entendimento de que o racismo resulta da impossibilidade de lidar com a diversidade. Para a<br />
autora, o racismo provém justamente do contrário, ou seja, da incapacidade em “ver o diferente tornar-se<br />
o mesmo”. Ressalta ainda, nesse sentido, que a “diferença protege a identidade” e que a “diferença é<br />
tranqüilizadora”: “É no momento que se tem medo de perder a identidade, de uma perda de contorno<br />
próprio, que se precisa definir algo de diferente no outro”.<br />
Referindo-se a Octavio Souza, também Chnaiderman (1996, p. 90) destaca a “angústia da<br />
castração”, ressaltando que “o racismo e o exotismo estancam a angústia, pois são modos de dizer o que é<br />
mais íntimo em cada um de nós, sem assumi-lo como nosso. No racismo, odiamos o que está em nós<br />
atribuindo-o ao estrangeiro”, ao outro.<br />
Mesmo com o risco de simplificação, arriscamos a construção de uma hipótese relacionando as<br />
posições dos autores acima e as questões que levantamos sobre as representações construídas de<br />
trabalhadores e de não-trabalhadores. A produção e a reprodução atuais de representações sobre as<br />
mulheres e homens fora do mercado formal de trabalho, na condição de subempregados ou<br />
desempregados, como “vadios” e “inúteis”, resultaria da incapacidade de apreendê-los como iguais; a<br />
necessidade dos “trabalhadores” apontarem diferenças sobre os “não-trabalhadores” aparece como<br />
mecanismo confortante para a aceitação de sua própria condição, uma vez que a exacerbação dessas<br />
diferenças é também tranqüilizante para aquilo que se é. Por outro lado, pela “angústia de castração” que<br />
impede ser o que o outro é, um não-castrado, as representações sobre os “não-trabalhadores” refletem o<br />
que no mais íntimo (familiar) dos “trabalhadores” se coloca mas que não é assumido como tal; em outras<br />
palavras, o desejo de “preguiça”, de “vadiagem” e do ficar à toa que permeia o âmago dos<br />
“trabalhadores”, é negado e transposto para o outro (como inferior e menor), pois o trabalho ocupa a<br />
referência central na construção de mulheres e homens “dignos”.<br />
5.3. Sobre o poder.<br />
A produção e a reprodução de representações encerram relações de poder: quem pode e quem<br />
não pode ser “digno”, através do trabalho...<br />
115
116<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Esse poder, no entanto, se coloca para além do Estado e se espraia por todos as plagas, mentes e<br />
corpos de mulheres e homens. Não é apenas o poder de Estado, instrumentalizado política, jurídica e<br />
militarmente, que define, julga, reprime, aprisiona e mata os que “não querem” trabalhar. Cada olhar, na<br />
rua ou em casa, é um potencial julgador sobre os que “teimam” em se manter na preguiça. Segundo<br />
Foucault (1996, p. 161-2), o “indivíduo, com suas características, sua identidade, fixado a si mesmo, é o<br />
produto de uma relação de poder que se exerce sobre corpos, multiplicidades, movimentos, desejos,<br />
forças”.<br />
Assim, se o poder é uma relação, as representações sobre os “trabalhadores” e os “nãotrabalhadores”<br />
também dependem da forma que cada um estabelece suas relações com o Estado, com a<br />
classe dominante, com as mulheres e homens do mundo do trabalho; mas, também, com as mulheres e<br />
homens despojados, porque parte das relações capitalistas, das possibilidades de venderem, formalmente,<br />
sua força de trabalho.<br />
Enfim, persistindo as atuais estruturas e microfísicas de poder, encampadas também pelas<br />
representações que quotidianamente realçamos, a concepção dicotomizada entre trabalho e ócio e entre<br />
“trabalhadores” e “vadios”, continuará tão vívida quanto a angústia que permeia o corpo e a mente do<br />
trabalhador no seu quinto dia de férias, quando já não lhe é possível “saborear a vida” para além das oito<br />
horas diárias de trabalho.<br />
6. Referências Bibliográficas.<br />
BINZER, I.V. Os meus romanos: alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Tradução de<br />
Alice Rossi e Luisita da Gama Cerqueira. 3.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1982.<br />
BOBBIO, N. Direita e esquerda. Tradução de Marco Aurélio<br />
Nogueira. São Paulo: EdUNESP, 1995.<br />
BUARQUE, C. Apresentação — Olhar a (da) rua. In: BURSZTYN, M. (Org.). No meio da rua. Rio de<br />
Janeiro: Garamond, 2000, pp. 7-10.<br />
BURSZTYN, M. Da pobreza à miséria, da miséria à exclusão — o caso das populações de rua. In:<br />
BURSZTYN, M. (Org.). No meio da rua. Rio de Janeiro: Garamond. 2000, pp. 27-55.<br />
CARVALHO, J.M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 1987.<br />
CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abrarno,<br />
2000.<br />
CHNAIDERMAN, M. Racismo: o estranhamento familiar: uma abordagem psicanalítica. In:<br />
SCHWARTZ, L. & QUEIROZ, R.S. (Org.). Raça e diversidade. São Paulo: Edusp, 1996, pp. 83-95.<br />
COIMBRA, C.M.B. (Coord.). Violência e exclusão social. Estudos e Pesquisas 5. Niterói: EdUFF,<br />
1999.<br />
FORRESTER, V. O horror econômico. Tradução de Álvaro Lorencino.São Paulo: EdUNESP: 1997.<br />
FOUCAULT, M. Microfisica do poder. Tradução de Roberto Machado. 12.ed. Rio de Janeiro: Edições<br />
Graal, 1996.<br />
FRANCO, M.S.C. Homens livres na ordem escravocrata. 3.ed. São Paulo: Kairós, 1983.<br />
FURTADO, C. O mito do desenvolvimento econômico. São Paulo: Paz e Terra (Coleção Leitura), 1996.<br />
GALETTI, L.S.G. O poder das imagens: o lugar de Mato Grosso no mapa da civilização. Cuiabá —<br />
MT: Departamento de HistóriallCHS/UFMT, 1999.<br />
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4.ed. Rio de Janeiro:<br />
LTC, 1988.<br />
GONÇALVES, C.W.P. Os (des)caminhos do meio ambiente. 6.ed. São Paulo: Contexto, 1998.<br />
GONÇALVES, L.A. 0 & SILVA, P.B.G. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos.<br />
Belo Horizonte: Autêntica, 2000.<br />
Grupo KRISIS. Manifesto contra o trabalho. Tradução de Heinz Dieter Heidemann. Cadernos do<br />
LABUR n 0 2. São Paulo: Departamento de GeografiaJFFLCH/USP, 1999.<br />
KOWARICK, L. Trabalho e vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil. São Paulo: Brasiliense,<br />
1987.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
LAFARGUE, P. O direito à preguiça. 2.ed. Tradução de Teixeira Coelho. São Paulo: Hucitec, 2000.<br />
LESSA, C. Os ovos da serpente. In: BURSZTYN, M. (Org.). No meio da rua. Rio de Janeiro:<br />
Garamond, 2000, pp. 11-18.<br />
MARTINS, J.S. O cativeiro da terra. 4.ed. São Paulo: Hucitec, 1990.<br />
MARX, K. Manuscritos econômicos e filosóficos. In: FROMM, E. Conceito marxista de homem. 8.ed.<br />
Tradução de Octavio Alves Velho. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.<br />
MARX, K. & ENGELS, F. A ideologia alemã (10 capítulo). São Paulo: Centauro, 1984.<br />
___________O manifesto comunista. In: COUTINHO, C.N.(et.al.). O manifesto comunista 150 anos<br />
depois. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998.<br />
NASCIMENTO, E. P. Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários. In: BURSZTYN, M.<br />
(Org.). No meio da rua. Rio de Janeiro: Garamond, 2000, pp. 56-87.<br />
NASCIMENTO, F.A.S. O negro: questões culturais e “raciais”. Rondonópolis — MT: Departamento<br />
de HistóriallCHS/RJUFMT, 2001.<br />
NAXARA, M.R.C. Estrangeiro em sua própria terra: representações do brasileiro (1870-1920). São<br />
Paulo: Annablume, 1998.<br />
NOVAIS, F.A. Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial. 6.ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.<br />
OFFE, C. Trabalho e sociedade. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro;<br />
Biblioteca Tempo Universitário 89, 1989.<br />
PIERONI, G. Vadios e ciganos, heréticos e bruxas: os degredados do Brasil-colônia. Rio de Janeiro;<br />
Bertrand Brasil: Fundação Biblioteca Nacional, 2000.<br />
PIERUCCI, A.E. Ciladas da diferença. São Paulo: Curso de Pós-Graduação em Sociologia: Ed. 34,<br />
1999.<br />
PRADO JR, C. História econômica do Brasil. 43.ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.<br />
RIBEIRO, D. O povo brasileiro. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.<br />
SALES, T. Identidade étnica entre imigrantes brasileiros na região de Boston, EUA. In: REIS, R.R. &<br />
SALES, T.(Org.). Cenas do Brasil migrante. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999, pp. 17-44.<br />
SILVEIRA, M.H.V.da. De banzo. In: ASSUMPÇÃO, E. & MAESTRI, M. (Org.). Nós, os afro-gaúchos.<br />
2. ed. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1998, pp. 35-37.<br />
SOUZA, L.M.e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 3.ed. Rio de Janeiro:<br />
Edições Graal, 1990.<br />
SOUZA, O. Fantasia de Brasil: as identificações em busca da identidade nacional. São Paulo: Escuta,<br />
1994.<br />
TOSTA, T.L.D. Memória das ruas, memórias da exclusão. In: BURSZTYN, M. (Org.). No meio da rua.<br />
Rio de Janeiro: Garamond, 2000, pp. 22 1-229.<br />
YÁZIGI, E. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano em litorais e montanhas. São Paulo:<br />
Contexto, 2001.<br />
117
118<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
FETICHE DO ESTADO E A REGULAMENTAÇÃO DO CONFLITO CAPITAL TRABALHO *<br />
Marcelino Andrade GONÇALVES **<br />
Eliseu Savério SPÓSITO ***<br />
Resumo: Neste artigo discutiremos as questões relativas ao Estado no capitalismo, sua utilização<br />
enquanto instrumento de dominação, a institucionalização dos conflitos de classe e da relação capital<br />
trabalho e a questão da informalidade no trabalho e na economia. Procuramos discutir os aspectos<br />
teóricos relativos ao entendimento do papel do Estado, buscando construir um referencial teórico<br />
conceitual.<br />
Palavras-chave: Estado; Luta de Classe; Mercado; Trabalho.<br />
Resumen: En este artículo discutiremos las cuestiones relativas al Estado en el capitalismo, su utilización<br />
como instrumento de dominación, la industrialización de los conflictos de clase y de la relación capital<br />
trabajo y la cuestión de la informalidad en el trabajo y en la economía. Buscamos discutir los aspectos<br />
teóricos relativos al entendimiento del papel del Estado, buscando construir un referencial teórico<br />
conceptual.<br />
Palabras-llave: Estado; Lucha de Clases; Mercado; Trabajo.<br />
1. O Estado enquanto fruto da institucionalização do conflito entre as classes.<br />
A forma como está organizada a sociedade capitalista para a produção tem, no que se entende ou<br />
se faz entender, enquanto Estado, um elemento imprescindível para o controle e manipulação das<br />
contradições intrínsecas ao movimento de reprodução do capital, que tendo como base a exploração do<br />
trabalho, resulta no embate político e ideológico entre as classes envolvidas e que cumprem papéis<br />
antagônicos neste movimento.<br />
Os processos de construção de uma idéia socialmente aceita e amplamente reproduzida a respeito<br />
de como seria a atuação, quais seriam os papéis a serem representados pelo Estado e, fundamentalmente,<br />
quais as características relevantes para a sua identificação, são ações que dentro do movimento mais<br />
amplo da luta de classes, mostram-se como instrumentos de dominação e camuflagem dos conflitos.<br />
As divergências políticas e ideológicas entre as classes, que têm base nas contradições existentes<br />
entre o capital e o trabalho, e tendo nas diferentes formas de inserção dos elementos sociais no processo<br />
produtivo, uma das formas de expressão desta contradição, já que aqueles que produzem, não<br />
necessariamente se apropriam desta produção, geram os mais diversos conflitos, que são movidos pelos<br />
diferentes interesses econômicos, políticos e sociais que caracterizam múltipla e diferencialmente as<br />
várias camadas sociais no capitalismo.<br />
É no constante conflito entre as diferentes classes que se produz e reproduz o movimento que<br />
transforma a sociedade, de maneira a criar e recriar as condições para a superação e geração de novos<br />
conflitos, propiciando o surgimento do que aqui entendemos como Estado, não enquanto instituição<br />
regularizada vista como uma organização rígida e composta por diversas facções institucionais<br />
comandadas pela burocracia, que levam a entender o Estado enquanto um “elemento” que paira sobre a<br />
sociedade. Buscamos firmar aqui o Estado como sendo a manifestação do próprio conflito de classes<br />
existente na sociedade. Como afirma Lênin, 1983:<br />
*<br />
Texto publicado em 2001 (v.8). Resultado das reflexões realizadas no segundo capítulo da dissertação de mestrado defendida pelo primeiro<br />
autor em dezembro de 2000.<br />
**<br />
Graduado em Geografia na <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> de Presidente Prudente, Mestre e <strong>Doutor</strong> pelo Curso de Pós-Graduação em Geografia da<br />
<strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> de Presidente Prudente. <strong>Professor</strong> da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)<br />
***<br />
<strong>Professor</strong> doutor do Curso de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong> de Presidente Prudente.<br />
57
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na<br />
medida em que os antagonismos de classe não podem objetivamente ser conciliados. E reciprocamente, a<br />
existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis.(p.9)<br />
Nas palavras de Engels (1960):<br />
Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não<br />
consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente acima da<br />
sociedade, chamado a amortizar o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ”ordem“. Este poder, nascido da<br />
sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado. (p.160)<br />
O Estado é então produtor e produto, é o conflito em si, gerado nas diversas formas de embate<br />
político e ideológico que permeiam todo tipo de organização social, que é política por essência. As<br />
organizações de grupos sociais demonstram diferentes maneiras existentes de confronto entre as classes,<br />
figurando como forma política de se impor enquanto força que pode conservar ou dar um novo<br />
direcionamento ao movimento da sociedade.<br />
Os grupos sociais que buscam uma participação política efetiva e consciente no conflito entre as<br />
classes, originam-se como produto do próprio conflito, buscando marcar posição e reivindicar direitos, ou<br />
protestar contra o que consideram usurpação à sua coletividade, que pode ser constituída e ter como<br />
elemento de identificação sua condição frente àqueles a que enxergam enquanto sendo os seus algozes.<br />
Contudo, não podemos considerar a participação de um determinado indivíduo em um grupo<br />
político como sendo previamente definida pela inserção na classe social da qual este faz parte, pois,<br />
sabemos ser comum - aí temos que entender todo o processo de dominação e alienação presente como<br />
instrumento de dominação na organização da sociedade capitalista para a produção - a identificação<br />
ideológica de grande parcela da classe dominada, sobretudo a que vive do trabalho, com o projeto político<br />
da classe dominante, que se resume na manutenção da atual configuração da sociedade.<br />
Dentre os elementos que contribuem para a não identificação do trabalhador, com a sua classe,<br />
está a distinção que alguns fazem de si, enquanto diferente de outro trabalhador, tendo como base desta<br />
diferenciação a sua inserção no processo produtivo, que estabelece um grau de importância diferenciado,<br />
de acordo com o posto ocupado e as habilidades técnicas necessárias para o desempenho da função.<br />
Esta condição é reforçada no estabelecimento da divisão social e técnica do trabalho, que leva o<br />
trabalhador a se reconhecer enquanto diferente a partir da sua inserção, enquanto mão de obra no processo<br />
produtivo, ficando a partir desta compreensão impossibilitado de se reconhecer em outro trabalhador que<br />
possa, por exemplo, estar ocupando um espaço ao lado do seu na planta fabril, mas desenvolvendo outras<br />
funções.<br />
É neste contexto conflitante no interior das classes, em que as armas da dominação se revelam<br />
eficazes em alguns momentos, e fomentadoras de manifestações contrárias em outros, deixando<br />
transparecer as contradições presentes neste processo, em que o Estado passa a ser utilizado pela classe<br />
dominante enquanto instrumento de dominação, passando a partir da institucionalização e da<br />
burocratização das ações políticas e governamentais a coordenar e mistificar os conflitos sociais.<br />
O Estado passa então da sua condição de produto do conflito social, a figurar enquanto a<br />
instituição que paira sobre toda a sociedade, passando a imagem de uma instituição imparcial, sem<br />
compromisso, ou comprometimento com nenhuma das classes e que, estando nesta condição, poderá<br />
mediar e resolver, através de suas intervenções, os conflitos entre as classes existentes.<br />
Assim, o governo, as instituições (Ministérios, Secretarias, etc.) a burocracia, passam a ser<br />
vistos como sendo a personificação do próprio Estado. As ações burocráticas e institucionais são<br />
entendidas, por grande parte da sociedade, como sendo ações do Estado, que figura como o “senhor” de<br />
todas as coisas e isento às influências da classe dominante, escondendo atrás desta máscara de<br />
imparcialidade o seu comprometimento ideológico e político, o que o firma por vezes como um<br />
interventor a colaborar com a classe subjugada sócio-economicamente. Nas palavras de Bihr (1999):<br />
Em toda sociedade dividida em classes, a unidade social toma necessariamente a forma de um poder de<br />
Estado formalmente distinto da própria sociedade. Do ponto de vista de todas as classes, o poder estatal<br />
aparece, então, como única forma de domínio de uma evolução social que escapa ao controle coletivo<br />
precisamente porque a sociedade encontra-se dividida em classes rivais. E do ponto de vista das classes<br />
119
120<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
dominadas, esse mesmo Estado aparece, então, com freqüência, como recurso supremo contra o excesso de<br />
seus próprios dominadores.(p.31)<br />
O Estado institucional entendido enquanto algo separado da sociedade, esconde na verdade o seu<br />
comprometimento ideológico com a classe dominante, pois os que ocupam estas instituições -<br />
funcionários de alto escalão, ministros, burocratas e mesmo os governantes eleitos nos moldes da<br />
democracia burguesa - entendidas como Estado, são em sua maioria pertencentes à classe que domina as<br />
relações sociais e de produção.<br />
Esta forma de Estado, baseada na ideologia liberal, funciona como escape para o não confronto<br />
direto das classes. Todo conflito que surge, nos mais diversos níveis, é resolvido no campo institucional,<br />
aparecendo o Estado neste momento enquanto elemento conciliador das partes.<br />
Como exemplo desta condição, temos as negociações realizadas entre os trabalhadores e os<br />
patrões, para a resolução de impasses que dizem respeito a condições de salário e de produção, sobretudo<br />
no ramo industrial, em que se monta um fórum de discussão, em que o Estado, representado pela figura<br />
do governo, aparece para mediar a discussão e resolver a questão “sem prejuízo para nenhum dos lados”,<br />
conduzindo todo o processo conflituoso de forma a alcançar o que seria melhor a todos.<br />
No entanto, não se discute nesta ação, a inclinação política e ideológica do governo, no sentido<br />
de colaborar com os empresários capitalistas, já que em sua maioria os governantes, representando o<br />
Estado, tiveram as suas campanhas eleitorais financiadas pelo capital.<br />
Os conflitos entre as classes transferidos para o campo institucional, reconhecido como sendo o<br />
Estado, encontrando-se ele mesmo fora deste conflito, tendem a perder o seu caráter de luta de classes<br />
para serem entendidos enquanto uma disputa política meramente burocrática, envolvendo apenas alguns<br />
atores da sociedade, seja parcela de trabalhadores ou de patrões, que têm no governo o seu mediador<br />
imparcial.<br />
A burocratização e a institucionalização do Estado leva à compreensão, por parte da sociedade,<br />
que só aqueles atores políticos que se encontram institucionalmente ligados e reconhecidos legalmente<br />
por este mesmo Estado podem fazer um movimento reivindicativo, atuando desta forma dentro do âmbito<br />
que se entende enquanto sendo ordeiro e democrático.<br />
Qualquer ação de organização da classe dominada que venha a enfrentar a classe dominante, e<br />
não tenha o respaldo legal do Estado instituído passa a ser entendida como sendo contra a ordem,<br />
portanto, ilegal. Os sindicatos, partidos políticos etc., para serem reconhecidos e poderem exercer o seu<br />
poder de reivindicação têm necessariamente que manter vínculos institucionais com as instâncias<br />
governamentais entendidas como sendo o Estado instituído, sendo as demais formas de organização, de<br />
cunho popular e não institucional, desprezadas pela classe dominante e pelas instâncias burocráticas,<br />
minimizando o poder de intervenção política destas organizações frente ao aparato burocrático do Estado.<br />
Os movimentos sociais que não são institucionalizados tendem a não ser reconhecidos pelo<br />
governo, que buscará de todas as formas colocar as potencialidades da máquina governamental para<br />
extirpação daqueles que incomodarem a “ordem vigente”.<br />
A criação do aparato jurídico e militar, para que haja manutenção da segurança e da ordem,<br />
funciona como um “braço” deste Estado para que “todo” indivíduo da sociedade possa ter assegurado o<br />
seu direito de realizar plenamente as funções estabelecidas dentro do modo capitalista de produção.<br />
Todo o aparato jurídico, leis, aparentemente imparciais e iguais para todos, e a polícia estão nas<br />
ruas para coibir qualquer ato que venha a prejudicar o bom andamento do processo de reprodução do<br />
capital. Em resposta a uma greve, ou outro movimento reivindicatório que cause distúrbio, o Estado,<br />
entendido enquanto imparcial, colocará todo o seu efetivo policial nas ruas para manter a ordem à base da<br />
repressão, sendo o aparato jurídico posto em alerta para posterior ação, no que diz respeito aos trâmites<br />
jurídicos para a condenação “justa” daqueles que promovem a desordem. Segundo Marx & Engels<br />
(1996):<br />
Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns<br />
e na qual se resume toda a sociedade civil de uma época, segue-se que todas as instituições comuns são<br />
mediadas pelo Estado e adquirem através dele uma forma política. Daí a ilusão de que a lei se baseia na<br />
vontade e, mais ainda, na vontade destacada da base real – na vontade livre.(p.98)
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
Mais uma vez o Estado, enquanto instituição, irá servir de instrumento para manter a ordem de<br />
acordo com os preceitos da classe dominante, repreendendo aqueles que se insurgem contra as condições<br />
postas, sem mostrar verdadeiramente quem está por trás das ações repressoras do que se entende enquanto<br />
Estado.<br />
O Estado, enquanto ser onipotente e imparcial, é como vimos, um instrumento de dominação,<br />
negando o que é realmente, ou seja, produto das contradições existentes entre as classes. [Lênin (1983);<br />
Engels (1960); Bihr (1999)].<br />
Em cada momento histórico há uma predominância de determinada definição, teoricamente<br />
baseada, para a compreensão do que vem a ser o Estado e de qual deve ser o seu papel. No entanto, do<br />
laissez-faire, passando pelo Welfare State até o Estado neoliberal, todas estas formas negam o Estado do<br />
conflito e se desenvolvem como instrumento da classe dominante, que busca uma otimização da produção<br />
através do controle do processo e das forças produtivas, visando a reprodução desta forma de organização<br />
social e do capital.<br />
Apesar de toda a mistificação em torno do Estado situando-o exteriormente aos conflitos sociais,<br />
suas ações têm sido a de procurar otimizar as relações produtivas em busca de uma melhor<br />
expansão/reprodução do capital, mesmo que por algumas vezes tenha sido mais ou menos complacente,<br />
dependendo do momento político que a sociedade atravessa, em colaborar com as leis mercadológicas.<br />
Mesmo quando o Estado é posto fora do jogo mercadológico, deixa transparecer as contradições<br />
em suas ações. Com a efervescência da ideologia neoliberal que assistimos em todo mundo, pautada nas<br />
novas formas de reprodução do capital global e no crescimento da importância do capital financeiro para<br />
a economia mundial, os governos elaboram cada vez mais os discursos que fundamentam a necessidade<br />
do Estado instituído retirar-se das esferas econômicas, deixando o caminho livre para que o mercado trace<br />
os seus projetos e resolva os seus eventuais problemas livremente.<br />
A contradição que se coloca aqui é a de que o Estado, mesmo entendido enquanto um<br />
interventor, o que já o coloca na qualidade de externo diante das relações econômicas, sempre teve as<br />
suas ações voltadas para o benefício do capital.<br />
No Brasil, a ampla inserção do Estado na construção e instalação das indústrias de base,<br />
principalmente no ramo da metalurgia, demonstra o quanto foi útil o (Estado) que agora é tido como um<br />
entrave. Como afirma Cignolli (1984): “O Estado brasileiro começa sua intervenção sistemática e direta<br />
no processo de acumulação a partir de 1930”.(p.13)<br />
Quando foi necessária uma série de grandiosos investimentos econômicos para a construção de<br />
uma base industrial sólida, o “Estado”, na figura das instâncias burocrático-econômicas, foi chamado a<br />
intervir como financiador das instalações da indústria de base, que agora, em pleno processo de<br />
privatização, são “postas” à venda para que a iniciativa privada possa administrar estas empresas para<br />
alcançar maior lucratividade, obedecendo às regras do mercado, sem os entraves das negociações e<br />
intervenções políticas que permeavam a relação das estatais com o mercado.<br />
Para o fortalecimento deste discurso e para a implementação das ações que tornam efetivo o<br />
Estado mínimo, os que se encontram em posição de dominação procuram fortalecer a tese de que,<br />
neste contexto, o Estado poderá desenvolver o seu “verdadeiro papel”, o de solucionar os problemas<br />
sociais.<br />
Assim, o Estado liberal deixa ao sabor do mercado a criação e solução dos problemas<br />
econômicos e sociais que por “ventura” surgirem, pois sendo estes problemas endógenos ao mercado<br />
encontrarão solução dentro do seu próprio movimento.<br />
Na verdade, este discurso esconde em suas entrelinhas uma estratégia para a estruturação de toda<br />
a sociedade baseada nos preceitos da ideologia liberal, que prega que todos os atores econômicos<br />
concorrem, em igualdade de condições no mercado capitalista, sendo que os mais fortes alcançarão o<br />
sucesso e, portanto, um status diferenciado no interior da sociedade. Neste sentido Braga (1997) diz que:<br />
Através da crise e da estratégia neoliberal, o capital responde às condições e contradições atuantes nesse fim<br />
de século. Ao idolatrar o mercado, demonizar o Estado, exaltar a empresa privada, sacralizar o<br />
individualismo ultra-egoísta e transformar o ‘darwinismo social de mercado’ em algo desejável e eficaz do<br />
ponto de vista econômico, o neoliberalismo como projeto hegemônico resume e compõe o senso comum de<br />
nossa época. (p.224)<br />
121
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A realidade nega o discurso do Estado liberal, mesmo colocando-se “fora” dos movimentos do<br />
mercado, para atender à nova estruturação do poder dominante, o Estado é constantemente chamado a<br />
intervir no movimento da economia, comprando ou vendendo dólar, emprestando dinheiro a bancos<br />
falidos, uma prática corriqueira no Brasil, que demonstra que a saída do Estado do mercado restringe-se à<br />
venda do patrimônio público à iniciativa privada e a abertura de caminhos políticos que permitam a<br />
retirada dos entraves, leia-se aqui direitos, que impedem uma exploração mais avassaladora do capital<br />
sobre o trabalho nas novas circunstâncias em que se encontra a economia capitalista.<br />
Estas ações denunciam também a utilização do Estado enquanto instrumento de dominação da<br />
classe dominante, que de posse das instâncias políticas e burocráticas, entendidas como sendo o Estado,<br />
fazem e desfazem regras que possibilitem a reprodução da sua dominação no movimento das classes.<br />
Apesar do discurso que preza pelo social, o Estado neoliberal tem deixado cada vez mais à<br />
míngua a maioria da população, fato que não ocorre só no Brasil, e que atinge grande parcela dos que<br />
vivem do trabalho no mundo, pondo fim a um número cada vez maior dos direitos conquistados durante<br />
décadas pelos trabalhadores, produzindo o esfacelamento do Estado do Bem Estar Social, provocando a<br />
diluição da capacidade organizativa e reivindicatória dos trabalhadores.<br />
Na atual conjuntura, a capacidade de organização da sociedade civil, frente as políticas liberais,<br />
não tem alcançado efetivamente os seus propósitos de resistência e imposição da vontade dos que estão<br />
sendo massacrados pela nova “ordem mundial”.<br />
Atualmente, as formas de organização da sociedade civil para a reivindicação, seja no sindicato<br />
ou em outras entidades, encontram-se em crise, desmobilizadas pela falta de participação efetiva, não<br />
encontrando respaldo para as suas ações em suas bases sociais. Este fato denota a vitória momentânea da<br />
política liberal, sobre os movimentos sociais, que há décadas vêm sendo tragados pela máquina<br />
burocrática do Estado.<br />
A perda de poder político das classes dominadas, dentro do campo institucional, reflete mais<br />
uma das estratégias da classe dominante pautadas nas políticas liberais, que ao mesmo tempo em que<br />
reconhecem como democráticas somente as reivindicações realizadas e debatidas dentro de instâncias<br />
institucionalizadas, associações e sindicatos, realizam políticas de desmantelamento destas instâncias.<br />
O abandono, por parte do Estado, das políticas sociais que encontravam respaldo nas teorias<br />
keynesianas, tem suas raízes fincadas não só no fortalecimento da ideologia liberal de mercado, mas<br />
também na nova forma de organização e reestruturação produtiva, que surge no Japão e se expande pelo<br />
planeta, como sendo a resposta para uma melhor reprodução do capital, superando na ótica capitalista, a<br />
produção baseada no fordismo.<br />
A acumulação flexível e o toyotismo trazem grandes mudanças para as formas de inserção e<br />
utilização do trabalho no processo produtivo, o que leva a um redimensionamento da utilização da força<br />
de trabalho pelo capital, diminuindo a capacidade do trabalhador negociar frente ao capital em sua<br />
condição de mercadoria.<br />
Atrelada ao liberalismo, a acumulação flexível torna-se um instrumento potencializador da<br />
exploração do capital sobre o trabalho, dando à luta entre as classes um contorno ainda mais desigual, que<br />
torna ainda mais difícil a organização dos trabalhadores em torno de movimentos que visem a ampliação<br />
ou mesmo a manutenção das conquistas sociais. Como afirma Antunes (1998):<br />
Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série e de massa são<br />
‘substituídos’ pela flexibilização da produção, pela ‘especialização flexível, por novos padrões de busca de<br />
produtividade, por novas formas de adequação da produção a lógica do mercado (...) O toyotismo penetra,<br />
mescla ou mesmo substitui o padrão fordista dominante, em várias partes do capitalismo globalizado. (...)<br />
Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção.(p.16)<br />
Para explicação deste momento de crise para grande parte da sociedade, a classe dominante<br />
produz um discurso que tende a ser hegemônico, do ponto de vista da explicação sobre o porquê dos<br />
problemas socioeconômicos que atingem grande parte da população. Elege o mercado global como o<br />
grande culpado pelas deficiências políticas e econômicas que causam as mazelas sociais e afirma que o<br />
Estado nacional perde poder e autonomia, na era do capital mundial.<br />
Pautada no discurso da globalização, a classe dominante procura estabelecer uma lógica<br />
explicativa a respeito da miséria do povo, e organizar o que resta de energia nos explorados da nação para<br />
122
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
a utilização na reprodução do capital. Para tanto, necessita juntar um esforço nacional para que a nação<br />
possa concorrer na economia mundial. De acordo com Brunhoff (1991), o Estado mobiliza as energias<br />
dos cidadãos para participarem da guerra econômica, na qual devem desempenhar um papel excelente, a<br />
fim de levar o país a desenvolver um grande papel frente a outros e conquistar um lugar de destaque na<br />
economia mundial.<br />
No Brasil este discurso, falsamente nacionalista, tem sido invocado pelo atual presidente<br />
Fernando Henrique Cardoso, de forma a mostrar ao povo a importância do sacrifício, sem lembrar que o<br />
sacrifício é realizado sempre pelos mesmos, para a ascensão econômica do país no âmbito econômico<br />
mundial. Quaisquer tentativas de crítica às políticas deste governo serão também combatidas com o<br />
discurso do nacional. A prática é a de desqualificar as críticas feitas a seu governo, por “parcos<br />
opositores”, colocando os últimos como inimigos do povo, que não querem ver o Brasil dar certo.<br />
É neste contexto que as políticas liberais são implantadas, levando sobretudo a cortes nos gastos<br />
do governo com os serviços básicos que servem a classe trabalhadora, os desempregados e outros tantos<br />
excluídos das relações produtivas e de consumo, que são chamados a realizar sacrifícios em prol da nação<br />
brasileira.<br />
A resposta do governo brasileiro para combater o crescente número de excluídos, frutos da<br />
lógica excludente do capital, e atualmente atribuída ao desemprego, tem sido a de elaborar políticas que<br />
expõem a classe trabalhadora mais ainda aos ditames espoliativos do mercado, o que se pode constatar<br />
com a implantação do projeto de lei que permite um contrato especial de trabalho, visando a redução de<br />
encargos e custos da demissão, levando ao barateamento da força de trabalho, que se dará acima de tudo<br />
com cortes expressivos nos direitos dos trabalhadores.<br />
O barateamento da força de trabalho, conseguido através do não pagamento dos impostos,<br />
especialmente aqueles que retornariam como benefícios aos trabalhadores, permitem aos empregadores o<br />
aumento da exploração do trabalho sem que necessariamente haja aumento de gastos.<br />
É interessante pensarmos que se instala uma modalidade de relação contratual de trabalho, e que<br />
por ser formal e com aval do Estado foge à informalidade, mas coloca o trabalhador numa condição de<br />
não poder ter acesso ou reivindicar os direitos trabalhistas, tal qual os que se encontram na informalidade.<br />
As novas formas de contrato de trabalho estimuladas pelo governo como política de criação de<br />
empregos, que permitem trabalhos temporários ou que dispensam o empregador de pagar os encargos,<br />
levam a uma precarização das condições de sobrevivência dos que vivem da venda da força de trabalho.<br />
Este pode ser considerado apenas um dos exemplos que permitem enxergar a face real do Estado<br />
como participante do jogo do mercado e instrumento utilizado para a coação das classes dominadas, de<br />
maneira a camuflar as agruras e a exploração dos que vivem da venda da força de trabalho, fazendo tudo<br />
isto parecer uma condição natural, gerada pelo movimento do mercado.<br />
2. O Estado e a regulamentação do processo produtivo.<br />
O Estado, utilizado pela classe dominante, enquanto instrumento potencializador da reprodução<br />
das condições antagônicas existentes entre as classes sociais no modo capitalista de produção, demonstra<br />
a sua força de intervenção, à medida que institucionaliza e impõe regras (Leis) que servem como<br />
parâmetros para a definição da atuação de todo indivíduo na sociedade, resguardando, intrinsecamente as<br />
regras, a condição de vantagem àqueles que dominam as relações políticas e econômicas do arranjo social<br />
em questão. Engels (1960), afirma que:<br />
(...) o primeiro sintoma da formação do Estado consiste na destruição dos laços gentílicos, dividindo os<br />
membros de cada gens em privilegiados e não privilegiados, e dividindo estes últimos em duas classes,<br />
segundo seus ofícios, e opondo-as uma à outra. (p.104)<br />
A partir da instituição de uma determinada lei que passa a regrar determinado ato, o Estado,<br />
enquanto instituição burocrática ocupada por membros a serviço dos que se encontram na hegemonia,<br />
define de acordo com esta lei, o que é e o que não é lícito aos membros desta mesma sociedade.<br />
123
124<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O Estado, visto como algo à parte da sociedade e com poderes de intervenção na forma de<br />
organização no contexto social, estende este regramento desde o ato de um indivíduo para com um outro<br />
indivíduo, como um contrato de trabalho, até as relações mais amplas entre as instâncias políticas<br />
administrativas existentes e determinadas parcelas da sociedade. Sociedade que, entendida pelo viés<br />
interpretativo burguês liberal, é formada por indivíduos iguais entre si e perante a Lei, sem levar em<br />
consideração, logicamente, as diferenças das condições econômicas, políticas e sociais existentes e que<br />
são acobertadas pela institucionalização das formas de organização das classes e pela burocratização dos<br />
conflitos presentes nas relações da sociedade de classes.<br />
Desta forma, a classe dominante, de posse do instrumental institucional, burocrático e<br />
administrativo, reconhecido por ampla parcela da sociedade como sendo o Estado, interfere na<br />
organização do modo de produzir da sociedade capitalista, funcionando como instrumento de regulação<br />
das condições de produção e reprodução do capital, determinando, muitas vezes, através da<br />
regulamentação, o modo sob o qual as relações de produção entre a classe detentora do capital e a<br />
desprovida dos meios de produção serão conduzidas no processo produtivo, a fim de permitir a<br />
exploração do trabalho desta última, garantindo neste processo a reprodução ampliada do capital, e ainda,<br />
a continuação deste movimento que propiciará que estas relações continuem a ser produzidas e<br />
reproduzidas.<br />
A regulamentação e a classificação do capital e do trabalho de acordo com o setor produtivo em<br />
que estão empregados, (primário, secundário, terciário e também intra-setores) têm nas instâncias<br />
político-burocráticas, um agente permanente de reforço e de controle da divisão social do trabalho.<br />
Estabelecendo formalizações para o desempenho das atividades produtivas, tanto para o capital<br />
como para o trabalho, e garantindo neste movimento a supremacia do capital sobre o trabalho, se<br />
estabelecem quais os deveres a serem cumpridos pelos atores que compõem o processo produtivo, como<br />
por exemplo, o pagamento de impostos, todo esse processo regrado e controlado pelas instâncias que<br />
compõem o que se considera do ponto de vista burguês, o Estado.<br />
Nesta relação de “iguais”, segundo o discurso da classe dominante, mediada por um “Estado”<br />
que se encontra “fora” do conflito social, o trabalhador “consegue” a formalização da venda da sua força<br />
de trabalho, o que o obriga ao pagamento de impostos enquanto dever, tendo como contrapartida,<br />
enquanto direito à “garantia” do oferecimento de alguns serviços básicos como de saúde, alimentação,<br />
moradia e de educação, que se configuram como sendo de péssima qualidade, e que têm por fim garantir<br />
minimamente a sua reprodução enquanto força-de-trabalho.<br />
Por sua vez, os capitalistas, ao repassarem, através de impostos, uma parte da mais valia<br />
usurpada no processo produtivo, sustentam toda a estrutura política institucional do quadro burocrático<br />
que compõe o “Estado”, garantindo desta forma a manutenção deste e a sua própria reprodução enquanto<br />
classe dominante e, sobretudo, as condições para a reprodução ampliada do capital (Marx e Engels 1996).<br />
Concomitantemente há o trabalho ideológico que procura fortalecer um antagonismo entre<br />
sociedade e Estado, camuflando todas as contradições existentes dentro do movimento desta mesma<br />
sociedade transferindo muitas vezes a responsabilidade das mazelas sociais e econômicas a este ser etéreo<br />
denominado Estado, instaurando uma lógica interpretativa em que de um lado encontra-se a sociedade<br />
civil e de outro o aparato político, jurídico institucional visto como independente.<br />
A partir desta ótica, o Estado passa a ser responsabilizado pelo desenvolvimento sócioeconômico<br />
da sociedade capitalista, deliberando-se a ele o poder e a responsabilidade das<br />
regulamentações das relações sociais de produção no mercado capitalista. Assim, os efeitos perversos<br />
deste processo, como a miséria, ou o trabalho e a economia informal, por exemplo, serão deslocados do<br />
campo das contradições existentes entre as classes, para o campo da incapacidade governamental do<br />
Estado.<br />
Desta maneira, todas as diferenças e problemas que atingem a maior parcela da sociedade no<br />
capitalismo aparentam não ser gerados no movimento de produção e reprodução do capital e na diferença<br />
de inserção das classes neste movimento, passam paradoxalmente a ser atribuídos em uma relação<br />
conflituosa entre sociedade e Estado. É neste sentido que Gonzales (1989), responsabiliza o Estado pelo<br />
não desenvolvimento da economia e pela existência da informalidade. Segundo Gonzales (1989):
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
Há efetivamente um segmento que apresenta um perfil nitidamente capitalista ao qual o Estado obstaculiza o<br />
desenvolvimento. Mas há outra parcela do setor informal que não é tipicamente capitalista e a quem o Estado<br />
também coloca óbices na medida em que não consegue gerar uma política demográfica, de emprego e renda<br />
compatíveis com a absorção desse contingente em condições normais de subsistência, ou seja, empregada<br />
nas atividades formais.(p.18)<br />
Os atores econômicos produtivos que fogem a esta formalização, fugindo ao pagamento dos<br />
tributos, estão inseridos, segundo a lógica da regulamentação do mercado instituída pelas instâncias<br />
administrativas e comandadas pela classe dominante, em uma economia informal.<br />
Produz-se, então, a partir do item regulamentação das atividades econômicas, pensada e<br />
executada pelas instituições que compõem o poder reconhecido enquanto tal, uma realidade que se divide<br />
em economia formalizada e não formalizada, incluindo-se neste rol as relações de trabalho,<br />
marginalizando todos trabalhadores que se encontram à margem da regra estabelecida, deixando-os à<br />
margem dos “benefícios” que podem ser conseguidos através da institucionalização da venda de sua força<br />
de trabalho.<br />
Mas, ao contrário do que se imagina, mesmo à margem do institucionalizado, o emprego e outras<br />
atividades produtivas acabam sofrendo influências e sendo controlados de alguma forma, pelas instâncias<br />
administrativas que compõem a estrutura da organização econômica e política burguesa e que não<br />
restringe o seu domínio somente às relações econômicas, sendo abrangente a todas as relações postas na<br />
sociedade.<br />
Neste sentido, estas relações de produção e de emprego, vistas à margem da perspectiva da<br />
regulamentação, compõem o movimento da economia capitalista, pois, mesmo não regulamentadas, as<br />
relações econômicas informais, seja de produção, de consumo ou de circulação de mercadorias garantem<br />
a reprodução do capital, já que, os vários ramos de emprego e de produção informal encontram-se<br />
interligados, no movimento de produção circulação e consumo, com os ramos formalizados da economia.<br />
O fato é que não se vive em um mundo à parte quando se está inserido, empregado, em uma<br />
atividade não formalizada, como somos levados a crer quando entendemos as relações existentes no<br />
processo produtivo somente a partir da regulação institucional.<br />
Se algumas atividades econômicas, ou relações de trabalho não se encontram institucionalizadas,<br />
não significa que não estão participando do processo social de produção e de reprodução ampliada do<br />
capital. A prova maior desta situação é a sua própria existência, que se coloca como fato inegável da sua<br />
vinculação a esta forma social de organização para a produção.<br />
Institucionalizar e legalizar as atividades econômicas revela somente o quanto o Estado<br />
dominado por determinada classe, pode ser instituído de poder de intervenção na sociedade, e<br />
logicamente na forma como esta se encontra organizada para a produção, para beneficiá-la frente as<br />
outras classes que compõem a sociedade, pois precisamente o papel do Estado é “institucionalizar” a<br />
regra do jogo (Oliveira 1988, p.16).<br />
A criação das leis trabalhistas brasileiras, por exemplo, que hoje são parâmetros para pensarmos<br />
o trabalho informal, revelam este caráter manipulatório das instituições e leis pensadas e implantadas pelo<br />
Estado.<br />
Quando no ato de sua criação as leis do trabalho serviram, mais do que para apaziguar a relação<br />
conflituosa existente entre a classe trabalhadora e o capital, para compor um novo cenário dominado por<br />
uma nova forma de acumulação pautada no capital industrial e que necessitava da implantação de certas<br />
modificações. Segundo Oliveira (1988):<br />
O decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo<br />
modelo de acumulação. Para tanto, a população em geral, e especialmente a população que afluía a cidades,<br />
necessitava ser transformada em ‘exército de reserva’. (p.16).<br />
A institucionalização das relações de trabalho, viabilizada pelas forças sociais, políticas e<br />
econômicas que comandavam o Estado na década de 1930, colocam-nos a caminho de pensar as conexões<br />
existentes entre as transformações no processo produtivo capitalista, em seus diversos níveis, e as<br />
mudanças do desempenho do papel do Estado neste processo.<br />
125
126<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
As transformações nas relações de produção no Brasil obedecem à lógica do capital industrial<br />
multinacional, assim, a institucionalização das relações de trabalho foi umas das formas da economia<br />
brasileira construir a sua versão, cheia de especificidades, de um modelo de processo de produção<br />
fordista, que permitia uma nova configuração das relações entre o capital e o trabalho, que se pauta na<br />
institucionalização dos direitos e satisfação de algumas das reivindicações dos trabalhadores e numa falsa<br />
supervisão desta relação capital x trabalho pelo Estado. Como afirma Bihr (1999):<br />
Assim será toda a ambivalência da legalização do proletariado que o compromisso fordista tornará possível:<br />
o Estado proporcionará satisfação ou sustentação de algumas de suas reivindicações na exata medida em que<br />
isso lhe permitir melhor integrá-lo na sociedade civil e política e, portanto, melhor controlá-lo.(p.38)<br />
A cada mudança no modo de acumulação, há sem dúvida uma reorganização da classe<br />
dominante no seu sentido institucional, transformando o papel e as características do Estado, que irá de<br />
acordo com as novas tendências e rumos apontados pelo objetivo da classe social dominante firmar, negar<br />
ou mesmo transformar as regras que institucionalizam todas as relações sociais, sendo as que dizem<br />
respeito às relações de produção e de trabalho evidentemente reformuladas neste ínterim.<br />
Como um dos exemplos do que afirmamos podemos remeter a um fato histórico que mostra<br />
claramente esta situação. No Brasil, após os anos de 1930, momento em que se começa a passagem de um<br />
modelo econômico ligado a agro-exportação para um modelo centrado na economia industrial urbana, a<br />
manipulação do Estado enquanto instrumento que poderia favorecer a um projeto econômico diferente do<br />
que até então estava em vigor. Oliveira (1988) afirma que:<br />
A revolução de 1930 marca o fim de um ciclo e o inicio de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia<br />
agrário-exportadora e o inicio da predominância da estrutura produtiva de base urbano industrial. (...) a nova<br />
correlação de forças sociais, a reformulação do aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores,<br />
entre os quais o trabalho ou o preço do trabalho, têm o significado, de um lado, de destruição das regras do<br />
jogo segundo as quais a economia se inclinava para as atividades agrário-exportadoras e, de outro, de criação<br />
das condições institucionais para as expansão das atividades ligadas ao mercado interno. Trata-se, em suma,<br />
de introduzir um novo modo de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto (...). (p.14)<br />
Oliveira (1988) demonstra em sua obra esta inclinação do Estado brasileiro para o favorecimento<br />
do capital industrial, ressaltando todas as políticas implantadas em nível estatal de incentivo a indústria e<br />
de desincentivo à produção agrícola exportadora.<br />
O que queremos salientar é a vinculação direta entre o modelo de acumulação, a forma de<br />
organização da produção, o Estado e a institucionalização das atividades econômicas e de trabalho, sendo<br />
que a forma como se deu até hoje a exploração do trabalho no capitalismo, poderá ter sido em alguns<br />
momentos maior ou menor, guardando uma proporção direta entre a resistência e a organização dos<br />
trabalhadores, e as manobras políticas e ideológicas da classe dominante visando a institucionalização do<br />
conflito, de forma a trazer para o seu campo de legalidades as formas de atuação dos trabalhadores.<br />
A maneira como as transformações no processo produtivo e as respectivas mudanças no âmbito<br />
do Estado estão interligados, conserva especificidades de acordo com o momento histórico e sua<br />
abrangência territorial, o que permite que o Estado no modo capitalista de produção tome as mais diversas<br />
configurações, obedecendo a especificidades políticas e econômicas locais, combinando-as com as<br />
transformações globais, sem contudo perder o seu caráter de potencializador das condições de reprodução<br />
do capital.<br />
Assim como todo aparato técnico, político–ideológico e institucional foi pensado pela classe<br />
dominante para obedecer aos ditames do fordismo, e isso implicou no remodelamento das formas de<br />
exploração do trabalho, com o surgimento de um Estado “comprometido” com o bem estar social do<br />
trabalhador, hoje, diante da expansão do capital que se globaliza e coloca as economias, principalmente<br />
dos países mais pobres, à mercê do capital financeiro, das novas tecnologias e formas de gestão e<br />
organização da produção, que permitem maior exploração qualitativa do potencial da força de trabalho,<br />
esta mesma classe se vê obrigada a reestruturar todo este aparato, inclusive o institucional, dando novas<br />
características ao Estado.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
Desta forma, a retomada do liberalismo não se dá logicamente somente nas bases produtivas,<br />
com relação ao uso de tecnologia, de trabalho e de gestão do processo produtivo, remete-se também às<br />
formas de organização política do Estado, lhe atribuindo novas funções, retirando-lhe outras, de maneira a<br />
ajustar os seus aparelhos para melhor condução de todo o processo de reprodução do modo capitalista de<br />
produção.<br />
Isso implica em uma nova forma de relação, não só entre capital e trabalho, mas também entre os<br />
aparelhos do Estado e os trabalhadores. Desta maneira passamos a entender melhor a utilização do Estado<br />
enquanto instrumento pela classe dominante, e a perceber donde vêm as forças que têm trabalhado para<br />
romper e desmontar o antigo modelo fordista, que tem como uma de suas características a<br />
institucionalização da força de trabalho e a construção de um aparato estatal que, sobretudo nos países de<br />
economia avançada, foi definido como o Estado bem estar social e que atualmente se mostra em plena<br />
decadência, dando sinais de rompimento com o modelo anterior. De acordo com Bihr (1999):<br />
Ruptura de caráter histórico: se, durante três décadas inteiras, o fordismo constituíra a base socioeconômica<br />
de seu poder político, é doravante em sua destruição que a classe dominante aposta para garantir a sua<br />
salvaguarda. O que para ela, significa reconhecer que a crise aberta alguns anos antes não é uma simples<br />
flexão conjuntural, mas uma crise estrutural, cuja saída supõe um remanejamento total do modo de<br />
produção.(p.76-77)<br />
Este remanejamento apontado por Bihr (1999), implica, sobretudo em estabelecer uma nova<br />
relação entre o capital e o trabalho, nova nas formas como se dão as relações e as combinações dos<br />
determinantes do processo produtivo, mas permanecendo a mesma no objetivo final, que é o da<br />
reprodução ampliada do capital.<br />
Esse remanejamento do modo de produção implica num rearranjo dos processos pelos quais se<br />
dá a exploração do trabalho, implicando na desestruturação das formas até então vigentes de organização<br />
dos trabalhadores, no desmonte do aparato institucional que garantia à classe trabalhadora direitos<br />
conquistados outrora através das lutas organizadas e, que agora são interpretados como entraves para o<br />
desempenho do processo de reprodução do capital.<br />
Essa ofensiva sobre a classe que vive da venda da sua força de trabalho toma dimensões<br />
gigantescas em todo mundo capitalista, agindo com maior vileza nos países pobres, subdesenvolvidos ou<br />
em desenvolvimento, eufemismo que procura esconder a situação de miserabilidade permanente de<br />
grande parte da população mundial.<br />
É nestes países em que grande parte da população é miserável, que os efeitos da nova ordem do<br />
capital se mostram maiores pois, se nos países de economia desenvolvida os trabalhadores ainda podem<br />
contar com o que resta do Estado providência, tendo por exemplo direito a um seguro desemprego<br />
decente e por um período relativamente considerável, nos países subdesenvolvidos este modelo de Estado<br />
nem chegou a vigorar plenamente, estando a classe trabalhadora exposta com maior vulnerabilidade às<br />
novas investidas do capital, tornando maior o número de pessoas que se vêem obrigadas pelo desemprego<br />
e pela falta da assistência do Estado, a buscar outras formas de ocupação, seja atuando como autônomo,<br />
como subempregado ou buscando trabalho na informalidade, formas de ocupação que aprofundam ainda<br />
mais as condições, que muitas vezes já eram ruins, de sobrevivência do trabalhador. Pochmann (1999)<br />
afirma que:<br />
A geração de ocupações com baixa qualidade (atípica, irregular, parcial), que no padrão sistêmico de<br />
integração social estaria associada à exclusão relativa do modelo geral de emprego regular e de boa<br />
qualidade, surge como exemplo de incorporação economicamente possível. Desta forma, distanciam-se as<br />
possibilidades de estabelecimento de um patamar de cidadania desejada.(p.21)<br />
Assim, é de acordo com lógica da reestruturação produtiva capitalista, que discutimos no<br />
capítulo anterior, que se gera um número crescente de desempregados, e que combinada a nova<br />
configuração tomada pelo Estado, que tem no liberalismo econômico a base ideológica e política para<br />
realização e implantação de seus projetos, que se configura o novo contexto social de exploração do<br />
trabalho, que segundo Bihr (1999) gera de um lado um conjunto de trabalhadores estáveis, com um bom<br />
salário e provida de seus direitos institucionais e, de outro, um outro conjunto de trabalhadores excluídos<br />
127
128<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
do mercado de trabalho, composto por idosos, jovens e trabalhadores sem qualificação, salientando que<br />
esta exclusão por vezes não se faz temporariamente, tornando-se para muitos definitiva.<br />
Bihr (1999) chama a atenção também para um terceiro conjunto que se formaria entre os<br />
incluídos e os excluídos do mercado de trabalho, que seria segundo o autor, uma massa flutuante de<br />
trabalhadores instáveis e que se comporia das seguintes categorias: a) proletários das empresas que<br />
atuam por contratação (terceirização) e por encomenda; b) os trabalhadores em tempo parcial; c)<br />
trabalhadores temporários d) os estagiários; e por último o que o autor classificou como sendo o cúmulo<br />
da instabilidade, ou seja: d) os trabalhadores da economia subterrânea, que são subcontratados em<br />
relação à economia oficial.<br />
A informalidade, descrita anteriormente por Bihr (1999) como o estágio máximo de precarização<br />
do trabalho, colabora também para a instabilidade geral da classe trabalhadora, pois permite que haja uma<br />
pressão maior sobre os direitos daqueles trabalhadores que se encontram regularmente empregados, e o<br />
seu aumento contribui ainda para o esvaziamento das formas de organização convencionais dos<br />
trabalhadores, principalmente a sindical.<br />
3. A informalidade como elemento da precarização das condições de trabalho e de desarticulação<br />
das formas de organização e representação institucionais dos trabalhadores.<br />
As atuais transformações na organização para a produção no capitalismo, não se restringem às<br />
formas de exploração do trabalho diretamente no processo produtivo, se estendem a todas as esferas,<br />
(econômicas, sociais e políticas) que constituem o mundo do trabalho.<br />
Com a reestruturação capitalista, combinada à ofensiva das políticas estatais neoliberais, tem-se<br />
um movimento acelerado de transformações no processo produtivo, que como vimos leva à criação de<br />
novas maneiras de utilização e exploração do trabalho e uma diversificação crescente no que diz respeito<br />
à divisão do trabalho, levando a um acirramento das fragmentações entre as formas de emprego ou de<br />
ocupação existentes.<br />
Uma fragmentação que, como apresentou Bihr (1999), vai além dos que têm e dos que não têm<br />
emprego, e que faz surgir uma ampla gama de trabalhadores que estão empregados ou ocupados<br />
precariamente em atividades insalubres, com grande quantidade de horas de trabalho por dia, mal<br />
remunerados e sem contrato formal.<br />
Estas diversas ocupações e empregos classificados como precários 124 , e que têm a informalidade<br />
como um agravante, tem aumentado como vimos não só no Brasil, mas em todo o mundo capitalista,<br />
sendo estas formas de ocupação a alternativa apresentadas pelo atual contexto econômico e social para<br />
uma parcela considerável da classe trabalhadora, para que possa garantir sua sobrevivência e fugir a<br />
situação de desemprego.<br />
Desta forma, torna-se crescente o número de trabalhadores na informalidade, o que colabora para<br />
a degradação das condições de trabalho daqueles que continuam formalmente empregados.<br />
Os que estão formalmente empregados passam, neste contexto de aumento do trabalho informal,<br />
a sofrer pressões sobre os seus salários e seus direitos trabalhistas, cuja existência passa a ser denunciada<br />
como obstáculo à expansão do emprego formal. ((Singer ,1998, p.46)).<br />
Seja como autônomo, temporário, parcial ou em tempo integral sem a carteira assinada, é cada<br />
vez mais comum encontrar pessoas que estão ou conhecem alguém trabalhando nesta situação, lembrando<br />
que as formas de emprego ou ocupação informais não se restringem atualmente aos trabalhadores com<br />
pouca formação técnica, podendo-se encontrar vários profissionais altamente capacitados prestando<br />
serviço em tempo parcial ou integral sem no entanto estabelecer um contrato formal com os seus<br />
empregadores. Como afirma Singer (1998):<br />
(...) a crescente informalização das relações de trabalho está agora golpeando trabalhadores qualificados e<br />
antigos empregados com grau universitário. As longas jornadas de trabalho praticadas por trabalhadores<br />
informais resulta em demissões e crescimento do número de desempregados, avolumando as fileiras dos<br />
124 Sobre precarização do trabalho ver, Ramalho (1997); Boito Jr. (1999); Alves (1999), entre outros.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
trabalhadores informais. Não há dúvida de que a exclusão alimenta a exploração e a exploração<br />
(particularmente do trabalhador informal) alimenta a exclusão. (p.73)<br />
Todo esse movimento contínuo, descrito por Singer (1998), em que exclusão e informalização se<br />
alimentam mutuamente, centrando-se na maior exploração do trabalho, tem outros determinantes que não<br />
estão restritos à situação de informalidade do trabalhador, mas perpassam por outras determinações que<br />
além de econômicas são também de ordem política.<br />
O fenômeno crescente da informalização do trabalho, longe de ser visto como uma anormalidade<br />
pelas forças econômicas e políticas dominantes, são vistos, até pelos discursos oficiais, como<br />
perfeitamente viável a nova ordem estabelecida para a organização e participação dos atores econômicos<br />
no mercado capitalista.<br />
Pautados em pressupostos liberais, os governos têm procurado justificar a aceitação do<br />
crescimento contínuo do trabalho informal e a sua política de desregulamentação do mercado de trabalho,<br />
como forma de evitar o aumento do desemprego, que de outra maneira só poderia ser conseguido com o<br />
crescimento econômico. Segundo Cattani (1996) o pensamento neoliberal dominante entende desta forma<br />
o problema do desemprego:<br />
O desemprego aparece como uma questão inquietante, mas solucionável com a retomada do crescimento<br />
econômico e com a eliminação das regulamentações e proteções criadas artificialmente pelos sindicatos.<br />
(p.63)<br />
Neste sentido, os pronunciamentos e as atitudes tomadas pelo governo brasileiro tem sido o de<br />
estimular a informalidade e a precarização do trabalho. Esse fato pode ser constatado se analisarmos os<br />
projetos que visem modificações nas leis que regem os contratos de trabalho, ou que permitem que haja<br />
contratos de trabalho que fujam aos princípios da legislação, estimulando desta maneira a ampliação das<br />
condições para o aproveitamento, exploração, do trabalhador na informalidade. Como nos diz Boito Jr.<br />
(1999):<br />
Uma forma importante que os governos neoliberais encontraram para avançar na desregulamentação do<br />
mercado de trabalho foi tolerar e até estimular a desregulamentação ilegal, e muitas vezes oculta, praticada<br />
pelos capitalistas. Na década de 1990, os governos liberais estimularam os empregadores a contratar<br />
trabalhadores sem carteira assinada, ao permitirem a piora da historicamente precária fiscalização das<br />
delegacias Regionais de Trabalho e ao estigmatizarem os direitos sociais e a legislação trabalhista. (p.94)<br />
Desta forma, torna-se evidente o desmonte do já insuficiente aparato institucional que garante<br />
proteção ao trabalhador frente as “intempéries” do mercado e das investidas extremas de espoliação dos<br />
empregadores.<br />
Esta situação demonstra o poder de influência da classe dominante sobre os aparelhos do Estado,<br />
que se reconfiguram, modificando a legislação ou mesmo desobedecendo-a, para melhor colaborar com o<br />
atual contexto organizativo do capital, o mesmo Estado que em outros momentos procura mostrar-se<br />
como mediador ou imparcial frente ao confronto capital x trabalho corrobora sem disfarce a sua<br />
vinculação com capital.<br />
E é neste contexto, de crescimento do desemprego, do trabalho informal, da desregulamentação e<br />
desmantelamento do aparato institucional que garantia alguns direitos básicos à classe trabalhadora, que<br />
se mostra o desgaste e a fragilidade das suas atuais formas de organização, que são em sua maior parte<br />
sindicatos que organizam, representam e defendem os direitos de determinada categoria 125 .<br />
Combinada a terceirização ao desemprego, o trabalho informal torna-se um elemento corrosivo<br />
da base sob a qual se assenta a legitimidade e representação dos sindicatos, que por serem<br />
reconhecidamente institucionais trabalham dentro de normas que não permitem, ou não tornam<br />
interessante, organizar os trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho formal, seja pelo<br />
desemprego ou pela informalidade.<br />
125 Atualmente os sindicatos têm lutado muito mais para a manutenção do emprego do que por melhorias nas condições de trabalho e de<br />
salário, como acontece atualmente com os metalúrgicos do ABC. Há uma preocupação maior em reintegrar o desempregado ao mercado de<br />
trabalho, e não um projeto de organização dos trabalhadores para o enfrentamento da atual política econômica. Sobre este assunto ver, Boito<br />
Jr. (1999)<br />
129
130<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Como instituição os sindicatos estão fracionados para representar as diferentes categorias,<br />
organizando, em tese, estes trabalhadores, também legalmente contratados como uma força conjunta<br />
frente ao capital. Logicamente temos que considerar a fragmentação existente entre os sindicatos<br />
instituídos de acordo com a categoria de trabalho, pois como sabemos os sindicatos acabam por<br />
representar um fragmento da classe trabalhadora, uma categoria específica e não a todos os trabalhadores,<br />
esta fragmentação faz com que os problemas enfrentados por determinada categoria que cumpre sua<br />
função na divisão social do trabalho, pareça não dizer respeito a outras categorias de trabalhadores. De<br />
acordo com Antunes (1998):<br />
Os sindicatos operam um intenso caminho de institucionalização e de crescente distanciamento dos<br />
movimentos autônomos de classe. Distanciam-se da ação, desenvolvida pelo sindicalismo classista e pelos<br />
movimentos sociais anticapitalistas, que visam o controle social da produção, ação esta tão intensa em<br />
décadas anteriores, e subordinam-se à participação dentro da ordem. Tramam seus movimentos dentro dos<br />
valores fornecidos pela sociabilidade do mercado e do capital. (p.35)<br />
E por estar organizado política e estruturalmente desta forma fragmentada e institucionalizada<br />
que, segundo Bihr (1999) privilegia a dimensão de categoria e profissional, é que os sindicatos perdem<br />
atualmente o seu poder de representação, com o aumento do desemprego e da informalidade do trabalho<br />
tem uma diminuição considerável de sua base de representação, já que os desempregados e os<br />
trabalhadores informais estão fora da sua área de atuação legal. Singer (1998), ao tratar do aumento da<br />
informalidade e seus efeitos sobre os sindicatos afirma que:<br />
Obviamente, isto tem um efeito desmoralizante sobre os sindicatos, cuja representatividade é corroída à<br />
medida que sua pretensão de falar pelo mundo do trabalho ou ao menos de sua parcela majoritária torna-se<br />
crescentemente insustentável. (p.49)<br />
A diminuição da participação dos trabalhadores nos sindicatos, pelos motivos aqui apontados,<br />
somada à insegurança no emprego gerada pela reestruturação produtiva, que tem no avanço tecnológico<br />
uma maneira de poupar quantitativamente a força de trabalho, leva junto com o enfraquecimento da<br />
entidade representativa, a maior exposição de algumas categorias de trabalhadores às investidas dos<br />
capitalistas no sentido de diminuir o custo do trabalho, sobretudo no que diz respeito aos direitos<br />
trabalhistas conquistados através da luta organizada.<br />
As ações dos sindicatos mais organizados não demonstram que haverá mudança em curto prazo<br />
na forma de pensar e organizar os trabalhadores no novo contexto social capitalista, sobretudo, porque se<br />
limitam a promover programas educacionais que visam a requalificação do trabalhador para a busca de<br />
novos empregos, que não são suficientes para todos.<br />
Os trabalhadores requalificados, que agora sabem realizar outra atividade profissional e que<br />
mesmo assim não encontram empregos, são estimulados a realizar o seu próprio empreendimento,<br />
seguindo a orientação da livre iniciativa, montando um pequeno negócio, seja uma confeitaria, oficina,<br />
etc.; acabam por afastar-se ainda mais das formas organizativas dos trabalhadores individualizando-se<br />
enquanto pequeno empreendedor, que deixou de ser empregado, buscando quase sempre refúgio na<br />
informalidade para ter condições de desempenhar suas atividades.<br />
Ao invés de conseguir com a integração dos trabalhadores ao sindicato, com os programas de<br />
requalificação, o que se consegue é uma maior fragmentação dos trabalhadores em suas tentativas<br />
individualistas de ascensão no mercado capitalista, ascensão que para a maioria é apenas um sonho a ser<br />
perseguido, e que se revela na verdade no pesadelo do trabalho precarizado e informal.<br />
Assim, os programas de requalificação, financiados com dinheiro do governo, colaboram para o<br />
esvaziamento dos sindicatos e desarticulação da capacidade de organização dos trabalhadores, o que leva<br />
a um enfraquecimento crescente do poder reivindicatório dos trabalhadores formalmente empregados e<br />
sindicalizados [Antunes (1998); Bihr (1999)], além do que, mais do que promover a capacitação dos<br />
trabalhadores estes programas tornam-se fonte de renda para os sindicatos, substituindo a sua antiga fonte,<br />
dos filiados.
GONÇALVES, M. A.; SPOSITO, E. S.<br />
Fetiche do Estado e regulamentação do conflito capital trabalho.<br />
O aumento dos trabalhadores informais, a desindicalização, além de colocar os trabalhadores<br />
formais como privilegiados, como vimos anteriormente, levam a uma luta corporativa dos sindicatos na<br />
defesa das suas respectivas categorias para manterem os seus direitos (Antunes, 1998,1999).<br />
Diante do novo contexto econômico e social que envolve os trabalhadores e é claro os sindicatos,<br />
vários estudiosos têm apontado a necessidade de repensar as formas vigentes de atuação e organização do<br />
sindicato vertical 126 , apontando para a necessidade de reestruturar os sindicatos, de forma a fugir do<br />
modelo fordista de sindicalismo, buscando a participação e a organização dos trabalhadores que se<br />
encontram excluídos das organizações representativas, sendo esta uma das formas de estabelecer uma<br />
nova forma de organização que possa fortalecer a classe trabalhadora. Como afirma Bihr (1999):<br />
Somente um sindicalismo com estruturas “horizontais”, que privilegia a dimensão interprofissional, é<br />
adequado para organizar ao mesmo tempo trabalhadores permanentes, instáveis e desempregados. (p.101)<br />
Como afirma Antunes (1998), uma forma de sindicalismo mais horizontalizado, que<br />
privilegiasse as esferas intercategoriais e interprofissionais, que abrangesse alem dos trabalhadores<br />
estáveis, também os temporários, precários, parciais e os informais, seria o caminho para evitar a extinção<br />
dos sindicatos enquanto órgão representativo dos trabalhadores.<br />
4. Referências Bibliográficas.<br />
ALVES, G. Trabalho e mundialização do capital: a nova degradação do trabalho na era da<br />
globalização. Londrina: Praxis, 1999.<br />
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do<br />
trabalho. Campinas, Cortez, 1998.<br />
BIHR, A. Da grande noite à alternativa. São Paulo: Boitempo, 1998.<br />
BOITO JR., A. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999.<br />
BRAGA, RUY. A restauração do capital: um estudo sobre a crise contemporânea. São Paulo: Xamã,<br />
1996.<br />
BRUNHOFF, S. de. A hora do mercado: crítica do liberalismo. São Paulo: UNESP, 1991.<br />
CATTANI, A.D. Trabalho e autonomia: Petrópolis: Vozes, 1996.<br />
CIGNOLLI, A. Estado e força de trabalho: introdução a política social no Brasil. São Paulo:<br />
Brasiliense, 1985.<br />
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Vitória, 1960.<br />
ENGELS F. ; KAUTTSKY, K. O socialismo jurídico. São Paulo: Ensaio, 1991(Cadernos Ensaio).<br />
GONZALES, B.C.R. A pequena empresa e o setor informal: uma análise das barreiras existentes ao<br />
livre crescimento e transição ao setor informal. 1989. Dissertação (Mestrado em Economia)<br />
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.<br />
LÊNIN, V.I. O Estado e a revolução. São Paulo: Hucitec, 1983.<br />
MARX, K; ENGELS, F. A ideologia alemã (l - Feuerbach). São Paulo: Hucitec, 1996.<br />
OLIVEIRA, F. de. A economia brasileira: crítica à razão dualista. Petrópolis,: Vozes, 1988.<br />
POCHMANN, M. O trabalho sob fogo cruzado: exclusão, desemprego e precarização no final do<br />
século. São Paulo: Contexto, 1999.<br />
SINGER, P. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. São Paulo: Contexto, 1998.<br />
126 Sobre este assunto ver: Antunes (1998); Bihr (1999) Boito Jr. (1999), entre outros.<br />
131
A CRISE DO CONTRATO SOCIAL DA MODERNIDADE: O CASO DA “REFORMA<br />
AGRÁRIA” DO BANCO MUNDIAL *<br />
Eraldo da Silva RAMOS FILHO ∗∗<br />
Resumo: Neste artigo interpreto a reforma agrária do Banco Mundial enquanto uma política de caráter<br />
neoliberal e compensatória. Para tanto, busco suas vinculações com a figura de linguagem criada por<br />
Santos (1998) para erosão dos valores, a fragmentação da sociedade e o estabelecimento do consenso pela<br />
lógica do capital e da racionalidade do mercado, em curso na sociedade contemporânea. Apresento os<br />
fundamentos desta espécie de “reforma agrária”, os fundamentos e formas de implementação no Brasil,<br />
em dois períodos de governo.<br />
Palavras-chave: Reforma Agrária, Mercado, Conflito.<br />
Resumén: En este artículo interpreto la "reforma agraria" del Banco Mundial mientras una política de<br />
carácter neoliberal y compensatória. Para tanto, busco sus vinculaciones con la figura de lenguaje creada<br />
por Santos (1998) para erosión de los valores, la fragmentación de la sociedad y el establecimiento del<br />
consenso por la lógica del capital y de la racionalidad del mercado, en marcha en la sociedad<br />
contemporánea. Presento los fundamentos de esta espécie de “reforma agraria”, los fundamentos y formas<br />
de implementación en Brasil, en dos períodos de gobierno.<br />
Palabras-llave: Reforma Agrária, Mercado, Conflicto.<br />
1. A crise do contrato social da modernidade.<br />
Atualmente vivenciamos um processo de globalização multidimensional, cuja face hegemônica é<br />
a globalização econômico-financeira que, ao mesmo tempo, determina e usufrui da compressão espaçotempo.<br />
Relações hegemônicas e contra-hegemônicas são construídas e se confrontam cotidianamente,<br />
quer no local, quer no global.<br />
O sociólogo português Boaventura de Souza Santos (1998) construiu uma metáfora analítica<br />
para a racionalidade social e política da modernidade ocidental: o mundo contemporâneo vivencia a crise<br />
do contrato social da modernidade.<br />
A contratualização perpassa uma multidimensionalidade que inclui interações políticas,<br />
econômicas, sociais e culturais, cuja legitimação se estabelece pela tensão existente entre inclusão e<br />
exclusão. É, portanto no campo de lutas pela inclusão e exclusão que o contrato se refaz<br />
permanentemente.<br />
Esta crise, em curso há mais de uma década, pode ser identificada a partir de distintos<br />
indicadores, como no processo de erosão geral dos valores resultante em uma crescente fragmentação da<br />
sociedade que passa a estabelecer apartheids em múltiplas dimensões: econômicas, políticas, sociais e<br />
culturais. Verifica-se a perda de sentido da luta pelo bem comum e por alternativas de bem comum.<br />
Apesar da permanência dos valores da modernidade (liberdade, igualdade, autonomia,<br />
subjetividade, justiça, solidariedade) e as contradições entre eles, seus significados são dissimulados e<br />
novos sentidos atribuídos, agora, com tantos significados distintos quantos forem os grupos sociais. Este<br />
excesso de sentido leva a uma paralisia da eficácia e a uma neutralização.<br />
Para Santos, o processo de compressão espaço-tempo condiciona uma turbulência das escalas<br />
nas quais estamos habituados a identificar os fenômenos, os conflitos e as relações. “Como cada um<br />
destes é produto da escala em que observamos, a turbulência nas escalas cria estranhamento,<br />
desfamiliarização, surpresa, perplexidade e indivisibilização”. (1998, p.19)<br />
* Texto publicado em 2005 (n.12 v.1), resultante de trabalho final apresentado à disciplina História Social do Trabalho no Brasil, ministrada<br />
pela Profª Drª Eda Maria Góes e cursada pelo autor durante o segundo semestre de 2004 no Programa de Pós-Graduação em Geografia da<br />
<strong>FCT</strong>/UNESP.<br />
∗∗ Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, <strong>Doutor</strong>ando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista<br />
(<strong>FCT</strong>/UNESP). Atualmente é professor <strong>Assistente</strong> Colégio de Aplicação (CODAP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Pesquisador<br />
do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA), Correio eletrônico: eramosfilhos@yahoo.com.br
RAMOS FILHO, E. S.<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
A cooptação do conhecimento científico pelos interesses da dinâmica do capital, a perda de<br />
centralidade do Estado e a turbulência das escalas têm conduzido a um cenário de ofuscamento das<br />
alternativas, propagação da impotência e passividade. A estabilidade escalar parece existir apenas na<br />
esfera do mercado e do consumo.<br />
Apesar da crise, a contratualização se faz corriqueira na sociedade contemporânea. Fala-se em<br />
contratualização das relações sociais, trabalhistas, das relações políticas do Estado com as organizações<br />
sociais, etc.<br />
Tal contratualização apresenta três características centrais. A primeira condiz com uma<br />
“contratualização liberal individualista, moldada na idéia do contrato social de direito civil entre<br />
indivíduos e não na idéia do contrato social entre agregações coletivas de interesses sociais divergentes”<br />
(Ibid., p. 22).<br />
A segunda característica ressalta a instabilidade da contratualização, uma vez que, a qualquer<br />
momento esta pode ser denunciada por uma das partes.<br />
E, por fim, a contratualização atual nega a existência do conflito e a luta como componentes<br />
estruturais do poder. Afirma a passividade e o consenso. Um exemplo emblemático é o Consenso de<br />
Washington, no qual os países capitalistas centrais definiram as diretrizes globais de “desenvolvimento”<br />
das nações periféricas. Estas, por sua vez, têm de seguir o receituário proposto de forma acrítica sob pena<br />
de serem excluídas dos programas de “ajuste”.<br />
O contrato social da modernidade é falso, já que não resulta da discussão e sim da imposição<br />
unilateral do membro mais forte, que busca sub-julgar o membro mais fraco. A crise do contrato social<br />
reflete-se portanto no predomínio dos processos de exclusão em detrimento dos de inclusão.<br />
A exclusão tem se dado tanto pelo confisco dos direitos de cidadania considerados inalienáveis<br />
anteriormente (pós-contratualismo), quanto no bloqueio de acesso à cidadania aos sujeitos (SADER,<br />
1988) que eram antes candidatos à cidadania e esperançosos de conseguí-la (pré-contratualismo).<br />
Estas formas de exclusão são balizadas por quatro principais formas de consensos.<br />
Primeiramente a do consenso econômico neoliberal assentado na liberalização dos mercados financeiros,<br />
desregulamentação, privatizações, redução do Estado e dos gastos sociais, redução do déficit público,<br />
fortalecimento do poder econômico das corporações e bancos transnacionais, fragilização da organização<br />
da sociedade. Enfim o que está em jogo é concretização do controle dos Estados Nacionais pelo Fundo<br />
Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio.<br />
O Estado fraco é o segundo consenso. O terceiro consenso é o democrático liberal e “consiste na<br />
promoção internacional de concepções minimalistas de democracia como condição de acesso dos Estados<br />
nacionais aos recursos financeiros internacionais” (SANTOS, 1998, p. 27).<br />
Por fim, o último consenso é derivado dos outros supracitados. O consenso do primado do direito<br />
e dos tribunais prioriza a propriedade privada em detrimento do público, as relações mercantis e o setor<br />
privado. Busca uma operacionalização segura, previsível, garantida contra violação unilateral. Para tanto,<br />
transforma-se o quadro jurídico e os tribunais, e a contratualização passa a buscar a individualização com<br />
vista a possibilitar maior controle.<br />
É, portanto, neste contexto de crise do contrato social da modernidade que se situam as<br />
transformações recentes na política de desenvolvimento rural para as nações da Ásia, África, América<br />
Latina e, em particular, o Brasil.<br />
2. A “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
Os últimos 15 anos têm sido marcados por uma mudança de postura do Banco Mundial frente às<br />
políticas de terras. Após os ajustes estruturais, imposição de medidas neoliberais de todo o tipo e<br />
financiamento de infra-estrutura e megaprojetos, a instituição passou a enfatizar a questão da terra como<br />
estratégia de desenvolvimento rural. Nesta política setorial a reforma agrária tornou-se central, expressão<br />
de certa forma proibida em muitos países há vinte anos, que precisa ser melhor situada nos programas do<br />
Banco.<br />
Esta mudança de postura deriva de pelo menos três motivos. O primeiro diz respeito à<br />
observação do resultado de um conjunto de pesquisas realizadas pelos think thanks (BOURDIEU, 2001)<br />
133
134<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
do órgão que apontaram que nas nações onde a distribuição da terra é muito desigual há um retardamento<br />
nas taxas de crescimento econômico. E como este, é a menina dos olhos do Banco Mundial, as políticas<br />
voltaram-se para ações que pudessem promover alguma desconcentração deste bem, afim de contribuir<br />
nesse sentido.<br />
Outra motivação diz respeito aos baixos investimentos realizados no meio rural nos já referidos<br />
continentes, logo, nada mais oportuno que promover programas voltados para a atração de investimentos<br />
privados para essas áreas rurais que se articulem, direta ou indiretamente, com a preocupação anterior.<br />
Por fim, outra preocupação, meramente retórica, é com a redução da pobreza (e não com sua<br />
eliminação).<br />
A fim de contextualizar a reforma agrária do Banco Mundial, tomei como referência o estudo de<br />
Rosset (2004) para primeiramente discorrer sobre o receituário que tem sido imposto a diferentes países,<br />
seguindo uma mesma seqüência de políticas setoriais rurais.<br />
O primeiro conjunto de políticas visa conhecer a posse das terras, organizar os negócios, reduzir<br />
o caos para que em um futuro próximo possa entrar em operação o mercado de terras. O Banco denomina<br />
tais projetos de “administração da terra” e em diferentes países podem ser chamados de titulação, registro<br />
ou mapeamento.<br />
Existem países cujos projetos de “administração da terra” estão em andamento ou renovando os<br />
acordos, outros discutem sua implantação, há ainda aqueles que já tiveram tais projetos.<br />
A defesa (questionável) é a de que sem a existência de um mercado de terras não haverá<br />
transferência de terras para os mais pobres, nem investimentos nas áreas rurais. Para o Banco, os<br />
produtores precisam da garantia dos empréstimos da mesma forma que os investidores precisam da<br />
garantia dos pagamentos. Portanto, é importante a segurança do direito de propriedade, a fim de que a<br />
terra seja a ofertada como garantia e/ou estímulo nas operações financeiras.<br />
Com a “administração da terra” é possível fazer um balanço da sua oferta e procura. Tal medida<br />
dá suporte a uma segunda política que é a de privatização de terras públicas e comunais, implementada<br />
sob a forma de concessões a corporações que se comprometem a realizar investimentos nas áreas rurais<br />
e/ou realizar um tipo de “reforma agrária” orientada pelo Banco.<br />
Um exemplo desastroso dessa política tem sido a privatização das terras comunais no México,<br />
mediante a implantação do Programa de Certificação dos Direitos Agrários e Titulação da Habitação<br />
Urbana (Procede) – programa recomendado pelo Banco -, que tem permitido a titulação individual dos<br />
ejidos (grandes propriedades comunais herdadas da Revolução Mexicana).<br />
A terceira política se soma às duas primeiras e institui o direito legal de vender, alugar, arrendar<br />
ou hipotecar as terras como garantia de empréstimo. Como os títulos da terra passam a ser alienáveis,<br />
caso o camponês não consiga pagar os empréstimos pode perder a terra.<br />
A terra pode ainda servir como moeda em um empreendimento, no qual os capitalistas entram<br />
com os investimentos e o camponês com a terra. No caso do fracasso do empreendimento todos perdem.<br />
O capitalista o montante investido e o camponês a terra.<br />
Com este tipo de posse, frente aos períodos de alta dos preços da terra ou de baixas da safra os<br />
camponeses podem vender suas terras. Ocorre que ao vender este bem, tão logo o dinheiro acaba, ficam<br />
sem a terra e sem emprego, portanto mais empobrecidos.<br />
O problema da política não reside em titular as terras, mas no contexto de uma política<br />
macroeconômica neoliberal que, ao abrir as economias nacionais, traz prejuízos para os produtores locais<br />
com a redução dos preços dos gêneros agrícolas.<br />
De fato, a noção de mercado de terras como meio de reduzir a pobreza é muito curioso. O Banco Mundial diz<br />
que se o mercado de terras funciona, então é possível as pessoas pobres adquirirem a terra. Infelizmente,<br />
como todos sabemos, o mercado não responde às necessidades do povo; o mercado responde ao dinheiro. O<br />
funcionamento do mercado de terras pode, portanto, em muitos casos, gerar uma clara transferência de terras<br />
de pessoas pobres para grandes e ricos fazendeiros, porque os pobres freqüentemente não têm recursos<br />
financeiros para participar do mercado de terras. (ROSSET, 2004, p. 21)<br />
Formado o mercado de terras forjam-se, agora, as condições necessárias para a implementação<br />
de uma política geral de crédito: os chamados “bancos da terra” ou “fundos de terras”. Estes, por sua vez,
RAMOS FILHO, E. S.<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
consistem em fundos estimulados pelo Banco Mundial e outros doadores nos países onde se verifica uma<br />
má distribuição fundiária, e, portanto, dificuldade de crescimento econômico.<br />
Uma vez realizados os financiamentos, os países credores devem criar (ao longo do tempo) seus<br />
próprios fundos creditícios com a finalidade de conceder créditos fundiários aos sujeitos sociais que<br />
demandam terras, para que estes possam comprá-la no mercado já em funcionamento.<br />
Este modelo de endividamento externo para compra e venda de terras foi denominado pelo<br />
Banco de “reforma agrária dirigida pelo mercado”. Após duras críticas e questionamentos de como a<br />
reforma agrária pode ser dirigida pelo mercado, o Banco passou a chamá-lo de “reforma agrária assistida<br />
pelo mercado”. Com a continuidade das contestações e controvérsias a nomenclatura tornou a mudar<br />
(porém sem alterar o conteúdo) para “reforma agrária negociada”, “reforma agrária baseada na<br />
comunidade”.<br />
Esta política de “reforma agrária” neoliberal busca a resolução do conflito histórico entre semterra<br />
e latifundiários em países que a a concentração fundiária é exacerbada.<br />
Segundo o Banco a “reforma agrária tradicional”, via desapropriação, não é possível no<br />
momento atual porque as elites econômicas resistem à reforma e isso gera muito conflito. O objetivo não<br />
é incomodar as elites mediante as medidas desapropriatórias, mas sim comprar as terras daqueles que<br />
estão dispostos a vendê-las pelo preço que pedirem.<br />
Por outro lado,<br />
Os “beneficiários” desse programa adquirem uma pesada dívida com crédito usado para comprar a terra. O<br />
tamanho dessa dívida é baseado no preço pelo qual a terra é vendida. Uma função desses programas em<br />
diversos países é determinar o seu preço. O próprio modelo enseja corrupção, com funcionários do governo<br />
em conluio com latifundiários; de fato esse tipo de corrupção é implacável (...) Observamos que a terra<br />
comprada por pessoas pobres não é apenas de má qualidade, mas também superavaliada. Em alguns casos,<br />
esses programas têm contribuído para uma tremenda inflação no preço da terra. Então, é provavelmente<br />
seguro dizer que a “reforma agrária de mercado” tem sido mais benéfica para os latifundiários, que podem<br />
vender terras de pouca qualidade a altos preços. (ROSSET, 2004, p. 23)<br />
Tal pacote de políticas de “desenvolvimento” já se encontra em curso em diferentes países, com<br />
roupagens e impactos variados. Na África, podemos citar os casos da África do Sul e Zimbábue, na Ásia,<br />
está implantado na Indonésia, Tailândia e Índia, e, por fim, na América Latina, evidencia-se o caso da<br />
Guatemala, do México, da Colômbia e do Brasil, exemplo que abordarei em seguida.<br />
3. A “Reforma Agrária” do Banco Mundial no Brasil.<br />
No final da década de 1990, o governo Fernando Henrique Cardoso implantou uma política<br />
agrária denominada de Novo Mundo Rural na qual a ideologia do Banco tornou-se mais evidente.<br />
A partir deste período, ocorre no campo brasileiro a alteração da postura do Estado brasileiro frente à<br />
questão agrária. Em virtude do seu ajustamento à lógica neoliberal verifica-se a concretização da<br />
internacionalização das políticas públicas para o campo mediante: a difusão da concepção de alívio da<br />
pobreza rural, da substituição da questão agrária pelas políticas de desenvolvimento rural, do<br />
fortalecimento do agricultor familiar e negação da existência do camponês, assim como a implementação<br />
da reforma agrária de mercado.<br />
As ações políticas no campo brasileiro transparecem a estratégia territorial, cuja meta é<br />
responder quantitativamente à inserção subalternizada e dependente do Brasil no capitalismo<br />
monopolista. Para manter uma balança comercial favorável transforma-se a “a agricultura em um negócio<br />
rentável regulado pelo lucro e pelo mercado mundial” (OLIVEIRA, 2004, p. 13).<br />
Valorizam-se as ações do agronegócio, nega-se a gravidade da concentração fundiária, ignora-se<br />
a manutenção do rentismo fundiário no Brasil e relega-se parcela significativa das populações rurais (e<br />
urbanas) a cenários mórbidos de exclusão, pobreza e miséria (PAUGAM, 1999).<br />
135
136<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Outra característica marcante foi o franco processo de tentativa de despolitização da luta<br />
camponesa e seus respectivos movimentos sociais. Ações sistemáticas foram conduzidas em três<br />
dimensões distintas e interligadas: a legal, a político-científico-ideológica e a midiabilidade.<br />
Na dimensão legal, buscou-se a desmobilização dos movimentos sociais mediante a<br />
promulgação de leis e medidas provisórias na maioria das vezes controversas, a exemplo da introdução da<br />
MP n° 2.109-49 de 23 de fevereiro de 2001, que instituiu a exclusão da reforma agrária dos trabalhadores<br />
que ocuparam terras ou dos assentados de reforma agrária que apoiaram tal ato de desobediência civil, e<br />
proibiu, por pelo menos dois anos, a realização de vistoria em propriedades rurais que sofreram processo<br />
de ocupação. Dentre outros instrumentos legais.<br />
Na dimensão político-científico-ideológica, o governo Cardoso dispôs de uma importante rede<br />
de cientistas que deu suporte teórico e ideológico a projetos concebidos para o desenvolvimento no<br />
campo brasileiro. Este pensamento com forte influência da concepção de desenvolvimento existente em<br />
instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ao mesmo tempo em<br />
que se constituiu em paradigma na academia, transformou-se em políticas públicas.<br />
Neste sentido, foram extintas linhas de créditos voltadas para o pequeno produtor da reforma<br />
agrária, a exemplo do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) e sua<br />
substituição pelo por linhas de crédito mais seletivas a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento<br />
da Agricultura Familiar (PRONAF). Outra política que vale destacar, por evidenciar esta intencionalidade<br />
de controlar a mobilização popular por terras, foi a criação do engodo do Acesso Direto à Terra (a<br />
reforma agrária pelo correio).<br />
Este programa na data do seu lançamento não conseguiu garantir nem os cadastramentos das<br />
famílias em diferentes municípios brasileiros, e, até o fim daquele governo, não se ouviu notícia (ou<br />
boato) de sequer uma família que tenha entrado na terra por este programa.<br />
Para o governo FHC a questão agrária não é econômica ou política, mas sim uma política de<br />
compensação social. Este tipo de política não altera a realidade. Apenas implementa ações paliativas que<br />
não alteram os problemas da sociedade, apenas os maquiam, e, através da propaganda, apresenta para a<br />
sociedade a falsa resolução de um problema. Neste processo os problemas sociais tendem a se agravarem<br />
ao longo do tempo.<br />
Refuta-se então, o reconhecimento da existência de uma classe social camponesa. Para dar<br />
sustentação a esta postura constrói-se, teoricamente, o discurso e a prática política governamental com a<br />
centralidade e o fortalecimento da agricultura familiar nas políticas implementadas nos programas de<br />
desenvolvimento do capitalismo na agricultura.<br />
cria mecanismos de sustentação política, científica e ideológica para, de um lado, afirmar e apresentar as<br />
propostas e entendimento do governo no tocante ao desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira<br />
e, de outro lado apresentar o atraso das relações baseadas na reivindicação dos movimentos camponeses em<br />
lutar pela democratização do acesso à terra e em denunciar a viciosa estrutura agrária brasileira.<br />
(FELICIANO, 2003, p.07)<br />
A terceira dimensão é a da midiabilidade, compreendida aqui como a capacidade de um<br />
determinado ator ou grupo de atores formar um campo social dominado pela mídia.<br />
Com uma massiva e dispendiosa campanha publicitária, o governo FHC buscou confundir a<br />
opinião pública, induzindo-a a condenação dos trabalhadores organizados nos movimentos sociais em<br />
confronto (com o Estado, latifundiários e judiciário), manipulou informações para se propagar a idéia de<br />
novo rural ideal. Para elevar o mérito do Novo Mundo Rural, o governo pagou campanha publicitária<br />
em horário nobre cujo slogan era: Pra quê pular a cerca se a porteira está aberta?<br />
A análise do campo a partir do conceito da agricultura familiar demonstra a forte influência de<br />
um paradigma que tem emergido nos últimos anos. Uma importante referência é o trabalho de<br />
Abramovay (1998) no qual o camponês é um produtor familiar voltado basicamente à subsistência, com<br />
pouca integração em mercados incompletos, portanto, a expressão do atraso.<br />
Já o agricultor familiar, apresenta, dentre outras características, uma espécie de produção<br />
familiar cuja integração ao mercado é plena, mediante uma organização empresarial e mediação estatal,<br />
utilização de pacotes tecnológicos modernos e detentor de uma capacidade de inovação.
RAMOS FILHO, E. S.<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
Mas, segundo Lopes (1999, p.14)<br />
a transformação do assentado em agricultor familiar, como propõe o governo não passa de mero sofisma. Do<br />
ponto de vista conceitual é uma tremenda tolice essa afirmação, pois o assentado já é um agricultor familiar,<br />
na medida em que essa noção está ligada à natureza do trabalho agrícola baseado na utilização, pelo<br />
agricultor, da força de trabalho dos membros da família. Ora, a quase totalidade dos assentados toca seus<br />
lotes com a ajuda da esposa e dos filhos em idade ativa, da mesma forma que o fazem os pequenos<br />
agricultores dispersos pelo interior do Brasil.<br />
Outro mecanismo de tentativa de despolitização da luta camponesa foi a criação da Reforma<br />
Agrária de Mercado. Foi iniciada a partir da implantação do Projeto-Piloto Cédula da Terra - PCT, nos<br />
estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Na verdade consistia em uma<br />
ampliação de uma ação local do Ceará (o Projeto São José – Reforma Agrária Solidária) e foi instituído<br />
pelo empréstimo n° 4.147BR, no valor de US$ 90.000.000 contraído pelo Brasil em 1998.<br />
Mesmo diante da contestação do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e pela Justiça no<br />
Campo, que entregou ao Painel de Inspeção do Banco Mundial documento constando questionamentos e<br />
denúncias, o governo conseguiu a época do término do projeto (2002) superar a meta programada e<br />
instalar mais de 14 mil famílias.<br />
Com a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, e, mediante a garantia de US$<br />
1.000.000.000,00 pelo Bird e contrapartida do governo brasileiro de mais US$ 1.000.000.000,00, foi<br />
criado o Programa Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra.<br />
Com a garantia de mais cerca de US$ 200.000.000,00, resultante de novo acordo com o Banco<br />
Mundial, o governo criou em 2001 outro programa: o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural –<br />
CFCP, cuja contrapartida está prevista em US$ 200.000.000,00, recursos originários do Fundo de Terras<br />
– Banco da Terra/Ministério do Desenvolvimento Agrário. O programa abrange os estados do Nordeste,<br />
do Sul, Sudeste, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.<br />
As condições de financiamento pouco diferem dos programas anteriores. O Crédito Fundiário foi<br />
criado com o objetivo de substituir o Banco da Terra, tendo em vista a forte oposição que este projeto<br />
recebeu de vários setores da sociedade.<br />
O Banco Mundial, tendo por pressupostos:<br />
1) a importância da propriedade familiar em termos de eficiência e eqüidade; 2) a necessidade de promover<br />
os mercados para facilitar a transferência de terras para usuários mais eficientes; 3) a necessidade de uma<br />
distribuição igualitária de bens e uma reforma agrária redistributiva. (DEININGER; BISWANGER, apud<br />
SAUER 2001, p. 01)<br />
Reconhece que a resolução da questão agrária e o acesso à terra são importantes passos para o<br />
desenvolvimento econômico e redução da pobreza: formula, portanto; o mercado de terras com o intuito<br />
de criar uma alternativa à reforma agrária tradicional (conceito adotado por alguns estudiosos para<br />
esvaziar o caráter punitivo da reforma agrária prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.629 de<br />
25/02/1993).<br />
Segundo esta agência financeira e o governo brasileiro, a reforma agrária de mercado: a) é capaz<br />
de substituir o confronto por uma atitude colaborativa dos grandes proprietários de terra com a reforma<br />
agrária; b) elimina a burocracia e disputas judiciais típicas dos processos desapropriatórios por interesse<br />
social, e agiliza a realização da reforma agrária; c) estimula o mercado de terras através da compra e<br />
venda; d) apresenta um menor custo que a via tradicional possibilitando ampliação da abrangência do<br />
programa.<br />
Já Navarro (1998, p.14) em estudo sobre o Projeto-piloto Cédula da Terra – PCT, afirma haver<br />
...a possibilidade de uma completa transparência [grifo meu] em toda a via processual do PCT, pois os<br />
beneficiários em tese, são os maiores interessados em reduzir preços, examinar cuidadosamente a<br />
potencialidade produtiva do imóvel a ser adquirido, etc”.<br />
Esta argumentação não se sustenta, uma vez que o mercado é um espaço do capital. E como tal,<br />
as relações não são totalmente transparentes ou equânimes. Estas se apresentam, sempre mais favoráveis<br />
137
138<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
para os fortes. Portanto, os beneficiários, camponeses pobres e com reduzido acesso à informação<br />
dificilmente dispõem das condições ótimas para negociar com os proprietários a terra.<br />
É evidente a concepção ideológica do Banco acerca da questão agrária brasileira e das soluções<br />
constitucionais previstas. A propositura de uma solução sem conflitos (ou seja, não coercitiva para os<br />
proprietários), desconsidera o caráter histórico da concentração fundiária no país e a legitimidade da<br />
organização dos movimentos sociais representativos das trabalhadoras e trabalhadores do campo<br />
brasileiro.<br />
A partir do momento em que a reforma agrária passa a ser regulada pela lei da oferta e da<br />
procura de terras, o Estado brasileiro dilui o seu estratégico poder de comandar o processo de<br />
democratização da propriedade fundiária. Transfere para os proprietários a autonomia de determinar a<br />
escala, o preço, o espaço e o tempo da reforma agrária. Enquanto isso, ao Estado cabe apenas o papel de<br />
financiar, conceder assistência técnica e avaliar os projetos criados.<br />
Nos três programas, há ainda a previsão legal de transferência de poderes do governo federal<br />
para a esfera local, mediante o estabelecimento de acordos com os governos estaduais, transferindo para<br />
estes a atribuição de implementação dos programas. Este conjunto de ações, explicitam a obviedade da<br />
estratégia de desfederalização das ações políticas de reforma agrária.<br />
Concordo com Sauer (2001), que a questão central da reforma agrária reside na perspectiva de<br />
ruptura com a lógica rentista e não produtiva da propriedade da terra, que tem sustentado o latifúndio em<br />
nosso país e penalizado o conjunto da população brasileira desde, pelo menos, a Lei de Terras de 1850.<br />
Martins (2000, p. 24-25) corrobora com este entendimento tendo em vista que, “justamente o<br />
pagamento da própria terra em dinheiro, mesmo a prazo, reafirma o caráter rentista do sistema<br />
econômico, base institucional do latifúndio improdutivo, e tem sido rima das principais bandeiras do<br />
latifúndio da América Latina.”<br />
Outra questão relevante diz respeito à defesa pelo Estado de que os camponeses “beneficiados”<br />
teriam garantido sua inserção no mercado. Primeiro, é importante observar que a trajetória histórica dos<br />
produtores familiares no Brasil, muitas das vezes, buscou conciliar produção de excedentes com relações<br />
de trabalho não-capitalistas. Contraditoriamente, as relações do mercado sempre os excluíram.<br />
A produção para o mercado não necessariamente resgata a cidadania, mas sim força o camponês<br />
às exigências do mercado. Contribui, para a desintegração da autonomia camponesa de determinar o<br />
ritmo de sua produção, obriga-o à lógica de produção em larga escala e de acordo com elevados padrões<br />
de qualidade definidos externamente. A fim de alcançar isto, o camponês torna-se refém dos pacotes<br />
tecnológicos como já ocorre com o processo de integração dos camponeses em diversas partes do Brasil,<br />
em particular no oeste catarinense, onde camponeses têm seu território monopolizado pela Sadia.<br />
Estudos recentes têm mostrado que as regras de financiamento da terra desencadeiam um nefasto<br />
processo de escravização do camponês à dívida, uma vez que além dos elevados juros há uma relação<br />
inversa de evolução entre a dívida contraída (crescente) e a produtividade da terra (decrescente).<br />
A fim de dissimular as diversas críticas formuladas pelos diferentes segmentos sociais, pautadas<br />
principalmente na concepção de que a reforma agrária de mercado iria substituir a “reforma agrária<br />
tradicional”, o governo liberou a compra apenas para as propriedades produtivas e com área de no<br />
máximo 15 módulos fiscais.<br />
Tal medida, ao mesmo tempo em que limita o financiamento para a compra de imóveis fora das<br />
exigências da Reforma Agrária gera, contraditoriamente, outros problemas como a tendência a um<br />
processo de minifundização, e evidencia a ineficiência do Crédito Fundiário quanto à capacidade de<br />
promover alterações na estrutura fundiária, mesmo que no plano local, considerando que o programa ao<br />
mobilizar associações para aquisição de terras com um pequeno número de componentes impossibilita a<br />
aquisição de grandes áreas.<br />
4. Considerações finais.<br />
Recentemente a sociedade brasileira elegeu, com cerca de 53 milhões, de um total de 83 milhões<br />
de votos, o primeiro presidente da República oriundo da classe trabalhadora. A eleição do Luis Inácio<br />
Lula da Silva expressou o anseio por transformações na condução político-ideológica vigentes no país.
RAMOS FILHO, E. S.<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
No campo, em março de 2004, somente após forte pressão popular, o governo Lula publicou seu<br />
Plano Nacional de Reforma Agrária – Paz, produção e qualidade de vida no meio rural (PNRA)<br />
que, contraditoriamente, prevê o assentamento até 2006, de 400 mil famílias via reforma agrária e 130 mil<br />
famílias via Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (CFCPR).<br />
Neste governo, este programa serve como uma espécie de guarda chuva para novas versões da<br />
Cédula da Terra e Banco da Terra. O primeiro foi substituído pelo Combate à Pobreza (CPR) e o segundo<br />
denomina-se hoje Consolidação da Agricultura Familiar (CAF). Um outro programa existe no contexto<br />
do CFCPR: o Nossa Primeira Terra, que atende jovens de 18 a 24 anos.<br />
A reforma agrária de mercado do Banco Mundial prossegue no governo Lula como componente<br />
das políticas agrárias do Estado brasileiro. A meta de famílias a serem assentadas no CFCPR representa<br />
32,5% do efetivo de famílias previstas paras assentamento via desapropriação. Representa, também, cerca<br />
de 25% do total de famílias previstas para assentamento no período.<br />
Faz-se necessário enfatizar que o governo Lula não só incorporou este modelo de<br />
desenvolvimento rural, como também o está ampliando. Se compararmos com o governo Cardoso, que de<br />
1995 a 2002, assentou cerca de 338.191 famílias através da desapropriação, e 39 mil famílias via os<br />
quatro programas da reforma agrária de mercado, constatamos que este montante representa apenas 12%<br />
das famílias assentadas via desapropriação.<br />
Além disso, o governo Lula já aprovou junto ao Banco Mundial novos empréstimos, a juros de<br />
mercado internacional, com a finalidade de viabilizar mais duas etapas do Crédito Fundiário no Brasil.<br />
...se efetivamente executadas, o programa seria concluído apenas em 2012 – portanto teria uma década de<br />
duração – e financiaria a compra de terras por 250 mil famílias. (PEREIRA, 2004, p. 209)<br />
Este contexto me obriga a resgatar a defesa do Santos (2002) do contrato social da modernidade.<br />
A incorporação deste mecanismo liberal de redistribuição de terras, evidencia a força de cooptação da<br />
política, do conhecimento científico, e até mesmo de parcelas da sociedade em uma dada nação pelo<br />
capital.<br />
Indubitavelmente, a adesão do governo Lula e de importantes movimentos sociais brasileiros<br />
como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e da Federação dos<br />
Agricultores da Agricultura Familiar – Brasil (FETRAF – Brasil) a este tipo de mecanismo, representa<br />
uma derrota aos intelectuais (BOURDIEU, 2001), aos movimentos sociais anti-globalização e contra as<br />
políticas do Banco Mundial.<br />
Neste governo, sob o discurso de que a reforma agrária é um mecanismo complementar de (uma<br />
suposta) distribuição de terras o Estado brasileiro assume a sua minimização ao aceitar e promover a<br />
desfederalização da reforma agrária. Contudo, esta opção reside na contramão da distribuição da riqueza.<br />
O consenso de que o mecanismo de reforma agrária de mercado é eficaz na distribuição de<br />
riqueza e pacificação do campo é facilmente contestado ao olharmos o quantitativo recorde de ocupações<br />
no ano de 2004.<br />
As ocupações de terras (organizadas pelo MST, MPA, Via Campesina e outros movimentos<br />
sociais) continuam como principal acesso à terra para campesinato brasileiro e denunciam a permanência<br />
do latifúndio improdutivo no Brasil.<br />
A centralidade da reforma agrária não deve residir no mercado porque o mercado é um território<br />
do capital. E neste território não há espaço para a reprodução do campesinato, apenas há espaço para a<br />
reprodução do capital.<br />
A luta por terras situa-se no bojo da luta de classes, é o principal mecanismo de acesso e<br />
permanência dos camponeses na terra, no Brasil contemporâneo. A figura de linguagem Crise do<br />
Contrato Social da Modernidade, no caso da reflexão aqui desenvolvida, materializa-se no impasse criado<br />
pela reforma agrária de mercado quando contribui para agravar a questão agrária, assim como sua<br />
permanência no atual governo, que contrariando suas ações se auto-intitula popular.<br />
Portanto, enquanto o campo estiver marcado pela desigualdade social e pelo latifúndio, e este se<br />
mantiver concentrando também o território econômico e político, é fundamental compreender o<br />
139
140<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
campesinato como uma classe social (THOMPSON, 2001) que tem resistido historicamente, sob<br />
diferentes formas (assentados, posseiros, rendeiros, etc) à sua destruição.<br />
Compreender o campo a partir da ótica do campesinato é vislumbrar o futuro como uma<br />
possibilidade de superação.<br />
5. Referências bibliográficas.<br />
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. 2 ed. São Paulo/Campinas:<br />
Hucitec/Editora da Unicamp, 1998.<br />
BOURDIEU, P. Por um conhecimento engajado. In: Contrafogos II: por um movimento social<br />
europeu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.<br />
FELICIANO, C. A. O movimento camponês rebelde no governo FHC. In: Anais..., 2003, São Paulo, O<br />
campo no século XXI: território de vida de luta e de construção da justiça social. São Paulo: USP,<br />
FFLCH, DGEO, Laboratório de Geografia Agrária, 2003, p. 1-15.<br />
FERNANDES, B.M.; LEAL, G.M. Contribuições teóricas para a pesquisa em geografia agrária.<br />
2002, Disponível em: Acesso em 04 de abr.<br />
2004.<br />
_______. Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo, Cortez, 2001.<br />
LOPES, E. S. A. Comentário sobre a “Nova Reforma Agrária” do governo FHC. Candeeiro, Aracaju,<br />
ano 2, v.3, p.12-17, outubro de 1999.<br />
MARQUES, M. I. M. A atualidade do conceito de Camponês. In: Anais..., 2002, João Pessoa, Por uma<br />
Geografia Nova na construção do Brasil. João Pessoa: AGB, 2002, p. 1-9.<br />
MARTINS. M. D. (org.). O Banco Mundial e a Terra: ofensiva e resisitência na América Latina, África<br />
e Ásia. São Paulo: Viramundo, 2004.<br />
MARTINS, J. de S. Reforma agrária: o impossível diálogo. São Paulo: Edusp, 2000a.<br />
_____Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político .<br />
5 ed. Petrópolis: Vozes, 1995.<br />
_____Expropriação e violência: a questão política no campo. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1991.<br />
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Banco da Terra. Disponível em:<<br />
http://www.bancodaterra.gov.br/bt1.htm#bt1> Acesso em: 29 mar. 2002.<br />
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. (2003 – 2006). Plano nacional de reforma<br />
agrária: paz, produção e qualidade de vida no meio rural. Brasília: Nov. 2003.<br />
NAVARRO, Z. O projeto-piloto “Cédula da Terra” – comentário sobre as condiçoes sociais e políticoinstitucionais<br />
de seu desenvolvimento recente. 1998, Disponível em: Acesso<br />
em: 04 de abr. 2004.<br />
OLIVEIRA, A. U. de. Barbárie e modernidade: o agronegócio e as transformações no campo. In:<br />
Agricultura brasileira: tendência, pespectivas e correlação de forças sociais. Brasília: Via Campesina,<br />
2004. (Caderno de formação).<br />
PAUGAM, S. O debate em torno de um conceito: pobreza, exclusão e desqualificação social. In: VÉRAS,<br />
M. B., SPOSATI, A. e KOWARICK, L. Por uma sociologia da exclusão social: o debate com Serge<br />
Paugam. São Paulo: EDUC, 1999, p. 115-133.<br />
PEREIRA, J. M. M. O modelo de reforma agrária de mercado do Banco Mundial em questão: o<br />
debate internacional e o caso brasileiro. Teoria, luta política e balanço de resultados. Rio de Janeiro,<br />
2004. 282. Dissertação. (Mestrado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Curso de Pós-<br />
Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.<br />
RAMOS FILHO, E. da S. “Pra não fazer do cidadão pacato um cidadão revoltado”: MST e novas<br />
territorialidades na Usina Santa Clara. Aracaju, 2002. 162 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) –<br />
Núcleo de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju.<br />
ROSSET, P. O bom, o mal e o feio: a política fundiária do Banco Mundial. In: MARTINS. M. D. (org.).<br />
O Banco Mundial e a Terra: ofensiva e resistência na América Latina, África e Ásia. São Paulo:<br />
Viramundo, 2004, p.16-24.
RAMOS FILHO, E. S.<br />
A crise do contrato social da modernidade: o caso da “Reforma Agrária” do Banco Mundial.<br />
SADER, E. Idéias e questões. In: Quando novos personagens entram em cena: experiências e lutas dos<br />
trabalhadores da grande São Paulo 1970-1980. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 25-60.<br />
SANTOS. B. de S. Reinventar a democracia. Lisboa: Gadiva, 1998, p. 5-69.<br />
SAUER, S. A proposta de “Reforma Agrária de Mercado” do Banco Mundial no Brasil. 2001,<br />
Disponível em: Acesso em: 04 de abr. 2004.<br />
SHANIN, T. A definição de camponês: conceituação e desconceituação – O velho e o novo em uma<br />
discussão marxista. Petrópolis: Estudos Cebrap. nº 26, p.43-80, 1980.<br />
THOMPSON, E. P. Algumas observações sobre classe e “falsa consciência”. In: NEGRO, A. L.; SILVA,<br />
S. (org.) E. P. Thompson: as peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Edunicamp, 2001,<br />
p. 269-281.<br />
141
O MST E A <strong>FORMAÇÃO</strong> DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE TRABALHADORA: IDEOLOGIA 127<br />
POLÍTICA OU REALIDADE CAMPONESA * ?<br />
Rosemeire Aparecida de ALMEIDA **<br />
Resumo: Este artigo analisa o desencontro existente entre a prática do MST e a teoria interpretativa desta<br />
prática. Dito de outra maneira, como a influência de intelectuais, como Moraes (1986), na interpretação<br />
da prática do MST produziu teorias que acabaram por negar os sujeitos da luta, ou seja, a condição de<br />
classe sui generis do campesinato. Na verdade, o estranhamento não é entre base e liderança, mas, sim, da<br />
prática com a teoria da prática que é produzida pelos intelectuais que, de diferentes maneiras, caminham<br />
com o MST. É essa teoria que tem dado características de Organização ao Movimento Social e tem feito<br />
do sonho camponês da terra de trabalho, a luta pela transformação do capitalismo.<br />
Palavras chave: MST; Classe Camponesa; Teoria-Prática.<br />
Resumen: Este artículo analisa el desencuentro existente entre la práctica del MST (Movimento Sem<br />
Terra) y la teoría interpretativa de esta práctica. Dicho de otra manera, como la influencia de<br />
intelectuales, como Moraes (1986), en la interpretación de la práctica del MST que acabaron por<br />
desdecir los sujetos de la lucha, o sea la condición de clase sui generis del campesinato. En realidad, el<br />
raro no es entre base y lideranza, sigo que de la práctica con la teoría de la práctica que es producida<br />
por los intelectuales que, de diferentes maneras caminan con el MST. Es esa teoría que ha dado<br />
características de organización al Movimientos sociales y ha hecho del sueño campesino de la tierra de<br />
trabajo, la lucha por la transformación del capitalismo.<br />
Palabras-llaves: MST; Clase Campesina; Teoría-Práctica.<br />
1. Introdução.<br />
[...] os intelectuais sonham amiúde com uma classe que seja como uma motocicleta cujo assento esteja vazio. Saltando<br />
sobre ele, assumem a direção, pois têm a verdadeira teoria. Esta é uma ilusão característica, é a “falsa consciência” da<br />
burguesia intelectual. Mas quando semelhantes conceitos dominam a inteira intelligentsia, podemos falar em “falsa<br />
consciência”? Ao contrário, tais conceitos terminam por ser muito cômodos para ela. (THOMPSON, 1998, p. 106)<br />
Neste artigo o interesse em discutir a “formação da consciência política” e seu processo<br />
subjacente, de “elevar o nível de consciência da massa”, ou melhor, o que vem a ser isso, advém da<br />
importância que essa reflexão tem nos escritos do MST e na forma como esta discussão intervém nos<br />
(des)caminhos dos sem terra de modo mais amplo.<br />
Acreditamos que a discussão que cerca o processo de formação da consciência dos sem terra<br />
do MST faz parte de uma prática de distinção mais apurada, mais elaborada, que faz do boné, da<br />
bandeira, das músicas e palavras de ordem o suporte visível. Na verdade, é uma classificação que se<br />
127 De acordo com Chauí (1994a), o discurso ideológico procura ocultar o real pela confusão entre o pensar, o dizer e o ser. Contudo, como<br />
mostra Löwy (2002), essa concepção marxista do termo em que ideologia tem uma conotação pejorativa não é a única existente “Para Lênin,<br />
existe uma ideologia burguesa e uma ideologia proletária. [...] Ideologia deixa de ter o sentido crítico, pejorativo, negativo, que tem em<br />
Marx, e passa a designar simplesmente qualquer doutrina sobre a realidade social que tenha vínculo com uma posição de classe” (p.12).<br />
Cumpre destacar que o uso do termo ideologia para o MST aproxima-se desta concepção leninista, logo, nos seus escritos, o emprego<br />
recorrente de expressões como: “concepção político-ideológica do Movimento” ou “ideologia do Movimento”. Entretanto, para nós, “A<br />
definição de ideologia [...] como uma forma de pensamento orientada para a reprodução da ordem estabelecida nos parece a mais apropriada<br />
porque ela conserva a dimensão crítica que o termo tinha em sua origem (Marx)”. (LÖWY, 1987, p. 11)<br />
* Artigo publicado em 2005 (n.12 v.1), e representa parte da Tese intitulada “Identidade, Distinção e Territorialização: o processo de<br />
(re)criação camponesa no Mato Grosso do Sul”, defendida junto ao Programa de Pós Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP de Presidente<br />
Prudente em 2003.<br />
** <strong>Professor</strong>a Adjunto do curso de Geografia - DCH/CPTL/UFMS. E-mail raalm@ceul.ufms.br . <strong>Doutor</strong>a pelo Programa de Pós-Graduação<br />
em Geografia de Presidente Prudente.
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
constrói na perspectiva de dar um sentido de classe para si aos sem terra. A questão, então, é<br />
discutirmos com qual pressuposto de classe a teoria do Movimento 128 trabalha.<br />
A análise da produção teórica do e para o MST 129 é, a nosso ver, reveladora do obstinado<br />
empenho de trazer os camponeses para uma ideologia política da classe trabalhadora com vistas à<br />
transformação da sociedade 130 . Por que falarmos em ideologia política? Porque, caso seja verdade,<br />
mesmo que de forma parcial essa afirmativa, todo o esforço da transição com vistas a classe para si é<br />
equivocado por ignorar a visão de mundo do campesinato, por imputar-lhe um ideário político de classe<br />
que não corresponde à sua realidade de classe.<br />
2. A prática do MST e a teoria interpretativa desta prática.<br />
Voltando no tempo a análise da produção teórica do MST, podemos dizer que a primeira fase é<br />
representada por Clodomir de Moraes, que elaborou um verdadeiro manual dessa ideologia missionária,<br />
em 1986, no qual enumerou os vícios do campesinato e sua defasagem em relação ao operariado. Embora<br />
o próprio Movimento considere parte de suas idéias superadas pelo radicalismo contido, principalmente<br />
na metodologia do chamado “Laboratório Experimental”, ainda encontramos comumente, nas explicações<br />
sobre o fracasso dos grupos coletivos nos assentamentos, a alusão aos vícios do campesinato como o<br />
responsável pelo insucesso, fato que podemos perceber na fala de Ferrari 131 .<br />
É difícil pra cabeça do camponês essa discussão que o Movimento puxa da questão do coletivo. Quando você<br />
pega essa questão do trabalho coletivo é pior que tudo, pior porque ele vem de uma história de<br />
individualismo, que ele faz tudo sozinho, ele domina a produção e toda a cadeia de produção lá no sítio dele.<br />
E tem uma outra coisa que é da própria sociedade, ela acaba meio que formando uma cultura, impondo sobre<br />
as pessoas que você não pode confiar em ninguém, você não pode acreditar em ninguém, é você e você.<br />
Então veja só, na cabeça do camponês que sai lá de uma origem individualista e essa coisa toda [de coletivo]<br />
ele não entende, ele não consegue fazer essa ligação da terra com o projeto. Pegar o dinheiro, por exemplo, e<br />
botar em comum para que alguém coordene e aplique. Olha só então, tem alguns bloqueios o camponês.<br />
Passada essa fase mais contundente de ojeriza e de negação do campesinato, nota-se um novo<br />
momento na produção teórica do MST, o de reconhecimento e “tolerância” com relação ao camponês.<br />
Contudo, este camponês aparece como fração de classe e, assim, fala-se em camponês, nunca em classe<br />
camponesa. Desse modo, o campesinato passa a ser entendido como fração da classe trabalhadora, o que<br />
na essência não muda muito o papel clássico dado a ele pelos intérpretes de Marx, o seu desaparecimento<br />
enquanto classe camponesa 132 .<br />
128<br />
Agora, ao tratar das contradições Movimento/organização, não estaremos nos referindo ao Movimento como um todo, mas aos<br />
desencontros da prática coma teoria da prática, ou seja, dos desencontros entre a base, a liderança e os assessores. No entanto, nem sempre é<br />
possível fazer a identificação do interlocutor porque muitos textos aparecem tendo como referência de autoria o MST. Por esta razão, em<br />
certos momentos de nossa análise, somos levados à atribuir ao Movimento como um todo a responsabilidade pela teoria.<br />
129<br />
Objetivando fazer a crítica ao pesquisador que em nome da imparcialidade não assume nenhum compromisso com o objeto de estudo e,<br />
por conseguinte, com os resultados da pesquisa, Fernandes (2001, p. 17), sugere o termo pesquisador-militante para identificar aqueles que,<br />
ao contrário dos primeiros, têm compromisso com a realidade estudada. Portanto, para o pesquisador-militante, “a ciência tem como<br />
significado a perspectiva da transformação das realidades estudadas, bem como da sociedade. Desse modo, há um intenso compromisso com<br />
as pessoas que são os sujeitos de seu objeto de pesquisa [...]”. Nessa perspectiva, os teóricos do MST, dentre eles Fernandes, seriam<br />
pesquisador-militantes.<br />
130<br />
Acreditamos que essa premissa, embora tenha sido mais acentuada no primeiro período, ainda é válida para o momento atual, na medida<br />
em que o Movimento, apesar de reconhecer a especificidade camponesa, continua a negar-lhe o status de classe camponesa, como veremos<br />
nas discussões que se seguem. Ainda neste sentido, vale destacar que uma das tarefas do SCA-MST é desenvolver uma consciência nacional<br />
a partir dos interesses da classe trabalhadora: “Precisamos desenvolver a consciência de nação e de pátria a partir dos interesses da classe<br />
trabalhadora” (MST, 1998a, p. 18).<br />
131<br />
Liderança estadual do MST/MS, presidente da COOPRESUL e assentado no grupo coletivo do projeto Sul Bonito, em Itaquiraí-MS,<br />
2000.<br />
132<br />
Caldart (2000), por exemplo, ao propor que a história da formação do Sem Terra produz uma pedagogia, um modo de produzir gente, um<br />
novo sujeito social que tem na dimensão cultural sua principal dinâmica, sua identidade, fala num novo sujeito social, uma forma nova de<br />
campesinato, um “novo estrato da classe trabalhadora”. O que fica evidenciado na análise de Caldart é que sua pertinente e engajada<br />
interpretação da identidade Sem Terra acaba não cumprindo o papel de expor esse novo sujeito social, sua real diferenciação – que é de ação,<br />
de experiência, de consciência, de utopia, limitando-o a uma nova fração da classe trabalhadora, retirando dele a sua contemporaneidade, a<br />
sua contradição de classe camponesa. No entanto, se discordamos em parte de sua análise, por outro lado, acreditamos, assim como a autora,<br />
que “os sem-terra não surgiram como sujeitos prontos [...] Sua gênese é anterior ao movimento e sua constituição é um processo que<br />
continua se desenvolvendo ainda hoje [...]. (p. 63).<br />
143
144<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Quando afirmamos que, nos anos de 1990, houve uma tolerância maior por parte do Movimento<br />
acerca do comportamento do campesinato, isso significa dizer que houve uma flexibilização quanto à<br />
forma de se chegar à sua “conscientização política”. Situação que fica exemplificada na “lição”<br />
apresentada por Bogo:<br />
[...] Pregar o coletivismo pelo simples fato de que é a propriedade social da terra que fará o avanço da<br />
consciência e do caráter da ideologia dos camponeses não é correto, se as condições para o desenvolvimento<br />
não estão criadas e se há resistências por parte dos camponeses à organização do trabalho coletivo. Buscamse,<br />
neste caso, passos intermediários que levem ao objetivo desejado por caminhos menos conflituosos, e que<br />
garantam a unidade interna da comunidade e organização. (BOGO, 1999, p. 138, grifo nosso)<br />
Bogo (1999) ao falar em “passos intermediários”, evidencia que a obstinada tarefa de fazer<br />
avançar a consciência do campesinato não foi abandonada, na verdade, o que ocorre é a opção por um<br />
caminho menos conflituoso 133 .<br />
O final dos anos 1990, como parte desta “tolerância” em relação ao campesinato, assiste a uma<br />
significativa mudança em relação ao entendimento da matriz produtiva do camponês 134 . Todavia, se<br />
parece haver uma aceitação da singularidade, no marco do comportamento econômico do campesinato,<br />
por outro lado, em termos do debate político e do papel de classe destes sujeitos, não se observa<br />
avanço 135 , uma vez que o campesinato é entendido como uma parte da classe trabalhadora. Situação que,<br />
no limite, produz uma interpretação frágil da realidade camponesa.<br />
Esse paradoxo não resolvido, o da negação da diferença de classe do campesinato e recente<br />
valorização do habitus 136 econômico do camponês, pode ser depreendido através da recente discussão das<br />
“comunidades de resistência 137 ”, quando a contradição do imbricamento Movimento-organização aparece<br />
na fala dos militantes, na medida que, ora eles denunciam a conhecida concepção dos vícios do<br />
campesinato e da necessidade de superá-los por meio da formação da consciência político-organizativa,<br />
ora destacam a retomada dos valores do homem do campo centrados na família, trabalho, terra,<br />
comunidade e religião. Neste sentido, o relato de Santos 138 é revelador:<br />
Nós estamos mudando hoje as nossas táticas de recuperação de alimentos, de matar boi, porque a gente<br />
percebeu que essa tática esta furada porque não nos trás o apoio da sociedade. A forma como a gente trabalha<br />
133 É, talvez, esta lógica da tolerância que explique a contradição presente nos escritos do Movimento quando, ao destacar o respeito pelas<br />
manifestações culturais do povo, em seguida, enfatiza a necessidade de superação “[...] deve-se compreender e respeitar as manifestações<br />
culturais que estão no dia-a-dia do povo, em seus hábitos, em seus costumes, em suas tradições. E através deles, apreender e depois superálos”<br />
(MST, 2001, p. 119, grifo nosso).<br />
134 Quando afirmamos que no final da década de 1990 houve uma (re)interpretação da prática produtiva do camponês no sentido da<br />
valorização da chamada economia familiar, expressa sobretudo na teoria das comunidades de resistência, temos como referência a postura<br />
expressa no início da década de 1990 que insistia no necessário desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, na opção pelo processo de<br />
modernização dos assentamentos, como evidencia Stédile (1990): “De vez em quando nós temos atritos com alguns agrônomos e com alguns<br />
setores da Igreja mais basistas, que ainda confundem desenvolvimento com capitalismo. [...] Nós optamos e defendemos por desenvolver ao<br />
máximo o processo de mecanização, de tecnologia e da agroindústria. Se pudermos comprar o último modelo de trator, nós compramos. [...]<br />
É a única maneira de se desenvolver enquanto assentamento e se colocar como uma contraposição ao modelo da burguesia. Mesmo o<br />
processo de produção integrada é possível. [...] A diferença é que o resultado do frango fica para nós [...]”. (p. 08)<br />
135 Segundo Stédile o termo camponês sempre foi elitizado, expressão que teve seu uso restrito ao espaço da academia, sem possuir, portanto,<br />
muito lastro entre os trabalhadores rurais. Desse modo, não faria sentido, por carecer de legitimação, usá-lo para representar o Movimento<br />
Sem Terra (STÉDILE; FERNANDES, 1999). Esta argumentação de Stédile deixa, no mínimo, dúvidas históricas, visto que, em 1950, as<br />
Ligas Camponesas tiveram ampla aceitação no campo nordestino. E, mais, embora o conceito de camponês tenha sido importado pelo<br />
partido comunista na década de 1950, o seu uso ainda hoje no Brasil se explica pelo efeito de unidade que carrega, ou seja, é o único capaz<br />
de dar visibilidade à classe, ao contrário de trabalhador que é genérico. Por outro lado, não podemos esquecer que falar em classe camponesa<br />
é apenas uma estenografia conceitual, porque é no trabalho empírico que demonstramos e definimos quem são os camponeses. Lembramos<br />
também que o mesmo vale para o proletário, ou seja, nossos trabalhadores urbanos dificilmente se identificam como proletariado, trata-se<br />
também de uma estenografia conceitual.<br />
136 O conceito de habitus segundo Pierre Bourdieu “O poder simbólico”, 2000.<br />
137 As comunidades de resistência são para Carvalho (2000) a possibilidade de recuperação da autonomia do pequeno produtor rural<br />
familiar (fração de classe social) por meio da produção de sua subsistência, bem como da reativação dos laços culturais baseadas nas<br />
relações comunitárias. Nas palavras do autor; “As comunidades de resistência poderão tornar-se um meio para a retomada da<br />
identidade cultural do pequeno produtor rural familiar, alicerce para qualquer ação de rompimento da tendência à anomia para a<br />
qual caminha essa fração de classe social. Os núcleos de base dos assentamentos de reforma agrária e daquelas comunidades sob a<br />
hegemonia do MPA poderão iniciar essa mobilização político – ideológica de resgate da identidade cultural da pequena propriedade<br />
rural familiar” (CARVALHO, 2000, p. 03, grifo nosso).<br />
138 Liderança do setor de educação do MST/MS. Assentada no projeto Andalúcia/Nioaque-MS. Nov/2000.
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
é difícil para o camponês, ele é um pouco acomodado. A gente percebe assim que temos uma dificuldade de<br />
fazer ele ter uma consciência organizativa, você consegue criar uma consciência crítica nele, de você mostrar<br />
o problema e ver, ele consegue ser crítico. Ele critica o governo e tudo mais, mas na hora de mostrar que tem<br />
que se organizar pra mudar a situação ai nós não consegue dar esse passo junto com eles. Na produção é a<br />
mesma coisa, a gente não pode ficar plantando só o algodão e criando umas vaquinhas, nós temos que ter<br />
linha de produção definida, nós temos que pensar grande, só assim a gente consegue avançar. Esta é uma das<br />
coisas que eu vejo assim que é onde as pessoas acabam se afastando, não enfrenta. Uma outra coisa que a<br />
gente esta levando minimamente seria a questão da saúde, da saúde preventiva, de voltar a usar as ervas<br />
medicinais, de voltar a ter prevenção. Então, essa é uma das coisas que a gente está trabalhando, a farmácia<br />
viva, as plantas medicinais e a prevenção, outra coisa é essa questão de produzir alimentos que possa garantir<br />
a sobrevivência no lote.<br />
É, portanto, neste cenário onde o camponês não tem lugar político, econômico, social e cultural<br />
assegurado pela sua singularidade de classe e condição que a discussão de uma “Revolução Cultural” é<br />
inserida pelo MST como alternativa de superação da crise do cooperativismo que, em “função de um<br />
desvio economicista, teria gerado aspirações pequeno burguesas de acumulação no seio da base<br />
assentada” (CARVALHO, 2000, p. 05).<br />
Portanto, a tarefa da “Revolução Cultural” é construir “um homem novo eivado de valores<br />
éticos, sociais que reafirmassem a solidariedade e a convivência social democrática”.<br />
A cooperação desenvolvida nos assentamentos de reforma agrária teve como propósito não apenas viabilizar<br />
economicamente a pequena produção rural familiar, mas, sobretudo, construir um homem novo eivado de<br />
valores éticos e sociais que reafirmassem a solidariedade e a convivência social democrática. Entretanto,<br />
talvez a partir de um desvio economicista, o cooperativismo (principal produto da cooperação) pode ter<br />
contribuído para gerar um produtor com aspirações pequeno burguesas de acumulações a partir de uma<br />
suposta inserção no mercado capitalista oligopolizado de produtos agropecuários. (CARVALHO, 2000, p.<br />
05, grifo nosso)<br />
Entrementes, embora considere outros aspectos das relações sociais que não apenas o<br />
econômico, a referida “Revolução Cultural” não supera na essência a fase anterior, a dos Laboratórios<br />
Experimentais, de Clodomir de Moraes, porque contém o germe do preconceito com referência ao modo<br />
de vida camponês, conforme se verifica na fala de Bogo (2001) quando invoca a ciência no campo como<br />
meio de libertar o camponês da ignorância: “Nós precisamos fazer o que está sendo feito aqui, discutir a<br />
Reforma Agrária e levar a ciência para o campo. Nós não podemos acreditar que a ignorância leve a gente<br />
à libertação”. Perdendo com isso a possibilidade de desvendar o habitus de classe do campesinato e,<br />
conseqüentemente, a potencialidade contida nele.<br />
Nós acreditamos que a reforma agrária é mais do que isso que está sendo feito porque nós precisamos fazer<br />
uma coisa que no movimento [MST] a gente discute muito, nós precisamos fazer uma revolução cultural e<br />
não só uma reforma agrária. Temos que fazer uma revolução na cultura, no jeito de se pensar as coisas, de<br />
fazer as coisas, de desenvolver as atividades. Nós precisamos fazer uma junção da força dos braços com a<br />
força da cabeça, o camponês não pode acreditar que ele só tem braços pra trabalhar porque ele recebeu uma<br />
cabeça que não é só pra levar chapéu e carregar os olhos pra ver onde tem cobra pra não pisar em cima. Nós<br />
precisamos acreditar que é possível colocar na nossa memória idéias que sejam resgate de velhas idéias e<br />
complemento com idéias novas. Nós precisamos fazer o que está sendo feito aqui, discutir a reforma agrária<br />
e levar a ciência para o campo. Nós não podemos acreditar que a ignorância leve a gente à libertação; então<br />
quando a gente pressiona o governo e diz que um médico tem que ser assentado junto com um sem-terra, que<br />
um advogado tem que ser assentado junto com um sem-terra, o agrônomo, o economista, administrador de<br />
empresas tem que ser assentado, o governo diz que não, que está fora dos critérios de assentamento. Ora ele<br />
quer que a gente faça uma reforma agrária de quê?. (BOGO 139 , 2001)<br />
Ainda neste sentido, a “Revolução Cultural” almejada pelo Movimento é compreendida como o<br />
primeiro passo para a construção de um “camponês de novo tipo”, aquele que é capaz de resistir aos<br />
aspectos alienantes da cultura camponesa, bem como aos aspectos ingênuos que prejudicam a formação<br />
da consciência política. Partindo do pressuposto de que ele possui um estilo de vida mais afeto ao<br />
isolamento, à relação intrínseca com a natureza, ele tenderia a desenvolver uma explicação mistificada da<br />
vida, daí oriunda a necessidade de uma ação política programada visando retirá-lo desse ostracismo. No<br />
139 BOGO, Ademar. Seminário realizado em Maringá/PR, em 18/07/01. (Transcrição ad literam retirada da gravação da palestra).<br />
145
146<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
texto intitulado “A formação ideológica dos camponeses”, Bogo é taxativo a respeito das dificuldades do<br />
camponês em função de sua “natureza complexa-ingênua”.<br />
[...] mas a cultura camponesa produzida através das relações, mais com a natureza do que com as pessoas,<br />
vem assumir características muito particulares que estão vinculadas ao mito, à superstição, à tradição, à<br />
contemplação e ao raciocínio associativo, caracterizando assim a formação do caráter do camponês através<br />
de aspectos espontâneos. Ao contrário do operário que estabelece relações de produção através da<br />
programação do trabalho. Desta forma é que se deve estabelecer uma relação no processo de formação<br />
política, que “transforme essa natureza” complexa-ingênua, em uma natureza “descomplexa”,<br />
“desmitificada”, a partir de novos referenciais e padrões de vida e de convivência. Isto somente será possível<br />
através de uma organização política e social que atue, conscientemente, sobre a realidade humana, social e<br />
natural. (BOGO, 1998, p. 05, grifo nosso)<br />
É por isso que freqüentemente a interpretação da conquista da propriedade da terra, por exemplo,<br />
apresenta-se como limitadora da consciência camponesa, como depreendemos nos escritos de Bogo.<br />
Sabemos que a propriedade privada da terra é um fator determinante que facilita e empurra os camponeses<br />
para o isolamento. Isto é prejudicial para a formação da consciência de classes. (BOGO, 1999, p. 137)<br />
Em outros momentos, o trabalho coletivo, a divisão de tarefas e a cooperação agrícola são<br />
apregoados como o caminho de superação do individualismo camponês e, por conseguinte, de<br />
elevação do nível de consciência. Assim, acredita-se que a participação nestas atividades coletivas...<br />
[...] contribuirá para que o individuo dê os primeiros passos na formação de uma nova consciência social a<br />
partir da prática de novos hábitos e valores e, posteriormente, através da organicidade e de sua própria<br />
participação, adquira a consciência política, fazendo com que se empenhe, agora não mais para transformar<br />
os aspectos da realidade que o cerca, mas de toda a realidade que concentra injustiças e opressões dos seres<br />
humanos. (BOGO, 1999, p. 137-138)<br />
Essas proposições acerca da tarefa de formar ou elevar a consciência do campesinato nos<br />
remete às seguintes indagações: quem são os camponeses? Quais são suas particularidades em termos<br />
de classe social? Teriam os camponeses e os operários o mesmo lugar e as mesmas possibilidades de<br />
consciência do processo de desenvolvimento do capital?<br />
Inicialmente, colocamos que nosso pressuposto explicativo do descompasso, ou melhor, do<br />
desencontro da teoria de organização social em relação à prática de movimento social do MST, se faz<br />
em virtude de uma confusão entre as possibilidades históricas da classe operária e da classe<br />
camponesa, ou melhor, uma tendência em incutir no campesinato, por meio da teoria da organização<br />
social, uma consciência política típica do operariado. Por que falarmos na construção de uma teoria de<br />
organização social? A resposta vem das próprias preocupações das lideranças do MST que, a partir de<br />
1986, passaram a defender a construção de princípios organizativos como forma de continuidade do<br />
movimento de massas. Deste modo, em 1995, os textos do MST, já com mais clareza, começam a<br />
discutir a estratégia de luta enquanto movimento social e organização social:<br />
Não podemos criar uma estrutura burocratizada que atrapalhe o movimento de massas. [...] Mas não<br />
podemos deixar tudo solto pois a falta de organização transformaria o MST em apenas um movimento<br />
agitador, mobilizador que atenderia apenas necessidades imediatas. [...] o futuro da reforma agrária e da luta<br />
pela terra, depende de construirmos uma organização duradoura [...]. (MST, 1995, p. 08)<br />
Como desdobramento dessa premissa, ou seja, da necessidade de ser uma organização com<br />
característica “popular, sindical e política” e, portanto, perene, nasceram, segundo Stédile; Fernandes<br />
(1999), os seguintes princípios organizativos: direção coletiva; divisão de tarefas; disciplina; estudo;<br />
formação de quadros; luta de massas; e, vinculação com a base. É interessante resgatar que essa<br />
polêmica sobre a questão de ser ou não um movimento social é um fato que comparece com freqüência<br />
nos escritos do MST, tanto que Stédile; Fernandes (1999, p. 44) não se furtaram de tratar a<br />
problemática na perspectiva de admitir que as referências que temos de movimento social são<br />
insuficientes para pensar o MST:
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
Acredito que quando o professor José de Souza Martins diz que nos transformamos num ‘partido’ camponês,<br />
embora discorde da expressão, acho que ele pode estar influenciado pelo fato de que, como movimento<br />
social, aplicamos esses princípios organizativos. Na minha opinião esses princípios não tem natureza<br />
partidária. Têm natureza de organização social. Talvez aí sim coubesse uma polêmica: até que ponto o MST<br />
deixou de ser apenas um movimento social de massas para ser também uma organização social e política. No<br />
fundo queremos ser mais que um movimento de massas. [...].<br />
Entretanto, entendemos que a questão não se resume na leitura que pode ser entendida como<br />
maquineísta do tipo movimento social versus organização social, mas nas conseqüências do<br />
desencontro da prática de movimento social que tem como cerne a luta pela terra e da teoria de<br />
organização social que tem como centro a luta pela transformação social 140 . Logo, esta questão é<br />
ambígua, porque ela não comparece de forma estanque, na verdade, há momentos de imbricamento<br />
dessas lógicas, o que impede leituras dicotômicas como a apresentada por Navarro (2002a, p. 195) que<br />
assim adverte quando faz análise do MST:<br />
O foco central deste capítulo dirige-se, quase exclusivamente, à organização e seu corpo diretivo, sua<br />
história, estratégias de ação e seu repertório de escolhas e decisões ao longo do período analisado, mas não<br />
aos sem-terra sob sua órbita, inclusive porque, como se argumentará, muitas vezes é significativa a distância<br />
entre a base social e a agenda discursiva e as formas de ação social escolhidas pela direção [...]. (Grifo nosso)<br />
Por conseguinte, a existência desta ambigüidade e os momentos de reconhecimento por parte<br />
do MST, ao contrário do que concebe Navarro (2002) ao discutir a problemática como se ela fosse<br />
totalmente estranha ao Movimento, é a responsável pela produção de tensões na própria base de<br />
sustentação do MST, como há tempos já se anunciava: “Ainda não conseguimos superar a contradição<br />
entre promover o desenvolvimento econômico dos nossos assentamentos e contribuir no avanço da<br />
luta do MST pela Reforma Agrária” (MST, 1993b, p. 50).<br />
A existência deste conflito no seio do Movimento fortalece a idéia de que o MST tem uma<br />
estrutura descentralizada 141 , concepção inversa, portanto, à de Navarro (2002a) que entende o MST<br />
como uma cúpula que dita e controla a massa.<br />
Por outro lado, isso não descarta a preocupação e a necessidade da crítica, principalmente<br />
porque, embora o Movimento afirme a constância do conflito: “Sempre haverá uma tensão<br />
(contradição) entre as duas faces do SCA 142 : fazer a luta política e ser uma empresa econômica”.<br />
(MST, 1998a, p. 12), tem havido uma certa predominância da face da empresa econômica, ou melhor,<br />
da sua teoria que, na essência, faz a negação política dos sujeitos da luta, ou seja, da sua utopia da terra<br />
prometida como morada da vida 143 .<br />
A lógica da empresa econômica, produto da teoria da organização social, não considera o<br />
projeto camponês centrado na família, no trabalho e na terra e na sua potencialidade anticapitalista,<br />
porque acredita que “Os assentamentos devem buscar uma cooperação que traga desenvolvimento<br />
econômico e social, desenvolvendo valores humanistas e socialistas. A cooperação que buscamos deve<br />
estar vinculada a um projeto estratégico, que vise a mudança da sociedade”(MST, 1998a, p. 22).<br />
Concepção inquietante, porque não é nova, é reiterada, daí a idéia de que ela tem<br />
predominado, visto que já foi apresentada em 1991, quando lideranças do MST escrevem que a<br />
cooperativa:<br />
Quando organizada entre pequenos agricultores, pequenos proprietários ou assentados, pode ser um fator,<br />
não só de desenvolvimento econômico e social da comunidade, mas para enfrentar e diminuir os níveis de<br />
exploração que o pequeno agricultor sofre no modo de produção capitalista, e assentar as condições para o<br />
140 Nesta direção, vale destacar a postura do SCA no tocante à sua missão político-ideológica: “Nós do MST/SCA entendemos que a<br />
cooperação agrícola, sem dúvidas vai contribuir para o desenvolvimento das forças produtivas na tarefa de acumularmos forças, tanto<br />
econômica como política, para a luta pela transformação da sociedade que, só assim vamos buscar resolver os problemas econômicos,<br />
políticos e sociais do conjunto da classe trabalhadora”. (MST, 1994, p.73)<br />
141 Neste sentido, destacamos a entrevista do prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira no jornal “O Estado de São Paulo”.<br />
http://www.estado.com.br/editoriais/2003/03/09/pol017.html<br />
142 Tendo em vista os últimos acontecimentos, como a decisão por parte do MST de retirar de pauta o Sistema Cooperativista dos Assentados<br />
(SCA) substituindo-o pelo Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente, podemos deduzir a proporção do conflito entre essas diferentes<br />
lógicas (luta pela terra e luta na terra) e, mais, a inversão do até então predomínio da lógica da empresa econômica (luta na terra).<br />
143 Paráfrase de B. Heredia “A morada da vida”, 1979.<br />
147
148<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
desenvolvimento de formas superiores de produção socialista, que advirão no modo de produção socialista,<br />
quando a classe trabalhadora tiver sob seu controle o Estado e as leis do país. (GÖRGEN; STEDILE (org.),<br />
1991, p. 147, grifo nosso)<br />
No entanto, insistimos que essa predominância da teoria da organização social à qual nos<br />
referimos não pode ser concebida como absoluta, algo que não produz seu contrário enquanto<br />
condição do que é ambíguo, já que, nos assentamentos, como se discute no capítulo seguinte, tem<br />
prevalecido a utopia do movimento social, da luta pela terra de trabalho, que muitas vezes se dá, não<br />
como negação do MST, mas como afirmação da força daqueles que são efetivamente o MST.<br />
Neste sentido, não podemos minimizar o impacto que essa situação traz para o futuro do<br />
MST, ou melhor, para a classe camponesa, porque ela anuncia uma discrepância em relação à prática e<br />
à teoria interpretativa de sua própria prática ou, nas palavras de Martins, “a prática que eles têm é mais<br />
rica do que o entendimento que eles têm da sua prática” (2000c, p. 22).<br />
É também no sentido de dar visibilidade a esta deformação da esquerda brasileira e, portanto,<br />
da assessoria que presta aos movimentos sociais que lutam por terra, que Martins (2000b, p. 159)<br />
escreve:<br />
Em nossa tradição de esquerda, que é muito frágil, difundiu-se a suposição equivocada, e nem um pouco<br />
marxista, de que só o operário faz a História e de que a fábrica é o cenário privilegiado da ação operária e da<br />
revolução. A consciência verdadeira seria, assim, a consciência operária. Isso é relativamente verdadeiro só<br />
em termos filosóficos. [...] Mas o próprio Marx já havia demonstrado, cientificamente, que há uma enorme<br />
distância entre o sujeito filosófico e o sujeito da revolução. Por quê? Porque entre um e outro se interpõem as<br />
mediações [...].<br />
Atualmente são muitos os Movimentos e centrais sindicais envolvidas na luta pela terra no<br />
Brasil, no entanto, é mister ressaltar que principalmente no acampamento as distinções são marcantes,<br />
isto é, de acordo com o Movimento ou Sindicato o acampamento terá conteúdo e significado diferente,<br />
embora a forma seja a mesma. O relato que transcrevemos a seguir, da liderança do MST, aponta para<br />
o significado do acampamento para o Movimento/organização:<br />
O acampamento não deve ficar parado, é igual água quando fica parada, muito parada, você sabe o que é que<br />
vira, né? Então não pode ficar muito tempo sem ser assentado, mas também tem que ter um período, uma<br />
espécie de laboratório onde pudesse trabalhar o processo organizativo, da conscientização, da valorização do<br />
ser humano, dos objetivos, das estratégias do MST que é conquistar a Reforma Agrária, a transformação<br />
social. (BATISTA 144 )<br />
O resultado desta diferenciação de conteúdo é o fato de que não há acampamentos mistos, ou<br />
seja, não foi encontrado, nem relatado, nenhuma experiência de acampamento que mantenha, no plano<br />
interno, sem-terra ligados a mais de um movimento ou organização, há evidentemente um controle<br />
territorial, uma relação de poder diretamente relacionada com o território e que tem na distinção, na<br />
hierarquia, seu marco. Esclarecedor desta realidade é o depoimento do Sr. Paula 145 .<br />
O MST não tem restrição a nenhuma organização, ele quer conversar com todas, estamos abertos a qualquer<br />
debate no sentido de avançar. Mas no acampamento não há possibilidade de ter mais de uma organização,<br />
quando isso acontece vem o racha, cada grupo vai para um lado, não é possível mais de uma liderança.<br />
Portanto, o acampamento expressa o lugar do poder e da luta pelo poder. Poder no sentido de<br />
legitimidade, de crença naqueles que o representam, situação que é produzida no campo, leia-se, no<br />
acampamento a partir de condições sociais específicas. Logo, a separação dos acampamentos é parte<br />
destas condições sociais de garantia do poder simbólico e de reafirmação da distinção, funcionando<br />
como proteção contra todo tipo de abalo do poder, ou melhor, da confiança que as interferências<br />
podem suscitar.<br />
O acampamento do MST vale-se de uma tendência histórica de parte do campesinato, qual<br />
seja, viver na liminaridade e, por isso, nos momentos transitórios, criar communitas como forma de<br />
144 Liderança – Direção estadual do MST – Dez/2001.<br />
145 Militante – MST/Assentado no projeto São Luis - Dez/2001.
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
luta e resistência, para engendrar um processo de “formação da consciência política” que tem, no<br />
trabalho coletivo, na divisão de tarefas, na formação das cooperativas o cenário por excelência.<br />
Contudo, por ser ideológico, ou seja, fruto de uma distinção imposta, embora fomentada muitas vezes<br />
desde os tempos do acampamento, não tem conseguido romper os limites da condição camponesa: o<br />
confronto da terra de trabalho (propriedade camponesa) versus a terra de negócio (propriedade<br />
capitalista).<br />
Deste modo, no sentido de buscar a “formação da consciência”, a ocupação de terra tem para<br />
as lideranças do MST um conteúdo pedagógico que faz dela a principal forma de luta, aquela que<br />
prepara o sujeito para mudanças mais profundas: “as formas superiores de produção”. Para Caldart<br />
(2000), o processo educativo da ocupação tem três dimensões: a primeira é formar o sujeito para a<br />
contestação social; a segunda dimensão relaciona-se à formação da consciência de classe a partir do<br />
enfrentamento com o latifúndio; e, por fim, o reencontro com a vida, o desejo de enraizamento.<br />
A ocupação pode ser considerada a essência do MST porque é com ela que se inicia a organização das<br />
pessoas para participar da luta pela terra (STÉDILE, 1997). Nela está contida o que talvez se possa chamar<br />
de matriz organizativa do MST e, por isto, se constitui também como uma matriz educativa das mais<br />
importantes. Começa pela construção do conceito de ocupar em oposição ao de invadir. (CALDART, 2000,<br />
p. 209, grifo da autora)<br />
Quando anteriormente afirmamos que a ocupação e o acampamento são para o MST<br />
momentos indissociáveis para a “formação da consciência”, estamos nos referindo à dimensão<br />
pedagógica da luta pela terra, isto é, ao objetivo de construir um novo homem eivado de valores<br />
humanitários e fortalecido na utopia da terra coletiva, anticapitalista, socialista.<br />
Por conseguinte, na análise de Caldart (2000) acerca do acampamento, há um destaque<br />
importante para a solidariedade como cimento na construção de uma ética comunitária rumo a uma<br />
ética coletiva. Todavia, esse tipo de pressuposto revela uma concepção evolutiva da luta, ou seja, o<br />
acampamento seria um estágio, daí o caráter transitório, onde as pessoas devem evoluir para formas<br />
mais plenas de participação e atuação política.<br />
Para a autora, ao contrário do que muitos afirmam, não é necessariamente a pobreza, a falta de<br />
opção que faz o sujeito participar do MST e fazer ocupações e acampamentos, mas, a escolha moral.<br />
Para tanto, propõe a seguinte reflexão:<br />
[...] embora continue sendo verdade que o ser social determina a consciência (Marx), o processo histórico<br />
real nunca prescindiu de escolhas morais, afinal de contas as únicas capazes de formatar, em cada tempo e<br />
em cada espaço social, a própria luta de classes [...]. Participar do MST foi e continua sendo para cada<br />
trabalhador e trabalhadora sem-terra uma escolha, condicionada por uma circunstância social, esta sim, não<br />
escolhida. (CALDART, 2000, p. 40, grifo da autora)<br />
Esta reflexão exposta por Caldart (2000) é uma tentativa de buscar uma ponte entre os<br />
determinismos sociais e as escolhas do indivíduo, suas vontades, utopias e profecias. Segundo a autora,<br />
para que essas “escolhas” se tornem conscientes, perpétuas, é preciso um trabalho de formação das<br />
pessoas, tarefa do MST, no sentido de “ajudá-las a perceber conscientemente, a que pressionam as<br />
novas circunstâncias que criaram através da sua participação na luta, e na sua identificação como Sem<br />
Terra” (p. 40), cuja reflexão reforça o caráter educativo-evolutivo do acampamento como lugar de<br />
formação de pessoas conscientes.<br />
Essa dimensão pedagógica é por Caldart (2000, p.116-119) resumida em cinco grandes<br />
aprendizagens, a saber:<br />
- passagem de uma ética do indivíduo a uma ética comunitária que poderá se desdobrar em<br />
uma ética do coletivo.<br />
- valorização como pessoa através da vivência em uma organização coletiva aprendendo a ser<br />
cidadão por meio da participação.<br />
- construção de novas relações interpessoais que representam uma revolução cultural.<br />
- Compreensão de que faz parte da história e, portanto, é também protagonista do fazer<br />
história.<br />
149
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
- Aprendizado da vida em movimento, do processo, em contraposição à lógica da<br />
estabilidade.<br />
Para a autora, o processo de socialização do Sem Terra ou de re-socialização tem no<br />
acampamento o seu espaço privilegiado de existência.<br />
[...] o acampamento traz para nossa reflexão o sentido pedagógico do cotidiano da organização e da vida em<br />
comum das famílias sem-terra debaixo de lonas em situação de extrema precariedade material e, ao mesmo<br />
tempo, de muita riqueza humana, seja antes ou depois de um a ocupação de terra. Um sentido que nos remete<br />
ao processo através do qual um conjunto de famílias que mal se conhece, e que, na maioria das vezes, porta<br />
costumes e heranças culturais tão diversas entre si, acaba por reconhecer-se em uma história de vida comum,<br />
e em sentimentos compartilhados de medo, de dor, de fome, de frio, mas também de convívios fraternos e de<br />
pequenas alegrias nascidas da esperança de uma vida melhor, que aos poucos lhe identifica como grupo: o<br />
acampamento como espaço social de formação identitária de uma identidade em luta (SCHMITT, 1992, p.<br />
32), e que se descobre com uma nova perspectiva de futuro. (CALDART, 2000, p. 114, grifo da autora)<br />
Assim, entendemos que a busca pela formação da identidade Sem Terra se faz através da<br />
distinção, leia-se classificação. Há por parte do Movimento uma preocupação em formar uma<br />
comunidade coesa, leia-se com consciência de classe, onde a identidade revele seu par contrário, a<br />
distinção. Sendo assim, a ocupação e o acampamento são o campo privilegiado desta transição.<br />
Conseqüentemente, ser Sem Terra do MST contém um significado social que se insere na lógica da<br />
distinção, distinção de classe para si. A questão, portanto, passa a ser: qual classe, camponesa ou<br />
trabalhadora-operária?<br />
É, portanto, inseridos nessa lógica indagativa, que ousamos querer entender o que subjaz na<br />
seguinte e recorrente afirmativa do MST: “Transformar a ideologia do camponês: substituir o ‘meu’<br />
pelo ‘nosso’ e mudar o jeito artesão de trabalhar e enxergar o mundo” (MST, 1998a, p. 13). A resposta<br />
nos leva à compreensão de que esta ideologia missionária tem suas raízes no preconceito em relação ao<br />
campesinato e, mais, na crença de que seu destino é a descamponisação. Daí a necessidade de<br />
transformar sua consciência artesanal numa “consciência organizativa de proletariado rural” como se<br />
pode depreender nessa análise do comportamento do campesinato feita pela CONCRAB –<br />
Confederação Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil. Ainda que a citação seja um<br />
pouco longa, se justifica por trazer elementos significativos dos desencontros da teoria com a prática<br />
do MST.<br />
[...] o camponês, no caso, está acostumado a trabalhar sozinho [...]. Porém essa ideologia artesanal pode ser<br />
substituída aos poucos pela ideologia obreira, característica de um processo produtivo socialmente dividido<br />
[...]. Como até hoje temos poucos mecanismos para resolver estes problemas, temos que trabalhar muito a<br />
consciência, e sabemos que vamos ter extrema dificuldade em construir cooperativas com ideologia artesã de<br />
camponês. Temos que ir transformando a consciência dos associados numa consciência organizativa de<br />
proletário rural e isto só vai se dar num processo permanente que temos de ir implementando [...]. Mas o pior<br />
é que mantendo esta consciência de artesão, ajuda manter uma relação de patrão e empregado na cooperativa.<br />
Nossos companheiros guardam resquícios de amor à propriedade privada e ainda não se sentem donos da<br />
cooperativa [...]. [...] Portanto é preciso que as direções das CPAs e do MST, tenham mais claro estas<br />
questões e temos que trabalhar a consciência de nossos companheiros [...]”. (MST, 1994, p. 48-49)<br />
Retomando a análise de Caldart, afirmamos que a mesma corrobora no sentido de<br />
entendermos que há uma diversidade na forma-conteúdo acampamento, questionadora da idéia de<br />
modelo, uma vez que essa diferença deve-se, no caso do MST, à revelação de habitus específicos do<br />
campesinato e à manifestação de um projeto político-ideológico das lideranças de transformação<br />
social. Isto significa dizer que o acampamento cumpre papel diferenciado de acordo com a bandeira de<br />
luta responsável pela sua organização, porque a trajetória de formação do MST e conseqüentemente o<br />
papel que as ocupações-acampamentos têm na sua história de luta pela terra e no ideário de<br />
“transformação da sociedade” são os maiores indicadores do conteúdo diferenciador, bem como de sua<br />
história de oposição à estrutura. No sentido de darmos os contornos deste projeto político-ideológico<br />
das lideranças, transcrevemos o relato que se segue:<br />
Então lutar por terra é uma coisa, lutar pela Reforma Agrária é outro sentido, eu estou querendo dizer que<br />
muita gente, que inclusive foi assentada por outras organizações, só luta pela terra, chegou na terra acabou a<br />
150
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
luta. Então eu acho que o que difere nós [MST] em relação a outras organizações, além do método de<br />
trabalho, de organização, de princípio, são os objetivos, é a estratégia, a onde a gente quer chegar. O<br />
Movimento Sem Terra é aquele movimento que difere porque luta pela terra, que é um dos pontos centrais,<br />
mas luta também pela reforma agrária, luta pela transformação da sociedade é onde o pessoal fala: ‘como é<br />
que o Movimento Sem Terra está contribuindo nas lutas lá com o pessoal do MAB, junto com outras<br />
organizações, ajudando o pessoal dos correios, os professores a fazer determinada manifestação’, é por causa<br />
do nosso caráter de organização de massa, temos caráter político porque o nosso objetivo é a transformação<br />
da sociedade, é isso que difere nós de outra organização porque lutar por terra é uma coisa, é só juntar um<br />
grupo aí e fazer a luta, agora você continuar esse processo organizando o povo, criando consciência, é outro.<br />
(BATISTA 146 )<br />
No caso dos Sindicatos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso do Sul –<br />
FETAGRI/MS, por exemplo, o acampamento tem sido utilizado como mecanismo de cadastro e pressão,<br />
sem a necessária presença/convívio das famílias na área do suposto conflito e, nesta prática, não há<br />
liminaridade. Desse modo, não se trata de questionamento da ordem, de oposição à estrutura, apenas de<br />
inclusão.<br />
Outro exemplo são os sindicatos do Departamento dos Trabalhadores Rurais de Mato Grosso do<br />
Sul da Central Única dos Trabalhadores – DETR-MS/CUT, embora procurem criar um espaço de<br />
socialização política por meio do trabalho de mobilização com vistas à ocupação de terras e formação de<br />
acampamentos, eles têm ficado presos ao ideário da modernização da produção e aos limites territoriais<br />
do sindicato, o que tem gerado ações menores e localizadas, marcadas pelo isolamento. Não conseguindo<br />
assim propor à classe camponesa nada além da conquista da terra e algumas tentativas de trabalho<br />
coletivo nos assentamentos, com o ideário da agricultura familiar e todo o corolário do preconceito em<br />
relação ao campesinato já tão bem conhecido 147 . Por conseguinte, a maior bandeira de luta tem sido a<br />
disputa, nos marcos da institucionalidade, pelo controle dos STRs, bem como a tentativa de criação da<br />
Federação da Agricultura Familiar no Mato Grosso do Sul, com franca oposição à FETAGRI/MS.<br />
Para Stédile; Fernandes (1999), a ocupação de terras é a essência do MST, pois ela permite criar<br />
a unidade em torno da luta, o que também se aplica ao acampamento 148 : “Passar pelo calvário de um<br />
acampamento cria um sentimento de comunidade, de aliança. Por isso é que não dá certo ocupação só<br />
com homem” (p. 115).<br />
Percebe-se que, na fala de Stédile, não há separação entre ocupação e acampamento, uma vez<br />
que são formas imbricadas as quais se completam e têm na família o centro aglutinador, ou melhor, o laço<br />
social genérico de solidariedade que permite o trabalho organizativo.<br />
É também por causa desta força aglutinadora das ocupações, bem como do seu caráter de<br />
enfrentamento ao status quo, que o governo vem tomando medidas coercivas, como a Medida Provisória<br />
2109-52 149 , que visa criminalizar os sem-terra, ao mesmo tempo em que incentiva as organizações que<br />
146 Liderança – Direção Estadual do MST – Dez/2001.<br />
147 Parte significativa das lideranças entrevistadas da DTR-MS/CUT apresentaram uma história de vida que tem nas CEBs o espaço<br />
privilegiado de socialização. Como parte destas reflexões, destacamos que o principal assentamento da CUT no Estado “Terra Solidária”<br />
(nome sugestivo do ideário religioso) reflete um esforço conjunto desta entidade, juntamente com a COAAMS, na implantação do projeto da<br />
terra coletiva. Com efeito, o principal articulador da COAAMS (ex-agente da CTP no Estado), ao discorrer sobre o projeto ‘Terra Solidária”<br />
e o futuro da agricultura, afirma: “Hoje a pequena propriedade está sujeita à extinção porque o processo de globalização da agricultura faz<br />
com que os produtos da cesta básica sejam desvalorizados. [...] Hoje há a necessidade de que esse produto produzido no assentamento seja<br />
industrializado na própria propriedade para que seja agregado valor para que aquilo que no capitalismo fica na indústria possa ficar com o<br />
agricultor. Se os agricultores ainda persistirem naquela agricultura que chamaríamos de primária, que é a produção de alimentos, a<br />
agricultura familiar não vai, a pequena propriedade vai ser extinta, as famílias não conseguem sobreviver”. (RODRIGUÊS, Fev/2001)<br />
148 Eliane S. Rapchan no artigo “De nomes e categorias: seguindo as trilhas da identidade entre os sem-terra”. Campinas: Cidadania.<br />
GEMDEC, nº 02, julho de 1994, define o acampamento como uma condição emergencial que objetiva a negociação com o Estado e a<br />
mobilização da opinião pública e acrescenta que “o acampamento significa também o ápice da unidade do grupo, que é ritualizada e<br />
reafirmada através das celebrações e festas religiosas, vigílias, caminhadas e manifestações públicas” (p. 73).<br />
149 Em 24 de maio de 2001, o Governo Federal editou a medida provisória 2109-52 que beneficia o imóvel rural objeto de ocupação com a<br />
não desapropriação por dois anos, bem como exclui do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal às pessoas que forem identificadas<br />
participando de ocupação.<br />
151
152<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
optam pela negociação via Reforma Agrária de mercado (Banco da Terra) e o cadastro pelos correios 150 ,<br />
como é o caso da FETAGRI 151 .<br />
Na luta pela terra, a construção do espaço de socialização política é, para Fernandes (2001), um<br />
processo de formação política que permite às pessoas a “construção da consciência de seus direitos, em<br />
busca da superação da condição de expropriadas e exploradas” (p. 56) que, por sua vez, insere-se “numa<br />
perspectiva de transformação da sociedade” (p. 46).<br />
Ainda para Fernandes (1994), a construção e a conquista deste espaço de socialização política é<br />
parte fundamental no processo de formação do MST e se inicia numa fase anterior à ocupação e ao<br />
acampamento. Para o autor, este espaço de socialização política possui uma multidimensionalidade em<br />
constante interação: o espaço comunicativo; o espaço interativo, e o espaço de luta e resistência.<br />
O espaço comunicativo é a primeira dimensão do espaço de socialização política, seu conteúdo é<br />
definido, segundo Fernandes (1996), pelas ações políticas dos sujeitos. A comunicação é entendida como<br />
uma “atividade da organização social que se realiza como experiência de tempo/espaço”, que pode ser,<br />
portanto, o da igreja, o do sindicato, etc., em que é elaborada uma forma de linguagem, isto é, matrizes<br />
discursivas que espelham as idéias construídas no processo de luta.<br />
Como desdobramento deste primeiro momento, é construída a segunda dimensão: o espaço<br />
interativo. Este espaço constitui um estágio mais avançado da luta, pois possui um determinado conteúdo,<br />
oriundo das experiências acumuladas. Por sua vez, “é fundamental entender que o espaço interativo não é<br />
o espaço consenso, é um espaço político e, portanto de enfrentamento das lutas e das idéias”<br />
(FERNANDES, 1996, p. 174).<br />
A terceira dimensão do espaço de socialização política, o espaço da luta e resistência, “é a<br />
manifestação pública dos sujeitos e de seus objetivos” (FERNANDES, 1996, p. 177).<br />
Para Fernandes, é nesta terceira dimensão que ocorre a territorialização da luta e a demonstração<br />
da forma de organização do Movimento: “O acampamento é na sua concretude o espaço de luta e<br />
resistência, é quando os trabalhadores partem para o enfrentamento direto com o Estado e com os<br />
latifundiários” (FERNANDES, 1996, p. 178).<br />
Ainda segundo Fernandes (1998, p. 43-44), é a ocupação e o acampamento, espaço de luta e<br />
resistência, que permitem a territorialização do MST.<br />
A ocupação é a condição da territorialização. [...] Este processo dimensionado cria uma série de<br />
necessidades. Durante o período de acampamento surgem novas necessidades, como por exemplo: cuidar da<br />
educação das crianças, que por estarem em uma situação de transição, não tem escola [...]. Como agora essa<br />
população faz parte de uma forma de organização social, construindo uma práxis, surge também o interesse<br />
pelo seu próprio desenvolvimento social.<br />
Embora possamos dizer que tanto nos estudos de Fernandes (1998; 2001) como de Caldart<br />
(2000) há uma preocupação com os espaços pedagógicos de formação da consciência e identidade<br />
sem-terra, existem diferenças, digamos, temporais e geográficas em suas interpretações. Enquanto<br />
Caldart privilegia o tempo da ocupação e do acampamento como primordiais na formação destes<br />
novos sujeitos, para Fernandes esse processo inicia-se anteriormente, no próprio trabalho de base que<br />
antecede as ocupações e acampamentos, sendo, por sua vez, parte da dimensionalidade do espaço de<br />
socialização política 152 .<br />
Contudo, o ponto central na análise desses pensadores da prática do MST, é a posição<br />
homóloga em relação à existência de um espaço e de um processo em andamento de formação da<br />
150<br />
Até o dia 31/10/2001, segundo dados do INCRA/MS, 31,7 mil famílias já tinham se inscrito, pelo correio, para a Reforma Agrária; destas,<br />
apenas 229 famílias foram assentadas.<br />
151<br />
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso do Sul-FETAGRI/MS é a única organização representativa dos<br />
trabalhadores rurais que faz parte do conselho curador do Banco da Terra no Estado do Mato Grosso do Sul. O programa Banco da Terra, em<br />
agosto de 2000, já contava com 12 mil famílias aguardando financiamento (JORNAL CORREIO DO ESTADO, 12/08/2000).<br />
152<br />
Em 1999, Stédile faz referência à mudança que estava em curso na “metodologia” de trabalho do MST em algumas regiões. Desse modo,<br />
ao lado do tradicional trabalho prévio de organização de base típico dos primórdios do MST, com reuniões envolvendo pequenos grupos de<br />
famílias, nascia uma outra forma de trabalho, a organização de massa que, por meio da discussão em amplas assembléias, tinha por objetivo<br />
atingir um número maior de famílias. Essa mudança desloca para a ocupação/acampamento o trabalho de base propriamente dito. Parece ser,<br />
portanto, neste primeiro contexto, do trabalho de base anterior as ocupações, em que Fernandes (1998) discute o espaço de socialização<br />
política com suas três dimensões.
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
consciência de classe do campesinato. Por sua vez, o grande entrave parece surgir quando os autores<br />
dão os contornos dessa classe: ela é fração da classe trabalhadora, como se pode depreender de suas<br />
falas:<br />
Minha hipótese é a de que, dadas as condições históricas de nosso tempo, e o modo como estão vivenciando<br />
e conduzindo sua luta e organização, os sem-terra do MST representam hoje este novo sujeito social, ou este<br />
novo estrato da classe trabalhadora [...]. (CALDART, 2000, p. 30)<br />
Ter terra é o primeiro passo. Dessa condição nascem outras necessidades [...] E, evidentemente, essas lutas<br />
estão representadas em uma luta mais ampla pelo poder, que não é só dos sem-terra, mas de toda a classe<br />
trabalhadora. (FERNANDES, 2001, p. 39)<br />
O propósito aqui, portanto, não é questionar a existência deste espaço pedagógico, mas, o ideário<br />
interpretativo dessas experiências, ou melhor, os seus significados para o futuro histórico do campesinato<br />
como, por exemplo, o fato de este ser considerado uma fração da classe trabalhadora, tendo com isso sua<br />
singularidade, inclusive de consciência, diluída na categoria genérica de trabalhador.<br />
Ainda a respeito deste questionamento, vale também destacar o pensamento de outro importante<br />
teórico do Movimento: Horácio M. Carvalho. O referido pensador, se por um lado não faz referências ao<br />
sem terra como classe trabalhadora, por outro, corrobora na assertiva de que os sem terra são uma fração<br />
de classe quando afirma “Sou levado a supor que os pequenos produtores rurais familiares (neles<br />
compreendidos os assentados) estão vivenciando a mais grave crise estrutural da sua história como fração<br />
de classe social” (2000, p. 03). Neste mesmo texto, o autor esclarece a classe à qual os “pequenos<br />
produtores rurais familiares” pertencem: são “fração da classe burguesia rural”. Concepção cara ao autor,<br />
porque gera em seus escritos um paradoxo, visto que, ao mesmo tempo em que reconhece a contribuição<br />
camponesa na luta pela terra, atribui a ela um destino pequeno burguês muito próximo da vertente<br />
leninista.<br />
Esses setores político-ideologicamente atrasados das classes populares no campo, em particular aqueles que<br />
pertencem à fração pequenos produtores rurais familiares, tem como base de indução dos seus<br />
comportamentos sociais conservadores, por vezes reacionários, não apenas a cooptação política que lhes<br />
remete para a situação de estar sempre ao lado dos governos não importando o seu caráter de classe, mas<br />
determinações econômicas que de certa forma facilitam essa adesão à direita. Essas determinações<br />
econômicas são de duas ordens: a primeira poderia ser denominada de tendência histórica dominante do<br />
pequeno produtor rural familiar de transformar-se num pequeno burguês a partir dos processos gradativos<br />
(quando ocorrem) de acumulação; a segunda, a dependência das políticas públicas compensatórias, logo, dos<br />
governos. (CARVALHO, 2000, p. 02, grifo nosso)<br />
Segundo Carvalho (2002, p. 07), a solução para a tendência conservadora desta “fração de<br />
classe”, bem como para a crise econômica em que o capitalismo a lançou na atualidade, é o<br />
desenvolvimento da consciência crítica na busca de caminhos para superar as causas estruturais da<br />
opressão capitalista.<br />
[...] seria necessário que os pequenos produtores rurais readquirissem novas esperanças e vislumbrassem uma<br />
nova utopia. Seria fundamental, então, que a reafirmação da identidade social camponesa fosse revivificada<br />
não pela volta à comunidade camponesa utópica pré-capitalista, mas segundo outros referenciais sociais<br />
capazes de constituírem uma ou várias identidades comunitárias de resistência ativa à exclusão social e de<br />
superação do modelo econômico e social vigente. Seria necessário que os novos referenciais sociais desse<br />
campesinato renovado, e inserido de maneira diferente da atual na economia capitalista, lhes permitissem<br />
desenvolver níveis mais complexos de consciência para que esta não comece nem acabe na vizinhança. Eis o<br />
objetivo último da Comunidade de Resistência e de Superação – CRS.<br />
Em virtude dos rumos que este Artigo vem tomando, mister se faz salientar que, na luta pela<br />
terra, embora haja muitos sujeitos envolvidos, destaca-se indubitavelmente o MST como um novo sujeito<br />
social. Esta dimensão de novo sujeito social se expressa tanto pelo caráter de sujeito coletivo que dá<br />
visibilidade ao Movimento Social 153 como pelo processo de formação do sujeito enquanto ser individual.<br />
153 Para José de Souza Martins o MST não é um Movimento Social justamente porque não esgota seus objetivos. Para este autor, o MST<br />
tornou-se uma organização com burocracia própria, perdendo sua novidade e criatividade, bem como a capacidade de afirmação do poder da<br />
153
154<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
É, portanto, o reconhecimento da importância do MST na história recente da luta pela terra no<br />
Brasil que nos motiva a pensá-lo a partir de dois prismas: o primeiro refere-se às práticas do movimento<br />
social, ou seja, dos homens e mulheres que cotidianamente fazem a luta; o segundo refere-se ao trabalho<br />
intelectual e interpretativo que tem orientado teoricamente seu futuro histórico. Enfim, os desencontros<br />
entre esta prática e a teoria dessa prática. Queremos assim descartar qualquer vestígio de neutralidade e,<br />
mais, marcamos nosso lugar: ao lado daqueles que fazem e também daqueles que acreditam na<br />
importância histórica da luta pela terra no Brasil.<br />
A forma como é apresentado o problema da formação da consciência nos cadernos do MST é<br />
sintomática da incorporação de uma ideologia política estranha ao campesinato. Tais fontes se<br />
aproximam de manuais no sentido de querer resolver o insolúvel problema que persegue o processo de<br />
formação da consciência em Lênin: a consciência da Base é suficiente para pensar e organizar a luta ou<br />
somente é consciência suficiente para delegar estas funções para a Direção, a vanguarda 154 ?<br />
Mesmo que o povo não tenha consciência disso, o que vai resolver seus problemas é a transformação da<br />
sociedade. [...] Hoje o povo não sabe a força que tem. Por isso, para começar um trabalho, é preciso de<br />
alguém ou de um grupo [trabalhadores ou não] que anime o povo a sair da humilhação e da ilusão em que<br />
vive. (MST, 1987, p. 09)<br />
Esse dilema também é percebido, por exemplo, na cartilha “Vamos organizar a Base”, de<br />
1995, que apresenta diferentes níveis de formação a compor a organização social do MST, os quais<br />
materializam as instâncias de decisão e de poder da estrutura organizativa e refletem as linhas políticas<br />
do Movimento:<br />
- A Direção: núcleo dirigente responsável pela coordenação do movimento de massa. Deve<br />
ser local, estadual e Nacional.<br />
- Os Militantes: dão organicidade ao movimento de massa e são o elo entre a direção e a base.<br />
- A Base: os trabalhadores que se identificam com a organização, ou seja, com o MST.<br />
- A Massa: todos os trabalhadores que dão representatividade ao Movimento e que podem ou<br />
não se mobilizar.<br />
Em relação ao destino da Massa, o caderno explica “a massa não vai sem direção”.<br />
Tem gente que fala da massa com pena, por desprezo ou tática. A finalidade de nossa militância é despertar<br />
a massa e organiza-la. É verdade que o fermento põe a massa em movimento, porque a massa não vai sem<br />
direção. Mas é ela que faz a mudança. Por isso, a massa que é a maioria deve ser sempre a parcela mais<br />
importante das nossas atividades. (MST, 1987, p. 11-12)<br />
Contudo, admitimos que a análise destes materiais elaborados pela direção e assessores do<br />
MST se torna complexa na medida em que encontramos uma diversidade no discurso em relação ao<br />
saber do povo, ou seja, parece não existir uma linha teórica única, há momentos, por exemplo, de<br />
verdadeira canonização deste saber popular: “É preciso estar sempre no meio do povo. O povo nos<br />
ensina. O povo nos educa”. Em outros, a massa precisa “elevar seu nível de consciência”.<br />
A massa não é ignorante. Ela pode ser desinformada e desmobilizada ou servir como massa de manobra de<br />
espertalhões. Mas isto não significa que não possa assimilar conhecimentos e elevar seu nível de<br />
consciência”. (MST, 1989b, p. 29)<br />
Em outro trecho, percebe-se também o papel determinante da vanguarda na definição do<br />
papel político da massa.<br />
sociedade em face do Estado. Para entender o desencontro entre a prática e a ideologia dessa prática nos movimentos sociais e organizações<br />
populares, o autor trabalha com o conceito de anomia. A respeito, ver: MARTINS, J. S. “As mudanças nas relações entre a sociedade e o<br />
estado e a tendência a anomia nos movimentos sociais e nas organizações populares”. In: Reforma Agrária: o impossível diálogo. São<br />
Paulo: USP. 2000a, p. 73-85. Consideramos, porém, que o debate não está encerrado e que é possível pensarmos no MST como o marco de<br />
mudanças no conceito de novos movimentos sociais, em que pese, não uma idéia de “aparelhismo” dos movimentos sociais, mas que, diante<br />
do crescimento quantitativo e qualitativo das lutas, o surgimento de formas organizativas, que entendemos serem diferentes da concepção de<br />
organização social porque não traz perda do caráter autônomo e criativo, possa ser compreendido como um elemento a mais a ser<br />
considerado na conceituação destes movimentos.<br />
154 Para o MST “Dirigente de vanguarda é aquele que multiplica muitos companheiros iguais a ele” (MST, 1987, p. 12).
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
Muitas vezes as aspirações do Dirigente não são as mesmas aspirações da massa. Neste caso, é preciso<br />
desenvolver um trabalho ideológico para fazer com que as aspirações da massa adquiram um caráter político<br />
e revolucionário. (MST, 1989b, p. 23)<br />
Entretanto, acreditamos que, para encontrar a raiz dos desencontros do MST, é necessário<br />
buscar com maior nitidez as concepções políticas que influenciaram e influenciam sua construção<br />
desde o seu nascedouro. Neste sentido, a contribuição dada por Clodomir de Moraes 155 é o marco<br />
principal, especificamente no período de 1986 a 1990, não só pela construção de uma “teoria da<br />
organização” (ou teoria da cooperação agrícola), mas fundamentalmente pela concepção política da<br />
luta pela terra e do lugar político do campesinato neste processo, bem como pelo fato de ter<br />
introduzido na concepção das lideranças do movimento social, características de organização social.<br />
Para corroborarmos essa assertiva destacamos que Clodomir de Moraes foi o idealizador do<br />
cooperativismo no MST, por meio dos Laboratórios de Campo. Em seu texto “Elementos sobre a<br />
teoria da organização no campo”, publicado pelo MST, em 1986, o autor descreve os “vícios do<br />
campesinato” como conseqüência de sua produção econômica como trabalhador individual. “O<br />
processo produtivo individual (unifamiliar) que o camponês desenvolve, determina a visão personalista<br />
como uma das características de seu universo cultural e das superestruturas sociais que abarca”<br />
(MORAES, 1986, p. 13-14).<br />
Conseqüentemente, para superação destas atitudes isolacionistas, propõe que o camponês seja<br />
estimulado a participar de grupos, cooperativas.<br />
O texto apresenta também uma leitura da agricultura pelo viés da industrialização do campo e<br />
da diferenciação social do campesinato, dividindo assim os “produtores” em quatro extratos: o artesãocamponês;<br />
o assalariado; o semi-assalariado; e, o lúmpen. O primeiro (o artesão camponês) figura<br />
como o resquício a ser superado na luta pela conscientização política.<br />
O centro das preocupações de Clodomir de Moraes é a consciência de classe e, por isso, seus<br />
esforços procuram provar que o amadurecimento da consciência de classe do campesinato depende do<br />
desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, da apoteose do desenvolvimento industrial que tem<br />
nas teses de Kautsky e Lênin 156 seu sustentáculo teórico. Preocupação que, por sua vez, não passou<br />
desapercebida pelo MST, como mostra Stédile; Fernandes:<br />
[...] o método do Clodomir teve uma grande utilidade ao nos abrir para essa questão da consciência do<br />
camponês. Ele trouxe um conhecimento científico sobre isso. O seu livro sobre a teoria da organização<br />
mostrou com clareza como a organização do trabalho influencia na formação da consciência do camponês.<br />
(STÉDILE; FERNANDES 1999, p. 100, grifo nosso)<br />
155 O papel de assessor dos movimentos socais desempenhado por Clodomir de Moraes não se restringiu ao MST como evidencia a fala de<br />
um membro da CPT/MS que vivenciou ativamente o período das primeiras ocupações de terras, organização de acampamentos e<br />
assentamentos no Mato Grosso do Sul. “Quando a gente era da Pastoral da Terra nacional eu recebi um livro “Comportamento do<br />
campesinato na América Central”, do sociólogo Clodomir de Moraes, nós fizemos alguns estudos deste livro, ele nos ajudou muito. Este<br />
sociólogo tem muitas reflexões onde ele mostra que o camponês tem dificuldade no processo coletivo. Aí ele faz a comparação com o<br />
operário de fábrica. Um operário na fábrica de calçados sabe intelectualmente, culturalmente que ele depende do outro para construir um<br />
sapato. [...] Na agricultura familiar, o camponês domina todo o processo desde o começo até o fim. Então intelectualmente, culturalmente<br />
está na cabeça do camponês que ele é uma pessoa única, que não depende do outro. Isso faz com que ele se torne uma pessoa diria<br />
individualista porque não depende do outro para produzir, para viver na pequena propriedade. Então pra quê Associação, pra quê<br />
Cooperativa, pra quê coletivo se eu sei fazer tudo. [...] (RODRIGUÊS - ex-agente da CPT da Diocese de Dourados e membro da COAAMS).<br />
Comunicação pessoal, Fev/2001).<br />
156 Os estudos de K. Kautsky materializados na obra clássica “A questão agrária” e de V. I. Lênin “O desenvolvimento do capitalismo na<br />
Rússia” foram concebidos num contexto de amplas discussões a respeito das propostas de transformação da sociedade alemã e russa e,<br />
particularmente, do papel reservado à agricultura e ao campesinato nesse processo. De forma geral podemos afirmar que o eixo condutor<br />
destas obras fundamenta-se na concepção de que o desenvolvimento capitalista não poderia comportar outras classes além da burguesia e do<br />
proletariado, opondo-se assim à teoria da reprodução do trabalho familiar camponês. Desse modo, para os autores, a desintegração do<br />
campesinato era uma conseqüência necessária e inevitável para que o capitalismo pudesse se desenvolver via mercado e divisão do trabalho,<br />
abrindo caminho para a revolução socialista. Pode-se dizer que tais concepções têm igualmente influenciado outros teóricos do MST como<br />
nos deixa a entender a exposição de idéias no livro “Assentamentos – a resposta econômica da reforma agrária”: “O principio da divisão do<br />
trabalho já foi desenvolvido no modo de produção capitalista, e vem se desenvolvendo desde o século XVIII. [...] E essa tendência continua<br />
cada vez mais veloz. Na agricultura, essa divisão do trabalho, apesar de ser mais lenta do que na indústria, também se desenvolve<br />
permanentemente” (GÖRGEN; STEDILE (org.), 1991, p. 140).<br />
155
156<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A crise do Sistema Cooperativista do MST pode ser considerada o ápice do questionamento<br />
da teoria do cooperativismo agrícola e da apoteose do desenvolvimento das forças produtivas<br />
apregoado por Clodomir de Moraes como o caminho para o desenvolvimento da luta política.<br />
Pensamento que, por sua vez, apesar de relativamente revisado no final dos anos de 1990, como<br />
demonstra a citação anterior de Stédile (1999), foi a mola mestra, por muito tempo, da ação oficial do<br />
MST, como se pode depreender desta outra fala de Stédile (1990, p. 08):<br />
Todos os casos de assentamentos que têm uma boa produção, uma alta produtividade e um crescimento<br />
econômico são coletivos. A política oficial do movimento é estimular o máximo a cooperação agrícola [...] É<br />
muito difícil conseguir que um camponês atrasado politicamente adira à cooperação agrícola. Com a<br />
cooperação agrícola há crescimento econômico nos assentamentos, e o resultado em vez de vir pelo<br />
aburguesamento, como muita gente poderia pensar, com o trabalho político, ele rende em militância. É mais<br />
fácil pegar militantes dos assentamentos que vão se dedicar em tempo integral às atividades políticas. Eles<br />
não dependem mais da roça porque o coletivo garante a produção.<br />
No sentido do questionamento deste pensamento que enxerga o trabalho político, o<br />
amadurecimento organizativo como resultado do desenvolvimento das forças produtivas, via<br />
cooperação agrícola, o trabalho de Fabrini (2002, p. 12) pode ser considerado um marco de<br />
interpretação, uma vez que o autor, ao tratar dos avanços e recuos do cooperativismo agrícola do MST,<br />
no caso específico da COAGRI – Cooperativa de Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária do Centro<br />
Oeste do Paraná Ltda – vê com preocupação a priorização econômica da cooperativa, e afirma:<br />
A rapidez com que a COAGRI se construiu e expandiu enquanto empresa econômica, capaz de realizar<br />
importante intervenção no espaço, foi a mesma com que se distanciou da base de sustentação, refletindo no<br />
enfraquecimento e desmantelamento de parte dos núcleos de produção.<br />
Sobre este pensamento único em defesa da cooperativa como caminho da organicidade do<br />
MST, vale diferenciar a posição de Carvalho (1999) que se inscreve neste quadro diversificado de<br />
influências até certo ponto paradoxais que o Movimento encerra. Desse modo, a posição do MST não é<br />
um bloco monolítico, logo é possível encontrarmos nos seus escritos teses antagônicas. Como<br />
exemplo, recorremos as criticas de Carvalho (1999, p. 33) que, de forma lúcida e oportuna, escreve:<br />
“Minha suspeita é de que o MST ainda não conseguiu desenvolver ou decidir sobre uma teoria que<br />
fundamentasse o papel que os núcleos de base desempenhariam para o próprio movimento social”.<br />
Num outro momento, sentencia:<br />
A contradição interna principal deveu-se, então, ao fato de que as demais formas possíveis de cooperação<br />
historicamente vivenciadas pelos trabalhadores rurais assentados foram literalmente ignoradas. [...] O<br />
discurso sobre a organicidade, preocupação constante nesse período e, em 1999, alcançando o nível do<br />
fetichismo [...] Ademais, nenhum dos documentos deu conta das experiências históricas concretas de<br />
cooperação entre os trabalhadores rurais, nos diversos planos sociais das suas existências, nem a elas<br />
referiram-se, numa preocupante omissão sobre a experiência histórica popular no campo. (CARVALHO,<br />
1999, p. 30-34-35)<br />
Observações que, de certa forma, se aproximam da situação, posteriormente, analisada por<br />
Fabrini (2002) que, ao desmistificar o papel da cooperativa como o instrumento por excelência de<br />
intervenção social e política, descobre outros espaços de luta e resistência construídos pelos<br />
assentados. Portanto, a formação de núcleos e grupos de assentados (muitos não vinculados à<br />
cooperativa e ao MST) se destaca como o elemento novo a ser considerado nesta análise que procura<br />
superar o pensamento apoteótico do primado da economia e da dissolução do sócio-cultural.<br />
Contudo, Fabrini (2002), ao propor que o amadurecimento da consciência de classe do<br />
campesinato se faz no processo de luta e resistência, e que esta luta não depende do desenvolvimento<br />
das forças produtivas, não questiona o papel que o MST, enquanto organização social, vem se<br />
atribuindo neste processo de “amadurecimento da consciência de classe do campesinato”, como<br />
também não discute a ideologia política de transformação social apregoada pelo MST.<br />
É neste ponto que a crítica atinge a raiz, porque, Clodomir de Moraes, ao materializar a sua<br />
“teoria da organização no campo”, imprimiu não só um modelo de cooperativismo ao MST (agora em
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
crise), mas uma concepção política de que o campesinato não possui lugar na história, ou seja, uma<br />
concepção da superioridade do operariado e da necessária aliança operário-camponesa a conduzi-lo à<br />
libertação.<br />
Por outro lado, ao descobrir o espaço cotidiano da política no assentamento Fabrini (2002),<br />
permite-nos inverter o papel da “teoria da organização no campo” que foi concebida de “cima para<br />
baixo” e, conseqüentemente, daqueles que vêem na existência da vanguarda 157 política o caminho<br />
inexorável do fazer política.<br />
Com efeito, a crítica ao pensamento de Clodomir de Moraes tem sido feita pela metade, como<br />
se pode observar nesta reflexão de Stédile; Fernandes (1999, p. 99): “não deu certo [o método do<br />
Clodomir] porque, em primeiro lugar, o método é muito ortodoxo, muito rígido na sua aplicação. Em<br />
segundo, porque ele não é um processo, é muito estanque”. A questão não é ser mais ou menos rígido,<br />
coercivo, o problema está em negar a potencialidade da classe camponesa, em imputá-la um<br />
individualismo que desconhece a tradição dos trabalhadores rurais voltada para a comunidade familiar<br />
e para os laços de vizinhança e tão bem estudada por Antonio Candido, em “Parceiros do Rio Bonito”,<br />
na década de 1950.<br />
O mutirão, por exemplo, é uma forma de solidariedade das mais antigas existentes no campo<br />
brasileiro e, segundo Candido (1982), é elemento integrante da sociabilidade do grupo, constituindo<br />
um dos pontos importantes da vida cultural, em que a “obrigação bilateral” é entendida como questão a<br />
decidir a unidade do grupo, se inscrevendo como um valor mais de ordem moral do que econômica.<br />
Neste sentido, o pagamento do serviço prestado não é em dinheiro, de acordo com o que explica o<br />
autor:<br />
Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o<br />
trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a obrigação moral em que fica o<br />
beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram. (CANDIDO, 1982, p. 62)<br />
Pensamos que essa crítica por inteiro está por fazer e torna-se urgente, porque pode lançar<br />
luzes sobre a teoria da organização social do MST a qual tem se apresentado, por vezes, limitada em<br />
relação à sua prática, vivenciada cotidianamente pelos homens e mulheres que enriquecem e oxigenam<br />
o movimento social para além da teoria de organização social de parte de suas lideranças e assessores.<br />
O MST, em sua teoria da organização, entende que deve ter uma dupla estrutura: ser um movimento de<br />
massas amplo, mas, dentro deste, ter uma estrutura organizativa que dê sustentação ao movimento,<br />
transformando-se assim numa ‘organização de massas’. Esta organização é para melhor assimilar as idéias e<br />
pô-las em prática. Daí a constituição das instâncias, dos setores, dos núcleos. (BOGO apud CALDART,<br />
2000, p. 87)<br />
Como parte deste paradoxo de ser Movimento Social e Organização Social, afloram outros<br />
como a dificuldade de aceitar a existência do campesinato enquanto classe, passando a entendê-lo<br />
como uma fração da classe trabalhadora. Logo, sua linguagem e sua mística são reveladoras muitas<br />
vezes deste contra-senso que coloca em choque a teoria da Organização Social e a prática do<br />
Movimento Social que, em tese, é o confronto da prática com a teoria da prática. Confronto que existe<br />
157 Nesta discussão acerca da necessidade da vanguarda, isto é, da necessidade de uma elite política, intelectual, enfim, da consciência do<br />
exterior que possa orientar e dar direção ao movimento político, bem como a conscientização dos membros do grupo, dentre os marxistas<br />
clássicos, Lênin foi o maior representante. Sua tese a respeito do vanguardismo aparece, em especial, na obra “Que Fazer?”, referência<br />
importante para as lideranças do MST como se pode notar, por exemplo, nas citações textuais de Lênin no livro do MST “Construindo o<br />
caminho” (2001). Vale lembrar que nesta obra “Que Fazer?” (1978), Lênin denúncia aqueles que defendem o espontaneísmo das massas, o<br />
basismo que impede o avanço da luta política sentenciando que “a elevação da atividade da massa operária será possível unicamente se não<br />
nos limitarmos à ‘agitação política no terreno econômico’ (p. 55), propõe assim que as “revelações” políticas sejam feitas em todos os<br />
aspectos, já que só elas podem formar a consciência política da massa. Portanto, para o autor, “a consciência política de classe não pode ser<br />
levada ao operário senão do exterior, isto é, do exterior da luta econômica, do exterior da esfera das relações entre operários e patrões” (p.<br />
62). Logo, a imensa maioria dos reveladores, a vanguarda, “deveria pertencer a outras classes sociais” (p.70), pois a “luta espontânea do<br />
proletariado não se transformará em uma verdadeira ‘luta de classes’ do proletariado enquanto não for dirigida por uma forte organização de<br />
revolucionários”. (p.104) Para Lênin, “as massas jamais aprenderão a conduzir a luta política, enquanto não ajudarmos a formar dirigentes<br />
para essa luta”. (p. 125)<br />
157
158<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
porque a teoria tem sido construída a partir de concepções que não admitem a (re)criação camponesa<br />
como um processo autônomo de luta e resistência.<br />
Possivelmente, a permanência deste paradoxo explique porque a letra do Hino do MST, feito<br />
em 1989 por Bogo, um de seus símbolos mais importantes na conformação da mística camponesa,<br />
traga em seus versos quanto à luta pela construção da pátria livre, a expressão “operária camponesa”.<br />
Não seria de se esperar de um movimento que cotidianamente se constrói na luta pela terra uma<br />
proposta de aliança camponesa operária? O que está implícito nesta frase é apenas um problema<br />
semântico ou os camponeses não seriam capazes de conduzir a luta? E, mais, qual luta: pela posse da<br />
terra ou por transformações sociais? Quais são os referenciais teóricos (e as evidências práticas)<br />
explicativos desta crença política no poder da classe operária na condução do processo?<br />
Desta maneira, a questão central ainda está por ser respondida: a luta do campesinato pode ter<br />
como referência uma consciência de classe trabalhadora própria do confronto capital versus trabalho?<br />
3. Considerações finais.<br />
Procurando seguir o caminho destas indagações e nos apoiando nas contribuições de Oliveira<br />
(1981, 1991) e Martins (1981, 1991, 2000 e 2002), lançaremos alguns pontos que consideramos<br />
fundamentais para a compreensão das diferenças de classe de camponeses e operários na tentativa de<br />
contribuir para a elucidação de alguns equívocos teóricos que tem acompanhado a interpretação da<br />
prática do MST.<br />
O pressuposto inicial é o de que as experiências de vida e as posições sociais dos indivíduos<br />
no espaço social geram diferentes visões de mundo 158 , portanto, habitus específicos a nortear projetos<br />
históricos também distintos.<br />
Desse modo, tentando buscar este conjunto de relações sociais que estão na base da formação<br />
do campesinato no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, destacamos que o camponês se insere<br />
na divisão do trabalho, ou seja, na realização do modo capitalista de produção pela sujeição da renda<br />
da terra, pois o que o ele vende no mercado não é seu trabalho enquanto mercadoria, mas o produto do<br />
seu trabalho, ao contrário do operário que vive uma sujeição real de seu trabalho ao capital<br />
(OLIVEIRA, 1991).<br />
Assim sua reprodução, em tese, não é mediada pelo mercado, ou seja, por ser proprietário, ele<br />
assegura a independência de seu trabalho, porque seu produto é produto acabado e porque, mesmo<br />
quando integrado à agroindústria, preserva a terra e o saber necessário à produção. É por isso que<br />
Martins (2002a) afirma que “o camponês se situa no mundo através de seu produto”, ou seja, seu<br />
trabalho não aparece separado do seu produto, seu trabalho não aparece como relação de trabalho;<br />
existe, portanto, um ocultamento na relação com o mercado. Questão fundamental porque de diversas<br />
formas este ocultamento acaba por determinar a constituição de sua consciência que, na maioria das<br />
vezes, não tem clareza dos fundamentos econômicos e sociais de sua condição dúplice: é proprietário<br />
de terra e trabalhador. É uma consciência ambivalente, mística em que o dinheiro e a mercadoria<br />
aparecem como forças do mal a atravessar sua vida e, muitas vezes, determinar seu perecimento como<br />
classe.<br />
Por outro lado, se o centro de suas relações imediatas não é o mercado, no que consiste a<br />
essência de suas relações sociais? A essência, o centro como explica Martins (2002a), é a família<br />
porque, embora ele seja um trabalhador responsável único pela produção, ele não se manifesta como<br />
indivíduo, mas como um corpo familiar de pertencimento natural e afetivo que vê na vizinhança, na<br />
comunidade, no bairro sua “comunidade de destino 159 ”. É por isso também que, embora tenha<br />
consciência do processo antagônico com o capital, sua consciência é ambígua 160 por não ser<br />
158<br />
Extraímos o termo “visão de mundo” de Löwy (2002). A respeito do conceito, ele diz: “Visões sociais de mundo seriam, portanto, todos<br />
aqueles conjuntos estruturados de valores, representações, idéias e orientações cognitivas. Conjuntos esses unificados por uma perspectiva<br />
determinada, por um ponto de vista social, de classes sociais determinadas”. (p. 13)<br />
159<br />
Ecléa Bosi (1981) utiliza-se do termo comunidade de destino para referir-se ao processo irreversível de pertencimento ao destino de um<br />
grupo.<br />
160<br />
Segundo Chauí (1994a), a ambiguidade não é falha, defeito, mas a forma de existência dos objetos da percepção e da cultura, constituídos,<br />
não de elementos separados, mas de dimensões simultâneas. Situação que, por sua vez, faz com que tenhamos uma consciência trágica
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
mediatizada por relações de mercado. Sua exploração não é vivida de maneira cotidiana e permanente,<br />
ou seja, em cada momento do processo de trabalho como a do operário.<br />
O empresário capitalista da agricultura, ao colher os frutos da terra, antes de lançá-los ao<br />
mercado, calcula a estrutura das despesas que fez para produzir e acrescenta ainda a taxa de lucro,<br />
equivalente, pelo menos, ao lucro médio do sistema capitalista. Já o camponês produz e vende, mas<br />
não discrimina os custos de sua produção basicamente porque o seu “salário” não ganhou consistência<br />
própria no processo de produção e não se desprendeu dos outros custos. Logo, ele sabe que seu<br />
trabalho tem que ser pago, mas não sabe, nem pode saber, quanto (MARTINS, 2003).<br />
Desse modo, ele não sabe exatamente onde “é enganado, lesado, de onde está saindo sua<br />
contribuição como produtor de mais-valia”. Na maioria das vezes, sua compreensão da alienação<br />
capitalista, como já dissemos, acontece de outra forma, é uma modalidade de consciência mística em<br />
que não é rara a figura do demônio aparecer relacionada ao mundo da mercadoria como evidencia<br />
Martins (2003).<br />
Portanto, a percepção da realidade por parte do camponês é fruto da sua condição de classe, o<br />
que o faz se situar no mercado por meio de seu produto e não de seu trabalho, ter seu trabalho oculto<br />
no seu produto. Por isso Martins afirma que a “consciência camponesa faz um contorno ‘por fora’ da<br />
realidade imediata para perceber o poder alienador da mercadoria e do dinheiro, seu equivalente geral”<br />
(2002a, p. 74). Situação que o difere como “pessoa e consciência do operário”.<br />
Todavia, quando sua reprodução é ameaçada pela expropriação, quando a exploração do seu<br />
trabalho se evidencia na venda de produtos e pagamentos de juros, o campesinato, ou melhor, a parte<br />
diretamente atingida deste campesinato se coloca de forma antagônica ao capital. No entanto, este<br />
antagonismo se apresenta no plano da resistência mística/ambígua e não da transformação social pelas<br />
razões ditas anteriormente. Isso significa dizer que o conflito do camponês com o capital ocorre em<br />
dois momentos: na luta pela posse da terra quando se vê na situação de expropriação (definitiva ou em<br />
processo) e na luta contra a transferência de renda que se dá na depreciação de seus produtos no<br />
mercado, no pagamento de juros bancários e na compra de máquinas e insumos.<br />
Entrementes, o mais importante destes conflitos do campesinato, em virtude de nosso<br />
interesse e das diferentes interpretações, é o da luta pela terra, que se difere completamente da luta<br />
entre o capital e o trabalho e da possível resolução das contradições que estão na sua base (leia-se<br />
transformação social). Essa diferenciação ocorre porque...<br />
[...] ela não propõe a superação do capitalismo, mas a sua humanização, o estabelecimento de freios ao<br />
concentracionismo na propriedade da riqueza social e à sua privatização sem limites. Ela propõe o confronto<br />
entre a propriedade privada e a propriedade capitalista. (MARTINS, 2002a, p. 89)<br />
Todavia, embora a luta camponesa pela terra não vise diretamente a superação do capitalismo,<br />
como Martins a princípio admite na citação, por outro lado, ele mesmo reconhece sua potencialidade<br />
quando explica que somente ela é portadora de um caráter anticapitalista, porque a classe camponesa é<br />
a única que pode visualizar por meio da expropriação, da liminaridade, ainda que de forma trágica, a<br />
expansão e a acumulação capitalista na sua totalidade e desumanidade. Portanto,<br />
[...] o anticapitalismo do lavrador é expressão concreta das suas condições de classe. Seria um absurdo exigir<br />
dele, senão em nome de uma postura autoritária, que pense como um operário de fábrica, que desenvolva<br />
uma concepção proletária da transformação da sociedade. (MARTINS, 1991, p. 19)<br />
Logo, as lutas camponesas, mesmo se fazendo por meio de uma consciência ambígua,<br />
costumam trazer componentes radicais como o questionamento da propriedade capitalista pela visão<br />
globalizante que possuem. Este é o limite de sua consciência, mas também sua potencialidade. Esta<br />
situação lembra a discussão de Bourdieu (2000) acerca da classe real, ou seja, o fato de a classe com<br />
maior potencial de mobilização ser sempre uma probabilidade.<br />
“aquela que descobre a diferença entre o que é e o que poderia ser e que por isso mesmo transgride a ordem estabelecida, mas não chega a<br />
constituir uma outra existência social. [...] Diz sim e diz não ao mesmo tempo [...]. Mas justamente porque essa consciência diz não, a prática<br />
da cultura popular pode tomar a forma de resistência e introduzir a “desordem” na ordem, abrir brechas, caminhar pelos poros e interstícios<br />
da sociedade brasileira”. (p. 178, grifo da autora)<br />
159
160<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Portanto, podemos dizer que a classe camponesa embora exista como dado objetivo (classe no<br />
papel), sua consciência de classe é uma potencialidade, não como derivação da consciência operária<br />
moldada no confronto capital versus trabalho, mas na contradição camponesa que no limite pode fazer<br />
de sua resistência contra a expropriação uma luta anticapitalista.<br />
Assim, podemos dizer que a consciência política esperada dos camponeses, ou seja, aquela<br />
fundada na superação da contradição entre o caráter social do trabalho e o caráter privado da<br />
apropriação dos resultados do trabalho, ou seja, a superação da contradição capital versus trabalho e da<br />
exploração do trabalho que nela se funda, não é possível, é, portanto, ideológica.<br />
E essa impossibilidade se deve ao diferente vinculo social que o camponês tem com o capital<br />
e com o capitalismo, porque o seu trabalho não aparece separado do produto resultante dele, como é o<br />
caso do operário. Diferente porque a sujeição é da renda e não diretamente do seu trabalho, porque seu<br />
trabalho aparece como trabalho da família e não como trabalho social explorado.<br />
Superar essas diferentes possibilidades históricas e sociais por meio de esquemas explicativos<br />
que buscam, depois da conquista da terra, continuar a luta “quebrando” o isolamento das famílias<br />
assentadas, estimulando o trabalho coletivo, desenvolvendo as “forças produtivas”, é equivocado<br />
porque funda-se em uma visão e posição de mundo que não é camponesa.<br />
Estariam os camponeses, enquanto totalidade, irremediavelmente confinados a uma<br />
sociabilidade marcada pela distinção ou é possível falarmos da identidade de classe e, em caso<br />
afirmativo, quais seriam os elementos e relações identificatórias em curso? É possível uma aliança<br />
camponesa-operária?<br />
Enfim, se por um lado a discussão de tais questões tem se colocado como opção teórica, por<br />
outro é a realidade quem decide a importância delas, neste sentido estamos seguros do caminho<br />
tomado, qual seja, de não nos eximirmos em reconhecer a pertinência delas.<br />
A aliança política entre trabalhadores assalariados e camponeses não pode mais ser pensada na perspectiva<br />
da hegemonia política pura e simples dos primeiros sobre os segundos, e muito menos no sentido inverso.<br />
Ela deve nascer da compreensão de suas diferenças, e do direito mútuo de cultivá-las. (OLIVEIRA, 1994, p.<br />
22)<br />
4. Referências Bibliográficas.<br />
ALMEIDA, R. A. Identidade, Distinção e Territorialização: o processo de (re)criação camponesa no Mato<br />
Grosso do Sul. 2003. Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia) - Faculdade de Ciências e Tecnologia,<br />
Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.<br />
BOGO, A. Lições da Luta pela Terra. Salvador: Memorial das Letras, 1999.<br />
______. A Formação Ideológica dos Camponeses. Bahia, 1998. (Mimeog).<br />
______. Valores que deve cultivar um lutador do povo. In: Consulta Popular, Cartilha nº 09. São<br />
Paulo: Secretaria Operativa da Consulta Popular, 2000.<br />
______. Seminário realizado em Maringá/PR, em 18/07/2001. (Transcrição ad literam retirada da<br />
gravação da palestra). (Mimeografado).<br />
BOSI, E. Sobre a Cultura das Classes Pobres. In: BOSI, Ecléa. Cultura de Massa e Cultura Popular. 5ª<br />
ed. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 13-23.<br />
BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand<br />
Brasil, 2000.<br />
CALDART, R. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. Petrópolis, Rio<br />
Janeiro: Vozes, 2000.<br />
CANDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus<br />
meios de vida. 6ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1982.<br />
CARVALHO, H. M. Formas de Associativismo Vivenciados pelos Trabalhadores Rurais nas Áreas de<br />
Reforma Agrária no Brasil. Curitiba, Agosto de 1998. Disponível em<br />
. Acesso em: 10/09/2002.
ALMEIDA, R. A.<br />
O MST e a formação da consciência de classe trabalhadora: ideologia política ou realidade camponesa?<br />
______. A Interação Social e as Possibilidades de Coesão e de Identidade Sociais no Cotidiano da Vida<br />
Social dos Trabalhadores Rurais nas Áreas Oficiais de Reforma Agrária no Brasil. Curitiba, 1999.<br />
(mimeog.).<br />
______. Causas Estruturais da Crise de Identidade dos Pequenos Produtores Rurais Familiares.<br />
Curitiba, 2000. (mimeog.).<br />
CHAUÍ, M. Conformismo e Resistência. 6ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994a.<br />
______. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994b.<br />
FABRINI, J. E. Os Assentamentos de Trabalhadores Sem Terra Enquanto Território de Ações<br />
Coletivas/Cooperativas Através da Coagri (Cooperativa de Reforma Agrária e Trabalhadores Rurais da<br />
Região Centro-Oeste do Paraná). 2002. Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia) - Faculdade de Ciências e<br />
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.<br />
FERNANDES, B. M. Amassando a Massa: para uma crítica ao conceito de massa. Presidente Prudente:<br />
[s.n], 1993. (mimeogr).<br />
______. Espacialização e Territorialização da Luta pela Terra: a formação do MST (Movimento dos<br />
Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado de São Paulo. 1994. Dissertação [Mestrado em Geografia] -<br />
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.<br />
______. MST: formação e territorialização. São Paulo: Hucitec, 1996.<br />
______. Questões Teórico-Metodológica da Pesquisa Geográfica em Assentamentos de Reforma Agrária.<br />
NERA - Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária. Presidente Prudente: UNESP, nº.<br />
02. Dezembro de 1998. (Série Estudos).<br />
______. Questão Agrária, Pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 2001.<br />
GORGEN, F. S A.; STÉDILE, J. P. (org.) Assentamentos: resposta econômica da reforma agrária.<br />
Petrópolis: Vozes, 1991.<br />
JORNAL DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA. São Paulo:<br />
MST, 1993-2000.<br />
LENIN, V. I. O que Fazer?. São Paulo: Hucitec, 1978.<br />
LOWY, M. O Marxismo Historicista (Lukács, Korsch, Gramsci, Goldmann). In: ______. As Aventuras<br />
de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. São Paulo: Busca Vida, 1987. p. 122-139.<br />
______. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. São Paulo: Cortez, 2002.<br />
MARTINS, J. de S. Os Camponeses e a Política no Brasil. 4ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1981.<br />
______. Expropriação e Violência. 2ª. ed. São Paulo: Hucitec, 1991.<br />
______. Reforma Agrária: o impossível diálogo. São Paulo: Edusp, 2000a.<br />
______. A Sociabilidade do Homem Simples. São Paulo: Hucitec, 2000b.<br />
______. A Sociedade Vista do Abismo. Petrópolis: Vozes, 2002a.<br />
______. Impasses Sociais e Políticos em Relação à Reforma Agrária e à Agricultura Familiar no<br />
Brasil. Disponível em: . Acesso em: 23 de outubro de 2002b.<br />
______. Publicações Eletrônicas [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <br />
em 2002/2003.<br />
MORAES, C. S. Elementos sobre a teoria da organização no campo. Caderno de Formação, nº 11. São<br />
Paulo: MST, 1986.<br />
MST. Construir um Sindicalismo pela Base. Cadernos de Formação, nº 14. São Paulo: MST, 1987.<br />
______. Plano Nacional do MST-1989 a 1993. Cadernos de Formação, nº 17. São Paulo: MST, 1989a.<br />
______. Normas Gerais do MST. São Paulo, 1989b.<br />
______. A Cooperação Agrícola nos Assentamentos. Cadernos de Formação nº. 20. São Paulo, 1993.<br />
______. Cooperativas de Produção: Questões Práticas. Cadernos de Formação nº. 21. 3º ed. São Paulo:<br />
Concrab, 1994.<br />
______. Vamos Organizar a Base do MST. São Paulo, 1995.<br />
______. Sistema Cooperativista dos Assentados. Caderno de Cooperação Agrícola nº. 05. São Paulo: Concrab, 1998a.<br />
______. Construindo o Caminho. São Paulo: MST, 2001.<br />
NAVARRO, Z. “Mobilização Sem Emancipação”: as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. In: SANTOS,<br />
B. de S. (org.). Produzir para Viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 2002. p. 189-232.<br />
161
162<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
OLIVEIRA, A. U. Agricultura e Indústria no Brasil. Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, n. 58,<br />
set. 1981.<br />
______. Agricultura Brasileira: as transformações no final do século XX. São Paulo: [s.n.], 1994a.<br />
(mimeog).<br />
______. Trajetória e Compromissos da Geografia Brasileira. Curitiba: [s.n.], 1994b. (mimeog.).<br />
______. A Agricultura Camponesa no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 2001.<br />
RAPCHAN, E. S. De Nomes e Categorias: seguindo as trilhas da identidade entre os sem-terra. In:<br />
GEMDEC. Campinas: Cidadania, nº. 02, julho de 1994.<br />
STÉDILE, J. P. Entrevista. In: Teoria e Debate nº 09. Jan/Fev/Mar, 1990.<br />
______; FERNANDES, B. M. Brava Gente: a trajetória do MST e a luta pela Terra no Brasil. São Paulo:<br />
Fundação Perseu Abramo, 1999.<br />
THOMPSON, E. P. Algumas Observações sobre a Classe e “Falsa Consciência”. In: NEGRO, A. L.;<br />
SILVA, S. (org.). Textos Didáticos. 3ª ed, [s.l.]. v. 02, n. 10, 1998. p. 95-109.
FRONTEIRA: NATUREZA E CULTURA ∗<br />
Celso Donizete LOCATEL ∗∗<br />
Resumo: O objetivo central deste trabalho é buscar compreender dois momentos distintos do processo de<br />
expansão da fronteira, quais sejam, a expansão da fronteira demográfica, que se amplia com o<br />
deslocamento da frente de expansão, e da fronteira econômica, que se alarga com a frente pioneira,<br />
buscando entender os processos e as relações que aí se estabelecem, para entender as concepções de<br />
natureza e cultura aí existentes. Para essa análise, considerou-se como recorte o processo de ocupação da<br />
região de Jales, onde os vários momentos do processo de incorporação da região à economia de mercado<br />
apresentam muitos elementos ilustrativos dos conflitos existentes na fronteira, assim como dos vários<br />
elementos que a compõe. Pode-se verificar também que a produção da natureza está diretamente<br />
associada com a lógica do sistema cultural de cada grupo e com a percepção que estes tem de si e da<br />
própria natureza, o que nos remete a considerar que não se pode conceber a existência de culturas<br />
superiores e inferiores. Contudo, o que predomina nas relações na fronteira é uma visão dualista, tanto da<br />
natureza, entendendo-a como natureza exterior e natureza universal, como também de natureza e cultura.<br />
Palavras-chave: Fronteira; Frente de Expansão; Frente Pioneira; Natureza e Cultura.<br />
Resumen: El objetivo central de este trabajo es buscar comprender dos momentos distíntos del proceso<br />
de expansión de la frontera, que son: la expansión de la frontera demográfica, que se amplia con el<br />
desplazamiento del frente de expansión, y de la frontera económica, que se amplía con el frente pionero;<br />
buscando entender los procesos y las relaciones que se establecen, para comprender las concepciones de<br />
naturaleza y cultura existentes. Para este análisis, se consideró como recorte el proceso de ocupación de la<br />
región de Jales, donde los varios momentos del proceso de incorporación de la región a la economía de<br />
mercado presentan muchos elementos ilustrativos de los conflictos existentes en la frontera, así como de<br />
los varios elementos que la compone. También es posible verificar que la producción de la naturaleza está<br />
directamente asociada con la lógica del sistema cultural de cada grupo y con la percepción que estos<br />
tienen de sí y de la propia naturaleza, lo que nos lleva a considerar que no se puede concebir la existencia<br />
de culturas superiores e inferiores. Sin embargo, lo que predomina en las relaciones en la frontera es una<br />
visión dualista, tanto de la naturaleza, entendiéndola como naturaleza exterior y naturaleza universal,<br />
como también de naturaleza y cultura.<br />
Palabras-llave: Frontera; Frente de Expansión; Frente Pionera; Naturaleza y Cultura.<br />
1. Introdução.<br />
A discussão sobre fronteira, considerando seus diferentes momentos históricos, já foi bastante<br />
abordada em várias áreas do conhecimento, mas sempre apresenta novas dimensões dependendo de quem<br />
a analisa, de quem a viveu, ou ainda vive, e de quem escreve.<br />
Neste trabalho buscar-se-á entender os dois momentos distintos do processo de expansão da<br />
fronteira: a expansão da fronteira demográfica — frente de expansão — e a da fronteira econômica —<br />
frente pioneira — na região de Jales (SP), procurando aprofundar o entendimento de sua processualidade<br />
e as relações que nela se estabelecem, nas várias fases de que é constituída, assim como as concepções de<br />
natureza e cultura aí existentes.<br />
De imediato, as frentes e a fronteira remetem o pesquisador e o próprio leitor à noção de<br />
relação. E as relações, aqui, também nortearão o trabalho, pois são elas que dão razão e sustentação a<br />
qualquer conceito e a qualquer sentido à existência dos seres humanos, sabendo-se disso ou não.<br />
∗ Publicado inicialmente em 2002 (n.9, v.2). Texto produzido a partir de algumas reflexões realizadas nos Seminários de <strong>Doutor</strong>ado.<br />
Agradeço as observações e críticas feitas por Jones Dari Goetter e pelo Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol.<br />
∗∗ <strong>Doutor</strong>ando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências e Tecnologia <strong>FCT</strong>/UNESP Presidente Prudente<br />
(SP). Membro do GEDRA. E-mali. ceíoennes@hotmaii.com
164<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A fronteira é um singular; um lugar ímpar onde “tudo está para acontecer”, mas onde se colocam<br />
ao mesmo tempo o medo e a insegurança dos que lá vivem e a esperança e o sonho dos que para lá se<br />
deslocam. A fronteira por si só é nada: são as relações específicas que se dão num dado espaço que<br />
possibilitam o surgimento/formação de um espaço particular, o qual possibilita a construção do conceito<br />
em que particularidades e singularidades fazem dela um espaço diferente dos demais que apenas pode ser<br />
entendida como tal na relação que estabelece com a não-fronteira.<br />
Na fronteira, até então o lugar de relações características do modo de produção primitivo,<br />
desenvolvido pelos povos indígenas, passa a ser o espaço onde se encontram os diferentes: índios e<br />
civilizados; grandes proprietários de terras e posseiros pobres.<br />
Para Martins, a fronteira é<br />
um lugar de descoberta do outro e de desencontro (...) Não só o desencontro e o conflito decorrentes das<br />
diferentes concepções de vida e visão de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na<br />
fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado diversamente<br />
no tempo da História (1997, p. 150 e 151).<br />
O encontro e o desencontro são relações. Ambas extremamente diferentes e por isso antagônicas,<br />
mas não completamente excludentes, ao contrário, contraditórias. As relações do/no encontro podem<br />
desencadear as relações do/no desencontro, sendo o contrário também verdadeiro. Mas, tanto o encontro<br />
como o desencontro são apenas “novas” relações que se estabelecem entre grupos sociais e culturais com<br />
relações não-iguais.<br />
Na fronteira, as relações do encontro e do desencontro são propiciadas por duas frentes: frente<br />
de expansão e frente pioneira. Ambas, como seus modos de ser e de viver no espaço novo e, com<br />
relações diferentes, senão direta, mas camuflada, com modos de ser e de viver dos que ali primeiro<br />
estiveram, os índios. Ambas, nesse sentido, expressam relações diferentes de um mesmo processo.<br />
O encontro e o desencontro são gerados por haver, na fronteira, grupos culturais distintos, os<br />
quais possuem uma concepção de natureza e uma forma de produzi-la muito diferentes, o que leva ao<br />
antagonismo e aos, não raros, confrontos.<br />
Para buscar novos elementos para tornar essa discussão mais substancial proceder-se-á com a<br />
análise da incorporação da região de Jales às fronteiras demográfica (do chamado mundo civilizado) e<br />
econômica.<br />
2. Fronteira: chegada das frentes e violência.<br />
O processo de ocupação da MRG de Jales 161 , localizada no Noroeste do Estado de São Paulo é<br />
marcado por um período de mais de um século de predominância de relações características da frente de<br />
expansão, ou seja, de predomínio de uma economia de excedente, sem que tenham ocorrido alterações<br />
significativas na organização espacial.<br />
Na região, somente em momento bem posterior é que o processo de ocupação tipicamente<br />
capitalista determinará acentuadas transformações na organização e no processo de produção, com a<br />
fundação de inúmeras cidades e, em seguida, a criação de novos municípios para facilitar a reprodução<br />
ampliada do capital, com a integração dessa área à economia de mercado.<br />
A partir de meados do século XIX, a cultura do café ganha importância na economia nacional; o<br />
café transforma-se no principal produto de exportação e a cafeicultura torna-se, um fator dinamizador do<br />
processo de povoamento do Estado de São Paulo.<br />
A expansão da cafeicultura e a conseqüente ocupação de novas zonas foram acompanhadas de<br />
perto pela implantação das estradas de ferro.<br />
A primeira etapa do processo de ocupação capitalista da Microrregião Geográfica de Jales deu-se<br />
no século XIX, com a chegada de um pequeno contingente demográfico que se deslocou, principalmente,<br />
161 A Microrregião Geográfica de Jales abrange uma área de 3.473Km2, sendo constituída por 23 municípios, quais sejam: Aparecida<br />
d’Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Pontalinda,<br />
Populina, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São<br />
Francisco, Três Fronteiras, Urânia e Vitória Brasil.
LOCATEL, C. D.<br />
Fronteira: natureza e cultura.<br />
das Minas Gerais. Os fatores condicionantes desse processo migratório foram, por um lado, a crise da<br />
mineração, e, por outro, o comércio de gado entre Mato Grosso e São Paulo, a Guerra do Paraguai, a<br />
disponibilidade de terras e a expansão da cafeicultura pelo Planalto Ocidental Paulista.<br />
Sobre esse deslocamento da população das Minas Gerais, Monbeig (1984) destaca que<br />
a maioria desses imigrantes [fixaram-se] nos municípios onde o café já estava solidamente implantado;<br />
outros, porém, tinham ocupado regiões mais longínquas, onde poderiam mais facilmente continuar a viver,<br />
conforme seus hábitos de criadores, acostumados aos grandes espaços (MONBEIG, l984,p.l33).<br />
Ainda, como fator influente nesse processo migratório, não só para essa região, como para todo o<br />
Oeste Paulista e também o Norte do Paraná, foram as mudanças na política de distribuição de terras.<br />
Com a extinção do regime de sesmarias, em 1822, até 1850, quando foi promulgada a Lei de<br />
Terras, não havia legislação que regulamentasse o acesso à terra, o que provocou a ampliação do<br />
estabelecimento de posses. Na segunda metade do século XIX, com o enfraquecimento do regime de<br />
trabalho cativo, houve uma intensificação na apropriação (ilícita) da terra pelos grandes fazendeiros, que<br />
as registravam, quando necessário e possível, como sendo anterior à promulgação da Lei, aproveitando-se<br />
da brecha deixada pela legislação.<br />
Considerando os mecanismos de apropriação da terra, Ribeiro sustenta que<br />
cada sociedade define propriedade de acordo com cultura, poder, força política vigente, O direito de<br />
propriedade da terra, em muitas épocas e em várias culturas, foi transitivo, parcial, acordado com outros<br />
direitos complementares. É, portanto, completamente diferente do direito pleno descrito para o campo<br />
brasileiro que generalizou-se no século XX, quando a terra passou a ser expressão da vontade do seu dono e<br />
equivalente de ativo financeiro (1997, p. 14).<br />
Esse quadro se consolidou, no século XX, como resultado do impacto causado pela Lei de<br />
Terras, de 1850, que servia como anteparo estabilizador para o controle fundiário. Conseqüentemente, no<br />
final do século XIX, na lavoura de café, no Estado de São Paulo, a terra tomou-se “cativa”, o que<br />
possibilitou a abolição da escravatura. A abolição da escravatura só se concretizou quando a propriedade<br />
privada da terra era negociada com freqüência e sua mercantilização assegurava o controle dos<br />
cafeicultores sobre os não-proprietários, que se tornariam trabalhadores conforme aponta Martins (1979)<br />
e Silva (1980).<br />
Assim, não se pode apontar um único fator para o processo de ocupação da região de Jales. Há<br />
que se considerar o contexto sócio-econômico e político para se entender o processo de espacialização da<br />
frente de expansão no século passado.<br />
As terras sobre as quais está a microrregião de Jales, corresponde aproximadamente à área da<br />
imensa gleba denominada Fazenda “São José da Ponte Pensa”, com 503.360 hectares. Segundo consta<br />
dos altos de uma Ação Ordinária de Reivindicação de Posse, que correu na comarca de Votuporanga,<br />
movida em 1943 por supostos herdeiros, esta área pertenceu, primeiramente, em forma de posse a um<br />
único fazendeiro de Minas Gerais, que supostamente teria estabelecido essa posse por volta de 1830,<br />
logo, antes da promulgação da Lei de Terras.<br />
Diante da dimensão da gleba empossada, o fazendeiro, através de “contratos” de agregamento,<br />
introduz na área algumas famílias e ex-escravos que construíam algumas benfeitorias e cultivavam<br />
pequenas roças de subsistência, garantindo ao então posseiro o direito sobre a terra, que voltou para seu<br />
Estado de origem em 1876 e nunca legalizou a posse da fazenda.<br />
Desde o estabelecimento da posse até por volta de 1920, essa área servia apenas para a produção<br />
de subsistência para os agregados e para os pequenos posseiros, que acabaram se estabelecendo na região<br />
no decorrer de quase um século.<br />
Outro aspecto que merece ser salientado, que é resultante da ocupação de áreas de fronteiras, é a<br />
violência.<br />
O processo de ocupação/incorporação à produção mercantil das terras da região de Jales não se<br />
deu de forma diferente de todo o Oeste. A violência marcou o processo de incorporação dessas terras ao<br />
mercado. Nesse sentido, Azevedo referindo-se a ocupação da Noroeste, ressalta que<br />
165
166<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
para que se imprimisse o cunho do trabalho e da ocupação direta das vastas regiões inabitadas (...), a tarefa<br />
inicial do desbravador, auxiliado e estimulado pela via férrea, na sua obra de colonização teria que exprimirse<br />
por uma violenta posse da terra, e consistia por alargar por esses páramos o domínio da ação individual,<br />
multiplicando as apropriações novas no incomensurável campo das riquezas apropriáveis; generalizando<br />
extensivamente o direito de propriedade, antes de decompô-lo pelos métodos intensivos... (1958, p. 96-7<br />
apud BORGES, 1997, p37).<br />
O processo de ocupação de todo o Oeste Paulista, inclusive da região de Jales, foi marcado por<br />
um processo extremamente violento, que coloca em conflitos, na fronteira, dois tempos históricos<br />
diferentes, já no momento da chegada da frente de expansão, como enfatiza Martins (1997).<br />
Antes da chegada da frente de expansão, a região era ocupada por vários grupos indígenas de<br />
língua Kaingáng. Os indígenas desapareceram rapidamente ao contato com o “colonizador”, quer pelo<br />
contágio de patologias, quer no conflito armado, que provocou o extermínio de grupos inteiros.<br />
Especificamente sobre a região não há registros de confrontos entre índios e a população da<br />
frente de expansão. O registro mais próximo desse conflito é apontado por Ribeiro (1970) na região de<br />
Araçatuba, durante a construção da E. F. Noroeste do Brasil.<br />
Em 1905 ocorreu o primeiro ataque (que foi registrado) dos índios (...) contra a turma de um agrimensor. (...)<br />
nos anos seguintes, contra as turmas da estrada e contra agrimensores (...). Uma comissão de sindicância<br />
criada para estudar os conflitos verificou que quase todos êsses ataques resultaram em menos de quinze<br />
mortos de civilizados. Em contraposição, nessa época, foram realizadas diversas chacinas que levaram a<br />
morte à aldeias inteiras dos Kaingáng, reavivando o ódio e dando lugar a novas represálias (RIBEIRO, 1970,<br />
p. 120-130).<br />
Assim, os primeiros a sofrerem com a expansão do modo de produção capitalista foram as<br />
populações “nativas”, que tiveram seus direitos e sua integridade física e moral violadas, ao serem<br />
expropriados para que se estabelecesse o modo de vida ditado pela frente de expansão.<br />
Na região Noroeste do Estado de São Paulo, mesmo não havendo registros oficiais do conflito<br />
entre os “brancos” e indígenas, no momento da ocupação, o processo de expulsão da população nativa<br />
não foi diferente das demais regiões. Recentemente, descobriu-se na região um cemitério indígena, este<br />
sítio arqueológico comprova a presença desse povo antes da expansão capitalista.<br />
Para Martins,<br />
a fronteira, a frente de expansão da sociedade nacional sobre territórios ocupados por povos indígenas, é um<br />
cenário altamente conflitivo de humanidades que não forjam no seu encontro o Homem e o humano idílicos<br />
da tradição filosófica e das aspirações dos humanistas. A fronteira é, sobretudo, no que se refere aos<br />
diferentes grupos dos chamados civilizados que se situam ‘do lado de cá’, um cenário de intolerância,<br />
ambição e morte. É, também, lugar da elaboração de uma residual concepção de esperança, atravessada pelo<br />
milenarismo da espera no advento do tempo novo, um tempo de redenção, justiça, alegria e fartura. O tempo<br />
dós justos. Já no âmbito dos diversos grupos étnicos que estão ‘do outro lado’, e no âmbito das respectivas<br />
concepções do espaço e do homem, a fronteira é, na verdade, ponto limite de territórios que se definem<br />
continuamente, disputados de diferentes modos por diferentes grupos humanos. Na fronteira, o chamado<br />
branco e civilizado é relativo e sua ênfase nos elementos materiais da vida e na luta pela terra também o é<br />
(1997,p. 11-12).<br />
Martins (1975) afirma que a frente de expansão compreende a faixa entre a fronteira<br />
demográfica e a fronteira econômica — que no Brasil não coincidem; embora sendo povoadora, não<br />
chega a constituir-se uma frente pioneira, porque sua organização produtiva não está estruturada a partir<br />
de relações com o mercado.<br />
Por outro lado, a economia dessa faixa não pode ser classificada como economia natural, pois dela saem<br />
produtos que assumem valor de troca na economia de mercado. Trata-se de uma economia de excedente,<br />
cujos participantes dedicam-se principalmente à própria subsistência e secundariamente à troca do produto<br />
que pode ser obtido com os fatores que excedem as suas necessidades. (MARTINS, 1975, p. 45).
LOCATEL, C. D.<br />
Fronteira: natureza e cultura.<br />
Outro aspecto observado por este autor é o fato da frente de expansão ser formada por uma<br />
população não incluída na fronteira econômica. Neste sentido, tem lugar e tempo o conflito e a<br />
austeridade, sendo secundária a dimensão econômica.<br />
No entanto, a frente de expansão pode ser constituída por uma grande diversidade de atores, de<br />
atividades econômicas e de relações sociais específicas: “há uma espécie de burguesia de fronteira que<br />
muitas vezes toma a iniciativa pela expansão desses modos marginais de produção e desproporcional<br />
distribuição de mercadorias trazidas de fora” (MARTINS, 1997, p. 192).<br />
Já nas primeiras décadas do século XX, inicia-se um intenso processo de transformação na<br />
organização do espaço nessa região, através da “indústria da grilagem”. As duas primeiras décadas deste<br />
século são marcadas pela disputa pela posse da terra, envolvendo posseiros, grileiros e o Estado. Este<br />
processo de transformação da posse da terra em propriedade capitalista, foi desencadeado pela expansão<br />
da cafeicultura e a conseqüente valorização das terras nas chamadas “zonas novas”, conforme aponta<br />
Muramatsu (1984).<br />
Em 1914, o Estado, através do poder judiciário, legaliza a posse da terra nessa região com o<br />
reconhecimento jurídico de dois grileiros como sendo herdeiros de Patrício Lopes de Souza - o fazendeiro<br />
mineiro que havia estabelecido posse da área no século passado. Os dois novos personagens que surgiram<br />
do nada na história do lugar eram empresários bem sucedidos - um farmacêutico em Araçatuba e o outro<br />
advogado em São José do Rio Preto - e em 1912, cada um deles entrou, em suas respectivas cidades, com<br />
uma ação ordinária reivindicando a posse da terra usando o argumento de que eram herdeiros legítimos de<br />
Patrício. Quando tomaram ciência de que corriam paralelamente os processos, os dois, por serem<br />
falsários, fizeram um acordo retirando as ações individuais e fundaram uma sociedade denominada Gloria<br />
& Furquim que, em 1914, entra na justiça reivindicando a posse da fazenda, apresentando os dois como<br />
sendo sobrinhos netos do Mineiro.<br />
Portanto, feita a legalização das terras dentro das normas estabelecidas pelo Estado, isto é, feita a<br />
transformação da posse em propriedade privada da terra, a Ponte Pensa estava pronta e livre para ser<br />
adquirida por quem quer que fosse, agora porém mediante compra. Bastava para isso a apresentação de<br />
capital para efetuar a compra, porém um bom capital, diga-se de passagem. Mas também, além de um bom<br />
capital, a possibilidade de aquisição destas terras contou com a influência que a burguesia cafeeira dispunha<br />
para movimentar a máquina do Estado em seu próprio benefício (MURAMATSU, 1984: 20).<br />
A partir da década de 30, além do processo de legalização de títulos da terra e sua posterior<br />
comercialização pelos grileiros, a região foi marcada por inúmeros conflitos envolvendo posseiros,<br />
grileiros, arrendatários e fazendeiros e, também, por movimento messiânico.<br />
Com a retomada da construção da ferrovia Alta Araraquarense, na década de 1930 (parada em<br />
São José do Rio Preto desde 1912/1910) e a expansão da cafeicultura, que começou a ser desenvolvida na<br />
região em 1942, há uma valorização das terras. Assim, ocorre a transformação das terras em mercadoria.<br />
Os posseiros e antigos agregados, que são componentes da frente de expansão, vão sendo desalojados<br />
para dar lugar aos novos proprietários, introduzidos pelo capital através das companhias de colonização e<br />
por grandes fazendeiros que começaram a retalhar e vender suas terras, com títulos duvidosos, em<br />
pequenos lotes.<br />
Dessa forma, temos a chegada da frente pioneira e a transformação da terra de trabalho em terra<br />
de negócio. Para Martins (1997) a concepção de frente pioneira imprime uma falsa idéia de que na<br />
fronteira se cria o novo, uma nova sociedade baseada no mercado e na contratualidade das relações<br />
sociais. A frente pioneira não representa apenas o deslocamento da população para áreas do território<br />
desocupadas, mas uma situação espacial e social que desencadeia um processo de reestruturação do modo<br />
de vida e mudanças sociais.<br />
Uma vez efetuada a expulsão do posseiro mediante processo de grilagem, a terra tornou-se livre e pronta<br />
para ser transformada em negócio lucrativo. Isto é, passou a ser uma mercadoria com trânsito aberto para ser<br />
comprada e vendida. A partir da década de vinte, mas principalmente a partir da crise de 1929, a terra passou<br />
a ser o centro de intensa especulação promovida por negociantes e grandes companhias de colonização<br />
particulares, nacionais e estrangeiras. Tanto nas zonas velhas, onde o retalhamento intensivo das antigas<br />
fazendas de café, como nas zonas novas, o negócio com a compra e venda de terras foi uma das mais<br />
espetaculares fontes de lucro que conheceu a sociedade brasileira (MURAMATSU, 1984: 28).<br />
167
168<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Para os fazendeiros, o retalhamento e a venda de parte de suas terras foi a saída encontrada para<br />
salvar seus capitais. Esse processo foi mediado pelas companhias de colonização e por investidores de<br />
outros setores que adquiriam as terras e as revendiam, com o pagamento parcelado, para ex-colonos do<br />
café os quais se dedicavam, como trabalho familiar, ao cultivo de gêneros alimentícios e a um produto de<br />
maior valor comercial - o algodão ou o café - o que lhes garantia a subsistência e o pagamento das<br />
parcelas referentes à compra da terra.<br />
Nesse sentido, a terra foi, na década de 1940, a principal mercadoria comercializada nessa<br />
região, que era vendida à pequenos cultivadores diretos, originando uma estrutura fundiária<br />
desconcentrada que se tomou uma das principais características da região.<br />
Assim, na década de 1950, esgota-se a área de fronteira na região de Jales com a incorporação de<br />
toda a terra ao modo de produção capitalista, ou seja, toda a área foi inserida ao processo de reprodução<br />
ampliada do capital.<br />
Para Martins,<br />
o tempo da reprodução do capital é o tempo da contradição; não só contradição de interesses opostos, como<br />
os das classes sociais, mas temporalidades desencontradas e, portanto, realidades sociais que se<br />
desenvolvem em ritmos diferentes, ainda que a partir das mesmas condições básicas. (...) As forças<br />
produtivas desenvolvem mais depressa do que as relações sociais; no capitalismo, a produção é social, mas a<br />
apropriação dos resultados da produção é privada. Essa contradição fundamental anuncia o descompasso<br />
histórico entre o progresso material e o progresso social (1997, p. 94).<br />
Dessa forma pode-se destacar que, tanto a frente de expansão quanto a frente pioneira fazem<br />
parte de um mesmo processo, porém apresentam relações extremamente diferentes. Fundamentalmente,<br />
esse processo tem como elemento central a necessidade de incorporação de novos espaços, destinando-os<br />
à reprodução ampliada do capital. Este, por sua vez, não elimina as formas e as relações anteriormente<br />
colocadas e sim, conserva-as e até as reproduz, mantendo os interesses e as relações tipicamente<br />
capitalistas como hegemônicas.<br />
Ao mesmo tempo em que a frente pioneira definiu sua hegemonia, coexistiram as relações<br />
sociais (e de produção) da frente de expansão e até as anteriores, contraditoriamente. Por isso, a relação<br />
entre ambas as frentes deve ser entendida como contraditória e não etapista.<br />
A frente de expansão é essencialmente um mundo criado pelo modo como se dá a inserção dos trabalhadores<br />
rurais, que produzem diretamente seus meios de vida, no processo de reprodução ampliada do capital. Nesse<br />
mundo, apesar da determinação capitalista de suas relações sociais, as concepções e valores precedem, na<br />
vida de seus membros, os interesses econômicos e a eles se sobrepõem (MARTINS, 1997,p. 186).<br />
Na frente pioneira, tem-se a expansão do capital, com a apropriação privada da terra, recriando,<br />
no terreno, os mecanismos da sua reprodução ampliada: infra-estrutura e mercado de força de trabalho.<br />
Mesmo na frente de expansão tendo-se relações mercantilistas, ainda não é possível extrair delas a renda<br />
capitalista da terra, pois a distância e as relações nela estabelecidas tomam-se um empecilho, de acordo<br />
com MARTINS (1997).<br />
Esse processo de expansão da fronteira, com toda a sua particularidade, é marcado por relações<br />
de encontro e desencontro que demonstram o antagonismo existente na fronteira entre as frentes de<br />
expansão e pioneira; nele se expressa as diferenças de um mesmo processo, as quais podem ser<br />
observadas na ocupação da Região Noroeste, assim como em todo o Oeste Paulista.<br />
3. Natureza e cultura na fronteira.<br />
O processo de expansão da fronteira coloca em contato realidades distintas e os homens, nela<br />
inseridos, diante de um mundo desconhecido, que lhes causa medo e insegurança, reagem contra o novo.<br />
Isso os coloca em posição de defesa, ou seja, o que é externo àsua realidade, ou lhe é desconhecido, é<br />
hostil.
LOCATEL, C. D.<br />
Fronteira: natureza e cultura.<br />
Dessa forma, para os componentes das frentes a natureza deveria ser dominada e transformada,<br />
quase como se fosse uma tarefa divina, pois esta seria a única forma de sobreviverem e estabelecerem um<br />
equilíbrio harmonioso entre o homem e a natureza, já que esta última, no seu estado selvagem era hostil e<br />
até agressiva. Sendo assim, o domínio do homem sobre a natureza através da aplicação de técnicas, sejam<br />
elas quais forem, é concebido como benéfico 162<br />
A natureza externa, na fronteira, é vista como o reino dos objetos e dos processos que existem<br />
fora da sociedade, assim ela é vista como primitiva. A natureza primitiva e selvagem é a matéria-prima da<br />
qual a sociedade é construída, a fronteira que o capitalismo tem que dominar para apropriar-se. Dessa<br />
forma concebe-se a natureza como algo que está esperando para ser internalizada no processo de<br />
produção social. Por outro lado, nas áreas de fronteira, a natureza é também concebida como universal,<br />
pois a natureza humana, na qual está implícito que os seres humanos e seus comportamentos, inclusive o<br />
anseio de dominar a natureza selvagem, são tão naturais quanto os aspectos dito externo 163 .<br />
No entanto, aí reside um ponto importante a ser explorado que é a inserção da população<br />
indígena nessa concepção de natureza. Para os que chegavam na fronteira, principalmente os<br />
componentes da frente pioneira, o indígena era visto como selvagem. Logo este era classificado como<br />
parte da natureza exterior, o que o colocava na condição de algo que deveria ser dominado, subjugado e<br />
até eliminado, se fosse necessário, pois este elemento da natureza selvagem representava uma ameaça ao<br />
estabelecimento do equilíbrio harmonioso entre o homem “civilizado” e a natureza.<br />
Essa concepção do indígena, no processo de incorporação do Noroeste Paulista e da região de<br />
Jales à economia de mercado é a mesma descrita por Smith na ocupação do Oeste dos EUA. O autor<br />
enfatiza que “o sertão é a antítese da civilização; ele é estéril, até mesmo sinistro, não tanto por ser a<br />
morada do selvagem, mas por ser seu habitat ‘natural’. O natural e o selvagem era uma coisa só; eles<br />
eram obstáculos a serem vencidos na marcha do progresso e da civilização” (SMITH, 1988. p. 37).<br />
Essa percepção, na região de Jales, esteve tão arraigada no imaginário coletivo da época que,<br />
Monbeig (1952), em seu trabalho “Pionniers et Planteurs de São Paulo” 164 , analisando os impactos da<br />
crise de 1929 sobre a economia cafeeira, refere-se a região situada àoeste de São José do Rio Preto como<br />
far west.<br />
A oposição e até repúdio é próprio da fronteira, onde diferentes “tempos” e diferentes culturas se<br />
encontram. Assim, essa visão de natureza hostil, nela incluída a população indígena, tinha sua função<br />
social, que era de legitimar o ataque à natureza. “A hostilidade da natureza exterior justificava sua<br />
dominação e a moralidade espiritual da natureza universal fornecia [fornece] um modelo para o<br />
comportamento social” (SMITH, 1988, p. 48).<br />
O conceito de natureza um produto social, que em conexão com o tratamento da natureza na área<br />
da fronteira, tem uma função social e política. Da mesma forma, ainda que de maneira mais obscura que<br />
no período de ocupação da região de Jales, “o conceito moderno de natureza tem uma função semelhante.<br />
(...). Seja ou não hostil, o fato de exterioridade da natureza é o bastante para legitimar a dominação da<br />
natureza, de fato este próprio processo de subjugação veio a ser tratado como ‘natural”’ (SMITH, 1988,<br />
p.45).<br />
Para esse autor, o contraditório dualismo da natureza, hoje é menos importante que a função<br />
ideológica da concepção universal. Assim,<br />
a função escamoteada da concepção universal hoje é atribuir a certos comportamentos sociais o status de<br />
eventos naturais, pelos quais se quer significar que tais comportamentos e características são normais, dados<br />
por Deus, imutáveis. A competição, o lucro, a guerra, a propriedade privada, o erotismo, o heterosexualismo,<br />
o racismo, a existência de ricos e despossuídos, ou de ‘caciques e índios’ — a lista é infinita — tudo isso é<br />
considerado natural. A natureza e não a história humana é considerada responsável; o capitalismo é tratado<br />
não como historicamente contingente mas como produto inevitável e universal da natureza (...). O<br />
capitalismo é natural e lutar contra ele é lutar contra a natureza humana (SMITH, 1988, p. 46).<br />
162 Esta concepção dc domínio da natureza pelo homem está diretamente associada à Bacon. SMITH ressalta que ‘a concepção de natureza<br />
trazida por Bacon é explicitamente exterior à sociedade humana; ela é um objeto a ser dominado e manipulado” (1988, p. 30).<br />
163 Para SMITH, “em contradição à concepção exterior da natureza, a concepção universal inclui o humano com o não-humano” (1988, p.<br />
28). Para o autor esse dualismo conceitual da natureza não é absoluto, pois, por mais contraditório que essa concepção de natureza possa<br />
parecer, as mesmas são freqüentemente confundidas na prática e dificilmente poderão ser separadas. Para ele, as raízes históricas desse<br />
dualismo estão diretamente relacionadas à Kant e, em menor proporção, a tradição intelectual judaico-cristã.<br />
164 Publicado em Língua Portuguesa com o Título “Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo”, São Paulo, Hucitec, 1984.<br />
169
170<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Assim, devastação de recursos naturais, destruição de comunidades indígenas e comunidades<br />
“tradicionais” são legitimadas, pois a dominação de culturas inferiores e de povos não-civilizados —<br />
como os indígenas — ou menos civilizados — como os posseiros da frente de expansão — são<br />
inevitáveis na expansão do modo de produção capitalista, sendo assim, são processos naturais.<br />
Isso nos remete ao conceito de cultura, que aqui só será reforçado que não existe inferioridade<br />
entre culturas, o que existe são diferenças. As tentativas de apontar sistemas culturais lógicos (superiores)<br />
e sistemas pré-lógicos (inferiores) não possuem qualquer confirmação empírica. “Todo sistema de cultura<br />
tem sua própria lógica e não passa de ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um<br />
sistema para outro” (LARAIA, 1989, p. 90). O autor destaca ainda que existem tendências a considerar<br />
lógico os elementos da própria cultura, enquanto que os demais apresentam um alto grau de<br />
irracionalidade e acrescenta que “a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisado a partir do<br />
sistema a que pertence” (LARAIA, 1989, p. 90).<br />
A legitimidade atríbuída à destruição da cultura indígena (e também da sociedade e dos próprios<br />
índios) apóia-se na tendência de se atribuir às chamadas “sociedades simples” um caráter de estabilidade.<br />
No entanto, essa é uma visão totalmente falsa, pois o homem organizado em sociedade, seja ela qual for,<br />
tem a capacidade de refletir sobre seus próprios hábitos e modificá-los, da mesma forma, pode-se fazer<br />
com os problemas relacionados ao seu habitat, o que imprime um caráter dinâmico a todas as culturas e<br />
conseqüentemente na produção da natureza 165 .<br />
Dessa forma, a floresta encontrada na região de Jales, ao contrário do que se imaginava na época<br />
de sua ocupação, apresentava-se bastante antropogenizada. Pode-se afirmar isso se baseando nas<br />
descrições dos naturalistas que estudaram essa região e em afirmações como as de Monbeig (1984), que<br />
aponta os índios como verdadeiros pioneiros (no sentido restrito da palavra), pois foram os primeiros a<br />
queimar a mata e a aproveitar o solo para suas culturas. Assim, pode-se afirmar que a natureza da região,<br />
há 150 anos, antes da ocupação pelos componentes da frente de expansão, já era pouco natural (no sentido<br />
de não ter havida ação humana), pois a concentração artificial de certas espécies vegetais poder ter<br />
influído na distribuição de espécies animais que tinham nelas suas fontes de alimentos. Diante disso,<br />
pode-se considerar a floresta existente, no momento da ocupação pela frente de expansão, como produto<br />
social resultado da manipulação muito antiga da fauna e da flora, logo, produto de uma cultura 166 .<br />
Sobre os grupos indígenas dessa região pouco se sabe. Monbeig (1984), ressalta que<br />
quase sempre violentos foram os contatos que mantiveram com os brancos e pouco sabemos sobre a<br />
localização dos principais grupos e seus gêneros de vida (...) Muito má foi a fama deixada pelos<br />
caingangues. Sem armamento, com grandes arcos de pontas freqüentemente revestidas de ferra, asseguravam<br />
a supremacia como caçadores. Em seus acampamentos, sempre se encontravam quartos de animais e<br />
pedaços de peixes. Bem sabiam os sertanejos reconhecer um desses abrigos de caça, como os caingangues os<br />
construíam, para ficar à espreita. Viviam em clareiras abertas junto dos riachos, onde dispersavam suas<br />
cabanas, distantes de vinte a cem metros umas das outras, ligadas por veredas bem conservadas. (...)<br />
Encontraram os exploradores choças abandonadas, vestígios de culturas e nada mais. Entretanto, a<br />
construção de agrupamentos de habitações relativamente importantes, o estabelecimento de caminhos em<br />
bom estado de conservação indicam certa estabilidade do habitat (1984, p. 130).<br />
Assim o que se verifica é a existência de uma natureza antropogênica, ou seja, uma natureza<br />
produzida. Este componente antropogênico da natureza, que foi totalmente desconsiderado pelos que<br />
chegavam na fronteira, tornou-se o pivô de confrontos sangrentos que levaram a extinção do humano na<br />
natureza exterior. A esse respeito Monbeig (1984) descreve que<br />
a penetração primeira chocou-se com uma rude oposição. Ficavam os índios à espreita dos desbravadores,<br />
aproveitando-se da desatenção destes para atacá-los, apoderar-se de suas armas e utensílios, carregando tudo<br />
que podiam encontrar em suas pobres casas. Eram assinaladas essas razias por atrozes morticínios, a<br />
165<br />
Ver DESCOLA, Philippe. Ecologia e Cosmologia. Versão sintetizada e revista das conferências Lourat, Collàge de France, 4 e 11 de<br />
abril de 1996. Tradução de Maria da Graça Leal.<br />
166<br />
Para SMITH, “a idéia da produção da natureza é paradoxal, a ponto de parecer absurda, se julgada pela aparência superficial da natureza<br />
(...). A natureza geralmente é vista como sendo precisamente aquilo que não pode ser produzido; é a antítese da atividades produtiva humana.<br />
Em sua aparência mais imediata, a paisagem natural apresenta-se a nós como substratum material da vida diária (...) esse substratum material<br />
torna-se cada vez mais o produto social” (SMITH, 1988, p. 67).
LOCATEL, C. D.<br />
Fronteira: natureza e cultura.<br />
flechadas e facada. Por seu turno, respondiam os pioneiros aos ataques dos índios com igual brutalidade.<br />
Especializavam-se alguns dentre eles na organização de expedições punitivas, as dadas. Esses caçadores de<br />
índios, os bugreiros, eram conhecidos em todo o sertão, pois se deslocavam de bom grado de um<br />
desbravamento para outro, a fim de empreender uma dada (MONBEIG, 1984,p. 131).<br />
Essa oposição foi tão forte que se tomou um dos elementos que frearam a expansão da fronteira<br />
econômica até o início do século XX, pois impedia o avanço da construção de vias de transporte e, foi<br />
somente com a organização de expedições “militares” (fortemente armadas), para proteger os<br />
trabalhadores, que esses empreendimentos avançaram, conforme destaca Monbeig (1984). Com essas<br />
ofensivas, tem-se o declínio definitivo dos indígenas, que sucumbiram aos ataques armados e também às<br />
epidemias contraídas no contato com os civilizados.<br />
Portanto, a marcha pioneira moderna (expansão da fronteira econômica) pois fim à obra de<br />
dizimação indígena, iniciada na época colonial. Nada restou dos antigos habitantes, a não ser de forma<br />
indireta.<br />
Contudo, alguns elementos da cultura indígena foram incorporados à cultura das frentes, como a<br />
técnica de agricultura de queimadas. Outro elemento que merece ser destacado é que a produção da<br />
natureza pela ação antrópica indígena (antropogenização da floresta) facilitou a penetração do<br />
colonizador, que se utilizou dos campos e trilhas resultantes das atividades das tribos. Dessa forma podese<br />
estabelecer estreitas relações entre o povoamento “moderno” incluído na fronteira e o precedente,<br />
externo à fronteira, ou ainda, do povoamento externo à natureza selvagem e o que dela faz parte.<br />
Outro aspecto da cultura indígena que foi recuperado é a língua que, segundo Monbeig (1984),<br />
se materializa na ressurreição erudita pelo batismo com nomes Tupis das cidades novas, de fazendas e<br />
riachos, nas áreas de fronteira 167 , como por exemplo as cidades de Paranapuã e Nova Canaã, na região de<br />
Jales. Isso demonstra o que representava o índio para o habitante da chamada frente pioneira: “uma<br />
recordação que entrou no domínio da legenda” (MONBEIG, 1984, p. 132).<br />
4. Algumas considerações finais.<br />
Na rápida análise aqui desenvolvida sobre natureza e cultura na fronteira, utilizando como<br />
exemplo empírico o processo de incorporação da região de Jales à economia de mercado, é possível<br />
perceber que a produção da natureza é um produto social, o que revela o esvaziamento do dualismo<br />
natureza/cultura.<br />
Assim, não se pode confundir produção da natureza com domínio sobre a natureza. Também não<br />
se pode considerar a produção da natureza como a complementação do domínio sobre ela, mas sim algo<br />
qualitativamente diferente 168 .<br />
Smith (1988, p. 104) ressalta que “a questão não é se ou em que extensão a natureza é<br />
controlada; esta é uma questão colocada na linguagem dicotômica da primeira e segunda natureza, do<br />
domínio ou não domínio (...) sobre a natureza. A questão realmente é como produzimos e quem controla<br />
esta produção”.<br />
O que é facilmente verificável é que a produção da natureza está diretamente associada com a<br />
lógica do sistema cultural de cada grupo e com a percepção que estes tem de si e da própria natureza, o<br />
que nos remete a considerar que não se pode conceber a existência de culturas superiores e inferiores.<br />
Contudo, o que predomina nas relações na fronteira é uma visão dualista, tanto da natureza,<br />
entendendo-a como natureza exterior e natureza universal, como também de natureza e cultura.<br />
Para se entender as relações que se estabelecem na fronteira, é necessário se ultrapassar esse<br />
dualismo e partir da premissa de que “existindo por si próprias ou definidas do exterior, produzidas pelo<br />
homem ou somente por ele percebidas, materiais ou imateriais, as entidades que constituem nosso<br />
universo só possuem um sentido e uma identidade através das relações que instituem enquanto tais”<br />
(DESCOLA, 1996).<br />
167 Entende-se que os indígenas e a natureza “intocada” só farão parte da fronteira a partir da chegada das frentes, que proporcionará os<br />
encontros e desencontros, pois até então esses elementos são esternos a ela.<br />
168 Ver SMITH, N. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro, Bertand Brasil, 1988.<br />
171
172<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Considerando que a fronteira ainda está aberta, pois o processo de expansão do modo de<br />
produção capitalista ainda está longe de se completar no Brasil e que é constituída por períodos temporais<br />
específicos – o da frente de expansão e o da frente pioneira — ainda ocorrerá muitos momentos de<br />
encontros e desencontros. Para Martins, a fronteira só se fecha “quando a História passa a nossa história,<br />
a histórica da nossa diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque somos<br />
antropofagicamente nós e o outro que devoramos ou nos devorou” (1997,p. 151).<br />
A fronteira, que poderia ser um momento único de descoberta do homem, é marcada por<br />
momentos trágicos de destruição e morte. Contudo, na fronteira, ou nas fronteiras ainda abertas, tudo está<br />
para ser construído na relação de vida que pode ser estabelecida com o outro e não na relação de<br />
destruição que até então se constituiu.<br />
5. Referências bibliográficas.<br />
BORGES, Maria Stela Lemos. Terra: ponto de partida, ponto de chegada: identidade e luta pela<br />
terra. São Paulo: Editora Anita, 1997. DESCOLA, Phulippe. Ecologia e Cosmologia. Versão sintetizada<br />
e revista das conferências Lourat, Collêge de France, 4 e 11 de abril de 1996. Tradução de Maria da<br />
Graça Leal.<br />
LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1989.<br />
LOCATEL, Celso D. O desenvolvimento da fruticultura e a dinâmica da agropecuária na região de<br />
Jales — SP. Presidente Prudente: UNESP/ <strong>FCT</strong>, 2000. (Dissertação de Mestrado).<br />
MARTINS, José de Souza. Capitalismo e Tradicionalismo: estudos sobre as contradições da<br />
sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975.<br />
MARTINS, José de Souza. Expropriação e Violência no Campo. São Paulo: Hucitec, 1980.<br />
______________________. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo:<br />
Hucitec, 1997. 213 p.<br />
______________________. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Hucitec, 1979.<br />
_______________________. O problema da migração no limiar do Terceiro Milênio. In: O fenômeno<br />
migratório no limiar do 3º milênio. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 19-34.<br />
MONBEIG, Pierre. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1984. 392 p.<br />
MURAMATSU, Luis N. As Revoltas do Capim (Movimentos Sociais-Agrários no Oeste Paulista -<br />
1959-1970). Dissertação de Mestrado em Sociologia. São Paulo: USP, 1984.<br />
RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização (A Integração das<br />
Populações Indígenas no Brasil Moderno). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.<br />
RIBEIRO, Eduardo Magalhães, et. al. História Rural e Questão<br />
Agrária. Lavras: UFLAIFAEPE, 1997.<br />
SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual. Rio de Janeiro: Bertand<br />
Brasil, 1988.
RURALIDADE NOS TERRITÓRIOS: O EXEMPLO DO ESTADO DO PARANÁ ∗<br />
Diânice Oriane SILVA ∗∗<br />
Rosângela Ap. de Medeiros HESPANHOL ∗∗∗<br />
Resumo: O presente artigo traz algumas reflexões acerca da ruralidade no Brasil e, em particular,<br />
no território paranaense. Procura evidenciar a pertinência de se considerar o território como<br />
recorte analítico e operacional para o planejamento de ações, públicas e/ou privadas, direcionadas<br />
ao desenvolvimento. Nesse contexto, o artigo foi estruturado em três partes. Na primeira, se<br />
procurou destacar alguns pontos do debate sobre o território e de como essa dimensão analítica<br />
está relacionado intrinsicamente com o mundo rural. O espaço rural é discutido na segunda parte,<br />
em que se tenta articular uma análise entre território, ruralidade e desenvolvimento. Na terceira<br />
parte, se apresenta uma proposta para o reconhecimento de espaços rurais no estado do Paraná.<br />
Palavras-chave: ruralidade; desenvolvimento; território paranaense.<br />
Resumen: El presente artículo presenta algunas reflexiones sobre la ruralidad en Brasil y, en<br />
particular, en el territorio paranaense. Objetiva evidenciar la pertinencia de considerar el territorio<br />
como recorte analítico y operacional para la planificación. En ese contexto, el artículo fue<br />
estructurado en tres partes. En la primera, se procuró destacar algunos puntos del debate sobre el<br />
territorio y de como esa dimensión analítica está relacionada intrínsicamente con el mundo rural.<br />
El espacio rural es discutido en la segunda parte, en la cual se trata de articular un análisis entre<br />
territorio, ruralidad y desarrollo. En la tercera parte se presenta una propuesta para el<br />
reconocimiento de espacios rurales en el Estado de Paraná.<br />
Palabras-llave: ruralidad; desarrollo; territorio paranaense.<br />
1. Algumas reflexões sobre a ruralidade.<br />
A partir da segunda metade do século XX, a agricultura passou por intensas mudanças em<br />
virtude da adoção do pacote tecnológico da Revolução Verde, estimulada pelo Estado brasileiro. Iniciouse,<br />
assim, um processo de tecnificação, com a utilização de insumos, corretivos, defensivos e maquinários<br />
agrícolas.<br />
Essa mudança na base técnica da agricultura ocasionou inúmeras alterações de ordem<br />
econômica, social e ambiental, tendo repercussões diretas, tanto no meio rural como no urbano.<br />
Nesse contexto, a ruralidade, entendida como uma construção social específica no conjunto<br />
societário enfatiza a importância de se estar tratando de um modo de ser e um modo de viver mediado por<br />
uma maneira singular de inserção nos processos sociais e no processo histórico, como assinala Martins<br />
(2000).<br />
Essa singularidade está presente nos estudos atuais de Ferreira e Jean (1999, p.67), quando<br />
afirmam que<br />
[...] le rural et l’urbain constitueraient deux ‘types idéaux’ de formes territoriales de la vie sociale, porteurs<br />
des singularités malgré la croissante interpénétration des deux mondes [...]<br />
∗ Texto publicado 2005 (n.12 v.1)<br />
∗∗ <strong>Doutor</strong>anda em Geografia pela <strong>FCT</strong>/UNESP, Campus de Pres. Prudente e membro do Grupo de Estudos Dinâmica Regional e<br />
Agropecuária – GEDRA.<br />
∗∗∗ Docente dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP de Pres. Prudente e coordenadora do GEDRA.
174<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Wanderley (1999) também observa que, a ruralidade/ o rural devem ser conhecidos nos seus<br />
termos e não em relação à cidade, apreendida como sua referência espacial, dela dependendo política,<br />
econômica e socialmente.<br />
Entretanto, a relação rural-urbano no âmbito da modernidade tem sido sistematicamente<br />
tensionada por um tipo de concepção que valoriza positivamente o urbano como o lócus privilegiado de<br />
realização do que é moderno e do progresso, e negativamente o rural, como o locus do que é tradicional e<br />
do que é atrasado.<br />
Não resta dúvida de que a maior parte das populações rurais tem vivido intensos processos de<br />
transformação tanto na base produtiva como na organização social, porém, tal processo ultrapassa o meio<br />
social rural e estende-se ao conjunto da sociedade.<br />
1. 1. O rural como categoria de análise.<br />
O mundo da modernidade tem se surpreendido pela manutenção, pela permanência, pela<br />
capacidade de transformação e de mudanças no mundo tradicional, neste caso entendido como o rural.<br />
Sistematicamente tem-se anunciado o fim do rural, pois se vêem nele vários atributos, econômicos,<br />
sociais e culturais, à margem da lógica capitalista, como que guardando resquícios de uma ‘velha ordem’.<br />
Nas duas últimas décadas do século XX, intensificaram-se os questionamentos sobre as<br />
transformações recentes ocorridas no meio rural. Nesse sentido, verifica-se que há duas perspectivas: de<br />
um lado, aquela que encontra cada vez mais indícios do desaparecimento das populações rurais e,<br />
portanto, da sujeição desse espaço social à hegemonia do processo de industrialização e de urbanização; e<br />
de outro, observando os mesmos processos, constata que o mundo rural não se reduz à homogeneização<br />
da sociedade contemporânea, ao contrário, as particularidades dos modos de vida que se desenrolam<br />
nesse espaço social – o rural - permitem que sejam observadas e constatadas as permanências, as<br />
reconstruções, as emergências de processos sociais e ambientais que dão especificidade a esta forma<br />
sócio-espacial que é a ruralidade.<br />
Esse trabalho se alinha de acordo com essa segunda perspectiva, que identifica as transformações<br />
profundas por que passa a sociedade no período atual, mas entende que o rural não se ‘perde’ nesse<br />
processo, ao contrário, reafirma sua importância e particularidade. Nos dizeres de Wanderley (2000), as<br />
diferenças espaciais e sociais das sociedades modernas apontam não para o fim do mundo rural, mas para<br />
a emergência de uma nova ruralidade.<br />
Desde os anos de 1980, a emergência de uma nova ruralidade vem sendo debatida tanto em<br />
âmbito nacional como internacional. Nesse sentido, vários estudiosos têm elencado os elementos que<br />
permitem repensar a importância, as especificidades e as particularidades do mundo rural. Neste contexto<br />
é que se observou o surgimento de alguns termos que procuram dar conta dessas mudanças, tais como: a<br />
emergência de uma nova ruralidade, o renascimento do rural, a ruralidade contemporânea, a valorização<br />
do meio rural, a resignificação do rural, etc.<br />
Assistiu-se, assim, a partir dos anos de 1990, ao que se poderia chamar de uma ‘redescoberta’ do<br />
rural enquanto categoria de análise passível de intervenções e interpretações. O debate sobre o tema<br />
reacendeu “velhas” discussões e trouxe novos parâmetros para se pensar as antigas e as novas questões do<br />
rural.<br />
Dentre as inúmeras análises realizadas, pode-se perceber que a dimensão territorial do rural<br />
tomou proporções significativas.<br />
Mas, por que essa ‘redescoberta’ do rural? No Brasil, o rural emerge não de um fato isolado, mas<br />
sim de uma conjuntura economicamente recessiva e do acirramento das lutas sociais. Internacionalmente,<br />
a reordenação jurídica, econômica e social posta em curso pela consolidação da União Européia<br />
constituiu-se num fórum privilegiado para as análises e propostas de desenvolvimento do rural. De um<br />
modo geral, pode-se dizer que o rural ganhou novas atribuições e significados no contexto de crise do<br />
modelo produtivista.<br />
A reflexão sobre o desenvolvimento, de uma maneira ou de outra, foi permeada pela questão da<br />
escala – global, nacional, regional, local. Esse olhar sobre o desenvolvimento acabou por mostrar a<br />
existência de uma economia de base agrícola dinâmica concomitante à percepção de uma diversificação<br />
nas funções do espaço rural.
SILVA, D. S.; HESPANHOL, R. A. M.<br />
Ruralidade nos territórios: o exemplo do Estado do Paraná.<br />
No que tange ao mundo rural, outras funções se desenvolveram, contribuindo para que as<br />
pequenas localidades, identificadas com o modo de vida rural, fossem valorizadas, como, por exemplo,<br />
com a ênfase na questão ambiental. A busca de alternativas menos agressivas, em termos ambientais, de<br />
crescimento econômico e a construção do conceito de desenvolvimento sustentável acabaram por lançar<br />
um olhar para experiências que pudessem ser modelos alternativos de produção, consumo e qualidade de<br />
vida.<br />
Paralelamente, a economia agrícola, particularmente a norte-americana, detentora de uma<br />
tecnologia cada vez mais sofisticada, intensifica a produção e introduz importantes modificações na<br />
organização do trabalho. Do ponto de vista teórico, o que acontece na economia agrícola norte-americana<br />
apresenta rebatimentos que se fazem presentes, particularmente quanto às características do part-time e da<br />
pluriatividade, como enfatiza Schneider (2003). Esses conceitos que, apesar de terem sido elaborados em<br />
outro momento histórico, tornam-se centrais na definição dos territórios, baseados na interpretação das<br />
atividades rurais e nos seus desdobramentos em termos econômicos, sociais, ambientais, culturais e<br />
políticos.<br />
A observação e a análise do rural migram do enfoque puramente setorial para o territorial. E não<br />
é por acaso que essas categorias de análise estarão recorrentemente sendo objeto de considerações teórica.<br />
O território assume um papel crescente como recurso analítico e como unidade de planejamento e<br />
intervenção, substituindo, gradativamente, a região.<br />
O movimento que o capital engendra, respaldado por uma tecnologia de informação e<br />
comunicação nunca vista antes, coloca de maneira avassaladora o global. Para o capital não há fronteiras<br />
físicas, e as fronteiras políticas, depois da queda do muro de Berlim, nunca mais foram as mesmas.<br />
Porém, em um aparente paradoxo, é nesse contexto que o espaço local ganha destaque.<br />
Diante desse movimento complexo, o local – recorte espacial de média e pequena dimensão –<br />
que apresenta um padrão de desenvolvimento, coloca-se em evidência. Não se deve esquecer que o local<br />
ganhou destaque na medida em que, no contexto de ineficácia das políticas estatais macroeconômicas e<br />
de desregulamentação, em que certos espaços, dentro dos países, tiveram uma inserção e um crescimento<br />
distintos de outros.<br />
A escala territorial passou então para o primeiro plano, em que o espaço local encontrou<br />
fervorosos defensores e detratores, porque, como bem colocou Vainer (2001/2002, p. 12), do “ponto de<br />
vista do pensamento social e político, desde o grande debate que aconteceu e acompanhou a I Guerra<br />
Mundial, a questão da escala de ação nunca se havia colocado com tanta centralidade”.<br />
Em meio às transformações em curso, um fato tornou-se evidente, sobretudo nos países<br />
desenvolvidos europeus: o rural ganhou outras funções, outros papéis, enfim outras conotações<br />
(MARTINS, 2000; JOLLIVET, 1998).<br />
O enfoque territorial permite pensar o desenvolvimento para além dos centros urbanos, onde os<br />
pequenos municípios são estrelas de uma constelação. Procurar entender as motivações e os processos<br />
que levaram a essa perspectiva analítica é poder refletir sobre o futuro, seja ele nas aglomerações urbanas,<br />
seja no espaço rural.<br />
O território, seja ele qual for, não é uma entidade que paira independente sobre a sociedade, mas<br />
um espaço em que as relações sociais são conferidas historicamente.<br />
Nesse sentido, deve-se levar em conta que não existe neutralidade no emprego da categoria<br />
território. Este, visto como o espaço da concentração e da harmonia, passou a ser a alternativa neoliberal<br />
na utilização de categorias analíticas que se contrapunham às categorias marxistas, especialmente aquelas<br />
relativas ao conflito capital/trabalho. Mais ainda, não são poucos os autores que fazem a apologia da<br />
categoria território, como a instância capaz de se superpor aos Estados Nacionais – entendendo isso como<br />
uma ‘virtude’.<br />
Essa idéia de território pode ser mais adequada à noção de um território em mudança, de um<br />
território em processo. Se o tomarmos a partir de seu conteúdo, uma forma-conteúdo, o território tem de<br />
ser visto como algo que está em processo. E ele é muito importante, pois é o quadro da vida de todos nós,<br />
na sua dimensão global, na sua dimensão nacional, nas suas dimensões intermediárias e na sua dimensão<br />
local. Por conseguinte, Santos (1999) ressalta que é o território que constitui o traço de união entre o<br />
passado e o futuro imediatos.<br />
175
176<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
A idéia de território expressa na abordagem de Santos (1999) permeou a elaboração desse<br />
artigo. O ponto motivador desse trabalho foi justamente compreender o papel do rural no território e na<br />
sociedade contemporânea, particularmente a paranaense.<br />
Essas observações sobre alguns dos elementos presentes na discussão do território, mesmo sendo<br />
parciais, abrem a possibilidade de avançar teórica e metodologicamente na compreensão do rural, que<br />
esta inserido em uma economia globalizada.<br />
Nesse sentido, buscou-se dimensionar o rural tendo em vista sua participação no(s) território(s) e<br />
no desenvolvimento.<br />
2. Agricultores familiares: parcela importante e significativa da população rural.<br />
Desenvolve-se, na atualidade, importantes pesquisas que tentam compreender a importância e o<br />
significado da agricultura e dos agricultores no meio rural. Isso por que, parte significativa da<br />
diversificação econômica e da pluriatividade têm sua origem nas famílias agrícolas. A pluriatividade não<br />
se constitui num processo de abandono da agricultura e do meio rural. Freqüentemente, a pluriatividade<br />
expressa a adoção de uma estratégia familiar, quando as condições o permitem, para garantir a<br />
permanência no meio rural e os vínculos mais estreitos com o patrimônio familiar.<br />
Para Wanderley (2001), as famílias, pluriativas ou não, são depositárias de uma cultura, cuja<br />
reprodução é necessária para a dinamização técnico-econômica, ambiental e sociocultural do meio rural.<br />
Da mesma forma, o ‘lugar’ da família, isto é, o patrimônio fundiário familiar, se constitui num elemento<br />
de referência e de convergência, mesmo quando a família é pluriativa e seus membros vivem em locais<br />
diferentes. Daí, a importância do patrimônio fundiário familiar e das estratégias para constituí-lo e<br />
reproduzí-lo, sobretudo em um processo que valorize a identidade territorial.<br />
Dentre os processos sociais em curso, há um que vem sendo desenvolvido por um segmento<br />
específico de agricultores familiares: a adoção do sistema produtivo da agricultura orgânica. Esta adoção<br />
que se traduz para os agricultores tradicionais num processo de conversão produtiva, para a maioria dos<br />
agricultores neorurais é o início de sua trajetória na agricultura. Entretanto, esta é uma estratégia que tem<br />
permitido a viabilização de um projeto de vida no meio social rural.<br />
Ao enfocarmos em nossa análise a produção familiar, enfatizamos que esta sempre foi vista à<br />
margem, secundária perante o latifúndio, como unidade precária, de subsistência, etc., e que, a grande<br />
propriedade “que recebeu o estímulo social expresso na política agrícola, que procurou modernizá-la e<br />
assegurar sua reprodução” (WANDERLEY, 2001, p. 38).<br />
Desta forma, constata-se que a agricultura familiar sempre ocupou um lugar secundário na<br />
sociedade brasileira, como enfatiza Wanderley (2001, p.38), constituindo-se “[...] historicamente como<br />
um setor ‘bloqueado’, impossibilitado de desenvolver suas potencialidades enquanto forma social<br />
específica de produção”.<br />
Porém, essa forma de descaso dos sucessivos governos em relação à produção familiar, trouxe<br />
graves conseqüências sociais para o país, refletindo-se por meio da expansão de movimentos sociais pela<br />
terra.<br />
De acordo com Hespanhol (2000), a agricultura familiar na década de 1990 passou a ser um dos<br />
temas centrais da questão agrária brasileira, não apenas nos meios acadêmicos como também<br />
governamentais, pelo papel desempenhado por tais produtores para o desenvolvimento do país.<br />
Entre os vários aspectos abordados referentes à agricultura familiar no período, ganharam<br />
expressividade os relacionados à inserção social e econômica dessas explorações familiares; a<br />
pluriatividade das unidades produtivas; os impactos decorrentes das políticas públicas destinadas a tais<br />
produtores, em especial o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); a<br />
questão do desenvolvimento local; as organizações sociais como associações e cooperativas; e as<br />
estratégias de reprodução social dessa categoria de produtores rurais.<br />
Diante do exposto, pode-se dizer que as diversidades espacial, ambiental, populacional e cultural<br />
são variáveis importantes na compreensão dessa categoria de análise. Essa diversidade ganha forma e<br />
função no espaço-tempo (SANTOS, 1993; 1999), nascendo aí os territórios.
SILVA, D. S.; HESPANHOL, R. A. M.<br />
Ruralidade nos territórios: o exemplo do Estado do Paraná.<br />
Os territórios operados como unidades de planejamento voltadas para a promoção do<br />
crescimento econômico e do desenvolvimento social reconhecem a diversidade como condição do<br />
desenvolvimento.<br />
Assume-se que a noção de território tomada não como panacéia, trás em si a possibilidade de<br />
considerar a desigualdade, seja econômica, seja cultural.<br />
Ao se ter claro que a categoria território possibilita intervenções que promovam o<br />
desenvolvimento, no sentido de eqüidade e cidadania, é possível superar o modismo ‘localista’.<br />
A idéia de território contribui para uma ação conseqüente voltada para o desenvolvimento, mas é<br />
preciso compreender o papel do rural no território, percebendo que o “espaço local é, por excelência, o<br />
lugar da convergência entre o rural e o urbano; um programa de desenvolvimento local não substitui o<br />
desenvolvimento rural, mas o incorpora como parte integrante” (WANDERLEY, 2001, p. 52).<br />
Reconhecer que o mundo rural é o repositório de um modo de ser, é reconhecer que<br />
[...] As populações rurais, mais do que instrumentos da produção agrícola, são autoras e consumidoras de um<br />
modo de vida que é também um poderoso referencial de compreensão das irracionalidades e contradições<br />
que há fora do mundo real. (MARTINS, 2000, p. 64)<br />
O desafio da promoção do desenvolvimento no território deve levar em conta a totalidade da<br />
realidade. Essa totalidade significa contemplar o particular: a realidade local subsiste, convivendo com os<br />
elementos do mundo globalizado.<br />
O rural, assim entendido, deixa de ser o espaço, por excelência da produção agrícola. Alarga-se<br />
sua compreensão, envolvendo também as pequenas e médias cidades. O modo de ser rural se faz presente<br />
no campo e na cidade e passa a ser denominado ruralidade.<br />
O conceito de ruralidade está em construção e permite um emprego sintonizado com<br />
pressupostos do desenvolvimento.<br />
A ruralidade, tal qual o território, representa a oportunidade de incluir, ampliar, absorver o que<br />
tem se mantido fora, alargando horizontes, não naturalmente, mas dependentemente da decisão política a<br />
ser tomada.<br />
3. Ao encontro dos territórios: o rural paranaense.<br />
As mudanças na estrutura produtiva do Norte do Estado do Paraná, instauradas a partir da década<br />
de 1970, provocaram transformações, desencadeadas por um intenso movimento do capital urbanoindustrial<br />
no campo.<br />
Tais mudanças interferiram na base técnica da produção agropecuária em virtude: da introdução<br />
de novos cultivos; da expansão dos complexos agroindustriais; do sistema cooperativo agrícola e de<br />
crédito; das alterações nas relações sociais de produção, com a expansão do trabalho assalariado no<br />
campo – os bóias-frias; da concentração da propriedade fundiária; e, dos novos mecanismos de<br />
circulação.<br />
São estes alguns dos elementos necessários ao entendimento da expansão das relações de<br />
produção capitalista no campo, submetendo a produção agropecuária à lógica de produção e reprodução<br />
do capital industrial.<br />
Nesta seção, propõe-se lançar um olhar sobre o Estado do Paraná, observando a questão da<br />
ruralidade. Como o território conforma-se no tempo, sua dimensão é histórica. No entanto, a diversidade<br />
econômica e social presente na sociedade paranaense propicia o reconhecimento de territórios<br />
construídos, cujo processo histórico imprimiu uma marca, e territórios por construir, onde as identidades<br />
culturais encontram-se dispersas.<br />
Abramovay (2000, p. 02) faz importantes discussões sobre a ruralidade ao afirmar que<br />
[...] o meio rural inclui o que no Brasil chamamos de ‘cidades’ – em proporções que variam segundo<br />
diferentes definições, abrindo caminho para que se enxergue a existência daquilo que, entre nós, é<br />
considerado uma contradição nos termos: cidades rurais.<br />
177
178<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
As ruralidades são uma das formas complexas de modificação do espaço, fruto de uma expansão<br />
capitalista e, podem ser observadas nas cidades. Destaca-se, por exemplo, o modo de vida das pessoas<br />
que realizam pequenos cultivos agrícolas no interior das cidades e pela atividade eminentemente agrícola<br />
praticado por moradores residentes no espaço urbano, como ressaltou Wanderley (2001). Esses tipos de<br />
ruralidades são comumente encontrados nas cidades do norte do Paraná.<br />
O território quando conformado historicamente, possui maior visibilidade. O que leva o<br />
planejamento público ou privado, e mesmo a sociedade, a reconhecê-lo em suas particularidades. O<br />
território histórico, além de legítimo, é legitimado pela ação pública quando o reconhece. Por outro lado,<br />
os espaços ainda por se fazerem territórios devem ser também objeto da ação pública. Para tanto, o<br />
planejamento deverá incentivar e fortalecer as manifestações que o particularizam, mesmo que de forma<br />
incipiente.<br />
A cultura é indissociável de um sentimento de pertencimento (WANDERLEY, 2001). O agir<br />
humano cristaliza-se na identidade com o lugar em que vive – criando uma relação com o território. O<br />
território permite recortes analíticos, horizontais e verticais. Passando para o plano concreto, há situações<br />
em que o território ultrapassa os limites estaduais, como por exemplo, os parques e reservas.<br />
Os consórcios municipais constituem exemplos de um planejamento para além do município,<br />
visando maior racionalidade de recursos humanos e financeiros no desenvolvimento de políticas pontuais,<br />
um arranjo arbitrário e que, não necessariamente, abrange um território em sua totalidade.<br />
Desta forma, está-se admitindo duas situações distintas como referência e/ou construção dos<br />
territórios paranaenses: uma baseada em territórios históricos (reconhece-se o território e legitima-o para<br />
a ação pública), e outra em que, na ausência de uma condição histórica, criam-se territórios a partir de<br />
critérios preestabelecidos (construção de territórios para ação pública).<br />
Faz sentido pensar o rural no território quando se percebe que a sociedade paranaense reconhece<br />
determinados espaços como culturalmente diferenciados. Como exemplos, podem ser citados o litoral; o<br />
Vale do Ribeira; o caminho dos tropeiros; o sudoeste. Esse reconhecimento tem a ver com o processo de<br />
ocupação do território; tem a ver com sua história.<br />
Se, por um lado, o reconhecimento dos aspectos históricos, sociais e políticos, que conformam o<br />
patrimônio cultural de um território, dependem de diagnóstico específico, por outro lado, podem se<br />
estabelecer procedimentos de reconhecimento territorial anteriores ao do patrimônio cultural. É possível<br />
uma aproximação dos territórios a partir das estatísticas oficiais, que permitem organizar o espaço<br />
paranaense segundo os critérios definidos.<br />
Para dimensionar o rural paranaense serão utilizados os dados do Censo Demográfico 2000 –<br />
IBGE, na qual os dados foram desagregados por município, e as variáveis utilizadas foram população e<br />
ocupação.<br />
Adotou-se como critério para a definição dos espaços rurais, municípios cuja população total é<br />
de até 20 mil habitantes. Esse corte tem sido utilizado por vários organismos. No Brasil, Martine; Garcia<br />
(1987), entre outros, propõem considerar como cidades as aglomerações superiores a 20 mil habitantes.<br />
Entende-se que esse limite abrange e capta uma realidade essencialmente rural de um número expressivo<br />
de municípios paranaense. Agrega-se ao critério de tamanho da população e densidade demográfica.<br />
Nesse caso, adotou-se o critério proposto por Veiga (2002) para definir municípios de pequeno<br />
porte. Essa medida é conferida pela densidade demográfica inferior a 80 habitantes por km 2 .<br />
Complementarmente, adotou-se também como critério a variável população economicamente ativa (PEA)<br />
ocupada na agropecuária e ocupações industriais de base agrícola.<br />
Nesse estudo, foram excluídas da análise as aglomerações urbanas, por entender-se que estas<br />
possuem uma dinâmica particular. O rural das aglomerações urbanas deve ser analisado por uma<br />
metodologia que possa captar as suas especificidades.<br />
O Estado do Paraná possui sete aglomerações (Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Litoral,<br />
Londrina, Maringá e Ponta Grossa), envolvendo 47 municípios e abrigando 50,3% da população<br />
paranaense.<br />
Em termos populacionais, há o predomínio de pequenos municípios e baixa densidade<br />
demográfica. Nos dois casos analisados (população total e densidade demográfica), o número de<br />
municípios é expressivo. Dos 352 municípios que estão fora das aglomerações urbanas, 302 possuem
SILVA, D. S.; HESPANHOL, R. A. M.<br />
Ruralidade nos territórios: o exemplo do Estado do Paraná.<br />
população total com até 20 mil habitantes, e 345 apresentam densidade demográfica inferior a 80<br />
hab./km 2 . Em percentuais, isso equivale a 86,8% e 98,0 %, respectivamente.<br />
Se aplicarmos as duas condições para o total dos municípios do estado – exceto aglomerações<br />
urbanas, população total até 20 mil e densidade demográfica inferior a 80 hab/km 2 , chega-se a um total de<br />
300 municípios, representando 85,0% do total.<br />
Mesmo não tendo sido privilegiado nessa análise, considerou-se pertinente investigar a variável<br />
ocupação pela importância que a economia agrícola possui no Paraná, como também por ter sido o setor<br />
que mais liberou mão-de-obra nos últimos 30 anos. Adotou-se como critério, o fato de mais de 50% da<br />
PEA (População Economicamente Ativa) ser ocupada na agropecuária ou em indústrias de base agrícola.<br />
No Estado do Paraná, 188 municípios preenchem essa condição. Ao constatar que mais de 53%<br />
da PEA está vinculada produtivamente à agropecuária ou às atividades derivadas, o rural paranaense<br />
torna-se ainda mais significativo. Chama-se a atenção para o fato de que a variável ocupação difere dos<br />
critérios adotados anteriormente por ser um indicador clássico nas análises que privilegiam os setores<br />
econômicos para identificar áreas rurais.<br />
O resultado apresentado mostra que, mesmo nessa condição, o rural que daí emerge tem<br />
representatividade espacial, estando presente em 58,2% dos municípios paranaenses.<br />
Seria imprudente não reconhecer que, no Paraná, o rural não só é presente, como possui<br />
expressividade. Admitindo que as variáveis utilizadas – população total, densidade demográfica e<br />
ocupação – são capazes de mostrar uma realidade impregnada pelo rural, tem-se um Estado espacialmente<br />
rural.<br />
4. Considerações finais.<br />
Esse texto procurou trazer para a discussão a pertinência da dimensão territorial no<br />
planejamento e na promoção do desenvolvimento.<br />
No caso do Estado do Paraná, o espaço rural integra os territórios de forma preponderante.<br />
Reconhecer, na prática, a expressividade do espaço rural é trazer essa dimensão para o plano operacional,<br />
incorporando-a nas análises, nos programas e nos projetos governamentais e não-governamentais.<br />
Entende-se que o binômio território e ruralidade são dimensões fundamentais para se pensar o<br />
desenvolvimento.<br />
Por sua característica de convergência, a dimensão territorial do espaço possibilita diversas<br />
leituras e apropriações. Por isso, a importância de não deixar escapar a idéia de totalidade, para que se<br />
possa construir oportunidades e conquistar o desenvolvimento.<br />
Este trabalho não tem a pretensão de esgotar um assunto tão complexo e desafiador quanto o do<br />
papel do rural para e no desenvolvimento. Mas, se ele for capaz de suscitar indagações, então terá<br />
cumprido seu objetivo de ser um ponto de reflexão, porque, ao chegar aqui, se tem a impressão de estar<br />
apenas começando.<br />
5. Referências Bibliográficas.<br />
ABRAMOVAY, R. Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento contemporâneo. Rio de<br />
Janeiro: IPEA, 2000.<br />
FERREIRA, A. D. D.; JEAN, B. La reconstruction de lá ruralité: une approche entre le Quebéc,<br />
Canada et le Paraná. [s.l.], 1999.<br />
HESPANHOL, R. A. de M. Produção Familiar: perspectivas de análise e inserção na microrregião<br />
geográfica de Presidente Prudente – SP. 2000. Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia) – Instituto de<br />
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro.<br />
IBGE. Censo Demográfico 2000: características da população e dos domicílios – resultados do universo.<br />
Rio de Janeiro, 2001.<br />
IBGE. Censo Demográfico 2000: microdados da amostra – Paraná. Rio de Janeiro, 2002. CD-ROOM.<br />
179
180<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
JOLLIVET, M. A vocação atual da sociologia rural. Estudos Sociedade e Agricultura. Rio de Janeiro:<br />
UFRRJ/CPDA, n.11, 1998.<br />
MARTINE, G.; GARCIA, R. C. (org.). Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo:<br />
Caetés, 1987.<br />
MARTINS, J. de S. O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a qualidade de vida rural.<br />
Estudos Sociedade e Agricultura. Rio de Janeiro: UFRRJ/CPDA, n.15, 2000.<br />
______ . O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a qualidade de vida rural. In: X Congresso<br />
Mundial da Associação Internacional de Sociologia Rural. Rio de Janeiro, Ago/ 2000.<br />
SANTOS, M. O novo mapa do mundo: tempo e espaço mundo ou, apenas, tempo e espaço<br />
hegemônicos? Caxambu: ANPOCS, 1993.<br />
______ . O território e o saber local: algumas categorias de análise. Cadernos IPPUR. Rio de Janeiro:<br />
UFRJ/UPPUR, n.2, 1999.<br />
SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Revista Brasileira de Ciências<br />
Sociais. São Paulo: ANPOCS, n.51, 2003.<br />
VAINER, C. B. As escalas do poder e poder das escalas: o que pode o poder local? Cadernos IPPUR.<br />
Rio de Janeiro: UFRJ/IPPUR, v. 15, n. 1, n. 2, 2001/2002<br />
VEIGA, J. E . Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: Autores<br />
Associados, 2002.<br />
WANDERLEY, M. N B. Olhares sobre o rural brasileiro. Recife. UFPE, 1999.<br />
______. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas avançadas: o ‘rural’ como<br />
espaço singular e ator coletivo. Recife: UFPE, 2000.<br />
______. A ruralidade no Brasil moderno: por um pacto social pelo desenvolvimento rural. In:<br />
GIARRACA, N. (Comp.) Una nueva ruralidad in America Latina? Buenos Aires: CLACSO/ASDI,<br />
2001.
PARADOXOS DA TECNIFICAÇAÇÃO AGRÍCOLA NO NORTE DO PARANÁ ∗<br />
Eliane Tomiasi PAULINO ∗∗<br />
Resumo: Diante das mudanças recentes no campo e da ampla e genérica utilização do conceito de<br />
modernização para explicá-las, uma reflexão mais cuidadosa não deixa de ser pertinente, sobretudo<br />
porque nos dias atuais, moderno é uma terminologia sagaz, cujo brilho pode ocultar sua face mais<br />
obscura, a exemplo dos desdobramentos desse processo no Brasil. É nesse bojo que outro conceito, o de<br />
camponês, quase acaba por ser banido e, como num passe de mágica, no plano analítico, os seres sociais a<br />
que se refere. Esse curso dos fatos acaba por explicitar uma falsa dualidade: o moderno contra o<br />
ultrapassado. Fiel à advertência de Shanin de que o preço da utilização dos modelos é a eterna vigilância,<br />
ao referirmo-nos ao teor desse debate, temos o propósito de refletir sobre a necessidade de se distinguir<br />
incorporação de tecnologia com modernização das relações de produção. Assim, é a explicitação dos<br />
paradoxos que esse mesmo processo produziu no Norte do Paraná, uma das áreas de maior índice de<br />
tecnificação do país, que se constitui a tônica desse trabalho.<br />
Palavras-Chave: Norte do Paraná; agricultura; modernização da base técnica; concentração do uso da<br />
terra; recriação camponesa.<br />
Resumen: Delante de los cambios recientes en el campo y de la amplia y genérica utilización del<br />
concepto de modernización para explicarlas, una reflexión más cuidadosa no deja de ser pertinente, sobre<br />
todo porque los días actuales, moderno es una terminología astuta, cuyo brillo puede ocultar su faz más<br />
obscura, a ejemplo de los desdoblamientos de ese proceso en Brasil. Es en ese contexto que otro<br />
concepto, el de campesino, casi acaba por ser banido y, como en un pase de mágica, en el plan analítico,<br />
los seres sociales la que se refiere. Ese curso de los hechos acaba por explicitar una falsa dualidad: el<br />
moderno contra lo ultrapasado. Fiel a la advertencia de Shanin de que el precio de la utilización de los<br />
modelos es la eterna vigilancia, al nos refiramos al contenido de ese debate, tenemos el propósito de<br />
reflejar sobre la necesidad de distinguirse incorporación de tecnología con modernización de las<br />
relaciones de producción. Así, es la explicitacion de las paradojas que ese mismo proceso produjo en el<br />
Norte de Paraná, una de las áreas de mayor índice de tecnificación del país, que se constituye la esencia<br />
de ese trabajo.<br />
Palabras-llave: Norte de Paraná; agricultura; modernización de la base técnica; concentración del uso de<br />
la tierra; recriacion campesina.<br />
1. Introdução.<br />
Diante do estágio monopolista do modo capitalista de produção, profundas mudanças são<br />
verificadas nas relações de trabalho e nas relações de produção. No que se refere ao campo, a transição do<br />
patamar técnico pautado no predomínio da força física para aquele que se sustenta a partir do uso intenso<br />
de máquinas e insumos industriais implica um radical rearranjo territorial em que os termos do acesso e<br />
da exploração econômica da terra são profundamente alterados.<br />
No Brasil, a rapidez e a intensidade com que as máquinas foram ocupando posições no cenário<br />
até então dominado pelo trabalho braçal não produziu apenas sobressaltos nos milhões de trabalhadores<br />
que repentinamente se viram obrigados a migrar, seja para os centros urbanos, seja para as áreas de<br />
fronteira.<br />
Provocou também mudanças no conteúdo das interpretações sobre esses mesmos fenômenos, o<br />
que nos leva a fazer uma breve reflexão sobre os fundamentos teóricos contidos em algumas dessas<br />
análises para, posteriormente, analisarmos os desdobramentos dessas mudanças no Norte do Paraná.<br />
∗ Artigo publicado em 2005 (n.12 v.1).<br />
∗∗ <strong>Professor</strong>a Adjunta do Depto. de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: eliane.tomiasi@uel.br
2. Modernização como sinônimo de tecnificação: fundamentos teóricos.<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
As mudanças que afetaram o campo brasileiro desde a segunda metade do século XX<br />
representaram um importante desafio aos cientistas, visto que em poucos anos um enorme contingente<br />
populacional deslocou-se para as cidades. Se por um lado, avolumaram-se dúvidas e esforços no sentido<br />
de apreender as dimensões desse fenômeno nos centros urbanos, não menos inquietos ficaram aqueles<br />
envolvidos com os estudos agrários, o que fomentou um grande debate acerca do conteúdo e dos rumos<br />
dessas mudanças.<br />
Em linhas gerais, pode-se afirmar que ganharam visibilidade os fundamentos teóricometodológicos<br />
que acabaram por conferir centralidade ao conteúdo técnico do processo que avançava a<br />
passos largos na agricultura, levando à disseminação da idéia de modernização da agricultura a partir de<br />
uma perspectiva generalizante. É esse contexto que nos remete às considerações de Martins acerca do<br />
tema ao qual está atrelada a referida noção de modernização.<br />
O tema da modernidade está profundamente comprometido com o do progresso [...]. e ainda é confundido,<br />
por alguns, com o tema do moderno em oposição ao tradicional [...]. Essa interpretação de fundo positivista<br />
reinstaura o escalonamento do processo histórico, relegando ao passado e ao residual aquilo que<br />
supostamente não faria parte do tempo da modernidade [...]. Seriam manifestações anômalas e vencidas de<br />
uma sociabilidade extinta pela crescente e inevitável difusão da modernidade que decorreria do<br />
desenvolvimento econômico e da globalização. (MARTINS, 2000, p. 17-18)<br />
Assim, ainda que importantes diferenças teórico-metodológicas tenham se evidenciado, a<br />
compreensão ofuscada pelas inovações técnicas na agricultura reforçou a noção de transformação<br />
profunda na estrutura agrária, ressaltando o pressuposto da eficiência produtiva desse padrão produtivo.<br />
Em outras palavras, projetou-se, no campo analítico, a racionalidade produtiva centrada na intensa<br />
utilização de máquinas, insumos e técnicas de manejo, em tese, passível de incorporação somente pelas<br />
grandes propriedades.<br />
Some-se a isso a compreensão de que o aprofundamento das trocas comerciais orientado por esse<br />
padrão produtivo imporia a racionalidade de mercado entre os camponeses, deflagrando a fragilização dos<br />
laços socioculturais ancorados nas relações pessoais.<br />
As sociedades camponesas são incompatíveis com o ambiente econômico onde imperam relações claramente<br />
mercantis. Tão logo os mecanismos de preços adquiram a função de arbitrar as decisões referentes à<br />
produção, de funcionar como princípio alocativo do trabalho social, a reciprocidade e a personalização dos<br />
laços sociais perderão inteiramente o lugar, levando consigo o próprio caráter burguês da organização social.<br />
(ABRAMOVAY, 1990, p. 124)<br />
Portanto, o autor supõe que, ao serem alteradas as bases técnicas, uma classe social (os<br />
camponeses) desapareceria, dando lugar a uma nova categoria social (os agricultores profissionais),<br />
implicitamente integrantes da pequena burguesia. De certo modo, essa compreensão provoca uma<br />
associação automática entre incorporação de tecnologia e exploração empresarial na agricultura, lançando<br />
suspeição sobre a viabilidade da exploração familiar de elevada participação de mão-de-obra e baixa<br />
capacidade de investimento, corroborando assim a tese de desaparecimento do campesinato.<br />
Não se quer aqui negar a existência desse processo, mas a suposta dimensão que o mesmo teria<br />
assumido não corresponde aos fatos, senão vejamos.<br />
[...] sob certas condições, os camponeses não se dissolvem, nem se diferenciam em empresários capitalistas e<br />
trabalhadores assalariados e tampouco são simplesmente pauperizados. Eles persistem, ao mesmo tempo que<br />
se transformam e se vinculam gradualmente à economia capitalista circundante, que pervade suas vidas. Os<br />
camponeses continuam a existir, correspondendo a unidades agrícolas diferentes, em estrutura e tamanho, do<br />
clássico estabelecimento rural familiar camponês. (SHANIN, 1980, p. 58)<br />
Como se pode observar, divergências profundas são explicitadas na compreensão do destino dos<br />
camponeses na sociedade capitalista, razão pela qual Oliveira (1986) cunha o conceito de monopolização<br />
do território para explicar a recriação contraditória do campesinato pelo modo capitalista de produção De<br />
182
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
acordo com esse autor, o capitalismo “além de redefinir antigas relações, subordinando-as à sua produção,<br />
engendra relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução” (OLIVEIRA,<br />
1986, p. 67).<br />
Sabe-se, porém que as raízes desse debate estão nos clássicos, particularmente Kautsky (1980) e<br />
Lênin (1982) que, ao se debruçarem sobre as mudanças que atingiram a agricultura nas últimas décadas<br />
do século XIX, ante a penetração do capitalismo no campo, preconizaram o desaparecimento do<br />
campesinato. Para eles, haveria uma incompatibilização entre as condições produtivas características da<br />
agricultura de base familiar e local com as novas demandas impostas por um modo de produção que<br />
tinha, cada vez mais, a necessidade de operar em escala planetária.<br />
Em outras palavras, esses autores assinalaram a destruição inexorável das condições de<br />
reprodução econômica centrada no controle dos meios de produção e da força de trabalho familiar, em<br />
face da emergência de uma racionalidade técnica particularmente compatível com a divisão entre trabalho<br />
intelectual e trabalho braçal. Por excelência, sobreviveriam tão somente os produtores dotados de<br />
capacidade financeira e visão empresarial que permitisse operar com uma lógica de mercado abrangente.<br />
De acordo com a tese da diferenciação social de Lênin, aos camponeses haveria apenas dois<br />
caminhos: enriquecer, alçando a condição burguesa, ou perder os meios de produção próprios,<br />
proletarizando-se enfim. Portanto, a possibilidade de permanecer como classe detentora tanto da força de<br />
trabalho quanto dos meios de produção não estava prevista nos seus esquemas teóricos.<br />
Contudo, é importante lembrar que esse arcabouço não se instituiu por unanimidade, haja vista<br />
os apontamentos de Chayanov, contemporâneo desses pensadores<br />
[...] podemos ver com toda claridad que no hay que esperar necessariamente que el desarrollo de la influencia<br />
capitalista y la concentracion en la agricultura desenboquen en la creación y el desarrollo de latifúndios. Con<br />
Mayor probabilidad había que esperar que el capitalismo comercial y financiero establezca una dictadura<br />
económica sobre considerables setores de la agricultura, la cual permacería como antes en lo relativo a<br />
producción, compuesta de empresas familiares de explotación agrícola en pequeña escala sujeitas en su<br />
organización interna a las leyes del balance entre trabajo y consumo. (CHAYANOV, 1974, p. 42)<br />
Como se pode observar, Chayanov foi o que melhor elucidou tal desfecho, pois mais de um<br />
século se passou e a agricultura camponesa continua presente tanto nos países pobres quanto nos países<br />
ricos, embora seja marcante a monopolização do território camponês pelo capital. É por isso que Shanin<br />
(1980, p. 57), adverte que<br />
O capitalismo ‘juvenil’ e otimista do século XIX influenciou muito a visão marxista clássica. Era visto como<br />
agressivo, dominador e supereficaz em sua capacidade de se expandir. Como o dedo de Midas que<br />
transforma em ouro tudo o que toca, o capitalismo também transforma em capitalismo tudo o que toca. A<br />
terra é o limite. À luz do que realmente encontramos hoje, tudo isso parece um grande exagero. É indubitável<br />
a capacidade dos centros capitalistas de explorar todos e tudo à sua volta; mas sua capacidade ou sua<br />
necessidade (em termos de maximização de lucros) de transformar tudo ao redor à sua semelhança não o é.<br />
Os camponeses são um exemplo.<br />
Portanto, a análise do campo brasileiro a partir da ótica do desaparecimento do campesinato está<br />
vinculada à matriz teórica clássica que, diga-se de passagem, foi gerada em um contexto de relevantes<br />
impasses políticos envolvendo a nascente social democracia: a promessa de superação do capitalismo<br />
com a outorga do papel revolucionário ao proletariado.<br />
Lembremos que o suposto papel revolucionário do proletariado deriva da compreensão de que<br />
essa classe, em tese, teria como tarefa histórica a condução da luta rumo ao socialismo, pela própria<br />
experiência de despojamento dos meios de produção e inserção no universo do trabalho socializado,<br />
condições essas que os camponeses não haviam experimentado.<br />
E o fato destes ainda preservarem os meios de produção, notadamente a terra, fez com que Lênin<br />
lhes atribuísse o rótulo de “pequenos agraristas”, em virtude do entendimento de que a posse desse meio<br />
de produção conduziria a um alinhamento de interesses com os grandes proprietários fundiários, o que<br />
obviamente criaria obstáculos para o processo revolucionário.<br />
Kautsky, embora não concordasse com essa homogeneização, ao analisar o gradiente de forças<br />
políticas, os colocava em patamar pouco honroso, dada a compreensão de sua inferioridade, tanto no que<br />
183
184<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
tange a falta das experiências “libertadoras” provocadas pelo processo de proletarização, quanto pela sua<br />
interdição à “redenção técnica”, nos termos apontados por Shanin, dada a sua suposta falta de inteligência<br />
para operar máquinas, incorporar insumos, bem como novas formas de manejo agrícola.<br />
Contudo, é preciso salientar que, naquele momento, o desaparecimento do campesinato,<br />
enquanto classe, e a sua conversão em massa capaz de tornar os conflitos entre capital e trabalho<br />
incontornáveis, a ponto de superação do modo capitalista de produção fazia sentido, já que os<br />
camponeses, majoritários na sociedade industrial nascente, deveriam passar por uma conversão de classe<br />
que favorecesse o acirramento das contradições entre capital e trabalho. É por isso que Martins (1995), já<br />
advertira que a tese do desaparecimento do campesinato deriva de um cenário que institui uma questão<br />
mais política do que teórica.<br />
Entre nós, a questão política, tardia em relação ao cenário clássico, emerge exatamente com as<br />
ligas camponesas, a dos sujeitos que a vanguarda política de meados do século XX procurou relegar o<br />
papel de coadjuvante no projeto de transformação política da sociedade. E o fez, ao preconizar a política<br />
de alianças que redefiniu o pacto de poder e soldou o modelo rentista ancorado na aliança terra-capital.<br />
Essa aliança é uma demonstração da capacidade que a oligarquia teve de brecar o anseio por<br />
democratização da propriedade, ao cooptar os setores burgueses para a investida naquilo que Caio Prado<br />
Jr.(1981) já classificava de terra de negócios. A constituição de gigantescos patrimônios fundiários pelos<br />
representantes dos setores mais dinâmicos da sociedade, como o industrial e o financeiro, foi tomada<br />
como a saída moderna para o problema do latifúndio, já que esses novos agentes reuniam todas as<br />
condições para fazer a propriedade prosperar.<br />
Esse é o contexto dessa concepção de modernização. Genérico na aplicação em vários estudos<br />
agrários, e sedutor em seu significado, passou a ser empregado como saída honrosa para uma leitura<br />
amena das contradições do campo e da cidade e, mais que isso, como panacéia, sugerindo a morte<br />
redentora do latifúndio, com sua suposta conversão em empresa rural moderna. 1<br />
Considerando que os conceitos não refletem frivolidades lingüísticas, tampouco são neutros em<br />
sua significação, como já advertira Shanin (1980, p. 76), nosso propósito é o de refletir sobre os<br />
paradoxos da aludida modernização, partindo da necessária distinção entre a esfera técnica e a das<br />
relações de produção que, ao fim, nos permitirá evidenciar o quanto é frágil a concepção que deriva dessa<br />
visão generalizante de modernização como sinônimo de eficiência produtiva a cargo de empresários da<br />
agricultura. Não fosse o seu alcance político, poder-se-ia creditá-la a um equívoco derivado da construção<br />
de um arcabouço teórico alheio às evidências da realidade.<br />
É evidente que a amplitude do processo de tecnificação pelo qual vem passando a agricultura é<br />
inquestionável, visto que em menos de meio século, os agricultores brasileiros vivenciaram mudanças<br />
espetaculares nas formas de produzir no campo. Contudo, alguns conceitos elaborados para elucidar esse<br />
processo mais mascaram do que descortinam as contradições que estão em seu bojo.<br />
Por isso, faz-se necessário assinalar, de antemão, que a propalada modernização da agricultura<br />
não coincide com a significação de que está impregnada, como já advertiu Martins (2000). Trata-se, sim,<br />
de uma modernização parcial, afeita em particular às técnicas empregadas na produção, já que do ponto<br />
de vista das relações de trabalho, pouco se tem a comemorar. É justamente do aprofundamento desse<br />
novo patamar técnico que emerge, por exemplo, a lógica do trabalho temporário, que submete os<br />
trabalhadores a ocupações precárias, regidas pelos ciclos de demanda por mão-de-obra nas lavouras.<br />
3. Tecnificação agrícola e concentração do uso da terra.<br />
É sabido que a emergência do patamar técnico baseado na intensa utilização de máquinas e<br />
agroquímicos representou a expulsão de milhões de trabalhadores, criando a separação entre população<br />
agrícola e população rural (Santos, 1993), já que uma parcela significativa da população urbana continuou<br />
vinculada às atividades no campo, ao sabor das necessidades pontuais por mão-de-obra. Daí a necessária<br />
1 Sobre essa abordagem, confira as obras de Francisco Graziano Neto
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
cautela ao se falar de modernização, já que esse é um tema cuja significação clássica remete às conquistas<br />
materiais que definitivamente os trabalhadores desterritorializados não puderam experimentar.<br />
Máquinas modernas, arsenal químico e manipulações genéticas a serviço da produtividade<br />
convivem lado a lado com a precarização das condições de trabalho, pela sua própria capacidade de<br />
aprofundar o descompasso entre oferta e demanda por mão-de-obra. O efeito nefasto desse novo patamar<br />
técnico não tem afetado apenas os vendedores da força de trabalho, mas também os trabalhadores que<br />
outrora tinham nos termos de concessão de uso da terra, via parceria ou arrendamento, a possibilidade de<br />
se reproduzirem de forma autônoma.<br />
No Norte do Paraná, área delimitada para esse estudo, as marcas desse processo são indeléveis,<br />
sobretudo se considerarmos que nas três últimas décadas, apenas um terço dos estabelecimentos agrícolas<br />
resistiram. Paradoxalmente, o último Censo Agropecuário (1995/96), revelou que nada menos que 87%<br />
dos estabelecimentos possuem área inferior a 50 hectares e 81% dos estabelecimentos no Estado são<br />
explorados exclusivamente pela família, o que contesta a tese da proletarização indiscriminada no<br />
período.<br />
Outro equívoco diz respeito ao suposto impacto da agricultura tecnificada na estrutura fundiária,<br />
em termos de concentração da propriedade. Lembremos que o Brasil ocupa a posição de segundo país<br />
com maior concentração fundiária no planeta, ficando atrás apenas do Paraguai. Portanto, não se trata de<br />
uma situação conjuntural, mas sim um mecanismo estrutural de interdição ao acesso democrático à terra,<br />
cujas características se alteraram ao longo da história.<br />
O salto exacerbado na concentração fundiária em compasso com a expansão da tecnificação,<br />
apontado pelo IBGE, sobretudo a partir dos dados censitários de 1970, explica-se principalmente pela<br />
mudança nas formas de exploração da terra. Como se sabe, após a escravidão e, particularmente, na<br />
cafeicultura, foram utilizadas formas alternativas de suprimento de mão-de-obra para a agricultura<br />
comercial, sobressaindo-se diferentes modalidades de parceria. Na prática, essas formas de parceria<br />
representavam a fragmentação da grande propriedade em uma sucessão de unidades menores cultivadas<br />
pelas famílias que ali viviam e ali desenvolviam, em concurso com a lavoura comercial do proprietário, as<br />
atividades de subsistência.<br />
Ocorre que para o sistema censitário brasileiro, são contabilizadas as unidades econômicas, o que<br />
faz com que cada unidade a cargo de uma família seja tomada como um estabelecimento, mesmo que essa<br />
família tenha apenas a permissão de uso, regulada por diferentes formas de contrato, seja de<br />
arrendamento, parceria etc.<br />
Obviamente, isso escamoteia a concentração fundiária, pois uma única propriedade pode gerar<br />
inúmeros estabelecimentos, característica essa que foi marcante enquanto prevaleceu o padrão produtivo<br />
centrado na utilização intensiva de mão-de-obra.<br />
Foi a emergência do pacote tecnológico dos anos de 1960 que permitiu aos grandes proprietários<br />
concentrar a exploração da terra, dispensando a maior parte das famílias, senão todas, que residiam na<br />
propriedade. Portanto, o caráter jurídico da propriedade pouco foi afetado, sobressaindo-se a expulsão dos<br />
trabalhadores que cultivavam as grandes propriedades que experimentaram a conversão técnica .<br />
Não queremos aqui negar o processo de expropriação, que pressupõe a perda da propriedade,<br />
mas sim ponderar que esse foi um fenômeno secundário, fato que os próprios dados comprovam. Mesmo<br />
com a concentração do uso da terra oportunizada pela redução da demanda por mão-de-obra, o que<br />
reduziu a diferença entre número de estabelecimentos e número de propriedades, os pequenos<br />
estabelecimentos são, em termos numéricos, dominantes no país.<br />
São esses indicadores que nos alertam sobre a necessária atenção às relações de produção e à<br />
compreensão dos interstícios da modernização da base técnica, pois essa, ao invés de banir do campo a<br />
exploração camponesa, conforme previam alguns teóricos, produziu, contraditoriamente, a sua recriação.<br />
É essa realidade que desautoriza visões simplificadoras, implícitas na própria noção de modernização<br />
como sinônimo de eficiência produtiva derivada da separação entre capital e trabalho.<br />
Do mesmo modo, impõe-se a necessidade de refletir sobre a face perversa desse que foi um<br />
processo de redefinição das condições técnicas de produção, o único elemento que nos permite contrapor<br />
modernização e atraso no campo, já que em termos sociais e ambientais, pouco se tem a comemorar.<br />
Enquanto insumos e máquinas sofisticadas incorporaram-se à produção, milhões de pessoas foram<br />
empurradas para os centros urbanos em situação de ocupação pior do que dantes. A produtividade<br />
185
186<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
explodiu, mas a fome é um dos marcos dessa “modernização”, já que oferta de alimentos não significa<br />
necessariamente acesso aos mesmos. Como a precarização do trabalho tem sido marcante, até mesmo<br />
pela desproporção entre demanda e oferta de mão-de-obra, muitos estão impedidos de se colocar como<br />
consumidores, razão pela qual o aumento exponencial da produtividade agrícola não encurta a distância<br />
entre alimentos no mercado e na mesa dos mais pobres.<br />
Portanto, a solução do drama da fome, cotidianamente vivenciado por milhões de seres humanos,<br />
não passa pelo aumento da produção, mas pela existência de renda para comprá-los. Como o mercado é o<br />
mediador de todas as necessidades humanas, inclusive as básicas, em situações de boas safras, muitos<br />
agricultores são arruinados, pois os preços recebidos pela produção caem em relação inversamente<br />
proporcional ao aumento da oferta. Por essa razão, produtores, empresas privadas e até Estados-Nações,<br />
em determinadas situações, envidam esforços para controlar a oferta de alimentos.<br />
Obviamente, essa racionalidade própria do moderno e de suas derivações, condiciona direitos<br />
fundamentais da humanidade às conveniências do mercado, semeando indagações e incertezas<br />
fundamentais quanto ao devir. Contudo, resta o fato de que o futuro é fruto da construção cotidiana<br />
empreendida pelo conjunto de ações concretas da sociedade, o que impõe a necessidade de apostar na<br />
reflexão e na crítica como caminhos para a construção de outro modelo civilizatório.<br />
É por essa razão que julgamos necessário assinalar os limites do termo modernização da<br />
agricultura, ainda que ele esteja sendo acionado para analisar os impactos nefastos das mudanças técnicas.<br />
Por carregar um significado que se opõe aos impactos ambientais e sociais daí decorrentes, seria mais<br />
prudente evitar a generalização, frisando que trata de um processo restrito à base técnica.<br />
Em outras palavras, não há modernização da agricultura, mas modernização da base técnica da<br />
agricultura, e fazer essa distinção é operar com a desmistificação, pois que os conceitos são instrumentos<br />
políticos de apreensão da realidade. Considerando que a sociedade está dividida em classes, falar de<br />
modernização no campo como sinônimo de incorporação de tecnologia é reforçar, mesmo que<br />
inadvertidamente, a camuflagem da realidade, a serviço daqueles que se beneficiam desse processo.<br />
4. Campesinato e tecnificação agrícola.<br />
Tendo refletido sobre os apontamentos que nos permitem identificar os liames teóricometodológicos<br />
que conduziram a uma espécie de supressão conceitual do campesinato do território<br />
capitalista, locus privilegiado das inversões tecnológicas, daí o uso do termo modernização, reflitamos<br />
sobre os desdobramentos concretos dessa mudança técnica.<br />
E se o fazemos, é justamente por termos a convicção de que nesses tempos de fome zero 2 , as<br />
lutas políticas definirão o devir, daí a necessidade de explicitação de processos cuja compreensão permite<br />
a conversão do indivíduo em cidadão e, quiçá, em sujeito da história. E nesse sentido, é oportuno volver a<br />
Marx, que tão lucidamente lembrou que a história não se repete, a não ser como farsa.<br />
O caso da fome seria, a nosso ver, um desses exemplos, já que é lugar comum atribuir o<br />
fenômeno à escassez de alimentos, conforme já salientamos anteriormente. Trata-se de uma compreensão<br />
que transcende o que poderíamos tomar como equívoco, por estar pautada em pressupostos que auxiliam<br />
a manutenção do status quo.<br />
Vimos que disponibilidade de alimentos não pode ser tomada como sinônimo de acesso aos<br />
mesmos, ainda que a interpretação destacada assim o indique. Daí a necessidade de empreender reflexões<br />
que não apenas acentuem tais diferenças, mas que também explicitem a íntima conexão que torna a fome<br />
um dos desdobramentos da mudança da base técnica da agricultura.<br />
Com efeito, o termo modernização invariavelmente nos remete a um ideário arrebatador, como<br />
se tal processo definisse o limiar de um novo tempo. Quando incorporado ao arcabouço conceitual<br />
vinculado à questão agrária, por vezes, o mesmo se presta a definir uma posição que o coloca do lado<br />
oposto do arcaico, leia-se antiquado e carente de intervenção renovadora. É a distância entre o significado<br />
2 Como da retórica aos fatos há uma longa distância, o sentido é figurativo, pelos próprios desdobramentos desse programa do Governo Lula<br />
que, mesmo na perspectiva assistencialista, não logrou resultados dignos de nota.
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
do termo e as expressões concretas do processo que o define e é por ele definido, que torna salutar a<br />
identificação do viés teórico-metodológico contido nas diferentes abordagens que o contemplam.<br />
Daí a necessidade de frisar que o termo modernização é adequado para indicar os processos<br />
ligados exclusivamente à base técnica da produção, excluindo-se, portanto, as relações de produção. Esse<br />
é um contraponto necessário, diante das condições de vida e de trabalho que foram sendo precarizadas no<br />
mesmo ritmo da tecnificação. Desse modo, a falta de precisão conceitual produz uma lacuna, mas que não<br />
se define por acaso; antes, acusa uma estratégia política de encobrimento das contradições fundamentais<br />
decorrentes do referido processo.<br />
No Norte do Paraná, área estudada, conforme mostra a figura 1, as inovações tecnológicas na<br />
agricultura tomaram impulso por volta de 1960 e se consolidaram a partir da década seguinte. Analisar os<br />
interstícios dessa passagem não deixa de ser oportuno, sobretudo porque a idéia genérica de<br />
modernização dificulta a implantação, e mesmo legitimação, perante a sociedade, de projetos de<br />
intervenção, leia-se projetos de assentamento e ou de apoio à agricultura camponesa. De fato, soa como<br />
incongruente àqueles que desconhecem a realidade do campo e daqueles que ao campo querem retornar, o<br />
investimento público em um projeto fadado ao fracasso, quando a referência é a sustentabilidade<br />
econômica pautada na incorporação de tecnologia de ponta.<br />
As análises subseqüentes objetivam expor as mudanças ocorridas nessa região a partir da<br />
“revolução verde”, resultado do uso de insumos químicos e máquinas, até mesmo para advertir que,<br />
mesmo que de forma restrita, dadas as limitações monetárias, a classe camponesa integrou-se a esse<br />
processo. Ao fazê-lo, evidenciamos que o campo não se resume aos empreendimentos modernizados e<br />
tipicamente capitalistas, o que reforça a necessidade de se pensar em políticas públicas adequadas a essa<br />
classe que se reproduz no campo a partir de parâmetros sociais, culturais e econômicos distintos. (Figura<br />
1)<br />
E buscando resguardar a precisão conceitual, faz-se necessário lembrar que os camponeses são<br />
entendidos como os sujeitos pertencentes a uma classe sui gêneris do capitalismo, por ser a única que, ao<br />
acionar os meios de produção com o próprio trabalho, garante a sua reprodução autônoma, ainda que<br />
subordinada às estratégias de extração de renda impostas por agentes que intermedeiam a relação<br />
produção-consumo final.<br />
Dito isso, salientamos que o caráter contraditório do modo capitalista de produção se manifesta<br />
em uma situação aparentemente paradoxal no campo: a proletarização oriunda da concentração de terras e<br />
de capitais e a recriação do campesinato. Conforme evidenciam os dados, a passagem do patamar técnico<br />
pautado na intensiva utilização de mão-de-obra para o atual não representou a eliminação dessa classe.<br />
Não obstante, o processo de recriação do campesinato, manifestado no conjunto de estratégias<br />
187
188<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
empreendidas com vistas à manutenção de sua condição de autonomia articulada pelo controle da terra e<br />
pela dimensão familiar do trabalho, se deu em um contexto de redefinições, mesmo porque muitos<br />
camponeses alçaram à condição de proprietários após anos de trabalho nas lavouras comerciais de café,<br />
seja no Estado de São Paulo, seja na própria região.<br />
Considerando que o princípio de sua reprodução social é a autonomia do trabalho advinda do<br />
acesso à terra, analisar as condições de acesso e exploração econômica é primordial. Em outras palavras,<br />
apesar de vivenciarmos um momento de extrema projeção da ordem financeirizada, a qual reclama mais<br />
liquidez imediata e menos capital imobilizado, a terra ainda se mantém no centro da questão agrária, seja<br />
como fundamento da reprodução camponesa, seja como meio de extração da mais-valia, sendo pertinente,<br />
portanto, evidenciar como se articulam a terra de trabalho e a terra de negócios na área estudada.<br />
Outrossim, analisar mais a fundo a dinâmica envolvendo a estrutura fundiária é uma forma de<br />
apresentar um contraponto às vozes que se levantam em torno da idéia de que a propriedade da terra não é<br />
mais o centro da questão agrária. Claro está que essa interpretação deriva de uma opção teóricometodológica,<br />
a qual transfere às mudanças tecnológicas o eixo de explicação dos processos em curso no<br />
campo. Deliberadamente, ou não, indicam uma opção velada pelo abandono da discussão acerca de uma<br />
chaga estrutural da sociedade brasileira: a concentração da terra.<br />
Não queremos com isso atribuir uma importância menor às mudanças ocorridas no campo, já que<br />
a modernização da base técnica proporcionou, indubitavelmente, extraordinário aumento da<br />
produtividade; contudo, esse não é um pretexto plausível para a desconsideração do custo socioambiental<br />
equivalente. Daí a pertinência em deslocar o foco de análise, destituindo a técnica da centralidade<br />
explicativa dos processos sociais, em favor das relações sociais.<br />
É desejável, pois, situar a tecnificação no contexto do amplo projeto de redefinição das bases de<br />
acumulação capitalista que, ao final da Segunda Guerra Mundial, teve na agricultura uma das fronteiras a<br />
serem exploradas para a expansão de mercados de produtos industrializados. Não se pode desconsiderar<br />
também a sua capacidade conjuntural de absorver o aparato obsoleto produzido para a guerra, desde as<br />
máquinas até os agentes químicos. O impacto das mudanças daí advindas, em países que não tinham<br />
ingressado no estágio técnico que as produziu, cresceu ao ritmo de sua incorporação: no Brasil, cerca de<br />
duas décadas foram suficientes para empurrar para os centros urbanos algo em torno de 30 milhões de<br />
pessoas, afora os outros milhões de migrantes que se dirigiram para as regiões de fronteira agrícola.<br />
Isso sem mencionar a característica absolutamente predatória da agricultura “modernizada”, que<br />
só fez potencializar os rastros de degradação ambiental próprios da lógica extrativa: solos empobrecidos e<br />
contaminados, rios assoreados e envenenados, nascentes comprometidas, fauna e flora nativa feridas de<br />
morte.<br />
Não se trata, portanto, de meros detalhes, a serem abordados em separado ou como<br />
desdobramento secundário do padrão produtivo denominado moderno, de aparência inovadora. Antes, são<br />
questões de suma importância para se analisar o processo em sua complexidade, evitando simplificações<br />
que não contribuem para a superação das mazelas geradas em seu interior. Passemos à análise dos dados<br />
censitários publicados pelo IBGE.<br />
5. As mudanças técnicas e a substituição de culturas no norte do Paraná.<br />
As análises subseqüentes sobre as mudanças no campo norte paranaense estão pautadas nos<br />
dados censitários dos 33 municípios indicados na figura 2. Do ponto de vista das características físicas, há<br />
dois aspectos distintos: a região estudada praticamente se divide ao meio, no sentido Norte-Sul, visto que<br />
na porção Norte há a predominância dos solos derivados do arenito caiuá; ao passo que na porção Sul os<br />
solos de origem basáltica são dominantes.<br />
Destacamos também que enquanto nos domínios do arenito a pecuária extensiva foi tomada<br />
como a atividade substitutiva do café, e se mantém predominante até os dias atuais, nos solos basálticos,<br />
conhecidos como terra roxa, foram as lavouras mecanizadas que tomaram o lugar dos extensos cafezais.<br />
Contudo, para efeito desse estudo, os dados foram computados tomando por base o conjunto regional.
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
Escala 1:650.000<br />
Na área em questão, duas situações apontadas pelos dados censitários de 1950 a 1995/96,<br />
merecem destaque: o aumento numérico dos estabelecimentos no período de 1950 a 1970 e, a partir de<br />
então, o início do processo de concentração do uso da terra, conforme se poderá observar na Figura 3.<br />
Embora a divisão político-administrativa tenha sofrido mudanças no período analisado, em<br />
virtude dos desmembramentos de municípios, observamos que o número dos estabelecimentos registrado<br />
pelo IBGE em 1950 era de 7.722, sendo que 82% deles possuíam área de até 50 hectares. Em 1970, esse<br />
número já havia saltado para 30.738, dos quais 87% apresentavam área de até 50 hectares. Lembremos,<br />
no entanto, que esse notável aumento numérico indica a fragmentação da exploração econômica, que em<br />
1970 registra o ápice.<br />
Essa ressalva se faz necessária, por estarmos lidando com a categoria estabelecimento, a qual<br />
não supõe a propriedade jurídica das terras, mas a sua unidade econômico-administrativa. Dessa maneira,<br />
esses dados devem ser tomados apenas como referência para se avaliar os índices de concentração do uso,<br />
sendo insuficientes para o detalhamento da concentração fundiária real, já que o desmembramento<br />
produtivo, via parceria, arrendamento e outras formas de cessão temporária, aparecem estatisticamente<br />
como fragmentação que, na realidade, não toca na estrutura da propriedade.<br />
Não obstante, analisar a estrutura fundiária do Norte do Paraná sem mencionar a atuação da<br />
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) seria um ato falho. A CTNP era uma empresa inglesa, que<br />
obteve diretamente do governo do Estado a concessão de 1.089.000 hectares de terras devolutas que,<br />
somados à aquisição de terras particulares, lhe rendeu um patrimônio fundiário de 1.321.499 hectares, dos<br />
quais comercializou 24%, entre 1925 e 1944, enquanto atuou na região.<br />
Qualquer análise que se faça sobre a questão agrária paranaense requer ao menos uma breve<br />
menção sobre os termos dessa concessão, por se tratar de ilustrativo ato lesivo perpetrado pelo Estado<br />
contra o patrimônio público, em favor de estrangeiros. Segundo Joffily (1985, p. 81), essas terras,<br />
consideradas as mais férteis do Brasil, custaram aos ingleses o equivalente a cinco quilos de feijão por<br />
hectare, sendo que apenas 20% (um quilo de feijão) foi pago à vista, pairando dúvidas quanto à<br />
arrecadação do restante, conforme indicam vários documentos.<br />
189
190<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Some-se a isso o auspicioso aparato institucional sob o seu entorno: além de ter sido uma das<br />
únicas empresas estrangeiras que não foram atingidas pelos decretos de nacionalização do Governo<br />
Vargas; nas áreas sob seu domínio, não foram aplicadas as medidas vigentes de contenção dos estoques<br />
de café, que impediam a ampliação das lavouras. Além disso, gozou da total isenção de impostos<br />
territoriais, enquanto as terras estiveram em seu poder.<br />
Medidas duvidosas, sobretudo se considerarmos que, aos compradores, em geral trabalhadores<br />
que conseguiram juntar um pecúlio trabalhando juntamente com a família nas fazendas de café do Estado<br />
de São Paulo, o peso da renda capitalizada foi esmagador: segundo Mombeig (1984), em menos de seis<br />
anos, os preços cobrados pela companhia na comercialização das terras já haviam subido cerca de vinte<br />
vezes.<br />
Compreender, portanto, a multiplicação dos estabelecimentos, via demarcação de lotes pequenos<br />
no entorno dos núcleos urbanos e propriedades maiores nas áreas mais distantes, nos permite vislumbrar<br />
que a CTNP, a exemplo das demais colonizadoras, se manteve fiel aos princípios da especulação<br />
imobiliária, condicionando a comercialização dos estoques à valorização progressiva, própria da expansão<br />
do povoamento e da utilização produtiva das áreas já comercializadas.<br />
Cumpre destacar que desde o início do povoamento até o final dos anos 1960, a cultura<br />
comercial absolutamente dominante na região foi a cafeeira, a qual reclamava enorme quantidade de<br />
braços. Enquanto as pequenas propriedades eram exploradas quase que exclusivamente pela família, as<br />
médias e grandes propriedades tinham nas relações de parceria o principal suprimento de mão-de-obra.<br />
Como se sabe, a parceria era uma alternativa ao assalariamento, visto que a moradia e o acesso à<br />
terra para a produção de subsistência e comercialização de excedentes diminuía os custos com a<br />
reprodução da mão-de-obra, logo, permitia a tais proprietários a redução no dispêndio monetário para a<br />
manutenção das lavouras.<br />
Do ponto de vista dos dados estatísticos, cada lote explorado por parceiros aparece representado<br />
como estabelecimento, fazendo com que a real concentração das terras fique oculta. Não obstante, essa<br />
fragmentação do uso da terra foi decisiva para a recriação do campesinato no Norte do Paraná. Mesmo<br />
desconsiderando aqueles cuja posse precária foi banida pela erradicação do café, levando-os à<br />
proletarização, a produção de gêneros de subsistência e comercialização de excedentes, somados aos<br />
rendimentos monetários oriundos da lavoura cafeeira, permitiram a muitos parceiros a constituição de<br />
uma pecúnia capaz de assegurar a compra de um pequeno lote de terra.<br />
É importante lembrar que esses pertencem à segunda leva de trabalhadores convertidos em<br />
proprietários, pois na fase de povoamento, a maior parte daqueles que adquiriram pequenos sítios o<br />
fizeram em virtude de terem vivenciado condições similares de vida e trabalho na cafeicultura do Estado<br />
de São Paulo É importante lembrar que, nos dados censitários, em geral essas pequenas propriedades<br />
foram contabilizadas como estabelecimentos, por se constituírem também em unidades econômicas a<br />
cargo das respectivas famílias.<br />
A importância numérica da pequena propriedade na região, somada à significativa fragmentação<br />
de grandes propriedades em forma de estabelecimentos menores, é registrada pelo Censo Agrícola de<br />
1970, momento em que se constata o auge da divisão econômica das terras. Porém, ao mesmo tempo em<br />
que se registra esse número recorde de estabelecimentos, ganha destaque o aumento daqueles com mais<br />
de 50 hectares.<br />
Isso é o reflexo da decadência da cafeicultura que se insinua já no início da década de 1960,<br />
momento em que a expansão das pastagens começa a tomar vulto, o que na seqüência se repetirá com as<br />
culturas mecanizadas. Como se pode inferir, a concentração no uso da terra se deve justamente à<br />
substituição do café por atividades de baixa demanda por mão-de-obra, o que torna desnecessário a<br />
permanência de várias famílias nas propriedades maiores.<br />
Como se pode verificar na Figura 3, o início da curva descendente no número dos pequenos<br />
estabelecimentos é destacado pelo Censo Agropecuário de 1975, momento em que, na região estudada, 10<br />
031 estabelecimentos com até 50 hectares, ou seja, 37%, desaparecem. Ao mesmo tempo, se verifica o<br />
crescimento numérico dos estabelecimentos maiores, indicando a expulsão progressiva daqueles que<br />
detinham a posse precária da terra, via de regra parceiros. (Figura 3)
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
500000<br />
450000<br />
400000<br />
350000<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
150000<br />
100000<br />
50000<br />
0<br />
Figura 3 - Número de Estabelecimentos<br />
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995/96<br />
Até 50 ha. 50 - 100 ha. 100 - 1.000 ha. Acima 1.000 ha.<br />
Fonte: IBGE – Censos Agrícola e Agropecuários<br />
Evidentemente, a variação numérica expressa na figura veio acompanhada de uma significativa<br />
transferência de área para os demais estratos, reflexo direto do processo de expulsão camponesa derivado<br />
da erradicação do café. Desde então, os estabelecimentos com área de 100 a 1 000 hectares apresentaram<br />
um crescimento extraordinário: em termos de área, registraram um incremento de 123.704 hectares; em<br />
termos numéricos, surgiram 553 novos estabelecimentos. Percentualmente, isso representa uma variação<br />
positiva de 36% no que se refere à área açambarcada e 41% em relação ao número de estabelecimentos.<br />
Como se pode verificar, houve também uma variação positiva entre os estabelecimentos com<br />
área de 50 a 100 hectares. Nesse período, surgiram 319 novos estabelecimentos incorporando 22.913<br />
hectares, o que representa um incremento de 25% tanto no número de estabelecimentos quanto de área<br />
ocupada.<br />
Quanto aos estabelecimentos com mais de 1 000 hectares, o estrato por excelência dos<br />
latifúndios, a concentração foi retomada, em especial no período de 1985 a 1995/96, havendo um<br />
incremento de 5.633 hectares, apesar do desaparecimento de nove estabelecimentos. Considerando que<br />
esse crescimento se fez às expensas do estrato onde estão agrupados os menores estabelecimentos,<br />
julgamos conveniente detalhar esses dados, a partir dos anos 1970, momento em que a expansão das<br />
culturas mecanizadas se intensifica de forma marcante no Norte do Paraná. (Figura 4)<br />
500000<br />
450000<br />
400000<br />
350000<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
150000<br />
100000<br />
50000<br />
0<br />
Figura 4 - Área dos Estabelecimentos<br />
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995/96<br />
Até 50 ha. 50 - 100 ha. 100 - 1.000 ha. Acima 1.000 ha.<br />
Fonte: IBGE – Censos Agrícola e Agropecuários<br />
Os levantamentos censitários nos dão indícios de quão severo foi o processo de desagregação<br />
envolvendo os estabelecimentos com até 50 hectares diante da tecnificação. Não obstante, nesse estrato<br />
de área, os dados revelam uma relação inversamente proporcional de resistência ao desaparecimento. Em<br />
191
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
outras palavras, quanto menores os estabelecimentos, mais vulneráveis eles têm se mostrado desde então.<br />
Considerando os 33 municípios pesquisados, deixaram de existir nada menos que 14.945<br />
estabelecimentos, ou seja, a proporção se aproxima de dois estabelecimentos extintos para cada um<br />
existente na atualidade.<br />
Outro indicativo que julgamos importante assinalar é o entendimento comum que se tem na<br />
região de que a expulsão em massa dos camponeses teria sido provocada pela grande geada que arrasou<br />
os cafezais em 1975. Como vimos, a principal causa está nas mudanças técnicas desencadeadas no início<br />
da década de 1960, e que se reflete nos dados de 1970, momento em que os estabelecimentos com até 20<br />
hectares já tinham sido reduzidos pela metade. Por isso, não se sustenta a tese de que o clima pouco<br />
propício tenha sido responsável pela migração em massa ocorrida no período.<br />
Assim, é oportuno conferir não apenas a variação numérica dos pequenos estabelecimentos, mas<br />
também o respectivo comportamento em termos de área perdida para os estabelecimentos maiores, o que<br />
nos permite vislumbrar como a concentração do uso da terra se manifestou nesse período. (Figura 5)<br />
Fonte: IBGE – Censos Agrícola e Agropecuários<br />
Como já advertimos, a vulnerabilidade dos estabelecimentos está diretamente relacionada ao seu<br />
tamanho, sendo os menores os mais afetados no período. Notemos que o estrato de área de até 10 hectares<br />
foi o que registrou, em termos percentuais, a maior transferência de área, chegando em meados dos anos<br />
noventa com apenas 31% da área ocupada no início da década de 1970. O estrato intermediário conseguiu<br />
manter 42% da área e, por fim, os estabelecimentos entre 20 e 50 hectares chegaram aos meados dos anos<br />
1990 com 72% da área ocupada no início da década de 1970. Portanto, o corte analítico na casa dos 50<br />
hectares deve-se justamente ao fato desses terem sido marcados por uma desestruturação severa, sendo a<br />
respectiva área incorporada pelos demais estratos.<br />
Lembramos, no entanto, que esses dados não podem ser tomados como expressão de uma<br />
realidade homogênea, pois são referentes à média regional, o que certamente camufla o comportamento<br />
específico de cada município, mesmo porque há padrões diferenciados de ocupação do solo, os quais se<br />
delinearam exatamente no momento em que houve a substituição do café. Assim, na região do basalto,<br />
prevaleceram as lavouras mecanizadas, ao passo que, no arenito, foi a pecuária a sua principal substituta.<br />
Na região arenítica, merece destaque a lógica de implantação dessa atividade, baseada na cessão<br />
temporária da terra para cultivo, em troca da formação das pastagens. Em outras palavras, a fragmentação<br />
no uso da terra foi bastante intensa no período que antecedeu a consolidação da pecuária, pois a fim de<br />
obterem a formação praticamente gratuita das pastagens, os proprietários concederam o direito de os<br />
camponeses sem terra explorarem-na por um determinado período.<br />
À medida que as pastagens formadas foram se expandindo, as áreas disponíveis para tal prática<br />
foram se tornando mais escassas, até o ciclo de formação se fechar. A partir de então, as possibilidades de<br />
reprodução autônoma nesses termos se mostraram cada vez mais limitadas na região.<br />
O mesmo se aplica àqueles que atuavam como parceiros nos cafezais que foram substituídos<br />
pelas lavouras mecanizadas: o alijamento da terra impôs a migração em massa desses trabalhadores, seja<br />
em direção às cidades, seja em direção à Amazônia, notadamente ao Estado de Rondônia que, naquele<br />
momento, apresentava-se como saída para os excluídos das terras paranaenses. Isso torna pertinente<br />
apresentar os dados sobre a condição dos produtores, os quais conferem visibilidade à questão do acesso<br />
precário à terra, uma alternativa de reprodução camponesa largamente utilizada em resposta ao elevado<br />
índice de concentração fundiária que antecede o padrão tecnificado na agricultura, ao lado da pecuária<br />
extensiva. (Figura 6)<br />
192
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Figura 6 - Condição do Produtor<br />
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995/96<br />
Proprietário (%) Arrendatário (%) Parceiro (%) Ocupante (%)<br />
Fonte: IBGE – Censos Agrícola e Agropecuários<br />
Conforme evidencia a figura, os parceiros foram os maiores atingidos pelas mudanças no campo<br />
norte-paranaense, em virtude da desativação da lavoura cafeeira em favor da expansão da pecuária, de um<br />
lado, e das lavouras mecanizadas, de outro.<br />
Paradoxalmente, o aumento do número de rendeiros e ocupantes chama a atenção, o que<br />
confirma o fato de que a classe camponesa, por vezes, se reproduz à revelia da apropriação capitalista da<br />
terra, seja através da recusa em pagar renda, ignorando o peso da propriedade privada, seja submetendose<br />
ao pagamento da renda para assegurar a sua autonomia.<br />
Nas áreas de implantação da pecuária, isso tem relação com a prática de formação das pastagens,<br />
o que denuncia a estratégia dos proprietários de atuarem em uma atividade tanto de investimentos quanto<br />
de riscos baixos. Por outro lado, há que se considerar os efeitos da mecanização nas áreas de implantação<br />
das culturas temporárias, igualmente perversa aos produtores que não detinham a propriedade da terra, ou<br />
não possuíam renda suficiente para enfrentar a emergente matriz tecnificada para a agricultura.<br />
Nesse contexto, o descarte maciço de trabalhadores é explicado, de um lado, pelas novas<br />
tecnologias agrícolas, baseadas na intensa utilização de máquinas e insumos e, de outro, pela implantação<br />
da pecuária extensiva. Aliás, a predominância da pecuária extensiva foi tão nociva para a região do<br />
arenito, a ponto dos sindicatos patronais, cooperativas e até mesmo o poder público implantarem nos<br />
últimos anos bolsas de arrendamento envolvendo tais propriedades, como forma de recuperação<br />
ambiental e econômica da região.<br />
É importante lembrar que a bolsa de arrendamento tem prosperado em virtude da existência de<br />
empresários agrícolas desejosos de ampliar suas culturas temporárias na região, especialmente soja e<br />
milho. Sabendo-se que o cultivo dessas terras demanda investimentos em fertilização e conservação, o<br />
incentivo à elevação da produtividade das terras semi-ociosas tem por objetivo mitigar os efeitos da<br />
degradação dos solos, resultado direto da pecuária extensiva, sem tocar na estrutura do latifúndio.<br />
Em uma conjuntura em que crescem as pressões dos trabalhadores sem terra, que buscam não<br />
somente aquelas que foram apropriadas ilegalmente, mas também as que se mantém improdutivas, não<br />
resta dúvida de que o arrendamento nesses termos surge como arma eficaz de contenção das ocupações.<br />
Essa é uma das expressões da luta de classes que, no caso em tela, se manifesta nos esforços dos<br />
camponeses em conquistar e ou permanecer na terra. Entre avanços e recuos, isso tem se concretizado,<br />
visto que a presença camponesa é expressiva na área estudada, lado a lado com as duas lógicas<br />
dominantes, a do padrão de racionalidade atrelado ao modelo tecnicista da agricultura mercantil de larga<br />
escala e a da propriedade especulativa da terra encoberta pelas pastagens degradadas.<br />
A título de exemplo, destacamos que dos 33 municípios estudados, em 12 deles a presença<br />
numérica dos estabelecimentos com até 50 hectares, classificados como pequenos, corresponde a mais de<br />
80% de todas as unidades produtivas. Se considerarmos a participação percentual desses na casa de 70%,<br />
chegamos a 25 municípios nessa situação.<br />
193
194<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Não obstante, é amplamente reconhecido que as grandes propriedades 3 são as que menos geram<br />
postos de trabalho, além de darem a menor contribuição, em termos proporcionais, para a produção<br />
global. De acordo com o Censo Agropecuário 1995/96, tomados os estabelecimentos em escala nacional,<br />
aqueles com mais de 1 000 hectares responderam com apenas 4% dos empregos no campo, com 5% da<br />
produção de leite, com 21% do rebanho bovino e com os mesmos 21% da produção em valor.<br />
Isso seria até aceitável, não fosse a área sob seu controle: 45,1% das terras estão concentradas<br />
por esses estabelecimentos. E pensar que alguns nos querem fazer crer que a escala, leia-se o tamanho da<br />
propriedade, é um dos pressupostos da tecnificação, e que essa teria redimido a grande propriedade, agora<br />
elevada à nobre condição de produzir com eficiência! Os dados, contudo, evidenciam que, em sua<br />
maioria, elas estão aquém até mesmo dos desígnios da Constituição, que reza o cumprimento da função<br />
social da terra.<br />
No que se refere ao Paraná, é necessário lembrar que esse é um dos estados brasileiros em que a<br />
concentração fundiária é menor. Basta considerar que os pequenos estabelecimentos ocupam 36% das<br />
terras, embora respondam por 41% do rebanho bovino e por 84% dos postos de trabalho na agricultura.<br />
Cumpre salientar que no Norte do Paraná, berço da modernização da base técnica, a<br />
desagregação sofrida pelos pequenos estabelecimentos se refletiu na geração de postos de trabalho, fato<br />
comprovado por uma curva descendente de ocupações, que contrasta com uma curva ascendente quando<br />
se analisa aqueles com mais de 100 hectares. É o que demonstra a figura 7.<br />
160000<br />
140000<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
Figura 7 - Empregos gerados<br />
1970 1975 1980 1985 1995/96<br />
Até 50 ha. 50 - 100 ha. Acima 100 ha.<br />
Fonte: IBGE - Censos Agropecuários<br />
Considerando os dados de 1970, momento a partir do qual o processo de tecnificação se<br />
intensificou, os pequenos estabelecimentos respondiam por 87% das ocupações no campo, dispondo de<br />
37% das terras. Lembramos que essa relação é compatível com o padrão produtivo da época,<br />
eminentemente centrado na fragmentação do uso da terra e nos cultivos baseados no uso intensivo de<br />
mão-de-obra, a exemplo do café.<br />
Na década de 1990, apesar do índice de ocupação cair para 57%, o que indica que os pequenos<br />
estabelecimentos estão ocupando menos pessoas que há trinta anos, esses continuam sendo os espaços por<br />
excelência de geração de postos de trabalho. Isso sem entrar no mérito da proporcionalidade em termos de<br />
área ocupada, em relação aos médios e grandes estabelecimentos.<br />
Como vimos, houve notável concentração fundiária nesse período, caindo a participação dos<br />
pequenos estabelecimentos para 21% das terras, ao mesmo tempo em que os estabelecimentos com mais<br />
de 100 hectares passaram a abocanhar o índice histórico de 67% das mesmas.<br />
Concluímos, assim, que a curva descendente das ocupações dos pequenos estabelecimentos não<br />
pode ser considerada em separado do processo de eliminação a que estiveram submetidos nada menos que<br />
3 Reafirmamos que essa expressão evidencia que a categoria estabelecimento atua no sentido de camuflar a concentração fundiária, já que<br />
uma unidade jurídica (propriedade) pode dar origem a várias unidades econômico-administrativas (estabelecimentos).
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
dois terços desses estabelecimentos. Assim, é evidente que isso se refletiu no seu potencial de geração de<br />
postos de trabalho.<br />
Por outro lado, observamos que os estabelecimentos no estrato intermediário praticamente<br />
mantiveram estáveis os níveis de ocupação, manifestado em ligeiro crescimento numérico. Com isso,<br />
ficam evidentes os efeitos da tecnificação, já que o número de ocupações não acompanhou o aumento<br />
numérico dos estabelecimentos, bem como a respectiva área ocupada.<br />
Outrossim, constatamos que os estabelecimentos com mais de 100 hectares, cujo crescimento no<br />
número de postos de trabalho é evidente, foram também aqueles em que se processou uma concentração<br />
extraordinária, razão direta do aumento na proporção de empregos.<br />
Não obstante, contribuiu para esse crescimento de postos de trabalho, a expansão da cana-deaçúcar,<br />
uma cultura que ocupa grande número de trabalhadores; entretanto, trata-se de ocupações<br />
temporárias e, sobretudo, precárias, majoritariamente durante a colheita. A título de esclarecimento, entre<br />
1970 e 2001, a área cultivada com cana aumentou em quase sete vezes, passando de 13.370 para 87.079<br />
hectares.<br />
Enfim, ponderamos que todas essas mudanças se inscrevem na lógica desse modo de produção,<br />
eminentemente poupador de mão-de-obra, e que se expressa na alteração verificada no padrão produtivo.<br />
E se isso ocorre, é de esperar que nos estabelecimentos camponeses, a agricultura igualmente necessite de<br />
menos mão-de-obra dada a intensificação das técnicas, guardadas as devidas proporções.<br />
Isso não implica acatar a idéia de que esse é um processo homogêneo, mas sim reafirmar a sua<br />
hegemonia, ainda que desdobrada em dinâmicas próprias, de acordo com a organização interna das<br />
diferentes formas de produzir no campo. Assim, fica evidente que o impacto do processo foi de tal ordem<br />
que implicou no desaparecimento da maior parte daqueles que tinham acesso precário à terra, bem como<br />
daqueles que não conseguiram se organizar internamente, de modo a se adequarem às mudanças. Mas,<br />
como vimos, isso não representou o desaparecimento do campesinato.<br />
Portanto, lembramos que a classe camponesa é tão dinâmica quanto o é a realidade circundante,<br />
sendo a sua capacidade de adequar-se às novas conjunturas a condição para sua perpetuação enquanto<br />
classe. Nesse sentido, apesar das mudanças ocorridas nas estruturas produtivas, a propriedade camponesa<br />
continua sendo, de longe, aquela que apresenta o maior índice de ocupação produtiva, conforme indica a<br />
figura 8.<br />
-<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Figura 8 - Valor da Produção em 1995/96<br />
Até 50 ha. 50-100 ha. 100-200 ha. 200-500 ha. 500-1000 ha. Ac.1000 ha.<br />
Valor produção (%) Área ocupada (%)<br />
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96<br />
A figura indica que na área estudada, os estabelecimentos com até 50 hectares são os únicos em<br />
que a relação entre terra disponível e ocupações é inversamente proporcional, sendo que, quanto maior o<br />
estabelecimento, menor o número de trabalhadores ocupados. Em outras palavras, ainda que se considere<br />
todos os empregos permanentes e temporários dos estabelecimentos com mais de 50 hectares, esses<br />
representam apenas 74% do número de trabalhadores ocupados nos primeiros.<br />
195
6. Considerações finais.<br />
196<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Cremos ter demonstrado que a importância dos pequenos estabelecimentos, quanto à magnitude<br />
da força de trabalho ocupada, não se limita às áreas “tradicionais” 4 , ocorrendo também naquelas de maior<br />
índice de tecnificação. Essa é a resposta do campo àqueles que se apegam ao ideário simplista de que a<br />
saída para o Brasil, que tem na produção agrícola um dos pilares de sustentação da balança de<br />
pagamentos, se resume à agricultura de larga escala.<br />
Notamos que a propriedade pequena não se destaca apenas do ponto de vista da inclusão social,<br />
com a inigualável capacidade de gerar empregos e renda. Ela é também aquela que supera, em termos de<br />
produtividade, as médias e, sobretudo, as grandes propriedades.<br />
Já frisamos que a relação entre quantidade de terra disponível e força-de-trabalho é inversamente<br />
proporcional. Essa variável assume importância singular para que se possa identificar as unidades<br />
camponesas, pois um dos elementos que a diferenciam das unidades capitalistas é o trabalho familiar e<br />
não a medida pura e simples de terra.<br />
E nesse sentido, os dados do Censo Agropecuário 1995/96 indicam uma inversão no padrão<br />
delineado nos anos 1970. Pela primeira vez desde então, há o registro de aumento da participação da<br />
família nos trabalhos agrícolas.<br />
Esse é um dado de certa forma surpreendente para essa que é uma das áreas brasileiras de maior<br />
índice de tecnificação, o que nos permite concluir que a classe camponesa também participa desse<br />
processo de “modernização”, ainda que em uma situação de subordinação aos ditames mais gerais da<br />
lógica mercantil.<br />
É nessa relação de subordinação que a renda camponesa é confiscada, e isso ocorre nas<br />
diferentes etapas produtivas. Tanto pode ocorrer no momento da produção, quando os camponeses se<br />
apresentam como consumidores dos maquinários e insumos, ou ainda como usuários do sistema<br />
financeiro, através das operações de crédito para investimento ou custeio da produção. Por último, é<br />
consumada quando sua produção é colocada no mercado, momento em que seu poder de barganha se<br />
mostra mais frágil, dada a interposição de verdadeiros oligopólios.<br />
Todavia, não se pode inferir que todas as unidades produtivas onde há trabalho familiar são<br />
camponesas, sendo necessário definir critérios para essa classificação. Assim, destacamos a necessidade<br />
de desvendar a lógica interna da mesma, seus traços mais gerais no que tange às relações sociais<br />
envolvidas na reprodução da família, não apenas do ponto de vista econômico, mas também social,<br />
cultural e político.<br />
Nesse sentido, verifica-se a presença marcante do trabalho familiar, mesmo em áreas de intensa<br />
modernização. Na área pesquisada, todos os municípios da porção centro-sul, onde estão os maiores<br />
índices de produção/produtividade, apresentam uma participação dessa modalidade de trabalho acima da<br />
casa dos 60 pontos, salvo o município de Arapongas, onde a participação da mão-de-obra familiar é de<br />
55%.<br />
É por essa razão que os indicativos de aumento do assalariamento em relação ao trabalho<br />
familiar, verificados sobretudo na década de 1970, não devem ser tomados como expansão da capacidade<br />
de gerar empregos das unidades capitalistas. Como vimos, há dois fatores a serem considerados: em<br />
primeiro lugar, refletem a diminuição do número de membros da família ocupados naquele momento, em<br />
virtude do banimento do acesso precário à terra nas formas descritas. Em segundo lugar, indicam que as<br />
atividades monocultoras baseadas no assalariamento precário, a exemplo da cana-de-açúcar, sofreram<br />
enorme expansão nesse período.<br />
Com isso, pode-se inferir que, passado o maior impacto da substituição das técnicas, novamente<br />
os camponeses vão recriando estratégias de se manterem na terra. Já vimos que a região é uma das mais<br />
tecnificadas do país, evidenciando a presença incontestável da exploração capitalista. Porém, antes de<br />
desaparecer, o trabalho familiar, proporcionalmente, está apresentando uma ligeira recuperação, chegando<br />
próximo aos índices verificados em 1975. Para nós, esse é o dado inequívoco de que a reprodução<br />
camponesa é um elemento do capitalismo e não uma excrescência ou resíduo, exteriores à sua ordem.<br />
4 Tradicionais no sentido de enclaves policultores, tidos como atrasados, passíveis de serem resgatados pela agricultura moderna, leia-se<br />
tecnificada.
PAULINO, E. T.<br />
Paradoxos da tecnificação agrícola do Norte do Paraná.<br />
Entretanto, a lógica dos camponeses não é a mesma dos capitalistas. Sendo o lucro o fundamento<br />
da exploração capitalista, sempre que essa possibilidade estiver ameaçada, seus agentes se retiram,<br />
buscando outras oportunidades de investimento.<br />
O mesmo não se dá com as unidades camponesas que, por terem como fundamento a<br />
remuneração do trabalho e não do capital, continuam a produzir, no limite, em condições completamente<br />
desfavoráveis, a fim de garantirem minimamente a sobrevivência. Portanto, as propriedades pequenas são<br />
as que mais se defrontam com condições adversas: na área estudada, os pequenos estabelecimentos são os<br />
únicos onde a relação quantidade de terras e valor da produção é inversamente proporcional, apontando<br />
assim o caráter inequívoco da produtividade superior nesse estrato de área.<br />
Tomando-se a média regional, os estabelecimentos com até 50 hectares respondem com 33% da<br />
produção em valor, ou seja, com um terço de toda a produção agropecuária regional, apesar de ocuparem<br />
cerca de um quinto das terras. É isso que compromete a tese de que a “modernização” no campo não<br />
comporta a classe camponesa.<br />
Assim, é importante advertir que essa classe se reproduz tanto em bases tradicionais, imersas em<br />
um círculo de miserabilidade, como incorporando tecnologia. Conforme nos alertou Chayanov (1974), ao<br />
incorporar melhorias técnicas na produção, a família camponesa consegue reduzir a penosidade do<br />
trabalho, logo, conquista maior bem estar. É isso que se torna visível nas áreas onde os camponeses são<br />
mais “fortes”. 5<br />
São esses paradoxos que justificam esforços de desvendamento dos interstícios da modernização<br />
da base técnica da agricultura. Ignorá-los é operar com uma lógica analítica contrária a um dos princípios<br />
básicos da dialética: a noção de contradição.<br />
7. Referências Bibliográficas.<br />
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. 1990. Tese (<strong>Doutor</strong>ado) - Instituto<br />
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.<br />
CAPEL, H. O nascimento da ciência moderna e a América: o papel das comunidades científicas, dos<br />
profissionais e dos técnicos no estudo do território. Maringá: UEM, 1999.<br />
CHAYANOV, A.V. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Nueva<br />
Visión, 1974.<br />
GRAZIANTO NETO, F. O paradoxo agrário. São Paulo: Pontes, 1999.<br />
______. Qual reforma agrária. São Paulo: Geração Editorial, 1996.<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agrícola do Estado do<br />
Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1950.<br />
______. Censo Agrícola do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1960.<br />
______. Censo Agropecuário do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1970.<br />
______. Censo Agropecuário do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1975.<br />
______. Censo Agropecuário do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1980.<br />
______. Censo Agropecuário do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1985.<br />
______. Censo Agropecuário do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 1996.<br />
JOFFILY, J. Londres-Londrina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.<br />
KAUTSKY, K. A questão agrária. 3. ed. São Paulo: Proposta, 1980.<br />
KOHLHEPP, G. Mudanças estruturais na agropecuária e mobilidade da população rural do Paraná.<br />
Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, v. 53, n. 2, p. 79-94, abr-jun. 1991.<br />
LENIN, V. I. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. São Paulo: Abril Cultural, 1982.<br />
______. O que fazer. São Paulo: Hucitec, 1988.<br />
MARTINS, J. S. A sociabilidade do homem simples. São Paulo: Hucitec, 2000.<br />
______. A sociedade vista do abismo. Petrópolis: Vozes, 2002.<br />
______. Os camponeses e a política no Brasil. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.<br />
MONBEIG, P. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1984.<br />
5 Terminologia utilizada pelos próprios camponeses quando se referem aos pares de maior renda, que possuem mais terra e dispõem de<br />
melhores maquinários e instalações. Isso significa que estão mais fortalecidos economicamente, mas nem por isso se tornaram capitalistas.<br />
197
198<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
MULLER, N. L. Contribuição ao estudo do Norte do Paraná. Revista de Geografia, Londrina, v. 10,<br />
n. 1, p. 89-118, jan.-jun. 2001.<br />
OLIVEIRA, A. U. A apropriação da renda da terra pelo capital na citricultura paulista. Terra Livre, São<br />
Paulo, ano 1, n.1, p.26-38, 1986.<br />
______. A geografia agrária e as transformações territoriais recentes no campo brasileiro. In: CARLOS,<br />
A F. A. (Org.) Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 2002. p. 63-110.<br />
______. Geografia e território: desenvolvimento e contradições na agricultura. In: ENCONTRO<br />
NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 12, 1994, Águas de São Pedro. Mesas Redondas. Rio<br />
Claro: IGCE, 1994. p. 24-51.<br />
PAULINO, E. T. Terra e vida: a geografia dos camponeses no Norte do Paraná. 2003. Tese<br />
(<strong>Doutor</strong>ado) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.<br />
PRADO JÚNIOR, C. A questão agrária no Brasil. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.<br />
SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.<br />
SHANIN, T. A definição de camponês: conceituação e desconceituação-o velho e o novo em uma<br />
discussão marxista. Estudos Cebrap, Petrópolis, n.26, p.43-79, 1980.<br />
SOARES, G. P ; COLOMBO, S. Reforma liberal e lutas camponesas na América Latina. São Paulo:<br />
Humanitas, 1999.
ESTUDO DE ILHAS DE CALOR EM PRESIDENTE<br />
PRUDENTE/SP A PARTIR DE TRANSECTOS MOVEIS ∗<br />
Simone Scatoion Menotti VIANA ∗∗<br />
Carlos Eduardo Secchi CAMARGO ∗∗<br />
Margarete Cristiane de Costa Trindade AMORIM ∗∗∗<br />
João Lima SANT’ANNA NETO ∗∗∗<br />
Resumo: Este trabalho tem por objetivo investigar as diferenças térmicas intra-urbanas em Presidente<br />
Prudente/SP, com o propósito de identificar a geração de ilhas de calor noturnas, em dias representativos<br />
do inverno. Para se obter os perfis e mapas térmicos foram coletados os dados de temperatura com<br />
termômetros digitais, em 80 pontos, utilizando dois transectos que seguem os eixos principais da cidade.<br />
Os resultados das análises e dos registros mostraram a complexidade de fatores que contribuem na<br />
formação da ilha de calor e, sobretudo, a intensidade da mesma, como às características do tempo<br />
dominante, a densidade de construções, o relevo e a presença de vegetação. A máxima amplitude térmica<br />
intra-urbana chegou a 8,5 0 C, considerada de intensidade muito forte.<br />
Palavras-chave: Clima urbano; ilha de calor; temperatura.<br />
Resumen: Este trabajo objetiva investigar las diferencias térmicas intraurbana en Presidente Prudente/SP,<br />
con el propósito de identificar la formación de las islas de calor nocturnas, en días representativos del<br />
invierno. Para obtener los perfiles y mapas térmicos se colectaran los datos de la temperatura con<br />
termómetros digitáis en 80 puntos, según dos transectos que siguen los ejos fundamentales de la ciudad.<br />
Los resultados del análisis y los registros efectuados muestran la complejidad de factores que contribuyen<br />
a la formación de la isla de calor y, sobre todo, a la intensidad de la misma, como las características del<br />
tiempo dominantes, la densidad de las construcciones, la topografía y presencia de la vegetación. La<br />
máxima amplitud térmica intraurbana llega a 8,5 0 C, considerada de intensidad muy fuerte.<br />
Palabras-llave: Clima urbano; isla de calor; temperatura.<br />
1. Introdução.<br />
Estudos evidenciam que a urbanização e conseqüentemente a concentração da população vem<br />
provocando diferenças no balanço de energia entre áreas urbanas e rurais, implicando em modificações<br />
substanciais nas paisagens originais, fazendo com que as cidades gerem suas próprias condições<br />
ambientais.<br />
O clima urbano é específico para cada espaço urbanizado, constituindo uma área que mantém<br />
relações com o ambiente regional em que se insere. De acordo com a síntese Landsberg tem-se o<br />
seguinte:<br />
a) o clima urbano é modificação substancial de um clima local, não sendo possível ainda decidir sobre o<br />
ponto de concentração populacional ou densidade de edificações em que essa notável mudança principia;<br />
b) admite-se que o desenvolvimento urbano tende a acentuar ou eliminar as diferenças causadas pela posição<br />
ou sítio;<br />
c) da comparação entre a cidade e o circundante, emergiram os seguintes fatos fundamentais: 1) a cidade<br />
modifica o clima através de alterações em superfície; 2) a cidade produz um aumento de calor,<br />
complementada por modificações na ventilação, na umidade e até nas precipitações, que tendem a ser mais<br />
acentuadas; 3) a maior influência manifesta-se através da alteração na própria composição da atmosfera,<br />
atingindo condições adversas na maioria dos casos. A poluição atmosférica representa, no presente, o<br />
∗ Texto publicado em 2004 (n.11 v.1).<br />
∗∗ Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – Campus de Presidente<br />
Prudente. E-mails: simoneviana10@yahoo.com.br; camargo5@aol.com.<br />
∗∗∗ <strong>Professor</strong>es do curso de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP de Presidente Prudente – SP. Emails:<br />
mccta@prudente.unesp.br; joaolima@prudente.unesp.br.
200<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
problema básico da climatologia das modernas cidades industrializadas. (LANDSBERG apud MONTEIRO,<br />
1976, p.57)<br />
A cidade modifica o balanço energético, o balaço hidrológico, o relevo e algumas características<br />
da atmosfera. O modo em que o Homem vive interfere de forma significativa no sistema urbano,<br />
recriando-o. O processo de urbanização ocasiona transformações na natureza da superfície e na atmosfera,<br />
afetando o funcionamento dos componentes climáticos (AMORIM, 2000, p.25).<br />
O balanço de energia urbano varia de uma cidade para outra e depende de diversos fatores, tais<br />
como: tipo e cor dos materiais utilizados nas edificações, densidades de construções, verticalização,<br />
presença de áreas verdes e arborização nas ruas e fundos de quintais, etc.<br />
O armazenamento de calor no espaço construído associado à pequena perda de calor por evaporação, não faz<br />
com que o balanço final entre as perdas e os ganhos no ambiente sejam nulas, criando condições para a<br />
formação de ‘ilhas de calor’ [...]. (AMORIM, 2000, p.28)<br />
O fenômeno ilha de calor é formado através das diferenças do balanço de energia entre a cidade<br />
e o campo, sendo uma anomalia térmica, com dimensões horizontais, verticais e temporais. Suas<br />
características estão relacionadas com a natureza da cidade (tamanho, densidade de construções, uso do<br />
solo) e com as influências externas (clima, tempo e estações) (OKE, 1982, p.7).<br />
A máxima intensidade da ilha de calor é observada sob condições de tempo atmosférico ideal:<br />
céu claro e ventos fracos. Horizontalmente há diminuição da temperatura do ar e aumento da umidade<br />
relativa à medida que há a aproximação com o campo.<br />
As cidades têm uma atmosfera mais instável o que ocasiona diminuição na velocidade do vento<br />
em relação ao campo. Assim a tendência do ar, sob condições atmosféricas estáveis, é circular do campo:<br />
menos quente, alta pressão — em direção ao centro; mais quente, baixa pressão (AMORIM, 2000).<br />
A relevância de estudos desta natureza está em viabilizar maior conhecimento sobre o<br />
comportamento urbano, principalmente no que se refere às mudanças térmicas associadas ao uso e<br />
ocupação do solo. As características urbanas associadas aos tipos e graus de adensamento e uso que<br />
recobrem o solo tem a capacidade de modificar o comportamento dos elementos climáticos que compõem<br />
a sua atmosfera local. O tipo de uso e ocupação do solo pode ainda ter seu efeito maximizado de acordo<br />
com o relevo existente no sítio urbano.<br />
Neste sentido, como afirma Monteiro (1990), é necessário adentrar a cidade e identificar os<br />
aspectos dos diferentes dinamismos da vida urbana, como: tráfego de veículos automotores, concentração<br />
de aparelhos de ar condicionado, remoção da cobertura vegetal, canalização de córregos, adensamento de<br />
construções. Por fim, a cidade deve ser estudada não puramente só, e sim, inseri-la em seu entorno,<br />
articulando o urbano, o suburbano e o rural (MONTEIRO, 1990).<br />
Cabe ao Geógrafo, realizar estudos desta natureza, que se referem à qualidade ambiental<br />
necessária para o desenvolvimento da vida humana, colaborando na solução dos problemas enfrentados<br />
pelo meio urbano. Neste sentido, a cidade deve ser vista não apenas como um mero “conjunto de<br />
edificações”, mas sim, como um fato geográfico que envolve relações físicas, socioeconômicas e<br />
políticas, que são estabelecidas e que se desenvolvem neste meio puramente humano.<br />
Este trabalho teve como objetivos: investigar as variações térmicas intra-urbana em Presidente<br />
Prudente/SP, a fim de identificar a geração de ilhas de calor em dias representativos do inverno; verificar<br />
as diferenças existentes na temperatura em diferenciados usos e tipos de ocupação do solo; e,<br />
compreender os mecanismos geradores do tempo e como estes podem interferir de maneira direta nos<br />
fenômenos climáticos urbanos.<br />
Esta pesquisa foi desenvolvida através da compreensão da dinâmica climática regional, da<br />
análise do desenvolvimento e evolução do uso e ocupação do solo na cidade Presidente Prudente/SP e da<br />
investigação do clima urbano.<br />
Para se realizar um estudo de clima urbano é necessário uma estrutura teórica capaz de abordar<br />
tanto os fatores mais amplos e complexos como os mais simples e restritos. A conjuntura teórica<br />
estabelece uma análise que envolva o tempo e o espaço, de forma que estes sejam flexíveis, pois este<br />
contexto teórico deve ser capaz de nortear a investigação em qualquer cidade do globo. Por isso é
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
importante uma abertura a todas as escalas de tratamento espacial e temporal e aos diferentes graus de<br />
complexidade urbana.<br />
Como método de análise foram utilizadas as propostas de Monteiro (1976; 1990), que<br />
formalizam uma estrutura teórica e metodológica para a compreensão do clima urbano, através do<br />
Sistema Clima Urbano (S. C. U.).<br />
Nos estudos de clima urbano Monteiro (1976), sugere a adoção de três subsistemas:<br />
termodinâmico, físico-químico e hidrometeórico. Nesta pesquisa foi trabalhado o S.C.U., dando ênfase ao<br />
subsistema termodinâmico que compreende o conforto térmico a partir do estudo do comportamento da<br />
temperatura, nas suas variações diurnas e sazonais sob o espaço local.<br />
Para se compreender o espaço local, considerou-se os condicionantes geoecológicos e urbanos,<br />
ou seja, relevo, estrutura, funções e atividades. Desta forma, a análise desses atributos associado aos<br />
elementos de construção da cidade (concreto, asfalto, vidro, a cor das edificações, etc), compõem o<br />
embasamento necessário para a seleção dos pontos de observação e coleta de dados.<br />
Para o levantamento de campo foram realizadas coletas de dados móveis. A coleta de dados<br />
móveis consiste na escolha de itinerários urbanos, que levem em conta os atributos acima mencionados,<br />
ou seja, os pontos foram selecionados a partir do relevo, declividade e hidrologia, sendo estes associados<br />
ao uso e ocupação do solo. Estes itinerários foram individualizados em dois transectos, que atravessaram<br />
a malha urbana simultaneamente e em um determinado ponto se cruzaram.<br />
Cada transecto teve uma duração máxima de 35 minutos, e o veículo se deslocou a uma<br />
velocidade baixa (20 Km/h). Este método permitiu obter perfis e mapas do comportamento da<br />
temperatura intra-urbana, em três dias representativos do inverno em Presidente Prudente (21, 22 e 23 de<br />
julho de 2003). Os transectos foram realizados durante a madrugada com início às 5h00 e a noite com<br />
início às 20h00.<br />
Esta metodologia já vem sendo utilizada em diversos trabalhos e tem se mostrado eficiente,<br />
como se observou nos trabalhos realizados por Pitton (1997) em cidades médias (Rio Claro e Araras) e<br />
pequenas (Cordeirópolis e Santa Gertrudes) no Estado de São Paulo e Amorim (2002), em Presidente<br />
Prudente. Na literatura internacional esta metodologia foi muito utilizada, como, por exemplo, nos<br />
trabalhos realizados por Gómez et al (1993), Oke (1982), entre outros.<br />
Ao término dos trabalhos de campo os dados foram digitados e organizados em tabelas, na<br />
planilha eletrônica Excel, no qual foram realizados os cálculos estatísticos e quantitativos, que auxiliaram<br />
na análise da variação térmica intra-urbana.<br />
Com a utilização do Software de interpolação de dados Surfer for Windows, os dados de<br />
temperatura do ar foram espacializados por meio da geração de isoterrnas para melhor visualização dos<br />
resultados obtidos, o que permitiu construir um perfil das condições térmicas intra-urbana para três dias<br />
representativos do inverno.<br />
Para melhor compreensão do comportamento da temperatura foi realizada uma análise dos<br />
sistemas atmosféricos através de cartas sinóticas de superfície disponibilizadas no site da marinha do<br />
Brasil (www.mar.mil.br).<br />
2. Caracterização do uso e ocupação do solo em Presidente Prudente/SP.<br />
O uso e a ocupação do solo são alguns dos principais aspectos do planejamento urbano. Tal<br />
planejamento trata da forma como se organiza a cidade segundo a aplicação de instrumentos legais de<br />
controle destes aspectos. Para isso, consideram-se diversos fatores que influem mais diretamente nesta<br />
questão como a densidade populacional, a densidade das construções e a destinação da terra. Segundo<br />
Silva (1997) estes instrumentos legais são englobados por instituições e institutos jurídicos sob o conceito<br />
de zoneamento do solo, sendo um instrumento legal do poder público para controlar o uso da terra, as<br />
densidades de população, a localização, a dimensão das construções e seus tipos específicos em prol do<br />
bem estar geral.<br />
Silva (1997) afirma que o zoneamento consiste na repartição do território municipal à vista da<br />
destinação da terra, uso do solo ou das características arquitetônicas. No que diz respeito ao aspecto da<br />
destinação da terra, o município se dividirá em zona urbana, zonas urbanizáveis, zonas de expansão<br />
201
202<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
urbana e zona rural, definindo assim as qualificações urbanísticas do solo, que se destina aos principais<br />
usos como o uso residencial, o uso industrial, o uso comercial, o uso de serviços, o uso institucional, o<br />
uso viário e o uso especial.<br />
Ainda segundo este autor, em uma cidade desordenada esses usos desenvolvem-se<br />
promiscuamente, com grande prejuízo ao bem estar da população. Isto explica por que o urbanismo<br />
propõe “zonificar” os aglomerados urbanos, conjuntamente com o campo, estabelecendo zonas de uso<br />
mais ou menos separadas. Portanto, o planejamento urbanístico é de suma importância para o crescimento<br />
e desenvolvimento das cidades com um uso e ocupação do solo ordenado, a fim de que estas não se<br />
tornem conglomerados com altas densidades populacionais e de construções.<br />
O processo de crescimento que vem ocorrendo em Presidente Prudente nas últimas décadas, deu<br />
à cidade uma configuração urbana característica das principais cidades médias brasileiras. Esta<br />
configuração se mostra a favor da expansão urbana a qualquer custo, baseada na especulação imobiliária<br />
que ocorre em áreas consideradas o eixo de expansão. No caso de Presidente Prudente, este eixo leva a<br />
cidade, a sua população e seus problemas, para a porção oeste, devido ao relevo favorável, com colinas<br />
amplas e levemente convexizadas, o que facilita a implantação de loteamentos. Estes empreendimentos,<br />
geralmente, se localizam nas vertentes dos principais córregos da cidade.<br />
A cidade, no início de sua história, se estabeleceu no espigão divisor de águas localizado onde<br />
hoje é a Estação Ferroviária e suas proximidades. A porção leste a cidade pouco se expandiu e atualmente<br />
conta com apenas alguns bairros, em sua maioria, formados no início da história do município. A zona<br />
leste não foi alvo de grande interesse da especulação imobiliária devido, dentre outros fatores, à<br />
configuração do relevo, com terrenos irregulares. Este fator dificulta a implantação de loteamentos, pois,<br />
a terraplenagem, uma das primeiras fases de um empreendimento como este, é onerosa e despende de<br />
muito tempo em terrenos como os existentes na zona leste da cidade.<br />
Outro fator que concentrou o adensamento urbano da cidade a oeste, tbi detinido por Jacohs<br />
(2000) como as zonas de fronteiras. Segundo esta autora, zona de fronteira é o perímetro de um uso<br />
territorial único de grande proporção.<br />
Estas áreas geralmente criam bairros decadentes e, por conseqüência, uma fronteira social. No<br />
caso da zona leste da cidade de Presidente Prudente, os bairros situados “do outro lado da linha”, ficaram<br />
marginalizados social e economicamente. Isso ocorre por um problema básico, pois as fronteiras<br />
costumam configurar a cidade de maneira a gerar becos sem saída para a maioria das pessoas que utilizam<br />
as ruas, formando “hiatos” de usos em suas redondezas. Dcsta forma, quanto mais estéril essa área<br />
simplificada se torna para empreendimentos econômicos, menor será a quantidade de usuários, e mais<br />
improdutivo será o próprio lugar, gerando um processo de desconstrução ou deterioração da área.<br />
Estes fatores fizeram com que a cidade de Presidente Prudente viesse a possuir basicamente seis<br />
tipos de ocupação do solo. De acordo com Amorim (2000) esta classificação consiste em:<br />
Áreas densamente construídas com vegetação esparsa;<br />
Áreas densamente construídas com vegetação arbórea;<br />
Áreas densamente construídas sem vegetação;<br />
Construções esparsas com gramado e vegetação esparsa;<br />
Construções esparsas e gramados;<br />
Vegetação esparsa e gramado.<br />
O eixo que se estende do centro da mancha urbana em direção a zona leste, tem como<br />
característica de ocupação principal, áreas densamente construídas com vegetação arbórea e com<br />
vegetação esparsa.<br />
Esta caracterização engloba bairros como, a Vila Marcondes e Furquim, Vila Maristela e centro<br />
da cidade, que são locais que possuem destinações distintas como o comércio e o uso residencial. Esta<br />
área também abriga alguns pontos de áreas densamente construídas e sem vegetação, tratando-se de<br />
bairros loteados mais recentemenle com construções acima de cinco pavimentos. As construções possuem<br />
sua superfície completamente impermeabilizada formando o quintal e a garagem dos prédios que<br />
somados as calçadas e ao asfalto deixam a água sem lugar para infiltrar.<br />
A alta densidade de construções e pouca de vegetação é típica de bairros mais novos, em sua<br />
maioria. Conjuntos Habitacionais presentes na região sudoeste da cidade, como, por exemplo, o Conjunto
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Habitacional Ana Jacinta, e na parte norte e nordeste em bairros como o Conjunto Habitacional Brasil<br />
Novo, Parque São Matheus e Jardim Barcelona.<br />
A porção oeste da cidade é caracterizada basicamente por áreas com construções esparsas com<br />
gramado e vegetação esparsa, possui bairros de diversas épocas, desde os recentes, como, por exemplo, os<br />
Jardins Petrópolis e Campo Belo, até alguns um pouco mais antigos como o Jardim Monte Alto e Parque<br />
Cedral. Esta área da cidade possui alguns focos de solos nu, o que caracteriza áreas a espera de serem<br />
loteadas, além da própria caracterização geral do bairro, que é de construções esparsas, ou seja, com a<br />
existência de muitos terrenos vazios.<br />
3. Caracterização dos transectos.<br />
3.1. Transecto 1:<br />
O transecto 1 foi constituído de modo a cortar a cidade de sul a norte pela Avenida Coronel José<br />
Soares Marcondes e depois pela Avenida Ademar de Barros, seguindo em direção a Linha Férrea até a<br />
Estrada Municipal Masaharu Akaki (Figura 1).<br />
O transecto inicia-se no Jardim Higienópolis, passando pelo Centro da Cidade e chegando ao<br />
final no Jardim Alexandrina. Neste percurso, privilegiaram-se diversos tipos de uso e ocupação do solo,<br />
disposição das vertentes e diferentes altitudes. Quanto ao tipo de ocupação do solo têm-se as seguintes<br />
características:<br />
Área de construções esparsas com gramado e vegetação arbórea esparsa;<br />
Área mista, com construções esparsas com gramado e vegetação arbórea esparsa, com área<br />
densamente construída e sem vegetação e ainda há presença de edificações com mais de quatro<br />
pavimentos;<br />
Área mista, com construções esparsas e vegetação densa;<br />
Área densamente construída e com vegetação esparsa;<br />
Área densamente construída e com vegetação arbórea e há presença de edificações com<br />
mais de quatro pavimentos;<br />
Área densamente construída e com vegetação esparsa e há presença de edificações com<br />
mais de quatro pavimentos;<br />
Área mista, com vegetação esparsas e gramado, área densamente construída e com<br />
vegetação arbórea e solo nu;<br />
Vegetação esparsa e gramado;<br />
Área mista, com vegetação esparsa e de gramado, construções esparsas com gramado e<br />
vegetação esparsas, área densamente construída e com vegetação arbórea e sem vegetação.<br />
O transecto seguiu esta seqüência apresentada, e a maior parte do percurso tem como<br />
característica principal a alta densidade de construções e a presença de vegetação arbórea. No centro da<br />
cidade, além da alta densidade de construções, há edificações acima de quatro pavimentos, e a vegetação<br />
arbórea é esparsa. Quanto as vertentes, predominam as voltadas para sul e para o norte, íngremes e<br />
retilíneas.<br />
203
Figura 1 – Presidente Prudente: Localização dos Transectos – 2003.<br />
3.2. Transecto 2:<br />
204<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O transecto 2 cortou a malha urbana de leste para oeste. Iniciando-se em uma Estrada Vicinal,<br />
passando pelas Avenidas Tancredo Neves, Brasil, Manoel Goulart e por fim pela Avenida Ana Jacinta,<br />
até proximo ao Balneário da Amizade. (Figura 1<br />
Este transecto, assim como o transecto 1, privilegiou a passagem por áreas de diferentes<br />
ocupações do solo, assim como vertentes e altitudes diferenciadas. Quanto ao tipo de uso e ocupação do<br />
solo têm-se as seguintes características:<br />
Área mista, com construções esparsas e gramado e dcnsamente construída e sem vegetação;<br />
Area mista, densamente construída e com vegetação arbórea e área densamente construída<br />
com vegetação esparsa;<br />
Vegetação densa e vegetação esparsa e gramado;<br />
Area densamente construída e com vegetação arbórea;<br />
Arca mista, densamente construída com vegetação arbórea e área densamente construída<br />
com vegetação esparsa;<br />
Área densamente construída com vegetação arbórea;<br />
Área mista, com construções csparsas com gramado e vegetação csparsa, e vegetação<br />
esparsa e gramado;<br />
Área mista, com vegetação densa e vegetação esparsa e gramado;<br />
Área mista, com construções esparsas e com gramado, e vegetação esparsa;<br />
Vegetação esparsa e gramado:<br />
Área mista, densamente construída e com vegetação arbórea, e vegetação densa;<br />
Área densamente construída com vegetação arbórea;<br />
Construções esparsas com gramado e vegetação esparsa.<br />
No transecto 2, não há um tipo de ocupação do solo mais evidente como no transecto 1 sendo,<br />
portanto, mais heterogêneo que o transecto 1. Assim, neste transecto. na parte leste tem-se a<br />
predominância de areas construídas, ora com vegetação arbórea, ora sem vegetação. Na parte oeste da
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
cidade, predomina as áreas de construções esparsas, ora como gramado e ora com gramado e vegetação<br />
esparsa.<br />
As vertentes que predominam são as voltadas para oeste e leste e convexizadas. Há um destaque<br />
maior aos de fundos dc vale do que no transecto 1, devido a maior presença de corpos d´água, embora<br />
alguns canalizados.<br />
4. Análise dos sistemas atmosféricos atuantes<br />
De acordo com Barrios e Santa’Anna Neto (1996), os sistemas atmoféricos que atingem O<br />
Estado de São Paulo são os de origem Tropical, Polar e Frontal.<br />
Os sistemas tropicais se individualizam na massa de ar Tropical atlântica (mTa), na massa<br />
Tropical atlântica continentalizada (mTac), na massa Tropical continental (mTc) e na massa Equatorial<br />
continental (mEc), esta última quase não tem influências em nossa região, embora não se descarta sua<br />
presença no<br />
verão.<br />
A massa Tropical atlântica origina-se no anticiclone do atlântico e atua durante o ano todo sobre<br />
o território paulista, trazendo estabilidade de tempo no inverno, em decorrência de subsidencia superior<br />
nesta célula de alta pressão dinâmica e instabilidade na parte inferior, no verão. Devido sua origem<br />
marítima, apresentam umidade relativa mais ou menos alta, em superfície, pressões relativamente<br />
elevadas e constantes, e ventos. geralmente, de leste e nordeste.<br />
A massa Tropical atlântica continentalizada origina-se a partir das modificações que sofre ao<br />
adentrar sobre o continente. Como resultado têm-se temperaturas mais elevadas, umidade relativa baixa e<br />
pressões em ligeiro declínio. Esta atua com mais intensidade no Estado de São Paulo durante a<br />
aproximação de uma frente fria.<br />
A massa Equatorial Continental se origina na Planície Amazônica, apresenta umidade relativa e<br />
temperatura do ar elevadas e atua no Extremo Oeste Paulista durante o verão atraída pelo) sistema<br />
depressionário do interior do continente e ventos de noroeste.<br />
Os Sistemas Polares se caracterizam pela atuação da massa Polar atlântica e pela massa Polar<br />
velha.<br />
A massa Polar atlântica se origina no Anticiclone Polar Atlântico, apresenta ventos de SSE ou<br />
SW, temperatura baixa e grande amplitude térmica associada, geralmente, à pressão atmosférica em<br />
elevação. Essa massa atua mais intensamente, no inverno.<br />
A massa Polar velha é o ar polar enfraquecido, com temperatura em ascensão e pressão<br />
atmosférica em ligeiro declínio. Os ventos são provenientes de E e NE. Esta se encontra entre uma frente<br />
em frontólise nas baixas latitudes e nova frontogênese no rio da Prata.<br />
Os Sistemas Frontológicos se caracterizam a partir da Frente Polar e da Frente Polar Reflexa.<br />
A Frente polar é gerada a partir da descontinuidade provocada pelo choque entre os sistemas<br />
tropicais e polares. Esta se apresenta mais vigorosamente no inverno, pois as condições de frontogênese<br />
são mais freqüentes. Embora o fênomeno possa ser sentido em todo o Estado de São Paulo durante o ano<br />
todo.<br />
A Frente Polar Reflexa define-se a partir da separação entre o ar polar modificado (Pv)<br />
proveniente de um avanço anterior e o ar tropical marítimo (Ta). Esta Irente apresenta uma melhor<br />
definição no litoral.<br />
A Frente Polar Atlântica tem grande papel na gênese das chuvas, assim ficando a região sujeita a<br />
constantes invasões de perturbações frontais, mesmo na primavera e no verão, quando as chuvas são mais<br />
frequentes e intensas, acarretando em um período úmido.<br />
Os sistemas estabilizadores de tempo no outono e no inverno provocam diminuição das chuvas,<br />
tornando este período mais seco.<br />
De acordo com as cartas sinóticas de superfície da marinha do Brasil (www.mar.mil.br), os<br />
sistemas atmosféricos que atuaram nos dias de coleta da temperatura foram os seguintes:<br />
No 20/07/03 — 00h00 — havia a presença de uma frente fria se deslocando para o oceano e a<br />
atuação de uma massa de ar Tropical atlântica (mTa) sobre o estado de São Paulo.<br />
205
206<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Dia 20/07/03 — 12h00 — uma nova frente fria se aproximou no sul do país, fazendo com que a<br />
(mTa) recuasse, proporcionando a atuação da massa Tropical continental.<br />
Dia 21/07/03 — 00h00 — a frente adentrou o sul do país fazendo com que a massa Tropical<br />
atlântica se intensificasse sobre o estado de São Paulo.<br />
Dia 21/07/03 — 12h00 a frente fria começou a se deslocar para o oceano e um ramo passou a ser<br />
quente sobre o continente. A massa Tropical atlântica continuou atuando sobre o estado de São Paulo.<br />
Dia 22/07/03 — 00h00 — a frente se aproximou do Estado de São Paulo e o oeste paulista<br />
continuou sob atuação da Tropical atlântica.<br />
Dia 22/07/03 — 12h00 – a frente se deslocou para o oceano e a massa de ar Polar atlântica<br />
passou a atuar no oeste paulista. Observa-se uma nova frente fria no sul do país.<br />
Dia 23/0703 — 00h00 — a frente fria se deslocou para o oceano e a Polar atlântica começou a<br />
perder intensidade sobre o Estado de São Paulo.<br />
Dia 23/07/03 12h00 — uma nova frente se deslocou no sul do continente e a Polar velha atuou<br />
sobre São Paulo.<br />
5. Análise espacial da temperatura.<br />
5.1. Caracterização da temperatura do ar às 5h00.<br />
Neste horário, nos três dias pesquisados, houve a configuração de uma ilha de calor bem definida<br />
na área central da cidade, além de se observar temperaturas elevadas nas porções norte, sul e oeste. A<br />
amplitude térmica entre os pontos no dia 22/07/03 foi de 8,5 0 C, caracterizando a ilha de calor como de<br />
alta magnitude sob a atuação da massa de ar Tropical atlântica (Figuras 2, 3 e 4).<br />
Neste horário definiu-se uma ilha de frescor localizada na zona leste. Esta ilha de frescor se<br />
formou em função de estar em um fundo de vale, além de se tratar de uma área com construções, mas<br />
com a presença de vegetação arbórea e gramado.<br />
A temperatura máxima encontrada nos dias de levantamento de campo às 5h00 foi de 21,5 0 C<br />
(22/07/03) e a temperatura mínima foi de 12 0 C (21 e 22/07/03).<br />
Figura 2 – Presidente Prudente: Temperatura do ar ( 0 C) – 21/07/2003 – 5:00h.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Figura 3 – Presidente Prudente: Temperatura do ar ( 0 C) — 22/07/2003 — 5:00h.<br />
Figura 4 — Presidente Prudente: Temperatura do ar ( 0 C) – 23/07/2003 — 5:00h.<br />
5.2. Caracterização da temperatura do ar ás 20h00<br />
Neste horário a ilha de calor ficou ainda mais definida do que às 5h00, configurando-se na área<br />
central da cidade e adjacências (Figuras 5, 6 e 7). Quanto a sua magnitude, pode ser classificada como<br />
alta, atingindo 8,5 0 C de amplitude térmica entre os pontos. Essa máxima intensidade foi encontrada nos<br />
dias 22, sob atuação da Tropical atlântica e no dia 23, sob atuação da Polar enfraquecida.<br />
As ilhas de frescor se configuram na zona leste, como às 5h00, e outra na zona oeste, ambas<br />
localizadas em áreas de fundo dc vale e com vegetação arbórea e gramado. No dia 22, cabe salientar, a<br />
formação de uma ilha de frescor localizada na zona norte. O uso e a ocupação do solo são muito<br />
parecidos com os observados na zona leste e oeste, onde também se observou ilha de frescor.<br />
As ilhas de frescor tiveram sua melhor configuração sob a atuação da Tropical Atlântica, que<br />
proporcionou maior amplitude térmica entre os pontos, assim maximizando os efeitos ocasionados pelo<br />
usoo e ocupação e tipo do relevo urbano.<br />
A temperatura do ar máxima observada neste horário nos dias de levantamento de campo foi de<br />
27 0 C (22/07/03) e a mínima foi de 18,5 0 C, encontrada nos três dias de pesquisa.<br />
207
Figura 5 — Presidente Prudente: Temperatura do ar( 0 C) —21/07/2003 — 20:00h.<br />
Figura 6 — Presidente Prudente: Temperatura do ar ( 0 C) — 22/07/2003 — 20:00h.<br />
208<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Figura 7 — Presidente Prudente: Temperatura do ar ( 0 C)— 23/07/2003 – 20:00h.<br />
As tabelas 1 e 2 apresentam os dados de temperatura obtidos nos transectos sul/norte e<br />
leste/oeste, durante os dias 21, 22, 23 de julho de 2003.<br />
Tabela 1 – Dados de temperatura – Transecto 1 – Sul/Norte<br />
Dia 21/07/2003 22/07/2003 23/07/2003<br />
Horário Horário Horário<br />
Pontos 5h00 20h00 5h00 20h00 5h00 20h00<br />
Higienópolis 18.7 23.0 21.1 23.5 19.7 25.1<br />
Placa 18.8 25.9 19.9 25.9 19.6 25.5<br />
Brasilit 18.7 25.7 19.9 26.3 19.5 25.3<br />
Churrascaria 18.7 26.0 20.0 26.7 19.5 25.5<br />
Unimed 18.9 25.7 20.3 26.9 19.8 25.4<br />
Hotel 18.8 25.1 20.3 26.8 19.7 25.1<br />
Parque povo 18.9 25.1 20.3 26.5 19.8 25.3<br />
Parque povo 18.8 24.9 20.2 25.9 19.7 25.1<br />
Athia 19.3 24.9 20.3 26.3 19.6 25.1<br />
Rei da Esfiha 19.1 24.9 20.4 26.5 19.5 25.2<br />
Merc. Avenida 19.2 25.1 20.6 26.7 19.6 25.4<br />
INPS 18.6 24.9 20.5 26.7 19.5 24.8<br />
Santa Casa 20.3 25.9 21.2 26.9 20.4 25.9<br />
Combel 20.3 25.9 21.1 27.2 20.5 26.1<br />
PUM 20.5 25.7 21.1 27.3 20.3 25.9<br />
Embratel 20.3 25.4 20.9 26.9 20.0 25.9<br />
Jhorei 20.3 25.7 21.1 26.9 20.2 26.5<br />
Catedral 20.0 25.9 21.1 26.7 20.3 26.6<br />
CNA 19.9 26.3 21.5 27.0 20.1 26.5<br />
Disk Água 19.9 25.7 21.3 26.9 19.9 26.5<br />
Solução 19.9 25.5 21.1 27.1 19.8 26.3<br />
Café 19.5 25.3 20.8 26.5 19.7 25.6<br />
APEA 19.2 25.1 20.7 25.7 19.5 25.1<br />
Microlins 18.7 24.7 20.3 24.7 19.0 25.0<br />
M. Aquático 18.7 24.7 21.1 24.8 19.8 25.1<br />
Corretora 18.6 25.0 20.1 25.0 18.9 25.4<br />
Avenida (A.B.) 18.5 25.1 20.3 24.9 19.1 25.2<br />
Igreja 18.4 25.0 20.3 25.1 19.0 25.3<br />
S/M 17.8 25.1 20.4 25.1 18.7 25.2<br />
Padaria 18.1 24.9 20.1 25.2 18.7 25.1<br />
Pare 17.4 25.1 19.6 24.1 18.3 25.1<br />
Petro Oil 17.1 25.1 19.1 23.8 17.9 24.7<br />
Prudenbase 17.4 24.6 18.8 23.3 17.7 24.4<br />
Posto BR 17.7 24.5 18.9 23.1 17.9 24.3<br />
L. Férrea 17.7 24.4 19.0 22.7 18.0 24.4<br />
Posto ZN 17.5 24.9 18.9 22.0 17.9 24.3<br />
Super Útil 18.1 24.5 18.7 20.9 17.8 24.1<br />
Brasil Novo 18.0 24.7 19.3 22.0 18.5 24.6<br />
Posto Alex. 17.7 23.3 18.5 20.7 17.5 23.5<br />
UTI lanche 17.7 24.4 18.7 22.5 17.9 24.3<br />
Tabela 2 – Dados de temperatura – Transecto 2 – Leste/Oeste.<br />
Dia 21/07/2003 22/07/2003 23/07/2003<br />
Horário Horário Horário<br />
Pontos 5h00 20h00 5h00 20h00 5h00 20h00<br />
Vicinal 15.9 22.7 16.9 22.1 16.3 22.7<br />
Caiuá 16.4 23.3 17.1 22.9 16.5 23.1<br />
NG Funilaria 15.9 22.4 16.9 22.9 16.7 23.2<br />
209
Verde 14.7 21.5 16.3 21.7 15.5 20.2<br />
ADPM 13.5 20.0 14.3 19.4 13.4 18.7<br />
Ipanema 12.3 18.5 13.3 18.7 12.1 19.6<br />
Rot. Abílio 13.0 19.4 13.8 19.4 12.5 20.8<br />
Maçonaria 13.6 20.3 14.4 20.3 13.1 20.9<br />
Divulg. Lumi 14.4 21.1 15.6 21.0 14.3 22.4<br />
Sampa Motos 15.8 22.7 17.1 23.0 16.3 23.9<br />
Av. Brasil 16.9 23.3 18.2 23.8 17.1 24.8<br />
Rodoviária 18.3 24.3 19.3 26.1 18.3 25.1<br />
Tokio 18.6 24.5 19.6 26.8 18.7 25.5<br />
Bingo Oeste 19.1 24.9 19.9 27.1 19.0 25.5<br />
Chelleme 18.7 24.7 20.2 26.6 19.0 25.5<br />
R: J. Nabuco 19.0 25.0 20.3 26.1 19.3 25.5<br />
Escr. Garcia 19.7 25.5 20.7 26.4 19.7 26.0<br />
Super P. P. 20.1 26.0 21.1 26.9 20.6 26.7<br />
P. Itatiaia 20.3 26.7 21.7 26.5 20.5 26.3<br />
Padaria SP 19.9 26.3 21.9 26.2 20.4 26.3<br />
Gela Itália 19.5 25.7 21.9 25.7 20.3 25.9<br />
Rot. Goulart 18.4 23.7 21.3 23.6 19.8 24.3<br />
Holos 17.5 22.7 20.9 22.8 19.6 23.3<br />
Senac 17.1 22.1 18.7 22.2 19.0 23.2<br />
Museu 16.9 22.2 17.9 22.1 18.3 22.7<br />
Av. A. Jacinta 15.7 21.1 16.9 20.7 17.7 21.5<br />
Touro 15.5 19.9 18.0 19.4 17.7 20.5<br />
Lumiset 16.3 20.3 18.8 19.9 18.2 21.4<br />
Fama equip. 16.8 21.3 19.4 21.1 18.4 22.3<br />
P. Bela Vista 17.5 22.1 19.6 21.9 18.7 22.7<br />
Aumideq 17.9 22.9 19.7 22.7 18.7 23.7<br />
Praça A. J. 16.9 20.9 18.5 21.5 18.4 22.4<br />
Casa 17.1 20.7 18.7 20.7 18.4 21.6<br />
Baselar 17.9 22.5 19.7 22.9 18.7 23.3<br />
Baby Beef 18.3 23.4 19.9 23.9 18.7 23.9<br />
Açougue 18.8 23.9 20.0 24.9 19.1 24.4<br />
Igreja 19.1 23.9 19.8 24.1 19.1 24.6<br />
Minas Gás 19.3 22.7 19.1 23.7 19.2 24.4<br />
Pedrok 18.9 22.3 18.7 22.9 19.3 23.8<br />
Final 18.8 22.1 18.9 23.1 19.4 22.7<br />
Fonte: Pesquisa de campo.<br />
6. Considerações finais.<br />
210<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Como se observou nesta pesquisa, a cidade pode criar seu próprio ambiente climático, resultando<br />
em conforto ou desconforto térmico para a população. A ilha de calor é, cada vez mais, uma expressão da<br />
capacidade do homem em mudar o ambiente e de criar, se não prevenir, uma situação séria de desconforto<br />
térmico e ambiental (YAMASHITA, 1996 apud PINHO, 2000). O clima urbano, particularmente a ilha de<br />
calor, tem se revelado muito importante do ponto de vista sócio-ambiental, por causa da tendência<br />
crescente das pessoas irem viver em áreas urbanas.<br />
De acordo com Oke (1978), a ilha de calor urbana é causada através de distorção no equilíbrio de<br />
energia nas áreas construídas que são o resultado da capacidade de armazenamento de calor nos materiais<br />
usados nos edifícios e ruas, e nas alterações na difusão de calor introduzida pelo espaço urbano e uso de<br />
solo. A característica mais significante da ilha de calor é sua intensidade, entendida como a diferença<br />
entre o máximo da temperatura urbana e o mínimo da temperatura rural.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Esta característica está relacionada diretamente aos fatores diversos que contribuem à formação<br />
da ilha de calor, tais como, os fatores naturais (situação sinótica, relevo e a presença de superfícies com<br />
vegetação e/ou água) ou propriamente urbanos (morfologia urbana e atividades antropogênicas).<br />
As atividades antropogênicas, como tráfego de veículos e o uso de ar condicionado e<br />
aquecedores, são grandes consumidores de energia e que geram o aumento de calor na cidade. Este calor<br />
é somado aos materiais urbanos aquecidos durante o dia, através da radiação solar, e é retido entre os<br />
edifícios pelas reflexões múltiplas entre eles, assim reduzindo a interface com a atmosfera. O calor<br />
acumulado durante o dia é devolvido em parte durante a noite. As áreas verdes reduzidas e a<br />
impermeabilização do solo nas áreas urbanas também contribuem para a intensificação da ilha de calor,<br />
porque há diminuição no processo de evapotranspiração, assim não há o resfriamento por evaporação na<br />
cidade (HIDORE et ai, 1993 apud PINHO, 2000).<br />
E ainda, a formação e principalmente a intensidade das ilhas de calor estão relacionadas às<br />
condições sinóticas atuantes, que irão estabelecer o tipo de cobertura do céu, a velocidade e direção do<br />
vento e as precipitações. Assim, por exemplo: a ausência de ventos ou brisas leves dificulta a dispersão do<br />
calor urbano, fazendo com que aumente a intensidade da ilha de calor; por outro lado, se o vento sopra, a<br />
turbulência faz com que o calor seja removido da cidade e, por conseguinte, as variações de temperatura<br />
entre o urbano e o rural são menores. As nuvens reduzem a recepção e a devolução da radiação e<br />
moderam a intensidade da ilha de calor urbana (Hidore e Oliver 1993 apud Pinho 2000).<br />
Desta forma, nesta pesquisa, a partir dos transectos móveis realizados durante a noite (20h00) e<br />
madrugada (5h00) em três dias do inverno, foi possível identificar diferenças térmicas intra-urbana na<br />
cidade de Presidente Prudente/SP.<br />
As anomalias encontradas são frutos do tipo de uso e ocupação do solo e também estão<br />
associadas ao relevo. Os sistemas atmosféricos serviram como maximizadores dos fenômenos térmicos<br />
encontrados.<br />
Às 5h00, a ilha de calor que se forma é conseqüência do calor armazenado do dia anterior nas<br />
construções e ruas, que ainda continua a ser emitido para a atmosfera por estas superfícies. Embora, neste<br />
horário haja uma certa homogeneização nas temperaturas, as ilhas de frescor da zona norte e oeste<br />
formadas durante o resfriamento noturno tendem a diminuírem ou desaparecem durante a madrugada.<br />
Às 20h00, a ilha de calor que se forma na área central é conseqüência do acúmulo de calor nas<br />
construções e asfalto que começa a ser devolvido para atmosfera posteriormente ao pôr-do-sol, e ainda, é<br />
conseqüência do grande fluxo de veículos automotores que trafegam pela cidade neste horário.<br />
Assim, o aquecimento do ar, também pode ser provocado pela liberação de gás carbônico que<br />
forma uma cúpula de gás e impede os movimentos ascendentes de ar para a atmosfera, desta forma<br />
fazendo com que o calor fique confinado na camada mais próxima da superficie. E também, o efeito da<br />
ilha é maximizado pela rapidez com que os fundos de vale da zona leste, oeste e norte se resfriam,<br />
demonstrando que o relevo é importante na configuração das ilhas de calor.<br />
Quanto aos sistemas atmosféricos, sob a atuação da Tropical Atlântica e da massa de ar Polar<br />
velha, observou-se a formação de ilhas de calor de alta magnitude, atingindo a amplitude de 8,5 0 C.<br />
Desta forma, esta pesquisa chegou aos seguintes resultados:<br />
as áreas urbanas com grande concentração de construções, asfalto, grande volume de tráfego de veículos e<br />
com vegetação esparsa ou ausente, localizadas em áreas de topo, adquirem elevadas temperaturas, a partir<br />
do pôr-do-sol e seus efeitos se estendem até a madrugada, atingindo as temperaturas mínimas.<br />
As áreas urbanas com pouca densidade de construções, vegetação densa, esparsas ou gramados e<br />
localizadas em fundos de vale tendem a se resfriarem mais rapidamente.<br />
Assim, observou-se que existem diferenças térmicas intra-urbana e que algumas áreas têm<br />
capacidade de armazenar e devolver o calor mais lentamente formando ilhas de calor, e que outras áreas<br />
têm o comportamento inverso e podem resfriar-se mais rapidamente formando ilhas de frescor. Desta<br />
forma, tanto as ilhas de calor como as ilhas de frescor são conseqüência dos usos e ocupações do solo, do<br />
relevo (topo ou fundo de vale) e dos sistemas atmosféricos, que podem agir como maximizadores ou<br />
diminuidores da magnitude do fenômeno.<br />
As ilhas de calor afetam o conforto e a saúde dos habitantes urbanos, e assim deveriam ser mais<br />
estudas em nosso país. O Brasil necessita de estudos deste caráter, que envolvam as condições do<br />
ambiente habitado e que dêem a devida atenção para a necessidade de se prevenir este fenômeno. O<br />
211
212<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
planejamento urbano deveria levar em conta a densidade de construção, a distribuição e impacto das<br />
emissões de calor provocadas por estas e ainda, dar devida importância a permanecia de corpos d’água e a<br />
preservação e criação de áreas verdes, para reduzir o desenvolvimento de ilhas de calor urbanas.<br />
7. Referências bibliográficas.<br />
AMORIM, M.C.C.T. O clima urbano de Presidente Prudente/SP. São Paulo, 2000. 378p. Tese<br />
(<strong>Doutor</strong>ado em Geografia) - FFLCH - USP.<br />
AMORIM, M.C.C.T. Características noturnas da temperatura em Presidente Prudente/SP. In: V<br />
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA, 2002, Curitiba. CD ROM.<br />
Curitiba: UFPR, 2002. p. 752-760.<br />
BARRIOS, N.A.Z., SANT’ANNA NETO, J.L. A circulação atmosférica no extremo oeste paulista.<br />
Boletim Climatológico, Presidente Prudente, v.1, n.l, p.8-9, março 1996.<br />
GOMEZ, A. L. et al. El clima de las ciudades españolas. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993. 268p.<br />
JACOBS, J. Trad. ROSA, C. S.M. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.<br />
5l0p.<br />
LOMBARDO, M.A. Ilha de Calor nas metrópoles: O exemplo de<br />
São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1985. 244p.<br />
MONTEIRO, C.A de F. Teoria e clima urbano. 25. São Paulo: IGEOG/USP, 1976. 181p. (Série Teses e<br />
Monografias, 25).<br />
MONTEIRO, C.A de F. Por um suporte teórico e prático para estimular estudos geográficos do<br />
clima urbano no Brasil. Geosul, Êlorianópolis,v.5, n.9, p.7-l9, 1990.<br />
MONTEIRO, C.A de F. Adentrar a cidade para tomar-lhe a temperatura. Geosul, Florianópolis, v.5, n.9,<br />
p. 61-79, 1990.<br />
MONTEIRO, C.A de F. A cidade como processo derivados ambiental e estrutura geradora de um ‘Clima<br />
Urbano”. Geosul, Florianópolis, v.5, n.9, p. 80-114, 1990.<br />
OKE, T.R. Boundary Layer Climate London, Methuem & LTD. A. Halsted Press Book, John Wiley &<br />
Sons, New York, 1978. p. 240-267.<br />
OKE, T.R. The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological<br />
Society, v.108, n. 455, p. l-24, jan. 1982.<br />
PINHO, 0.S. ORGAZ, M. D. M. The urban heat island is a small cityin coastal Portugal. Int J<br />
Biometeorol. N 0 44. 2000. p. 198-203 PITTON, S.E.C. As cidades como indicadores de alterações<br />
térmicas. São Paulo, 1997. 272p. Tese (<strong>Doutor</strong>ado em Geografia Física) - Faculdade de Filosofia, Letras<br />
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.<br />
SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2 ed. rev.<br />
at. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 1997.<br />
SPOSITO, E.S. Presidente Prudente na linha do tempo. In: Conjuntura Prudente 97. Presidente<br />
Prudente: <strong>FCT</strong>/UNESP, 1997.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
AÇÃO ANTRÓPICA, ALTERAÇÕES NOS<br />
GEOSSISTEMAS, VARIABILIDADE CLIMÁTICA:<br />
CONTRIBUIÇÃO AO PROBLEMA ∗ .<br />
213<br />
Victor Assunção BORSATO ∗∗<br />
Edvard Elias SOUZA FILHO ∗∗∗<br />
Resumo: Este artigo aborda as preocupantes alterações nos atributos naturais dos geossistemas a partir<br />
das intervenções mais intensas na busca dos recursos naturais para satisfazer a crescente demanda<br />
comandada pelos sistemas socioeconômicos em curso. Procurou-se fazer uma comparação na velocidade<br />
de ocupação e alterações comandadas pelo homem na zona temperada e na tropical da Terra e,<br />
conseqüentemente, as alterações que esses geossistemas apresentam em função da posição astronômica e<br />
do equilíbrio térmico. Assim como as respostas que possam desencadear na dinâmica geral da atmosfera<br />
— a entropia e as suas conseqüências no clima. Propõe-se uma discussão que considera uma nova razão<br />
para um novo conhecimento do fenômeno climático, frente as eminentes variabilidades desencadeadas a<br />
partir das ações antropogenéticas.<br />
Palavras-chave: Geossistema; clima; ação antrópica; entropia.<br />
Resumen: Este artículo aborda las preocupantes alteraciones en los atributos naturales de los geosistemas<br />
a partir de las intervenciones mas intensas en la busca de los recursos naturales para satisfacer la creciente<br />
demanda comandada por los sistemas socioeconómicos en curso. Se busca comparar la velocidad de<br />
ocupación y alteraciones comandadas por el hombre en la zona templada y en la tropical de la tierra y<br />
consecuentemente las alteraciones que esos geosistemas presentan en función de la posición astronómica<br />
y del equilibrio térmico así como las respuestas que puedan desencadenar a la dinámica general de la<br />
atmósfera – entropia, y las consecuencias en el clima. Se propone una discusión que considere una nueva<br />
razón para un nuevo conocimiento del fenómeno climático, frente a las eminentes variabilidades<br />
desencadenas a partir de las acciones antropogénicas.<br />
Palabras llave: geosistema; clima; acción antropica; entropia.<br />
1. Introdução.<br />
Os problemas decorrentes da gestão de procedimentos concernentes à renovação dos recursos<br />
naturais, à conservação e à preservação do meio ambiente são preocupantes. A mídia, de uma forma<br />
geral, tem enfocado as grandes preocupações do momento. Como, por exemplo, o efeito estufa, as chuvas<br />
ácidas e, principalmente, as mudanças climáticas, embora essas questões deveriam receber maior atenção<br />
dos órgãos governamentais e, principalmente, dos países que mais contribuem com tais alterações do<br />
meio ambiente.<br />
Procurou-se, sem aprofundar na problemática, questionar alguns conceitos; como a entropia, a<br />
troca de energia entre os geossistemas e mesmo entre a superfície e a atmosfera; e esta e o espaço e a<br />
dinâmica natural. Embora se sabe que os ritmos dinâmicos dos sistemas sofrem intervenções e alterações<br />
antropogênicas em determinados componentes, os quais, com as alterações nos inputs, desencadeiam<br />
impactos. Ao mesmo tempo, a natureza procura reestabelecer o equilíbrio entre os componentes.<br />
Dependendo do grau ou da intensidade das modificações no meio natural, os desequilíbrios são<br />
inevitáveis. Na busca de restabelecer sua dinâmica habitual. As respostas que o meio nos dá é através de<br />
modificações na dinâmica climática ou geomorfogênese até atingir um novo equilíbrio e, às vezes, não<br />
∗ Texto publicado em 2004 (n.11 v. 2).<br />
∗∗ <strong>Professor</strong> da FAFIMAN.<br />
∗∗∗ <strong>Professor</strong> da Universidade Estadual de Maringá – PR.
214<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
desejáveis. A evolução, ou seja, o tempo necessário para reestabelecer a nova dinâmica depende do grau<br />
de intervenção e também do nível de fragilidade do geossistema.<br />
Hoje, com todo o arsenal tecnológico disponível, não há como aumentar a produção de bens sem<br />
explorar os recursos naturais. As intervenções nos componentes dos geossistemas são tanto maiores<br />
quanto maior o potencial de recursos disponíveis. Há uma crescente taxa de transferência de recursos<br />
entre as grandes regiões da Terra. Hoje, informações e mercadorias circulam o planeta, considerando-se<br />
os fluxos de matéria e energia, ou seja, o input e output dentro de um geossistema como fator de<br />
equilíbrio; considerando também os princípios da termodinâmica. Haverá, como conseqüência das trocas<br />
desequilíbrios, principalmente, considerando os recursos provenientes da biomassa, tanto na área onde os<br />
recursos foram explorados quanto onde estão sendo destinados. Questiona-se, também se o homem<br />
poderá utilizar e desenvolver tecnologia capaz de controlar os inputs e outpus nos geossistemas?<br />
A evolução da sociedade e as alterações nos ambientes evidenciam o jogo da estrutura social,<br />
particular a cada momento histórico, que incide no espaço geográfico diferencialmente. Os estudos<br />
climáticos têm, na grande maioria deles, priorizado o estudo de casos ou abordado uma escala local,<br />
principalmente ao se tratar de alterações nos padrões habituais. Neste artigo, pretende-se a partir de um<br />
enfoque local, analisar e questionar o comportamento climático regional e global; abordando os princípios<br />
básicos dos geossistemas, frentes às alterações comandadas pela ação do homem, na cobertura vegetal.<br />
2. A relação homem-meio natural.<br />
A partir da Revolução Industrial, as alterações na paisagem aceleram-se em níveis cada vez mais<br />
sofisticados e intensos. As indústrias ampliaram suas áreas de influências a partir da Europa e<br />
atravessaram os oceanos. Hoje constituem o símbolo da paisagem antrópica.<br />
A partir da produção em série, o desenvolvimento tecnológico, mais cedo ou mais tarde,<br />
envolveu os mais diversos segmentos tecnológicos e permitiram, através dos meios científicos, não só o<br />
aumento populacional, como também uma maior longevidade do homem. A tecnologia médica curativa e<br />
preventiva reduziu drasticamente a mortalidade para depois conscientizar a população das necessidades<br />
da redução da natalidade. Fatores que alteraram significativamente o ritmo demográfico humano.<br />
A transição demográfica se caracteriza pelas três fases: na primeira, a natalidade e a mortalidade<br />
são altas; na segunda, a mortalidade cai, e a natalidade permanece alta; e na terceira fase, a natalidade e<br />
mortalidade são baixas. Os Países mais desenvolvidos alcançaram a terceira fase. Os demais, em sua<br />
grande maioria ainda estão longe de completar a transição demográfica e, continuam registrando<br />
crescimento acelerado de sua população.<br />
O desenvolvimento tecnológico e o sistema capitalista possibilitaram, a cada ser humano, um<br />
aumento no consumo de energia per capta. Embora seja sabido que as desigualdades entre os povos se<br />
acentuaram com o advento da Revolução Industrial, seja em sua primeira fase (Capitalismo<br />
Concorrencial), na Segunda (Capitalismo Monopolista), ou na atual, monopolista e globalizada.<br />
Nos Países do Norte, a população adquiriu um padrão de consumo elevadíssimo, principalmente,<br />
estadunidenses e europeus; enquanto a grande maioria da população dos Países do Sul vive com uma<br />
baixa renda monetária e baixo de consumo de energia per capita. Mesmo não levando em consideração o<br />
tamanho das desigualdades na distribuição da riqueza.<br />
Dessa forma, percebe-se que os recursos naturais são cada vez mais intensamente explorados<br />
para atender as necessidades consumistas da população do planeta. Seja em razão da elevação do<br />
consumo, seja pelo aumento populacional. Hoje são mais de seis bilhões de seres humanos considerandose<br />
o que cada indivíduo estadunidense consome em média, os recursos naturais disponíveis,<br />
principalmente os não renováveis, seriam exauridos em poucos anos, e as conseqüências ambientais<br />
colocariam em risco a própria existência da vida humana no planeta. Embora o desejo de uma grande<br />
parcela da população seja o estilo de vida norte-americano.<br />
Por essa razão, o mundo começa a se organizar em defesa da qualidade de vida e de um meio<br />
ambiente saudável com perspectiva de garantir meios de sobrevivência para as gerações futuras. E o<br />
grupo dos que defendem o desenvolvimento sustentável para o planeta é cada vez maior.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Os Países do Norte desenvolveram a indústria clássica. De certa forma, ao longo do tempo,<br />
puderam equilibrar o desenvolvimento tecnológico com o social e reduziram as desigualdades internas,<br />
proporcionando melhores condições de vida à população. Enquanto nos Países do Sul há uma ampliação<br />
das desigualdades sociais por conta do empobrecimento da população, consubstanciadas pelo modelo<br />
desenvolvimentista adotado, que por sua vez, está fundamentado na importação de tecnologia<br />
desenvolvida em países cujas necessidades de uso de mão-de-obra estão centradas no setor terciário da<br />
economia.<br />
O modelo desenvolvimentista promoveu a saída da população do campo que engrossou o<br />
contingente de mão-de-obra, não qualificada, nos centros urbanos: fomentando a criação de cidades<br />
informais e ampliando os cinturões de pobreza que caracterizam as grandes cidades em todos os países<br />
subdesenvolvidos.<br />
A explosão urbana é um fenômeno mundial, mas é nos países subdesenvolvidos que os<br />
problemas de infra-estrutura se agravam. Embora seja ainda um processo em curso, verifica-se que as<br />
maiores aglomerações urbanas do mundo crescem em ritmo acelerado nos países subdesenvolvidos.<br />
O crescimento urbano é uma agressão ao meio ambiente por si. Visto que, além da remoção da<br />
vegetação natural, modifica a superfície do terreno, impermeabiliza vastas áreas, contamina o solo,<br />
subsolo, o ar, as água subterrâneas e superficiais, além de alterar o mesoclima. As “ilhas de calor”<br />
verificadas, principalmente nas grandes metrópoles, são mais um exemplo de alterações ambientais que se<br />
manifestam em função da metropolização da sociedade contemporânea.<br />
O mesmo modelo desenvolvimentista fomentou a expansão de fronteiras agrícolas. A demanda<br />
de madeira dizima áreas florestais e amplia o impacto ao meio ambiente. As práticas econômicas<br />
predatórias mais agressivas se iniciaram pela Zona Temperada da Terra e hoje atuam principalmente nas<br />
áreas de baixa latitude, provocando o desmatamento de vastas áreas de florestas equatoriais.<br />
Considerando-se que na região tropical a energia absorvida é maior que a irradiada, a<br />
transferência de calor que se dá entre as zonas da Terra, seja por condução, convecção ou advecção segue<br />
a dinâmica da circulação geral da atmosfera terrestre. Alterações no balanço de energia, seja através da<br />
irradiação terrestre ou da radiação solar, alterarão sua própria dinâmica.<br />
A princípio, sabe-se que o desmatamento, além dos inúmeros “traumas” ao ecossistema,<br />
modifica totalmente o balanço de energia local, o qual comanda a dinâmica atmosférica. A porcentagem<br />
de energia refletida, em relação à incidente, é alterada. Assim como as condições de umidade atmosférica.<br />
Se as considerações de Varejão-Silva (2000) forem levadas em conta, o desmatamento da Faixa<br />
Equatorial poderá modificar por completo a dinâmica atmosférica.<br />
Os mecanismos responsáveis pela transferência meridional de calor para áreas com balanço de radiação<br />
negativo são as correntes aéreas (transporte de calor sensível e latente) e, em segundo plano, as oceânicas<br />
(transporte de calor sensível). O transporte de calor latente, em direção aos pólos, está associado a mudanças<br />
de fase de água, comprovando-se assim, mais uma vez, sua importância para a energia do sistema superfícieatmosfera.<br />
Os estudos geológicos demonstram os efeitos das alterações ou mudanças climáticas sobre a<br />
paleogeografia e paleoecologia. O crescimento acelerado da população humana, a mecanização da<br />
agricultura e a urbanização vêm sendo acompanhados por um processo de degradação ambiental jamais<br />
dimensionados em tempos Modernos na superficie do planeta. Esta degradação pode levar às<br />
modificações climáticas que podem ameaçar a nossa própria existência.<br />
3. A relação do homem com o meio e as mudanças climáticas.<br />
Os trabalhos cujo enfoque está centrado no clima urbano são<br />
conclusivos em mostrar as diferenças térmicas verificadas nos grandes centros urbanos com relação à<br />
periferia ou ao entorno. MENDONÇA (2001) estudou o clima urbano de Londrina, cidade do norte do<br />
Estado do Paraná, e constatou importantes anomalias em inúmeros elementos do clima, principalmente<br />
diferenças térmicas entre a superfície urbana e o seu entorno rural.<br />
215
216<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
O mesmo raciocínio pode ser feito para as diferenças entre uma área florestada em comparação<br />
com o seu entorna agrícola. Por ora, não foi encontrado estudo que aborda as diferenças de<br />
comportamento dos elementos climáticos entre área com vegetação natural e área ocupada pela<br />
agricultura moderna em regiões tropicais. A sensibilidade humana, neste caso, pode dar-nos uma resposta,<br />
pois é fácil perceber as diferenças de temperatura e umidade entre uma área florestada e a área vizinha em<br />
dias quentes ou numa manhã fria.<br />
Para diversos autores, o total de radiação solar que é interceptada pela Terra e a que retorna ao<br />
espaço direta ou indiretamente se equivalem (VAREJÃO-SILVA, 2000). Contudo, mesmo considerando<br />
que o balanço radiativo médio planetário se verifica um equilíbrio, as alterações antrópicas, em dadas<br />
regiões do globo, implementarão a recepção das radiações solares, ou seja, um solo arado, uma via<br />
pavimentada, as edificações urbanas, uma plantação em fileira, entre outros exemplos, absorvem a<br />
energia solar em quantidade e intensidade diferentemente de uma região natural e coberta por uma<br />
floresta tropical.<br />
O acréscimo de energia pode vir a ser dissipado, mas até que as trocas se processam (sejam<br />
através das convecções atmosféricas, sejam através das correntes marinhas ou outras). Este acréscimo<br />
tenderá a dinamizar o sistema e flutuações climáticas poderão se manifestar em qualquer parte do<br />
planeta, ou mesmo uma manifestação de tendência climática.<br />
Como o clima é um dos componentes integrante de um geossistema, é muito dificil caracterizar<br />
alterações nos padrões habituais. Sant’Anna Neto (1995) estudou as chuvas no Estado de São Paulo e<br />
evidenciou que elas não sofreram grandes atterações em valores anuais, mas sofreram uma diminuição<br />
nos dias com registros de precipitações. Isso caracteriza que as chuvas se tornaram mais intensas em cada<br />
episódio.<br />
Os fenômenos EL NIÑO e LA NIÑA têm se manifestado em intervalo de tempo cada vez menor<br />
e intensidade maior. Embora o intervalo de tempo em que o fenômeno tem sido sistematicamente<br />
acompanhado seja muito reduzido para conclusões definitivas. Para Monteiro (1999), o fenômeno EL<br />
NIÑO é uma manifestação ou conseqüência direta da flutuação da energia solar e é conseqüência direta<br />
da flutuação de nossa fonte primária de energia. A atividade solar é extremante variada, a partir das<br />
manchas solares. Fenômeno esse que tem uma influência direta na emissão da radiação solar e, sobretudo<br />
na recepção pelo planeta Terra. Como a circulação geral segue uma dinâmica ditada pela energia<br />
proveniente da irradiação terrestre, é claro que alterações na intensidade de energia liberada pela<br />
superfície da Terra alteram a dinâmica habitual.<br />
Para Monteiro (1999), qualquer abordagem da atmosfera, seja ela meteorológica ou geográfica,<br />
há que se partir dos fenômenos básicos. Assim, o ponto de partida é a compreensão dos mecanismos das<br />
trocas de energia entre o Sol e a Terra. Por isso, é necessário compreender os mecanismos das formas de<br />
transmissão de energia. Para Ross (1992), o entendimento do relevo e sua dinâmica passam<br />
obrigatoriamente pela compreensão do funcionamento e da inter-relação entre os demais componentes<br />
naturais (águas, solos, clima e cobertura vegetal). Observa-se que, para o entendimento do clima ou<br />
qualquer outro componente natural, é necessária a compreensão do funcionamento da inter-relação entre<br />
os componentes do meio, ou seja, uma investigação geossistêmica. Para melhor entender a concepção<br />
geossistêmica e todo o debate dela provindo, deve destacar o que afirmou Sotchava (1978) sobre o<br />
Geossistema. Em condições normais, deve-se estudar não os componentes da natureza, mas as conexões<br />
entre eles; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas divisões, mas, de preferência, projetarse<br />
para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, (SOTCHAVA, 1978).<br />
O princípio básico do estudo de sistemas é o da conectividade. Pode-se compreender um sistema<br />
como um conjunto de elementos com um circuito de ligações entre esses elementos; e um conjunto de<br />
ligações entre o sistema e seu ambiente, isto é, cada sistema se compõe de subsistemas, e todos são partes<br />
de um sistema maior, onde cada um deles é autônomo e ao mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou<br />
seja, existe uma inter-relação direta com o meio.<br />
4. Os geossistemas e a ação do homem.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Os sistemas Ambientais Físicos, ou Geossistemas seriam a representação da organização<br />
espacial resultante da interação dos componentes físicos da natureza (sistemas). Aí, incluídos clima,<br />
topografia, rochas, águas, vegetação e solos. Dentre outros, podendo ou não estar todos esses<br />
componentes presentes. Bertrand (1971) dá ao Geossistema uma conotação uma pouco diferente de<br />
Sotchava (1978). Para ele, o Geossistema é uma unidade, um nível taxonômico na categorização da<br />
paisagem: zona, domínio, região, “geossistema”, geofaces, geótopo.<br />
O geossistema é certamente um sistema natural, com dinâmica e mecanismos próprios,<br />
interconectados ao sistema global. Mas o ser humano jamais pode ser apenas um figurante em sua análise.<br />
O homem é parte integrante da natureza, de sua evolução e transformação e, portanto, faz parte do<br />
geossistema.<br />
A ação antrópica faz parte do geossistema, embora ela possa afetar seu equilíbrio ou até mesmo<br />
sua dinâmica. Assim como o fazem as modificações naturais. A energia “consumida” e ou<br />
“transformada” com a ação antrópica poderá ser liberada do meio em forma de calor, no clima, na erosão<br />
dos solos, ventos ou mesmo nas geomorfogêneses ou podogêneses. A troca permanente de energia e<br />
matéria adquire proporções e ritmo muito mais intenso que aquele que normalmente a natureza imprime.<br />
Cada uma dessas formas de energia liberada ao meio desencadeará ações e reações, e a unidade<br />
geossistêmica procurará restabelecer o equilíbrio.<br />
Neste ponto, é oportuno empregar os conceitos de Unidades Ecodinâmicas preconizadas por<br />
Tricart (1977), sobre o prisma da Teoria de Sistemas que parte do pressuposto de que, na natureza, as<br />
trocas de energia e matéria se processam através de relações de equilíbrio dinâmico. A intervenção<br />
humana tem alterado constantemente esse equilíbrio. Diante disto, Tricart (1977) definiu que os<br />
ambientes, quando estão em equilíbrio dinâmico, são estáveis; quando em desequilíbrios, são instáveis.<br />
Para que esses conceitos pudessem ser utilizados, ROSS (1990) ampliou-os, estabelecendo as<br />
Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidades Emergentes em vários graus, desde Instabilidade<br />
Muito Fraca e Muito Forte. Ampliou-o para as Unidades Ecodinâmicas Estáveis; que, apesar de estarem<br />
em equilíbrio dinâmico, apresentam instabilidade potencial em diferentes graus, tais como: as<br />
Instabilidades Emergenciais, ou seja, de Muito fraca a Muito forte.<br />
Claro que para o procedimento operacional, para a análise empírica da fragilidade dos ambientes<br />
naturais, são necessários estudos básicos de todos os elementos e suas variáveis no espaço e no tempo<br />
para se chegar a um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes<br />
naturais.<br />
Quanto à sua área (geossistema), ela deverá variar de acordo com o objetivo a alcançar. Nunca<br />
poderá ser conceitualmente predeterminada. Cabe ao pesquisador encontrar seus limites sempre<br />
lembrando que o espaço deve ser considerado como uma totalidade. A prática, porém, exige que ele seja<br />
dividido em partes para sua melhor análise. Essas partes só terão sentido quando consideradas suas interrelações.<br />
Por um lado, é importante não esquecer que, em suas delimitação, deverão ser encontrados<br />
aspectos homogêneos. Quanto maior a área menor a chance de encontrá-los. Por outro lado, geossisternas<br />
muito pequenos correm o risco de ter um caráter muito significativamente verticalizado, mais afeito ao<br />
estudo biológico, restringindo a inter-relação de seus componentes.<br />
Bertrand (1971), ao estudar a paisagem, classificou-a em dois níveis: as unidades superiores<br />
(zona domínio, região natural) e as unidades inferiores (geossistema, geofáces e geótopo). Veja as<br />
considerações de Bertrand para a caracterização dos geossistemas:<br />
Geossistema corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis. Ele resulta da combinação de fatores<br />
geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...),<br />
climáticos (precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos epidérmicos e nascentes, pH das<br />
águas, tempo de ressecamento dos solos...). E o potencial ecológico. Ele estuda por si mesmo e não sob<br />
aspecto limitado de um simples lugar (...). Pode-se admitir que existe, na escala considerada, uma sorte de<br />
“Contínuo” ecológico no interior dum mesmo geossistema, enquanto a passagem de um geossistema a outro<br />
é marcada por uma descontinuidade de ordem ecológica.<br />
Para ele, o geossistema está em estado de climax quando há um equilíbrio entre o potencial<br />
ecológico e a exploração biológica. Como o potencial ecológico e a exploração biológica são dados<br />
instáveis, que variam no tempo e no espaço, são comuns geossistemas em desequilíbrio bioclimáticos.<br />
217
218<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
Bertrand (1971) classificou os geossistemas pautado na teoria de bioresistasia de H. Erhart apud<br />
Bertrand (1971). Agrupando em dois conjuntos dinâmicos: os geossistemas em bioestásia e os em<br />
resistásia — nos geossistemas em bioestasia, a intervenção antrópica pode provocar uma dinâmica<br />
regressiva sem nunca comprometer o equilíbrio. Já os geossistemas em resistásia, a mobilidade dos<br />
componentes leva a uma crise geomorfológica suficiente e capaz de modificar o modelado do relevo.<br />
Na abordagem de Bertrand (1971), é evidente a sua preocupação em analisar as alterações na<br />
paisagem. Sem, contudo, se preocupar com o desequilíbrio e suas conseqüências ambientais. Ao analisar<br />
os exemplos citados pelo autor, constata-se, pelos componentes naturais citados, que foram estudos<br />
efetuados em território europeu, onde o clima predominante é o temperado, cujas características são<br />
muito diferentes daquelas apresentadas pelos climas tropicais.<br />
Novos conceitos foram inseridos à Geografia Física principalmente se analisar a paisagem como<br />
um geossistema, devido à massa organizada, à presença de energia livre e à existência de atividades<br />
antrópicas. As preocupações com o meio ambiente se ampliam a cada dia. Talvez, com a intensificação<br />
das ações antrópicas, os desequilíbrios têm nos dado respostas indesejáveis, tais como as mudanças<br />
climáticas (...).<br />
No campo da análise ambiental, o problema que desperta a atenção dos estudiosos é o fato de<br />
que os componentes dos geossistemas serem governados por leis naturais. Seus componentes estão interrelacionados<br />
pelo fluxo de massa e ou energia. A paisagem tem sido ocupada e transformada pelo<br />
homem. A sociedade humana tornou-se o principal agente nos processos naturais. Ela cria geossistemas<br />
sócio-econômicos, com a finalidade da utilização racional da paisagem e de seus recursos naturais. Desse<br />
modo, o homem tenta controlar e ajustar os geossistemas e, desta forma, manter as bases naturais e<br />
energéticas a um nível que permita a satisfação e a segurança das necessidades da sociedade humana.<br />
O homem pode até controlar a entrada e saída de massa de um geossisterna. A energia que entra<br />
no sistema, se não “for utilizada”, potencialmente se agregará a outros componentes do geossisterna ou<br />
ainda poderá ser liberada ao “componente global”, ou seja, é dissipada pelo balanço global.<br />
De fato, o sistema tecnológico tem necessidade de energia extraída. A construção de uma<br />
estrada, os meios de transportes, uma cidade, uma indústria, (...) necessitam de energia extraída e<br />
“consumida/transformada” para que sejam construídas ou movidas. Exaurindo-se os recursos como o<br />
petróleo, o metano e o carvão, o sistema tecnológico atual deverá converter-se e modificar-se, sob pena de<br />
muitos dos atuais processos produtivos desaparecerem.<br />
Para esta abordagem, as idéias reunidas por Christofoletti (1990) contribuíram para a discussão.<br />
Salienta o autor que, ao se abordar os sistemas em Geografia Física, os geógrafos devem focalizar os<br />
geossistemas, sem olvidar os controles exercidos pelas atividades antrópicas, que podem contabilizar<br />
como inputs dc energia e matéria inferidas nas características, na dinâmica e transformação dos sistemas.<br />
O objetivo não é chegar a um modelo de geossistema onde haja um equilíbrio, embora ao se<br />
proceder a um estudo de impactos ambientais o pesquisador deverá considerar estar ciente do<br />
entrosamento aninhado entre os vários níveis da concepção hierárquica da organização espacial e avaliar<br />
adequadamente, em cada escala, a significância da ação exercida pelos fatores físicos e sócioeconômicos.<br />
Não se devem considerar os componentes do quadro natural por si mesmo, mas investigar as<br />
unidades resultantes da interação e as conexões existentes nesse conjunto. Essa concepção evidencia que<br />
o conjunto resultante não é apenas a composição da somatória das suas partes, mas características que só<br />
o todo possui.<br />
Para Christofoletti (1990), toda atividade antrópica exercida na superfície terrestre age sobre a<br />
dinâmica e características de um determinado geossistema e, por fluxos de energia, sobre os aspectos de<br />
cada elemento particular. Nos estudos dos geossistemas, deve-se integrar os inputs energéticos dos<br />
processos pluviométricos e dos processos geodinâmicos. Para exemplificar, citamos as mudanças e as<br />
transformações na dinâmica e na expressividade espacial físicogeográficas.<br />
Em tempos atuais, contamos com uma rede mundial de microcomputadores, com o imageamento<br />
contínuo da superfície da Terra e com os mais diversos sistemas de monitoramento de dados. Com todo<br />
esse arsenal tecnológico, as possibilidades de aplicabilidade nos estudos das possíveis alterações nos<br />
componentes dos sistemas são satisfatórias. As imagens de satélites nos fornecem dados da superfície<br />
seqüenciais possibilitando a análise de um contínuo evolutivo.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Para uma compreensão a respeito de Geossistema e seus componentes, é necessário voltar-se ao<br />
objetivo, pois ele direcionará a resposta. Seus elementos devem ser considerados de acordo com o seu<br />
valor num dado momento histórico, o clima, a hidrografia, o solo, a vegetação e, sobretudo, o<br />
componente antrópico. Todos devem ser considerados na análise.<br />
Os componentes necessariamente considerados deixam de ter características próprias. O que<br />
fundamenta a análise é o caráter da inter-relação, causas e evolução dos componentes e dos fluxos de<br />
energia que propulsionam os geossistemas. A energia liberada ou acrescida é uma resposta a qualquer<br />
alteração que se processa extra ou intra geossitêmica.<br />
As ações antrópicas modernas têm dinamizado os geossistema a tal ponto que as inter-relações<br />
entre os componentes têm gerado fluxos de energia não assimilados pelos componentes; gerando, dessa<br />
forma, desequilíbrios. Podem ser considerados também, que a energia excedente está sendo<br />
disponihilizada ao meio ambiente global, e o aquecimento geral da atmosfera pode ser uma das<br />
conseqüências.<br />
5. As alterações nos geossistemas e o clima.<br />
Como o clima é o componente dos geossistemas que mais transcendem os seus limites, tem sido<br />
o objeto de maior preocupação de inúmeras instituições ligadas ao meio ambiente. Os Propósitos da<br />
Convenção Sobre Mudança do Clima (C&T Brasil 2003), exemplificam esta preocupaçao:<br />
1. “Efeitos negativos da mudança do clima” significam as mudanças no meio ambiente físico ou biota<br />
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resistência<br />
ou produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o funcionamento de sistemas<br />
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humano.<br />
2. “Mudança do clima” significa uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à<br />
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some áquela provocada pela<br />
variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.<br />
3. “Sistema climático” significa a totalidade da atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera e suas interações.<br />
4. “Emissões” significam a liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera numa área<br />
específica e num período determinado.<br />
5. “Gases de efeito estufa” significam os constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicas, que<br />
absorvem e reemitem radiação infravermclha.<br />
6. “Organização regional de integração econômica” significa uma organização constituída de Estados<br />
soberanos de uma determinada região que tem competência em relação a assuntos regidos por esta<br />
Convenção ou seus protocolos, e que foi devidamente autorizada, em conformidade com seus procedimentos<br />
internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar os mesmos ou a eles aderir.<br />
7. “Reservatórios” significam um componente ou componentes do sistema climático no qual fica<br />
armazenado um gás de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa.<br />
8. “Sumidouro” significa qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa,<br />
um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera.<br />
9. “Fonte” significa qualquer processo ou atividade que libere um gás de efeito estufa, um aerossol ou um<br />
precursor de gás de efeito estufa na atmosfera. (C&T Brasil 2003)<br />
Os objetivos estabelecidos pela Convenção sobre Mudança do Clima também reforçam a idéia<br />
de que o clima é um componente do sistema terrestre a responder às agressões antropogênicas e natural, e<br />
que as eventuais modificações nos demais componentes são conseqüências.<br />
Por essa razão, justifica-se a preocupação em abordar as idéias de Sotchava (1978), que<br />
considera as conexões e não os componentes em si e por si. Ou seja, devem ser consideradas as interrelações<br />
assim como também as interações que, quando alteradas, poderão desencadear fluxos de energia<br />
que, em condições dinâmicas habituais, eram potencialmente engendradas pelos próprios geossistemas.<br />
A energia liberada e acumulada no sistema global comanda a dinâmica do sistema planetário, ou<br />
seja, as trocas de energia (calor) entre as zonas da Terra. As correntes oceânicas, os ventos alísios e<br />
contra-alísios, os ciclones extratropicais, as correntes convectivas. são exemplos, entre outros, de como a<br />
energia disponibilizada no meio é consumida”.<br />
A ação antrópica está acrescentando ou redirecionando a energia nos geossistemas que, por sua<br />
vez, está liberando ao meio essa energia. Assim, as alterações climáticas globais, parecem ser as<br />
219
220<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
conseqüências mais significativas neste momento histórico. O objetivo principal da Convenção Sobre<br />
Mudanças do Clima, além de reforçar a idéia de que o clima é o componente do sistema que, neste<br />
momento, mais preocupa as autoridades governamentais (C&T Brasil 2003).<br />
O objetivo final desta Convenção (Convenção Sobre Mudanças do Clima) e de quaisquer<br />
instrumentos jurídicos com ela relacionados que adotem a Conferência das Partes é o de alcançar, em<br />
conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de<br />
gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema<br />
climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptaremse<br />
naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que<br />
permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. (C&T Brasil 2003).<br />
Há um grande questionamento a respeito de ser possível a redução da emissão de gases de efeito<br />
estufa na atmosfera. E duvidoso que seja possível a produção de bens e alimentos em quantidade e<br />
qualidade suficiente para garantir o mínimo de qualidade de vida para uma população crescente sem que<br />
os geossistemas sejam modificados. E para finalizar, em uma utilização sustentável pode ser<br />
implementada em um geossistema em resistásia.<br />
O homem precisa, necessariamente, conhecer profundamente as interações que se processam no<br />
interior dos geossistemas para, a partir de então, poder atuar de forma sustentável e sem agravar a<br />
degradação do meio.<br />
6. Abordagem geográfica sobre as alterações no meio físico.<br />
Diante das idéias expostas, um conceito que deverá ganhar corpo neste princípio deste século é o<br />
da entropia, aplicado aos sistemas terrestre. Sem pretensões de aprofundar na questão, parece oportuno,<br />
principalmente diante das intensas agressões que o meio ambiente vem sofrendo.<br />
Ao se analisarem as degradações ambientais, como resultado do estado de energia disponível no<br />
meio, ou seja, o estado de desordem em que a energia se encontra que é medida por uma quantidade<br />
conhecida por entropia. Para a Física, quanto maior é o estado de desorganização, tanto maior é a<br />
entropia, quanto menos intensa for a desorganização, menor é a entropia. É essa a preocupação: seis<br />
bilhões de seres humanos “consumindo” energia e aumentando a energia, essa transformada a partir da<br />
agropecuária, da queda d’água, da combustão dos combustíveis fósseis e da energia retirada do átomo.<br />
Aparentemente a dissipação da energia tende a provocar um aumento da entropia. O componente<br />
que responde quase que simultaneamente é o clima, que, por sua vez, causará “desordem” nos demais<br />
componentes. Um exemplo disso é a possibilidade de mudanças climáticas derivadas do aumento de CO2<br />
na atmosfera. A variabilidade climática, por se tratar de parâmetro possível de ser mensurado, é um dado<br />
muito interessante e possível de ser investigado, inclusive à grandeza de um geossistema.<br />
Se numa dada região for constatado que a amplitude térmica anual teve alterações, os dias com<br />
registros de precipitações diminuíram, as chuvas se tornaram mais intensas em cada episódio, a<br />
velocidade do vento aumentou em determinados meses, admite-se a ocorrência de tornado pela primeira<br />
vez no sul do Brasil; a temperatura no verão está mais alta, a umidade relativa do ar também se mostra<br />
alterada, é possível que tais modificações desencadeiam fluxos de energia que afetam outros elementos do<br />
geossistema, e aumenta o estado de desorganização, ou seja, aumentam a entropia do sistema. Como<br />
causa ou como conseqüência, as alterações no clima são cada vez mais evidentes e as alterações<br />
manifestadas ou desencadeadas são motivos de preocupação de pesquisadores e autoridades.<br />
7. Abordagem geográfica sobre as alterações no meio físico, a busca de um novo paradigma.<br />
Com todo o desenvolvimento tecnológico disponibilizado, a geografia não conseguiu dar conta<br />
satisfatoriamente. Embora a climatologia brasileira se desenvolveu bastante a partir da rica e vasta<br />
produção de Monteiro, que introduziu, no Brasil, a Climatologia Moderna.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
Para Sant’Anna Neto (2002), por uma Geografia do Clima, considera-se que o paradigma<br />
perseguido pela climatologia brasileira, a partir de Monteiro através da análise rítmica, em 40 anos no<br />
Brasil, produziu um grande volume de trabalhos, agora, aliado ao desenvolvimento computacional entre<br />
outras ferramentas tecnológicas, possibilitou, pela primeira vez na história, de se obter uma visão da Terra<br />
em escala planetária, como um planeta orgânico. Começou-se a perceber que o clima, mais do que um<br />
fato, é uma teoria, que, longe de funcionar de acordo com uma causalidade linear herdada da concepção<br />
mecanicista de um universo regulado como um relógio, “... se expressa num quadro conjuntivo ou<br />
sincrônico à escala planetária, num raciocínio ao qual ainda não estamos acostumados”. Sant’Anna Neto<br />
(2002) considera que:<br />
As concepções aceitas até hoje não são mais suficientemente esclarecedoras para a explicação de um<br />
universo “caótico” e “desordenado”. As novas revelações a respeito das teorias do caos e da catástrofe<br />
podem, ao que tudo indica, ser capazes de trazer à tona antigos problemas de ordem conceitual que foram<br />
incapazes de explicar, em toda a sua magnitude, o complexo funcionamento dos fenômenos atmosféricos e<br />
permitir, sob novas perspectivas, a compreensão da dinâmica climática completamente inimaginável sob as<br />
amarras metodológicas de uma ciência que ainda procede de modo simplista e que anda tão necessitada de<br />
reformulações teóricas condizentes com estes novos espíritos científicos. Neste final de século, acrescenta o<br />
autor, nenhuma postura investigadora parece ser mais acertada do que a busca de uma nova razão para um<br />
novo conhecimento. Todo o esforço realizado nas últimas décadas, nos vários campos da ciência, tem<br />
provocado inevitáveis reformulações teóricas, que têm convergido em uma tendência universal de busca de<br />
uma concepção transdisciplinar, que exige uma postura mais radical para a compreensão do que Monteiro<br />
(1991) chama de “imensa desordem das verdades estabelecidas”.<br />
Sant’Anna Neto (2002), ao considerar uma Geografia do Clima, propôs um novo paradigma,<br />
Geografia do Clima, também preocupado com as respostas que poderão se desencadear com o avanço na<br />
conquista e na ocupação do território. Veja as considerações do autor:<br />
Neste contexto, à medida que o modo de produção capitalista avança na conquista e na ocupação do<br />
território, primordialmente como um substrato para a produção agrícola e criação de rebanhos e,<br />
posteriormente, erguendo cidades, expandindo o comércio, extraindo recursos naturais e instalando<br />
indústrias, ou seja, ao se apropriar da superfície terrestre, este se constitui no principal agente produtor do<br />
ambiente. Como este ambiente é “vivo” e regulado por processos e dinâmicas próprias, responde às<br />
alterações impostas pelo sistema, resultando em níveis de produção dos ambientes, naturais e sociais, dos<br />
mais variados.(...), a análise geográfica do clima que se tem praticado se sustenta a partir do tripé ritmo<br />
climático — ação antrópica – impacto ambiental. A análise episódica comparece como fundamento básico<br />
no desenvolvimento da Climatologia Geográfica que tenta dar conta da explicação, da gênese e dos<br />
processos de natureza atmosférica intervenientes no espaço antropizado. Entretanto, esta análise não tem sido<br />
suficientemente esclarecedora dos mecanismos de feedback, nem das projeções futuras que deveriam ser<br />
incorporadas nas propostas de gestão e monitoramento dos fenômenos atmosféricos.<br />
As questões ambientais têm despertado preocupações em todos os seguimentos científicos. As<br />
diversas áreas de pesquisas tem direcionado atenções aos problemas relativos ao meio ambiente. Na<br />
Geografia, as preocupações são ainda maiores, principalmente se considerá-la como uma ciência que<br />
procura dar explicações à organização do espaço e, para isso, considera o homem como o agente<br />
principal. Se o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico de uma sociedade transforma o<br />
ambiente, não há dúvida de que também o clima é influenciado. Pois o clima pode ser considerado um<br />
regulador da produção agrícola além de um importante componente da qualidade de vida das populações.<br />
Parece razoável, neste momento, em que o desenvolvimento tecnológico nos possibilita, através<br />
da informática e do sensoriamento remoto, considerando que as informações veiculam em escala<br />
planetária e podem ser obtidas e analisadas em tempo real, procurar investigar dentro da análise rítmica<br />
um novo paradigma: o “estado de entropia dos geossistemas terrestres”. Para tanto, é necessária a<br />
utilização das técnicas geoprocessuais.<br />
As ciências exatas, tais como a Física, a Estatística e a Meteorologia, podem, já que apresentam<br />
um arsenal metodológico capaz de realizar operações que envolvem elementos complexos, auxiliar e<br />
configurar uma metodologia capaz de “estimar” (mensurar) o estado de entropia, ou seja, em função da<br />
intensidade das alterações causadas pelo homem, categorizar o estado de entropia. Por outro lado, a<br />
221
222<br />
Revista Formação – Edição Especial – n.13 v.2<br />
resposta pode estar no geoprocessamento, ferramenta cuja aplicação se amplia a cada dia. Não é exclusiva<br />
de uma determinada área, está disponível a todos os pesquisadores e planejadores do meio físico.<br />
O número de pesquisadores que utilizam o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é cada vez<br />
maior, e o campo de atuação se amplia. Novas tecnologias são disponibilizadas. A parcela da população a<br />
ter acesso às ferramentas computacionais também se amplia. Ao que parece imutável é a consciência de<br />
uma parcela da população; de um lado os grandes empresários que na busca do lucro selvagem e<br />
irracional e do outro os consumidores e não consumidores desprovidos de conhecimentos não se<br />
conscientizam sobre as questões das alterações que se processam no meio natural em função dos<br />
desequilíbrios causados pela ação antrópica.<br />
8. Considerações finais.<br />
A transformação da fonte de energia fóssil em unidades caloríficas mais a redução da biomassa<br />
do planeta, além da transposição da biomassa, ou seja, gêneros agrícolas produzidos na zona tropical, são<br />
transportados e consumidos na temperada, considerando a biomassa como energia potencial e que se<br />
encontrava em equilíbrio, principalmente anterior ao desenvolvimento tecnológico recente, pós<br />
Revolução Industrial, são parâmetros a ser considerados.<br />
Com a globalização econômica e o desenvolvimento tecnológico, a climatologia tem buscado<br />
explicações para uma análise geográfica profunda. Embora não se tenha evoluído o suficiente para<br />
predizer as respostas que poderão ser desencadeadas com as alterações que se procedem no meio natural a<br />
partir da energia potencializada nos geossistemas. Parece prudente que se busquem novas metodologias e<br />
fórmulas que sejam capazes de explicar como as ações praticadas se refletem no estados da entropia do<br />
sistema terrestre. A partir do momento que a entropia for “mensurada”, os caminhos ficarão acessíveis.<br />
Enquanto não se tem essa metodologia, os esforços terão que ser canalizado para a conscientização da<br />
população, seja através da educação formal ou informal. E a partir do momento em que a grande maioria<br />
da população estiver consciente do problema, medidas mitigadoras minimizarão os impactos que advirão<br />
de mudanças climáticas, ou quem sabe, minimizarão os impactos no meio natural de tal forma que a<br />
entropia seja minimizada e as características climáticas permanecerão estáveis.<br />
9. Referências Bibliográficas.<br />
BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global: esboço metodológico. In: Caderno de Ciências<br />
da Terra. São Paulo: IGEOG-USP,n. 13, 1971.<br />
BRASIL. Convenção sobre mudança do clima — O Brasil e a Convenção - Quadro das Nações Unidas<br />
- Editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações<br />
Exteriores da República Federativa do Brasil; C& T Brasil 2003, disponível on line www.ana.gov.br.<br />
Consultado em abril de 2003.<br />
CHRISTOFOLETTI, A. A aplicação da abordagem em sistema na Geografia Física. Revista Brasileira<br />
de Geografia. IBGE, v, 52, n 2, p. 21-35, 1990.<br />
LOMBARDO, M. A. Mudanças Climáticas: Considerações sobre Globalização e Meio Ambiente. In:<br />
Boletim Climatológico. (Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP) Presidente Prudente, SP. Ano 01,<br />
N 0 02. Campus de Presidente Prudente. 1996.<br />
MENDONÇA. F. O clima urbano de cidade de porte médio e pequeno: aspecto teórico metodológico e<br />
estudo de caso, In. SANT’ANNA NETO, J. L., e ZAVATINI, J. A. (Org.). Variabilidade e Mudanças<br />
Climáticas. Maringá: Eduem, 2000.<br />
MONTEIRO, C. A. de F., Cadernos Geográficos. Universidade federal de Santa Catarina. Centro de<br />
Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Geociências, n. 1 (maio 1999), Florianópolis; imprensa<br />
universitária. 1999.<br />
ROSS, J, L, S. O registro cartográfico dos fatos geomorfológicos e a questão da taxonomia do relevo. In:<br />
Revista do Departamento de Geografia. São Paulo, FELCH-USP, n. 8, 1994.
BORSATO, V. A.; SOUZA FILHO, E. E.<br />
Ação antrópica, alterações nos geossistemas, variabilidade climática: contribuição ao problema.<br />
SANTANNA NETO, J. L., e ZAVATINI, J. A. (Org.). Variabilidade e Mudanças Climáticas.<br />
Implicações ambientais e socioeconômicas. In: SANTANNA NETO, J. L (org). As chuvas no Estado de<br />
São Paulo: a variabilidade pluvial nos últimos 100 anos. Maringá: Eduem, 2000.<br />
________. Por uma Geografia do Clima: Antecedentes históricos, paradigmas contemporâneos e<br />
uma nova razão para um novo conhecimento. Laboratório de Climatologia. Departamento de<br />
Geografia da <strong>FCT</strong>/IINESP. Grupo de Pesquisa “Climatologia Geográfica” (CNPq), 2002.<br />
SOTCHAVA, V. B. Por uma Teoria de Classificação de Geossistemas de Vida Terrestre.<br />
Universidade de São Paulo, Instituto de Geografia “14 Biogeografia”. 1978.<br />
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/SUPREN, 1977.<br />
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia - Brasília: INMET, Gráfica e Editora Stilo,<br />
2000.<br />
223
NORMAS EDITORIAIS<br />
Revista Formação é uma publicação semestral do Programa de Pós-graduação em Geografia da<br />
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, desde 2002. Publica textos,<br />
prioritária, mas não exclusivamente, de autoria de alunos de Pós-Graduação em Geografia da<br />
<strong>FCT</strong>/UNESP. A autoria pode ser individual, em parceria com: outros pós-graduandos, professor<br />
responsável pela disciplina que suscitou o artigo ou em parceria com o orientador. Em se tratando de<br />
artigo derivado de pesquisa em andamento, desde que não comprometa o caráter de ineditismo da<br />
dissertação ou tese a ser defendida.<br />
1 – Todos os textos enviados a esta revista devem ser inéditos e redigidos em português, inglês, francês<br />
ou espanhol, desde que corresponda ao idioma original do(s) autor(es). As formas de textos são:<br />
ARTIGOS - Relacionados à temática da revista e apresentados em forma de revisão de literatura, ensaios<br />
ou resultados de pesquisa.<br />
ENTREVISTAS – Realizadas com professores e/ou pesquisadores da Geografia e/ou áreas afins, que<br />
abordem temática de relevância para os objetivos da Revista.<br />
RESENHAS - Resenhas críticas de livros, artigos, teses e dissertações.<br />
PROVAS – Melhores provas realizadas pelos candidatos ao exame de seleção do Programa de Pósgraduação<br />
em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP, no semestre de lançamento da Revista.<br />
RESUMO DE DISSERTAÇÕES E TESES – Resumo de dissertações e teses defendidas no Programa<br />
de Pós-Graduação em Geografia da <strong>FCT</strong>/UNESP.<br />
2 - Os textos devem ser apresentados com extensão mínima de 20 e máxima de 40 páginas, enquanto as<br />
resenhas deverão conter, no máximo, 10 páginas. A formatação deve seguir espaço simples, em folhas de<br />
papel branco, formato A-5 (148 x 210 mm), impresso em uma só face, sem rasuras e/ou emendas, e<br />
enviados em três vias impressas, sendo uma identificada e duas sem qualquer identificação. Devem ser<br />
acompanhadas de versão em disquete (de 3,5") ou CD, compostos em Word for Windows, utilizando-se a<br />
fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior 2,0, direita e inferior 1,0.<br />
3 - O cabeçalho deve conter o título (e subtítulo, se houver), em fonte Times New Roman tamanho 12 e<br />
negrito, maiúscula e centralizada. Deve haver um espaço de uma linha entre o título e o(s) nome(s) do(s)<br />
autor(es), que devem estar em Times New Roman tamanho 12 e negrito. O(s) sobrenome(s) do(s)<br />
autor(es) do texto deverá ser grafado em maiúsculo. No caso dos artigos o texto deverá indicar a origem<br />
do texto (se resultante de disciplinas, resultados de pesquisa, etc.) na primeira página, utilizando-se de<br />
nota de rodapé indicada por asterisco. As informações devem estar em fonte Times New Roman tamanho<br />
9.<br />
O mesmo procedimento deve ser adotado para a identificação do(s) autor (es), neste caso, informando o<br />
endereço eletrônico e filiação institucional. No caso de mais de um autor, deve-se pular uma linha entre<br />
eles.<br />
4 - O texto deve ser acompanhado de resumos em português e espanhol, nesta ordem, com no mínimo 10<br />
e no máximo 15 linhas cada um, em espaço simples. Deve haver uma relação de 3 palavras-chave que<br />
identifiquem o conteúdo do texto. Os títulos Resumo e Resumén devem estar em fonte Times New Roman<br />
tamanho 12 e negrito, logo no início do texto. O resumo deve ser formatado em fonte Times New Roman<br />
tamanho 12. Na linha abaixo de cada resumo devem vir as respectivas palavras-chave. As palavras<br />
Palavras-chave e Palabras-clave devem estar em fonte Times New Roman tamanho 12 e negrito, logo no<br />
início da linha. As palavras-chave devem estar em fonte Times New Roman tamanho 12 e separadas por<br />
ponto e vírgula.<br />
5 - Duas linhas abaixo dos resumos deve começar o texto. A estrutura do texto deve ser dividida em<br />
partes numeradas, a começar pela Introdução, e com subtítulos, que devem estar em minúsculo, fonte<br />
Times New Roman 12 e negrito. Para cada novo subtítulo deve ser dado um espaço de uma linha do texto.<br />
É essencial conter introdução e conclusão ou considerações finais.<br />
6 - As notas de rodapé devem ser evitadas e não deverão ser usadas para referências bibliográficas. Esse<br />
recurso pode ser utilizado quando extremamente necessário e, nesse caso, cada nota deve ter em torno de<br />
3 linhas e o comando “inserir notas” sempre evitado.<br />
Palavras em destaque deverão vir em negrito e não sublinhadas.<br />
Não se deve paginar os textos.
Normas Editoriais<br />
Os textos deverão ser entregues após revisão ortográfica e gramatical. Textos com incorreções<br />
gramaticais e cuja sintaxe dificulte sua compreensão poderão ser rejeitados.<br />
7 - As citações e referências bibliográficas devem seguir o padrão atual da ABNT, o qual pode ser<br />
consultado na síntese elaborada pela biblioteca da <strong>FCT</strong>/<strong>Unesp</strong>, no endereço:<br />
http://www2.prudente.unesp.br/biblioteca/manual_abnt.pdf<br />
8 - As ilustrações (mapas, figuras, tabelas, desenhos, gráficos, fotografias,...) devem ser enviadas<br />
preferencialmente em arquivos digitais (formatos JPG, BMP, CDR ou WMF), sempre em branco e preto.<br />
As dimensões máximas, incluindo legenda e título, são de 12 cm, no sentido horizontal da folha, e 17 cm,<br />
no seu sentido vertical. Ao(s) autor(es) compete indicar a disposição preferencial de inserção das<br />
ilustrações no texto, utilizando, para isso, no lugar desejado, a seguinte indicação: {(fig., foto, quadro,<br />
tabela,...) (nº)}.<br />
9 - Os originais serão apreciados pela Coordenação de Publicações, que poderá aceitar, recusar ou<br />
reapresentar o original ao(s) autor(es) com sugestões de alterações editoriais. Os artigos serão enviados<br />
aos pareceristas, cujos nomes permanecerão em sigilo, omitindo-se também o(s) nome(s) do(s) autor(es).<br />
10 - Os conceitos emitidos nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), não<br />
implicando, necessariamente, na concordância da Coordenação de Publicações e/ou do Conselho<br />
Editorial.<br />
225
Pede-se permuta<br />
<strong>FORMAÇÃO</strong><br />
Revista do Curso de Pós Graduação em Geografia<br />
Seção de Pós Graduação<br />
Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP<br />
Rua Roberto Simonsen, 305, Centro Educacional<br />
Caixa Postal, 957<br />
19060-900 – Presidente Prudente, SP, Brasil<br />
E-mail: posgrad@prudente.unesp.br