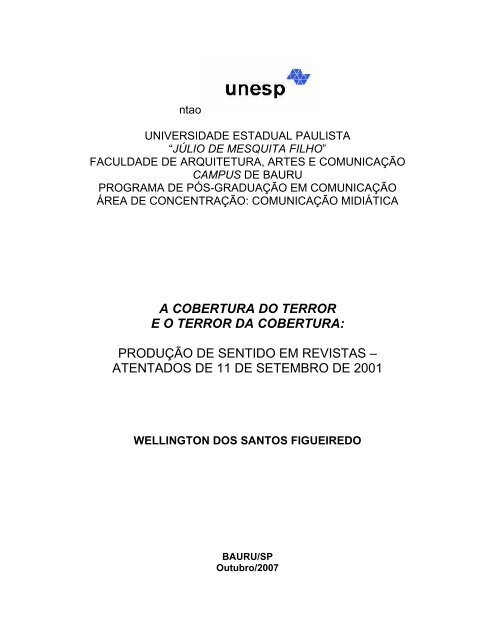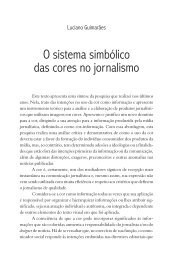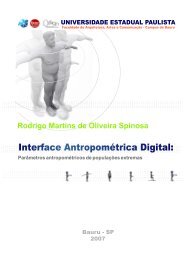download da dissertação - voltar - Unesp
download da dissertação - voltar - Unesp
download da dissertação - voltar - Unesp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ntao<br />
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA<br />
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”<br />
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO<br />
CAMPUS DE BAURU<br />
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO<br />
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA<br />
A COBERTURA DO TERROR<br />
E O TERROR DA COBERTURA:<br />
PRODUÇÃO DE SENTIDO EM REVISTAS –<br />
ATENTADOS DE 11 DE SETEMBRO DE 2001<br />
WELLINGTON DOS SANTOS FIGUEIREDO<br />
BAURU/SP<br />
Outubro/2007
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA<br />
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”<br />
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO<br />
CAMPUS DE BAURU<br />
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO<br />
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA<br />
WELLINGTON DOS SANTOS FIGUEIREDO<br />
A COBERTURA DO TERROR<br />
E O TERROR DA COBERTURA:<br />
PRODUÇÃO DE SENTIDO EM REVISTAS -<br />
ATENTADOS DE 11 DE SETEMBRO DE 2001<br />
Dissertação de Mestrado apresenta<strong>da</strong> por<br />
Wellington dos Santos Figueiredo ao<br />
Programa de Pós-Graduação em<br />
Comunicação – Área de Concentração:<br />
Comunicação Midiática. Linha de<br />
Pesquisa: Produção de Sentido na<br />
Comunicação Midiática, <strong>da</strong> Facul<strong>da</strong>de de<br />
Arquitetura, Artes e Comunicação <strong>da</strong><br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual Paulista “Júlio de<br />
Mesquita Filho” – Campus Bauru-SP, como<br />
requisito para obtenção do Título de Mestre<br />
em Comunicação Midiática, desenvolvi<strong>da</strong><br />
sob a orientação <strong>da</strong> Professora Doutora<br />
Maria Lúcia Vissotto Paiva Diniz.<br />
BAURU/SP<br />
Outubro/2007
DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO<br />
UNESP – BAURU<br />
Figueiredo, Wellington dos Santos.<br />
A cobertura do terror e o terror <strong>da</strong> cobertura:<br />
produção de sentido em revistas – atentados de 11<br />
de setembro de 2001 /Wellington dos Santos<br />
Figueiredo, 2007.<br />
195 f.<br />
Orientador: Maria Lúcia Vissotto Paiva Diniz.<br />
Dissertação (Mestrado) – Universi<strong>da</strong>de Estadual<br />
Paulista. Facul<strong>da</strong>de de Arquitetura, Artes e<br />
Comunicação, Bauru, 2007.<br />
1. Comunicação. 2. Imprensa e propagan<strong>da</strong>. 3.<br />
Socie<strong>da</strong>de <strong>da</strong> informação. 4. Jornalismo – Aspectos<br />
sociais. 5. Jornalismo – Terrorismo. 6. 11 de<br />
setembro de 2001. I - Universi<strong>da</strong>de Estadual<br />
Paulista. Facul<strong>da</strong>de de Arquitetura, Artes e<br />
Comunicação. II – Título.<br />
Ficha catalográfica elabora<strong>da</strong> por Maricy Fávaro Braga – CRB-8 1.622
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA<br />
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”<br />
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO<br />
CAMPUS DE BAURU<br />
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO<br />
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA<br />
A <strong>dissertação</strong> desenvolvi<strong>da</strong>, A cobertura do terror e o terror <strong>da</strong> cobertura:<br />
produção de sentido em revistas - atentados de 11 de setembro de 2001, por<br />
WELLINGTON DOS SANTOS FIGUEIREDO, foi submeti<strong>da</strong> à Banca Examinadora<br />
como exigência para obtenção do Título de Mestre em Comunicação Midiática,<br />
junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação <strong>da</strong> Facul<strong>da</strong>de de<br />
Arquitetura, Artes e Comunicação <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de Estadual Paulista “Júlio de<br />
Mesquita”, Campus de Bauru.<br />
BANCA EXAMINADORA:<br />
Presidente: Prof. Dra. Maria Lúcia Vissotto Paiva Diniz<br />
Instituição: FAAC/UNESP – Bauru-SP<br />
Titular: Prof. Dr. Dimas Antonio Künsch<br />
Instituição: Facul<strong>da</strong>de Cásper Líbero – São Paulo-SP<br />
Titular: Prof. Dr. Ruy Moreira<br />
Instituição: Universi<strong>da</strong>de Federal Fluminense – Niterói-RJ<br />
Bauru, 19 de outubro de 2007
DEDICATÓRIA<br />
Esta <strong>dissertação</strong> é dedica<strong>da</strong> à memória <strong>da</strong> colega Ronise Frediane Motta.<br />
Ronise, a mão do destino interrompeu-lhe a vi<strong>da</strong> e a conduziu para outro<br />
plano, deixando nas pessoas que com você conviveram, um vazio. Mas seu<br />
passamento não é forte o suficiente para apagar de nossa memória, de nosso<br />
coração, seu doce sorriso. Como nas palavras de Guimarães Rosa, você não<br />
morreu, tornou-se encanta<strong>da</strong>. Seu espírito alegre agora brilha junto às estrelas e,<br />
habitando o firmamento, não mais será apagado.
AGRADECIMENTOS<br />
O momento dos agradecimentos é um dos mais difíceis <strong>da</strong> pesquisa. Ao<br />
tentarmos traduzir em palavras nossos sentimentos, corremos o risco de não<br />
conseguirmos manifestar corretamente o ver<strong>da</strong>deiro significado de nossa gratidão.<br />
Dentro dessa limitação, desejamos neste espaço manifestar nossos<br />
sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para que chegássemos até<br />
este ponto.<br />
Primeiramente externamos publicamente nossos agradecimentos à<br />
professora doutora Maria Lúcia Vissotto Paiva Diniz, pelo carinho, paciência,<br />
confiança e sabedoria a nós manifesta<strong>da</strong>s durante o percurso desta pesquisa.<br />
Com gracioso sopro de sabedoria purificou as palavras redigi<strong>da</strong>s nesta<br />
<strong>dissertação</strong>. Seus consistentes e apolíneos ensinamentos foram essenciais para o<br />
sucesso desta jorna<strong>da</strong>.<br />
Aos docentes Antonio Carlos de Jesus, Regina Celia Baptista Berluzzo,<br />
Maria Inês Mateus Dota, Luciano Guimarães e Cláudio Bertolli Filho que<br />
durante as aulas compartilharam seus conhecimentos e nos apontaram<br />
importantes diretrizes para o desenvolvimento desta <strong>dissertação</strong>.<br />
À banca de exame de qualificação, integra<strong>da</strong> pelos docentes Cláudio<br />
Bertolli Filho e Maximiliano Martin Vicente. Os conselhos destinados à<br />
pesquisa exalaram um toque de intelectuali<strong>da</strong>de e sobrie<strong>da</strong>de importantes para<br />
corrigir direcionamentos e sedimentar o texto frente às pequenas cavi<strong>da</strong>des<br />
presentes e que poderiam erodir e fragilizar esta <strong>dissertação</strong>.<br />
Aos meus pais Paulo Figueiredo e Neuza Xavier dos Santos Figueiredo,<br />
pela compreensão e extrema confiança. Não sei quantas vezes as minhas provas<br />
foram suas provas de amor e nem quantos sonhos renunciaram para que os meus<br />
fossem realizados.
Ao amigo Elvis Christian Madureira Ramos, pelo imenso apoio e<br />
fraternais palavras de incentivo. Sempre ao nosso lado nos momentos de<br />
“turbulência intelectual”, importante no período pré-mestrado, indispensável no<br />
transcorrer <strong>da</strong> pesquisa. Sua amizade materializou a epígrafe de Cícero: “Viver<br />
sem amigos não é viver”.<br />
Ney Vilela, que no decorrer do curso tivemos o privilégio de tê-lo como<br />
companheiro em quatro disciplinas, além de poder contar com seu apoio,<br />
conhecimento e amizade até os dias atuais.<br />
Marcos Paulo <strong>da</strong> Silva, pela amizade, paciência e gentileza nas trocas de<br />
informações sobre textos e autores que foram importantes em nosso trabalho.<br />
Aos companheiros do GES (Grupo de Estudos Semióticos), em especial a<br />
Juliano José de Araújo pela recepção e apoio nos momentos de dúvi<strong>da</strong>s.<br />
À amiga Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, pela amizade,<br />
companheirismo, carinho e incentivo. A atenção e o apreço a nós dispensados na<br />
reta final desta pesquisa foram de extrema valia. “Um amigo é alguém que sabe a<br />
canção de seu coração e pode entoá-la quanto você tiver se esquecido <strong>da</strong> letra”.<br />
Ao professores e amigos Antonio Francisco Magnoni, Ana Silvia Lopes<br />
Davi Médola, Lourenço Magnoni Junior e José Misael Ferreira do Vale pelo<br />
imenso apoio <strong>da</strong>do antes e durante a pesquisa.<br />
À amiga Tatiana Pedra pelas palavras de incentivo e pelos valiosíssimos<br />
préstimos na elaboração do abstract presente nesta pesquisa. Sua serie<strong>da</strong>de e<br />
excelência nas discussões sobre o vocabulário e seus sentidos, ecoaram os<br />
dizeres de Hegel: “Na<strong>da</strong> de grandioso existe sem paixão”. Na<strong>da</strong> mesmo!<br />
Aos professores Dimas Antonio Künshc (Facul<strong>da</strong>de Cásper Líbero) e Ruy<br />
Moreira (Universi<strong>da</strong>de Federal Fluminense) pela honra de tê-los em nossa banca<br />
como também pela sereni<strong>da</strong>de, rigor científico e sabedoria típica dos grandes<br />
intelectuais com que conduziram o debate sobre esta <strong>dissertação</strong>. Seus<br />
ensinamentos e fraternais conselhos enriqueceram muito o texto final deste<br />
trabalho, e guiarão nossas análises em futuras produções acadêmicas.
Ao aluno e amigo Homero Gustavo Ferreira Amaro pelos valiosos e<br />
préstimos a nós destinados no apagar <strong>da</strong>s luzes deste trabalho, quando a<br />
máquina resolveu nos pregar uma peça. A competência que de nós se ausentou,<br />
em Homero transbordou!<br />
As minhas hoje alunas e eternas amigas Jéssika Piovezan Fernandes,<br />
Marília Cancian Bertozzo, Laura Ceretti Coachman, Marcela Maldonado<br />
Fabbro Sarturato, Aman<strong>da</strong> Berton, Isabela Licursi Garcia <strong>da</strong> Costa, Eliza<br />
Carloni Roton<strong>da</strong>ro e Helen Caroline Porto Izaac e ao grande amigo Carlos<br />
Eduardo Domingos Loterio pelo imenso carinho, torci<strong>da</strong>, companheirismo e<br />
orações. Não me esquecerei <strong>da</strong> participação de vocês nesta vitória. Vitória que é<br />
tão minha quanto suas! A conquista do título sempre terá a participação de vocês!<br />
Faço minha as palavras do grande escritor mineiro Guimarães Rosa: "Mestre não<br />
é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende." Se hoje me tornei mestre,<br />
é porque além <strong>da</strong> concretização desta pesquisa, pude aprender com vocês, como<br />
bem profere a sentença “roseana”.<br />
E, ca<strong>da</strong> produção intelectual por nós realiza<strong>da</strong>, será sempre uma eterna<br />
homenagem a Álvaro José de Souza. Mestre, exemplo, amigo... Infelizmente<br />
não pode em vi<strong>da</strong> nos ver chegar a este momento. Álvaro, você é parte desta<br />
conquista! A morte física jamais terá a força necessária para apagar a herança<br />
intelectual e o exemplo de integri<strong>da</strong>de que você nos deixou. Nenhum texto,<br />
nenhuma palavra, são capazes de fazer jus à gratidão e orgulho que temos por<br />
sua pessoa.
VERDADE<br />
A porta <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de estava aberta,<br />
mas só deixava passar<br />
meia pessoa de ca<strong>da</strong> vez.<br />
Assim não era possível atingir to<strong>da</strong> a ver<strong>da</strong>de,<br />
porque a meia pessoa que entrava<br />
só trazia o perfil de meia ver<strong>da</strong>de.<br />
E sua segun<strong>da</strong> metade<br />
voltava igualmente com meio perfil.<br />
E os meios perfis não coincidiam.<br />
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.<br />
Chegaram a um lugar luminoso<br />
onde a ver<strong>da</strong>de esplendia seus fogos.<br />
Era dividi<strong>da</strong> em metades<br />
diferentes uma <strong>da</strong> outra.<br />
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.<br />
Nenhuma <strong>da</strong>s duas era totalmente bela.<br />
E carecia optar. Ca<strong>da</strong> um optou conforme<br />
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.<br />
Carlos Drummond de Andrade
RESUMO: O impacto causado pelos atentados de 11 de setembro de 2001 contra<br />
os Estados Unidos despertaram a atenção do mundo e a mídia serviu a duplo<br />
objetivo: fonte de informações (desencontra<strong>da</strong>s) de repórteres (despreparados) e<br />
vitrina dos autores desses atentados que propagavam seus objetivos. Perante o<br />
caráter polissêmico e polifônico assumido pelos meios de comunicação frente aos<br />
atentados, esta <strong>dissertação</strong> analisa os discursos produzidos por quatro revistas<br />
(Veja, CartaCapital, Superinteressante e Caros Amigos). Tomando <strong>da</strong> semiótica<br />
greimasiana dois procedimentos de semântica discursiva, tematização e<br />
figurativização, e conceitos do nível profundo, a análise de vinte textos identificou<br />
mecanismos responsáveis em produzir efeitos de sentidos e discursos construídos<br />
em torno do “outro”, do “diferente”. Na tentativa de explicar a reali<strong>da</strong>de, a mídia<br />
construiu um “inimigo”, justificou a imposição dos valores existentes em um<br />
modelo de civilização ou defendeu a total ruptura do sistema vigente, em textos<br />
mol<strong>da</strong>dos de acordo com axiologias e significações pré-existentes, traduzidos no<br />
repertório social de nossa época. Quando tais práticas afloram, a desinformação<br />
(falseamento) deixa de ser um mero equívoco para se converter em uma poderosa<br />
estratégia enunciativa.<br />
Palavras-chave: Comunicação; Mídia impressa; Informação; Produção de<br />
sentidos; 11 de setembro de 2001.
ABSTRACT: The impact caused by the September 11 th attacks against the United<br />
States of America attracted the world’s attention. In that context, the media acted<br />
both as a source of divergent information from unprepared reporters and as a<br />
means of spreading the attacks perpetrators goals. Taking into consideration the<br />
polysemic and polyphonic aspects assumed by the means of communication<br />
before the attacks, this research focus was to investigate the discourses produced<br />
by four Brazilian magazines (Veja, CartaCapital, Superinteressante and Caros<br />
Amigos). Theoretically supported by two procedures from the Greimasian<br />
semiotics, thematization and figurativization, as well as by the deepest level<br />
concepts, the analysis of the collected <strong>da</strong>ta has pointed out some responsible<br />
mechanisms for producing meanings and discourses about the “other” - the<br />
“different”. Attempting to explain “the reality”, the media constructed an “enemy”. In<br />
order to do so, it justified the imposition of specific society values or even claimed<br />
for the complete rupture with the capitalist values by using discourses from preexisting<br />
ideologies and meanings, converted then into the social repertoire of an<br />
age. On the basis of these analyses, this investigation highlights that, whenever<br />
such (social and discursive) practices emerge, the lack of information (or the<br />
misunderstanding) can not be faced as a mere misconception but as powerful<br />
enunciative strategy.<br />
Key words: Communication, The Press, Information, Meaning production,<br />
September 11 th 2001.
SUMÁRIO<br />
INTRODUÇÃO....................................................................................................... 14<br />
CAPÍTULO 1. A COMUNICAÇÃO, O BOM SENSO E A PESQUISA.................. 21<br />
1.1. A notícia e a teia social............................................................ 23<br />
1.2. O pensamento francês em comunicação................................ 29<br />
1.3. A semiótica francesa............................................................... 31<br />
1.4. Comunicação: uma prática antropológica............................. 37<br />
CAPÍTULO 2. O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2001, O JORNALISMO EM<br />
TEMPO REAL E O ALINHAMENTO MIDIÁTICO........................ 49<br />
2.1. Novo século, velhas histórias............................................... 49<br />
2.2. A águia imola<strong>da</strong>: os atentados ao World Trade Center e ao<br />
Pentágono............................................................................. 50<br />
2.3. Dificul<strong>da</strong>des de compreensão de um acontecimento na TV<br />
em tempo real.......................................................................... 52<br />
2.4. Doutrina Bush, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque e o<br />
recrutamento <strong>da</strong> mídia............................................................. 61<br />
CAPÍTULO 3. O TERRORISMO: UM LEGADO HISTÓRICO E SUA<br />
CARACTERIZAÇÃO NA PLATAFORMA MIDIÁTICA.............. 74<br />
3.1. O terrorismo na história............................................................ 75<br />
3.2. As faces do terrorismo.............................................................. 77<br />
3.3. Islamismo, fun<strong>da</strong>mentalismo e terrorismo................................ 79<br />
3.4. O surgimento do grupo terrorista islâmico Al Qae<strong>da</strong>................ 83<br />
3.5. A Al Qae<strong>da</strong> e o “Terrorismo em Rede”..................................... 85<br />
3.6. Terrorismo na mídia: um contrato semântico polêmico............ 93<br />
3.7. Contextualização para entendimento....................................... 98<br />
CAPÍTULO 4. COBERTURA DOS ATENTADOS CONTRA OS ESTADOS<br />
UNIDOS EM 11 DE SETEMBRO DE 2001 EM QUATRO<br />
VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRESSA BRASILEIRA..................... 103<br />
4.1. Valor e efeito de ver<strong>da</strong>de no universo midiático.................... 103<br />
4.2. Identi<strong>da</strong>de, cultura e a construção <strong>da</strong> notícia: o caso do<br />
Islamismo.................................................................................<br />
107<br />
4.3. Corpus <strong>da</strong> pesquisa.................................................................. 111<br />
4.3.1. Veja..................................................................................... 111<br />
4.3.2. CartaCapital........................................................................ 111<br />
4.3.3. Superinteressante............................................................... 112<br />
4.3.4. Caros Amigos..................................................................... 112<br />
4.4. Temas presentes nos discursos dos periódicos....................... 115<br />
4.4.1. Veja..................................................................................... 115
4.4.2. CartaCapital........................................................................ 135<br />
4.4.3. Superinteressante............................................................... 145<br />
4.4.4. Caros Amigos................................................................... 158<br />
4.4.5. Quadro demonstrativo dos temas dos periódicos<br />
analisados........................................................................... 169<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 170<br />
REFERÊNCIAS.................................................................................................... 178
INTRODUÇÃO<br />
Buscando o sentido<br />
O sentido, acho, é a enti<strong>da</strong>de mais misteriosa do<br />
universo.<br />
Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e<br />
as coisas e os eventos.<br />
O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O<br />
sentido do ato de existir. Recuso-me a viver num<br />
mundo sem sentido.<br />
Estes anseios/ensaios são incursões conceptuais em<br />
busca do sentido.<br />
Pois isso é próprio <strong>da</strong> natureza do sentido: ele não<br />
existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca<br />
que é sua própria fun<strong>da</strong>ção.<br />
Só buscar o sentido faz, realmente, sentido.<br />
Tirando isso, não tem sentido.<br />
Paulo Leminski<br />
Nem lamentar, nem se indignar, mas compreender.<br />
Spinoza<br />
11 de setembro de 2001. Pouco antes <strong>da</strong>s 09h00min horas (horário<br />
estadunidense 1 ), plantões <strong>da</strong>s principais emissoras de telejornalismo do mundo<br />
interrompem sua programação matinal para mostrar imagens de uma <strong>da</strong>s torres<br />
do famoso edifício World Trade Center exalando fumaça. Parecia uma gigantesca<br />
chaminé alçando fuligem no céu azul <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de de Nova York. Juntamente com as<br />
imagens, uma dúvi<strong>da</strong>: o que teria acontecido com a Torre Norte de um dos<br />
principais símbolos estadunidenses? A resposta imediata para tal questão nem<br />
mesmo as pessoas que estavam no edifício poderiam responder e, infelizmente,<br />
grande parte delas jamais a descobriria. Possivelmente a resposta deseja<strong>da</strong><br />
estava aloja<strong>da</strong> na mente de um saudita ancorado provavelmente no Oriente<br />
1 Nesta <strong>dissertação</strong>, faremos uso do vocábulo “estadunidense”, para nos referimos à população e<br />
práticas culturais, políticas, econômicas... inerentes aos Estados Unidos. A escolha deve-se a<br />
imprecisão que termos como “americanos” e “norte-americanos” trazem. Todos aqueles que<br />
habitam o continente <strong>da</strong> América podem assim ser classificados. ”Norte-americano” também pode<br />
ser empregado aos mexicanos e canadenses, uma vez que México e Canadá também integram a<br />
América do Norte. Manteremos as grafias “americanos”, “América” e “norte-americanos quando as<br />
mesmas forem cita<strong>da</strong>s destas formas por outros autores.<br />
14
Médio, num país pobre, de clima árido cortado por cicatrizes montanhosas<br />
provoca<strong>da</strong>s pela constante movimentação de placas tectônicas: o Afeganistão.<br />
As primeiras informações <strong>da</strong>vam conta de um choque de um avião bimotor<br />
contra as estruturas do arranha-céu. Um triste acidente. Mas na<strong>da</strong> comparado<br />
com as ver<strong>da</strong>deiras causas que ain<strong>da</strong> se camuflavam entre a fumaça <strong>da</strong> Torre<br />
Norte. Quem, por qualquer motivo, estivesse sintonizado na TV pode, em poucos<br />
minutos, testemunhar as imagens transmiti<strong>da</strong>s em tempo real do Boeing 767 <strong>da</strong><br />
United Ailines mergulhando em direção à torre sul do World Trade Center, mesmo<br />
sem ter a ver<strong>da</strong>deira noção do sentido que essa cinematográfica imagem era<br />
dota<strong>da</strong>. As Torres Gêmeas haviam sido ataca<strong>da</strong>s! Era fato! Bilhões de pessoas<br />
acompanhavam os desdobramentos, buscavam informações sobre o que<br />
realmente estava acontecendo. Outras duas aeronaves também foram<br />
seqüestra<strong>da</strong>s. Mas as imagens <strong>da</strong>s torres em chamas pareciam hipnotizar a quem<br />
pusesse os olhos nas imagens que as TVs transmitiam. O poder <strong>da</strong> imagem<br />
capturava a todos.<br />
Aos poucos, a fuligem <strong>da</strong>s fumaças se misturava ao céu nova-iorquino. A<br />
clari<strong>da</strong>de forneci<strong>da</strong> pelos raios solares permitia que se visualizasse o serpentear<br />
<strong>da</strong>s fumaças cortar o azul celeste colorindo tristemente a atmosfera de Manhattan.<br />
Com o passar do tempo, às nuvens de fumaça foram se dissipando;<br />
aterrissando sobre as páginas de jornais, revistas, livros que eternizariam o<br />
acontecimento <strong>da</strong>quela inesquecível manhã de setembro.<br />
A imprensa somente revela fatos, não toma partido; não é responsável por<br />
acontecimentos, apenas os registra. Esse dogma jornalístico jamais soou tão irreal<br />
como depois do 11 de setembro. Muitos episódios, como a própria guerra do<br />
Afeganistão, tiveram a participação ativa <strong>da</strong> imprensa. É impossível, hoje, separar<br />
o que foi apenas a intenção pura e simples do governo Bush e o que foi facilitado,<br />
possibilitado pela influência <strong>da</strong> mídia. (DORNELES, 2003, p. 270)<br />
É neste ponto que se inicia esta <strong>dissertação</strong>. Durante os ataques, as mídias<br />
procuravam, meio atordoa<strong>da</strong>s com a magnitude <strong>da</strong>s ações, munir-nos de<br />
informações que pudessem saciar as dúvi<strong>da</strong>s sobre o que acontecera com os<br />
Estados Unidos, até então tidos como intocáveis em seu território. Tarefa ingrata,<br />
pois nem elas tinham as respostas necessárias e desejáveis naquele momento.<br />
15
A partir do dia 12 de setembro, a mídia impressa se agrupava ao exército<br />
de informações e começava a relatar em suas páginas as ações contra os<br />
Estados Unidos ocorri<strong>da</strong>s no dia anterior. As imagens <strong>da</strong>s chamas consumindo as<br />
estruturas <strong>da</strong>s torres do World Trade Center tornaram-se um referencial dos<br />
atentados; uma imagem massifica<strong>da</strong> que se converteria em ícone do 11 de<br />
setembro de 2001.<br />
Mas, tão importante quanto às imagens veicula<strong>da</strong>s, foram o discurso<br />
construído e a produção de sentidos que dele emanava. Como fora a produção<br />
discursiva na mídia impressa, sobretudo, na construção dos sentidos?<br />
Para responder a essa questão investigamos quatro revistas: Veja,<br />
CartaCapital, Superinteressante e Caros Amigos. Sendo duas de periodici<strong>da</strong>de<br />
semanal (Veja e CartaCapital) e duas de circulação mensal (Superinteressante e<br />
Caros Amigos). A escolha <strong>da</strong>s revistas teve como princípio tomar linhas editoriais<br />
diferentes num certo distanciamento entre os atentados e a <strong>da</strong>ta de publicação.<br />
Assim, analisamos o discurso vinculado por esses periódicos sobre um evento<br />
impactante e buscamos os sentidos produzidos pelo relato do mesmo<br />
acontecimento numa trajetória temporal defini<strong>da</strong>.<br />
Fato e notícias são considerados heterogêneos. A notícia é uma<br />
manifestação discursiva que, em princípio, pode ser ver<strong>da</strong>deira ou falsa. O texto<br />
em si é uma configuração que produz sentidos. O seu efeito é o sentido. As<br />
notícias que constituem o material essencial dos periódicos são mensagens<br />
textuais onde os fatos são relatados. Sua estratégia é conquistar o receptor dentro<br />
de determinado sistema de valores. Assim, descrever um fato é, ao mesmo tempo,<br />
interpretá-lo, estabelecer sua gênese, seu desenvolvimento e possíveis<br />
desdobramentos (Arbex Jr., 2001). O receptor designa o que é um fato, mas o faz<br />
dentro de contextos econômicos, culturais, sociais, ideológicos, políticos,<br />
históricos, psicológicos e por sua própria competência discursiva em uma disputa<br />
de discursos e saberes.<br />
As notícias são textos dotados de sentidos, que por sua vez, falam de fatos;<br />
são objetos com os quais o sujeito (leitor) pode entrar em comunicação ou<br />
interação lingüística. Os fatos, em princípio, são objetos “mudos”, isto é, objetos<br />
16
com os quais não é possível nenhuma comunicação ou interação lingüística.<br />
(Gomes, 1993). Assim, cria-se uma duali<strong>da</strong>de entre o tempo do fato e tempo <strong>da</strong><br />
narração. Dentro do espaço entre tempo e fato estão os atores que são retratados<br />
nas notícias <strong>da</strong>ndo feições ao enunciado. As notícias não são a própria reali<strong>da</strong>de,<br />
mas uma representação e interpretação desta. Dessa maneira, o efeito de<br />
reali<strong>da</strong>de fixa-se nos discursos através <strong>da</strong> mediação <strong>da</strong> enunciação: o emissor<br />
como sujeito inserido no espaço e no tempo.<br />
Os atentados sofridos pelos Estados Unidos em 2001 abrem um grande<br />
cabe<strong>da</strong>l de temas a serem estu<strong>da</strong>dos sobre a luz <strong>da</strong>s pesquisas em comunicação.<br />
Desde as dificul<strong>da</strong>des de se acompanhar ao vivo um evento impactante como o<br />
executado pelo grupo de Osama bin Laden, passando pela “guerra de discursos”<br />
dos meios de comunicação, a utilização <strong>da</strong> mídia para divulgação <strong>da</strong> ideologia por<br />
trás dos ataques, o poder <strong>da</strong>s imagens, o recrutamento midiático para justificar<br />
outras guerras... Enfim, abre-se um arcabouço de fatos e desdobramentos que<br />
nos permitem subsídios para analisar como se manifesta a produção de sentidos<br />
na linguagem midiática.<br />
Para investigar a cobertura dos meios de comunicação impressos sobre os<br />
ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001, teremos como critério de análise<br />
as reportagens que envolveram a produção de sentidos em relação aos “outros”,<br />
aos “diferentes”... Claramente, em coberturas a respeito de eventos históricos,<br />
existem (ou são criados) heróis e vilões, santos e pecadores, o moderno e o<br />
atrasado... personagens e sentidos que figurativizam a duali<strong>da</strong>de arquiteta<strong>da</strong><br />
sobre a construção de uma narrativa entre valores opostos. “A ideologia<br />
pressupõe que ‘eu’ sou a norma, que todos são como eu, que qualquer coisa<br />
diferente ou outra não é normal”, resume Kellner (2001, p.83). Em um dos seus<br />
discursos após os atentados, o presidente estadunidense George Walker Bush,<br />
sentenciava que seria trava<strong>da</strong> “uma cruza<strong>da</strong>”, uma luta dos eternos contrários do<br />
“bem” contra o “mal”. Contudo, o “bem” e o “mal”, o “sagrado” e o “profano” são<br />
atributos que têm valores diferenciados de acordo com a visão simbólica de ca<strong>da</strong><br />
indivíduo. Assim, a temática <strong>da</strong> construção de esteriótipos sobre o “outro” foi o fio<br />
de Ariadne que costurou as análises e os sentidos produzidos pelos discursos <strong>da</strong>s<br />
17
mídias impressas que constam nesta pesquisa indicando a tendência de<br />
classificar a alteri<strong>da</strong>de (o “outro”, o “diferente”), como um grande problema para a<br />
humani<strong>da</strong>de devido aos valores eufóricos e disfóricos que gravitam sobre<br />
identi<strong>da</strong>de e cultura.<br />
Entender a comunicação como um exercício de representação seria compreendêla<br />
como algo que se assenta, com alguma autonomia, para além <strong>da</strong> objetivi<strong>da</strong>de<br />
econômica e sociológica. Confere-se, desse modo, mais valor a importância <strong>da</strong><br />
cultura, como quadro de fundo do processo comunicacional. (LOPES, 2004, p.<br />
144)<br />
Das revistas analisa<strong>da</strong>s, foram extraídos e analisados vinte enunciados<br />
(cinco de ca<strong>da</strong> periódico) entre as matérias de capa, carta ao leitor, seções de<br />
opiniões, entrevistas... Fatias de edição em que as estruturas discursivas emitiam<br />
os sistemas de valores sustentados pelas revistas. A afia<strong>da</strong> lamina editorial corta o<br />
texto, sangra culturas e evidencia quem é o “outro” para as re<strong>da</strong>ções dos<br />
periódicos.<br />
No primeiro capítulo apresentamos o cabe<strong>da</strong>l teórico que sustenta esta<br />
pesquisa; a metodologia que guiará as análises dos textos selecionados: a<br />
semiótica francesa e seus gradientes analíticos para captura dos sentidos.<br />
Discutimos o mito <strong>da</strong> imparciali<strong>da</strong>de midiática na produção <strong>da</strong>s notícias e, partindo<br />
<strong>da</strong> assertiva de Lévi-Strauss (1970) que nos ensina que as socie<strong>da</strong>des humanas<br />
nunca estão sozinhas, procuramos demonstrar a importância de compreender os<br />
processos culturais frente à comunicação para produção de sentidos. Ao amarrar<br />
o pensamento cartesiano à pesquisa, aponta-se para o bom senso no julgamento<br />
sereno e despido de preconceitos para o valor <strong>da</strong> cultura do “outro” e análises <strong>da</strong>s<br />
notícias.<br />
O segundo capítulo abor<strong>da</strong>rá os atentados de 11 de setembro de 2001<br />
contra os Estados Unidos passando pelos percalços <strong>da</strong> cobertura do fato em<br />
tempo real e o desdobramento do governo estadunidense na resposta aos<br />
terroristas, mostrando o recrutamento <strong>da</strong>s mídias e conversão destas como<br />
importantes instrumentos para a consecução dos objetivos do aparelho de Estado<br />
estadunidense em legitimar a guerra e controlar as informações oriun<strong>da</strong>s dos<br />
campos de batalhas.<br />
18
O terceiro capítulo conceitua a expressão terrorismo, apontando que esta<br />
violenta forma de manifestação política não foi pari<strong>da</strong> em 11 de setembro e 2001,<br />
resultando como fruto de um processo histórico sendo praticado desde a<br />
Antigüi<strong>da</strong>de. Em grande parte <strong>da</strong>s coberturas <strong>da</strong> mídia, o Islamismo foi descrito de<br />
forma obscura e retrógra<strong>da</strong>. Para esclarecer e derrubar o senso comum<br />
recorremos à história e discutimos nesse capítulo as principais divisões <strong>da</strong><br />
religião, as origens do fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico e <strong>da</strong> rede Al Qae<strong>da</strong> e a<br />
metodologia deste grupo e os sentidos atribuídos à isotopia terrorista pela<br />
imprensa.<br />
No capítulo quatro serão discutidos os efeitos e sentidos de ver<strong>da</strong>des que<br />
se arvoram nos meios de comunicação. Apontamos identi<strong>da</strong>de e cultura na<br />
construção <strong>da</strong> notícia através do exemplo do Islamismo para se mostrar como as<br />
tintas do preconceito e <strong>da</strong> desinformação são impressas nos enunciados e,<br />
sobretudo, serão analisados os discursos <strong>da</strong>s quatro revistas que são objeto de<br />
nosso estudo, sublinhando os temas e figuras recorrentes para depois mostrá-los<br />
em quadro geral que possibilitará melhor visualização e avaliação <strong>da</strong>s análises<br />
discursivas e a construção dos quadrados semióticos apontado o nível profundo<br />
do processo gerativo do significado.<br />
Inegavelmente o 11 de setembro de 2001 tem seu lugar na história, sendo<br />
atravessado por múltiplas interpretações e sentidos. Não raramente, a mídia<br />
procura <strong>da</strong>r aos eventos uma interpretação definitiva e categórica sendo guia<strong>da</strong><br />
pelo instantâneo, mol<strong>da</strong>ndo-se apenas em um recorte temporal. A cobertura<br />
jornalística pós-11 de setembro, converteria-se no episódio mais censurado,<br />
autocensurado e distorcido de que se tem notícia na história <strong>da</strong> imprensa em<br />
frontes de guerra (Dorneles, 2003).<br />
A ética <strong>da</strong> compreensão é a arte de viver que nos deman<strong>da</strong>, em primeiro lugar,<br />
compreender de modo desinteressado. (...) A ética <strong>da</strong> compreensão (...) pede que<br />
se argumente, que se refute em vez de excomungar e anatematizar. (...) A<br />
compreensão não desculpa nem acusa: pede que se evite a condenação<br />
peremptória, irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos conhecido a<br />
fraqueza nem cometidos erros. Se soubermos compreender antes de condenar,<br />
estaremos no caminho <strong>da</strong> humanização <strong>da</strong>s relações humanas. (MORIN apud<br />
KÜNSHC, 2006, p. 85)<br />
19
No campo jornalístico, não raro, os acontecimentos são vistos como algo<br />
congelado, sem desdobramentos futuros. Contudo, a análise do fato requer<br />
interpretações e opiniões cautelosas. Muitas vezes se tem o desejo de fabricar<br />
culpados e forjar causas às pressas. Com este procedimento, guiado pelo<br />
instantâneo, o jornalismo cede lugar à desinformação. O tempo curto é a mais<br />
caprichosa e a mais enganadora <strong>da</strong>s durações e, quando ficamos presos à<br />
purpurina e ao flash, não conseguimos captar o que está se passando<br />
efetivamente na história e, principalmente, nos sentidos construídos nas<br />
entrelinhas <strong>da</strong>s notícias.<br />
20
CAPÍTULO 1:<br />
A COMUNICAÇÃO, O BOM SENSO E A PESQUISA<br />
Na ver<strong>da</strong>de, o desafio <strong>da</strong> comunicação não é a gestão <strong>da</strong>s<br />
semelhanças, mas a gestão <strong>da</strong>s diferenças.<br />
Dominique Wolton<br />
O bom senso é a coisa do mundo melhor partilha<strong>da</strong>, pois ca<strong>da</strong> qual pensa estar<br />
tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em<br />
qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que tem. E não é<br />
verossímil que todos se engajem a tal respeito; mas isso antes testemunha que o<br />
poder de bem julgar e distinguir o ver<strong>da</strong>deiro do falso, que é propriamente o que<br />
se denomina bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e,<br />
destarte, que a diversi<strong>da</strong>de de nossas opiniões não provém do fato de serem uns<br />
mais racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos<br />
por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Pois não é suficiente ter<br />
o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos<br />
maiores vícios, tanto quanto <strong>da</strong>s maiores virtudes, e os que só an<strong>da</strong>m muito<br />
lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do<br />
que aqueles que correm e dele se distanciam. (DESCARTES, 1996, p. 65)<br />
O texto redigido por René Descartes aponta o bom senso como<br />
protagonista dos sentimentos próprios ao homem. Além de possuí-lo, segundo o<br />
filósofo francês, todos acreditam que o detém em quanti<strong>da</strong>de suficiente.<br />
Diferente de senso comum, que implica uma padronização vulgar que não<br />
admite o diferente, o revolucionário e o criativo, o bom senso estaria próximo ao<br />
conceito de ética, de ouvir as partes, para o juiz, de “buscar várias fontes”, do<br />
jornalista, cercando-se de probabili<strong>da</strong>de que possam conduzir ao que tem a<br />
aparência de ver<strong>da</strong>de, pois a ver<strong>da</strong>de em si é um conceito inatingível. Adotar o<br />
bom senso é pautar-se pelo convincente, ter critérios analíticos, estando aberto à<br />
crítica e a comprovação científica dos <strong>da</strong>dos possíveis. Em razão disso, o bom<br />
senso costuma não se precipitar em suas conclusões e, assim, tentar “distinguir o<br />
ver<strong>da</strong>deiro do falso”, conforme assinala Descartes. Ao estabelecer uma ver<strong>da</strong>de,<br />
procura testá-la na experiência continua<strong>da</strong>, repeti<strong>da</strong>, em hábitos e tradições, que<br />
nem sempre são fontes seguras <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de. Esse procedimento pode fortalecer<br />
uma afirmação.<br />
21
Tal assertiva permite que todos possam externar suas opiniões sobre<br />
acontecimentos. Munidos de bom senso (ou não), as pessoas põem-se a julgar<br />
fatos e construir seu juízo sobre os eventos que permeiam nosso cotidiano. No<br />
entanto, é preciso conhecer as origens, observar as transformações, identificar as<br />
causas que expliquem esses processos, analisar os fatos, transferir<br />
conhecimentos. Para isso, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia e<br />
ciências afins são áreas do saber que nos propiciam um arcabouço de<br />
conhecimentos sobre a gênese e transformações sociais no decorrer dos séculos.<br />
No entanto, a história <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de é escrita diariamente por seus<br />
personagens. Compreender as modificações <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de impressas nos fatos<br />
diários não é algo fácil. Os números de acontecimentos são muitos 2 . Para<br />
ficarmos a par dos principais eventos, comumente recorremos aos órgãos de<br />
imprensa. É por meio <strong>da</strong> mídia impressa (jornais e revistas), televisiva, radiofônica<br />
e, hoje em dia, pela Internet, que nos alimentamos de informações. Ou seja, os<br />
meios de comunicação são as matérias-primas que nutrem nossas opiniões.<br />
Através de seus instrumentos é que obtemos as informações que norteiam nossas<br />
avaliações. Contudo, as mídias não são “inocentes”. Suas intenções são<br />
manifesta<strong>da</strong>s de maneira a induzir o receptor a crer que está absorvendo a<br />
“ver<strong>da</strong>de”. Nessa seara provocativa, Wolton (2004, p. 271) comenta que “(...)<br />
todos os atores manipulam a informação, usando a legitimi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> informaçãoimpressa<br />
para justificar sua própria informação” 3 .<br />
Nem sempre o texto segue um caminho coeso entre emissor e receptor. A<br />
mensagem pode conter ruídos, o que dificulta a compreensão. Reforçando essa<br />
idéia, Santos (2003) explica que<br />
2 Um claro exemplo é fornecido pelo psicólogo e consultor de empresas David Lewis: “Mais<br />
informações têm sido produzi<strong>da</strong>s nos últimos 30 anos do que nos 5.000 anos anteriores. Uma<br />
edição de dia de semana do New York Times contém mais informações do que tudo aquilo que um<br />
homem médio do século XV ficou sabendo em to<strong>da</strong> sua vi<strong>da</strong>”. (LEWIS apud SERVA, 2001, p. 76).<br />
Complementando o raciocínio, Umberto Eco em entrevista à revista Veja (dezembro de 2000)<br />
relata que uma boa quanti<strong>da</strong>de de informação é benéfica e o excesso pode ser péssimo, porque<br />
não se consegue dimensioná-lo nem escolher o que presta. Na visão do semioticista, não há<br />
diferenças entre o jornal stalinista Prav<strong>da</strong> e o New York Times dominical. O primeiro não possui<br />
notícia alguma e o outro tem 600 páginas de informação. Uma semana não é suficiente para ler<br />
essas 600 páginas, reforça o escritor.<br />
3 Grifos de Dominique Wolton.<br />
22
...numa socie<strong>da</strong>de complexa como a nossa somente vamos saber o que houve na<br />
rua ao lado dois dias depois, mediante a uma interpretação marca<strong>da</strong> pelos<br />
humores, visões, preconceitos e interesses <strong>da</strong>s agências. O evento já é entregue<br />
maquiado ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, e é também por isso que se<br />
produzem no mundo de hoje, simultaneamente, fábulas e mitos. (SANTOS, 2003,<br />
p.40).<br />
Para Barros (1988, p. 64): “O discurso constrói a sua ver<strong>da</strong>de”. Assim<br />
sendo, o que o receptor consome é uma versão dos acontecimentos, a visão que<br />
determinado órgão de imprensa assume sobre o evento. Obviamente que,<br />
expressando a sua ótica, o transmissor procura transformar sua opinião em<br />
“ver<strong>da</strong>de”.<br />
1.1. A notícia e a teia social<br />
Tão importante como saber os acontecimentos que permeiam nosso mundo<br />
é ter o conhecimento de como as informações nos chegam, afinal é característica<br />
<strong>da</strong> mídia ter pressa em informar, insistir na quanti<strong>da</strong>de e não na quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
informação. Para Ramonet (2004, p. 247), “... não há tempo para estu<strong>da</strong>r a<br />
informação. A informação é feita ca<strong>da</strong> vez mais de impressões, de sensações”.<br />
Re-inserindo Descartes no debate, o filósofo sentencia que<br />
... e os que só an<strong>da</strong>m muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem<br />
sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam.<br />
(DESCARTES, 1996, p. 65)<br />
“An<strong>da</strong>r lentamente” permite acompanharmos os desdobramentos do fato,<br />
entendendo as motivações e repercussões por ele traçado 4 . Notícias forja<strong>da</strong>s no<br />
4 Bob Woodward e Carl Bernstein, repórteres do jornal estadunidense Washington Post, durante a<br />
apuração do caso Watergate jamais se utilizaram de atalhos para apressar as investigações ou<br />
conseguir um furo jornalístico. Foi uma investigação meticulosa, monótona, sem nenhum glamour<br />
cinematográfico ou jornalístico. Pautando seu trabalho por normas estritas e cui<strong>da</strong>dosas, não lhes<br />
era permitido sequer negar a profissão de jornalista durante os infindáveis contatos telefônicos com<br />
fontes extremamente escorregadias. Jornalismo investigativo de ver<strong>da</strong>de é assim. Dá muito<br />
23
forno <strong>da</strong> veloci<strong>da</strong>de, e que procuram assim, transmitir a informação em primeira<br />
mão, podem sofrer com o reverso <strong>da</strong>s circunstâncias. 5<br />
Para Wolton (2004)<br />
Hoje, a informação é onipresente e resulta <strong>da</strong> tirania do instante. Sabe-se tudo, de<br />
todos os cantos do mundo, sem ter tempo de compreender, ou retomar o fôlego, e<br />
sem saber, finalmente, o que leva a melhor entre o dever de informar, a loucura<br />
concorrencial e o fascínio pela técnica, ou essas três coisas ao mesmo tempo. 6<br />
(...)<br />
... quanto mais se está ao vivo, mais se deve reintroduzir distanciamento.<br />
(WOLTON, 2004, p. 284-285)<br />
Desse modo, o fato de ficarmos próximos aos eventos ou recebê-los de<br />
maneira instantânea, não significa, em absoluto, a compreensão imediata e total<br />
<strong>da</strong> notícia.<br />
Mariani (1999), refletindo sobre a produção <strong>da</strong> notícia aduz que<br />
O ato de noticiar (...) não é neutro nem desinteressado: nele se encontram,<br />
entrecruzam-se, os interesses ideológicos e econômicos do jornal, do repórter, dos<br />
anunciantes bem como, ain<strong>da</strong> que indiretamente, dos leitores. Além desses<br />
fatores, as forças políticas em confronto no momento histórico em que divulga um<br />
acontecimento vão constituir também os sentidos produzidos pelas notícias.<br />
(MARIANI, 1999, p. 102)<br />
Ou seja: existe todo um procedimento de preparo para que a notícia chegue<br />
ao seu destino, como atesta Serva (2001)<br />
O sistema de construção <strong>da</strong> notícia jornalística se dá através de procedimentos<br />
técnicos, denominados “edição”, que visam explicitamente a satisfazer a<br />
necessi<strong>da</strong>de de informação do consumidor. (SERVA, 2001, p.123)<br />
trabalho, consome tempo e nem sempre rende um filme de Hollywood, nem sequer uma manchete.<br />
É um exercício incansável, enfadonho, que exige determinação e perseverança. (Brasil, 2007)<br />
5 Em março de 1994, os donos <strong>da</strong> Escola Base (Maria Apareci<strong>da</strong> Shima<strong>da</strong> e o marido Icushiro<br />
Shima<strong>da</strong>) e alguns funcionários foram injustamente acusados de promover orgias com menores na<br />
escola infantil que mantinham no bairro <strong>da</strong> Aclimação (São Paulo). A imprensa assumiu a<br />
acusação, basea<strong>da</strong> no depoimento <strong>da</strong> mãe de uma <strong>da</strong>s crianças (Veja publicou uma reportagem<br />
intitula<strong>da</strong> “Escola de horrores”). Os acusados foram absolvidos. Em 19 de novembro de 2002, o<br />
Superior Tribunal de Justiça aumentou de 100.000 (determina<strong>da</strong> pelo TJSP) para 250.000 reais o<br />
valor de indenização por <strong>da</strong>nos morais que o Estado de São Paulo terá de pagar a ca<strong>da</strong> um dos<br />
donos <strong>da</strong> escola. (ARBEX JR., 2003b, 162)<br />
6 Grifos de Dominique Wolton.<br />
24
Por natureza, todo discurso caracteriza-se por ser persuasivo. Sua<br />
composição encorpa instância simbólica de representação, um recorte criador de<br />
determina<strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de. Quem emite opta pela utilização de certas palavras em<br />
detrimento de outras, seleciona imagens para impactarem o receptor e ampliar o<br />
poder de sedução/persuasão. Tais procedimentos pavimentam a estra<strong>da</strong> que leva<br />
para o receptor à trama narrativa na forma de notícias. Desta feita, a notícia além<br />
de “satisfazer a necessi<strong>da</strong>de de informação do consumidor”, como diz Serva<br />
(2001), também satisfaz o desejo do veículo de comunicação em<br />
externar/persuadir a sua versão dos fatos. Afinal, a linguagem é um símbolo<br />
encravado em nossa existência.<br />
Para Pinto (2002)<br />
Ca<strong>da</strong> vez mais as ciências sociais vêm se <strong>da</strong>ndo conta que as práticas sociais de<br />
produção-circulação-recepção de discursos são fun<strong>da</strong>mentais na criação,<br />
manutenção e mu<strong>da</strong>nça <strong>da</strong>s representações, identi<strong>da</strong>des e relações sociais.<br />
(PINTO, 2002, p. 09)<br />
A linguagem envolve nossos sentimentos. É um tecido presente na trama<br />
do pensamento. Ela é a base onde se desenvolvem os processos discursivos.<br />
Pintados com as cores <strong>da</strong> ideologia, como qualquer outro, os discursos <strong>da</strong>s mídias<br />
são molduras em que se representam visões. A maneira pela qual uma notícia é<br />
exposta reflete a categorização do discurso e as intenções de seus autores.<br />
Dando eco a essa afirmação, Magnoli (2002) afirma que<br />
A linguagem é um produto social e, nessa condição, carrega consigo uma carga<br />
política e ideológica muito marca<strong>da</strong>. As palavras e as expressões fazem mais que<br />
designar objetos e idéias. Elas trazem à tona um universo de significados e<br />
experiências humanas que são julgamentos de valor, avaliações positivas ou<br />
negativas do mundo que nos cerca. (MAGNOLI, 2002, p.16-17)<br />
Todo texto, como não poderia deixar de ser, tem uma função informativa.<br />
Além dessa dimensão, todo e qualquer texto também possui uma função<br />
interpretativa, pelo simples fato de que ele é o produto de uma enunciação, isto é,<br />
resulta de uma ativi<strong>da</strong>de que constrói o sentido do seu referente ao enunciá-lo,<br />
necessariamente, de certa maneira.<br />
25
O sentido portanto não significa apenas o que as palavras querem nos dizer, ele é<br />
também uma direção, ou seja, na linguagem dos filósofos, uma intencionali<strong>da</strong>de e<br />
uma finali<strong>da</strong>de. (GREIMAS, 1973, p.15)<br />
O desenvolvimento <strong>da</strong> linguagem foi de capital importância para o<br />
aprimoramento intelectual e social do ser humano. As palavras não são sons sem<br />
significância, nem as frases se constituem unicamente em elementos estéticos.<br />
A uni<strong>da</strong>de de comunicação não é o signo, não é a palavra nem o traço, mas a<br />
organização deles numa matéria significante, como uma uni<strong>da</strong>de comunicativa,<br />
um conjunto coerente, a que chamamos “texto”. Os signos um por um são<br />
inoperantes, ain<strong>da</strong> que matéria-prima dos textos. Então, um texto (...) é um objeto<br />
de comunicação entre dois sujeitos. É assim que um texto pode colocar-se entre<br />
dois objetos culturais pertencentes a uma <strong>da</strong><strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de e assumir as marcas<br />
sócio-históricas dela. (PERUZZOLO, 2004, p.135)<br />
A história do conhecimento se desenvolve à luz <strong>da</strong> linguagem. É por meio<br />
<strong>da</strong> percepção e <strong>da</strong>s palavras que os seres humanos organizam a reali<strong>da</strong>de e a<br />
interpretam. É a partir <strong>da</strong> articulação lingüística que se produzem conceitos acerca<br />
<strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de que, em seu conjunto, formam o terreno de qualquer investigação. A<br />
linguagem cria a imagem do mundo, mas é também um produto social e histórico;<br />
sendo sempre comunicação (e, portanto, persuasão), ela o é na medi<strong>da</strong> em que é<br />
produção de sentido (Fiorin 1989, 1995).<br />
Para Greimas (1981)<br />
A estrutura <strong>da</strong> comunicação comporta, como sabemos, um destinador e um<br />
destinatário, intercambiáveis, ca<strong>da</strong> um dos quais dotado por isso mesmo de uma<br />
competência ao mesmo tempo emissiva e receptiva. (GREIMAS, 1981, p.27)<br />
Ao admitirmos que ler é, ao mesmo tempo, compreender e interpretar, é<br />
preciso então propor ao leitor conceitos e critérios que o ajude a reconhecer, por<br />
detrás <strong>da</strong>s aparências, o sistema de valores que o enunciador investiu em seu<br />
texto. Para Barros (1988, p.83): “... é preciso inserir o texto no contexto de uma ou<br />
mais formações ideológicas que lhe atribuem, no fim <strong>da</strong>s contas, o sentido”.<br />
O pensamento reducionista e senhor <strong>da</strong> racionalização do real, anti-dialógico e<br />
anti-compreensivo, mais produz desconhecimento que conhecimento. Mais divulga<br />
e amplia a incomunicação que a comunicação. Mais encobre que cobre. (DIMAS,<br />
2005, p. 30)<br />
26
Retomando a citação de Descartes que diz “... não é suficiente ter o espírito<br />
bom, o principal é aplicá-lo bem”, o bom senso se abastece na facul<strong>da</strong>de de<br />
apreciar e julgar com ponderação e discernimento os conteúdos transmitidos pelas<br />
mídias, não esquecendo que os discursos midiáticos têm como característica o<br />
convencimento, impondo o conjunto de opiniões, idéias e concepções de seu<br />
enunciador. Ultrapassando assim, a perigosa barreira do pensamento<br />
reducionista.<br />
Isso mostra que para compreendermos o fazer-jornalístico necessitamos de<br />
instrumentos de análise como nos explica Steinberger (2005).<br />
Só a análise de discurso será to<strong>da</strong>via capaz de confrontar discursos com<br />
discursos, de revelar contradições entre eles. Só uma análise do discurso<br />
jornalístico será capaz de mostrar os efeitos potenciais que a manipulação política<br />
de lugares e valores geográficos pode gerar na construção de imaginários<br />
geopolíticos de massa. (STEINBERGER, 2005, p. 192)<br />
Se a notícia deve, em suma, satisfazer a necessi<strong>da</strong>de do leitor, e é parte <strong>da</strong><br />
linguagem, logo a "Teoria do Espelho" explica a identi<strong>da</strong>de com o meio, ou seja, o<br />
reflexo <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de na notícia, sem nenhuma espécie de contágio. Tal teoria<br />
abraça fraternalmente o pensamento racional-reducionista uma vez que<br />
Sua base é a idéia de que o jornalismo reflete a reali<strong>da</strong>de. Ou seja, as notícias são<br />
do jeito que as conhecemos porque a reali<strong>da</strong>de assim as determina. A imprensa<br />
funciona como um espelho do real, apresentando um reflexo claro dos<br />
acontecimentos do cotidiano 7 . (PENA, 2005, p.125)<br />
7 O jornal paulistano O Estado de S. Paulo há alguns anos utilizava o slogan “O espelho do mundo<br />
visto por olhos nos quais você confia”. A afirmativa procurava passar aos leitores que o jornal<br />
(podemos expandir para todos os meios de comunicação) é um retrato fiel <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de.<br />
Entretanto, não se trata de um “espelho do mudo”, mas de “um aparelho produtor de interpretações<br />
do mundo”. (MAGNOLI, 2002, p. 16). Construindo uma análise comparativa com o processo<br />
histórico, podemos conduzir um encontro teórico nessa questão: a produção e o registro <strong>da</strong><br />
informação. A ciência histórica foi referencia<strong>da</strong> no decorrer do século XIX. Época do romantismo e<br />
robusto sentimento nacionalista fizeram brotar interesses pelos estudos do passado. Não<br />
raramente as pesquisas eram patrocina<strong>da</strong>s pelo Estado. O historiador Leopold Ranke foi um dos<br />
muitos a externar sua preocupação em relatar os fatos como eles realmente aconteceram, sem a<br />
pretensão de interpretá-los. Assim estruturou-se a chama<strong>da</strong> História Positivista, interessa<strong>da</strong> em<br />
temas políticos, considerando o passado algo encerrado e imóvel, mas passível de ser conhecido<br />
mediante a neutrali<strong>da</strong>de de quem produz o conhecimento sobre o pretérito. Entretanto, essa teoria<br />
não é mais que uma ideologia <strong>da</strong> imprensa destina<strong>da</strong> a camuflar a inevitável (e presente)<br />
parciali<strong>da</strong>de do setor. Teorias de pesquisa sobre comunicação já mostram a dinâmica <strong>da</strong>s<br />
socie<strong>da</strong>des e seus atores em suas análises. A prática jornalista está longe de ser o espelho do<br />
real. Será sempre a construção de uma suposta reali<strong>da</strong>de.<br />
27
Para ter vali<strong>da</strong>de a “Teoria do Espelho” necessita de maneira<br />
imprescindível <strong>da</strong> objetivi<strong>da</strong>de e imparciali<strong>da</strong>de. Informar sem sugestionar. Os<br />
jornalistas devem retratar o acontecimento com “neutrali<strong>da</strong>de”. Evitando a<br />
“contaminação” <strong>da</strong> notícia com suas opiniões (salve exceções de articulistas, que<br />
têm como princípio expor seu ponto de vista assim como os editoriais). É óbvio<br />
que, ao redigir uma matéria, a opinião do jornalista se transpõe para as linhas do<br />
texto como testemunha Hernandes (2006).<br />
... é impossível ter acesso à reali<strong>da</strong>de sem fazer escolhas, sem determinar valor<br />
para alguns aspectos em detrimento de outros. Podemos dizer que a própria idéia<br />
de significação é uma “opinião” sobre o mundo. (HERNANDES, 2006, p. 33)<br />
Comentando as dificul<strong>da</strong>des de se ter objetivi<strong>da</strong>de Clóvis Rossi,<br />
jornalista <strong>da</strong> Folha de S. Paulo, ilustra que<br />
O Manual de Re<strong>da</strong>ção do jornal Folha de S. Paulo foi o primeiro livro-texto oficial a<br />
reconhecer as dificul<strong>da</strong>des para a prática <strong>da</strong> objetivi<strong>da</strong>de. ‘Não existe objetivi<strong>da</strong>de<br />
em jornalismo. Ao redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma uma série de<br />
decisões que são em larga medi<strong>da</strong> subjetivas, influencia<strong>da</strong>s por suas posições<br />
pessoais, hábitos e emoções’, diz o verbete ‘Objetivi<strong>da</strong>de’, à p. 34 do Manual...<br />
(ROSSI, 1998, p. 12-13)<br />
Do mesmo pensamento comunga Charaudeau (2006, p. 241) quando<br />
expõe que “relatar e comentar acontecimentos é uma ativi<strong>da</strong>de impregna<strong>da</strong> de<br />
subjetivi<strong>da</strong>de”. Não há neutrali<strong>da</strong>de nem por parte do leitor nem por parte do<br />
jornalista: ambos emitem seus juízos sobre os fatos 8 .<br />
Segundo Greimas (1973, p. 152): “O discurso, efetivamente, é não somente<br />
o lugar <strong>da</strong> manifestação <strong>da</strong> significação, mas ao mesmo tempo o seu meio de<br />
transmissão”. Analisar discursos é perscrutar suas genealogias, suas condições<br />
de produção, os percursos de configuração dos sentidos até o estágio em que se<br />
cristalizam em materiali<strong>da</strong>de e se instituíram em scripts (Steinberger, 2004). A<br />
análise do discurso depende sempre do contexto (Pinto, 2002). Sua estrutura não<br />
se desvencilha de suas condições de produção. “El sentido no pertence sólo al<br />
8<br />
O guia ético do jornal estadunidense New York Times recomen<strong>da</strong> ser tão imparcial quanto<br />
possível.<br />
28
texto; surge em el encuentro entre lector y el texto 9 ” (GRUPO DE<br />
ENTREVERNES, 1982, p. 16). A compreensão de textos é atingi<strong>da</strong> quando a<br />
junção de conhecimentos anteriores (repertório) e dos elementos extraídos do<br />
texto são julgados pelo leitor como sendo suficientemente coerentes e completos.<br />
A decodificação não reside apenas na arquitetura do texto, ela também está na<br />
mente dos indivíduos.<br />
1.2. O pensamento francês em comunicação<br />
Na construção desta análise teremos como referência intelectual o<br />
pensamento contemporâneo francês em comunicação. Da Silva (2003) nos alerta<br />
para dificul<strong>da</strong>de de se aglutinar uma plêiade de intelectuais franceses como Pierre<br />
Bourdieu, Edgar Morin, Paul Virilio, Michel Maffesoli, Jean Baudrillard, Jaques<br />
Derri<strong>da</strong>, Pierre Levy sob o signo de uma escola francesa com pesquisas em<br />
comunicação. Diniz (2005b) esclarece que os franceses pensam a comunicação<br />
como intelectuais, não há uma teoria finaliza<strong>da</strong>. Isso já é um indicativo <strong>da</strong><br />
plurali<strong>da</strong>de intelectual existente sobre os estudos em comunicação no país.<br />
De certo modo, os franceses nunca chegaram a fechar questão sobre o “campo”<br />
<strong>da</strong> comunicação. (...) A comunicação é uma área disputa<strong>da</strong>, estu<strong>da</strong><strong>da</strong>,<br />
atravessa<strong>da</strong> por outras disciplinas: sociologia, antropologia, lingüística, filosofia,<br />
ciências políticas... (DA SILVA, 2001, p. 173).<br />
Essa amplitude intelectual no campo <strong>da</strong> comunicação nos proporciona um<br />
rico cabe<strong>da</strong>l de análises. Wolton (2004) realça a importância <strong>da</strong> abrangência na<br />
questão cultural no universo <strong>da</strong> comunicação. Segundo o intelectual francês: “A<br />
investigação sobre a comunicação é, por natureza, uma investigação<br />
interdisciplinar”. (WOLTON, 2004, p. 484). Na concepção de Wolton, a<br />
comunicação não é uma disciplina ou uma teoria, e, sim, um cruzamento teórico e<br />
a mesma deve ser refleti<strong>da</strong> em seu contexto social que, muitas vezes, dão<br />
sentido, cor e especifici<strong>da</strong>de a procedimentos de comunicação aparentemente<br />
padronizados. Para Pierre Bourdieu, os estudos em comunicação estão<br />
9 Grifo de Grupo de Entrevernes.<br />
29
intrinsecamente ligados à sociologia <strong>da</strong> cultura. A questão cultural infiltra-se no<br />
mundo dos símbolos, <strong>da</strong>s significações, tornando tênues as fronteiras entre as<br />
áreas do saber. Os processos comunicativos atravessam praticamente to<strong>da</strong> a<br />
extensão <strong>da</strong>s ciências humanas (Martino, 2003b), sendo a comunicação humana,<br />
plural (Greimas, 1973).<br />
A comunicação se constitui em um conhecimento polissêmico atraindo<br />
atenção de diversos campos intelectuais. Isso se torna relevante uma vez que a<br />
produção <strong>da</strong> notícia é gesta<strong>da</strong> num campo social impregnado de valores e<br />
significados. Como a axiologização é cultural, ca<strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de determina o que é<br />
positivo ou negativo em seu meio (Ghilardi, 1991). Assim, a contextualização dos<br />
acontecimentos é primordial para o bom entendimento <strong>da</strong> notícia.<br />
Em virtude desse quadro eclético, e como nosso corpus de análise são<br />
textos oriundos <strong>da</strong> mídia impressa, tendo como recorte abor<strong>da</strong>gens culturais,<br />
costurando o laço ente socie<strong>da</strong>de e comunicação, vamos nos centrar nos<br />
semioticistas Algir<strong>da</strong>s Julien Greimas 10 e Eric Landowski 11 e o teórico <strong>da</strong><br />
comunicação Dominique Wolton 12 .<br />
10 Graduado em Letras e Estudos de Diatelogia Franco-Provençal, Algir<strong>da</strong>s Julien Greimas foi, a<br />
princípio, lexicólogo, tendo publicado vários dicionários. Seus estudos sobre semântica levaram-no<br />
a investigar o sentido que, conduziram-no, conseqüentemente a procurar constituir uma teoria <strong>da</strong><br />
significação. Dentre suas pesquisas, reservou um espaço para estu<strong>da</strong>r a mitologia lituana. Estudou<br />
Direito na Lituânia e Lingüística em Grenoble (1936-1939). Em 1939, voltou à Lituânia onde<br />
cumpriu o serviço militar, participando <strong>da</strong> Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial. Em 1944, voltou para a França,<br />
doutorando-se em 1949 pela Sorbonne. Lecionou em Alexandria, Ancara, Istambul e Poitiers, e foi<br />
diretor de estudos na Ecole Pratique des Hautes Etudes em Paris. Em 1965, foi eleito Diretor de<br />
Estudos na Ecole Pratique des Hautes Etudes. A partir desse mesmo ano, encabeçou a pesquisa<br />
sêmio-lingüística, estabelecendo os fun<strong>da</strong>mentos <strong>da</strong> semiótica e criando em 1966 o Grupo de<br />
Pesquisa Sêmio-lingüística, cujos seminários quinzenais realizam-se até hoje em Paris, sob a<br />
coordenação de Jacques Fontanille. Em 1978 criou a Associação para o desenvolvimento <strong>da</strong><br />
semiótica e a revista Actes Sémiotique, que passou a chamar-se Nouveaux Actes Sémiotiques a<br />
partir de 1989 e é publica<strong>da</strong> até os dias atuais. Dentre suas obras destacam-se Semântica<br />
estrutural, Sobre o sentido: ensaios semióticos, Sobre o sentido II, Semiótica e ciências sociais,<br />
Semiótica <strong>da</strong>s paixões e Da Imperfeição (seu último livro de autoria individual), dois dicionários de<br />
semiótica além de outros dicionários do francês antigo e médio, dentre outras. Em 1992, morre em<br />
Paris aos 75 anos. Suas cinzas repousam no cemitério de Kaunas (Lituânia). A influência <strong>da</strong>s<br />
idéias de Greimas é notável em várias áreas do campo semiótico, indo <strong>da</strong> semiótica do espaço e<br />
<strong>da</strong> arquitetura à pintura, teologia, direito e ciências sociais até à ciência <strong>da</strong> documentação. Sua<br />
herança intelectual é mais viva do que nunca como atesta as palavras do semioticista mexicano<br />
Raúl Dorra: “A teoria greimasiana não é, a princípio, a única teoria semiótica de que dispomos<br />
nem, talvez, a mais original. Mas, sem dúvi<strong>da</strong>, é a mais coerente e claramente desenvolvi<strong>da</strong>, a que<br />
construiu um sistema mais complexo e fundou uma escola mais vasta e mais sóli<strong>da</strong>”.<br />
11 Eric Landowski é semioticista de longa <strong>da</strong>ta cunhou o termo sóciossemiótica, como campo de<br />
investigação no qual trata <strong>da</strong>s “interações entre agentes do discurso” é Diretor de pesquisa do<br />
30
1.3. A Semiótica Francesa<br />
Um dos pilares metodológicos que sustentam esta pesquisa ergue-se<br />
centrado em conceitos <strong>da</strong> Semiótica Francesa. Também conheci<strong>da</strong> como<br />
Semiótica <strong>da</strong> Escola de Paris, essa teoria <strong>da</strong> significação teve como principal<br />
idealizador o intelectual de origem lituana Algir<strong>da</strong>s Julien Greimas, e configura-se<br />
em um método de análise textual que auxilia na investigação dos meandros que<br />
percorrem um enunciado e a construção de seu sentido, como testemunha Barros<br />
(1988, p. 07): “A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e<br />
explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. Uma “teoria <strong>da</strong><br />
produção de sentidos”, como diria Greimas.<br />
A semiótica não se ocupa apenas com o signo, mas com a significação,<br />
pois de acordo com Greimas (1981, p. 48) “... a teoria <strong>da</strong> comunicação social<br />
generaliza<strong>da</strong> deve colocar-se sob a égide não <strong>da</strong> informação, mas <strong>da</strong><br />
significação”. Ocupa-se, portanto, com o estudo <strong>da</strong>s manifestações de forma a<br />
buscar compreender como o enunciador constrói o seu texto provocando<br />
determinados efeitos de sentido sobre o sujeito receptor. Assim, ela se apresenta<br />
como modo de leitura do mundo dos outros, dos simulacros por eles construídos<br />
através dos signos.<br />
A significação real <strong>da</strong> linguagem não está na palavra, mas no discurso. As<br />
palavras podem <strong>da</strong>r nome às coisas mas, antes de os termos serem integrados<br />
em proposições, eles na<strong>da</strong> afirmam, na<strong>da</strong> evitam ou negam... na<strong>da</strong> dizem. (ECO<br />
apud PERUZZOLO, 2004, p.92)<br />
Centre National de la Recherche Scientifique (CEVIPOF-FNSP-CNRS), re<strong>da</strong>tor-chefe <strong>da</strong> revista<br />
“Nouveaux Actes Sémiotiques” (Université de Limoges).<br />
12 Dominique Wolton é professor, teórico <strong>da</strong> comunicação e dirigente do Laboratório de<br />
Comunicação e Política do CNRS (Centro National de Recherche Scientifique). Sua prática em<br />
pesquisa se aproxima dos empiristas-críticos: “A socie<strong>da</strong>de jamais será justa ou igualitária mas,<br />
pelo menos, ela originou, por intermédio do valor <strong>da</strong> comunicação e graças às técnicas que levam<br />
o seu nome, instrumentos e referenciais que estão em conformi<strong>da</strong>de com o ideal democrático”.<br />
(WOLTON, 2004, p. 124). Escreveu importantes obras na área de comunicação como Elogio do<br />
grande público – uma teoria crítica <strong>da</strong> televisão e Pensar a comunicação. Numa abor<strong>da</strong>gem que<br />
centraliza as necessi<strong>da</strong>des do estudo <strong>da</strong>s Teorias <strong>da</strong> Comunicação como condição para a<br />
compreensão dos desafios políticos, culturais, técnicos e sociais, Wolton coaduna, junto com<br />
outros intelectuais, com o pensamento que estamos na era <strong>da</strong> comunicação total, <strong>da</strong> avalanche<br />
comunicacional. (Diniz, 2005b)<br />
31
Para Greimas, as ciências <strong>da</strong> significação procuram compreender o homem<br />
e a socie<strong>da</strong>de considerando que suas ativi<strong>da</strong>des são apreendi<strong>da</strong>s e organiza<strong>da</strong>s<br />
seqüencialmente de modo a buscar resultados que permitam a transposição do<br />
individual para o social, interpretando as formas de manifestação de linguagens.<br />
O significado de um texto pode ser organizado de acordo com um percurso,<br />
como concebe a teoria semiótica. O percurso gerativo do sentido é um método<br />
capaz de atingir a sua estratificação, evidenciando, em diferentes níveis, os<br />
recursos utilizados pelo enunciador para fazer-crer o enunciatário e também como<br />
se dá a produção do significado, em um processo que vai do mais simples ao mais<br />
complexo.<br />
De acordo com Landowski (1992)<br />
... o que a semiótica pretende captar são de fato, as estruturas e operações<br />
“sêmio-narrativas” mais profun<strong>da</strong>s, aquelas que regem a própria produção e<br />
intercâmbio de significações. (LANDOWSKI, 1992, p.12)<br />
Quadro 1. Percurso gerativo do sentido<br />
Estruturas sêmio-narrativas<br />
Componente Sintáxico Componente Semântico<br />
Nível profundo - Sintaxe fun<strong>da</strong>mental Semântica fun<strong>da</strong>mental<br />
Nível de superfície - Sintaxe narrativa Semântica narrativa<br />
Estruturas discursivas Síntaxe discursiva<br />
Discursivização (actorialização,<br />
temporalização, espacialização)<br />
Fonte: Fiorin (1989)<br />
Barros (1988) acrescenta que<br />
Semântica narrativa<br />
• Tematização<br />
• Figurativização<br />
Para explicar “o que o texto diz” e “como o diz”, a semiótica trata, assim, de<br />
examinar os procedimentos de organização textual e, ao mesmo tempo, os<br />
mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto. (BARROS, 1988, p.<br />
08)<br />
32
Na análise <strong>da</strong>s reportagens que direcionam esta pesquisa, levantaremos no<br />
campo <strong>da</strong> semântica discursiva dois procedimentos: tematização e figurativização.<br />
Temas e figuras constituem-se no nível mais concreto <strong>da</strong> produção discursiva,<br />
descrevendo as ligações isotópicas de temas abstratos que podem ser ligados a<br />
figuras concretas. Com esta metodologia, o enunciador certifica a coerência<br />
semântica do discurso e institui efeitos de sentidos, principalmente, de reali<strong>da</strong>de.<br />
Figuras e temas quando encadeados em percursos, combinam-se para<br />
construírem efeitos de sentidos nos textos.<br />
... entre o desenvolvimento argumentativo – temas e figuras –, pode estar um<br />
mecanismo muito interessante e que se costuma chamar de polifonia, que é a<br />
estratégia discursiva de fazer ressoar o sentido que circula em outros campos,<br />
com o intuito (sempre) de construir o efeito de ver<strong>da</strong>de do que se diz. Do ponto de<br />
vista <strong>da</strong> construção dos sentidos, todo texto é perpassado por vozes de diferentes<br />
enunciadores, ora concor<strong>da</strong>ntes ora dissonantes, o que mostra que o texto é uma<br />
composição essencialmente dialógica. Falar de vozes presentes no texto significa<br />
afirmar a natureza social dos significados e sentidos, que se formam e organizam<br />
sempre entre relações sociais. São esses significados e sentidos, produzidos em<br />
diferentes contextos de vivência humana, que se fazem vibrar nas superfícies do<br />
discurso. 13 (PERUZZOLO, 2004, p.182)<br />
Segundo Barros (1998, p. 68): “Tematizar um discurso é formular os valores<br />
de modo abstrato e organizá-lo em percursos”. Todo enunciado, em seu nível<br />
discursivo, é tematizado. Dessa forma, examinam-se os percursos aplicando<br />
preceitos <strong>da</strong> análise semântica e, indicando os temas que se repetem (ou<br />
isotopia), torna-o coerente por revestir os mesmos traços semânticos.<br />
A figurativização pode ser entendi<strong>da</strong> como procedimento de figuras do<br />
conteúdo que recobrem os percursos temáticos abstratos e atribuem-lhe<br />
características de revestimento sensorial. Pois, o enunciatário crê ou não no<br />
discurso, graças, em grande parte, ao reconhecimento de figuras de mundo.<br />
Assim, figurativizar é tecer uma imagem para referenciar as representações<br />
vivi<strong>da</strong>s, revestir os termos com traços de lembranças sensoriais (Peruzzolo, 2004).<br />
Para Barros (1988), as figuras são, por excelência, o lugar do ideológico no<br />
discurso sendo que<br />
13 Grifos nossos.<br />
33
Os efeitos de sentido de reali<strong>da</strong>de resultam, portanto, de diferentes procedimentos<br />
discursivos e textuais de investimentos figurativo de conteúdos abstratos.<br />
(BARROS, 1988, p. 154)<br />
Com esse cabe<strong>da</strong>l metodológico,<br />
... a Semiótica trata de examinar tanto os procedimentos <strong>da</strong> organização textual<br />
(que na comunicação social são muitos) quanto os mecanismos enunciativos de<br />
produção e recepção do texto. Nesse sentido, o texto se conceitua por dois<br />
momentos que se complementam: primeiro, é uma organização, que faz dele um<br />
todo de sentido e, segundo, é algo colocado entre comunicantes. Como<br />
organização de sentido, o texto se apresenta como objeto de significação que<br />
permite o exame dos procedimentos e mecanismos que o tecem. Como meio de<br />
comunicar, o texto se apresenta na forma de objeto de relação, por meio de que<br />
ele se localiza entre os fenômenos culturais, inserido dentro de uma socie<strong>da</strong>de,<br />
fazendo parte de suas forças constitutivas. Nesse sentido, ele apresenta<br />
condições sócio-históricas de existência e produção. “Assim, todo discurso, antes<br />
de testemunhar as coisas do mundo, testemunha uma relação ou, mais<br />
exatamente, testemunha o mundo testemunhando uma relação” (CHARAUDEAU,<br />
1997, p. 42 apud PERUZZOLO, 2004, p. 32-33)<br />
O quadrado semiótico é um importante instrumento de análise textual<br />
presente na semiótica francesa. Ele permite a indexação <strong>da</strong>s relações diferenciais<br />
que determinam o nível profundo do processo gerativo do significado.<br />
El cuadrado semiótico debe ser entendido como un mecanismo, es decir, como un<br />
conjunto organizado de relaciones, capaz de <strong>da</strong>r razón de las articulaciones del<br />
significado. Gracias a ese “instrumento” podremos evaluar y ordenar todos los<br />
elementos cuyas relaciones rigen la manifestación Del sentido em un texto. La<br />
aplicacion del cuadrado semiótico a un texto deve permitirmos identificar las<br />
oposiciones y las relaciones pertinentes para ese texto y descubrir cómo se<br />
verifica el funcionamento de esas oposiciones y relaciones debe hacer posible<br />
representar, para um texto <strong>da</strong>do, la forma del sentido.<br />
(...)<br />
Para <strong>da</strong>r razón de esto, el cuadrado semiótico deve dinamizarse, ponerse en<br />
movimento. Habrá que considerarlo entoces como una serie de opraciones. A<br />
ca<strong>da</strong> relación del modelo taxonômico va a corresponder una operación, y el<br />
cuadrado semiótico será considerado como un modelo sintáctico encargado de<br />
regular el orden de esas operaciones. 14 (GRUPO DE ENTREVERNES, 1982, p.<br />
162-163)<br />
14 Grifos de Grupo de Entrevernes.<br />
34
A combinação <strong>da</strong>s relações de identi<strong>da</strong>de e alteri<strong>da</strong>de, representa<strong>da</strong>s no<br />
quadrado semiótico, constitui o modelo ou esquema a partir do qual se geram as<br />
significações mais abstratas <strong>da</strong> textualização. A representação pelo quadrado <strong>da</strong>s<br />
estruturas elementares do texto permite visualizarem-se as relações mínimas que<br />
o definem, o denominador comum de ca<strong>da</strong> texto. Assim, as categorias semânticas<br />
podem ser axiologiza<strong>da</strong>s na instância <strong>da</strong>s estruturas fun<strong>da</strong>mentais tímica /euforia/<br />
vs /disforia/ (Barros, 1988). O quadrado semiótico consiste na representação<br />
visual <strong>da</strong> articulação lógica de qualquer categoria semântica. Partindo <strong>da</strong> noção<br />
saussureana de que o significado é primeiramente obtido por oposição ao menos<br />
entre dois termos, o que constitui uma estrutura binária, representa-se no<br />
quadrado semiótico a combinatória <strong>da</strong>s relações entre contrários e contraditórios.<br />
Este instrumento é de grande valia quando, na análise <strong>da</strong>s reportagens,<br />
extrairmos os valores presentes no texto. No caso dos ataques sofridos pelos<br />
Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, muitas reportagens mostram a<br />
duali<strong>da</strong>de na produção de sentidos externa<strong>da</strong> por eixos eufóricos e disfóricos<br />
como: /Oriente/ vs /Ocidente/, /Civilizados/ vs /Bárbaros/, /Cristianismo/ vs<br />
/Islamismo/, /Moderno/ vs /Retrógrado/, /Moderados/ vs /Fun<strong>da</strong>mentalistas/...<br />
Valores que adquirem o significado de seu enunciador e de seu universo cultural.<br />
35
Esquema do quadrado semiótico<br />
S1 S2<br />
S2 S1<br />
Onde a Significação (S) se opõe a Não-Significação (S). Assim temos:<br />
Relação entre complementares (S1 / S2)<br />
Relação entre contraditórios (S1, S1 / S2, S2)<br />
De certa forma, o quadrado semiótico resgata a figura do “quadrado dos<br />
opostos” criado por filósofos durante a I<strong>da</strong>de Média, onde se podia visualizar as<br />
preposições segundo a quali<strong>da</strong>de, a quanti<strong>da</strong>de, a mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>de e a relação.<br />
O poder operatório do quadrado semiótico é fun<strong>da</strong>mental, aplicando-se a<br />
to<strong>da</strong> e qualquer instância significativa. Nele repousam to<strong>da</strong>s as textualizações. Por<br />
um lado, o quadrado semiótico representa uma articulação <strong>da</strong>s relações<br />
fun<strong>da</strong>mentais estáveis de todo o processo gerativo. As relações de identi<strong>da</strong>de<br />
encontram-se estabeleci<strong>da</strong>s nas estruturas de profundi<strong>da</strong>de. Por outro lado,<br />
possui uma dinâmica relacional que induz ao próprio processo gerativo.<br />
36
O nível profundo, conceito que utilizaremos nesta pesquisa, almeja revelar<br />
o plano mais abstrato <strong>da</strong> produção, do funcionamento e <strong>da</strong> interpretação do texto,<br />
organizando a coerência do universo conceitual, ou seja, identificando o que é de<br />
mais elementar.<br />
... las estructuras profun<strong>da</strong>s se construyen (...) de las palabras, ordenando los<br />
factores que determinan la existencia de los conjuntos y de los programas.<br />
(...)<br />
... a nivel profundo se estabelecen relaciones entre valores. (GRUPO DE<br />
ENTREVERNES, 1982, p. 139-167)<br />
No nível profundo aparece o tema global, a significação simbólica de uma<br />
narrativa (Nöth, 1996). Sua operacionalização ocorre através <strong>da</strong> oposição<br />
semântica de dois semas articulados pelas categorias de euforia (positivo) e<br />
disforia (negativo) e <strong>da</strong>s operações sintáticas de negação e asserção.<br />
Com efeito, o nível profundo estabelece-se através <strong>da</strong> percepção <strong>da</strong>s<br />
diferenças que captam “... ao menos dois termos-objetos, como simultaneamente<br />
presentes” e relaciona-os “de um ou de outro modo”, como afirma Greimas (1973,<br />
p.28), apontando como conseqüência a certeza de que “... um termo-objeto só não<br />
comporta significações” e estas, por sua vez, pressupõem a existência <strong>da</strong> relação,<br />
condição necessária para se estabelecer sentidos.<br />
1.4. Comunicação: uma prática antropológica<br />
A técnica <strong>da</strong> comunicação é tão antiga quanto à própria humani<strong>da</strong>de. Sem<br />
a comunicação, o ser humano não teria progredido socialmente criando, ao longo<br />
do tempo e do espaço, a cultura como fato humano concreto transmissível de<br />
geração a geração, cumulativa, histórica, mutável e em processo constante de<br />
revisão e aperfeiçoamento. A comunicação permitiu, sem dúvi<strong>da</strong>, a continui<strong>da</strong>de<br />
<strong>da</strong> vi<strong>da</strong> social pela compreensão <strong>da</strong> subjetivi<strong>da</strong>de do outro. Pela comunicação foi<br />
possível pensar em ação coordena<strong>da</strong> em função de objetivos e metas presentes<br />
nos primeiros hominídeos orientados para a produção e reprodução <strong>da</strong>s condições<br />
de existência. Sem um plano vivenciado, articulado, comum e socializado não<br />
teríamos chegado a resultados coletivos significativos. A experiência humana<br />
37
jamais seria democratiza<strong>da</strong> sem o desenvolver <strong>da</strong> comunicação. A cultura<br />
acumula<strong>da</strong> pela humani<strong>da</strong>de jamais seria apropria<strong>da</strong> pelo coletivo sem a criação<br />
dos meios de comunicação.<br />
O existir do homem só é possível por meio <strong>da</strong> Comunicação. Ela permeia to<strong>da</strong> a<br />
sua vi<strong>da</strong>. Em qualquer momento e lugar, onde existe vi<strong>da</strong> humana, existe<br />
Comunicação. Imaginemos que os tijolos só conseguem sustentar a parede se<br />
houver massa, de cimento ou barro, unindo-os firmemente. Se compararmos o<br />
mundo a uma imensa casa e as pessoas sendo os tijolos, então a massa que une<br />
esses tijolos é a Comunicação. De fato, o mundo que hoje conhecemos – cheio de<br />
problemas, mas também repleto de realizações para a vi<strong>da</strong> – desenvolveu-se<br />
graças à Comunicação que ligou a humani<strong>da</strong>de.<br />
Antônio Carlos Moreira afirma que certo dia alguém contestou esta comparação,<br />
dizendo que o ser humano conseguiu o progresso do mundo com sua inteligência.<br />
E não está erra<strong>da</strong> esta idéia, porém ela não é completa. Pois de na<strong>da</strong> adiantaria o<br />
homem ter capaci<strong>da</strong>de de raciocínio se não houvesse criado formas de transmitir,<br />
comunicar suas descobertas, seus conhecimentos. (RABAÇA & BARBOSA, 2001,<br />
p. 157)<br />
Desde o momento em que os homens passaram a viver em socie<strong>da</strong>de, seja<br />
pela reunião de famílias, seja pela comuni<strong>da</strong>de de trabalho, a comunicação<br />
tornou-se imperativa. Nesta condição, a análise dos instrumentos de comunicação<br />
passa, necessariamente, pelo conhecimento <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des. O mais importante<br />
na informação e na comunicação não são tanto as ferramentas e o mercado, e<br />
sim, os homens, a socie<strong>da</strong>de e a cultura (Wolton, 2004).<br />
Ampliando tal idéia, Wolton (2004) aduz que<br />
A comunicação é, antes de mais na<strong>da</strong>, uma experiência antropológica<br />
fun<strong>da</strong>mental. Do ponto de vista intuitivo, comunicar consiste em compartilhar com<br />
o outro. Simplesmente não há vi<strong>da</strong> individual e coletiva sem comunicação. E o que<br />
caracteriza ca<strong>da</strong> experiência pessoal, como a de qualquer socie<strong>da</strong>de, é definir<br />
regras de comunicação. Não há seres humanos sem socie<strong>da</strong>de, como não há<br />
socie<strong>da</strong>de sem comunicação. E é por isso que a comunicação é, ao mesmo<br />
tempo, uma reali<strong>da</strong>de e um modelo cultural. Antropólogos e historiadores definem<br />
progressivamente os diferentes padrões de comunicação, interpessoais e<br />
coletivos, que se sucederam na história. Jamais houve uma comunicação em si,<br />
ela está sempre liga<strong>da</strong> a um padrão cultural. Ou seja, a uma representação do<br />
outro, porque comunicar consiste em difundir, mas também interagir com um<br />
indivíduo ou uma coletivi<strong>da</strong>de. O ato banal de comunicação condensa em<br />
reali<strong>da</strong>de a história de uma cultura e de uma socie<strong>da</strong>de 15 . (WOLTON, 2004, p.30)<br />
15 Grifos de Dominique Wolton.<br />
38
Refletir sobre a “experiência antropológica em comunicação” consiste-se<br />
em ter a socie<strong>da</strong>de no campo de análise. Nos primórdios <strong>da</strong> história <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
humana, o indivíduo se identificava basicamente com o clã e a aldeia em que<br />
vivia. As chances de conhecer valores e características diferentes eram reduzi<strong>da</strong>s,<br />
<strong>da</strong><strong>da</strong> a pouca freqüência do contato entre grupos.<br />
Esse relativo isolamento levou ca<strong>da</strong> grupo a criar mecanismos próprios de<br />
sobrevivência, formas específicas de relacionamento, de transformação <strong>da</strong><br />
natureza e <strong>da</strong> vivência em comuni<strong>da</strong>de. Essas condições fizeram com que os<br />
diversos grupos desenvolvessem crenças, costumes, formas de comunicação,<br />
idiomas, manifestações artísticas, alimentação, surgindo assim, diversas culturas.<br />
Os contatos esporádicos entre os grupos ocasionaram tanto choques como<br />
assimilações culturais. Com o tempo, essas assimilações e choques<br />
intensificaram-se em virtude <strong>da</strong>s migrações, <strong>da</strong>s guerras, do desenvolvimento e do<br />
crescimento <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des comerciais. Esses contatos possibilitaram, ain<strong>da</strong>, o<br />
surgimento de novas culturas, pois os povos, ao migrarem, também ocupavam<br />
áreas desabita<strong>da</strong>s e criavam seus próprios signos para externar seus costumes e<br />
crenças. Fiorin (1995, p. 42) expressa que: “Formas de dizer o discurso são<br />
aprendi<strong>da</strong>s e estão de acordo com as tradições culturais de uma socie<strong>da</strong>de”.<br />
Da aproximação de duas ou mais culturas decorre, de modo geral, a<br />
avaliação recíproca, isto é, o julgamento do valor <strong>da</strong> cultura do “outro”.<br />
Normalmente, esse julgamento é feito a partir <strong>da</strong> cultura do “eu”. Assim, a análise<br />
<strong>da</strong> outra cultura tende a considerar a sua própria como a ideal e a mais avança<strong>da</strong>.<br />
Passa-se, então, a desprezar os valores, o conhecimento, a arte, a crença, as<br />
formas de comunicação, as técnicas, enfim, a cultura do “outro”.<br />
Mas quem é o “outro”? Landowski responde ao afirmar que<br />
... a figura do Outro é, antes de mais na<strong>da</strong>, a do estrangeiro, definido por sua<br />
dessemelhança. O Outro está, em suma, presente. Presente até demais, e o<br />
problema é precisamente este: problema de sociabili<strong>da</strong>de, pois se a presença<br />
empírica <strong>da</strong> alteri<strong>da</strong>de é <strong>da</strong><strong>da</strong> de pronto na coabitação do dia-a-dia <strong>da</strong>s línguas,<br />
<strong>da</strong>s religiões ou dos hábitos – <strong>da</strong>s culturas –, nem por isso ela tem<br />
necessariamente sentido, nem, sobretudo, o mesmo sentido para todos.<br />
(LANDOWSKI, 2002, p. XII)<br />
39
Não tendo o mesmo sentido para todos, é crucial que o bom senso<br />
descortine a teia analítica e quebre o pensamento reducionista para se emitir juízo<br />
sobre determina<strong>da</strong> notícia ou cultura como aconselha Descartes (1996, p.65) “...<br />
não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas<br />
são capazes dos maiores vícios, tanto quanto <strong>da</strong>s maiores virtudes...”<br />
Vícios em fazer tábula rasa <strong>da</strong>s informações colocando-as em uma mesma<br />
seara de informações como se o mundo e suas culturas fossem algo homogêneo.<br />
Virtudes em absorver e interpretar a notícia despindo-se de preconceitos nas<br />
análises, transpondo o bom senso para o significado. Significado que pode se<br />
transfigurar de acordo com o local em que é concebido e divulgado.<br />
geografia”.<br />
Segundo Wolton (2004) o mundo assiste atualmente a “revanche <strong>da</strong><br />
A informação e o jornalismo libertaram-se <strong>da</strong>s limitações impostas pelo tempo,<br />
mas tropeçaram no segundo termo, o espaço. A mesma informação não tem o<br />
mesmo sentido conforme as áreas culturais e os sistemas simbólicos. (...) Hoje, a<br />
informação confronta-se com o relativismo histórico e geográfico. (...) Quanto mais<br />
a informação é mundial, mais a noção de ponto de vista é essencial. (WOLTON,<br />
2004, p. 266-267)<br />
Ampliando a análise de Wolton podemos dizer que hoje, mais do que<br />
nunca, o binômio espaço-tempo dilui-se numa só substância. O espaço geográfico<br />
não é algo despojado de conceito. Nele afloram-se civilizações, culturas... Ca<strong>da</strong><br />
cultura materializa suas concepções em uma base física. A contextualização no<br />
tempo só é possível quando a contextuali<strong>da</strong>de no espaço fica estabeleci<strong>da</strong>. Afinal,<br />
não existe tempo ausente no espaço, e espaço divorciado do tempo, uma vez que<br />
o real é a manifestação espaço-temporal.<br />
40
Nas atuais condições de globalização, a metáfora proposta por Pascal parece ter<br />
ganho reali<strong>da</strong>de: o universo visto como uma esfera infinita, cujo centro está em<br />
to<strong>da</strong> a parte... O mesmo se poderia dizer <strong>da</strong>quela frase de Tolstoi, tantas vezes<br />
repeti<strong>da</strong>, segundo o qual, para ser universal, basta falar de sua aldeia...<br />
Como nos lembra Michel Serres, “(...) nossa relação com o mundo mudou. Antes,<br />
ela era local-local; agora é local-global (...)”. Recor<strong>da</strong> esse filósofo, utilizando um<br />
argumento aproximativamente geográfico, que “hoje temos uma nova relação com<br />
o mundo, porque o vemos por inteiro. Através dos satélites, temos imagens <strong>da</strong><br />
Terra absolutamente inteira”.<br />
Na ver<strong>da</strong>de, a globalização faz também redescobrir a corporei<strong>da</strong>de. O mundo <strong>da</strong><br />
fluidez, a vertigem <strong>da</strong> veloci<strong>da</strong>de, a freqüência dos deslocamentos e a banali<strong>da</strong>de<br />
do movimento e <strong>da</strong>s alusões a lugares e a coisas distantes, revelam, por<br />
contrastes, no ser humano, o corpo como uma certeza materialmente sensível,<br />
diante de um universo difícil de apreender. Talvez, por isso mesmo, possamos<br />
repetir com Edgar Morin (...) que “hoje ca<strong>da</strong> um de nós é como o ponto singular de<br />
um holograma que, em certa medi<strong>da</strong>, contém o todo planetário que o contém”.<br />
(...)<br />
Ca<strong>da</strong> lugar é, à sua maneira, o mundo. (...) Mas, também, ca<strong>da</strong> lugar,<br />
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se<br />
exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globali<strong>da</strong>de, corresponde<br />
uma maior individuali<strong>da</strong>de.<br />
(...) Ca<strong>da</strong> lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão<br />
local, convivendo dialeticamente. (SANTOS, 1996b, p. 251-273)<br />
Em um mundo permeado pela multiterritoriali<strong>da</strong>de como o nosso, a noção<br />
de ponto de vista é prerrogativa fun<strong>da</strong>mental. Wolton (2004, p. 20) alerta que “no<br />
passado, a identi<strong>da</strong>de era um obstáculo à comunicação, hoje em dia ela se torna a<br />
sua condição”.<br />
De um ponto a outro, de uma época a outra, as atitudes, as maneiras de<br />
falar e os códigos sociais mu<strong>da</strong>m. As reali<strong>da</strong>des culturais não apresentam a<br />
mesma face. A comunicação, que tende a homogeneizar o espaço, encontra, com<br />
efeito, três tipos de obstáculos: 1) a distância atrapalha o direcionamento <strong>da</strong>s<br />
informações; 2) as trocas são interrompi<strong>da</strong>s freqüentemente nos limites <strong>da</strong>s áreas<br />
onde as mesmas convenções de comunicação são emprega<strong>da</strong>s, os limites<br />
lingüísticos, por exemplo; 3) por causa dos valores reconhecidos e dos códigos<br />
morais adotados, certos grupos recusam o contato ou são construí<strong>da</strong>s identi<strong>da</strong>des<br />
tão fortes que rejeitam a maior parte <strong>da</strong> informação que recebem. (Claval, 2004).<br />
41
Enriquecendo o debate, Martín-Barbero (2004) explica que<br />
Entender essas transformações exige, em primeiro lugar, uma mu<strong>da</strong>nça de<br />
categorias com que pensamos o espaço, pois, ao transformar o sentido do lugar<br />
no mundo, as tecnologias <strong>da</strong> informação e <strong>da</strong> comunicação – satélites,<br />
informática, televisão – estão fazendo com que o mundo tão intercomunicado se<br />
torne indubitavelmente ca<strong>da</strong> dia mais opaco. (...) E atualmente o que se está<br />
unificado em nível mundial não é uma vontade de liber<strong>da</strong>de, mas sim de domínio,<br />
não é o desejo de cooperação, mas o de competitivi<strong>da</strong>de. Por outro lado, a<br />
opaci<strong>da</strong>de remete à densi<strong>da</strong>de e compreensão informativa que introduzem a<br />
virtuali<strong>da</strong>de e a veloci<strong>da</strong>de em um espaço-mundo feito de redes e fluxos e não de<br />
elementos materiais. Um mundo assim configurado debilita radicalmente as<br />
fronteiras do nacional e do local, ao mesmo tempo em que converte esses<br />
territórios em pontos de acesso e transmissão, de ativação e transformação do<br />
sentido de comunicar.<br />
E não resta dúvi<strong>da</strong> de que não é possível habitar no mundo sem algum tipo de<br />
ancoragem territorial, de inserção no local, já que é no lugar, no território, que se<br />
desenrola a corporei<strong>da</strong>de <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> cotidiana e a temporali<strong>da</strong>de – a história – <strong>da</strong><br />
ação coletiva, base <strong>da</strong> heterogenei<strong>da</strong>de humana e <strong>da</strong> reciproci<strong>da</strong>de,<br />
características fun<strong>da</strong>doras <strong>da</strong> comunicação humana, pois, mesmo atravessado<br />
pelas redes do global, o lugar segue feito do tecido <strong>da</strong>s proximi<strong>da</strong>des e <strong>da</strong>s<br />
soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>des 16 . (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 58-59)<br />
Para Moreira (2006), o lugar é hoje uma reali<strong>da</strong>de determina<strong>da</strong> em sua<br />
forma e conteúdo pela rede global <strong>da</strong> nodosi<strong>da</strong>de e ao mesmo tempo pela<br />
necessi<strong>da</strong>de do homem de (re)fazer o sentido do espaço, ressignificando-o como<br />
relação de ambiência e de pertencimento.<br />
As identi<strong>da</strong>des nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são<br />
forma<strong>da</strong>s e transforma<strong>da</strong>s no interior <strong>da</strong> representação. Assim, tempo e espaço<br />
são coordena<strong>da</strong>s básicas de todos os sistemas de representações (Hall, 2005). As<br />
reportagens, via de regra, irão sempre costurar uma ancoragem para fortalecer o<br />
texto e, obviamente, o tipo de sentido que se deseja construir e estender ao leitor.<br />
Peruzzolo (2004), detalhando o processo de ancoragem, explica que<br />
16 Grifos de Jesús Martín-Barbero.<br />
42
Os efeitos de real, na sua maioria, são construídos pelo procedimento <strong>da</strong><br />
semântica discursiva que se costuma denominar ancoragem. Trata-se de atrelar o<br />
dito a pessoas, espaços geográficos conhecidos, <strong>da</strong>tas, fatos históricos,<br />
fotografias, simulações computacionais que o receptor reconhece como “reais”,<br />
como existentes. É um esforço codificante que visa tornar o sentido concreto,<br />
denotativo, de certo modo localizável, sensível, “iconizando-os”, como se fossem<br />
transcrições/cópias <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de 17 . (PERUZZOLO, 2004, p. 166)<br />
O desprezo de uma cultura em relação à outra finca as colunas do<br />
pensamento fun<strong>da</strong>mentalista. Nem sempre se conjuga corretamente o local com o<br />
global. Há uma equação inversa: a aproximação <strong>da</strong>s distâncias físicas ilustra a<br />
amplitude <strong>da</strong>s distâncias culturais. Assim sendo, o poder <strong>da</strong>s identi<strong>da</strong>des não<br />
deve ser menosprezado. Deve-se desarmar a armadilha <strong>da</strong> confusa (e enganosa)<br />
mistura entre tempo técnico e tempo social, visto que a cronologia de ambos é<br />
bem distinta.<br />
Semioticamente falando, só há espaço-tempo em função de competência<br />
específica de sujeitos que, para se reconhecerem, e antes de mais na<strong>da</strong>, para se<br />
construírem a si próprios enquanto tais, têm de construir também, entre outras<br />
coisas a dimensão “temporal” de seu devir e o quadro “espacial” de sua presença<br />
para si e para o Outro. 18 (LANDOWSKI, 2002, p. 67)<br />
A comunicação é um ato, e, por isso mesmo, acima de tudo, escolha.<br />
(Greimas, 1973). Todo produto midiático vende identi<strong>da</strong>de. É preciso olhar para<br />
quem recebe as informações. O sentido dos fatos depende <strong>da</strong> trama em que estão<br />
inseridos.<br />
O saber de ca<strong>da</strong> um a respeito do mesmo objeto é diferente, porque é<br />
condicionado pelo ponto de vista em que ca<strong>da</strong> um se coloca para apreendê-lo,<br />
estudá-lo, analisá-lo. Tendo adquirido um saber a partir de uma certa perspectiva,<br />
ca<strong>da</strong> um dos sujeitos atribui a seu conhecimento a marca <strong>da</strong> certeza que confere<br />
ao do outro a qualificação de equívoco, ou seja, ca<strong>da</strong> um dos sujeitos considera<br />
seu saber como saber e o do outro como não saber. Isso leva a uma polêmica, a<br />
uma confrontação, em que ca<strong>da</strong> um tenciona fazer o outro desqualificar o saber<br />
que havia adquirido anteriormente e aceitar o ponto de vista alheio como ver<strong>da</strong>de.<br />
(FIORIN, 1989, p. 16)<br />
17 Grifo de A<strong>da</strong>ir Caetano Peruzzolo.<br />
18 Grifo de Eric Landowski.<br />
43
Dificilmente um acontecimento é apreendido de maneira completa. O uso<br />
inevitável de filtros cognitivos, culturais, sociais, históricos, políticos, ideológicos,<br />
econômicos, institucionais entre outros, acaba levando a uma reconstituição<br />
parcial de um estado embrionário de discursivi<strong>da</strong>de. Nesse estado, ou de um<br />
discurso ain<strong>da</strong> em formação, vão se destacando diferenças sobre um fundo de<br />
uniformi<strong>da</strong>de.<br />
Um signo para uma pessoa, uma comuni<strong>da</strong>de, um grupo ou uma cultura não é<br />
signo para todos, indistintamente. Daí a importância do “estar no lugar de para<br />
alguém”. Tudo depende <strong>da</strong> informação que o signo dirige para alguém que, por<br />
sua vez, resulta <strong>da</strong> relação que se estabelece entre significante e significado 19 .<br />
(MACHADO, 2003, p. 281)<br />
O leitor vai extrair de sua relação com o texto não somente um sentido e,<br />
sim, uma significação. Uma diferença é algo que não poderíamos conhecer a<br />
priori, que se constrói no próprio processo do conhecimento através <strong>da</strong>s palavras,<br />
no próprio processo do dizer.<br />
O que merece ser analisado agora é que os destinatários não recebem simples<br />
mensagens reconhecíveis a partir de códigos compartilhados. Recebem, isto sim,<br />
conjuntos de práticas textuais oriun<strong>da</strong>s <strong>da</strong> cultura. Com isso, através <strong>da</strong><br />
incorporação de contribuições advin<strong>da</strong>s <strong>da</strong> semiótica <strong>da</strong> cultura, o modelo<br />
semiótico-textual veio possibilitar a apreensão do modo como, pela mediação <strong>da</strong><br />
cultura, os <strong>da</strong>dos sociológicos dos aparelhos dos mass media (fluxo unidirecional,<br />
centralização, formatos rígidos etc.) se transformam em mecanismos<br />
comunicativos que incidem sobre processos de interpretação, aquisição de<br />
conhecimentos e sobre os efeitos dos mass media. (SANTAELLA, 2001, p.58)<br />
Um texto jornalístico não trata apenas de um assunto, mas do que podemos<br />
saber sobre ele. Na sua compreensão estão embutidos os processos <strong>da</strong> produção<br />
discursiva, as decisões que o jornalista tomou ao escrevê-lo, as informações que<br />
ele conseguiu obter, o cui<strong>da</strong>do ao relatar certos fatos, os links causais que o<br />
jornalista fez ou deixou de fazer. Reza a teoria greimasiana que o texto parte de<br />
um saber-fazer (competência) para realizar o fazer-saber (informação) e tentar<br />
provocar um fazer-crer (credibili<strong>da</strong>de). O fazer-crer torna-se o objeto de desejo.<br />
Assim, engloba-se, segundo a semiótica francesa, quatro grandes categorias<br />
19 Grifos de Irene Machado.<br />
44
manipulação: tentação, sedução, provocação e intimi<strong>da</strong>ção. Alcançar e sustentar a<br />
credibili<strong>da</strong>de configura-se no eldorado do campo jornalístico. Afinal, como alerta<br />
Wolton (2004, p. 280): “Se o receptor não confia mais no jornalista, a informação<br />
perde parte de seu valor”. Sem credibili<strong>da</strong>de as palavras são apenas prisioneiras<br />
em um papel. Não produzem som nem efeito persuasivo. Ecoam-se no vazio <strong>da</strong><br />
insignificância.<br />
As reportagens externam características sociais em seus textos. A<br />
informação não é neutra. Ela é seleciona<strong>da</strong>, transmiti<strong>da</strong> e aplica<strong>da</strong> segundo o<br />
ponto de vista e os interesses de países, empresas, partidos políticos, movimentos<br />
sociais, etc. Interrogações, por exemplo, podem não trazer respostas convincentes<br />
ou objetivas durante o ato enunciativo, mas instigam reflexões sobre as diversas<br />
categorias <strong>da</strong> linguagem, suas manifestações e interface com os atores sociais.<br />
Essas produções de sentidos ganham relevo principalmente quando o foco<br />
são as relações internacionais, como nos informa Steinberger (2005)<br />
A formação <strong>da</strong> opinião pública sobre fatos internacionais se dá com base em<br />
quatro fontes visíveis: a informação acadêmica, a indústria cultural, os<br />
depoimentos vivenciados e a informação jornalística divulga<strong>da</strong> através de revistas,<br />
jornais, televisões, rádios e Internet a principal fonte de referência para a formação<br />
de opinião. (STEINBERGER, 2005, p. 29)<br />
Joseph Goebbels, Ministro <strong>da</strong> Informação Popular e Propagan<strong>da</strong> Nazista<br />
dizia que: “É mais fácil distorcer a imagem <strong>da</strong>quilo que desconhecemos”. Em<br />
síntese: se não tivermos conhecimento necessário para emitir opinião, e nem bom<br />
senso em ampliar nosso repertório para melhor compreensão, aceita-se conceitos<br />
que nem sempre condizem com a reali<strong>da</strong>de apresenta<strong>da</strong>.<br />
De acordo com Greimas (1973) e Landowski (2002)<br />
... o mundo humano se define essencialmente como mundo <strong>da</strong> significação. Só<br />
pode ser chamado ”humano” na medi<strong>da</strong> em que significa alguma coisa.<br />
(GREIMAS, 1973, p. 11)<br />
... a única coisa que, sob uma forma ou outra, poderia realmente nos estar<br />
presente, é o sentido. Nunca estamos presentes na insignificância 20 .<br />
(LANDOWSKI, 2002, p. IX)<br />
20 Grifos de Eric Landowski.<br />
45
E, é nessa esfera, que a mídia tem seu ponto nevrálgico. A linguagem<br />
jornalística é pródiga na utilização e emancipação de signos como atesta<br />
Steinberger (2005).<br />
Se a mídia é a maior articuladora de significações sociais imaginárias, isso não<br />
implica que seus produtos sejam inteiramente originais. Ao contrário, os discursos<br />
geopolíticos <strong>da</strong> mídia resultam, em sua maioria, de reconversões simplificadoras<br />
de outros discursos institucionais como o militar, o religioso, o diplomático, etc. A<br />
originali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> mídia está na maneira como se apropria desses imaginários e<br />
trabalha-os em um modo de reciclagem. (STEINBERGER, 2005, p. 124)<br />
O sentindo não é jamais o simples produto de um pensamento diretamente<br />
confrontado com a reali<strong>da</strong>de. Ele resulta sempre de uma negociação (Landowski,<br />
2002).<br />
Um quadro, um poema são apenas pretextos, o único sentido que eles têm é<br />
aquele – ou são aqueles – que lhes <strong>da</strong>mos. Eis aqui o nós erigido em instância<br />
suprema do sentido: é ele que coman<strong>da</strong> o filtro cultural de nossa percepção do<br />
mundo, é ele também que seleciona e ordena as epistemes que “se implicitam”<br />
nos objetos particulares – quadros, poemas, narrativas –, resultados de<br />
emaranhados do significante 21 . (GREIMAS, 1975, p.07-08)<br />
As trocas de mensagens se dão entre um destinador e um destinatário que<br />
se utilizam <strong>da</strong> linguagem para intercambiar valores que se articulam de modo a<br />
gerar significações permitindo o individuo ver e compreender o mundo,<br />
compartilhando modos de vi<strong>da</strong> e comportamentos manifestados por um conjunto<br />
de regras que são adota<strong>da</strong>s através de convenções previamente defini<strong>da</strong>s e<br />
representa<strong>da</strong>s por signos que aglutinam expressão e conceito, capazes de mediar<br />
e expressar pensamentos.<br />
Não existe leitura que não seja interpretativa. Todo enunciado apresenta<br />
duas instâncias na enunciação: o enunciador, dotado de um fazer persuasivo, e o<br />
enunciatário de fazer interpretativo (Diniz, 2002). Compreender um enunciado não<br />
é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito<br />
diversos, fazer hipóteses, raciocinar... (Maingueneau, 2004). A falta de<br />
conhecimento conduz para as águas rasas e envenena<strong>da</strong>s <strong>da</strong> desinformação.<br />
21 Grifos de Algir<strong>da</strong>s Julien Greimas.<br />
46
As socie<strong>da</strong>des tendem a olhar o mundo pelo prisma de suas culturas, de<br />
processos históricos construídos secularmente. A textura dos acontecimentos (e<br />
dos sentidos que os fazem existir discursivamente) pode variar de densi<strong>da</strong>de<br />
conforme o local em que se manifesta. Conhecer as produções simbólicas <strong>da</strong>s<br />
socie<strong>da</strong>des é de suma importância para compreensão <strong>da</strong> essência <strong>da</strong> notícia<br />
produzi<strong>da</strong>.<br />
A premissa que define semiótica como disciplina para o estudo <strong>da</strong>s mensagens,<br />
que entende produção, circulação e interpretação de mensagens como operação e<br />
intervenção com e no código – e, conseqüentemente, com e na linguagem,<br />
discurso e demais sistemas semióticos – não é descrição de um mecanismo.<br />
Trata-se <strong>da</strong> tradução <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de interna <strong>da</strong> cultura de organizar as<br />
informações em linguagens. Estamos li<strong>da</strong>ndo, portanto, com manifestações de<br />
cultura: mensagem, linguagem, comunicação, sistemas de signos que serão<br />
palavras vazias se não forem imersos na cultura. 22<br />
(...)<br />
Portanto, vamos partir do pressuposto de que o mundo é produtor potencial de<br />
informações; contudo, se essas informações não forem organiza<strong>da</strong>s em linguagem<br />
de modo a criar signos para os quais buscamos significações, não estaremos<br />
diante de objetos de cultura mas tão-somente de fenômenos físico-naturais. Por<br />
conseguinte semiótica aqui não pode ser pensa<strong>da</strong> senão como disciplina para a<br />
compreensão dos sistemas de signos imersos na cultura 23 . (MACHADO, 2003, p.<br />
283-284)<br />
Há sempre um antes e um depois <strong>da</strong> comunicação. Para comunicar é<br />
preciso reforçar as identi<strong>da</strong>des, reencontrar o tempo e respeitar o que nos separa.<br />
E como ninguém é exterior a comunicação, a reflexão requer, ao mesmo tempo,<br />
esforço e distanciamento para chegar ao conhecimento.<br />
Segundo Wolton (2004)<br />
Hoje, tudo pode virar informação; não há mais limite para a produção e difusão <strong>da</strong><br />
informação. Mas, por isso mesmo, corre-se o risco de haver saturação. Até que<br />
ponto o ci<strong>da</strong>dão (...) pode absorver tantas informações, sendo que a maior parte<br />
não lhe interessa, nem lhe diz respeito? O limite está do lado <strong>da</strong> recepção.<br />
(WOLTON, 2004, p. 265)<br />
O engajamento de determinados veículos de comunicação irão nortear a<br />
cobertura por ele realiza<strong>da</strong>. “Buscar na aparência a essência”. Essa máxima de<br />
sintetiza o que queremos dizer: o bom senso consiste em não aceitar prontamente<br />
22 Grifos de Irene Machado.<br />
23 Grifos nossos.<br />
47
as ver<strong>da</strong>des, e sim, interpretá-las entoando a critici<strong>da</strong>de analítica e dissolvendo o<br />
venenoso pensamento reducionista. Comunicar é integrar; mas também pode<br />
fragmentar. Esta máxima ilustra que, num processo interregno, minado com<br />
desinformações planta<strong>da</strong>s propositalmente ou por equívoco, o arco-íris <strong>da</strong><br />
informação pode conduzir ao sepulcro <strong>da</strong> insipiência.<br />
48
CAPÍTULO 2:<br />
O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2001, O JORNALISMO EM TEMPO<br />
REAL E O ALINHAMENTO MIDIÁTICO<br />
2.1. Novo século, velhas histórias<br />
Nenhum romancista pode imaginar algo mais<br />
terrível que a ver<strong>da</strong>de.<br />
Umberto Eco<br />
O século XX havia se esvaecido no horizonte histórico. Deixara a triste<br />
conquista de ter se tornado a centúria mais violenta que a história testemunhara.<br />
Mesmo com o caminhar do tempo, as nuvens de cólera que encobriram os últimos<br />
cem anos ain<strong>da</strong> não haviam sido totalmente dissipa<strong>da</strong>s. O terror engravidou a<br />
história que no nono mês do recém-chegado século <strong>da</strong>ria a luz a um novo ciclo de<br />
horror. O batismo do século XXI seria espargido com sangue.<br />
Com a veloci<strong>da</strong>de de um raio, a flecha envenena<strong>da</strong> <strong>da</strong> violência dilacerava<br />
a poeira do tempo e atingiria o coração dos Estados Unidos com exímia pontaria.<br />
A hemorragia causa<strong>da</strong> pelo golpe deixaria seqüelas no corpo <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de. A<br />
sangria <strong>da</strong>va contornos às letras que começavam a ser impressas no livro <strong>da</strong>s<br />
clássicas tragédias mundiais.<br />
Nesse torpe enredo, as tintas <strong>da</strong> violência começavam a ganhar cores vivas<br />
e catastróficas. Um eclipse de pânico encobriria o território estadunidense.<br />
Expandindo-se, a sombria nuvem <strong>da</strong> violência carregaria o medo para<br />
outros países. Os ataques expuseram a vulnerabili<strong>da</strong>de dos Estados Unidos frente<br />
ao terrorismo, pois não se trata de um combate entre Estados, com território e<br />
forças arma<strong>da</strong>s que possam ser identifica<strong>da</strong>s. Os terroristas se tornam “invisíveis”<br />
ao se diluírem em ramificações internacionais e também não manterem<br />
compromissos com as leis internacionais, nem com qualquer convenção de<br />
guerra.<br />
49
Podia-se perceber que o dia 11 de setembro de 2001 não fin<strong>da</strong>ria<br />
cronologicamente. As sombras e dúvi<strong>da</strong>s impressas nessa <strong>da</strong>ta ultrapassariam as<br />
vinte quatro horas de um dia.<br />
Esta pesquisa analisará os discursos impressos pela mídia brasileira e que<br />
direcionaram as interpretações e os sentidos produzidos pelo megaevento<br />
terrorista de 11 de setembro de 2001. Contudo, os ataques aos Estados Unidos<br />
foram, em grande parte, transmitidos ao vivo para bilhões de pessoas. Através de<br />
um fato é que as mídias repercutem seu acontecimento e suas conseqüências. As<br />
imagens e intensa cobertura televisiva do 11 de setembro de 2001 nutriu de<br />
informações outros veículos midiáticos.<br />
Assim, neste capítulo, serão enfocados os primeiros momentos <strong>da</strong><br />
cobertura jornalística em tempo real e os desdobramentos do estrondoso ataque<br />
terrorista sofrido pelos Estados Unidos e as invasões ao Afeganistão e ao Iraque<br />
onde a mídia seria converti<strong>da</strong> em um poderoso instrumento de guerra. Uma guerra<br />
de discursos e de ver<strong>da</strong>des...<br />
2.2. A águia imola<strong>da</strong>: os atentados ao World Trade Center e ao Pentágono<br />
A reali<strong>da</strong>de sempre ultrapassa a ficção.<br />
Jorge Luis Borges<br />
Terça-feira, 11 de setembro de 2001. O sol expandia seu brilho sobre os<br />
Estados Unidos. Nessa ensolara<strong>da</strong> manhã de outono a ci<strong>da</strong>de de Nova York<br />
emitia seus ruídos. Passos apressados, fluxo constante de automóveis cortando<br />
as artérias urbanas, vozes que ecoavam nos estabelecimentos comerciais, nas<br />
residências, nas escolas, nos parques... Nova York refletia o dinamismo dos<br />
grandes centros urbanos, encampava a complexi<strong>da</strong>de social típica <strong>da</strong>s metrópoles<br />
de seu porte. A ci<strong>da</strong>de seguia seu ritmo sem saber que, nas primeiras horas dessa<br />
manhã, dois aviões rasgariam o céu <strong>da</strong> “Big Apple” e mergulhariam para uma<br />
ação que abriria uma cicatriz no orgulho <strong>da</strong> maior potência do mundo<br />
contemporâneo. Alheio ao que o breve futuro lhe reservava, o edifício do<br />
Pentágono (Washington), assim como Nova York, seguia sua liturgia diária. Os<br />
50
símbolos dos poderes econômico e militar estadunidenses seriam protagonistas<br />
de um novo período <strong>da</strong> geopolítica mundial. As relações internacionais ganhariam<br />
um novo formato, a já combali<strong>da</strong> paz mundial, incertezas.<br />
Nessa manhã, o brilho do sol coadunar-se-ia com a escuridão. As sombras<br />
projetariam suas trevas sobre o país. Os sons urbanos ecoados em Nova York e<br />
Washington seriam tocados com outra melodia. Dor, desespero, dúvi<strong>da</strong>s,<br />
perplexi<strong>da</strong>de e mortes seriam transforma<strong>da</strong>s em acordes <strong>da</strong> ópera do terrorismo.<br />
O maestro Osama bin Laden regendo o grupo terrorista Al Qae<strong>da</strong> (A Base, em<br />
árabe) com uma nota agu<strong>da</strong> cravava sua cimitarra em espaços-símbolos dos<br />
Estados Unidos. A afia<strong>da</strong> lâmina terrorista imolara a águia estadunidense em seu<br />
próprio altar.<br />
Em conjunto com as Torres Gêmeas e parte <strong>da</strong>s estruturas do Pentágono,<br />
desabara a suposição de que os Estados Unidos eram invulneráveis a ataques de<br />
grande magnitude dentro de seu território. Se um grupo terrorista fora capaz de<br />
atingir três dos mais importantes símbolos dos Estados Unidos, na<strong>da</strong> mais parecia<br />
estar à prova do terror.<br />
Tabela 1. Os roteiros dos ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001<br />
Os terroristas agiram a partir de três aeroportos, seqüestrando quatro aviões que<br />
decolaram num intervalo de doze minutos.<br />
A decolagem O ataque<br />
1 – 07:59 (sic) – Boston<br />
08:48 (sic) – Nova York<br />
O Boeing 767 <strong>da</strong> América Airlines decola para O avião bate na torre norte do World Trade<br />
fazer o vôo 11, direto para Los Angeles, com<br />
81 passageiros, nove comissários e dois<br />
pilotos.<br />
Center, na altura do 100º an<strong>da</strong>r.<br />
2 – 07:58 (sic) – Boston<br />
09:03 (sic) – Nova York<br />
O Boeing 767 <strong>da</strong> United Airlines parte com O avião choca-se contra a torre sul do<br />
destino a Los Angeles com 56 passageiros,<br />
sete comissários e dois pilotos, fazendo o vôo<br />
175.<br />
conjunto de edifícios, à altura do 90º an<strong>da</strong>r.<br />
3 – 08:10 (sic) – Dulles – Washington 09:43 (sic) – Washington<br />
O vôo, um Boeing 757, <strong>da</strong> América Airlines, O Boeing é jogado sobre o Pentágono, a 3<br />
parte com destino a Los Angeles, com 58 quilômetros <strong>da</strong> Casa Branca.<br />
passageiros,<br />
pilotos.<br />
quatro comissários e dois<br />
4 – 08:01 (sic) – Newark<br />
10:10 (sic) – Shanksville<br />
O Boeing 757 <strong>da</strong> United Airlines deixa o O Boeing cai numa área desabita<strong>da</strong>, a 130<br />
aeroporto no início do vôo 93, com destino a quilômetros ao sul de Pittsburg, na<br />
San Francisco, com 38 passageiros, cinco Pensilvânia.<br />
comissários e dois pilotos.<br />
Fonte: Revista Veja (19/09/2001), p. 51.<br />
51
2.3. Dificul<strong>da</strong>des de compreensão de um acontecimento na TV em tempo real<br />
Ao vermos um acontecimento, nem sempre o compreendemos de imediato.<br />
O flagelo terrorista contra os Estados Unidos em 2001 é um exemplo dessa<br />
afirmativa. Os atentados puderam ser vistos à exaustão por bilhões de pessoas.<br />
As cenas dos aviões chocando-se contra os edifícios do World Trade Center<br />
transformaram-se em um “marketing do terror”. As imagens geraram perplexi<strong>da</strong>de<br />
não só nos Estados Unidos, mas no mundo. As reações foram múltiplas e<br />
distintas.<br />
Contribuindo à discussão, Wolton (2004) nos diz que<br />
A informação imediata não é mais fácil de se fazer hoje do que outrora, quando os<br />
meios técnicos eram mais rudimentares, pois o mais difícil continua sendo a<br />
análise e não a cobertura do acontecimento. Tudo está ao vivo, porém em<br />
desordem. Ao vivo não é sinônimo de ver<strong>da</strong>deiro, e o sentido fica mais difícil de se<br />
deduzir quando se está gru<strong>da</strong>do nos acontecimentos. 24 (WOLTON, 2004, p. 285)<br />
As imagens do impacto <strong>da</strong>s Torres Gêmeas foram gera<strong>da</strong>s pela mídia<br />
estadunidense e reproduzi<strong>da</strong>s por outros veículos midiáticos. Não obstante, a<br />
mídia brasileira foi alimenta<strong>da</strong>, num primeiro momento, por imagens forneci<strong>da</strong>s<br />
pela imprensa estadunidense. Segundo os dizeres de Beirão (2001, p.66) “a rigor,<br />
tudo o que as outras emissoras fizeram durante a cobertura, inclusive as nossas,<br />
foi dublar a CNN”. Sendo a CNN (Cable News Network) uma emissora<br />
especializa<strong>da</strong> em jornalismo, somado ao fato de que os atentados foram em seu<br />
país-sede, é natural o papel desempenhado por seus profissionais. Caso os<br />
atentados fossem no Brasil, Argentina ou França, as emissoras-pátrias é que<br />
teriam as primeiras informações. Posteriormente, um maior número de veículos<br />
jornalísticos se engajaria na cobertura dos fatos. Contudo, as agências<br />
estadunidenses ain<strong>da</strong> ditavam o ritmo e conteúdo <strong>da</strong>s informações.<br />
24 Grifos de Dominique Wolton.<br />
52
Naturalmente que um evento dessa envergadura rechearia todos os meios<br />
de comunicação do mundo. A TV e a Internet realizaram a cobertura quase que<br />
simultânea dos atentados. Nos dias que se seguiriam, revistas e jornais se<br />
engajariam nessa hor<strong>da</strong> de informações.<br />
Pelas dimensões dos atos terroristas e, por ter como alvo os Estados<br />
Unidos, à repercussão foi imediata e exaustiva. Os atentados agen<strong>da</strong>riam quase<br />
que instantaneamente à imprensa mundial.<br />
A desinformação foi à protagonista no início <strong>da</strong> cobertura. Expressar<br />
corretamente o acontecimento, saber se haveriam ou não novos ataques eram os<br />
principais entraves. As imagens falavam por si, demonstravam o terror e<br />
espalhavam desespero e insegurança.<br />
Os meios de comunicação, em especial a TV, transformaram-se em<br />
referências. Nos Estados Unidos, pessoas dirigiam-se às suas residências ou a<br />
uma TV mais próxima na tentativa de saciar a necessi<strong>da</strong>de de informações. Em<br />
determinado momento, o site <strong>da</strong> CNN estampava uma mensagem pedindo para<br />
aqueles que desejassem maiores subsídios que buscassem informações na TV.<br />
Até mesmo a MTV, que passa clipes 24 horas por dia, interrompeu a programação<br />
para retransmitir a cobertura <strong>da</strong>s explosões em Nova York e Washington feitas<br />
pela CBS. (PIMENTA, 2001, p. 11)<br />
O evento de 11 de setembro de 2001 mostrou várias imagens carrega<strong>da</strong>s<br />
de significados, sendo em um primeiro momento monossêmico. Posteriormente<br />
ele torna-se polissêmico produzindo outras interpretações. A intencionali<strong>da</strong>de em<br />
relação ao evento se desvela; brota uma trajetória de significações ao longo do<br />
desdobramento dos vários aspectos que emergem durante o período. De acordo<br />
com Barbeiro e De Lima (2005, p. 97): “O texto do telejornal tem sua estrutura de<br />
movimento, instantanei<strong>da</strong>de, testemunhali<strong>da</strong>de, indivisibili<strong>da</strong>de de imagem e som,<br />
sintetização e objetivi<strong>da</strong>de.”<br />
53
To<strong>da</strong>via, os atentados, particularmente a destruição <strong>da</strong>s torres do World<br />
Trade Center, impuseram, de certo modo, uma ruptura entre imagem, texto e som<br />
na transmissão ao vivo. Por algumas horas, tinha-se a impressão de que a<br />
televisão ficara “imobiliza<strong>da</strong>”, como suas câmeras, diante <strong>da</strong>s Torres Gêmeas, e<br />
de que também ela fora seqüestra<strong>da</strong> e, como suas imagens, torna<strong>da</strong> como refém.<br />
Os responsáveis pelos atos terroristas não se limitaram a monopolizar as telas do<br />
mundo: também subverteram o funcionamento corrente do dispositivo televisivo e<br />
interferiram na relação habitual entre imagem e acontecimento. (Senra, 2003)<br />
A narrativa jornalística valoriza por princípio a irrupção do inesperado, do singular,<br />
do a-normal, para, depois, tornar a situar o sensacional no fio de uma história que<br />
lhe dá seu sentido e o traz de volta à norma, à ordem <strong>da</strong>s coisas previsíveis...<br />
(LANDOWISKI, 1992, p. 120)<br />
No Brasil, a Rede Globo de Televisão precedeu as demais. Seu canal de<br />
jornalismo a cabo, Globo News, foi o primeiro a munir os telespectadores com<br />
imagens sobre os atentados. Como dissemos, a desinformação se destacou no<br />
começo <strong>da</strong> cobertura. Os primeiros instantes <strong>da</strong> transmissão deram vi<strong>da</strong> ao que<br />
Serva (2001) qualifica como “desinformação informa<strong>da</strong>”. Tinha-se a imagem, não<br />
a explicação para o que se estava mostrando. O texto narrado pela jornalista Leila<br />
Steremberg confirma tal afirmativa.<br />
Interrompemos a nossa programação para informar que o World Trade Center, em<br />
Nova York, está em chamas. Um avião atingiu uma <strong>da</strong>s torres de um dos prédios<br />
mais altos do mundo. Foi um bimotor que atingiu as torres. Você vê imagens ao<br />
vivo. (GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 264)<br />
As primeiras informações apura<strong>da</strong>s eram as de que um avião bimotor tinha<br />
sido o responsável pelo choque com a Torre Norte do World Trade Center. As<br />
informações ain<strong>da</strong> eram imprecisas e, em minutos, uma nova imagem mu<strong>da</strong>ria o<br />
rumo <strong>da</strong> cobertura.<br />
antes.<br />
O jornalista Luis Ernesto Lacombe se relembra de um fato acontecido dias<br />
54
Na semana anterior, um piloto francês maluco havia pulado de parapente e ficou<br />
preso na Estátua <strong>da</strong> Liber<strong>da</strong>de. Para mim, outro maluco pegou um pequeno avião<br />
e se chocou contra a torre. (GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p.<br />
265)<br />
O choque de um avião de pequeno porte, como se supunha de início,<br />
poderia ser uma terrível coincidência. No depoimento o jornalista qualifica de<br />
maluco o possível autor do choque. Expressão também compartilha<strong>da</strong> para um<br />
piloto francês que há alguns dias ficara preso junto à Estátua <strong>da</strong> Liber<strong>da</strong>de.<br />
Contudo, não se tratava de maluquice por parte do piloto, muito menos de um<br />
avião bimotor como protagonista do acidente. Informações mais sóli<strong>da</strong>s viriam<br />
posteriormente indicando para uma gigantesca manifestação terrorista. A ver<strong>da</strong>de<br />
ain<strong>da</strong> estava no subsolo.<br />
O choque inicial não fora apenas na Torre Norte. Ele foi transposto <strong>da</strong> tela<br />
para os jornalistas que faziam a cobertura em tempo real 25 . O espelho do<br />
nervosismo se refletiu na postura dos apresentadores. Estavam perplexos com o<br />
que viam. Não compreendiam a essência do fato. O depoimento a seguir ilustra<br />
esse ponto.<br />
25 Os depoimentos abaixo confirmam essa idéia.<br />
“Depois do segundo choque, jornalistas e técnicos ficam boquiabertos. A dúvi<strong>da</strong> é geral. Todos se<br />
perguntam: ‘O que aconteceu? Uma outra explosão?’. (Ricardo) Calil corre para a máquina de<br />
gravação, volta a fita, quer rever imagens. ‘Achávamos que era replay do primeiro choque, mas aí<br />
vimos que tinha sido na outra torre do prédio e tivemos a certeza que não era um acidente.” (...)<br />
“Os apresentadores, no estúdio, recebem, sem parar, novas informações dos editores pelo ponto<br />
eletrônico. E são avisados: a imagem <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> explosão mostrava realmente o choque de outro<br />
avião na outra torre do World Trade Center. Por instantes, incrédulos, eles têm receio de confirmar<br />
no ar. ‘Eu achei que alguém tinha conseguido uma imagem do primeiro ataque, jamais passou pela<br />
minha cabeça que seria a imagem de um segundo avião’, lembra Leila (Steremberg). ‘Cheguei a<br />
pensar que era uma arte, mostrando como foi o primeiro ataque’, diz (Luis Ernesto) Lacombe”.<br />
(GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 266)<br />
55
(Luis Ernesto) Lacombe lembra que, no meio <strong>da</strong> transmissão, ele e Leila<br />
(Steremberg) receberam um alerta dos editores que coman<strong>da</strong>vam a transmissão.<br />
“O Dudu (Eduardo Marotta, editor-executivo) reclamou que nós estávamos<br />
narrando sem emoção e o Calil (Ricardo Calil, editor-chefe) entrou no estúdio com<br />
os seus quase 140 quilos num passo manso e começou a nos <strong>da</strong>r uma bronca,<br />
sem falar uma palavra sequer. Como estávamos no ar, ele batia no peito e fazia<br />
caretas. Foi uma espécie de bronca sem som, mas ele queria nos mostrar que<br />
precisávamos passar a emoção que estávamos sentido”. 26 (GLOBO NEWS: 10<br />
anos, 24 horas no ar, 2006, p. 265)<br />
A compreensão era traí<strong>da</strong> pela visão: visualizava-se o fato, mas não era<br />
possível compreendê-lo em sua totali<strong>da</strong>de. “Confio apenas naquilo que vejo” –<br />
esse saber popular foi colocado em xeque nos primeiros instantes <strong>da</strong> cobertura<br />
dos atentados de 11 de setembro de 2001. “Naquele momento, a ficção parecia<br />
ter se tornado reali<strong>da</strong>de” (GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 267).<br />
As imagens soma<strong>da</strong>s à corpulência do acontecido ceifavam qualquer reação<br />
instantânea mais apura<strong>da</strong> e correta como apontam as seguintes palavras:<br />
“A segun<strong>da</strong> torre caiu! Desabou! Fala, Lacombe! A segun<strong>da</strong> torre caiu!”, avisa<br />
Dudu pelo ponto eletrônico. Lacombe no estúdio, faz sinal negativo com o dedo<br />
indicador. De novo, a mesma sensação: as imagens não são replay do primeiro<br />
desabamento? Lacombe não está convencido de que a imagem é real. Somente<br />
depois de alguns segundos de hesitação Lacombe e Leila conseguem narrar a<br />
que<strong>da</strong> <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> torre. (GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 270)<br />
A Rede Globo de Televisão foi a primeira rede de TV aberta a entrar ao<br />
vivo. A banca<strong>da</strong> era coman<strong>da</strong><strong>da</strong> pelos então globais Carlos Nascimento e Ana<br />
Paula Padrão 27 . Tal como ocorrido na Globo News, o ruído no processo de<br />
comunicação norteou os primeiros instantes <strong>da</strong> cobertura como relatam Gomes e<br />
Miran<strong>da</strong> (2005)<br />
26 A postura de Eduardo Marotta e Ricardo Calil entra em conflito com as recomen<strong>da</strong>ções do vicepresidente<br />
<strong>da</strong>s Organizações Globo, João Roberto Marinho. Para João Roberto: “No jornalismo em<br />
tempo real, também se devem evitar a todo custo reações indigna<strong>da</strong>s, fruto de emoções do<br />
momento, uma saí<strong>da</strong> fácil para quem precisa ter o que dizer durante muitas horas, mas o que<br />
resulta quase sempre leviana. E com uma agravante: pode incitar quem está diante <strong>da</strong> tela a<br />
atitudes igualmente impensa<strong>da</strong>s. A função do jornalista não é expressar a sua indignação, mas tão<br />
somente informar”. (GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 08)<br />
27 À época o jornalista Carlos Nascimento (atualmente no SBT) era o apresentador do telejornal<br />
Hoje. Ele é quem inicia a cobertura dos atentados pela TV Globo. A jornalista Ana Paula Padrão<br />
(pertencente também ao quadro de jornalistas do SBT na atuali<strong>da</strong>de) ingressa na cobertura num<br />
segundo momento.<br />
56
O vôo 175 atinge a Torre Sul entre o 77º e 85º an<strong>da</strong>res. Milhões assistem à<br />
colisão pela TV. No Brasil, o jornalista Carlos Nascimento (...) coman<strong>da</strong> a<br />
transmissão ao vivo na tela <strong>da</strong> Globo. Ele lê trechos dos boletins <strong>da</strong>s agências<br />
internacionais de notícias, de olho nas imagens <strong>da</strong> CNN. “Parece que agora temos<br />
imagens <strong>da</strong> primeira colisão”, diz. Seguem-se alguns segundos de silêncio. “Não.<br />
É um segundo impacto. É um segundo avião”, conserta. “Pensei que fosse replay”,<br />
diz Nascimento. (GOMES & MIRANDA, 2005, p. 30-31)<br />
Fruto do imediatismo, <strong>da</strong> grandeza dos atentados e <strong>da</strong> ausência de<br />
informações mais consistentes, as incertezas também permearam o comando <strong>da</strong><br />
Central Globo de Jornalismo, como consta no depoimento abaixo.<br />
Já no primeiro momento, a equipe <strong>da</strong> Rede Globo se mobilizou para informar aos<br />
telespectadores tudo o que se passava. Ali Kamel lembra o episódio: “Quando<br />
cheguei à emissora, às 8h30 (sic), o (Carlos Henrique) Schoreder já estava na<br />
sala dele. Em frente à minha mesa, há cinco aparelhos de TV sintonizados em<br />
diferentes canais. Eu estava conversando com a minha mulher ao telefone, porque<br />
ela se esquecera de me lembrar de um compromisso assumido para aquela noite.<br />
De repente, vi na Globo News, às 9h48 (sic), uma imagem de um prédio que me<br />
parecia familiar pegando fogo. Desliguei rapi<strong>da</strong>mente o telefone, a tempo de ouvir<br />
que de fato se tratava mesmo de uma <strong>da</strong>s torres do World Trade Center. Um<br />
bimotor, por acidente, teria se chocado contra o prédio. Essa era a primeira<br />
versão. Corri para a sala do Schoreder, onde há 12 monitores de TV, e apontei<br />
para aquele com a torre em chamas. Eu era novo em televisão, estava ali desde<br />
de julho <strong>da</strong>quele ano. Nunca tinha visto uma cena como a que se seguiria.<br />
Schoreder deu um pulo ligou imediatamente para o Amauri Soares (durante as<br />
manhãs, depois do Bom Dia Brasil o comando operacional do Jornalismo fica em<br />
São Paulo, de onde é gerado o jornal Hoje): ‘Põe no ar o plantão, Amauri! O World<br />
Trade Center está pegando fogo! Põe no ar!’, dizia Schoreder”.<br />
A Rede Globo foi a primeira TV aberta brasileira a mostrar um flash do atentado<br />
terrorista nos EUA. Às 9h52 (sic) – apenas sete minutos após o choque do<br />
primeiro avião na Torre Norte – a emissora pôs no ar as primeiras imagens que<br />
chegavam <strong>da</strong> CNN, com narração de Carlos Nascimento. No início, todos<br />
achavam que se tratava de um acidente, e o primeiro plantão informou, apenas,<br />
que um avião se chocara com uma <strong>da</strong>s torres do WTC.<br />
Ali Kamel conta que Schoreder logo pediu para o Centro de Documentação <strong>da</strong> TV<br />
Globo auxiliar Carlos Nascimento com informações. Quatro minutos depois do<br />
início do plantão, no entanto, sem aviso prévio, a transmissão foi encerra<strong>da</strong>.<br />
Kamel lembra: “Schoreder ficou muito irritado. Telefonou novamente para São<br />
Paulo e disse ao Amauri: ‘Por que tirou do ar? Deixa no ar, Amauri, deixa no ar! É<br />
o World Trade Center! Nem se sabem ain<strong>da</strong> as causas do incêndio. Põe<br />
novamente o plantão no ar, imediatamente!”’ Às 10h02 (sic), a vinheta de plantão<br />
interrompeu novamente a programação e Carlos Nascimento continuou a<br />
narração.<br />
Para Kamel, recém chegado à televisão, o episódio foi um aprendizado: “Eu<br />
pensei com meus botões: se estivesse em São Paulo, talvez também tivesse<br />
tirado o plantão do ar depois de quatro minutos. Na minha cabeça, naquele<br />
57
momento, a notícia já tinha sido <strong>da</strong><strong>da</strong>. Mas eu estava completamente errado. Não<br />
fosse a irritação de Schoreder e a sua decisão de man<strong>da</strong>r <strong>voltar</strong> o plantão, a Globo<br />
deixaria de ter transmitido, ao vivo, o choque do segundo avião contra a outra<br />
torre”.<br />
Schoreder fala sobre os motivos que o levaram tomar (sic) aquela decisão:<br />
“Naquele instante, sequer sabíamos a causa do choque do avião na torre. As<br />
informações eram contraditórias, não havia nenhuma razão para sair do ar. Na<br />
hora, é tudo muito rápido, você decide tudo rapi<strong>da</strong>mente com os elementos que<br />
tem ao seu dispor. Uma coisa é certa: um incêndio como aquele não acontece<br />
todo o dia. Para mim não havia outra decisão senão manter o plantão”.<br />
(MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 337-338).<br />
O fluxo constante de mensagens é um fenômeno complexo, de difícil<br />
digestão. O bombardeio de imagens, não raramente, prejudica o raciocínio. As<br />
notícias são gera<strong>da</strong>s pelo signo <strong>da</strong> veloci<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> renovação constante de<br />
informações. A imagem cinética é conecta<strong>da</strong> ao componente passional que, neste<br />
caso em especial, transbor<strong>da</strong>m no texto televisivo. Em movimento, a imagem e os<br />
recursos <strong>da</strong> cinética produzem o efeito de reali<strong>da</strong>de, mimesis do mundo natural,<br />
conferindo ao produto final veraci<strong>da</strong>de, impacto e autentici<strong>da</strong>de. (Diniz, 2005a,<br />
2005b)<br />
Tais fatos edificam uma arapuca a respeito dos conteúdos recebidos: a<br />
produção brutal de informação na mídia televisiva gera uma tormenta à reflexão.<br />
Segundo Arbex Jr. (1999)<br />
A televisão não é como um livro, ou sequer como um jornal impresso, cuja leitura<br />
podemos interromper, refazer, submeter a reflexões demora<strong>da</strong>s. A dinâmica <strong>da</strong><br />
imagem solicita respostas imediatas de quem a ela está submetido. As reações<br />
são reflexas, rápi<strong>da</strong>s. Esse mecanismo é muito eficaz quando se trata de manter<br />
oculta a estrutura do texto ou concepção que está na base <strong>da</strong> disposição segundo<br />
a qual as imagens são apresenta<strong>da</strong>s. (ARBEX JR, 1999, p.13)<br />
Bernard Langlois citado por Ramonet (2001, p.102) confirma o paradoxo<br />
dizendo que “quanto mais se comunica, menos se informa, portanto mais se<br />
desinforma”.<br />
Segundo Diniz (2005a, p.77): “Como o discurso é produzido pelo<br />
enunciador (com enunciatário previsto), sua construção está condiciona<strong>da</strong> a to<strong>da</strong>s<br />
as interferências que atuam sobre ele”. Nos primeiros momentos apenas as<br />
imagens se manifestaram. O discurso jornalístico foi-se construindo aos poucos.<br />
58
Partiu-se de uma hipótese de acidente e chegou à categoria de ataque terrorista.<br />
Posteriormente, elevou-se à “guerra”, expressão utiliza<strong>da</strong> ain<strong>da</strong> de forma precária,<br />
porque não havia até então um inimigo claramente reconhecível 28 .<br />
Para Pena (2005)<br />
O século XXI foi inaugurado pelo jornalismo. Com <strong>da</strong>ta e local bem definidos:<br />
Nova York, 11 de setembro de 2001. Nas análises sobre os atentados, veículos de<br />
comunicação <strong>da</strong> mais varia<strong>da</strong> procedência foram unânimes em apontar o fato<br />
como marco oficial de um triste começo de século.<br />
(...)<br />
Não bastava atingir o símbolo do império capitalista, era preciso que o mundo<br />
fosse testemunha desse ato. E, assim, ele foi meticulosamente programado para<br />
que o segundo avião atingisse o alvo em um espaço de tempo suficiente para as<br />
câmeras de TV transmitirem ao vivo. O espetáculo do terror encontrou seu palco.<br />
(PENA, 2005, p. 10)<br />
Ressoando o bom senso cartesiano, não se trata aqui de criticar pura e<br />
simplesmente os meios de comunicação pela cobertura realiza<strong>da</strong> ao vivo nos<br />
ataques de 11 de setembro de 2001, jogando o pesado fardo <strong>da</strong> culpabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
cobertura midiática logo nos primeiros instantes de maneira panfletária. Afinal, a<br />
cobertura em tempo real poderia ter sido diferente? Claro que para muitos a<br />
resposta será positiva. Contudo, em acontecimentos históricos <strong>da</strong> envergadura<br />
dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a cobertura ao vivo pode se<br />
transformar em exemplo a ser discutido nos procedimentos jornalísticos quando<br />
de um acompanhamento em tempo real.<br />
Mesmo que nesse acontecimento a desinformação sobre o que acontecia<br />
naquela manhã de terça-feira nos Estados Unidos tenha prevalecido tanto nos<br />
primeiros momentos como em seus desdobramentos marcados pelo calor do<br />
instantâneo – compreensível pela amplitude <strong>da</strong>s ações –, a cobertura posterior<br />
encamparia pecados tão conhecidos e condenáveis no meio jornalístico, como<br />
veremos no item 2.4. Doutrina Bush, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque e o<br />
recrutamento <strong>da</strong> mídia e no capítulo quatro desta pesquisa.<br />
28 A emissora CNN, às 10h43min, coloca no ar uma tarja preta na parte inferior <strong>da</strong> tela como os<br />
dizeres: “America under attack” (América sob ataque). A CNN estampou esses caracteres quando<br />
surgem as imagens do prédio do Pentágono em chamas.<br />
59
O contrato de produção de sentidos e credibili<strong>da</strong>de é construído quando<br />
... a instância enunciadora tece o discurso informativo (fazer-saber), engendrando<br />
outros elementos, capazes de persuadir seu enunciatário, para predispô-lo a<br />
/fazer-crer/, levá-lo a ter certeza na veraci<strong>da</strong>de dos fatos. O crer conduz a um<br />
/fazer-fazer/, ou seja, o enunciatário introduzirá em seu próprio discurso as<br />
“ver<strong>da</strong>des” veicula<strong>da</strong>s pelo enunciador. Entretanto, o processo do crer é bem mais<br />
complexo, ao envolver elementos <strong>da</strong> dimensão pragmática, cognitiva e patêmica...<br />
(DINIZ, 2002)<br />
Criou-se um vácuo entre a imagem e as primeiras construções do discurso<br />
jornalístico. A produção dos sentidos foi emoldura<strong>da</strong>, sobretudo, pelas imagens <strong>da</strong><br />
torre norte em chamas e, posteriormente, a cena <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> aeronave colidindo<br />
com a torre sul do World Trade Center. Essa produção de sentidos é resultado <strong>da</strong>s<br />
novas tecnologias. Sem a técnica de transmissão em tempo real, possivelmente<br />
teríamos outros efeitos de percepção e de sentidos por parte <strong>da</strong> imprensa e,<br />
conseqüentemente, do enunciatário.<br />
Como citamos anteriormente, as recomen<strong>da</strong>ções do vice-presidente <strong>da</strong>s<br />
Organizações Globo, João Roberto Marinho, instruem que<br />
No jornalismo em tempo real, também se devem evitar a todo custo reações<br />
indigna<strong>da</strong>s, fruto de emoções do momento, uma saí<strong>da</strong> fácil para quem precisa ter<br />
o que dizer durante muitas horas, mas o que resulta quase sempre leviana.<br />
(GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar, 2006, p. 08)<br />
Hipótese delica<strong>da</strong> quando nos reportamos à concorrência entre emissoras<br />
pela informação imediata, pelo furo em busca <strong>da</strong> audiência.<br />
Não há mais distância entre o acontecimento e a informação. O sonho do ao vivo,<br />
que já se tornou reali<strong>da</strong>de, está virando pesadelo. Ain<strong>da</strong> mais porque o problema<br />
<strong>da</strong> concorrência leva ain<strong>da</strong> mais a encurtar o intervalo entre um acontecimento e<br />
informação. (...) Não é necessariamente com o nariz colado no acontecimento que<br />
se produz uma melhor informação. (WOLTON, 2003, p. 303)<br />
A cobertura inicial dos atentados contra os Estados Unidos endossa que a<br />
informação converte-se em um produto modelado ca<strong>da</strong> vez mais de impressões e<br />
sensações e que mesmos dotados de equipamentos ultramodernos, a<br />
compreensão dos fatos depende de análises que ultrapassem a “tirania do<br />
60
instante”. O “espetáculo” <strong>da</strong> imagem não deve ferir nosso bom senso e nem cegar<br />
nossa capaci<strong>da</strong>de reflexiva.<br />
Demonstrando o propósito de permitir a captação direta pelas câmeras de<br />
televisão dos atos terroristas e suas tenebrosas conseqüências, para que o mundo<br />
inteiro pudesse parar atônito para assisti-los, seus mentores e executores<br />
lograram pleno êxito em sua estratégia de obter a mais colossal repercussão<br />
midiática. Os arquitetos do terror deixavam seu rastro de sangue na história.<br />
2.4. Doutrina Bush, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque e o recrutamento<br />
<strong>da</strong> mídia<br />
A guerra é a continuação <strong>da</strong> política por outros meios.<br />
Carl Von Clausewitz<br />
Justificando o “combate ao terrorismo” em escala planetária, o governo<br />
estadunidense criou o programa denominado “A Estratégia de Segurança<br />
Nacional dos Estados Unidos”. O documento foi alcunhado de Doutrina Bush<br />
numa alusão ao presidente do país, George W. Bush. Por essa teoria os Estados<br />
Unidos justificariam suas ações contra países considerados hostis (os rogue<br />
states – “Estados vilões” – como os do “eixo do mal” integrados por Irã, Iraque e<br />
Coréia do Norte) 29 . A Doutrina Bush determina ain<strong>da</strong> o fortalecimento <strong>da</strong>s alianças<br />
com outros Estados para combater o “terrorismo mundial”, além de se assentar<br />
sobre o princípio de “guerra preventiva”. Também estabelece que os Estados<br />
Unidos não permitirão a ascensão de qualquer potência estrangeira que rivalize<br />
com a enorme dianteira militar dos estadunidenses alcança<strong>da</strong> desde o fim <strong>da</strong><br />
Guerra Fria 30 . Além <strong>da</strong> consoli<strong>da</strong>ção dos Estados Unidos como superpotência<br />
global, a Doutrina Bush procura defender os interesses econômicos do país e<br />
ampliar sua esfera geopolítica no planeta. Muitos desses interesses estão<br />
associados à garantia do fornecimento de petróleo. Os pilares dessa doutrina<br />
29 Posteriormente, Cuba, Líbia, Síria e Palestina foram incluídos neste grupo de países hostis.<br />
30 A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico-militar que dividiu o mundo em duas áreas de<br />
influência: a capitalista (lidera<strong>da</strong> pelos Estados Unidos) e a socialista (capitanea<strong>da</strong> pela União<br />
Soviética). Com a que<strong>da</strong> do Muro de Berlim em 1989 e o fim <strong>da</strong> União Soviética em 1991, essa<br />
página <strong>da</strong> história chegava ao fim.<br />
61
foram construídos em meio à atmosfera de pânico e incertezas constituí<strong>da</strong> após<br />
os atentados terroristas. O presidente Bush deixava um aviso intimi<strong>da</strong>dor: “Ca<strong>da</strong><br />
país, em ca<strong>da</strong> região, precisa decidir: ou está conosco, ou com os terroristas”. A<br />
“guerra ao terror” era eleva<strong>da</strong> ao topo <strong>da</strong>s políticas de segurança no cenário<br />
internacional 31 , desenhava-se um programa para anos, talvez déca<strong>da</strong>s, que<br />
reuniria componentes para uma nova fase <strong>da</strong> geopolítica mundial.<br />
A comunicação, segundo o cientista político estadunidense Karl Deutsch,<br />
são “os nervos do governo”, especialmente em grandes Estados e acima de tudo<br />
em extensos impérios. (Briggs & Burke, 2006). Nesse cenário bélico almejado<br />
pelos artífices <strong>da</strong> Casa Branca, a mídia seria recruta<strong>da</strong> para alimentar o imaginário<br />
<strong>da</strong> opinião pública com informações planta<strong>da</strong>s estrategicamente para justificar os<br />
atos de guerra direcionados pelo governo.<br />
... setores do Congresso queriam que Bush avançasse mais nessa área e<br />
sugeriam que ele reunisse os maiores especialistas em relações públicas e<br />
publici<strong>da</strong>de do país, além de roteiristas e diretores de Hollywood, para desenvolver<br />
“uma campanha adicional de marketing”.<br />
O apelo foi mais do que ouvido. No dia 11 de novembro (2001) um grupo de altos<br />
executivos de Hollywood encontrou-se num hotel de Beverly Hills com um<br />
assessor de Bush, Karl Rove. Este pediu que Hollywood participasse do esforço<br />
de guerra, que consistiria em três frentes: divulgação do conceito de “guerra ao<br />
terrorismo” nos Estados Unidos e no mundo, apoio às tropas mobiliza<strong>da</strong>s e<br />
manutenção do moral público americano. De acordo com o relato <strong>da</strong><br />
correspondente de O Globo, Ana Maria Bahiana, todos responderam com um<br />
entusiasmado “sim”.<br />
Mas somente três meses depois ficou conheci<strong>da</strong> a real extensão <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des<br />
dos Centros de Influência Estratégica. O New York Times publicou reportagem<br />
revelando que o Pentágono “cogita” a divulgação de informações falsas para<br />
influenciar a opinião pública internacional. Entre as propostas estaria a de “plantar”<br />
informações falsas nas agências de notícias estrangeiras por meio de pessoas<br />
31 A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no dia seguinte aos atos terroristas, pela<br />
primeira vez em seus cinqüenta e dois anos, invocou o artigo 5º de seu estatuto que reza: “As<br />
Partes concor<strong>da</strong>m em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na<br />
América do Norte será considerado um ataque a to<strong>da</strong>s, e, conseqüentemente, concor<strong>da</strong>m em que,<br />
se tal ataque armado se verificar, ca<strong>da</strong> uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual<br />
ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51º <strong>da</strong> Carta <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s, prestará assistência à Parte<br />
ou Partes assim ataca<strong>da</strong>s, praticando sem demora, individualmente e de acordo com as restantes<br />
Partes, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego <strong>da</strong> força arma<strong>da</strong>, para restaurar e<br />
garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Qualquer ataque armado desta natureza e to<strong>da</strong>s<br />
as providências toma<strong>da</strong>s em conseqüência desse ataque são imediatamente comunicados ao<br />
Conselho de Segurança. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver<br />
tomado as medi<strong>da</strong>s necessárias para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais”.<br />
Fonte: http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm<br />
62
ser<br />
que não tenham laços óbvios com o Pentágono. Outra proposta envolvia o envio<br />
de e-mails para jornalistas, líderes civis e estrangeiros para promover a visão<br />
americana ou ataques a governos inimigos. Os autores dessas mensagens não<br />
seriam militares americanos, mas pessoas e empresas supostamente desliga<strong>da</strong>s<br />
do governo dos Estados Unidos. (DORNELES, 2003, p. 24-25)<br />
Contribuindo ao debate, Castells (2001) explica que a guerra ao terror pode<br />
...defini<strong>da</strong> em termos mais precisos: é a guerra <strong>da</strong>s redes fun<strong>da</strong>mentalistas<br />
islâmicas contra as instituições políticas e econômicas dos países ricos e<br />
poderosos, em particular dos Estados Unidos, mas também <strong>da</strong> Europa Ocidental –<br />
países estreitamente vinculados em sua economia, em suas formas de<br />
democracia e sua aliança militar.<br />
Na raiz dessa guerra, existe uma rejeição <strong>da</strong> marginalização dos muçulmanos e<br />
uma afirmação <strong>da</strong> supremacia dos princípios religiosos do Islamismo como<br />
sustentáculo <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de (se bem que em interpretação se choca com os<br />
ensinamentos do Alcorão). (CASTELLS, 2001, p. 08)<br />
O Afeganistão foi a primeira vítima do desígnio militar <strong>da</strong> nova doutrina. Os<br />
alvos eram as instalações do Talebã (Discípulos, em árabe), que dominavam 90%<br />
do país. O ataque começou às 13h30min do dia 7 de outubro de 2001. Dois<br />
meses depois, com a que<strong>da</strong> <strong>da</strong>s últimas resistências na ci<strong>da</strong>de de Quan<strong>da</strong>har, o<br />
Talebã foi <strong>da</strong>do como vencido.<br />
A que<strong>da</strong> <strong>da</strong> milícia afegã foi comemora<strong>da</strong> pelo grupo de países aliados e<br />
amplamente divulga<strong>da</strong>. Depois disso, as notícias sobre o país tornaram-se mais<br />
rarefeitas. Mas os problemas ain<strong>da</strong> existem. Não desapareceram nem diminuíram<br />
como as notícias, apenas foram simplificados, relegados ao segundo plano. E<br />
acontecimentos quando são reduzidos e analisados fora do contexto geram<br />
dúvi<strong>da</strong>s e levam à tortuosa sen<strong>da</strong> <strong>da</strong> desinformação.<br />
63
O exemplo mais claro de como a simplificação <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de local pelo jornalismo<br />
impede sua compreensão é a burca (roupa que cobre o todo corpo), que muitas<br />
mulheres islâmicas são obriga<strong>da</strong>s a usar. O noticiário internacional levou a crer<br />
que foi o Talebã que impôs o uso <strong>da</strong> vestimenta às mulheres afegãs. Em ver<strong>da</strong>de,<br />
ele impôs seu uso a to<strong>da</strong>s as mulheres (inclusive às habitantes de regiões<br />
urbanas, como Cabul) quando ela já era peça de uso corrente em diversas regiões<br />
do país. Por isso, para surpresa de muitos leitores, quando os adversários do<br />
Talebã conquistaram o poder em diversas ci<strong>da</strong>des, muitas mulheres continuaram<br />
usando a burca, como faziam suas mães e avós, e talvez façam suas filhas e<br />
netas, já que esse é um hábito integrante <strong>da</strong> cultura de muitos grupos<br />
muçulmanos. (SERVA, 2001, p. 142)<br />
A situação política do Afeganistão permanece instável. O presidente Hamid<br />
Karzai, conduzido ao poder pelos Estados Unidos para chefiar o período de<br />
transição, tem poder limitado. Apesar <strong>da</strong>s promessas estadunidenses de levar<br />
estabili<strong>da</strong>de e democracia ao país, as rivali<strong>da</strong>des entre os grupos étnicos que<br />
compõem a população ain<strong>da</strong> o dividem em numerosos bolsões, dominados por<br />
chefes de milícias locais e grupos armados. Forças <strong>da</strong> OTAN envolveram-se em<br />
encarniçados combates com guerrilheiros do Talebã. Também têm ocorrido<br />
atentados terroristas em Cabul, a capital afegã - o que até pouco não acontecia.<br />
Em 2006, ocorreram mais ataques contra as forças <strong>da</strong> OTAN do que em qualquer<br />
outro período desde que os Estados Unidos invadiram o país em 2001 32 . Hamid<br />
Karzai governa um país miserável, que reassumiu a posição de maior produtor<br />
mundial de heroína. Os índices de mortali<strong>da</strong>de infantil, desnutrição, analfabetismo<br />
entre outros indicadores sociais continuam entre os piores do mundo. A<br />
instabili<strong>da</strong>de política afegã, agrava<strong>da</strong> depois <strong>da</strong> guerra, inviabiliza qualquer<br />
previsão mais otimista.<br />
Destino semelhante é compartilhado pelo segundo alvo <strong>da</strong> Doutrina Bush: o<br />
Iraque, país também localizado no Oriente Médio. A invasão ocorreu às 5h33min<br />
<strong>da</strong> manhã de 20 de março de 2003, origina<strong>da</strong> pela suspeita dos Estados Unidos e<br />
Reino Unido de que o ditador Sad<strong>da</strong>m Hussein ocultava armas de destruição em<br />
32 Em reunião de cúpula realiza<strong>da</strong> em novembro de 2006 na ci<strong>da</strong>de de Riga (Letônia), os Estados<br />
Unidos pressionaram vinte e cinco governantes de países filiados à OTAN a reforçarem ou<br />
iniciarem suas presenças no Afeganistão. Os países em que os Estados Unidos mais<br />
concentraram seus esforços para que seus contingentes sejam deslocados para o sul do território<br />
afegão, onde são mais freqüentes e sangrentos os confrontos com o Talebã, foram Alemanha,<br />
Espanha, Itália e França. Trata-se de uma tentativa de remen<strong>da</strong>r o rasgo político oriundo <strong>da</strong><br />
ocupação ao Afeganistão.<br />
64
massa em território iraquiano. Porém, tratava-se <strong>da</strong> expansão <strong>da</strong> Doutrina Bush<br />
no “combate ao terror” e controle estratégico no Oriente Médio 33 . A invasão ao<br />
Iraque, a primeira sob o título de “guerra preventiva”, teve forte resistência <strong>da</strong><br />
comuni<strong>da</strong>de internacional, particularmente <strong>da</strong> Alemanha e França. Os Estados<br />
Unidos e o Reino Unido pressionaram a ONU (Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s) a<br />
aprovar o uso <strong>da</strong> força para desarmar o Iraque. Como não alcançaram êxito na<br />
negociação, decidiram pelo ataque unilateral, sem o respaldo <strong>da</strong> ONU.<br />
Com to<strong>da</strong>s estas pautas em jogo, uma guerra contra o Iraque parecia inevitável. A<br />
coletiva de imprensa de Bush em 6 de março de 2003 tornou evidente que ele<br />
estava pronto para ir à guerra contra o Iraque. Seus assessores orientaram-no a<br />
falar pausa<strong>da</strong>mente e tirar <strong>da</strong> visão pública seu aspecto de machão do Texas, mas<br />
ele constantemente ameaçava o Iraque e evocava a retórica do bem e do mal que<br />
utilizou para justificar sua cruza<strong>da</strong> contra Bin Laden e Al Qae<strong>da</strong>. Bush repetia as<br />
palavras “Sad<strong>da</strong>m Hussein” e “terrorismo” incessantemente, e mencionou o Iraque<br />
como uma “ameaça” pelo menos dezesseis vezes, tentando relacioná-lo com os<br />
ataques de 11 de setembro e o terrorismo. Usou a palavra “eu”, como, por<br />
exemplo, em “eu acredito”, incontáveis vezes, e falava de “meu governo” como se<br />
ele o possuísse, mostrando um homem perdido nas palavras e na autoimportância,<br />
posicionando-se contra o “mal” contra o qual estava se preparando<br />
para travar uma guerra. Incapaz de produzir uma justificativa inteligente e objetiva<br />
para uma guerra contra o Iraque, Bush somente podia invocar o medo e uma<br />
retórica moralista, tentando apresentar-se como um forte líder nacionalista. A<br />
retórica de Bush, como a do fascismo, combina uma estratégia de desconfiança e<br />
ódio na linguagem, reduzindo-a a um discurso manipulador, falando em códigos,<br />
repetindo as mesmas expressões várias vezes. Isto é baseado num<br />
antiintelectualismo e ódio à democracia e aos intelectuais.<br />
(...)<br />
Apresentou to<strong>da</strong> a pobreza de argumentação para justificar a guerra contra o<br />
Iraque, pois não possuía argumentos convincentes, na<strong>da</strong> de novo para comunicar:<br />
simplesmente repetia os mesmos clichês cansativos. (KELLNER, 2004b, p.66)<br />
Assim, os Estados Unidos fizeram valer o dispositivo <strong>da</strong> Doutrina Bush que<br />
diz que o país não hesitará em agir sozinho, se preciso for, para fazer uso do<br />
direito de autodefesa, de maneira preventiva e antecipa<strong>da</strong> 34 . Em apenas um mês<br />
derrubaram o regime de Sad<strong>da</strong>m Hussein, que depois de fugir foi capturado,<br />
33 Mesmo após a invasão não se comprovou a suspeita de que o Iraque possuía de fato armas de<br />
destruição em massa. Estados Unidos e Reino Unido foram acusados de falsificarem documentos<br />
para legitimar a invasão e desarmamento do país.<br />
34 Em discurso proferido em 2004, o governador <strong>da</strong> Califórnia, Arnold Schwarzenegger, disse que<br />
não caberia à ONU e sim aos Estados Unidos a missão de libertar o mundo do terrorismo.<br />
65
preso, condenado à morte, sendo enforcado em 30 de dezembro de 2006 por<br />
seus crimes contra a humani<strong>da</strong>de.<br />
Pena (2005) atenta que<br />
... não foram só os terroristas que usaram a imprensa. Dois anos depois, a<br />
vergonhosa cobertura <strong>da</strong> mídia americana na Guerra do Iraque mostrou a que<br />
nível pode chegar a manipulação <strong>da</strong> informação pelos governos constituídos.<br />
Escal<strong>da</strong><strong>da</strong> pela Guerra do Vietnã, quando corajosas reportagens e imagens<br />
aterrorizantes mu<strong>da</strong>ram a opinião do país e forçaram a retira<strong>da</strong> <strong>da</strong>s tropas do Tio<br />
Sam, a administração Bush inventou a mais ultrajante forma de cobertura <strong>da</strong><br />
história <strong>da</strong> imprensa: os famosos repórteres embedded 35 . Ou seja, jornalistas que<br />
viajavam nos tanques do exército americano e, obviamente, só reportavam o que<br />
interessava aos coman<strong>da</strong>ntes guar<strong>da</strong>-costas 36 . (PENA, 2005, p. 10-11)<br />
Retratando o papel de parte <strong>da</strong> mídia no acompanhamento <strong>da</strong> invasão ao<br />
país 37 , Arbex Jr. (2003) e Kellner (2004b) suscitam provocação ao afirmarem que<br />
A cobertura <strong>da</strong> invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em março de 2003,<br />
equivoca<strong>da</strong>mente qualifica<strong>da</strong> como “guerra” pela mídia – uma guerra pressupõe<br />
certa equivalência de poder destrutivo entre as forças em luta –, introduziu<br />
algumas novi<strong>da</strong>des no campo do jornalismo. Uma delas foi a figura do jornalista<br />
embedded, ou “acamado”, em tradução livre do inglês. O jornalista embedded é<br />
aquele que aceitou se submeter a uma série de cinqüenta normas estabeleci<strong>da</strong>s<br />
pelo Exército dos Estados Unidos, como condição para acompanhar as tropas. As<br />
normas previam, entre outras coisas, que ele não poderia reportar na<strong>da</strong> que não<br />
fosse aprovado pelos chefes do seu regimento, o mesmo valendo para as<br />
transmissões de imagens. Tampouco poderia se deslocar para áreas<br />
considera<strong>da</strong>s perigosas. Em resumo, não teria a menor independência, nem<br />
sequer observar os fatos.<br />
35 O jornalista inglês Stephen Cviic define o termo embedded como “incorporado”. Contudo, sem<br />
nos prendermos tanto a tradução utiliza<strong>da</strong>, o importante é destacar que termo designa o jornalista<br />
que acompanhou as tropas militares e assim, teve sua dependência atrela<strong>da</strong> ao comando do<br />
exército.<br />
36 Segundo Kellner (2004b, p.67): “Desde o início, ficou claro que os repórteres comprometidos<br />
com sua emissora estavam de fato ‘dormindo na mesma cama’ de suas escoltas militares e,<br />
enquanto os Estados Unidos e a Inglaterra bombardeavam o Iraque, eles apresentavam relatos<br />
exultantes e triunfantes que superavam qualquer propagandista pago. Os repórteres<br />
comprometidos com as redes televisivas americanas eram entusiasmados líderes de torci<strong>da</strong> e<br />
apoiavam o ponto de vista dos militares norte-americanos e britânicos, perdendo qualquer verniz<br />
de objetivi<strong>da</strong>de”.<br />
37 É importante ressaltar que uma <strong>da</strong>s conclusões mais polêmicas registra<strong>da</strong>s em estudo <strong>da</strong><br />
Universi<strong>da</strong>de de Colúmbia em relação à Guerra do Iraque mostra que na avaliação dos<br />
pesquisadores, os noticiários dos Estados Unidos não fizeram uma cobertura tão negativa do<br />
conflito. Ou seja, não foram tão contra a guerra, ou antipatrióticos, como alguns críticos do país<br />
fizeram questão de denunciar. Essa conclusão pode surpreender os observadores, mas,<br />
certamente, não surpreende os estrangeiros. (Brasil, 2007)<br />
66
(...)<br />
A garantia de que os correspondentes fariam cobertura “adequa<strong>da</strong>” foi<br />
providencia<strong>da</strong> pelos executivos <strong>da</strong>s grandes corporações <strong>da</strong> mídia dos Estados<br />
Unidos. A CNN criou um sistema de script approval (aprovação do original) que<br />
obriga os seus repórteres a enviarem todos os seus textos a responsáveis em<br />
Atlanta (sede <strong>da</strong> emissora), antes de serem transmitidos ao mundo. A nova<br />
política <strong>da</strong> CNN foi sintetiza<strong>da</strong> no documento Memorando <strong>da</strong> Política de<br />
Aprovação do Original (Reminder of Script Approval Policy), divulgado em 27 de<br />
janeiro: “Todos os repórteres devem submeter seus originais à aprovação. Os<br />
textos não podem ser editados até que os originais tenham sido aprovados...<br />
Todos os textos originados fora de Washington, Los Angeles ou Nova York,<br />
incluindo to<strong>da</strong>s as re<strong>da</strong>ções internacionais, devem ser encaminhados a Atlanta<br />
para aprovação”. (ARBEX JR., 2003b, p. 09-14)<br />
Os coman<strong>da</strong>ntes militares dos Estados Unidos afirmaram que na incursão inicial<br />
em Bagdá, de 2.000 a 3.000 iraquianos foram mortos, sugerindo que as redes de<br />
transmissão realmente não mostravam a brutali<strong>da</strong>de e a carnificina <strong>da</strong> guerra. Na<br />
ver<strong>da</strong>de, a maior parte do bombardeio <strong>da</strong>s forças militares iraquianas era invisível<br />
e raramente se mostrava os iraquianos mortos. Um repórter comprometido <strong>da</strong><br />
CNN, Walter Rogers, mais tarde relatou que a única vez que sua reportagem<br />
mostrou um iraquiano morto, o painel de comando <strong>da</strong> CNN “acendeu como uma<br />
árvore de natal”, com espectadores furiosos exigindo que a CNN não mostrasse<br />
nenhum morto, como se o público telespectador dos Estados Unidos quisesse<br />
negar a existência dos custos humanos dessa guerra. (KELLNER, 2004b, p.69)<br />
Cviic (2003, p.17) acompanha os raciocínios de Pena, Arbex Jr. e Kellner<br />
complementando que “o recente conflito no Iraque vem demonstrar mais uma vez<br />
que a guerra é a época mais problemática para a objetivi<strong>da</strong>de jornalística” 38 .<br />
Mas não foi apenas na invasão ao Iraque que a censura se manifestou, ela<br />
também foi recruta<strong>da</strong> para a missão contra o Afeganistão. Os jornalistas padeciam<br />
<strong>da</strong> “Síndrome de Marriot” conforme detalha Dorneles (2003) sobre as barreiras<br />
impostas aos jornalistas.<br />
38 Para Kellner (2004, p. 70): “Em geral, as redes de TV americanas tenderam a apresentar uma<br />
visão filtra<strong>da</strong> <strong>da</strong> guerra, enquanto as canadenses, britânicas e outras européias e árabes<br />
apresentaram imagens de baixas de civis e os horrores <strong>da</strong> guerra. A cobertura americana foi<br />
direciona<strong>da</strong> para o patriotismo pró-militar, propagan<strong>da</strong> política e fetichismo tecnológico,<br />
destacando as conquistas e o heroísmo <strong>da</strong>s tropas. Outras redes mundiais, entretanto, criticaram<br />
os exércitos britânico e americano e com freqüência apresentaram espetáculos altamente<br />
negativos dos ataques contra o Iraque, e o choque e a dor do massacre de alta tecnologia”.<br />
67
É natural que a cobertura <strong>da</strong> guerra tenha ganhado um apelido sugestivo, <strong>da</strong>do<br />
pelos próprios jornalistas que estavam na frente de batalha: “Síndrome de Marriot”,<br />
nome do hotel que hospe<strong>da</strong>va a imprensa em Islamabad, capital do Paquistão, e<br />
de onde os jornalistas só saíam para trabalhar em áreas previamente autoriza<strong>da</strong>s<br />
pelos militares americanos – tinham permissão apenas para ir aos porta-aviões,<br />
para ver aviões decolando e pousando. Fotos e textos produzidos dentro dos<br />
navios foram censurados pelos militares, o que a imprensa americana chamou de<br />
“revisão”. Só então podiam ser enviados aos Estados Unidos. (DORNELES, 2003,<br />
p. 23)<br />
Contornar a liber<strong>da</strong>de por medo <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de e espetacularização de<br />
conflitos não é novi<strong>da</strong>de em guerras.<br />
A partir <strong>da</strong> Guerra do Golfo, a mídia internacional tende a se subordinar ca<strong>da</strong> vez<br />
mais a desígnios políticos e comerciais. A hora de um bombardeio pode ser<br />
retar<strong>da</strong><strong>da</strong> para coincidir com o telejornal <strong>da</strong>s oito. (STEINBERGER, 2005, p. 212)<br />
As táticas <strong>da</strong> desinformação e manipulação <strong>da</strong> informação orquestra<strong>da</strong>s<br />
pelos Estados Unidos já tinham sido aplica<strong>da</strong>s no primeiro conflito com o Iraque<br />
(1990/1991). A mídia enquadrou essa guerra como uma narrativa emocionante,<br />
uma minissérie noturna, com conflito dramático, ação e aventura, perigo para as<br />
tropas alia<strong>da</strong>s e para os civis, mal<strong>da</strong>de perpetra<strong>da</strong> pelos vilões iraquianos e ações<br />
heróicas cometi<strong>da</strong>s pelos estrategistas estadunidenses, por sua tecnologia e suas<br />
tropas. Em certo sentido, a primeira guerra deflagra<strong>da</strong> contra o Iraque foi um<br />
evento cultural e político, além de militar. (Kellner, 2001).<br />
Nesse conflito, vendeu-se o conceito de uma “guerra sem sangue” 39 . As<br />
imagens transmiti<strong>da</strong>s eram filtra<strong>da</strong>s. A grande mídia dos Estados Unidos alia<strong>da</strong> as<br />
de outros países se transformaram em veículos obedientes <strong>da</strong> estratégia<br />
governamental com a manipulação <strong>da</strong> notícia, obscurecendo a opinião pública.<br />
39 Contundente em seus comentários, Jean Baudrillard chegou a afirmar que a “a Guerra do Golfo<br />
não existiu”. O saudoso sociólogo francês procurou diagnosticar o caráter cirúrgico de uma guerra<br />
virtual. Para Baudrillard, o inimigo não era mais do que um número no computador. Para o<br />
jornalista José Arbex Jr. (2003b, p.12): “No caso <strong>da</strong> ‘guerra sem sangue’, apenas a cegueira<br />
produzi<strong>da</strong> pelo preconceito, pelo ódio e pelo fanatismo religioso permite explicar que a opinião<br />
pública ocidental tenha acreditado na fábula absur<strong>da</strong>. Foi, de fato, insignificante o número de<br />
vítimas estadunidenses (menos de trinta, e todos militares): os ‘exóticos’ árabes não atingiram<br />
ain<strong>da</strong>, plenamente, o estatuto do humano, se é que algum dia chegarão lá, e por isso suas mortes<br />
não produziram impactos”.<br />
68
Mas o grande fracasso moral na Guerra do Golfo não foi nossa aju<strong>da</strong> tardia aos<br />
curdos e xiitas. Foi a recusa do Ocidente em reconhecer, ou até mesmo discutir,<br />
não a morte acidental de civis, mas até mesmo os 100 mil mortos entre os<br />
perfeitamente válidos alvos militares iraquianos. Katherine Boo, do The<br />
Washington Monthly, notou que, durante a guerra, a mídia americana criou<br />
grandes tabelas de per<strong>da</strong>s, que listavam numa coluna quantos sol<strong>da</strong>dos<br />
americanos haviam morrido e, em outra coluna, quantos tanques, blin<strong>da</strong>dos e<br />
aviões do Iraque haviam sido abatidos. Não se fazia menção a mortes entre<br />
iraquianos, como se o objetivo do exercício fosse destruir maquinaria sem afetar<br />
seres humanos. A famosa declaração de Powell sobre o Exército iraquiano –<br />
“vamos destroçá-lo e depois aniquilá-lo” – cortou claramente qualquer<br />
consideração em relação à condição humana do inimigo. Dúzias de vídeos foram<br />
divulga<strong>da</strong>s pelo Pentágono mostrando bombas inteligentes atingindo alvos<br />
inanimados, como plataformas de mísseis; mas, com certeza, nunca foi divulga<strong>da</strong><br />
nenhuma imagem de batalha envolvendo seres humanos. Os censores<br />
enlouqueceram quando um coman<strong>da</strong>nte de campo permitiu que jornalistas vissem<br />
um vídeo com imagens transmiti<strong>da</strong>s pela câmera de um míssil que atingiu um<br />
batalhão iraquiano. No tape adolescentes aterrorizados correm caoticamente, em<br />
to<strong>da</strong>s as direções, enquanto tiros de canhão vindo de helicópteros que eles não<br />
podem ver cortam seus corpos em pe<strong>da</strong>ços. O vídeo foi rapi<strong>da</strong>mente tirado de<br />
circulação. Quando perguntei a razão a um oficial do Pentágono, ele respondeu:<br />
“Se permitirmos que as pessoas vejam este tipo de coisa, nunca haverá outra<br />
guerra”. (EASTERBROOK apud ARBEX JR., 1999, p. 63)<br />
O aforismo do ex-senador estadunidense Hiram Johnson que sentencia: “A<br />
primeira vítima quando começa a guerra é sempre a ver<strong>da</strong>de”, revela o campo<br />
minado tateado pelo jornalismo em tempos de ações militares. Endossando esse<br />
pensamento Steinberger (2005) afirma que<br />
A censura alcança seu mais alto grau de perfeição e invisibili<strong>da</strong>de quando ca<strong>da</strong><br />
agente não tem mais na<strong>da</strong> a dizer além <strong>da</strong>quilo que está objetivamente autorizado<br />
a dizer. A estrutura do campo impõe formas de percepção e interiorização <strong>da</strong>s<br />
associações expressão-conteúdo para todos os enunciados. A censura determina,<br />
também, a forma de recepção, sintaxe, léxico, referências pelas quais um tipo de<br />
discurso será reconhecido com base na forma que ostenta. São estratégias de<br />
formulação que quanto mais perfeitas, melhor as obras imporão suas próprias<br />
normas de percepção. Há uma violência simbólica que é suporta<strong>da</strong> desde que<br />
permaneça desconheci<strong>da</strong> do receptor, isto é, reconheci<strong>da</strong> como legítima.<br />
(STEINBERGER, 2005, p. 160)<br />
69
O ca<strong>da</strong>falso <strong>da</strong> censura é por si só a evidência de uma guerra de discursos<br />
e nítido controle <strong>da</strong> imprensa 40 . A trilha de espinhos segui<strong>da</strong> pela mídia<br />
estadunidense em tempos de Doutrina Bush foi objeto de denúncia e reflexão por<br />
parte dos próprios jornalistas como comentam Neto (2002), Carlos (2004) e<br />
Dorneles (2003).<br />
Surgiu nos Estados Unidos um novo jornalismo, mais patriótico e mais submisso<br />
às vontades do governo. (...) Juntamente com o novo terrorismo surgiu um novo<br />
jornalismo. Conhecendo a voraci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> mídia americana e seu fascínio por<br />
imagens de tragédias, o marketing do terror apostou na força de suas imagens e<br />
saiu vitorioso. (NETO, 2002, p. 109)<br />
... estudo do centro de pesquisas Pew, dos Estados Unidos, constatou que 51%<br />
dos profissionais <strong>da</strong> informação acham que sua profissão “evolui em má direção”.<br />
Os escân<strong>da</strong>los com jornalistas do New York Times e do USA To<strong>da</strong>y falsificando<br />
reportagens e as “dificul<strong>da</strong>des” <strong>da</strong> mídia em criticar o governo Bush depois dos<br />
atentados de 2001 provocaram “mal estar” entre jornalistas americanos.<br />
(CARLOS, 2004, p.09)<br />
No fim de 2001, no seu relatório anual, a organização Repórteres Sem Fronteiras<br />
incluiu os Estados Unidos como um dos países que prejudicam a liber<strong>da</strong>de de<br />
imprensa: “Desde o 11 de setembro se constata que a liber<strong>da</strong>de de imprensa está<br />
em perigo dentro dos Estados Unidos devido à censura oficial de imagens e<br />
opiniões e à autocensura motiva<strong>da</strong> pelo patriotismo. Os Estados Unidos<br />
consideram que estão numa guerra declara<strong>da</strong> e que os jornalistas devem se<br />
converter em patriotas”. (DORNELLES, 2003, p. 26)<br />
Nas ações contra Afeganistão e Iraque a guerra de discursos foi<br />
intensifica<strong>da</strong>; principalmente porque a CNN tinha uma concorrente no mundo<br />
árabe: a rede de TV Al Jazeera (A Ilha, em árabe). Conheci<strong>da</strong> como a “CNN<br />
árabe”, a emissora tem sua sede em Doha (Catar) sendo o primeiro canal de<br />
jornalismo 24 horas no Oriente Médio.<br />
Adotando o lema “al ra’î wal ra’î al’âkhar” (um ponto de vista e o outro), ela abre<br />
espaço aos opositores de todos os regimes árabes... com exceção notável do<br />
próprio Catar, cujo emir (xeque Hamad) é o dono do canal. (RAYES, 2003, p. 25)<br />
40 Para Robert Fisk, repórter do diário The Independent: “O jornalismo está ca<strong>da</strong> vez mais covarde<br />
depois do 11 de Setembro”. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo (26/12/05), o jornalista e<br />
escritor Gay Talese afirma que o governo de George W. Bush “anestesiou a imprensa” e o jornal<br />
New York Times “enamorou-se com o poder”.<br />
70
O regime Talebã, em 1999, autorizou a emissora a instalar uma sucursal na<br />
capital afegã, Cabul. A rede árabe trazia um ponto de vista diferenciado <strong>da</strong>s<br />
demais agências internacionais de notícias. A Al Jazeera divulgava mensagens de<br />
Osama bin Laden ao povo árabe e também transmitiu as imagens ao vivo dos<br />
bombardeios dos Estados Unidos ao Afeganistão e posterior ataque ao Iraque.<br />
Durante a cobertura <strong>da</strong> invasão ao Iraque, a Al Jazeera sofreu retaliações por<br />
permitir a exibição de imagens de sol<strong>da</strong>dos estadunidenses capturados por<br />
iraquianos. A emissora foi acusa<strong>da</strong> de violar a Convenção de Genebra. Contudo,<br />
muito pouco se falou quando as emissoras ocidentais mostraram as imagens de<br />
iraquianos detidos pelas tropas invasoras. Ou seja, a invocação <strong>da</strong> Convenção de<br />
Genebra só é váli<strong>da</strong> para um dos lados? A Al Jazeera também teve sua re<strong>da</strong>ção<br />
no Iraque bombardea<strong>da</strong> pela coalização anglo-americana, fato que para muitos<br />
não foi apenas um erro militar, e, sim, uma ação intimi<strong>da</strong>dora contra a emissora.<br />
Porém, a Al Jazeera também sofreu críticas de parciali<strong>da</strong>de. Para<br />
especialistas, assim como sua principal concorrente ocidental, a CNN, a rede<br />
árabe mostrava o que lhe era de interesse: imagens e opiniões contrárias aos<br />
Estados Unidos. Condoleezza Rice, na época assessora de Segurança Nacional,<br />
recomen<strong>da</strong>va bom senso na exibição de imagens <strong>da</strong> Al Jazeera, pois temia que as<br />
mensagens proclama<strong>da</strong>s por Osama bin Laden tivessem códigos para os<br />
seguidores <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong> dispersos pelo mundo.<br />
Nos EUA traumatizados pelo terrorismo, algumas decisões editoriais <strong>da</strong> emissora<br />
eram de fato inconcebíveis: além de <strong>da</strong>r voz a Osama bin Laden, a rede tratava<br />
por “mártires” os homens-bomba palestinos e outros suici<strong>da</strong>s do islã. A explicação<br />
oficial era a de que esses homens tinham <strong>da</strong>do a vi<strong>da</strong> por uma causa.<br />
Contribuiu ain<strong>da</strong> para chocar a opinião pública ocidental o uso de imagens que<br />
exploravam e emoção do telespectador ao exibir o drama dos alvos civis<br />
muçulmanos – algo que não era visto nos canais americanos e europeus.<br />
(SANCHEZ, 2007, p.77)<br />
Embora os combates entre os exércitos tenham acabado, os sol<strong>da</strong>dos<br />
estadunidenses ain<strong>da</strong> são alvos de uma intensa campanha de atentados e ações<br />
guerrilheiras. A resistência arma<strong>da</strong> voltou-se também contra os grupos aliados, as<br />
organizações internacionais e os civis iraquianos que colaboraram com as tropas<br />
de ocupação. Vários jornalistas, diplomatas e ci<strong>da</strong>dãos estrangeiros foram<br />
71
seqüestrados e/ou mortos 41 . O número de baixas estadunidenses no Iraque<br />
supera o número de vítimas nos atentados de 11 de setembro e 2001 42 .<br />
Assim, em nome do “combate ao terrorismo” mais sangue irrigou o já<br />
manchado solo do Oriente Médio. Afeganistão e Iraque submergiram em um<br />
fervente caldo de conflitos e ceticismo.<br />
Ao centrar suas operações contra o terrorismo no Oriente Médio, os<br />
Estados Unidos sofreram com o reverso <strong>da</strong>s circunstâncias. As ativi<strong>da</strong>des<br />
militares ao invés de conter, deram mais fôlego às práticas terroristas. A rede Al<br />
Qae<strong>da</strong>, que não tinha presença no Iraque antes <strong>da</strong> deposição de Sad<strong>da</strong>m<br />
Hussein, ganhou força com as presenças <strong>da</strong>s tropas dos Estados Unidos e<br />
aliados. “Para os terroristas, a constatação de que o governo americano não sabia<br />
o que fazer com o que fora conquistado soou como música”. (KAMEL, 2007, p.<br />
284)<br />
É preciso ter em mente que no combate ao terrorismo deve-se evitar<br />
qualquer ação discriminatória contra grupos étnicos ou nacionali<strong>da</strong>des às quais os<br />
grupos terroristas dizem representar. Os terroristas são membros de organizações<br />
minoritárias, que operam na clandestini<strong>da</strong>de, alheios aos interesses <strong>da</strong>s<br />
socie<strong>da</strong>des onde se inserem. Lutar contra o terrorismo internacional supõe uma<br />
cooperação internacional em todos os níveis 43 .<br />
41 Nesta triste lista consta o nome do representante especial <strong>da</strong> ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de<br />
Mello, vitimado em um ataque com explosivos provocados por rebeldes à sede <strong>da</strong> organização no<br />
Iraque em 19 de agosto de 2003.<br />
42 O número de mortos nos atentados de 11 de setembro chegou à cifra de 2.973 vítimas fatais<br />
registra<strong>da</strong>s. No Afeganistão, desde a ocupação realiza<strong>da</strong> em 2001, estima-se pelo menos 6.000<br />
mortos. No Iraque calcula-se cerca de 50.000 mortos – embora existam estudos que apontem para<br />
650.000 mortos.<br />
43 Segundo <strong>da</strong>dos <strong>da</strong> pesquisa "Violência e Extremismo" divulga<strong>da</strong> pela Fun<strong>da</strong>ção Bertelsmann em<br />
21/11/2006, o número de atentados terroristas triplicou nos últimos cinco anos. Ao contrário <strong>da</strong><br />
sensação generaliza<strong>da</strong>, só a minoria foi impulsiona<strong>da</strong> pelo fanatismo religioso. “Apesar de nossa<br />
percepção <strong>da</strong> ameaça ser outra, devido aos atentados de Nova York, Londres e Madri, a violência<br />
política geralmente ocorre onde é gera<strong>da</strong>, devido a injustiças sociais ou marginalização de grupos<br />
discriminados” informa o autor do estudo, Aurel Croissant, <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Heidelberg<br />
(Alemanha).<br />
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2006/11/21/ult1808u79742.jhtm<br />
72
Em vez de examinarem de forma honesta e sensata as raízes do radicalismo<br />
islâmico que ressurgia, a discussão <strong>da</strong>s estratégias na guerra contra o terror tinha<br />
sido quase inteiramente domina<strong>da</strong> pelos “especialistas em antiterrorismo”, com<br />
sua linguagem de armamento de alta tecnologia, militarismo e erradicação. Isso<br />
pode ser útil para tratar o sintoma, mas não consegue, e jamais conseguirá, tratar<br />
a doença. (BURKE, 2007, p. 17)<br />
Ao declarar que “a nossa guerra não vai terminar até todo grupo terrorista<br />
global ter sido encontrado, parado e derrotado”, George W. Bush já mostrava a<br />
dimensão que sua “doutrina antiterrror” poderia alcançar: caberia aos Estados<br />
Unidos a missão de libertar o mundo do “ciclo de tiranias” e do “terrorismo”. O<br />
presidente estadunidense ousou simplificar perigosamente o cenário internacional<br />
em sua “guerra ao terror”. A invasão ao Afeganistão foi a primeira resposta do<br />
governo Bush à população estadunidense. Algo deveria ser feito, e logo! Contudo,<br />
o controle político no Afeganistão e depois a desastrosa toma<strong>da</strong> do Iraque não<br />
resolveriam o problema do terrorismo mundial – e, como vimos, nem dos próprios<br />
países –, mas sim jogaria uma cortina de fumaça sobre a questão na tentativa de<br />
saciar as expectativas e tolher a visão sobre os efeitos colaterais advindos com os<br />
atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Osama bin Laden não seria<br />
capturado, pois seu esconderijo é desconhecido e o fantasma do terrorismo ain<strong>da</strong><br />
assombra o mundo; seu espectro está longe de ser exorcizado.<br />
73
CAPÍTULO 3:<br />
TERRORISMO: UM LEGADO HISTÓRICO E SUA<br />
CARACTERIZAÇÃO NA PLATAFORMA MIDIÁTICA<br />
O ato terrorista não pode ser entendido nem analisado,<br />
portanto, como um súbito relâmpago no céu azul, uma<br />
atitude isola<strong>da</strong>, inespera<strong>da</strong> e inexplicável de algum grupo de<br />
fanáticos.<br />
José Arbex Jr.<br />
Era o dia 11 de setembro. Desviados de sua missão habitual por pilotos decididos<br />
a tudo, os aviões se lançam para o coração <strong>da</strong> grande ci<strong>da</strong>de, resolvidos a abater<br />
os símbolos de um sistema político detestado. Imediatamente, explosões,<br />
facha<strong>da</strong>s que voam em pe<strong>da</strong>ços, desabamentos num barulho infernal,<br />
sobreviventes aterrorizados, fugindo cobertos de escombros. E a mídia que<br />
difunde a tragédia ao vivo...<br />
Nova York, 2001? Não, Santiago do Chile, 11 de setembro de 1973. Com a<br />
cumplici<strong>da</strong>de dos Estados Unidos, golpe de Estado do General Pinochet contra o<br />
socialista Salvador Allende e o palácio presidencial metralhado pelas forças áreas.<br />
Dezenas de mortos e início de um regime de terror que durou quinze anos.<br />
(RAMONET, 2003, p.45)<br />
Ao lermos o primeiro parágrafo redigido pelo jornalista francês Ignacio<br />
Ramonet, é quase que instantâneo nos reportamos ao dia 11 de setembro de<br />
2001. Quando nos deparamos com a seqüência do texto, tudo se esclarece e<br />
retornamos à época <strong>da</strong> Guerra Fria, do patrulhamento dos Estados Unidos na<br />
América Latina, a caça aos governos comunistas, onde o “bem” era representado<br />
pelo capitalismo, pelo “Ocidente”...<br />
Os Estados Unidos usavam o terror para gerar terror. Foram vitais na<br />
derruba<strong>da</strong> de um governo democraticamente eleito que naquela terça-feira de<br />
setembro de 1973 pagava o preço por desafiar os estadunidenses e seguir uma<br />
ideologia diferente. A partir dessa <strong>da</strong>ta até 1989, o Chile mergulharia nas trevas do<br />
Terrorismo de Estado capitaneado pelo General Augusto Pinochet.<br />
Paradoxalmente, o país que se orgulha de se autodenominar “a maior democracia<br />
do mundo” e defender os “valores <strong>da</strong> civilização” patrocinava mais um golpe de<br />
Estado sacrificando os anseios democráticos tão valiosos a qualquer socie<strong>da</strong>de.<br />
74
Atentados que disseminam o terror não são algo novo na história <strong>da</strong><br />
humani<strong>da</strong>de. A palavra terrorismo remonta à Revolução Francesa, ao terror dos<br />
jacobinos e de suas guilhotinas. Na acepção atual, é um fenômeno que começou<br />
no final do século XIX quando os anarquistas começaram a jogar bombas,<br />
tornando-se instrumento corriqueiro após a Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial, visando a<br />
obter resultados políticos através <strong>da</strong> criação de situações de pânico coletivo. Um<br />
valor disfórico presente em ações de terror é a intimi<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil, seja<br />
ela executa<strong>da</strong> pelo governo ou grupos insurgentes.<br />
Alguns veículos midiáticos se refutavam a usar a expressão “terrorismo”<br />
para designar a atuação política dos Estados Unidos contra outros países, mas se<br />
revestem dessa classificação quando os vitimados são os estadunidenses, na<br />
direção de sentidos que os “outros” são “terroristas”, nós, não 44 . Mesmo sendo<br />
conceito “técnico” presente nas ciências sociais, é inegável que a expressão<br />
“terrorista” é vesti<strong>da</strong> pelo figurino ideológico, subjetivo, sendo ajustado segundo o<br />
efeito de sentido que se queira produzir no enunciatário. Mediante a isso, para<br />
melhor compreensão <strong>da</strong>s notícias, é necessário responder: o que é terrorismo?, e<br />
conhecê-lo como processo político remoto e as faces com as quais se apresenta.<br />
3.1. O terrorismo na história<br />
A prática terrorista tem uma longa história. Instigar o terror para alcançar<br />
fins políticos e criar raízes no poder é tão antigo quanto às primeiras socie<strong>da</strong>des.<br />
Muito antes que ataques contra civis, como artifícios para afetar o<br />
comportamento de nações e seus líderes fossem denominados de terroristas, a<br />
ação teve várias classificações. Do tempo <strong>da</strong> república romana até fins do século<br />
XVIII a prática era batiza<strong>da</strong> de guerra destrutiva. Os próprios romanos geralmente<br />
usavam a expressão guerra punitiva. Não obstante, muitas campanhas militares<br />
44 Comentando essa afirmativa, Arbex Jr. (2003, p. 52) faz uso de situações pela quais passou.<br />
“Sempre que eu levantava a argumentação (<strong>da</strong> amplitude <strong>da</strong>s práticas terroristas), provocava uma<br />
indignação do ‘especialista’ debatedor, que, invariavelmente, declarava-se ‘perplexo’ por ter<br />
encontrado alguém que apoiava o atentado. De na<strong>da</strong> adiantava esclarecer que eu condenava<br />
qualquer ato terrorista, incluindo o 11 de setembro, só que por ‘qualquer ato terrorista’ eu entendia<br />
também o ataque nuclear a Hiroxima (sic) etc”.<br />
75
omanas fossem de fato empreendi<strong>da</strong>s como punição por traição ou rebelião,<br />
outras ações destrutivas afloravam do simples desejo de impressionar povos<br />
recém-conquistados com o temível poder dos romanos.<br />
Na Grécia antiga, o historiador Xenofonte já aconselhava a prática de<br />
assassínios em países potencialmente adversários para criar pânico entre a<br />
população virtualmente inimiga.<br />
Porém, mesmo colado à violência, o terrorismo já foi visto pelas lentes <strong>da</strong><br />
justiça e redenção.<br />
No decorrer do século XIX, a palavra terrorismo ganha uma conotação<br />
francamente positiva nas obras dos teóricos do movimento anarquista. Guar<strong>da</strong><strong>da</strong><br />
as peculiari<strong>da</strong>des do pensamento de ca<strong>da</strong> um, o francês Pierre Joseph Proudhon<br />
e os russos Mikhail Bakunin e Piort Kropotikin observavam no terror um fato<br />
construtivo, uma forma eficiente de destruir o poder estatal. (MONDAINI, 2004, p.<br />
230)<br />
O século XIX é simbólico por testemunhar a eclosão <strong>da</strong> violência<br />
internacional, interpreta<strong>da</strong> como precedente histórico do terrorismo moderno. Os<br />
agentes dessa agressão eram geralmente classificados como anarquistas e<br />
faziam uso ostensivo do assassinato individual, além de bombas contra uni<strong>da</strong>des<br />
militares, policiais e forças priva<strong>da</strong>s de segurança industrial, como práticas para<br />
combater as crescentes dispari<strong>da</strong>des entre as classes sociais resultantes <strong>da</strong>s<br />
transformações advin<strong>da</strong>s com a Revolução Industrial que aflorava em solo<br />
europeu.<br />
Tem-se assim, na prática terrorista, uma extensão de anseios políticos. A<br />
violência é utiliza<strong>da</strong> como instrumento para alcançar determinados objetivos. Para<br />
ampliar seus tentáculos de pavor sobre povos e Estados, o terrorismo assume<br />
diversas fisionomias.<br />
76
3.2. As faces do terrorismo<br />
A melhor arma política é a arma do terror. A cruel<strong>da</strong>de gera<br />
respeito. Podem odiar-nos, se quiserem. Não queremos que<br />
nos amem. Queremos que nos temam.<br />
Adolf Hitler durante discurso para oficiais <strong>da</strong> SS em Kharkov,<br />
(19/04/1943).<br />
O terror tem muitas faces, contudo, um só pensamento: a anulação de seus<br />
opositores a qualquer custo. Existem terroristas que agem em nome de uma<br />
divin<strong>da</strong>de (como os grupos extremistas islâmicos); os mercenários (como os<br />
milicianos que lutam na África, membros <strong>da</strong> Blackwater que atuam no Iraque); os<br />
nacionalistas (como o IRA – Exército Republicano Irlandês – e do ETA – Pátria<br />
Basca e Liber<strong>da</strong>de) 45 ; e, ain<strong>da</strong>, os ideológicos (como o grupo de Timothy<br />
McVeigh, responsável pela destruição do prédio de Oklahoma em 1995) 46 .<br />
Há ain<strong>da</strong> o terrorismo de Estado, que consiste na eliminação de minorias<br />
étnicas ou opositores a certo regime. Enquadram-se nessa prática, os regimes <strong>da</strong><br />
Alemanha nazista, a Itália fascista, a União Soviética sob a sombra de Stálin, o<br />
Camboja de Pol Pot, a China de Mao Tse-tung, o Iraque sob os auspícios de<br />
Sad<strong>da</strong>m Hussein, as ditaduras latino-americanas nas déca<strong>da</strong>s de 1960 e 1970, o<br />
antigo regime de apartheid na África do Sul ou ain<strong>da</strong> os Estados Unidos à época<br />
<strong>da</strong> política marcarthista.<br />
45 A percepção de que os atos de terrorismo são repudiados pela opinião pública, principalmente<br />
depois <strong>da</strong>s ações <strong>da</strong> rede Al Qae<strong>da</strong> em 11 de setembro de 2001, levou tanto o IRA quanto o ETA a<br />
repensarem suas formas de ação para que o apoio <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des que tais grupos dizem<br />
representar não fosse diluído por completo. O IRA depôs suas armas em julho de 2005. Após mais<br />
de quatro déca<strong>da</strong>s de conflito, protestantes e católicos formaram, em maio de 2007, um governo<br />
de união para administrar a Irlan<strong>da</strong> do Norte – o Ulster. Histórico, o acordo determina a autonomia<br />
limita<strong>da</strong> do Ulster, que passa a legislar sobre questões como agricultura, educação e saúde.<br />
Mesmo com a consoli<strong>da</strong>ção do acordo, os militantes do IRA declararam que prosseguirão na sua<br />
busca pela independência, mas agora pelos trâmites políticos legais. Em março de 2006, foi à vez<br />
do ETA. Ambas as organizações optaram pela via política e institucional como caminho para atingir<br />
seus objetivos. Contudo, no dia 30 de dezembro de 2006, o grupo ETA rompeu a trégua ao<br />
explodir um carro-bomba no Aeroporto Internacional de Madri e em junho de 2007 declarou<br />
oficialmente o fim do cessar-fogo permanente estabelecido em março de 2006 e a retoma<strong>da</strong> <strong>da</strong><br />
luta arma<strong>da</strong> em busca <strong>da</strong> "construção de um Estado livre".<br />
46 José Arbex Jr. “Terrorismo: um legado <strong>da</strong> história”. Texto que circulou na Internet em sites de<br />
Ciências Sociais em outubro de 2001, sem maiores referências.<br />
77
... o terrorismo é, na ver<strong>da</strong>de, a própria negação <strong>da</strong> política, pois representa uma<br />
contradição à existência desta. Desde sua origem, na polis (ci<strong>da</strong>de-Estado) grega,<br />
o termo política traz em si as noções de “diálogo, persuasão, negociação, em<br />
suma, a razão”. Ora, com seu caráter “fanático-militar”, o terrorismo “se volta<br />
contra a própria racionali<strong>da</strong>de, logo, contra a política”. O terrorista é o extremista<br />
que “na<strong>da</strong> quer saber do diálogo, <strong>da</strong> argumentação”, já que “o seu único alvo é a<br />
imposição, pela violência, de suas próprias convicções”. Dessa forma, o terrorismo<br />
assinala a continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong>quilo que existe de mais fanático na humani<strong>da</strong>de, ou,<br />
mais apropria<strong>da</strong>mente, o que há de mais fanático na anti-humani<strong>da</strong>de.<br />
(MONDAINI, 2004, p. 244)<br />
Inúmeras reportagens sobre os atentados de 11 de setembro de 2001<br />
colaram a expressão “terrorista” a manifestações islâmicas. É fato que adeptos do<br />
Islamismo utilizam-se desse artifício político para demonstrar seus anseios.<br />
To<strong>da</strong>via, como vimos, o terrorismo tem inúmeras manifestações. O mesmo<br />
raciocínio é aplicado ao vocábulo “fun<strong>da</strong>mentalista”, que foi gestado no ventre do<br />
Cristianismo.<br />
Considerar o terrorismo e o fun<strong>da</strong>mentalismo apenas ou, sobretudo, como<br />
instrumentos políticos do Islamismo é reducionismo ou má-fé. A prática terrorista é<br />
fortemente repudia<strong>da</strong> por muito seguidores mulçumanos. Portanto, o terror<br />
“islâmico” não é o porta-voz de uma religião, cultura ou civilização.<br />
que<br />
O radicalismo islâmico é impopular. A maioria dos muçulmanos não quer uma<br />
teocracia. As pessoas no mundo muçulmano viajam para ver o luxo em Dubai, não<br />
as madrassas de Teerã. Metade dos países muçulmanos do mundo – cerca de<br />
600 milhões de habitantes – tem eleições. Nos últimos cinco anos os partidos<br />
ligados ao radicalismo islâmico raramente ganharam mais do que 7% ou 8% dos<br />
votos. (ZAKARIA, 2007, p. 91)<br />
Boff (2002) vai à raiz dos fatos e, aplicando a vacina <strong>da</strong> história, esclarece<br />
O nicho do fun<strong>da</strong>mentalismo se encontra no protestantismo norte-americano,<br />
surgido nos meados do século XIX. O termo foi cunhado em 1915, quando<br />
professores de teologia <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Princeton publicaram uma pequena<br />
coleção de doze livrões que vinha sob o título Fun<strong>da</strong>mentals. A testimony of the<br />
Truth (1909-1915). Neles propunham um cristianismo extremamente rigoroso,<br />
ortodoxo, dogmático, como orientação contra a avalanche de modernização de<br />
que era toma<strong>da</strong> a socie<strong>da</strong>de norte-americana. Não só modernização tecnológica,<br />
mas modernização dos espíritos, do liberalismo, <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s opiniões,<br />
contrastando fun<strong>da</strong>mentalmente com a seguri<strong>da</strong>de que a fé cristã sempre<br />
oferecera.<br />
78
A tese dos fun<strong>da</strong>mentalistas no âmbito religioso é afirmar que a Bíblia constitui o<br />
fun<strong>da</strong>mento básico <strong>da</strong> fé cristã e deve ser toma<strong>da</strong> ao pé <strong>da</strong> letra (o fun<strong>da</strong>mento de<br />
tudo para a fé protestante é a Bíblia). Ca<strong>da</strong> palavra, ca<strong>da</strong> sílaba e ca<strong>da</strong> vírgula,<br />
dizem os fun<strong>da</strong>mentalistas, é inspira<strong>da</strong> por Deus. Como Deus não pode errar,<br />
então tudo na Bíblia é ver<strong>da</strong>deiro e sem qualquer erro. Como Deus é imutável, sua<br />
Palavra e suas sentenças também o são. Valem para sempre.<br />
(...)<br />
O Islamismo original não é guerreiro nem fun<strong>da</strong>mentalista. É tolerante para com<br />
todos os povos, especialmente “os povos do livro” (judeus e cristãos). Ele vive de<br />
duas grandes convicções: a afirmação <strong>da</strong> absoluta unici<strong>da</strong>de e transcendência de<br />
Deus, a partir de onde tudo na Terra é relativizado, e a comuni<strong>da</strong>de profética dos<br />
irmãos, pois todos são criaturas de Deus e devem se entreaju<strong>da</strong>r. (BOFF, 2002, p.<br />
12-29)<br />
A doutrina inicial era de paz, entretanto, muitos seguidores do Islamismo<br />
divorciaram-se <strong>da</strong> concepção original e se envere<strong>da</strong>ram para o caminho ungido de<br />
sangue.<br />
3.3. Islamismo, fun<strong>da</strong>mentalismo e terrorismo<br />
Atualmente o Islamismo (submissão à vontade de Alá 47 ) é a religião que<br />
mais cresce no mundo. A religião islâmica é originária <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de de Meca (atual<br />
Arábia Saudita) e teve na figura do profeta Maomé a sua edificação. Seus<br />
ensinamentos estão materializados no Alcorão 48 , livro sagrado em que se<br />
encontram impressas as revelações feitas pelo anjo Gabriel a Maomé entre os<br />
anos 610 a 632 d.C. O Alcorão divide-se em duas grandes partes que<br />
correspondem às fases de atuação do profeta Maomé: a fase de Meca (anos 610-<br />
622) e a fase de Medina (anos 622-632). A fase de Meca possui textos mais<br />
curtos e abor<strong>da</strong> fun<strong>da</strong>mentalmente a doutrina e seus valores. Na fase de Medina,<br />
47 Segundo Kamel (2007, p. 83): “... para o Islã, não existe, em nenhuma hipótese, conversão<br />
força<strong>da</strong>. Islã (...) é uma palavra árabe que significa submissão, mas ela tem a mesma raiz <strong>da</strong><br />
palavra paz. Infelizmente, hoje, vivemos desses períodos sombrios em que a minorias se<br />
sobressaem”.<br />
48 O Alcorão não foi escrito por Maomé. Sendo o profeta analfabeto, as transcrições <strong>da</strong>s<br />
revelações feitas pelo anjo Gabriel deve-se ao califa Otman, terceiro sucessor de Maomé no ano<br />
652 <strong>da</strong> nossa era. Em língua portuguesa, grafa-se o livro sagrado islâmico de duas formas:<br />
“Alcorão e Corão”. Nesta <strong>dissertação</strong>, faremos uso do vocábulo “Alcorão”, pois segundo Kamel<br />
(2007, p.73-74): “Literalmente, Alcorão quer dizer ‘A Leitura’ (em português, deve-se dizer Alcorão,<br />
e não o Corão, porque a palavra entrou em nossa língua <strong>da</strong>quela primeira forma, assim, como<br />
outros três mil vocábulos, como, por exemplo, almofa<strong>da</strong>, alfaiate, álcool, alfinete, etc.)”.<br />
Manteremos a grafia “Corão” quando a mesma for cita<strong>da</strong> desta forma por outros autores.<br />
79
o livro trata de orientações concretas do reto viver, <strong>da</strong> organização política e do<br />
sistema jurídico. Posteriormente, incorporaram-se à doutrina islâmica as narrativas<br />
de outros profetas (hadit), o consenso dos sábios (igma) e os argumentos por<br />
analogia (qiyas).<br />
O Islamismo é monoteísta e possui três ramos principais: xiitas, sunitas e<br />
sufistas. Os xiitas são tidos como a ala mais radical do Islã, não aceitando divisão<br />
entre o poder político e a esfera religiosa. Política e religião consubstanciam-se na<br />
formação do Estado Teocrático e atribuem ao líder religioso uma proteção<br />
sobrenatural contra o pecado e o erro. Os sunitas, a imensa maioria desse<br />
segmento religioso, são conhecidos por sua moderação, pela separação do poder<br />
divino do político-social. Consideram que a fonte essencial para a lei islâmica é a<br />
Suna, compilação <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> e do comportamento do profeta 49 .<br />
São quatro as escolas teológicas sunitas, que diferem fun<strong>da</strong>mentalmente em<br />
detalhes de rito e código legal: Hanafi, Hanbali, Mãlaki, Shaãfi’í, sem falar na<br />
“reforma” ultra radical wahhabista do século XVIII – o wahhabismo é uma seita<br />
hoje majoritária na Arábia Saudita. (KAMEL, 2007, p. 101)<br />
Já os sufistas, constituem-se em uma corrente esotérica do Islamismo e se<br />
preocupam mais com as ver<strong>da</strong>des espirituais <strong>da</strong> religião do que com as questões<br />
políticas e ortodoxas.<br />
Assim sendo, a interpretação do Alcorão não é a mesma para todos os<br />
islâmicos. Para os fun<strong>da</strong>mentalistas 50 certos aspectos <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des ocidentais<br />
como a liber<strong>da</strong>de de expressão e de religião, a igual<strong>da</strong>de de direitos para homens<br />
e mulheres são incompatíveis com os ensinamentos do Alcorão. Para eles, o<br />
Ocidente, com seus valores, constitui uma ameaça à socie<strong>da</strong>de islâmica, devendo<br />
ser combatido.<br />
O ideal político desta manifestação fun<strong>da</strong>mentalista é a implantação de um<br />
Estado Islâmico, um regime teocrático que traduza literalmente as antigas leis do<br />
Alcorão (balizados por uma interpretação radical dos textos). O chefe real desta<br />
49 Mas, nem por isso, alguns membros dessa facção são mais tolerantes; basta lembrar que<br />
Sad<strong>da</strong>m Hussein e milicianos no grupo Al Qae<strong>da</strong> são de inspiração sunita. No Afeganistão, de<br />
maioria sunita, os xiitas, por exemplo, são considerados “párias”.<br />
50 Convém ressaltar que esse grupo não se denomina fun<strong>da</strong>mentalista e sim mujähidün (guerreiros<br />
<strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de) e de defensores <strong>da</strong> jihad, a “guerra santa” contra os inimigos do Islã.<br />
80
concepção de governo teocrático é Alá, sendo os demais guias religiosos apenas<br />
representantes que interpretam e aplicam a vontade divina.<br />
No que cabe às tradições, os fun<strong>da</strong>mentalistas defendem o radical e<br />
urgente rompimento com tudo que pareça ocidental 51 . As mulheres emancipa<strong>da</strong>s<br />
pelas leis seculariza<strong>da</strong>s devem <strong>voltar</strong> a usar o chador ou burca, não devem ter<br />
acesso à instrução, nem ser atendi<strong>da</strong>s por médicos. O ensino em qualquer nível<br />
deve priorizar o campo religioso e as leis comuns devem se acolher às regras<br />
estabeleci<strong>da</strong>s pelo Alcorão. Socialmente, pode-se dizer que eles dão voz aos<br />
sentimentos dos setores mais pobres e mais desesperançados <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong>des<br />
do Oriente Médio, gente em sua maioria analfabeta que vive em subúrbios, nos<br />
campos ou nos desertos e que leva uma vi<strong>da</strong> dura, sem alegrias ou confortos.<br />
O surgimento do fun<strong>da</strong>mentalismo religioso também parece estar ligado tanto a<br />
uma tendência global como a uma crise institucional. Segundo a experiência<br />
histórica, sempre existiram idéias e crenças de todos os tipos à espera para<br />
eclodirem no momento certo. É significativo que o fun<strong>da</strong>mentalismo, quer islâmico,<br />
quer cristão, tenha se difundido (e continuará a expandir-se) por todo o mundo no<br />
momento histórico em que redes globais de riqueza e poder conectam pontos<br />
no<strong>da</strong>is e valorizam os indivíduos em todo o planeta, embora desconectem e<br />
excluam grandes segmentos <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des. (CASTELLS, 2002, p. 59-60)<br />
Os movimentos fun<strong>da</strong>mentalistas islâmicos têm sua origem na decadência<br />
do poder muçulmano no século XVIII, dentro do contexto <strong>da</strong> expansão do Império<br />
Turco-Otomano. Nesse período, os líderes espirituais eram obrigados a aceitar<br />
determinações do poder político imperial, que, apesar de professar o Islamismo,<br />
procuravam agra<strong>da</strong>r povos não-muçulmanos dominados pelo império. Em razão<br />
<strong>da</strong> expansão do Império Turco-Otomano, ocorria uma troca de manifestações<br />
culturais que não era bem vista pelos líderes espirituais. A expansão do<br />
colonialismo ocidental foi um processo fun<strong>da</strong>mental para o retrocesso <strong>da</strong> cultura<br />
islâmica.<br />
51 Para Kamel (2007), classificar os xiitas de “fun<strong>da</strong>mentalistas” é enobrecê-los. Segundo o<br />
jornalista, os líderes desses grupos se aproximam mais de Hitler do que de fanáticos religiosos<br />
como Jim Jones e devem ser chamados pelo que realmente o são: “totalitários do Islã”.<br />
81
Com o domínio colonial europeu, a partir do início do século XX, os<br />
movimentos fun<strong>da</strong>mentalistas ganharam impulso, alicerçados na defesa <strong>da</strong>s leis e<br />
costumes islâmicos e na luta contra a dominação ocidental.<br />
O crescimento do fun<strong>da</strong>mentalismo também precisa ser entendido como<br />
uma reação aos governos corruptos e ditatoriais de vários países do Oriente<br />
Médio, onde a conquista <strong>da</strong> independência política não significou a eliminação <strong>da</strong>s<br />
interferências externas <strong>da</strong>s grandes potências mundiais e onde as populações não<br />
vêem perspectivas para melhoria nas condições de suas vi<strong>da</strong>s. Em muitos desses<br />
países, governantes acabam se reelegendo por meio de fraudes e manipulações.<br />
Em vista disso, parte <strong>da</strong> população muçulmana passa a depositar ca<strong>da</strong> vez mais<br />
suas esperanças nas próprias raízes religiosas e culturais.<br />
A posição <strong>da</strong>s grandes potências mundiais, sobretudo dos Estados Unidos,<br />
em relação aos governos desses países sempre foi ambígua, revelando, na<br />
ver<strong>da</strong>de, um interesse no Oriente Médio exclusivo nas vantagens econômicas e<br />
geopolíticas que podem ter apoiando este ou aquele governante.<br />
Em tempos contemporâneos, o fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico começa a ganhar<br />
força na primeira metade do século XX. Em 1929, no Egito, surgiu a Irman<strong>da</strong>de<br />
Muçulmana, fun<strong>da</strong><strong>da</strong> por Hasan al-Banna. O grupo oferecia resistência arma<strong>da</strong> ao<br />
colonizador britânico. A Irman<strong>da</strong>de também possuía características sociais<br />
desenvolvendo programas de alfabetização e de assistência médica à população<br />
carente do Egito. Os fun<strong>da</strong>mentalistas queriam com isso reconstruir sua<br />
identi<strong>da</strong>de nacional com base nos alicerces <strong>da</strong> religião islâmica, em oposição aos<br />
valores políticos e culturais do colonizador. Contudo, a Irman<strong>da</strong>de Muçulmana<br />
passou a ser persegui<strong>da</strong> pela monarquia egípcia, que tinha fortes laços políticos<br />
com a Inglaterra. A Irman<strong>da</strong>de manifestava na prática terrorista sua metodologia<br />
de ação. Seus militantes costumavam bra<strong>da</strong>r palavras de ordem como: “Nós não<br />
temos medo <strong>da</strong> morte; nós a desejamos”. A sentença com que a Al Qae<strong>da</strong><br />
costuma finalizar suas declarações – “vocês amam a vi<strong>da</strong>; nós, a morte” – tem no<br />
discurso <strong>da</strong> Irman<strong>da</strong>de Muçulmana a sua origem.<br />
O fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico voltou a ascender no cenário político<br />
internacional em 1979 com a Revolução Islâmica Xiita no Irã. Lidera<strong>da</strong> pelo Aiatolá<br />
82
Khomeini, a Revolução foi vista como uma canalização <strong>da</strong>s potenciali<strong>da</strong>des<br />
islâmicas adormeci<strong>da</strong>s ou escorraça<strong>da</strong>s pela presença ca<strong>da</strong> vez maior do “pecado<br />
<strong>da</strong> moderni<strong>da</strong>de”. Na concepção fun<strong>da</strong>mentalista, a salvação para esse pecado<br />
seria o resgate <strong>da</strong> “pureza islâmica”.<br />
3.4. O surgimento do grupo terrorista islâmico Al Qae<strong>da</strong><br />
O Afeganistão, composto de uma varie<strong>da</strong>de de etnias rivais, era uma<br />
monarquia desde 1933. Em 1973, sofreu um golpe de Estado, liderado pelo<br />
general Mohammed Daud, que transformou o país numa república e assumiu a<br />
presidência. No período <strong>da</strong> Guerra Fria, principalmente após a crise do petróleo de<br />
1973, o país tornou-se estratégico, transformando-se num território de disputa<br />
entre as duas superpotências <strong>da</strong> época (Estados Unidos e ex-União Soviética). Os<br />
soviéticos aspiravam à dominação <strong>da</strong> região para controlar o acesso ao Golfo<br />
Pérsico, e os Estados Unidos buscavam inibir a expansão soviética na região do<br />
Oriente Médio.<br />
Em 1978, Mohammed Daud foi deposto e assassinado por membros do<br />
Partido Democrático do Povo (de orientação comunista). Esse episódio<br />
desencadeou a disputa pelo poder entre as facções do próprio partido e entre<br />
grupos guerrilheiros de etnias diversas, principalmente a islâmica. Hafizullah Amin,<br />
líder de uma <strong>da</strong>s facções do Partido Democrático do Povo, acabou conquistando a<br />
presidência, mas não se mostrou capaz de contemplar os interesses soviéticos.<br />
No final de 1979, a União Soviética invadiu o país. O presidente Hafizullah Amin<br />
foi assassinado e o presidente nomeado, Babrak Karmal, passou a governar o<br />
Afeganistão com as forças soviéticas, que em pouco tempo chegaram a mobilizar<br />
grande contingente de sol<strong>da</strong>dos.<br />
A resistência contra o regime de Babrak Karmal, por parte dos vários<br />
grupos de mujähidins, foi implacável. Instaurou-se no país uma guerra civil que os<br />
soviéticos nunca conseguiram controlar. Estados Unidos, Paquistão, China, Irã e<br />
Arábia Saudita forneceram armas e dinheiro aos guerrilheiros que lutavam contra<br />
a ocupação soviética. Durante a déca<strong>da</strong> de 1980, os Estados Unidos estiveram<br />
83
diretamente envolvidos no recrutamento e treinamento dos mujähidins, entre eles,<br />
Osama bin Laden.<br />
Ao fim <strong>da</strong> Guerra Fria, o exército soviético retirou-se do Afeganistão, e a<br />
guerra continuou entre as facções de grupos islâmicos que disputavam o poder<br />
entre si. Em 1994, o Talebã, grupo islâmico ultra-radical, assumiu o poder e o<br />
controle de 95% do território afegão e o país se transformou em abrigo seguro<br />
para o milionário saudita Osama bin Laden.<br />
Já no fim do jihad no Afeganistão (no fim dos anos 1980), a Al Qae<strong>da</strong> (...), foi<br />
cria<strong>da</strong> para atingir as seguintes metas: “Estabelecer a ver<strong>da</strong>de, livrar o mundo de<br />
todo o mal e fun<strong>da</strong>r uma grande nação islâmica”. (KAMEL, 2007, p. 213)<br />
Os mujähidins treinados pelos Estados Unidos para combater a expansão<br />
do comunismo soviético <strong>voltar</strong>am-se contra seu principal provedor de armas e de<br />
treinamentos.<br />
... o aspecto mais assustador (...) era o fato de que quase ninguém a levava a<br />
sério. Era estranha demais, primitiva e exótica demais. Diante <strong>da</strong> confiança dos<br />
americanos na moderni<strong>da</strong>de, na tecnologia e em seus próprios ideais para<br />
protegê-los do desfile selvagem <strong>da</strong> história, os gestos desafiadores de Bin Laden e<br />
seus sequazes se afiguravam absurdos e até patéticos. No entanto, a Al Qae<strong>da</strong><br />
não era um mero artefato <strong>da</strong> Arábia do século VII. Aprendera a usar ferramentas<br />
modernas e idéias modernas, o que não surpreendia, já que a história <strong>da</strong> Al<br />
Qae<strong>da</strong> na reali<strong>da</strong>de começara nos Estados Unidos, não tanto tempo atrás.<br />
(WRIGHT, 2007, p. 17)<br />
A rede Al Qae<strong>da</strong> foi concebi<strong>da</strong> nesse contexto histórico, com a fusão de<br />
facções islâmicas ultra-radicais, conexões espalha<strong>da</strong>s pelo mundo – inclusive nos<br />
Estados Unidos – país que seria o alvo do mais arrojado ataque executado pela<br />
organização. A Al Qae<strong>da</strong> possuía o código genético do terrorismo, seu rastro de<br />
sangue e destruição ficaria mundialmente famoso em 11 de setembro de 2001.<br />
84
3.5. A Al Qae<strong>da</strong> e o “Terrorismo em Rede” 52<br />
Com os atentados de 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista Al Qae<strong>da</strong><br />
inaugurou uma nova forma de manifestação terrorista: o terrorismo em rede. Neste<br />
início de século, quatro atentados chocaram o mundo por sua cruel<strong>da</strong>de: o de 11<br />
de setembro de 2001 (em Nova York e Washington – Estados Unidos), o de 11 de<br />
março de 2004 (em Madri – Espanha), o de Beslan (Ossétia do Norte) cujo nefasto<br />
desfecho ocorreu em 3 de setembro de 2004 e os atos ocorridos em Londres<br />
(Inglaterra) em 7 de julho de 2005 53 . Os atentados sofridos pelos Estados Unidos,<br />
52 A organização do espaço geográfico através <strong>da</strong>s redes eliminou a necessi<strong>da</strong>de de fixar as<br />
ativi<strong>da</strong>des políticas, econômicas e até terroristas, em determinados lugares. Isso vale para o<br />
grande número de ativi<strong>da</strong>des que podem ser executa<strong>da</strong>s a partir de qualquer parte do mundo,<br />
bastando que esses locais estejam conectados. O espaço geográfico hoje tende a se tornar um<br />
meio técnico-cientifico informacional, impregnado pela tríade ciência, técnica e informação, o que<br />
resulta em uma nova dinâmica territorial (Santos, 1996a). Até pouco tempo, a superfície do planeta<br />
era utiliza<strong>da</strong> de acordo com divisões produzi<strong>da</strong>s pela natureza ou pela história, chama<strong>da</strong>s de<br />
regiões. Essas regiões correspondiam à base <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> econômica, cultural e política. Atualmente,<br />
devido ao processo <strong>da</strong>s técnicas e <strong>da</strong>s comunicações, a esse território se sobrepõe um território<br />
<strong>da</strong>s redes que, em primeira análise, fornece a impressão de ser uma reali<strong>da</strong>de virtual. Mas, ao<br />
contrário do que se possa imaginar, não se trata de um espaço virtual. Para Castells (2002, p.565):<br />
“redes constituem a nova morfologia social de nossas socie<strong>da</strong>des e a difusão <strong>da</strong> lógica de redes<br />
modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de<br />
experiência, poder e cultura”. Assim, as redes são reali<strong>da</strong>des concretas, forma<strong>da</strong>s por pontos<br />
interligados, que tendem se a espalhar por to<strong>da</strong> a superfície mundial, ain<strong>da</strong> que com desigual<br />
densi<strong>da</strong>de, conforme os continentes e países. Santos (1996b, p.215) afirma que “a existência <strong>da</strong>s<br />
redes é inseparável <strong>da</strong> questão do poder”. Essas redes se constituem na base <strong>da</strong> moderni<strong>da</strong>de e<br />
na condição necessária para a plena realização <strong>da</strong> economia global. Elas formam e constituem o<br />
veículo que permite o fluxo <strong>da</strong>s informações, que são hoje o mecanismo vital <strong>da</strong> globalização.<br />
Moreira (2006) aduz que a organização em rede vai mu<strong>da</strong>ndo a forma de conteúdo dos espaços<br />
deixando-os simultaneamente mais fluídos e as distâncias perdem seu sentido físico diante do<br />
novo conteúdo social do espaço. Antes de mais na<strong>da</strong>, é preciso se estar inserido num lugar, para<br />
se estar inserido na geopolítica <strong>da</strong> rede. Uma vez localizado na rede, pode-se <strong>da</strong>í puxar a<br />
informação, disputar-se primazias e então jogar-se o jogo do poder. Enfim, a informação se torna a<br />
matéria-prima essencial do espaço-rede. Nesse cenário é que emerge a expressão “Terrorismo em<br />
Rede”, utiliza<strong>da</strong> por Haesbaert (2002b). Para o geógrafo, o grupo Al Qae<strong>da</strong> possui em sua<br />
estrutura bases ou “células” de uma organização ilegal – e a flexibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s redes com seus<br />
fluxos de várias ordens. Parte desta agili<strong>da</strong>de se deve ao acesso às redes técnico-informacionais<br />
contemporâneas e aos investimentos mantidos pelo grupo, especialmente em setores ilegais <strong>da</strong><br />
economia. Pelo seu caráter mais difuso, fragmentado e descontínuo (mas nunca desarticulado) no<br />
espaço geográfico, o terrorismo <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong> constitui um dos âmbitos ilegítimo do processo de<br />
globalização. Cabe ressaltar que as conexões de uma rede como a <strong>da</strong> organização de Bin Laden<br />
vincula os territórios mais excluídos do movimento globalizador, como os do interior do<br />
Afeganistão, até centros do capitalismo mundial como Manhattan.<br />
53 No dia 30 de junho de 2007, o governo britânico elevou o nível de alerta terrorista para "crítico”<br />
após o impacto de um carro em chamas contra um terminal do aeroporto de Glasgow, no sul <strong>da</strong><br />
Escócia. A polícia escocesa afirmou que o ataque foi "um ato terrorista claramente vinculado" aos<br />
dois carros-bomba localizados pelas autori<strong>da</strong>des inglesas em Londres na sexta-feira (29/06). O<br />
"alerta crítico" não era acionado no Reino Unido desde 7 de julho de 2005, quando um atentado<br />
85
Espanha e Inglaterra foram atribuídos à rede Al Qae<strong>da</strong> e seus braços de<br />
execução. O <strong>da</strong> Ossétia do Norte, a um grupo separatista <strong>da</strong> Chechênia, região<br />
que luta por sua independência em relação à Federação Russa.<br />
Durante o século XX, proliferaram grupos terroristas em praticamente to<strong>da</strong>s<br />
as partes do planeta com os mais diferentes objetivos: grupos de esquer<strong>da</strong> em<br />
luta contra governos capitalistas, grupos de direita contra governos de orientação<br />
socialista, grupos nacionalistas, grupos separatistas, lutas pela independência,<br />
descolonização...<br />
Neto (2002) atenta que as ações terroristas são determina<strong>da</strong>s por princípios<br />
básicos que assegurem o seu sucesso e aumentem ca<strong>da</strong> vez mais o poder de<br />
destruição. Entre seus principais preceitos estão<br />
a) O princípio <strong>da</strong> surpresa: Atacar onde e quando menos se espera;<br />
b) O princípio do alvo certo: A escolha correta do alvo a ser atingido é<br />
determinante na promoção do medo e do terror;<br />
c) O princípio <strong>da</strong>s externali<strong>da</strong>des: Valorizar não apenas o ato terrorista, mas,<br />
sobretudo, os efeitos de curto, médio e longo prazos <strong>da</strong>s ações do terror;<br />
d) O princípio <strong>da</strong> tragédia: Quanto maior o número de vítimas, melhor. Vítimas<br />
para chocar é o preceito básico <strong>da</strong>s ações terroristas;<br />
e) O princípio do efeito moral: Abater moralmente os inimigos, disseminando<br />
o medo e o pavor entre a população;<br />
f) O princípio <strong>da</strong>s novas possibili<strong>da</strong>des: Sempre prometer novos ataques<br />
caso suas exigências não sejam cumpri<strong>da</strong>s;<br />
g) O princípio <strong>da</strong> presença onipotente: Estar presente em qualquer lugar, em<br />
todo lugar, sempre disposto a agir, se for preciso;<br />
h) O princípio <strong>da</strong> ameaça latente: Tornar-se uma ameaça sempre presente na<br />
vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s pessoas, países e regiões;<br />
i) O princípio <strong>da</strong> eficiência destruidora: Sua eficiência e sua competência,<br />
mesmo a serviço do mal, são objetos de admiração;<br />
j) O princípio <strong>da</strong> redenção: A morte de seus seguidores é o ingresso na vi<strong>da</strong><br />
eterna;<br />
k) O princípio do exército de reserva: Divulgar adesões em massa ao<br />
movimento terrorista e deixar claro que “o que não falta são terroristas<br />
dispostos a morrer”;<br />
l) O princípio <strong>da</strong> onipresença: Fazer crer aos inimigos que dispõe de um<br />
exército de terroristas prontos para a ação em seu próprio território;<br />
m) O princípio do simbolismo destrutivo: Valorizar o efeito simbólico <strong>da</strong>s<br />
ações. Destruir símbolos que significam poder, riqueza e intransigência;<br />
n) O princípio <strong>da</strong> martirização: Transformar seus adeptos em mártires;<br />
suici<strong>da</strong> matou 52 pessoas na capital inglesa. Muçulmanos que trabalharam no sistema de saúde<br />
do país são foco <strong>da</strong> investigação sobre plano terrorista em Londres e Glasgow, assim como se<br />
suspeita <strong>da</strong> participação de células do grupo Al Qae<strong>da</strong> na elaboração dos atos.<br />
86
o) O princípio <strong>da</strong> espetacularização: Fazer de seus atos ver<strong>da</strong>deiros<br />
espetáculos de destruição;<br />
p) O princípio do catastrofismo: Sempre prometer a anunciar uma tragédia<br />
maior;<br />
q) O princípio <strong>da</strong> inversão: Transformar a vítima em algoz;<br />
r) O princípio do estímulo à guerra total (o princípio <strong>da</strong> “jihadização”):<br />
Promover a guerra santa. Transformar os conflitos locais em choques de<br />
civilizações;<br />
s) O princípio <strong>da</strong> demonização: Seu inimigo é visto como o Grande Satã,<br />
causador de todos os males do mudo;<br />
t) O princípio <strong>da</strong> invisibili<strong>da</strong>de: Ser um inimigo invisível, sem cara nem<br />
movimentação;<br />
u) O princípio do anonimato: Cometer atos mantendo-se no anonimato;<br />
v) O princípio <strong>da</strong> reflexão induzi<strong>da</strong>: Pelos atos praticados contra alvos<br />
cui<strong>da</strong>dosamente escolhidos, induz-se à reflexão: por que este ou aquele<br />
país foi escolhido como alvo <strong>da</strong>s ações terroristas?;<br />
w) O princípio <strong>da</strong> bola <strong>da</strong> vez: Deixar seus inimigos pensarem que um deles<br />
será a próxima vítima a alvo do terror;<br />
x) O princípio do silêncio: Manter-se em silêncio para não se expor 54 . (NETO,<br />
2002, p. 60-62)<br />
No entanto, atos terroristas de grandes proporções são elementos<br />
marcantes na ordem mundial pós-Guerra Fria e colocam em evidência a<br />
continui<strong>da</strong>de dessa estratégia de luta por grupos radicais frente ao Estado<br />
organizado, diante dos quais seriam impotentes num combate frontal. Trata-se de<br />
uma guerra assimétrica de grandes proporções, que amedronta e coloca a<br />
socie<strong>da</strong>de em permanente estado de tensão. O combate ao terrorismo não é uma<br />
tarefa a ser realiza<strong>da</strong> em curto prazo. O terrorismo é um “inimigo invisível”, atua<br />
por meio de ataques surpresas e, muitas vezes, é indiferente ao alvo que será<br />
atingido.<br />
Sem dúvi<strong>da</strong>, neste início de século, embora velhas táticas terroristas ain<strong>da</strong><br />
sejam pratica<strong>da</strong>s, pelo menos os atentados atribuídos à rede Al Qae<strong>da</strong>,<br />
caracterizam-se pelo minucioso planejamento e profissionalismo, visando ações<br />
54 Os itens “u” e “x” se fazem vivos quando nos reportamos às palavras de Osama bin Laden<br />
quando a este recaíam as suspeitas de ser o mentor dos atentados contra os Estados Unidos em<br />
11 de setembro de 2001: “Eu já disse que eu não estou envolvido nos ataques de 11 de setembro<br />
nos Estados Unidos. Como um muçulmano, eu dou o melhor de mim pra evitar contar uma mentira.<br />
Eu não tinha nenhum conhecimento desses ataques nem eu considero um ato aceitável matar<br />
mulheres inocentes, crianças e outros seres humanos. O Islã proíbe formalmente tais práticas,<br />
mesmo no curso de uma guerra”. (KAMEL, 2007, p. 240)<br />
87
de proporções mundiais. Foram atos realizados em pontos estratégicos do<br />
capitalismo mundial.<br />
Quanto maior a violência <strong>da</strong> prática terrorista, maior será a cobertura dos<br />
meios de comunicação. Uma vez que é a imagem que determina a informação na<br />
atuali<strong>da</strong>de (Vicente, 2005a), e “mesmo a desgraça perde seu sentido sem os<br />
refletores” (AUBENAS & BENASAYAG, 2003, p. 32). Nos atentados ao World<br />
Trade Center, depois do choque do primeiro avião na Torre Norte, as câmaras de<br />
televisão passaram a transmitir ao vivo o acontecimento e pessoas do mundo todo<br />
viram em tempo real o segundo avião chocar-se na Torre Sul. Foi também ao vivo<br />
que os telespectadores puderam acompanhar o desabamento <strong>da</strong>s Torres Gêmeas<br />
e a população em desespero sob a poeira dos escombros produzidos. Segundo a<br />
Revista Veja (2001, p. 62), eles “queriam publici<strong>da</strong>de máxima de seus atos e<br />
agiram como se tivessem antecipado o cenário que construíram.”<br />
Na pauta desse novo terrorismo consta:<br />
• Criar catástrofes para gerar espaço;<br />
• Despertar polêmicas para colocar-se como tema central;<br />
• Mitificar o seu principal líder para dele fazer um dos principais produtos <strong>da</strong><br />
mídia;<br />
• Criar novas expectativas de ataques para manter a imprensa sempre em<br />
estado de alerta; e<br />
• Fomentar um clima de guerra para despertar a atenção <strong>da</strong> mídia. (NETO,<br />
2002, p. 107-108).<br />
Segundo Romano (2003, p.21) “com o Estado moderno, to<strong>da</strong>s as artes e<br />
ciências se tornaram utensílios de propagan<strong>da</strong>”. Sem a atuação <strong>da</strong> mídia, os<br />
atentados de 11 de setembro de 2001 não teriam o impacto desejado. Ramonet<br />
(2001) nos alerta<br />
... que hoje em dia a informação televisa<strong>da</strong> é essencialmente um divertimento, um<br />
espetáculo. Que ela se nutre fun<strong>da</strong>mentalmente de sangue, de violência e de<br />
morte. (RAMONET, 2001, p. 101)<br />
Cabe destaque à noção de tempo real manifesta<strong>da</strong> pelos arquitetos do<br />
terror que projetaram os atentados. A resposta quase que instantânea por parte<br />
dos meios de comunicação era algo previsível e peça importante para a<br />
repercussão <strong>da</strong>s ações terroristas. As cenas dos aviões se chocando contra os<br />
88
edifícios do World Trade Center, transformaram-se em um “marketing do terror”.<br />
Os ataques tiveram como alvo os principais espaços-símbolos dos Estados<br />
Unidos: o econômico (Word Trade Center) e o militar (Pentágono). As imagens<br />
produzi<strong>da</strong>s pelos ataques representariam à destruição dos ícones do capitalismo<br />
estadunidense. Assim, a mídia foi utiliza<strong>da</strong> como instrumento de guerra pelos<br />
terroristas.<br />
De acordo com Neto (2002) e Eco (2002)<br />
Pelo clima de guerra criado, o terror vale-se <strong>da</strong> mídia para fomentar a sua própria<br />
“jihad”. É o marketing do terror que “jihadiza” a mídia.<br />
(...)<br />
O que fez a mídia senão cair na armadilha que lhe foi prepara<strong>da</strong> pelo marketing do<br />
terror? (NETO, 2002, p. 107-108).<br />
A repetição, nos dias seguintes aos atentados, até 200 vezes consecutivas, do<br />
choque dos aviões, por um lado paralisou o mundo, mas, por outro, contribuiu de<br />
forma determinante para aumentar – e com euforia – a simpatia e a provocação de<br />
vários grupos ligados ao terrorismo. Isso transformou Bin Laden numa espécie de<br />
super-homem capaz de tudo, o que aumentou e incentivou o recrutamento de<br />
novos camicases. (ECO apud NETO, 2002, p. 108)<br />
O poder midiático serviu como instrumento para despertar a atenção <strong>da</strong><br />
população à causa dos terroristas. O episódio reforçou o poder <strong>da</strong> imagem na<br />
produção dos sentidos. Quando se fala nos atentados de 11 de setembro de 2001,<br />
as cenas que nos vem à mente são as dos aviões se chocando com as torres do<br />
World Trade Center e suas estruturas sendo consumi<strong>da</strong>s pelas chamas. O<br />
atentado ao Pentágono, não raro, cai no esquecimento, num primeiro momento,<br />
entre outros fatores, por não se ter às imagens do avião destruindo suas<br />
estruturas. Arbex Jr. (2003a, p.23) complementa o raciocínio sobre a utilização<br />
estratégica dos meios de comunicação afirmando que “... a mídia, na era<br />
tecnológica, é um instrumento estratégico de guerra. (...) Ela é um elemento do<br />
terror”.<br />
Osama bin Laden pode ser classificado como agente do novo terrorismo.<br />
Incitando a prática terrorista de maneira transnacional e não mais local como as<br />
ações do IRA e do ETA. A Al Qae<strong>da</strong>, utilizando-se de maneira eficaz <strong>da</strong>s<br />
tecnologias de informação, produz o terrorismo organizado em rede. No caso do<br />
89
grupo Al Qae<strong>da</strong>, a Internet, os laptops, os passaportes múltiplos e as facili<strong>da</strong>des<br />
de transporte mundial tornaram possível a organização terrorista operar como uma<br />
enti<strong>da</strong>de virtual, fazendo eficiente uso do território organizado em rede, obtendo<br />
maior mobili<strong>da</strong>de e flexibili<strong>da</strong>de.<br />
Mas o terrorismo atual é diferente <strong>da</strong>s formas anteriores. E os atentados<br />
terroristas do dia 11 de setembro de 2001, simbolizam muito bem este novo<br />
terrorismo, em especial, pelo planejamento, objetivos, sua natureza globaliza<strong>da</strong> e<br />
uso inteligente <strong>da</strong> mídia.<br />
Neste aspecto, a Al Qae<strong>da</strong> é uma organização perfeitamente a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong> à era <strong>da</strong><br />
globalização com suas ramificações multinacionais, suas redes financeiras suas<br />
conexões com os meios de comunicação e informação, seus recursos<br />
econômicos, suas centrais de abastecimento, seus centros de formação, seus<br />
pólos humanitários, seus postos de propagan<strong>da</strong>, suas filiais e subfiliais...<br />
(RAMONET, 2003, p. 69)<br />
O velho terrorismo procurava eliminar figuras estratégicas do regime que<br />
combatia, evitando atingir inocentes. Já para o novo terrorismo não há inocentes,<br />
todos devem sofrer as conseqüências dos atos do regime sob o qual vivem e<br />
eventualmente apóiam. Nem mesmo as populações que, em tese, seriam<br />
"liberta<strong>da</strong>s" ou "esclareci<strong>da</strong>s" pelos terroristas são afinal inocentes que devem ser<br />
poupa<strong>da</strong>s; pois na lógica de sua argumentação existe a idéia de que "quem morre<br />
pela causa" deve se sentir glorificado. Além disso, a destruição de edifícios<br />
símbolos (como as torres do World Trade Center ou o Pentágono) e a matança de<br />
centenas ou milhares de pessoas é algo que chama a atenção <strong>da</strong> mídia e<br />
justamente esta é uma <strong>da</strong>s grandes preocupações do terrorismo <strong>da</strong> rede Al<br />
Qae<strong>da</strong>. Ele busca a cobertura por parte <strong>da</strong> mídia internacional, suas ações só têm<br />
sentido no contexto de socie<strong>da</strong>des democráticas onde a mídia em geral, e em<br />
especial a TV (que transmite imagens e sons e influencia uma parcela maior <strong>da</strong><br />
população), é livre e procura <strong>da</strong>r uma cobertura imediata aos acontecimentos<br />
considerados "quentes" ou de grande importância. Podemos até dizer que existe<br />
uma relação simbiótica entre o novo terrorismo e a nova mídia: ambos são<br />
globalizados e visam à opinião pública internacional (que logicamente é mais<br />
intensa e influente nos países desenvolvidos), sem a qual não existiriam; ambos<br />
90
preocupam-se com o sensacionalismo, com acontecimentos trágicos que têm que<br />
ser (re)produzidos constantemente para prender a atenção do público. Basta<br />
atentar para o fato de que, nos dias e semanas que se seguiram aos atentados<br />
terroristas nos Estados Unidos, algumas redes de televisão alcançaram altíssimos<br />
e atípicos índices de audiência em visível contraste com os preços <strong>da</strong>s ações <strong>da</strong>s<br />
empresas em geral que caíram bastante no mesmo período. A CNN que antes dos<br />
ataques aos Estados Unidos passava por séria crise, apostou alto na cobertura de<br />
guerra e, ancora<strong>da</strong> no estado de comoção pelo qual o país passava, a emissora<br />
bateu recordes de audiência, sendo <strong>da</strong>s poucas empresas midiáticas com ações<br />
em alta na Bolsa de Nova York após os atentados (Dorneles, 2003).<br />
As principais mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>des do novo terrorismo são as seitas ou<br />
organizações fun<strong>da</strong>mentalistas, apocalípticas e tradicionalistas. Essa é mais uma<br />
diferença essencial entre ele e o velho terrorismo. Este último, em especial o<br />
terrorismo anarquista, era de esquer<strong>da</strong> (e se considerava progressista) no sentido<br />
de lutar por igual<strong>da</strong>de social, de se opor violentamente não ao progresso em si,<br />
mas sim ao seu usufruto por somente uma minoria <strong>da</strong> população. Já o novo<br />
terrorismo é essencialmente conservador e, ao contrário do que muitos pensam, é<br />
radicalmente contrário aos ideais de igual<strong>da</strong>de e liber<strong>da</strong>de para todos. A bem <strong>da</strong><br />
ver<strong>da</strong>de, normalmente ele combate esses ideais democráticos, taxando-os de<br />
"ocidentais" (num sentido pejorativo) ou então de "artificiais" e "anti-naturais". O<br />
terrorismo <strong>da</strong> rede Al Qae<strong>da</strong> não está preocupado com as desigual<strong>da</strong>des<br />
internacionais ou com a pobreza ou a exclusão de inúmeros povos e, sim, com a<br />
ameaça a certos valores tradicionais (religiosos ou não) que considera absolutos:<br />
por exemplo, a superiori<strong>da</strong>de masculina e outros princípios de acordo com sua<br />
leitura do Islamismo, a destruição <strong>da</strong> ordem atual <strong>da</strong>s coisas com vistas à<br />
construção de um mundo novo alicerçado em determina<strong>da</strong>s crenças religiosas.<br />
Sem dúvi<strong>da</strong> que a situação precária dos palestinos, que piorou muito com os<br />
recentes governos de Israel e dos Estados Unidos, serviu como motivo mais<br />
imediato destes atos terroristas contra os estadunidenses, que foram praticados<br />
por grupos (uma ver<strong>da</strong>deira rede) extremistas islâmicos. Mas confundir isso com<br />
um protesto furioso contra a globalização ou contra as exclusões e desigual<strong>da</strong>des<br />
91
em geral, como foi feito à época, é confessar ignorância total sobre os<br />
fun<strong>da</strong>mentos de tais grupos terroristas e as suas motivações ou se utilizar <strong>da</strong> lente<br />
ideológica <strong>da</strong> miopia política para visualizar e apontar sofismas frente a um<br />
nevoeiro retórico 55 .<br />
Outro traço característico do terrorismo em rede é que ele não se limita a<br />
assassinatos ou explosões isola<strong>da</strong>s, que eram a tônica no velho terrorismo. Ele é<br />
global (convive e se alimenta <strong>da</strong> globalização) e dispõe de todo um sofisticado<br />
arsenal de financiamento e de artefatos: novos meios de destruição (químicos,<br />
biológicos, tecnológicos), contas bancárias numera<strong>da</strong>s na Suíça ou em "paraísos<br />
fiscais" e membros recrutados em vários países (e treinados em outros), alguns<br />
inclusive com um nível educacional elevado (pós-graduação ou até doutorado em<br />
microbiologia, química, eletrônica, sistemas de redes etc.). Ele é financiado tanto<br />
por contribuições dos membros e, principalmente dos simpatizantes (muitos dos<br />
quais milionários, pessoas muito bem inseri<strong>da</strong>s no sistema global e como também<br />
55 “Eu saúdo os atentados. Eles revelaram a fraqueza do imperialismo americano. Esses<br />
fun<strong>da</strong>mentalistas islâmicos estão liderando e vão liderar por muito tempo a luta antiimperialista”. As<br />
eufóricas palavras embebi<strong>da</strong>s em sangue de Armen Mamigonian (professor do Departamento de<br />
Geografia <strong>da</strong> USP que tem no comunismo sua orientação político-ideológica) proferi<strong>da</strong>s durante<br />
uma palestra são um exemplo <strong>da</strong>queles que adotaram como vingança (um popular “você<br />
mereceu”!) os atos terroristas de 11 de setembro de 2001. As ações terroristas contemplariam os<br />
anseios de substancial parcela do antiamericanismo. Os algozes do “Império” eram sau<strong>da</strong>dos<br />
como redentores. Mas esse discurso é opaco. A rede terrorista que orquestrou os atentados contra<br />
os Estados Unidos é conservadora e busca a consecução de um “Imperialismo Islâmico”. Por mais<br />
que se aclamem as violentas ações executa<strong>da</strong>s contra os Estados Unidos, a ideologia defendi<strong>da</strong><br />
pelo professor Armen Mamigoniam também não se avolumaria em um possível mundo regido<br />
pelas leis do fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico. O próprio regime Talebã no Afeganistão é um exemplo de<br />
como os valores democráticos são sepultados sobre os escombros de massacres e severas<br />
punições à população do país. O ex-líder do Irã, Aiatolá Khomeini, em carta endereça<strong>da</strong> ao então<br />
dirigente <strong>da</strong> União Soviética, Mikhail Gorbatchov, dez anos antes do fim do Império Soviético,<br />
sentenciou: “Em dez anos, o comunismo, essa perversão do espírito humano, terá desaparecido<br />
<strong>da</strong> face <strong>da</strong> Terra. Já o Islamismo, que prega o amor e não o ódio, prosseguirá em sua campanha<br />
vitoriosa, pois na<strong>da</strong> nem ninguém pode bloquear nossa fé”. Pelo raciocínio de Khomeini o<br />
comunismo não teria futuro promissor na arena política do Islamismo fun<strong>da</strong>mentalista. Contudo,<br />
Khomeini se engasga nas próprias palavras quando diz que o Islamismo prega o amor ao invés do<br />
ódio. De fato, como já mencionamos, o Islã original cativava sentimentos fraternos (e muitos<br />
seguidores ain<strong>da</strong> o fazem.). Mas a ala fun<strong>da</strong>mentalista que Khomeini representou até sua morte e<br />
os xiitas têm uma estrábica visão desses valores. O egípcio Sayyid Quttb, ideólogo do grupo<br />
Irman<strong>da</strong>de Muçulmana, é autor <strong>da</strong> obra Sinalizações <strong>da</strong> estra<strong>da</strong> (texto considerado a “bíblia” do<br />
terror islâmico). Nessa obra, Qutb dispara contra o comunismo: “Hoje, o marxismo foi derrotado no<br />
plano <strong>da</strong>s idéias, e não será exagero afirmar que nenhuma nação no mundo é ver<strong>da</strong>deiramente<br />
marxista. De maneira geral, essa teoria está em desacordo com a natureza e as necessi<strong>da</strong>des<br />
humanas. Essa ideologia só prospera em uma socie<strong>da</strong>de degenera<strong>da</strong>, ou em uma socie<strong>da</strong>de que<br />
se tornou acua<strong>da</strong> diante de alguma forma de ditadura prolonga<strong>da</strong>”. (Appud KAMEL, 2007, p. 206)<br />
92
em alguns casos pela associação com o tráfico de drogas). Ele dispõe do<br />
indispensável apoio de alguns Estados que os escondem ou até que permitem (ou<br />
financiam em parte) os seus campos de treinamento: como se sabe, nos anos<br />
recentes esse papel foi desempenhado, em maior ou menor proporção, pelo<br />
Sudão, Somália, Líbia, Síria, Iraque e Afeganistão. E o terrorismo global dispõe de<br />
novos e mais potentes instrumentos de ação: não somente os assassinatos e as<br />
explosões, mas também gases nocivos (como o sarim), agentes biológicos<br />
patogênicos (como o antraz) e talvez – desde que exista a aju<strong>da</strong> de algum Estado<br />
com essa tecnologia, material radioativo e no limite armamentos atômicos 56 .<br />
Devido à grande sofisticação dos atuais meios de destruição, que mais cedo ou<br />
mais tarde acabam ficando à disposição de grupos que têm recursos para adquirilos,<br />
o terrorismo torna-se, pelo menos potencialmente, ca<strong>da</strong> vez mais letal ou até<br />
catastrófico.<br />
3.6. Terrorismo na mídia: um contrato semântico polêmico<br />
“Foi o maior atentado terrorista <strong>da</strong> história”. Essa sentença foi amplamente<br />
divulga<strong>da</strong> por telejornais, sites, rádios e meios de comunicação impressos quando<br />
se reportavam aos atentados ocorridos nos Estados Unidos naquela fatídica<br />
manhã de terça-feira. Mesmo que no decorrer <strong>da</strong>s horas não se sabia a quem<br />
atribuir à culpa, o dia 11 de setembro de 2001 já tinha seu lugar assegurado na<br />
história.<br />
Floresceram críticas quanto à afirmação: Por que o 11 de setembro de 2001<br />
seria o maior ato terrorista <strong>da</strong> história? Outro embate semântico e político<br />
suscitado à época: os ataques sofridos pelos Estados Unidos foram atos de<br />
terrorismo? Acendendo a chama <strong>da</strong> provocação, Arbex Jr. (2003) e Steinberger<br />
(2005) questionam<br />
56 José William Vesentini. “Terrorismo e Nova Ordem Mundial - alguns comentários”. Texto que<br />
circulou na Internet em sites de Ciências Sociais em outubro de 2001, sem maiores referências.<br />
93
Ninguém esclareceu qual critério, exatamente, fez do atentado de 11 de setembro<br />
algo pior ou pelo menos mais grandioso do que, por exemplo, a destruição de<br />
Hiroxima (sic) e Nagasáqui (sic), em agosto de 1945; ou do que o ataque a<br />
instalações civis no Sudão, ordenado por Bill Clinton, em 24 de agosto de 1998<br />
(...) ou ain<strong>da</strong>, do que os bombardeios maciços dos Estados Unidos sobre as<br />
populações do Laos, Vietnã e Camboja nos anos 60 e 70, quando morreram pelo<br />
menos 3 milhões de civis. (ARBEX JR, 2003b, p. 49)<br />
O maior em número de vítimas? O maior em <strong>da</strong>nos e prejuízos causados? O<br />
maior relacionado ao “menos provável”? Como a mídia divulgou tais avaliações<br />
menos de 24 horas depois do ocorrido, quando muito pouco se sabia a respeito de<br />
vítimas e <strong>da</strong>nos? Qual a origem de tais modos de identificar e avaliar?<br />
(STEINBERGER, 2005, p. 225)<br />
Em entrevista à revista Veja, o consultor estadunidense para temas de<br />
combate ao terrorismo, Ian O. Lesser, ao responder tal questionamento afirma que<br />
É bastante possível. Certamente foram os mais dramáticos e letais <strong>da</strong> história<br />
moderna do terrorismo. A escala dos ataques foi catastrófica, mas não é<br />
comparável a um ataque nuclear de pequena escala nuclear numa área urbana.<br />
(LESSER, 2001, p. 14)<br />
Uma pista à polêmica pode ser acresci<strong>da</strong>: o que é terrorismo? Responder<br />
essa questão pode ser o primeiro passo para se chegar a uma conclusão.<br />
Embora a prática política do terrorismo seja antiga, o mesmo não acontece<br />
com o emprego <strong>da</strong> palavra para ilustrar tais atos. O verbete “terrorismo” foi<br />
empregado pela primeira vez para classificar o período de terror durante a<br />
Revolução Francesa ocorri<strong>da</strong> em 1789. O Dicionário <strong>da</strong> Academia Francesa, em<br />
sua edição de 1798, classifica o termo como “sistema ou governo baseado no<br />
terror”. Nesse período revolucionário, governos ditatoriais guilhotinaram doze mil<br />
pessoas de vários matizes ideológicos. O terrorismo entra na linguagem como<br />
“Terrorismo de Estado”, que já era sua forma quase exclusiva antes de seu<br />
“batismo ortográfico”.<br />
Embora seja uma palavra de uso disseminado, a definição de terrorismo é<br />
marca<strong>da</strong> pelo signo <strong>da</strong> controversa. A ONU procura desde a déca<strong>da</strong> de 1960<br />
conceituar de maneira precisa a expressão. A frustração deve-se, em parte, a<br />
interesses geopolíticos de muitos dos países que integram a organização. Afinal,<br />
94
os que são terroristas para uns podem ser considerados combatentes em prol <strong>da</strong><br />
liber<strong>da</strong>de para outros 57 .<br />
A definição de terrorismo adota<strong>da</strong> pela União Européia demonstra bem<br />
essa fragili<strong>da</strong>de. Ao conceituar que “ato terrorista é aquele que produz vítimas<br />
civis”, define-o de maneira ampla e vaga. Seguir este pensamento é como colocar<br />
na mesma teia de análises os atentados de 11 de setembro de 2001 e ações<br />
realiza<strong>da</strong>s por estu<strong>da</strong>ntes, pacifistas, operários e torcedores de futebol cujos<br />
movimentos de protestos resultassem em mortes involuntárias.<br />
Contribuindo com o assunto, Attali apud Neto (2001, p.22) classifica<br />
terrorismo como: “Antiqüíssima forma de violência política usa<strong>da</strong> por grupos<br />
ultraminoritários decididos a conquistar pela força o poder sobre determinado<br />
território”.<br />
As palavras de Attali jogam luz na discussão. Ao mencionar a utilização <strong>da</strong><br />
força política usa<strong>da</strong> por grupos ultraminoritários, torna mais clara e delimita<strong>da</strong> a<br />
proposta dos grupos terroristas.<br />
Assim sendo, é possível construir um consenso, mínimo que seja, sobre o<br />
que é terrorismo: o uso sistemático <strong>da</strong> violência para produzir uma atmosfera de<br />
medo em que seus adeptos acreditem que será possível alcançar determinado<br />
objetivo político.<br />
Ao considerarmos que os ataques perpetrados em 11 de setembro de 2001<br />
pelo grupo Al Qae<strong>da</strong> externaram cálculo, estratégia, almejando ferir a moral<br />
política e social dos Estados Unidos, sendo movidos por claros motivos de<br />
57 Ilustrando essa máxima, a revista Veja (2001, p. 112) atenta que: “Em um célebre discurso na<br />
ONU em 1974, o líder palestino Yasser Arafat defendeu a tese de que um povo que luta pela<br />
própria independência tem o direito de apelar para atos terroristas. Foi muito aplaudido. Impecável<br />
na teoria, o discurso de Arafat e o apoio que ele recebeu abriram a porta a abusos de to<strong>da</strong> ordem.<br />
Em dez anos o número de grupos terroristas de expressão mundial multiplicou-se por cinco”. Em<br />
11 de março de 2006, a Conferência de Madri teve como pauta o terrorismo. O então secretáriogeral<br />
<strong>da</strong> ONU, Kofi Anan, clamou à comuni<strong>da</strong>de internacional a conceber e adotar um novo tratado<br />
sobre o terrorismo, que tornará ilegal qualquer ataque a civis e estabelecerá diretivas para uma<br />
resposta coletiva à ameaça. Kofi Anan definiu o terrorismo como “Qualquer ato que tem como<br />
objetivo causar a morte ou provocar ferimentos graves em civis ou qualquer pessoa que não<br />
participa ativamente <strong>da</strong>s hostili<strong>da</strong>des numa situação que visa intimi<strong>da</strong>r a população ou compelir um<br />
governo ou uma organização internacional a fazer ou a deixar de fazer qualquer ato”. Para<br />
Chistopher Greenwood (London School of Economics – Londres) há “o grande risco de que sejam<br />
encontra<strong>da</strong>s soluções arbitrárias, que respon<strong>da</strong>m mais a interesses políticos do que à necessi<strong>da</strong>de<br />
real de enfrentar a ameaça terrorista internacional”. Fonte: Folha de São Paulo, 20/03/2006, p. A-<br />
24.<br />
95
intimi<strong>da</strong>ção, vislumbrando a população civil como alvo e fomentando pânico nas<br />
socie<strong>da</strong>des estadunidense e mundial, temos peças que se encaixam na definição<br />
anterior: as ações contra os Estados Unidos podem sim ser classifica<strong>da</strong>s como<br />
terroristas, embora não apenas esses atentados, e sim, todos aqueles que<br />
preenchem tais características, inclusive práticas políticas efetua<strong>da</strong>s pelos<br />
Estados Unidos ao longo do século XX.<br />
Contudo, <strong>da</strong> maneira como o termo é trabalhado, produzem-se sentidos<br />
diferenciados como nos alerta Dorneles (2003)<br />
O terrorismo no dicionário: 1) modo de impor a vontade pelo uso sistemático do<br />
terror; 2) emprego sistemático <strong>da</strong> violência para fins políticos, especialmente a<br />
prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de existente e a toma<strong>da</strong> do poder; 3) regime de violência instituído por um<br />
governo; 4) atitude de intolerância e de intimi<strong>da</strong>ção adota<strong>da</strong> pelos defensores de<br />
uma ideologia, sobretudo nos campos literário e artístico, em relação aos que não<br />
participam de suas convicções (Dicionário Houssais <strong>da</strong> língua portuguesa, p.<br />
2706).<br />
Mas a definição de terrorismo adota<strong>da</strong> pela imprensa é bem mais restrita.<br />
Massacres e crimes contra a humani<strong>da</strong>de praticados por um governo jamais são<br />
citados como “terrorismo”. Convencionou-se chamar de terrorista aquele que<br />
realiza atentados que não tem objetivo militar, mas sim como vítima a população<br />
civil. Porém, quando se trata de conflito do Oriente Médio, as definições, tanto dos<br />
dicionários como a convencional <strong>da</strong> imprensa, são utiliza<strong>da</strong>s de forma ideológica,<br />
com objetivos claramente políticos. (DORNELES, 2003, p. 259)<br />
Embora as palavras sejam explica<strong>da</strong>s no dicionário, nunca exprimem um<br />
único significado quando integram uma frase de determinado texto. Ca<strong>da</strong> órgão de<br />
imprensa utiliza o verbete de acordo com seu entendimento dessa violenta<br />
manifestação política. Isso somado ao uso consciente de determina<strong>da</strong>s palavras<br />
condiciona a produção de sentido que se queira causar no leitor. Visto que,<br />
São as palavras que explicam, ou tentam explicar, afinal a mortan<strong>da</strong>de refleti<strong>da</strong><br />
nas imagens dos telejornais e nas fotos estampa<strong>da</strong>s nos periódicos de todo o<br />
mundo.<br />
(...) As palavras pesam muito, e a luta por elas e em torno delas é intensa.<br />
(WAINBERG, 2005, p. 96-97)<br />
96
Segundo Burke (2007), há múltiplas maneiras de se definir terrorismo, to<strong>da</strong>s<br />
subjetivas. Vários exemplos ilustram este contraste semântico. A rede inglesa<br />
BBC impediu que seus correspondentes fizessem uso <strong>da</strong> palavra “terrorista”. Da<br />
mesma forma, o jornal estadunidense Minneapolis Star Tribune modificaria<br />
despachos do The New York Times alterando o vocábulo “terrorista” por<br />
“atacantes”. A imprensa árabe dispõe de rótulos para classificar os atos e atores<br />
que protagonizam a violência. Utilizam-se terroristas, suici<strong>da</strong>s e mártires, <strong>da</strong>ndo<br />
ênfase a este último termo. O jornal saudita Al-Sharq Al-Awsat prefere a<br />
expressão “atacantes suici<strong>da</strong>s”. (Wainberg, 2005)<br />
Na mídia brasileira o debate não é diferente, Wainberg (2005) ao comentar<br />
os sentidos atribuídos à expressão “terrorista” eluci<strong>da</strong> que<br />
O ombudsman <strong>da</strong> Folha de S. Paulo teria de intervir igualmente num debate<br />
similar sobre o tema. (...) diz que a Folha costuma usar o termo “terrorista” “para<br />
identificar grupos armados, como a Briga<strong>da</strong> de Mártires de Al Aqsa e o Hamas,<br />
que resistem à ocupação <strong>da</strong> Palestina por parte de Israel”. Na visão do jornal,<br />
expressa em Nota <strong>da</strong> Re<strong>da</strong>ção, “a Folha considera terroristas grupos que atacam<br />
civis de forma delibera<strong>da</strong>”. Ao debater a linguagem utiliza<strong>da</strong> nas notícias<br />
publica<strong>da</strong>s sobre o conflito entre as tropas israelenses e esses grupos, o<br />
ombudsman polemiza com a descrição do verbete “terrorista” do manual de<br />
re<strong>da</strong>ção do jornal, que orienta seus jornalistas a usar esse termo, e outros como<br />
“guerrilheiros”, “apenas em sentido técnico, evitando a carga ideológica positiva ou<br />
negativa”. O texto do manual é, na ver<strong>da</strong>de, bastante claro. Diz: “o termo terrorista<br />
se refere a indivíduos, organizações e governos (não a Estados) quando praticam<br />
ações violentas contra alvos civis, ain<strong>da</strong> que não de maneira exclusiva (podem<br />
eventualmente atingir alvos militares). Seus objetivos são essencialmente de<br />
propagan<strong>da</strong>, mesmo que mantenham retórica militar. Senão for possível aplicar<br />
esses critérios adequa<strong>da</strong>mente, empregue o termo extremista, que tem a<br />
desvantagem de ser menos preciso”.<br />
Aos olhos do ombudsman, “é praticamente impossível evitar esta carga ideológica”<br />
no termo “terrorista”. Ao pesquisar sobre o posicionamento de outros jornais<br />
brasileiros de referência sobre o tema, ele revela que O Estado de S. Paulo usa<br />
termos como “militantes”, “extremistas”, “radicais” para caracterizar os grupos<br />
palestinos, “para evitar cair no rótulo aplicado por um dos lados”. Diz o editor<br />
internacional de O Estado, Paulo Eduardo Nogueira, que “esse padrão é utilizado<br />
pela esmagadora maioria <strong>da</strong> imprensa de quali<strong>da</strong>de mundial”. A posição de O<br />
Globo, do Rio de Janeiro, varia. “Nós usamos o bom senso”, segundo a editora<br />
internacional Sandra Cohen, “de acordo com o fato que relatamos. Na maioria <strong>da</strong>s<br />
vezes, nós nos referimos ao Hamas e às Briga<strong>da</strong>s como grupos extremistas e<br />
radicais. Usamos o termo ‘terrorista’ para relatar atentados ou ações específicas<br />
leva<strong>da</strong>s a cabo por esses grupos contra a população civil em Israel”. (WAINBERG,<br />
2005, p. 100-101)<br />
97
Nesses rápidos exemplos, internacional e nacional, podemos ter a<br />
dimensão do amplo emprego <strong>da</strong> isotopia “terrorista” nos meios de comunicação.<br />
Escrita com as tintas <strong>da</strong> geopolítica e muito dissemina<strong>da</strong> após os ataques de 11<br />
de setembro de 2001, o uso <strong>da</strong> expressão “terrorismo” continha a superposição de<br />
vários níveis semânticos convertendo-se em uma pluri-isotopia. O sema<br />
estampava a ideologia do veículo que a empregava; externava o discurso de seu<br />
enunciador.<br />
3.7. Contextualização para entendimento<br />
A leitura <strong>da</strong> palavra é sempre precedi<strong>da</strong> <strong>da</strong> leitura do mundo.<br />
Paulo Freire<br />
Provavelmente, nunca se chegue a um consenso de que os atos terroristas<br />
de 11 de setembro de 2001 foram os maiores <strong>da</strong> história (ou se as ações <strong>da</strong> Al<br />
Qae<strong>da</strong> contra os Estados Unidos podem ser assim classifica<strong>da</strong>s). Entretanto, o<br />
episódio garantiu lugar cativo nas principais tragédias que macularam a<br />
humani<strong>da</strong>de. Se não foi o maior ataque em números de vítimas, é inquestionável a<br />
proeza em sua elaboração e seu poderoso apelo midiático. A astúcia dos<br />
terroristas e a ampla cobertura <strong>da</strong> mídia elevam o ataque de 11 de setembro de<br />
2001 ao funesto pódio de um dos maiores atentados já produzidos pela mente<br />
humana até os dias atuais. Se foram ações terroristas, não foram as únicas; se foi<br />
a maior em estratégia e apelo midiático, não foi a maior em número de civis<br />
mortos... Embora com características diferencia<strong>da</strong>s, um fator se faz presente em<br />
qualquer ação dessa natureza: a intimi<strong>da</strong>ção e sacrifício <strong>da</strong> população civil em<br />
honra de determinados valores.<br />
O flagelo sofrido pelos Estados Unidos inaugura o “batismo de fogo” do<br />
novo terrorismo. As interrogações são frutos <strong>da</strong> multiplici<strong>da</strong>de de análises e<br />
distintas interpretações como corrobora Arbex Jr. (2003b)<br />
98
Claro: sempre se poderá dizer que uma coisa é um ato armado por um grupo<br />
terrorista contra alvos civis; outra coisa são os “atos de guerra” determinados por<br />
um Estado, outra coisa, ain<strong>da</strong>, é o funcionamento de uma certa ordem econômica,<br />
que na<strong>da</strong> tem a ver com a intenção de matar alguém (se as crianças morrem, é<br />
porque as coisas são assim mesmo, ora bolas). Essa argumentação é, no mínimo,<br />
questionável.<br />
Primeiro, porque, do ponto de vista <strong>da</strong> vítima civil inocente, tanto faz se o sujeito<br />
que disparou a bomba foi Osama bin Laden, estu<strong>da</strong>ntes <strong>da</strong> Briga<strong>da</strong> Vermelha,<br />
militantes do ETA basco ou algum burocrata confortavelmente instalado na Casa<br />
Branca; segundo, porque, mesmo que se considerasse a hipótese de separar<br />
“terrorismo” de “atos de guerra” (embora ataque a populações civis não se<br />
enquadre em nenhuma <strong>da</strong>s convenções sobre atos de guerra aprova<strong>da</strong>s pelas<br />
Nações Uni<strong>da</strong>s), ain<strong>da</strong> assim teríamos de considerar que os atentados terroristas,<br />
como o 11 de setembro, acontecem como resultado de uma história concreta de<br />
horror, repleta de “atos de guerra” que banalizaram ao extremo a violência e<br />
reduziram a visão humana a na<strong>da</strong>; terceiro, porque, políticas econômicas não<br />
“caem do céu”, mas são orquestra<strong>da</strong>s por seres humanos com interesses<br />
específicos (...) No mínimo, portanto, teria de ser dito e repetido que “o maior<br />
atentado terrorista <strong>da</strong> história” faz parte de uma tradição sedimenta<strong>da</strong> ao longo do<br />
século 20, que inclui o Gulag stalinista, Auschwitz, Hiroxima (sic), Vietnã etc.<br />
(ARBEX JR. 2003b, p. 52-53).<br />
O discurso de Arbex Jr. entoa as idéias de Durkheim (2006) no tocante a<br />
fatos históricos e sociais. Fatos históricos são grafados por sua singulari<strong>da</strong>de, são<br />
únicos, não se repetem e causam grande impacto na socie<strong>da</strong>de devido a sua<br />
excepcionali<strong>da</strong>de. Os fatos sociais, por sua vez, estão no cotidiano de ca<strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de, são ações perpetra<strong>da</strong>s em suas práticas políticas ao longo de sua<br />
história. Assim, o 11 de setembro de 2001 caracteriza-se por ser um fato histórico<br />
– a história registra diversos atentados, mas apenas um 11 de setembro de 2001.<br />
Mas ações <strong>da</strong> magnitude dos ataques contra os Estados Unidos não acontecem<br />
por acaso, decorrem <strong>da</strong> insatisfação e de conflitos ideológicos presentes na arena<br />
política internacional (“história concreta de horror, repleta de ‘atos de guerra’ que<br />
banalizaram ao extremo a violência”, nos dizeres de Arbex Jr.). Os fatos sociais<br />
diários como os conflitos no Oriente Médio, as políticas unilaterais dos Estados<br />
Unidos frente a outros países, vão sedimentando as estruturas do edifício<br />
terrorista, até se materializar em atos como os <strong>da</strong> rede Al Qae<strong>da</strong> em setembro de<br />
2001.<br />
99
Analisar um acontecimento histórico é condição primeira para superar a<br />
simplificação dos fatos. Pode não ser tarefa fácil libertar-se de conceitos<br />
previamente concebidos. Entretanto, goste-se ou não, é um exercício de análise,<br />
além de necessário, honesto e de bom senso.<br />
No pensamento kantiano, o real para o homem é o que ele organiza, ou<br />
seja, a linguagem não é uma tradução do real mas uma organização dele. A<br />
simplificação <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de é enganosa; eficiente quando se pretende ocultar fatos,<br />
mortal quando se quer ter visão panorâmica dos acontecimentos e consistente<br />
compreensão de um evento. Endossando esse pensamento, Steinberger (2005, p.<br />
89) afirma que: “Quando falta contextualização a uma notícia, por exemplo, o leitor<br />
pode se ressentir de uma compreensão precária”.<br />
Não raro as notícias são afeta<strong>da</strong>s pela carência de localização temporal.<br />
São relata<strong>da</strong>s como se não tivessem causas passa<strong>da</strong>s nem efeitos futuros.<br />
Brotam como fatos pontuais, às vezes sem continui<strong>da</strong>de no tempo, sem origem e<br />
sem conseqüências. Existem enquanto forem objetos de transmissão e deixam de<br />
existir se não mais forem transmitidos. Ofertam o mundo inteiro em um instante,<br />
mas o fazem de tal maneira que o “mundo real, holístico” desaparece, restando<br />
apenas fragmentos de uma reali<strong>da</strong>de desprovi<strong>da</strong> de raiz no tempo e no espaço.<br />
Os usos referentes à expressão “terrorismo”, o conhecimento do mundo islâmico,<br />
as políticas externas, sobretudo a dos Estados Unidos, ao longo <strong>da</strong> história, são<br />
elementos indispensáveis para que, de posse do bom senso, emitamos juízo<br />
sobre determinados acontecimentos. A contextualização dos fatos no propicia, em<br />
princípio, essa condição analítica.<br />
A conseqüência natural desse sistema é que, ao apresentar retratos dos fatos de<br />
forma isola<strong>da</strong> e descontextualiza<strong>da</strong>, os meios informativos simultaneamente<br />
negam ao seu consumidor uma apreensão mais completa <strong>da</strong> notícia e produzem<br />
uma percepção altera<strong>da</strong> dos acontecimentos ao longo do tempo – e por<br />
decorrência do fluxo <strong>da</strong> história –, ao gerar uma falsa sucessão de fatos novos e<br />
independentes. (SERVA, 2001, p. 126)<br />
As notícias produzem sentidos, expõem valores, transformam-se em<br />
instrumentos geopolíticos. Os extratos presentes em uma reportagem não devem<br />
ser entendidos como um fim em si. A redução de um fato cria uma barreira ao seu<br />
100
pleno entendimento, gerando assim a “desinformação funcional” 58 (Serva, 2001).<br />
Se somos parte de um processo histórico, não é possível nos situarmos fora dele.<br />
O que nos resta é a consciência desse procedimento e a interpretação do que nos<br />
condiciona como seres no mundo.<br />
É preciso pensar a comunicação em seu contexto, ou seja, entender que não há<br />
comunicação sem socie<strong>da</strong>des e são esses contextos sociais que, muitas vezes,<br />
dão sentido, cor e especifici<strong>da</strong>de a procedimentos de comunicação aparentemente<br />
padronizados. (WOLTON, 2004, p. 119-120)<br />
Dependendo do receptor, um mesmo fato pode ter várias interpretações,<br />
não raro, divergentes e antagônicas. Segundo Diniz & Zaniratto (2002): “... tudo no<br />
mundo é representação. Ca<strong>da</strong> indivíduo interpreta os fatos segundo seus filtros<br />
perceptivos, ou seja, sua maneira de ver e julgar”. Assim, qualquer interpretação<br />
deve ser contextualiza<strong>da</strong> para uma melhor análise. Mesmo porque, um fato não<br />
existe isola<strong>da</strong>mente, é resultante de uma série de eventos.<br />
A compreensão plena de fatos históricos como os ataques aos Estados<br />
Unidos em 11 de setembro de 2001 passa pela contextualização. Ao<br />
contextualizarmos, expandimos as teias de análise; munimo-nos do mínimo<br />
necessário para alimentarmos nossa percepção. Os ataques contra os Estados<br />
Unidos não podem ser reduzidos unicamente à destruição ou <strong>da</strong>nificação de<br />
edificações, e nem mesmo ao óbito de grande número de pessoas. Trata-se de<br />
ações simbólicas, dota<strong>da</strong>s de sentidos. Nesse raciocínio, é preciso ir além do 11<br />
de setembro de 2001 como evento bárbaro e isolado, cujos responsáveis devem<br />
ser combatidos a todo custo, e analisá-lo como parte de um processo maior num<br />
contexto histórico complexo. Os atentados resultaram de um complexo<br />
emaranhado de razões históricas, sociológicas, econômicas, religiosas...<br />
A proeza em nossos dias não é mais ter acesso aos acontecimentos, mas,<br />
acima de tudo, entendê-los. Os amargos frutos <strong>da</strong>s ações terroristas foram<br />
semeados e colhidos no solo <strong>da</strong> história. Assim sendo, não podemos nos afastar<br />
58 Para Serva (2001, p. 71): “A desinformação funcional (...) corresponde a um fenômeno definido<br />
pelo fato de que as pessoas consomem informações através de um ou mais meios de<br />
comunicação, mas não conseguem compor com tais informações uma compreensão do mundo ou<br />
dos fatos narrados nas notícias que consumiram”.<br />
101
desse instrumento de análise sob pena de um diagnóstico empobrecido. É pela<br />
memória que se puxam os fios <strong>da</strong> história. O rompimento dessa capilari<strong>da</strong>de<br />
produz mais calor do que luz.<br />
102
CAPÍTULO 4:<br />
COBERTURA DOS ATENTADOS CONTRA OS ESTADOS UNIDOS<br />
EM 11 DE SETEMBRO DE 2001 EM QUATRO VEÍCULOS DA MÍDIA<br />
IMPRESSA BRASILEIRA<br />
4.1. Valor e efeito de ver<strong>da</strong>de no universo midiático<br />
As mídias não são a própria democracia, mas são<br />
o espetáculo <strong>da</strong> democracia.<br />
Patrick Charaudeau<br />
Reportagem é a melhor versão <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de<br />
possível de se obter.<br />
Carl Bernstein<br />
Uma mesma música pode ser toca<strong>da</strong> com outras partituras, ain<strong>da</strong> mais na<br />
sinfonia polissêmica regi<strong>da</strong> pelos meios de comunicação. Afinal,<br />
Polissêmica é a análise crítica e reflexiva do texto e, mais, o enunciado de um<br />
juízo sobre ele. Passa-se <strong>da</strong> impressão subjetiva para significações mais<br />
profun<strong>da</strong>s do texto, realizando um detalhamento inventário dele. Que tipo de<br />
juízo? Sempre um juízo semiótico, isto é, amparado no jogo significante,<br />
conduzindo por processos semiológicos. A leitura semiológica é sempre descobrir,<br />
desentranhar uma situação-problema a partir <strong>da</strong> questão do signo. É por isso que<br />
certas questões que dizem respeito à natureza e aos estudos dos signos são<br />
também referentes à natureza e ao estudo dos textos. (PERUZZOLO, 2004,<br />
p.123)<br />
Em ambientes democráticos, a plurali<strong>da</strong>de de opiniões é regra, um direito.<br />
Segundo Wolton (2004, p. 18) “não há comunicação sem democracia, e ambas<br />
estão liga<strong>da</strong>s”. O caleidoscópio democrático produz a sadia multiplici<strong>da</strong>de de<br />
opiniões que, quando transpostas às mídias, garantem à socie<strong>da</strong>de um farto<br />
103
cardápio de notícias e análises dos mais diversos matizes. Assim, um<br />
acontecimento único é registrado e interpretado de múltiplas maneiras 59 .<br />
Sabemos, <strong>da</strong> mecânica quântica, que o olhar do observador altera a trajetória até<br />
mesmo de um elétron. Não apenas o olhar do observador é seletivo quanto ao<br />
evento presenciado, como ao relatar um evento o observador seleciona,<br />
hierarquiza, ordena informações expostas, fazendo aí interferir as suas estratégias<br />
de narração. Mesmo a mais impessoal de to<strong>da</strong>s as narrativas, a demonstração de<br />
um teorema, não é feita de maneira idêntica por dois matemáticos: eles seguem<br />
caminhos distintos para demonstrar o mesmo teorema, e nisso se revela seu<br />
estilo. (ARBEX JR., 2001a, p. 106-107)<br />
É próprio do ser humano ter a sua ver<strong>da</strong>de entre as ver<strong>da</strong>des que o<br />
cercam. Ver<strong>da</strong>des estas, que norteiam sua existência e, de certa forma, dirigem<br />
sua conduta. Contudo, muitos fazem de sua ver<strong>da</strong>de “a ver<strong>da</strong>de”, como algo<br />
inquestionável, um dogma, o que estreita a compreensão do mundo, então ca<strong>da</strong><br />
nação, ca<strong>da</strong> indivíduo tem sua concepção de valores e, essa concepção é<br />
materializa<strong>da</strong> por suas crenças e ver<strong>da</strong>des.<br />
Recorrer às mídias é quase um lugar-comum quando sentimos carência<br />
sobre determina<strong>da</strong> informação. Utilizando os veículos midiáticos, procuramos<br />
através do seu discurso, saciar a sede por melhores informações. To<strong>da</strong>via, não<br />
podemos nos esquecer que os conteúdos veiculados na mídia são um recorte,<br />
uma versão dos acontecimentos em forma de notícias. Nem sempre os discursos<br />
<strong>da</strong> mídia diluem-se na mesma interpretação que temos sobre determinados<br />
eventos. Descrever um fato é ao mesmo tempo interpretá-lo. O efeito <strong>da</strong><br />
subjetivi<strong>da</strong>de jornalística choca-se, muitas vezes, com a compreensão que temos<br />
dos fatos e de nossa concepção de mundo. Assim, o edifício <strong>da</strong> contradição é<br />
erguido nos controversos pilares <strong>da</strong> “forma que desinforma” (Serva, 2001).<br />
Na concepção de Charaudeau (2006) a ver<strong>da</strong>de se estrutura em dois<br />
vértices: valor de ver<strong>da</strong>de e efeito de ver<strong>da</strong>de. Para o intelectual francês, o valor<br />
de ver<strong>da</strong>de se caracteriza por construir algo ver<strong>da</strong>deiro, exterior ao homem,<br />
baseado na construção explicativa com auxílio <strong>da</strong> instrumentalização científica,<br />
59<br />
Essa questão foi detalha<strong>da</strong> no Capítulo 1: A comunicação, o bom senso e a pesquisa (Item: 1.1.<br />
A notícia e teia social, p.23).<br />
104
tornando-se real pela evidência mesmo que se discorde quanto à avaliação <strong>da</strong>s<br />
causas que os produziram. Já o efeito de ver<strong>da</strong>de aflora <strong>da</strong> subjetivi<strong>da</strong>de do<br />
sujeito em contato com o mundo, como o ser humano interpreta os<br />
acontecimentos a sua volta, almejando a conquista de credibili<strong>da</strong>de.<br />
Ao aplicarmos esses conceitos em nossa pesquisa, temos os atentados<br />
terroristas sofridos pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 como um<br />
valor de ver<strong>da</strong>de já que sua ocorrência é inquestionável. Bilhões de pessoas<br />
puderam acompanhar ao vivo o choque do segundo avião na Torre Sul do World<br />
Trade Center e posterior que<strong>da</strong> <strong>da</strong>s Torres Gêmeas e observar parte <strong>da</strong>s<br />
estruturas do Pentágono arder em chamas.<br />
No entanto, os discursos produzidos pela mídia para explicar a ação<br />
terrorista se transformam em efeitos de ver<strong>da</strong>de. Os textos seriam redigidos e<br />
publicados segundo as lentes subjetivas tão comuns no meio jornalístico,<br />
materializando uma guerra de discursos. Ca<strong>da</strong> veículo midiático produziu a sua<br />
“ver<strong>da</strong>de” sobre as práticas terroristas sofri<strong>da</strong>s pelos Estados Unidos. Ca<strong>da</strong> leitor<br />
compreenderia as notícias pelo filtro <strong>da</strong> sua “ver<strong>da</strong>de”. Segundo Wolton (2004, p.<br />
289): “Falar ao mesmo tempo <strong>da</strong> mesma coisa, <strong>da</strong> mesma maneira, não é mais<br />
obrigatoriamente uma prova de ver<strong>da</strong>de”.<br />
As mídias, no papel de enunciadoras, ao realizarem o fazer persuasivo,<br />
pretendem obter a credibili<strong>da</strong>de do enunciatário (receptor), ou seja, fazer com que<br />
este acredite e aceite a veraci<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s notícias veicula<strong>da</strong>s (o produto). Seduzido<br />
pelos argumentos persuasivos do enunciador, o enunciatário é levado a<br />
considerar como ver<strong>da</strong>de inquestionável os conteúdos noticiados. A partir do<br />
momento que o enunciatário recebe o enunciado (as notícias) e crê em sua<br />
autentici<strong>da</strong>de, um tratado de confiança é estabelecido com o enunciador e o<br />
contrato fiduciário é assinado.<br />
Passa<strong>da</strong> a tormenta inicial, os dias seguintes construiriam novos retratos<br />
sobre os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O imediatismo somado<br />
a grandiosi<strong>da</strong>de dos fatos estabeleceram ruído no processo de comunicação num<br />
primeiro momento.<br />
105
A mídia impressa dispôs de maior tempo para colher e construir análises<br />
em relação às ações terroristas. As revistas semanais chegariam às bancas<br />
quatro dias após o ataque sofrido pelos Estados Unidos. As mensais, nos<br />
primeiros dias de outubro. Os feitos planejados por Osama bin Laden e seus<br />
artífices praticamente monopolizaram a pauta dos meios de comunicação.<br />
Percebia-se que, frente à estrondosa ação, um fim de semana, um mês não<br />
seriam suficientes para esgotar o assunto.<br />
O 11 de setembro de 2001 já tinha cadeira cativa reserva<strong>da</strong> na história.<br />
Agora, era chegado o momento de compreender os motivos que garantiram tal<br />
posição para os terroristas. Recorrer às mídias era inevitável para se obter as<br />
informações que guiassem os turvos caminhos surgidos após a poeira dos<br />
escombros se assentarem. Embora a poeira houvesse se dissipado, ain<strong>da</strong> pairava<br />
no ar nuvens de incertezas. Invocar-se-ia a “Lei do Talião” contra os atores do<br />
terror? Quais as primeiras medi<strong>da</strong>s do presidente George W. Bush para subtrair o<br />
medo e anseios <strong>da</strong> população dos Estados Unidos? Os terroristas acenderam o<br />
estopim que eclodiria a Terceira Guerra Mundial?<br />
Na reposta dessas e de outras questões a mídia assumiria função vital. Era<br />
à imprensa que a socie<strong>da</strong>de recorreria para se alimentar de novas informações<br />
sobre a orquestração terrorista. Enquanto as emoções afloravam por todos os<br />
poros, a mídia estadunidense ancora<strong>da</strong> na ideologia bélica de seu presidente, já<br />
deixava claro seu posicionamento.<br />
George W. Bush não inventou o controle <strong>da</strong> mídia, não foi o precursor na política<br />
de supremacia dos Estados Unidos, não foi o primeiro a promover guerras<br />
mantendo a imprensa contra a parede, não foi o único a bombardear outros povos<br />
para aumentar o prestígio junto à população e nem foi o arauto do desrespeito às<br />
organizações internacionais.<br />
Mas George W. Bush certamente foi o primeiro a fazer tudo isso ao mesmo tempo<br />
e com tamanha eficiência. O 11 de setembro, e seus horrores, deu a Bush<br />
condições de implantar seu projeto político de maneira mais rápi<strong>da</strong>. A mídia<br />
colaborou intimamente.<br />
A imprensa pediu guerra e foi atendi<strong>da</strong>. Ignorou massacres, desrespeito aos<br />
direitos humanos e às liber<strong>da</strong>des individuais, a destruição de um país miserável<br />
pela maior potência militar do planeta e deu vazão ao patriotismo como senha<br />
para a obediência ao poder. Numa guerra em que os americanos jamais<br />
combateram em solo, a mídia descreveu um conflito diferente, muito mais limpo e<br />
heróico.<br />
106
(...)<br />
A imprensa gosta de guerra, mesmo de uma como a do Afeganistão: guerra de<br />
press-release, de transcrição de informes do Pentágono, de fontes de um lado só.<br />
Guerra em que a imprensa foi sempre uma espectadora passiva. E foi algumas<br />
vezes por passivi<strong>da</strong>de e outras tantas por cumplici<strong>da</strong>de que a imprensa fez a<br />
cobertura que interessava ao governo americano. Mesmo que o governo dos<br />
Estados Unidos estivesse sendo coman<strong>da</strong>do por um homem que iria à guerra de<br />
qualquer maneira, a imprensa americana tomou a frente desde o início, assumindo<br />
uma posição belicista e criticando a “lentidão” <strong>da</strong> resposta 60 . (DORNELES, 2003,<br />
p. 17-27)<br />
Os semas disfóricos contra a atuação <strong>da</strong> mídia estadunidense assinalados<br />
por Dorneles (2003) encontrariam eco na mídia de outros países. Os Estados<br />
Unidos, vítima principal dos atos de setembro, também seriam alvos de críticas<br />
por parte <strong>da</strong> imprensa. Ca<strong>da</strong> mídia, ao seu modo, reportou os fatos. A construção<br />
do discurso e a produção de sentidos externa<strong>da</strong> será o cerne <strong>da</strong>s análises na<br />
romaria midiática informação x desinformação.<br />
4.2. Identi<strong>da</strong>de, cultura e a construção <strong>da</strong> notícia: o caso do Islamismo<br />
A notícia é a matéria-prima do jornalismo; sendo narração do acontecido,<br />
sua construção é afeta<strong>da</strong> pelo olhar do observador e sua trama envolve<br />
personagens que dão vi<strong>da</strong> ao texto.<br />
A repercussão dos atentados de 2001 contra os Estados Unidos, tendo o<br />
Islamismo como fio condutor, povoou as páginas <strong>da</strong> mídia impressa. A religião<br />
cria<strong>da</strong> pelo profeta Maomé, juntamente com inúmeras interpretações sobre os<br />
ataques a Nova York e Washington, agen<strong>da</strong>ram as pautas <strong>da</strong>s re<strong>da</strong>ções.<br />
Os enredos produzidos seguem a toa<strong>da</strong> “nós” e os “outros”. Frente aos<br />
atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, substancial parcela <strong>da</strong> mídia<br />
reforçou esteriótipos contra o mundo islâmico, não raro, homogeneizando to<strong>da</strong><br />
uma manifestação cultural.<br />
60 Um exemplo dessa tendência fica clara na entrevista do âncora Dan Rather a David Letterman<br />
nos dias seguintes aos atentados. Ambos os jornalistas não contribuíram para o telespectador<br />
compreender a razão <strong>da</strong>s tenebrosas ações contra os Estados Unidos. Foram ao ar críticas à<br />
inveja árabe em relação ao padrão de vi<strong>da</strong> dos estadunidenses, versos patrióticos e profissões de<br />
fé ao país. Tudo isso temperado com soluços e lágrimas. Essa questão foi detalha<strong>da</strong> no Capítulo<br />
2: O dia 11 de setembro de 2001, o jornalismo em tempo real e o alinhamento midiático (Item: 2.4.<br />
Doutrina Bush, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque e o recrutamento <strong>da</strong> mídia, p.57).<br />
107
Quanto a isso, Said (2003) adverte que<br />
(...) não há um único Islã, mas vários. A diversi<strong>da</strong>de é uma característica de to<strong>da</strong>s<br />
as tradições, religiões ou nações, mesmo que alguns de seus membros tenham<br />
futilmente tentado traçar fronteiras ao ser redor e demarcar o seu credo. (SAID,<br />
2003, p. 138)<br />
A compreensão do Islamismo passa, necessariamente, pelo conhecimento<br />
de outra cultura, de povos que forjaram sua identi<strong>da</strong>de em contratos sociais<br />
diferentes <strong>da</strong>queles impressos em outras socie<strong>da</strong>des. A cultura é uma lente pela<br />
qual o homem vê o mundo (Laraia, 2005). Assim,<br />
... as reali<strong>da</strong>des não são as mesmas vistas de ângulos diferentes. Elas são<br />
diferentes porque construí<strong>da</strong>s com relações conceituais e em situações<br />
comunicacionais diferentes. (PERUZZOLO, 2004, p. 208)<br />
A identi<strong>da</strong>de constitui-se em uma importante fonte de significado e<br />
experiência de um povo. Trata-se de um processo de construção de sentidos com<br />
base em um atributo cultural, ou ain<strong>da</strong>, um conjunto de atributos culturais inter-<br />
relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de significado.<br />
(Castells, 2000a). Mesmo em determina<strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de possuindo sua característica<br />
cultural, não se descarta a conexão com outras, uma vez que: a “afirmação de<br />
identi<strong>da</strong>de não significa necessariamente incapaci<strong>da</strong>de de relacionar-se com<br />
outras identi<strong>da</strong>des...” (CASTELLS, 2002, p. 58). Assim sendo, no universo <strong>da</strong>s<br />
ciências sociais, e ampliando-se aos meios de comunicação, a noção de<br />
identi<strong>da</strong>de cultural se caracteriza por sua polissemia e fluidez.<br />
Baccega (1998) relata que as mediações constroem os mais diversos<br />
sentidos. Houve um reforço <strong>da</strong> categorização sobre os islâmicos após os atos<br />
terroristas de 11 de setembro de 2001. Parte substancial <strong>da</strong> imprensa associou<br />
uma manifestação cultural como sinônimo de terrorismo. Prova disso é que os<br />
islâmicos cunharam a expressão “islamofobia” para mostrar o auto grau de<br />
racismo existente na mídia do Reino Unido 61 .<br />
61 O periódico inglês The Guardian, foi um dos poucos jornais no mundo ocidental que procurou<br />
resistir ao rolo compressor <strong>da</strong> mídia dos Estados Unidos, inclusive tecendo críticas a on<strong>da</strong> de<br />
“islamofobia” em seu país.<br />
108
O jornalista Tim Gopssil citado por Fraga (2004, p. A-21) afirma que “sem<br />
dúvi<strong>da</strong> há racismo na mídia britânica contra minorias étnicas”. Para minimizar o<br />
fato foram edita<strong>da</strong>s cartilhas que objetivam fornecer para jornalistas informações<br />
sobre a cultura islâmica. A intenção é que preconceito não seja o delineador dos<br />
textos que citam o universo muçulmano 62 .<br />
A jornalista italiana Oriana Fallaci mirou sua fúria contra islâmicos de<br />
maneira indiscrimina<strong>da</strong> admitindo a superiori<strong>da</strong>de <strong>da</strong> civilização ocidental sobre a<br />
islâmica até no conjunto arquitetônico ao bra<strong>da</strong>r que: “Nossas igrejas e catedrais<br />
são mais belas que suas mesquitas”. Guia<strong>da</strong> por sua posição altamente disfórica<br />
ampara<strong>da</strong> no preconceito, a jornalista italiana seguia em frente contra o<br />
Islamismo.<br />
Mas só quando seu livro foi publicado ficou conheci<strong>da</strong> to<strong>da</strong> a extensão do<br />
pensamento racista <strong>da</strong> jornalista. Ela chamou os imigrantes muçulmanos na<br />
Europa de “delinqüentes, violadores, prostituídos e portadores de Aids”. E mais:<br />
“Eles urinam nos batistérios e multiplicam-se como ratos”. O Corão, ela chamou de<br />
livro “abjeto”, que jamais pregou outra coisa “a não ser o ódio”. (DORNELES,<br />
2003, p. 154)<br />
Esse equívoco também germinou em solo brasileiro. Segundo informações<br />
de Casado (2001, p. 102), os atentados em Nova York e Washington acentuaram<br />
a discriminação contra os muçulmanos. Carolina Raad, de 20 anos, foi agredi<strong>da</strong><br />
em Foz do Iguaçu. Tal fato ilustra o sentido que a religião maometana provoca(va)<br />
em algumas pessoas alimenta<strong>da</strong>s pela desinformação. Jogando luz no fato,<br />
Cuche (1999, p. 177) nos diz que: “a identi<strong>da</strong>de social é ao mesmo tempo inclusão<br />
e exclusão”.<br />
A prática de discursos disfóricos sobre o mundo islâmico acabaria sendo<br />
uma constante. Não seria a primeira vez que se reportaria aos árabes (quase<br />
62 Segundo a versão online do jornal The NYT News Servive de 22/06/07, o Reino Unido quer<br />
proibir o uso de véus muçulmanos. Está ca<strong>da</strong> vez mais comum ver as mulheres muçulmanas do<br />
Reino Unido levando os filhos às escolas ou an<strong>da</strong>ndo pelas ruas cobertas, <strong>da</strong> cabeça aos pés,<br />
com vestes negras esvoaçantes que só contam com uma estreita abertura para os olhos. Algumas<br />
<strong>da</strong>s mulheres, especialmente as jovens, que adotaram a vestimenta recentemente, admitem que o<br />
traje é uma expressão direta de identi<strong>da</strong>de islâmica, que elas adotaram após o 11 de setembro de<br />
2001, como forma de rebelião contra as políticas do governo do ex-primeiro ministro Tony Blair no<br />
Iraque e no Reino Unido.<br />
109
sempre travestidos de “maus” pelo inconsciente coletivo) a culpa por atos dessa<br />
natureza como comenta Arbex Jr. (1996)<br />
Em 19 de abril de 1995, um atentado a bomba destruiu completamente um edifício<br />
na ci<strong>da</strong>de de Oklahoma, Estados Unidos, causando a morte e ferimento de<br />
centenas de pessoas. Fora, até aquela <strong>da</strong>ta, o pior ato terrorista praticado em<br />
território americano. Imediatamente após as primeiras notícias sobre a tragédia, os<br />
meios de comunicação (a televisão, o rádio e depois jornais impressos) passaram<br />
a especular sobre quem teriam sido os responsáveis. Surgiram, então, relatos de<br />
testemunhas que teriam visto perto do local pessoas “com aparência de árabes” –<br />
homens de estatura mediana, cabelos e barbas negros, olhos castanhos – mais ou<br />
menos na hora que a bomba explodiu.<br />
Em pouco tempo, disseminou-se na opinião pública a “certeza” de que o atentado<br />
fora planejado e executado por uma dessas seitas de “fanáticos muçulmanos que<br />
estão espalhando terror pelo mundo”. Dois dias após o atentado, políticos,<br />
jornalistas e intelectuais americanos já clamavam por “atos punitivos” dos Estados<br />
Unidos contra “países que dão cobertura aos grupos fun<strong>da</strong>mentalistas fanáticos”,<br />
em particular, como sempre, Irã e Líbia. Muita gente ficou decepciona<strong>da</strong> quando a<br />
polícia constatou, quatro dias depois, que nenhum islâmico estava envolvido no<br />
atentado. O ato terrorista fora integralmente planejado e praticado por um grupo<br />
genuinamente americano...<br />
(...) Não surpreenderia ninguém, por exemplo, a descoberta de que o atentado de<br />
Oklahoma fora obra de um certo Hassam ou Ibrahim; mas causou surpresa a<br />
prisão de Timothy McVeigh...<br />
“Queríamos que fossem estrangeiros, iranianos, iraquianos, não importa, mas<br />
jamais um americano”. (Frase do lojista Nick Pagoins, de Oklahoma). O<br />
preconceito aparece quando se observa que todos os estrangeiros citados pelo<br />
lojista são de países de maioria islâmica. (ARBEX JR., 1996, p. 07-08)<br />
É de conhecimento geral que a moderni<strong>da</strong>de tem seu quebra-vento em<br />
países islâmicos – embora algumas medi<strong>da</strong>s ilustram que um fecho de luz começa<br />
a penetrar pelas brechas <strong>da</strong>s paredes do obscurantismo. O mundo mulçumano<br />
assume espectro negativo frente à maioria <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de estadunidense, e não<br />
raro, prolongando-se para outros países 63 . Os culpados são forjados no<br />
inconsciente. Não raro, a identi<strong>da</strong>de coletiva é a nós apresenta<strong>da</strong> no singular, ou<br />
seja, reduz o conjunto coletivo a uma personali<strong>da</strong>de impregna<strong>da</strong> de adjetivos<br />
depreciativos. Mesmo o fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico capitaneado por Osama bin<br />
Laden ter sido o responsável pelos condenáveis eventos terroristas, transformar o<br />
63 O então primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, à época dos atentados, em um discurso<br />
fortemente disfórico ao Islamismo, sentenciou: “O Ocidente continuará a conquistar povos, mesmo<br />
que isso implique um confronto com a civilização islâmica, empaca<strong>da</strong> onde estava há 1400 anos”.<br />
110
Islamismo em sinônimo de terrorismo é simplificar o debate, quando não,<br />
envenená-lo.<br />
4.3. Corpus <strong>da</strong> pesquisa<br />
4.3.1. Veja<br />
A revista Veja, pertencente ao Grupo Abril (coman<strong>da</strong>do pela família Civita),<br />
é a maior revista semanal <strong>da</strong> América Latina e a quarta do mundo (ficando atrás<br />
somente de Time, Newsweek e U.S. News). O periódico possui linha editorial<br />
cola<strong>da</strong> ao conservadorismo e manifestações liberais sendo direciona<strong>da</strong><br />
principalmente aos segmentos mais abastados <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de (classes A e B). A<br />
expressiva tiragem do periódico sempre ultrapassa a quantia de um milhão de<br />
exemplares por semana. A tiragem <strong>da</strong> edição de 19 de setembro que estamparia<br />
em suas páginas os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 atingiria a cifra<br />
de 1.335.391 exemplares.<br />
4.3.2. CartaCapital<br />
Além <strong>da</strong> periodici<strong>da</strong>de semanal, CartaCapital assemelha-se com Veja em<br />
outro ponto: o jornalista Mino Carta, criador de ambas as publicações.<br />
A revista é uma publicação <strong>da</strong> Carta Editorial Lt<strong>da</strong>. cuja tiragem gira em<br />
torno de 70.000 exemplares. Bem modesta se compara<strong>da</strong> com Veja. Outro ponto<br />
de diferença é a linha editorial adota<strong>da</strong> pela CartaCapital. A revista opta por uma<br />
linha considera<strong>da</strong> mais crítica, com postura progressista quando compara<strong>da</strong> à<br />
publicação semanal <strong>da</strong> Editora Abril.<br />
111
4.3.3. Superinteressante<br />
Superinteressante é uma publicação mensal <strong>da</strong> Editora Abril S.A. É a maior<br />
revista jovem do Brasil com 3,1 milhões de leitores; possui uma tiragem de 380 mil<br />
exemplares por mês; 95% dos leitores a tem como uma revista séria, rigorosa e<br />
confiável 64 .<br />
Procurando atingir, sobretudo, o público jovem, a abor<strong>da</strong>gem dos assuntos<br />
é feita de maneira didática desmistificando temas mais áridos, ofertando assim,<br />
outros tipos de análises sobre a notícia.<br />
4.3.4. Caros Amigos<br />
A revista Caros Amigos é uma publicação mensal <strong>da</strong> Editora Casa Amarela.<br />
O periódico tem uma tiragem menor do que as outras analisa<strong>da</strong>s: média de 50.000<br />
exemplares mensais, sendo 20.000 comercializados em bancas.<br />
Os resultados de uma pesquisa quantitativa realiza<strong>da</strong> em agosto/2001<br />
indicam o seguinte perfil dos leitores deste periódico: 72% são homens com i<strong>da</strong>de<br />
entre 20 e 49 anos; 91% têm superior completo, 19% pós-graduados. Este nível<br />
de escolari<strong>da</strong>de se reflete nas classes econômicas A (17%), B (49%) e C (30%).<br />
Pouco mais <strong>da</strong> metade são solteiros (55%) e trabalham (67%); 75% têm acesso à<br />
Internet, 22% recebem o “Correio Caros Amigos” semanalmente e 32% visitam o<br />
site com certa regulari<strong>da</strong>de.<br />
A pesquisa levantou também a forma como a revista é encara<strong>da</strong> pelos<br />
leitores: 89% consideram uma publicação "objetiva", 87% a avaliam como<br />
"independente", 86% como "ver<strong>da</strong>deira" e 79% como "indispensável" 65 .<br />
Caros Amigos procura seguir uma linha editorial “independente”, analisando<br />
os principais eventos que permeiam o Brasil e o mundo, tecendo críticas a outras<br />
mídias que, segundo a revista, colaboram para manutenção do sistema capitalista.<br />
64 Fonte: www.superinteressante.com.br<br />
65 Fonte: http://www.carosamigos.terra.com.br/<br />
112
A revista abraça o marxismo como ideologia, sendo mais à “esquer<strong>da</strong>” que as<br />
demais. Numa posição “terceiro-mundista”, os países desenvolvidos são<br />
retratados como os vilões na arena geopolítica mundial.<br />
113
Tabela 2. O espaço editorial destinado à cobertura dos atentados de 11 de setembro de 2001<br />
no corpus <strong>da</strong> pesquisa<br />
Revistas Periodici<strong>da</strong>de Editora Número de<br />
páginas <strong>da</strong><br />
edição<br />
Número de<br />
páginas<br />
destina<strong>da</strong>s à<br />
cobertura do<br />
11/09/01<br />
Número de<br />
reportagens<br />
sobre o<br />
11/09/2001<br />
Número de<br />
matérias<br />
assina<strong>da</strong>s<br />
Número de<br />
matérias sem<br />
assinaturas<br />
Veja Semanal Abril 142 70 16 05 11<br />
CartaCapital Semanal Carta<br />
Editorial<br />
Lt<strong>da</strong>.<br />
66 44 22 22 00<br />
Superinteressante Mensal Abril 98 16 08 06 02<br />
Caros Amigos Mensal Casa<br />
Amarela<br />
46 19 19 18 01<br />
114
4.4. Temas presentes nos discursos dos periódicos<br />
O tema central que moldou os discursos <strong>da</strong>s revistas foi o ataque terrorista<br />
sofrido pelos Estados Unidos na manhã de 11 de setembro de 2001. Para externar<br />
sua visão dos fatos, os enunciadores recorreram a uma série de outros temas<br />
conectados por um conjunto de isotopias aos atentados perpetrados pela rede<br />
terrorista Al Quae<strong>da</strong>. Assim, o percurso temático apresenta-se como o processo<br />
gerativo <strong>da</strong> argumentação, responsável pelo encadeamento <strong>da</strong>s frases e<br />
permitindo a construção de um texto com sentido. Neste espaço <strong>da</strong> <strong>dissertação</strong>,<br />
serão analisa<strong>da</strong>s essas ramificações temáticas marca<strong>da</strong>s pelo discurso <strong>da</strong>s quatro<br />
revistas de nosso corpus.<br />
4.4.1. Veja<br />
As reportagens sobre os atos terroristas obtiveram expressivo espaço na<br />
revista como demonstrado na tabela 2. De to<strong>da</strong>s as reportagens que preenchem<br />
as páginas <strong>da</strong> Veja, a ampla maioria não possui assinatura e, em estilo editorial,<br />
expressam a opinião <strong>da</strong> revista frente ao martírio estadunidense acontecido dias<br />
antes.<br />
Seguindo o critério de análise esboçado na introdução desta pesquisa,<br />
serão analisa<strong>da</strong>s as seguintes reportagens 66 :<br />
1. Carta ao leitor – O que incomo<strong>da</strong> o terror;<br />
2. A descoberta <strong>da</strong> vulnerabili<strong>da</strong>de;<br />
3. O inimigo número 1 dos EUA;<br />
4. Assassinato em nome de Alá;<br />
5. A cultura do Apocalipse.<br />
Em apresentação à edição especial, a “Carta ao Leitor” do periódico traz<br />
como título, “O que incomo<strong>da</strong> o terror”. Juntamente com o texto, a seção insere<br />
duas figuras que, embora separa<strong>da</strong>s pelo tempo, representam o orgulho<br />
66 A revista Veja, em algumas reportagens, aponta dois títulos: um no sumário e outro para o<br />
mesmo artigo no corpo <strong>da</strong> edição. Optamos por enfocar o título presente nas páginas de revista.<br />
115
estadunidense. A primeira imagem faz alusão a fuzileiros cravando a bandeira dos<br />
Estados Unidos no Monte Suribachi, em Iwo Jima, no ano de 1945 (época <strong>da</strong><br />
Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial). Esta imagem está em preto-e-branco e ocupa a maior<br />
parte do box de notícias. A segun<strong>da</strong> imagem, em tamanho menor, embora<br />
colori<strong>da</strong>, mostra gesto semelhante realizado por bombeiros nova-iorquinos sobre<br />
os escombros <strong>da</strong>s torres gêmeas. (tema: heroísmo e patriotismo estadunidenses)<br />
Ambas as imagens, ao mostrar as figuras (sol<strong>da</strong>dos e bombeiros) e<br />
ancoragens territoriais (Iwo Jima e Nova York) ilustram o patriotismo<br />
estadunidense frente a dois períodos distintos de sua história. Um de glória –<br />
vitória obti<strong>da</strong> durante a Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial (1939-1945) – e outro que tenta<br />
cicatrizar as feri<strong>da</strong>s abertas pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Como<br />
uma dobra do tempo, passado e presente parecem encontrar-se em situações<br />
distintas, embora em ambas as situações externem a bravura dos sujeitos<br />
(sol<strong>da</strong>dos e bombeiros) representantes do povo estadunidense.<br />
As ilustrações dão o tom do texto inserido no box. As palavras emiti<strong>da</strong>s pela<br />
Veja têm como alvo principal o mundo islâmico evocando de certa forma a idéia de<br />
“choque de civilizações” defendi<strong>da</strong>s por Samuel P. Huntington 67 .<br />
O caminho trilhado pela revista parte <strong>da</strong> premissa de que os atentados aos<br />
Estados Unidos, acima de tudo, foram práticas contra a democracia e o sistema<br />
capitalista.<br />
O ver<strong>da</strong>deiro alvo visado pelos terroristas que atacaram Nova York e Washington<br />
na semana passa<strong>da</strong> não foram as torres gêmeas do sul de Manhattam nem o<br />
edifício do Pentágono. O atentado foi cometido contra um sistema social e<br />
econômico que, mesmo longe <strong>da</strong> perfeição, é o mais justo e livre que a<br />
humani<strong>da</strong>de conseguiu fazer funcionar ininterruptamente até hoje. Não foi um<br />
ataque de Davi contra Golias. Nem um grito dos excluídos do Terceiro Mundo que,<br />
de modo trágico mais efetivo, se fez ouvir no império. Foi uma agressão<br />
perpetra<strong>da</strong> contra os mais caros e mais frágeis valores ocidentais: a democracia e<br />
a economia de mercado.<br />
67 Samuel P. Huntington é professor de Relações Internacionais além de ter atuado como<br />
estrategista durante a Guerra do Vietnã. Em 1993, publicou artigo na revista Foreing Affairs<br />
apresentando a idéia de um choque entre civilizações. Posteriormente o artigo foi ampliando e<br />
transformado no livro O choque de civilizações e a recomposição <strong>da</strong> ordem mundial, em que<br />
defendia a tese que no mundo pós-Guerra Fria os conflitos seriam fun<strong>da</strong>mentalmente culturais: a<br />
civilização ocidental contra a islâmica, e esta contra a hinduísta etc. Mais adiante retomaremos a<br />
discussão.<br />
116
O que realmente incomo<strong>da</strong> a ponto de exasperação os fun<strong>da</strong>mentalistas,<br />
apontados como os principais suspeitos de autoria dos atentados, não é só a<br />
arrogância americana ou seu apoio ao Estado de Israel. O que os radicais não<br />
toleram, mais que tudo, é a moderni<strong>da</strong>de. É a existência de uma socie<strong>da</strong>de em<br />
que justos podem viver sem ser incomo<strong>da</strong>dos e os pobres têm possibili<strong>da</strong>des reais<br />
de atingir a prosperi<strong>da</strong>de com o fruto de seu trabalho. Esse é o ver<strong>da</strong>deiro<br />
anátema dos terroristas que atacaram os Estados Unidos. Eles são enviados <strong>da</strong><br />
morte, <strong>da</strong> elite teocrática, medieval, tirânica que exerce poder absoluto em seus<br />
feudos. Para eles, a democracia é satânica. Por isso tem de ser combati<strong>da</strong> e<br />
destruí<strong>da</strong>. (REVISTA VEJA, 2001, p. 09)<br />
O texto traz para a arena de discussões a idéia do conflito entre Ocidente e<br />
Oriente. Ao evocar que os atos terroristas tiveram como escopo “a democracia e a<br />
economia de mercado”, Veja alude que os atentados visavam além dos Estados<br />
Unidos, todos os países que têm esses valores como alicerce social. O discurso<br />
<strong>da</strong> revista cola a figura terrorista às ancoragens medieval e feudos, produzindo o<br />
sentido de atraso, valores divorciados <strong>da</strong> moderni<strong>da</strong>de. (tema: choque de<br />
identi<strong>da</strong>des, retrógrado x moderno)<br />
No nível profundo do texto, Veja unge com euforia os semas /Democracia/ e<br />
/Ocidente/ e joga nas trevas a disforia de valores contrários aos defendidos pela<br />
revista. Ao sublinhar a vitória dos Estados Unidos em Iwo Jima, o discurso do<br />
periódico imprime a supremacia do país (representando o Ocidente) sobre o<br />
Japão (Oriente). No texto /Democracia/ e /Ocidente/ ornam com moderni<strong>da</strong>de,<br />
com valores “civilizados”... E arremessa no fosso concepções que ofendem a<br />
axiologia defendi<strong>da</strong> pelo periódico. (tema: exaltação aos valores ocidentais)<br />
No discurso <strong>da</strong> revista o oposto de /Democracia/ é representado por<br />
/Teocracia/. Em um regime Teocrático – sistema de governo em que o poder<br />
político se encontra fun<strong>da</strong>mentado no poder religioso – as liber<strong>da</strong>des são<br />
asfixia<strong>da</strong>s e a rede econômica é precária. Assim, o texto faz a seguinte passagem:<br />
A /Democracia/ é apresenta<strong>da</strong> com seus valores eufóricos, que, em segui<strong>da</strong>, são<br />
negados, quando se passa para a /Não-Democracia/, que representa a<br />
/Teocracia/, movimento apontado pelas setas no quadro semiótico apresentado<br />
em segui<strong>da</strong>:<br />
117
Democracia Teocracia<br />
Ocidente<br />
Oriente<br />
Não-Teocracia Não-Democracia<br />
Não-Oriente Não-Oriente<br />
Tal manifestação política ocorre em países situados no Oriente. O que cria<br />
o segundo sentido de apresentado no texto: Ocidente → Não-Ocidente → Oriente.<br />
Assim, o Oriente se torna algo divorciado dos valores ocidentais defendidos<br />
pela Veja: a democracia e a economia de mercado (sistema capitalista). A<br />
aplicação do quadrado semiótico evidencia a visão maniqueísta e redutora do<br />
texto em análise pois, assumir isso como ver<strong>da</strong>de, é fazer tábula rasa <strong>da</strong>s<br />
engrenagens que movem as políticas internacionais. Uma vez que, na linguagem<br />
dos signos, a própria geografia é sacrifica<strong>da</strong>: chama-se Ocidente, “mundo<br />
ocidental” os países econômica e politicamente definidos como capitalistas, de<br />
forma que o Japão termina “ocidentalizado”. Geograficamente ocidental, Cuba, por<br />
sua posição política acaba afastando-se desses valores. Mesmo não adotando<br />
valores democráticos e plena economia de mercado, Cuba não deixa de figurar no<br />
“mundo ocidental”. Igual raciocínio é válido para a China, país oriental que, mesmo<br />
tendo forte controle do sistema político, sua economia ca<strong>da</strong> vez mais cria laços<br />
com o sistema capitalista. Ocidente e Oriente não formam uma massa<br />
homogênea, com valores absolutos 68 ·. (tema: depreciação aos valores orientais)<br />
68 Para saudoso intelectual palestino Edward Said: “A geografia não é só uma batalha de<br />
tecnologias cartográficas e regimes de ver<strong>da</strong>de; é também um confronto entre diferentes modos de<br />
ver o mundo”. (SAID apud STEINBERG, 2005, p. 190)<br />
118
Quando expõe que “O que os radicais não toleram, mais que tudo, é a<br />
moderni<strong>da</strong>de”, a revista ignora que uma <strong>da</strong>s contribuições <strong>da</strong> moderni<strong>da</strong>de é o<br />
avanço tecnológico. Os autores dos atentados tanto toleram a moderni<strong>da</strong>de que<br />
se utilizam de suas ferramentas para disseminar sua cultura e arquitetar seus<br />
planos 69 . Sem conhecimento <strong>da</strong>s novas tecnologias uma ação como a de 11 de<br />
setembro de 2001 seria inviável. (tema: intolerância)<br />
O segundo texto em nosso cabe<strong>da</strong>l de análises tem como título “A<br />
descoberta <strong>da</strong> vulnerabili<strong>da</strong>de” (p.48-58). Trata-se <strong>da</strong> matéria que abre a seção<br />
especial destina<strong>da</strong> à repercussão do 11 de setembro de 2001; veiculado sem<br />
assinatura, o texto reflete a opinião <strong>da</strong> revista.<br />
Na primeira parte, o texto retoma o questionamento que tanto povoou as<br />
in<strong>da</strong>gações no dias seguintes: e agora? Tinha que se estabelecer uma meta para<br />
aquilo que o presidente George W. Bush classificou como “Ato de Guerra”. Para o<br />
Subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz:<br />
Não se trata apenas de capturar essas pessoas e fazer com que paguem pelo que<br />
fizeram. É preciso eliminar os santuários, os sistemas de apoio e acabar com os<br />
Estados que patrocinam o terrorismo. (REVISTA VEJA, 2001, p.48-50)<br />
Combater os países que amparam terroristas foi outra opinião amplamente<br />
divulga<strong>da</strong>. O texto se utiliza <strong>da</strong> ancoragem territorial para <strong>da</strong>r contornos de que o<br />
terrorismo é um mal patrocinado por terceiros. Os “santuários” e “Estados que<br />
patrocinam o terrorismo” são um indicativo de condolência ao terror executado por<br />
países contrários às políticas defendi<strong>da</strong>s pelos Estados Unidos. As palavras<br />
procuram conduzir o leitor a deduzir o “complô” arquitetado contra o país. To<strong>da</strong>via,<br />
os Estados Unidos têm sua impressão digital na infra-estrutura de grupos dessa<br />
natureza. Uma reavaliação <strong>da</strong> condução <strong>da</strong> política externa do país seria bemvin<strong>da</strong><br />
no discurso <strong>da</strong> revista. (tema: causas dos atentados de 11 de setembro)<br />
Jogar sementes descontextualiza<strong>da</strong>s ao ar pode fazer germinar uma<br />
produção de sentidos equivoca<strong>da</strong> no leitor. Serva (2001) classifica como “redução”<br />
a técnica de simplificar fatos. Isso aju<strong>da</strong> a passar uma idéia de “notícia fora do<br />
69 Detalhamos essa questão no capítulo 3: Terrorismo: um legado histórico e sua caracterização na<br />
plataforma midiática (Item: 3.5. A Al Qae<strong>da</strong> e o “Terrorismo em Rede”, p.85).<br />
119
lugar”. Quando essa prática é utiliza<strong>da</strong>, o sentido eufórico perpetrado pela mídia é<br />
devolvido por uma percepção disfórica por parte do enunciatário.<br />
Isso acontece no seguinte trecho do artigo<br />
Não é de se espantar que, após os atentados, o tom do discurso americano tenha<br />
mu<strong>da</strong>do. Desapareceu como por mágica o relativismo cultural e seu corolário, o<br />
respeito por aquilo que possa ser considerado politicamente correto. O relativismo<br />
cultural, teoria formula<strong>da</strong> na déca<strong>da</strong> de 30 pelo antropólogo americano Melville<br />
Jean Herskovitz, preconiza que nenhuma cultura é superior a outra. Que ca<strong>da</strong><br />
uma deve ser entendi<strong>da</strong> dentro de seu próprio contexto e, por isso mesmo, não<br />
cabem comparações entre elas. (...). É dessa perspectiva que alguns estudiosos<br />
acham possível justificar, por exemplo, a prática de muçulmanos africanos de<br />
extirpar o clitóris <strong>da</strong>s adolescentes. Do relativismo cultural nasceria na déca<strong>da</strong> de<br />
80 o discurso politicamente correto, que aboliu do vocabulário palavras e<br />
expressões que soam pejorativas a minorias étnicas, homossexuais e portadores<br />
de deficiência física. Com os atentados, o relativismo sofreu um abalo: por alguns<br />
dias, pelo menos, o mundo voltou a ser dividido entre países civilizados e nações<br />
bárbaras. E, contra os bárbaros, políticos e analistas pediram “vingança”.<br />
70 (REVISTA VEJA, 2001, p. 52)<br />
Os trechos em itálico são exemplos evidentes <strong>da</strong> edição parcial do texto <strong>da</strong><br />
Veja. A revista, utilizando-se <strong>da</strong> figuração “muçulmanos africanos”, expõe um<br />
exemplo forte e totalmente deslocado de seu contexto (a extirpação do clitóris)<br />
para causar no leitor a sensação de que o "relativismo cultural" é um conceito<br />
equivocado aguçando disforia ao Islamismo. A estratégia de figurativização é um<br />
indicativo desse desejo. Em segui<strong>da</strong>, ao citar as ancoragens territoriais “países<br />
civilizados” e “nações bárbaras”, procura provar que o mundo agora está<br />
novamente dividido entre civilização e barbárie, em outras palavras, “nós” (os<br />
civilizados) e “eles” (os bárbaros). (temas: a cultura do “Outro”, o mundo em<br />
conflito)<br />
Cabe salientar que a extirpação do clitóris não é algo inato ao Islamismo e<br />
na<strong>da</strong> tem a ver com o Alcorão e sim com hábitos locais, costumes tribais 71 ... Essa<br />
forma de mutilação – pratica<strong>da</strong>, por exemplo, no oásis Buraimi, nos Emirados<br />
70 Grifos nossos.<br />
71 Em dezembro de 2006, foi realiza<strong>da</strong> no Cairo (Egito) a conferência "A Proibição <strong>da</strong> Violação do<br />
Corpo Feminino pela Circuncisão”. Nessa conferência, muçulmanos de alto escalão concor<strong>da</strong>ram<br />
que a mutilação genital feminina é irreconciliável com o Islamismo. Embora a circuncisão seja<br />
muitas vezes defendi<strong>da</strong> com razões supostamente religiosas, não existe justificativa religiosa para<br />
essa prática. O renomado e notório clérigo e jornalista egípcio, Yusuf al-Qara<strong>da</strong>wi, concordou que<br />
o Alcorão afirma ser proibido mutilar a criação de Deus.<br />
120
Árabes e países africanos – teve seu berço na África paleolítica. Opta-se pelo<br />
enunciado “muçulmanos africanos” para reforçar a disforia quanto ao<br />
posicionamento, que tudo indica, ser intencional, pois, a revista Veja, empregou<br />
esse exemplo para provocar repulsa e ativar preconceitos contra os povos<br />
islâmicos sem explicar ao seu leitor as nuances do rito. Essa construção<br />
enunciativa traz, ao leitor que não é integrado a determina<strong>da</strong>s passagens<br />
históricas e culturais, a concepção que os muçulmanos africanos, iranianos,<br />
europeus ou americanos, o mesmo sentido: de que a prática é intrínseca a todo o<br />
Islã. (tema: compreensão limita<strong>da</strong> e parcial do mundo islâmico)<br />
O tema <strong>da</strong> segurança mundial também foi outra vertente explora<strong>da</strong> no texto.<br />
Um ataque <strong>da</strong>s proporções do 11 de setembro de 2001 na maior potência de<br />
nosso tempo indicava quão frágil estariam os demais países que não dispõem dos<br />
recursos militares do porte dos Estados Unidos. (tema: insegurança global)<br />
Estaria surgindo uma nova ordem internacional pós-Guerra Fria? Essa idéia<br />
soma<strong>da</strong> à preocupação com a segurança é cita<strong>da</strong> na seguinte passagem: “Com o<br />
fim <strong>da</strong>s ideologias e depois dos atentados, o planeta está agora obcecado pela<br />
segurança” (p.53). Nessa afirmação, Veja tropeça no processo histórico quando<br />
grafa a expressão “o fim <strong>da</strong>s ideologias”; sendo que a própria sentença “fim <strong>da</strong>s<br />
ideologias” tem substância ideológica apontado para a superiori<strong>da</strong>de de um<br />
sistema sobre outros.<br />
“Fim <strong>da</strong>s ideologias”, “fim <strong>da</strong> história” foram expressões corriqueiras em<br />
discursos construídos após o terremoto político que aniquilou as estruturas do<br />
socialismo no leste europeu e <strong>da</strong> extinta União Soviética marcando o fim <strong>da</strong><br />
Guerra Fria. À época, um dos principais protagonistas dessa discussão foi o<br />
cientista político estadunidense Francis Fukuyama, autor <strong>da</strong> obra “O fim <strong>da</strong> história<br />
e o último homem”. Para Fukuyama o fim <strong>da</strong> Guerra Fria solidificava a vitória final<br />
<strong>da</strong> ordem liberal do Ocidente e as disputas futuras seriam trava<strong>da</strong>s nas arenas<br />
comerciais <strong>da</strong> concorrência econômica. Esse seria o “estágio final” <strong>da</strong>s<br />
socie<strong>da</strong>des. Assim, de certa forma, Veja corrobora que as outras ideologias<br />
estariam mortas, não tendo mais futuro, só passado. Novamente, a revista grafa<br />
121
que “nosso” sistema econômico (o capitalismo) é superior aos sistemas<br />
econômicos dos “outros”.<br />
Em outro fragmento a revista navega no mar de interrogações que afogava<br />
os Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001.<br />
Os americanos gastam 30 bilhões de dólares por ano em inteligência, e só a CIA,<br />
o serviço de espionagem, tem 2.000 agentes no exterior. O sistema caríssimo de<br />
vigilância eletrônica por satélites é capaz de fazer fotos tão detalha<strong>da</strong>s que se<br />
podem identificar pontas de cigarros joga<strong>da</strong>s fora pelos guerrilheiros no<br />
Afeganistão. A rede de vigilância envolve ain<strong>da</strong> aviões, navios e 5.000 pontos de<br />
captação de informações no mundo inteiro. A tecnologia emprega<strong>da</strong> permite<br />
rastrear uma ligação de celular em qualquer lugar. Como na<strong>da</strong> disso funcionou?<br />
Nenhum dos treze órgãos encarregados de monitorar, receber e analisar todo tipo<br />
de informações relaciona<strong>da</strong>s à segurança conseguiu evitar a entra<strong>da</strong> no país e a<br />
comunicação entre os terroristas. (REVISTA VEJA, 2001, p. 54)<br />
Em síntese: como foi possível um ataque desse porte perante todo o<br />
aparato de segurança dos Estados Unidos? Como os Estados Unidos (principal<br />
expoente do mundo ocidental) falharam tão bisonhamente na defesa de seu<br />
território 72 ? Não raro, o silêncio é mais contundente que a pergunta. (tema:<br />
fragili<strong>da</strong>de do sistema de segurança dos Estados Unidos)<br />
O Islamismo ain<strong>da</strong> ganharia mais linhas no texto “A descoberta <strong>da</strong><br />
vulnerabili<strong>da</strong>de”.<br />
72 Segundo Burke (2007), mesmo dota<strong>da</strong> de espetacularização, os meios utilizados nas ações de<br />
11 de setembro não foram novi<strong>da</strong>des: “Os meios utilizados no ataque não eram novi<strong>da</strong>de. Embora<br />
até então ninguém tivesse executado com sucesso um ataque utilizando aviões como armas<br />
ofensivas, essa tática fora freqüentemente discuti<strong>da</strong> por militantes islâmicos. Em 1994, Ramzi<br />
Youssef e um cúmplice tiveram a idéia de seqüestrar um avião e voar para a sede <strong>da</strong> CIA, em<br />
Langley, no estado <strong>da</strong> Virgínia. No mesmo ano, membros do GIA tentaram forçar os pilotos de um<br />
jato <strong>da</strong> Air France que tinham seqüestrado em Argel a jogá-lo contra a torre Eifel. Em 1996,<br />
agentes <strong>da</strong> inteligência norte-americana receberam a informação de que um grupo ligado ao xeque<br />
Abdel Omar Rahman planejava levar um avião do Afeganistão aos Estados Unidos e lançá-lo<br />
sobre a Casa Branca, e que um grupo iraniano pretendia seqüestrar um avião japonês<br />
sobrevoando Israel e faze-lo cair sobre Tel Aviv. Durante 1998 e 1999, os serviços norteamericanos<br />
de inteligência receberam informações sobre planos semelhantes. Tais planos iam do<br />
projeto de um grupo turco de lançar um avião sobre o túmulo de Kamal Ataturk durante uma<br />
cerimônia oficial até um ataque do tipo camicase contra o palácio presidencial do Egito numa asadelta<br />
carrega<strong>da</strong> de explosivos, planejado por um grupo de egípcios com base no Afeganistão.<br />
Também se acredita que indivíduos mais próximos a Bin Laden tenham planejado operações<br />
semelhantes. Até ideólogos radicais sonhavam com ataques desse tipo. Numa fatwa publica<strong>da</strong> no<br />
verão de 2001, Ahmed Ab<strong>da</strong>llah al-Ali, proeminente clérigo wahhabita kuwaitiano, discutiu a<br />
legali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> morte de um mujahed falecido ‘quando lançava um avião sobre uma ci<strong>da</strong>de<br />
importante’.” (BURKE, 2007, p. 244)<br />
122
Há mais de um bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo. Na maioria, são<br />
moderados. A minoria radical, no entanto, tem uma disposição fanática para matar<br />
e morrer e se une num ódio incontrolável contra os Estados Unidos, em sua<br />
opinião um país satânico. Em sua visão, atacar o demônio americano garante ao<br />
fiel um lugar de honra no paraíso. Como se pode li<strong>da</strong>r com terroristas cujo objetivo<br />
é retornar ao século VIII? (REVISTA VEJA, 2001, p.56-57)<br />
O texto é recoberto pelas figurativizações muçulmanos, moderados, radical,<br />
fanática, demônio americano, paraíso e terroristas. Quando separados, os semas<br />
parecem figurar no dicionário de significados disfóricos comuns quando<br />
destinados ao Islamismo. O mesmo ocorre quando isolamos do texto as<br />
ancoragens territoriais país satânico e século VIII. Podendo funcionar como figura<br />
ou ancoragem a expressão país satânico acaba sendo incorpora<strong>da</strong> como<br />
sinônimo de Estados Unidos, o grande inimigo dos extremistas islâmicos e,<br />
sempre procurando colar o rótulo do atraso como feito na referência temporal<br />
século VIII. (tema: fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico)<br />
Na passagem em questão, depois de mencionar a cifra de muçulmanos<br />
existentes no planeta, o processo de editorialização do texto destina uma curta<br />
frase para dizer que a maioria dos islâmicos são moderados, sem entrar no mérito<br />
<strong>da</strong> classificação. Espaço diferente é ofertado para demonstrar o lado mau do<br />
Islamismo, indicando sua tenebrosa profissão de fé. Pode-se entender que, devido<br />
aos atentados terroristas, passa a ser natural evidenciar apenas o lado<br />
fun<strong>da</strong>mentalista do islamismo 73 – sobretudo quando se quer enfatizar apenas<br />
esse grupo para expandir o teor disfórico dos sentidos –, sempre em qualificação<br />
negativa. E de fato o é, mas na<strong>da</strong> impede um sadio equilíbrio nas análises <strong>da</strong>s<br />
duas principais facções islâmicas.<br />
Na parte derradeira do artigo temos o seguinte comentário.<br />
A oposição à globalização já existia como fenômeno ambientalista, de minorias,<br />
<strong>da</strong>s ONGs e dos sindicatos. Agora deve também levar em conta essa nova<br />
complicação: o Islã como fonte de preocupação para a paz mundial. A<br />
globalização incomo<strong>da</strong> a turma do turbante pela moderni<strong>da</strong>de que traz no bojo. O<br />
fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico é, em boa medi<strong>da</strong>, a manifestação de uma elite que<br />
exerce sobre seus povos uma tirania milenar, basea<strong>da</strong> na religião e nos costumes<br />
imutáveis. Se é contra a civilização ocidental é porque não pode conviver com<br />
73 Embora algumas facções sunitas também optem por práticas terroristas.<br />
123
seus princípios básicos, nota<strong>da</strong>mente a liber<strong>da</strong>de política e individual. O universo<br />
dos fun<strong>da</strong>mentalistas é aquele em que se queimam livros, se proíbem filmes e<br />
música. As mulheres são cobertas de véu e devem submissão ao poder<br />
masculino. (REVISTA VEJA, 2001, p. 58).<br />
As figurativizações do texto trazem à tona aspectos condenáveis do<br />
fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico: submissão <strong>da</strong> mulher, queima de livros, traços<br />
tirânicos... Essas figuras de linguagem reforçam a opinião <strong>da</strong> revista quanto aos<br />
valores defendidos pelos terroristas. Contudo, o fun<strong>da</strong>mentalismo religioso foi<br />
gestado no ventre do protestantismo estadunidense 74 , não sendo assim, uma<br />
criação islâmica (por mais que seja comum a utilização de tais práticas por seus<br />
seguidores). A tenebrosa ação de queima de livros não é um pecado exclusivo do<br />
fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico, ditadores como Adolf Hitler e o Tribunal <strong>da</strong> Santa<br />
Inquisição também o fizeram. Mas essas informações são omiti<strong>da</strong>s pela revista!<br />
Nas três frases que abrem a citação anterior, Veja embaralha determinados<br />
conceitos produzindo sentidos contrários ao Islamismo. Primeiro porque coloca<br />
numa mesma teia de análises movimentos ambientalistas, ONGs e sindicatos ao<br />
lado <strong>da</strong> rede terrorista islâmica, <strong>da</strong>ndo a entender que todos oferecem o mesmo<br />
grau de periculosi<strong>da</strong>de à globalização. Isto é, em sua prática enunciativa, por<br />
exemplo, tenta colocar no mesmo nível de sintonia a atuação de um movimento<br />
ambientalista e o terrorismo islâmico, como se ambos fossem concebidos do<br />
mesmo ventre. Em segundo lugar, cita o Islã (como um todo, sem ressaltar suas<br />
subdivisões) como um perigo à paz mundial.<br />
Da maneira como os semas são construídos no texto, tem-se todo o<br />
Islamismo como risco, e não apenas os fun<strong>da</strong>mentalistas que realmente podem<br />
pôr em xeque a segurança mundial como vimos nos atos de 11 de setembro de<br />
2001. (tema: compreensão limita<strong>da</strong> e parcial do mundo islâmico)<br />
Outra generalização perigosa é a terceira frase onde aparece pinta<strong>da</strong> com<br />
forte tom pejorativo a figurativização “turma do turbante”. Numa clara alusão à<br />
vestimenta típica dos islâmicos, Veja destila preconceito de maneira incisiva.<br />
Afinal, os moderados também usam a tradicional roupa, não apenas os<br />
74 Esse aspecto foi detalhado no Capítulo 3: Terrorismo: um legado histórico e sua caracterização<br />
na plataforma midiática (Item: 3.2. As faces do terrorismo, p. 77).<br />
124
fun<strong>da</strong>mentalistas. O tom disfórico usado na construção textual induz o leitor a crer<br />
que todos os adeptos dessa religião são contra a moderni<strong>da</strong>de e, por extensão,<br />
terroristas. Nesses tipos de declarações a revista cola ao Islamismo emblemas de<br />
atraso e fanatismo. Palavras inteiras, porém ver<strong>da</strong>des recorta<strong>da</strong>s com a perigosa<br />
lâmina editorial. (tema: depreciação dos valores islâmicos)<br />
No terceiro texto “O inimigo número 1 <strong>da</strong> América” (p. 68-72), Veja traça um<br />
perfil do até então principal suspeito de arquitetar os ataques aos Estados Unidos:<br />
Osama bin Laden. A figurativização dos personagens é o eixo central do texto.<br />
Ao longo <strong>da</strong> história, o mal exibiu várias feições. Ele já teve os traços de Átila, o<br />
Huno, do mongol Gêngis Khan, do austríaco Adolf Hiltler, do soviético Josef Stalin,<br />
do cambojano Pol Pot e do ugandense Idi Amin Da<strong>da</strong>. (REVISTA VEJA, 2001, p.<br />
68)<br />
Para o leitor pouco versado na ciência histórica, as figuras cita<strong>da</strong>s podem<br />
não ter diferenças, sendo uni<strong>da</strong>s pela cola do mal. Bin Laden seria mais uma<br />
figura a entrar para história por suas perversas práticas – sobretudo contra as<br />
ações que tiveram os Estados Unidos como alvo. (tema: figurativização do mal)<br />
Junto com o terrorista saudita, a reportagem traz três desafetos dos<br />
estadunidenses: Sad<strong>da</strong>m Hussein, Muamar Ka<strong>da</strong>fi e Aitolá Komeini – todos<br />
islâmicos. Para ca<strong>da</strong> um dos clássicos inimigos, a reportagem reproduz uma frase<br />
pronuncia<strong>da</strong> contra os Estados Unidos.<br />
Osama bin Laden, em 1998: “Juramos todos os americanos de morte, sem<br />
distinção entre militares e civis”. (p.69)<br />
Sad<strong>da</strong>m Hussein, 1991: “Os americanos vão na<strong>da</strong>r em seu próprio sangue”. (p.<br />
71)<br />
Muamar Ka<strong>da</strong>fi, em 1986: “Humilhamos a América”. (p.71)<br />
Aiatolá Khomeini, em 1979: “Os Estados Unidos são o Grande Satã”. (p. 72)<br />
No processo de editorialização, todos os enunciados – construções<br />
disfóricas em relação aos Estados Unidos – aparecem em grande destaque nas<br />
páginas <strong>da</strong> revista indicando o ódio cultivado e disseminado contra os<br />
estadunidenses. (tema: crítica ao antiamericanismo)<br />
125
Veja permite que o leitor conheça mais sobre Osama bin Laden, nome até<br />
então ignorado por grande parte do público, e suas ações terroristas contra os<br />
Estados Unidos.<br />
Laden seria o responsável pelos atentados simultâneos às embaixa<strong>da</strong>s dos<br />
Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, em 1998, que causaram a morte de 224<br />
pessoas. Ele também teria perpetrado a explosão de um navio americano na costa<br />
do Iêmen, em outubro do ano passado, que resultou em dezessete marinheiros<br />
mortos. Credita-se a Laden, ain<strong>da</strong>, o suporte técnico, por assim dizer, ao primeiro<br />
atentado ao World Trade Center, em 1993, que contou seis vítimas fatais.<br />
(REVISTA VEJA, 2001, p. 68)<br />
Um currículo escrito com sangue. Ações que, nas incertezas dos primeiros<br />
dias após os atentados, colocavam Osama bin Laden como principal suspeito dos<br />
ataques. As ancoragens Quênia, Tanzânia, Iêmen e Word Trade Center (Estados<br />
Unidos), simbolizam o quão global são as ativi<strong>da</strong>des terroristas <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong>.<br />
O texto recorre ao xadrez político <strong>da</strong> Guerra Fria para informar como Bin<br />
Laden começou a ascender no terrorismo islâmico sob os olhos complacentes e<br />
oportunistas dos Estados Unidos.<br />
... ele começou sua vi<strong>da</strong> de militante islâmico em 1979, quando o Afeganistão se<br />
viu invadido por tropas soviéticas. Muçulmanos de diferentes procedências<br />
juntaram-se aos guerrilheiros fun<strong>da</strong>mentalistas do Talebã e de outras facções na<br />
defesa do país contra a superpotência comunista. Como não poderia deixar de<br />
ser, dentro <strong>da</strong> lógica maniqueísta <strong>da</strong> Guerra Fria, o enfrentamento com a União<br />
Soviética recebeu apoio dos Estados Unidos. Nesse ponto reside uma grande<br />
ironia: o atual inimigo número 1 dos americanos pode ter recebido treinamento <strong>da</strong><br />
CIA, que gastou 3 bilhões de dólares para aju<strong>da</strong>r os rebeldes afegãos. (REVISTA<br />
VEJA, 2001, p.70-71)<br />
As ancoragens Afeganistão, União Soviética e Estados Unidos, presentes<br />
no texto contextualizam geograficamente o mundo bipolarizado que, juntamente<br />
com as figuras representa<strong>da</strong>s por militante islâmico, tropas soviéticas,<br />
guerrilheiros fun<strong>da</strong>mentalistas do Talebã, fornecem ao enunciatário recursos para<br />
se entender as condições históricas que colaboraram para a emergência de Bin<br />
Laden no terrorismo internacional. Nessa época, o “outro”, o inimigo a ser<br />
combatido eram os países comunistas.<br />
126
Na passagem: “Como não poderia deixar de ser, dentro <strong>da</strong> lógica<br />
maniqueísta <strong>da</strong> Guerra Fria, o enfrentamento com a União Soviética recebeu<br />
apoio dos Estados Unidos”, Veja procura amenizar o fato de que no passado Bin<br />
Laden serviu aos Estados Unidos, para depois jogar incertezas na argumentação<br />
ao fazer uso do sema /pode/, semeando dúvi<strong>da</strong>s à ligação do passado entre os<br />
estadunidenses e o até então principal suspeito dos ataques. (tema: surgimento<br />
de Osama bin Laden no cenário internacional)<br />
A vitória sobre a União Soviética foi um estímulo à propagação de grupos<br />
fanáticos islâmicos. Se fora possível a derrota do império comunista, Israel e seu<br />
grande aliado, os Estados Unidos, também poderiam ser tombados. Em 1998, em<br />
entrevista à rede inglesa BBC, Bin Laden já deixava claro suas intenções.<br />
Os americanos nunca fizeram distinção entre civis e militares. Eles não jogaram a<br />
bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki? Não apoiaram os massacres de<br />
crianças e adolescentes na Palestina: Nossa fatwa (sentença de morte) se dirige,<br />
então, a todos os americanos. Nós não os diferenciamos por trajes. (REVISTA<br />
VEJA, 2001, p. 72)<br />
Em seu discurso, Bin Laden externa as figuras civis e militares, crianças e<br />
adolescentes como defesa em sua argumentação. Para o saudita, os Estados<br />
Unidos nunca se preocuparam com a classe etária de suas vítimas. Igual<br />
raciocínio vale para as ancoragens Hiroshima, Nagasaki e Palestina. As duas<br />
ci<strong>da</strong>des japonesas foram vitima<strong>da</strong>s em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente,<br />
por bombas nucleares lança<strong>da</strong>s pelos Estados Unidos ao fim <strong>da</strong> Segun<strong>da</strong> Guerra<br />
Mundial, em que a maioria de civis foi morta. Já a Palestina, é evoca<strong>da</strong> como<br />
vítima do algoz Israel, país aliado aos Estados Unidos e que pratica ataques<br />
constantes à região cita<strong>da</strong> por Bin Laden. Fiel a seu raciocínio, Bin Laden não via<br />
injustiça em possível sentença contra os estadunidenses. A fatwa de Bin Laden<br />
contra os Estados Unidos não era um exercício retórico. Seria concretiza<strong>da</strong> em 11<br />
de setembro de 2001. (tema: causas dos atentados de 11 de setembro)<br />
No texto, o discurso <strong>da</strong> revista peca em mais alguns aspectos. Ao trazer<br />
como nota de chama<strong>da</strong> logo após o título a frase: “Depois de Khomeini, Ka<strong>da</strong>fi e<br />
Sad<strong>da</strong>m Hussein, o mundo islâmico produz outro pesadelo para os Estados<br />
Unidos: o terrorista Osama bin Laden”. (p. 68), procura-se produzir o sentido de<br />
127
que os inimigos dos estadunidenses são sempre os islâmicos quando nem todos o<br />
são. Outro reducionismo presente na frase é tributar apenas ao mundo islâmico a<br />
produção do terrorista Osama bin Laden. Quando já se sabe <strong>da</strong> participação dos<br />
Estados Unidos em sua trama.<br />
Hoje, tudo parece muito claro sobre as ações sofri<strong>da</strong>s pelos Estados Unidos<br />
e os mentores dos atentados. À época <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> edição analisa<strong>da</strong> ain<strong>da</strong><br />
pairavam no ar dúvi<strong>da</strong>s sobre os responsáveis. As declarações que reproduzimos<br />
indicavam que, naquele momento, o sangue escorria na direção de Osama bin<br />
Laden, porém ain<strong>da</strong> sem se ter plena certeza disso. No artigo, Veja procura criar<br />
um efeito de ver<strong>da</strong>de ao tributar a culpa a Bin Laden. O título <strong>da</strong> reportagem é<br />
incisivo: “O inimigo número 1 <strong>da</strong> América”. Contudo, nas primeiras linhas do texto,<br />
a revista já traz a dúvi<strong>da</strong> para a discussão ao afirmar que: “Ele (Bin Laden) está<br />
sendo apontado como provável cérebro por trás do ataque ao coração do império<br />
americano”. (p. 68). Até então era o mais provável, mas não o culpado como viria<br />
à tona posteriormente. Mesmo afirmando a dúvi<strong>da</strong> no começo, na parte final<br />
novamente aponta o terrorista saudita como “... o atual inimigo número 1 dos<br />
americanos 75 ”. (p. 71). O discurso <strong>da</strong> revista aponta mais para um desejo de seu<br />
corpo editorial do que para um fato real e seguro.<br />
O quarto texto, “Assassinato em nome de Alá” – (p. 80-85), sem perder de<br />
vista o horizonte histórico, colocando o passado no presente, inicia-se<br />
serenamente e, procurando separar o joio do trigo, procura caracterizar o “outro”,<br />
trazendo as seguintes informações:<br />
Com o surgimento dos primeiros indícios de que a on<strong>da</strong> de terror nos Estados<br />
Unidos foi obra de radicais islâmicos, uma questão tornou-se inevitável: quem é<br />
essa gente que se suici<strong>da</strong> jogando aviões contra edifícios? Que se veste de<br />
bombas e se explode em supermercados e pizzarias de Israel? Que estoura<br />
carros recheados de explosivos contra muros de quartéis? Quem é, enfim, essa<br />
gente que se mata em nome de Alá?<br />
Atualmente, calcula-se que exista em torno de 1,3 bilhão de muçulmanos no<br />
mundo, divididos em diversas correntes religiosas – e apenas uma parcela<br />
pequena está disposta a entregar a vi<strong>da</strong> pela causa. São muçulmanos que<br />
integram ramificações extremistas <strong>da</strong> religião, como os sunitas do Afeganistão e<br />
os xiitas do Líbano, para os quais o suicídio em nome de Alá, normalmente<br />
cometido aos gritos de “Deus é grande”, é uma forma suprema de entrega ao<br />
75 Grifos nossos.<br />
128
amor divino. A maioria dos mulçumanos, no entanto, repudia os ataques suici<strong>da</strong>s e<br />
os considera pecado extremo, uma ofensa contra Alá, na medi<strong>da</strong> em que atenta<br />
contra o dom <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> – um dom divino. “O primeiro equívoco comum entre<br />
ocidentais e cristãos é considerar todo islâmico um extremista suici<strong>da</strong> e, por<br />
extensão, um terrorista em potencial”, adverte a historiadora Maria Apareci<strong>da</strong> de<br />
Aquino, <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de São Paulo. O segundo equívoco, e até mais freqüente<br />
que o primeiro, é julgar que todos os muçulmanos são árabes, quando a maioria,<br />
na ver<strong>da</strong>de, é forma<strong>da</strong> por povos não árabes. Somando-se um erro ao outro,<br />
produz-se uma generalização tão deforma<strong>da</strong> quanto a de alguém que supõe que<br />
todos os católicos são irlandeses e, portanto, todos são radicais. (REVISTA VEJA,<br />
2001, p. 81)<br />
O discurso é construído em tom cauteloso, atribuindo responsabili<strong>da</strong>de a<br />
quem lhe é de direito. O texto é levantado sobre argumentos de uma historiadora,<br />
recurso utilizado para atribuir credibili<strong>da</strong>de à reportagem. Atravessado pelas<br />
figuras radicais islâmicos, sunitas, xiitas, Alá, ocidentais e cristãos, o enunciado<br />
sintoniza as diferenças que recortam os islâmicos, atentando para a diversi<strong>da</strong>de<br />
<strong>da</strong> religião de Maomé. Evidencia-se que não são todos os muçulmanos adeptos<br />
<strong>da</strong> liturgia terrorista. (tema: divisões do mundo islâmico)<br />
As ancoragens Afeganistão e Líbano quando uni<strong>da</strong>s às figuras sunitas e<br />
xiitas, clareiam as diferenças entre os dois principais setores do Islamismo,<br />
alertando que as análises não devem ser precipita<strong>da</strong>s e nem ecoar o senso<br />
comum para determina<strong>da</strong>s colocações.<br />
Nesse trecho do enunciado – e também em seu desdobramento – Veja<br />
omite uma importante informação. Os xiitas são tidos como a ala mais radical do<br />
Islamismo cabendo aos sunitas a característica de moderados. To<strong>da</strong>via, não se<br />
trata de uma ver<strong>da</strong>de absoluta, os sunitas do Afeganistão, o ex-ditador Sad<strong>da</strong>m<br />
Hussein e os próprios membros <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong> assumem perfil fun<strong>da</strong>mentalista<br />
mesmo não pertencendo à facção xiita. Ou seja, são líderes que almejam o poder<br />
independentemente <strong>da</strong> facção. A religião é apenas um caminho para sedimentar<br />
seus objetivos. A não explicação dessa passagem pode trazer confusão ao leitor<br />
que no texto vê os semas /sunitas/ e /xiitas/ como representações<br />
fun<strong>da</strong>mentalistas produzindo o sentido de que todo o Islã é um conjunto terrorista.<br />
Não há diferenças entre os “outros”. (tema: fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico)<br />
129
Em determinado momento do texto, Veja novamente traz à superfície o já<br />
decantado “choque de civilizações” de Samuel P. Huntington como possível<br />
explicação para atos como o 11 de setembro de 2001.<br />
A explicação sobre o que move esses extremistas, segundo alguns especialistas,<br />
talvez esteja num <strong>da</strong>do mais sutil: o choque de civilizações.<br />
“Os Estados nacionais permanecerão como os atores mais poderosos no cenário<br />
mundial, mas os principais conflitos globais ocorrerão entre nações e grupos de<br />
diferentes civilizações”, aposta o professor Samuel P. Huntington, especialista em<br />
estudos internacionais <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Harvard e autor de um livro dedicado<br />
ao assunto. “O choque de civilizações será a linha divisória <strong>da</strong>s batalhas no<br />
futuro”. Nem todos os estudiosos do assunto concor<strong>da</strong>m com a tese de<br />
Huntington, mas não há como negar que, num mundo ca<strong>da</strong> vez menor, ca<strong>da</strong> vez<br />
mais próximo, a religião também funciona como um instrumento de afirmação de<br />
identi<strong>da</strong>de nacional. E a globalização crescente é um processo que se desenrola<br />
sob o comando inequívoco do mundo ocidental – em especial, do império<br />
americano. As potências ocidentais não trilham sua trajetória segundo parâmetros<br />
<strong>da</strong> Bíblia, <strong>da</strong> fé cristã, dos ensinamentos de Jesus, mas, mesmo assim, elas<br />
acabam por se contrapor, culturalmente, aos países muçulmanos, muitos dos<br />
quais se pautam pelo Corão, pela fé islâmica, pelos ensinamentos de Maomé.<br />
Com 1400 anos de rivali<strong>da</strong>de, o cristianismo e o islamismo vêm alterando auges e<br />
colapsos. (REVISTA VEJA, 2001, p. 83)<br />
Veja relata no trecho uma <strong>da</strong>s teorias muito discuti<strong>da</strong> à época dos ataques<br />
e já por nós menciona<strong>da</strong>: “o choque de civilizações”. A postura do enunciado<br />
materializa<strong>da</strong> pela revista, coloca-a como simpatizante <strong>da</strong> tese, mesmo quando o<br />
periódico procura vestir o manto <strong>da</strong> imparciali<strong>da</strong>de. O texto até chega a mencionar<br />
que “nem todos os estudiosos do assunto concor<strong>da</strong>m com a tese de Huntington”,<br />
mas não cita um contra-argumento que mostre posição adversa a do intelectual<br />
estadunidense. Assim, só a visão de Huntington é externa<strong>da</strong>.<br />
Tal como Francis Fukuyama e seu “fim <strong>da</strong> história”, Samuel P. Huntington<br />
criou um paradigma para explicar a ordem mundial pós-Guerra Fria: os conflitos<br />
seriam fun<strong>da</strong>mentalmente culturais, principalmente no confronto com ancoragem<br />
entre Ocidente e Oriente. Uma visão panorâmica mune de razão e credibili<strong>da</strong>de a<br />
tese de Huntington, sobretudo, após o 11 de setembro de 2001. Mas quando<br />
aproximamos a lente analítica a suas idéias, fraturas aparecem. Huntington<br />
ancorou sua teoria numa análise do sistema internacional acreditando que a<br />
geopolítica poderia ser deduzi<strong>da</strong> a partir <strong>da</strong>s estruturas culturais profun<strong>da</strong>s que<br />
130
mol<strong>da</strong>m as civilizações. Ignorou a complexi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> rede de interesses dos<br />
Estados e os emaranhados políticos e culturais <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des contemporâneas.<br />
“Identi<strong>da</strong>des”, “civilizações” não são enti<strong>da</strong>des lacra<strong>da</strong>s, mas um enredo de trocas,<br />
compartilhamento. O “choque de civilizações” está na mente de Huntington, mas<br />
não no cenário <strong>da</strong>s relações internacionais e nem na sobreposição de uma cultura<br />
sobre a outra 76 . (tema: choque de civilizações)<br />
Na parte que encerra a citação, a revista reforça a tese de Huntington ao<br />
produzir o sentido de rivali<strong>da</strong>de entre os mundos cristão e islâmico. Na passagem<br />
textual, o mundo cristão é ungido pelas figuras Bíblia, fé cristã, ensinamentos de<br />
Jesus, enquanto o mundo islâmico tem sua figurativização em Corão, fé islâmica,<br />
ensinamentos de Maomé. Tem-se nessa iconização o efeito de reali<strong>da</strong>de de que o<br />
mundo ocidental e seus valores cristãos são superiores ao mundo islâmico;<br />
atribuem-se ain<strong>da</strong> aspectos teocráticos aos Estados islâmicos e posições laicas<br />
aos Estados cristãos. Ao afirmar que “As potências ocidentais não trilham sua<br />
trajetória segundo parâmetros <strong>da</strong> Bíblia, <strong>da</strong> fé cristã”, Veja aposta no<br />
desconhecimento <strong>da</strong> história por parte de seus leitores, uma vez que o “império<br />
americano” (como citado no texto) fez uso em seu passado de argumentos<br />
divinos, assim como George W. Bush repetiu tal gesto no presente para combater<br />
o terrorismo, para justificar e consoli<strong>da</strong>r a política expansionista dos Estados<br />
Unidos 77 . (tema: fun<strong>da</strong>mentalismo religioso)<br />
76 Edward Said (2003) classifica a tese de Samuel P. Huntington como “choque de ignorância”.<br />
77 O ex-presidente dos Estados Unidos, Willian McKinley justificou sua decisão de invadir as<br />
Filipinas em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana como um pedido feito por Deus enquanto<br />
rezava. O escritor Hernan Melville, autor do clássico Moby Dick, expressou certa vez que: “Somos<br />
o povo peculiar, escolhido, o Israel de nosso tempo. Carregamos a arca <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de do mundo”.<br />
Outro episódio de como a “inspiração divina” norteou a política estadunidense estão nas palavras<br />
de George W. Bush: “Deus me disse para atacar a Al Qae<strong>da</strong>, e eu ataquei. Então ele me deu a<br />
ordem de atacar Sad<strong>da</strong>m, e foi isso que fiz”, explicou o presidente. A raiz do “Destino Manifesto” foi<br />
planta<strong>da</strong> pelos puritanos no século XVII. Em sua jorna<strong>da</strong> através do Atlântico, esses imigrantes se<br />
comparavam aos hebreus do Velho Testamento, cruzando o deserto em busca <strong>da</strong> Terra<br />
Prometi<strong>da</strong>. (Fuser, 2006). O presidente George W. Bush classificou os atentados sofridos por seu<br />
país como “diabólicos”, evocando o imaginário religioso em sua explicação. Em discurso proferido<br />
no dia seguinte aos atentados sentenciou: “Mesmo que eu an<strong>da</strong>sse pelos vales <strong>da</strong>s sombras e <strong>da</strong><br />
morte não sentirei medo porque o Senhor está comigo”. Trata-se de uma evocação de uma<br />
passagem presente no capítulo 23 do livro dos Salmos (Antigo Testamento). Nunca é demais<br />
lembrar que em tribunais dos Estados Unidos é comum à prática de testemunhas prestarem<br />
juramento com uma <strong>da</strong>s mãos sobre a Bíblia.<br />
131
Mais adiante, as informações do próprio texto se encarregam de fragilizar o<br />
“choque de civilizações” ao mostrar que valores ocidentais conseguem conviver (e<br />
bem!) em países islâmicos.<br />
No Irã, há grandes anúncios de produtos ocidentais pelas ruas de Teerã, existem<br />
mulheres procurando cirurgiões plásticos, num sinal de vai<strong>da</strong>de antes<br />
inadmissível, e é muito expressivo o contingente feminino que freqüenta a<br />
universi<strong>da</strong>de – uma rari<strong>da</strong>de em algumas nações islâmicas que confinam a mulher<br />
aos limites do lar. “Há aspectos do capitalismo ocidental que são plenamente<br />
aceitos pelas populações muçulmanas”, diz um diplomata brasileiro que serviu por<br />
oito anos no Líbano. “As cadeias de fast food, como o McDonald’s, fazem sucesso<br />
do Marrocos ao Líbano”, diz ele. (REVISTA VEJA, 2001, p. 84)<br />
As figurativizações expostas em produtos ocidentais, vai<strong>da</strong>de, cirurgiões<br />
plásticos, universi<strong>da</strong>de atrelando valor à figura mulheres mostram a<br />
compatibili<strong>da</strong>de de aspectos ocidentais em território muçulmano. Da mesma<br />
maneira que, a figura McDonald’s (um dos símbolos do capitalismo<br />
estadunidense) quando atrela<strong>da</strong> em tom eufórico pelo sema sucesso às<br />
ancoragens territoriais Marrocos e Líbano (países islâmicos), faz tombar a<br />
generalização precipita<strong>da</strong> de conjugar duas culturas como incompatíveis, de que<br />
somente com o extermínio de uma que a outra pode florescer. (tema: harmonia<br />
entre culturas)<br />
“A cultura do Apocalipse” (p. 130-141) é a matéria que fecha o ciclo de<br />
reportagens sobre os atentados de 11 de setembro de 2001 <strong>da</strong> revista. O texto<br />
destaca que o enredo de tragédias está no cerne na cultura dos Estados Unidos<br />
desde os tempos dos pioneiros. O medo do “outro” sempre foi algo fincado no<br />
imaginário <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de estadunidense. O “outro” fora estigmatizado na figura do<br />
comunista, alienígena, estrangeiro, terrorista (sobretudo de origem islâmica)...<br />
Várias faces que demonstram uma única imagem: o perigo contra os Estados<br />
Unidos e, principalmente, contra os valores ocidentais. E, invariavelmente, são os<br />
Estados Unidos que salvam o mundo do perigo; sempre que alienígenas chegam<br />
à Terra e desejam falar com o líder do planeta, é ao presidente estadunidense que<br />
eles são conduzidos. Temos que, a necessi<strong>da</strong>de do inimigo, de se ter o “outro”<br />
como referência torna-se instrumento político destinado às revitalizações sociais,<br />
econômicas e/ou instrumento político para justificar práticas governamentais que<br />
132
podem ser julga<strong>da</strong>s impopulares. O legado dessa ação está encravado na história<br />
dos Estados Unidos e também na própria humani<strong>da</strong>de. (tema: medo como<br />
instrumento político)<br />
A reportagem tem como fio condutor à cultura <strong>da</strong> tragédia quando põe em<br />
cena o famoso episódio em que Orson Welles, em 1938, narra como se fosse uma<br />
notícia, passagens do livro A Guerra dos Mundos (na obra, marcianos invadem a<br />
Terra e disseminam pânico e destruição). Muitos acreditaram que a narração via<br />
rádio era de fato ver<strong>da</strong>deira e o planeta estava sob ameaça. Um clássico exemplo<br />
de como a mídia pode iludir e produzir sentidos na população. Os veículos<br />
midáticos mol<strong>da</strong>m nossa percepção, nossos sentidos. Quando se fala em guerras,<br />
ataques, sempre temos uma imagem de referência. Para Steinberger (2005, p.<br />
268) “... a nossa imagem de guerra é construí<strong>da</strong> segundo estereótipos do cinema<br />
e <strong>da</strong> televisão”. Sobre o sentido que as imagens produzi<strong>da</strong>s pelo choque dos<br />
aviões nas Torres Gêmeas, Veja atenta que:<br />
A cultura americana já imaginou incontáveis vezes a sua própria destruição. A tal<br />
ponto que imagens únicas em seu horror, como as do desabamento <strong>da</strong>s torres do<br />
World Trade Center, pareceram estranhamente familiares ao ser vistas pela TV. A<br />
impressão de que tudo se assemelhava a um filme deve-se ao fato de que<br />
estúdios de Hollywood produzem ano após ano fitas em que Nova York e outras<br />
grandes ci<strong>da</strong>des dos Estados Unidos são submeti<strong>da</strong>s a ataques terroristas,<br />
explosões nucleares, devastação por meteoros, monstros e alienígenas.<br />
(REVISTA VEJA, 2001, p. 130)<br />
Ou seja, a “cultura <strong>da</strong> tragédia” é alimenta<strong>da</strong> pela indústria do<br />
entretenimento. A ficção parece inspirar a agir sobre a reali<strong>da</strong>de aguçando os<br />
sentimentos dramáticos presentes no imaginário social. (tema: destruição como<br />
componente social)<br />
Dentre a imensa produção cinematográfica dos Estados Unidos, o texto cita<br />
dois filmes que parecem assumir o dom <strong>da</strong> profecia.<br />
Duas fitas dos últimos tempos foram proféticas no que toca à tragédia do World<br />
Trade Center: Em Nova York Sitia<strong>da</strong>, estrela<strong>da</strong> por Denzel Washington e Bruce<br />
Willis, a ci<strong>da</strong>de é criva<strong>da</strong> de bombas por fanáticos muçulmanos, que pretendem<br />
com isso pressionar o governo do país a libertar um de seus líderes –<br />
indisfarçavelmente calcado na figura de Osama bin Laden, o principal suspeito de<br />
ser o responsável pelos atentados <strong>da</strong> semana passa<strong>da</strong>. Já a transformação de um<br />
133
avião comercial em bomba voadora pode ser vista em Momento Crítico, com Kurt<br />
Russel, no qual terroristas islâmicos tomam uma aeronave de carreira e ameaçam<br />
jogá-la sobre Washington. (REVISTA VEJA, 2001, p. 140-141)<br />
Duas ancoragens territoriais presentes no enunciado reforçam o sentido de<br />
profecia: Nova York e Washington – as duas locali<strong>da</strong>des foram os alvos dos<br />
atentados de 11 de setembro de 2001. Os recursos figurativos representados<br />
pelos semas fanáticos muçulmanos, avião comercial, bomba voadora e terroristas<br />
islâmicos, também conduzem a efeitos de reali<strong>da</strong>de que se fariam presentes<br />
naquela trágica terça-feira de setembro. (tema: terrorismo como gênero<br />
cinematográfico)<br />
Na ficção tem-se a certeza de que tudo terminará bem. Todos os<br />
momentos de perigo que assolam a população serão transformados em vitória.<br />
Mesmo se o inimigo vencer, tudo bem! Trata-se apenas de filme! Contudo, o<br />
roteiro <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> real não é tão simples. São extremamente complexas atitudes<br />
como as ações terroristas de 11 de setembro de 2001. No entanto, em discurso<br />
onde procura explicar os motivos do ataque o presidente George W. Bush,<br />
encobrindo os olhos com o véu patriótico, de forma reducionista, dispara:<br />
A América tornou-se um alvo porque somos o mais brilhante farol <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de e<br />
<strong>da</strong> oportuni<strong>da</strong>de no mundo. Ninguém impedirá essa luz de brilhar. Eles não<br />
vergarão o aço de nossa vontade. (REVISTA VEJA, 2001, p.141)<br />
O texto externa os semas eufóricos bra<strong>da</strong>dos pelo presidente<br />
estadunidense. Tem-se a projeção de duas vertentes /liber<strong>da</strong>de/ vs /opressão/. O<br />
sema /liber<strong>da</strong>de/ é atrelado aos valores dos Estados Unidos. Por sua vez<br />
/opressão/ representa o oposto do que é externado por George W. Bush, sendo<br />
valor atribuído aos seus desafetos. Se nos filmes o bem e o mal são substâncias<br />
bem defini<strong>da</strong>s, fora <strong>da</strong> ficção isso não acontece. A luz do “brilhante farol <strong>da</strong><br />
liber<strong>da</strong>de” parece ter cegado o presidente Bush. A reali<strong>da</strong>de pode sim vergar o<br />
aço <strong>da</strong> política externa dos Estados Unidos. Afeganistão e Iraque que o digam.<br />
(tema: exaltação dos valores estadunidenses)<br />
134
4.4.2. CartaCapital<br />
Ao contrário de Veja, to<strong>da</strong>s as reportagens e opiniões <strong>da</strong> CartaCapital<br />
contém assinaturas, inclusive sua “Carta ao Leitor”. O número de matérias sobre<br />
os ataques de 11 de setembro de 2001 é menor do que as apresenta<strong>da</strong>s pela<br />
Veja, como fora apontado na tabela 2. Segundo a metodologia de análise,<br />
enfocaremos as seguintes reportagens:<br />
1. O ataque e a idéia – Mino Carta<br />
2. E o mundo mudou – Flavio Lobo (colaboração de Rodrigo Hai<strong>da</strong>r)<br />
3. Caminho para a intolerância – Darc Costa<br />
4. Não entendemos o mundo árabe – Entrevista concedi<strong>da</strong> por Michel T. Klare<br />
5. Os culpados de sempre – Ana Paula de Sousa<br />
Na apresentação de sua “Carta ao Leitor”, a revista estampa matéria<br />
publica<strong>da</strong> na edição de 1 o de agosto de 2001. A reportagem tinha como título “O<br />
príncipe <strong>da</strong> morte” e fazia referência ao saudita Osama bin Laden e sua<br />
metodologia de terror. Com semas eufóricos, a legen<strong>da</strong> enaltecia: “Leia antes que<br />
aconteça: na edição de 1º de agosto, CartaCapital vislumbrava as ameaças que<br />
ron<strong>da</strong>vam os EUA” (p.5). Trata-se, obviamente, de uma autopropagan<strong>da</strong> em que o<br />
periódico anuncia ter, anteriormente, veiculado informações a respeito do perigo<br />
antes <strong>da</strong> consumação do terror. Com isso, os enunciadores procuram produzir o<br />
efeito de eficiência/credibili<strong>da</strong>de em seus leitores. (tema: autopropagan<strong>da</strong>)<br />
Tendo como título “O ataque e a idéia”, a seção “Carta ao Leitor”, assina<strong>da</strong><br />
pelo jornalista Mino Carta, primeiro texto a ser analisado, diz que<br />
As grandes ideologias estão mortas, diz o pensador italiano Alberto Asor Rosa,<br />
nestes dias de passagem pelo Brasil. As grandes ideologias, com interpretações<br />
do mundo e <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>, nos mais diversos domínios e manifestações. E estão mortas<br />
porque o mundo mudou e, na mu<strong>da</strong>nça, as tornou, de certa forma, obsoletas.<br />
Não morreu, é claro, a capaci<strong>da</strong>de do homem gerar idéias, a despeito <strong>da</strong><br />
manipulação a que submete a chama<strong>da</strong> cultura de massa, ca<strong>da</strong> vez mais<br />
determina<strong>da</strong> no propósito de lhe servir soluções prontas e acaba<strong>da</strong>s. Se ain<strong>da</strong> não<br />
surgiram ideários políticos adequados aos tempos novos, é admissível que<br />
venham a brotar, avisa Rosa.<br />
Uma idéia, independentemente de juízos de valor, está por trás do ataque<br />
camicase desferido contra os Estados Unidos em seu próprio território, algo assim<br />
135
como o fruto envenenado <strong>da</strong> globalização. A qual não é, em si, expressão do Bem<br />
ou do Mal. Benéficas, ou <strong>da</strong>ninhas, podem ser as políticas aplica<strong>da</strong>s para<br />
enfrentar o fenômeno.<br />
O que se viu, até o momento, foi a transferência para o plano global <strong>da</strong> injustiça<br />
social outrora reserva<strong>da</strong> aos cenários nacionais. Ricos ca<strong>da</strong> vez mais ricos,<br />
pobres ca<strong>da</strong> vez mais pobres. A velha história, brutalmente amplia<strong>da</strong>, dilata<strong>da</strong>,<br />
eleva<strong>da</strong> ao quadrado, ou ao cubo. Lamentável, condenável, a morte dos<br />
inocentes, nesta tragédia que espanta o mundo. Mas quais foram as guerras que<br />
não chacinaram inocentes, a começar pelos próprios combatentes, buchas de<br />
canhão?<br />
Esta Edição Especial de CartaCapital busca os significados do ataque ao Império,<br />
quem sabe o começo de um conflito sem precedentes na história <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de.<br />
Às vezes, o homem não percebe já estar vivendo em guerra. Quente. (CARTA,<br />
2001, p. 05)<br />
Mergulhando no nível profundo do texto de Mino Carta temos as oposições<br />
/Igual<strong>da</strong>de/ vs INão-Desigual<strong>da</strong>de/ e /Desigual<strong>da</strong>de/ vs /Não-Igual<strong>da</strong>de/ que são<br />
revesti<strong>da</strong>s, no nível discursivo, por expressões ou termos (que representam<br />
figuras do mundo natural), e que no nível narrativo tomam a forma de “mu<strong>da</strong>nça<br />
de estados” de sujeitos (homem, mundo, globalização, guerras, inocentes...) que<br />
passam por transformações .<br />
No enunciado <strong>da</strong> revista, o oposto de /Igual<strong>da</strong>de/ é concebido como<br />
/Desigual<strong>da</strong>de/, resultante <strong>da</strong>s engrenagens presentes no sistema capitalista.<br />
Desse modo, a /Igual<strong>da</strong>de/ torna-se um valor sufocado pelo capitalismo que, em<br />
sua fase globalizante, acentua os problemas socioeconômicos em diversos<br />
países. Essas disfunções sociais são representa<strong>da</strong>s nos semas “ricos ca<strong>da</strong> vez<br />
mais ricos, pobres ca<strong>da</strong> vez mais pobres”; tendo sentido que os ataques sofridos<br />
pelos Estados Unidos foram conseqüências do “fruto envenenado <strong>da</strong><br />
globalização”, conforme defende o enunciatário. Assim, os valores disfóricos<br />
grafados em /Igual<strong>da</strong>de/, conduzem a /Não-Igual<strong>da</strong>de/, interpretado por<br />
/Desigual<strong>da</strong>de/, conforme demonstra os movimentos <strong>da</strong>s setas que integram o<br />
quadrado semiótico a seguir:<br />
136
Igual<strong>da</strong>de Desigual<strong>da</strong>de<br />
Não-Desigual<strong>da</strong>de<br />
Não-Igual<strong>da</strong>de<br />
O texto de Mino Carta em nenhum momento faz referência ao terrorismo ou<br />
as redes suspeitas do atentado. Nos argumentos contidos no texto, mais do que o<br />
terrorismo, a disjunção conti<strong>da</strong> nos semas /Igual<strong>da</strong>de/ e /Desigual<strong>da</strong>de/ remete<br />
aos ombros do sistema capitalista a culpabili<strong>da</strong>de pelas engrenagens que<br />
moveram as ações sofri<strong>da</strong>s pelos Estados Unidos, principal expoente desse valor<br />
econômico. “O fruto envenenado <strong>da</strong> globalização” – /Desigual<strong>da</strong>de/ seria a<br />
penetração e dispersão <strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>des e injustiças sociais, levando, como diz<br />
o texto, “a ricos ca<strong>da</strong> vez mais ricos, pobres ca<strong>da</strong> vez mais pobres” - /Não-<br />
Igual<strong>da</strong>de/. O jornalista também procura diminuir o efeito negativo sobre o número<br />
de óbitos <strong>da</strong> ação terrorista no trecho: “Mas quais foram as guerras que não<br />
chacinaram inocentes, a começar pelos próprios combatentes, buchas de<br />
canhão?” (tema: crítica ao sistema capitalista)<br />
O “outro”, o “diferente” para o jornalista se traduz em uma ideologia<br />
socioeconômica – o capitalismo – e o combate a seus princípios filosóficos, seria<br />
um dos vetores explicativos para os atentados de 11 de setembro de 2001.<br />
Quando sentencia que “às vezes, o homem não percebe já estar vivendo em<br />
guerra. Quente”, Mino Carta, apresenta a idéia que episódios como o de 11 de<br />
setembro de 2001 são ápices de eventos diários gerados pela face podre do<br />
137
mundo globalizado. Para o jornalista, o protagonista é o sistema capitalista e as<br />
injustiças gera<strong>da</strong>s por este. (tema: causas dos atentados de 11 de setembro)<br />
A seção “Carta ao leitor” <strong>da</strong> CartaCapital oferta ao leitor sentido de<br />
disjunção de valores quando compara<strong>da</strong> a Veja. Para a revista do Grupo Abril, os<br />
ataques terroristas foram ações direciona<strong>da</strong>s contra os valores defendidos pelo<br />
sistema capitalista. O sistema capitalista assume efeito de conjunção: capitalismo<br />
é colado com o Ocidente, representado os mais límpidos anseios do mundo<br />
moderno. Por sua vez, o texto de abertura de CartaCapital expressa valores<br />
disjuntivos ao sistema capitalista e seus sintomas negativos à socie<strong>da</strong>de. Para a<br />
revista, o capitalismo seria o responsável por ações como a de 11 de setembro de<br />
2001 pela desigual<strong>da</strong>de e males embutido em sua filosofia. (tema: crítica ao<br />
sistema capitalista)<br />
Ao tecer críticas ao capitalismo, Mino Carta se mantém fiel à linha editorial<br />
<strong>da</strong> revista (tendência progressista) em trazer à tona a disforia /capitalismo/ vs<br />
/comunismo/. Contudo, o texto peca em omissão de informações jornalísticas<br />
básicas: em momento algum são apontados os autores, ou aos menos os<br />
suspeitos, <strong>da</strong> barbárie terrorista. A cor ideológica prestou um desserviço aos<br />
leitores que os textos seguintes procurariam corrigir em páginas futuras.<br />
O ciclo de reportagens <strong>da</strong> CartaCapital inicia-se com o segundo texto que<br />
analisaremos, “E o mundo mudou” (p.06-10), escrito por Flavio Lobo com a<br />
colaboração de Rodrigo Hai<strong>da</strong>r. Na reportagem, narra-se o cenário dos Estados<br />
Unidos antes e depois dos atentados <strong>da</strong>quela triste terça-feira de setembro de<br />
2001. Seguindo o tom questionador que norteou outros órgãos de imprensa, é<br />
levanta<strong>da</strong> a dúvi<strong>da</strong> de como foi possível um ataque de tamanha envergadura na<br />
maior potência mundial. Os vultosos investimentos em defesa foram vencidos por<br />
utensílios simples e um grandioso planejamento. Todo o aparato defensivo<br />
mostrou-se inócuo frente às ações terroristas. (tema: fragili<strong>da</strong>de do sistema de<br />
segurança dos Estados Unidos)<br />
Também foi prática comum (e compreensível) a especulação dos possíveis<br />
responsáveis pela orquestração terrorista. Abrindo-se as cortinas, CartaCapital<br />
apresenta os principais atores.<br />
138
A lista de suspeitos é grande. Primeiro, espalhou-se a notícia de que a facção<br />
radical Frente para Libertação <strong>da</strong> Palestina teria assumido a autoria, o que logo foi<br />
negado por seus líderes.<br />
Osama bin Laden, o terrorista considerado inimigo número um dos EUA, que<br />
sempre esteve no topo do quadro de apostas, declarou na quarta-feira (12/09) não<br />
ter na<strong>da</strong> a ver com o episódio. Já seu auto-intitulado porta-voz, Omar Bakri, que<br />
reside na Inglaterra, afirmara no próprio dia 11, que somente Bin Laden e seu<br />
grupo teriam recursos e fé suficientes para perpetrar tais ações. “No mundo<br />
islâmico, hoje é um dia de festa”, diz Bakri, na edição do dia 12 do jornal italiano<br />
La Repubblica.<br />
No dia do atentado, em meio ao tiroteio de informações, contra-informações,<br />
declarações e desmentidos, um interlocutor anônimo do grupo extremista japonês<br />
Exército Vermelho reivindicava a autoria dos atentados “para vingar os mortos de<br />
Hiroshima e Nagasaki”. A notícia, veicula<strong>da</strong> pela France Press e reproduzido pelo<br />
portal brasileiro Terra, parece não ter sido leva<strong>da</strong> a sério.<br />
Outra hipótese apontava para milícias ultradireitistas americanas. (LOBO, 2001, p.<br />
08-09)<br />
Ao apresentar as figuras Frente para Libertação <strong>da</strong> Palestina, Osama bin<br />
Laden, Exército Vermelho e milícias ultradireitistas americanas o texto traz a<br />
público possíveis indicações <strong>da</strong>s mentes que poderiam ter planejado os ataques.<br />
As duas primeiras figurativizações remetem ao mundo islâmico. As ancoragens<br />
territoriais Hiroshima e Nagasaki trazem ao presente o ataque nuclear sofrido pelo<br />
Japão em 1945. Entre as hipóteses, alertava-se também que o ato poderia ter<br />
partido de facção política endêmica aos Estados Unidos, mostrando que o<br />
fantasma de Timothy McVeigh ain<strong>da</strong> assombrava o imaginário estadunidense.<br />
De to<strong>da</strong>s as sentenças, a de Omar Bakri seria pega pelo braço <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de.<br />
Pode causar espanto a recusa inicial de Osama bin Laden e <strong>da</strong> rede Al Qae<strong>da</strong><br />
sobre a autoria <strong>da</strong>s operações de 11 de setembro e 2001, uma vez que os<br />
Estados Unidos sempre foram o desafeto preferido do terrorismo islâmico. Mas<br />
trata-se de uma técnica comum entre os seus. A rede Al Qae<strong>da</strong> sempre negava<br />
seus atentados ou, no mínimo, demorava em fazê-lo. A exceção foi nos atentados<br />
de Madri, na Espanha, em 11 de março de 2004. O ato foi assumido rapi<strong>da</strong>mente<br />
porque o então primeiro-ministro José Maria Aznar vendeu à imprensa a<br />
declaração que as ações teriam sido realiza<strong>da</strong>s pelo grupo ETA 78 .<br />
78 A agência EFE conheci<strong>da</strong> por suas posições independentes embarcou no imbróglio. El País, El<br />
Mundo e a TVE, maior grupo de rádio e TV do país seguiram os mesmos passos. Tempos depois,<br />
El País dedicou uma página à justificação do ato falho, transferindo a culpa para Aznar, acusando<br />
o ex-primeiro-ministro de mentiroso pelas informações caluniosas forneci<strong>da</strong>s. Assim, para que seus<br />
139
A comoção pelo desespero e mortes de pessoas na operação terrorista de<br />
2001 foi um sentimento compartilhado por muitos. Na<strong>da</strong> parecia justificar tamanha<br />
atroci<strong>da</strong>de, condenável sob todos os aspectos.<br />
Contudo, o texto mostra que houve quem destoasse à canção: islâmicos<br />
que sofrem em seus territórios com a política externa dos Estados Unidos e seus<br />
aliados viram no 11 de setembro de 2001 um ato de desagravo, uma benção de<br />
Alá. (tema: causas dos atentados de 11 de setembro)<br />
Do outro lado, quem sentia a chaga terrorista lhe corroer a pele, entoava a<br />
cantilena <strong>da</strong> vingança.<br />
Palestinos, efusivamente, diante <strong>da</strong>s câmeras, saú<strong>da</strong>m o golpe sofrido pelo “irmão<br />
mais forte” de seus opressores israelenses. Ódio e desespero transformaram-se<br />
em júbilo diante <strong>da</strong> morte de milhares de inocentes. Como, aliás, se viu – na<br />
“trincheira oposta” – durante a Guerra do Golfo.<br />
No dia seguinte aos atentados, o prefeito Rudolph Giuliani afirma que agressões a<br />
pessoas de origem árabe e asiática têm ocorrido em Nova York. Giuliani pede aos<br />
nova-iorquinos para que não ajam como os “loucos” que os atacaram.<br />
Em um artigo intitulado Simply Kill These Bastards (Simplesmente Mate Esses<br />
Bastardos), veiculado no site do jornal New York Post, um certo Steve Dunleavy<br />
defende que as ci<strong>da</strong>des ou países que hospe<strong>da</strong>m esses “vermes” sejam<br />
bombardeados“ até virarem quadra de basquete”. (LOBO, 2001, p. 10)<br />
Com a sensibili<strong>da</strong>de à flor <strong>da</strong> pele, muitos viram no Islamismo um mal a ser<br />
combatido, sem atentarem que não se trata de uma massa homogênea, a<br />
profissão de fé do terrorismo não é celebra<strong>da</strong> por todo mundo muçulmano.<br />
CartaCapital falha ao não explicar esse ponto importante na reportagem, e<br />
também não a contrapõe com a visão de uma autori<strong>da</strong>de islâmica modera<strong>da</strong>,<br />
criando assim um reducionismo a respeito do Islamismo.<br />
A agressão não ficara apenas em palavras como se evidencia no discurso<br />
de então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Os julgamentos em relação ao<br />
estrangeiro, ao “outro” fora consumado em violência física.<br />
objetivos não fossem relegados ao esquecimento (queriam que a Espanha retirasse as tropas<br />
envia<strong>da</strong>s ao Iraque), o grupo assumiu publicamente suas as ações terroristas realiza<strong>da</strong>s na ci<strong>da</strong>de<br />
de Madri.<br />
140
Quando expõe o discurso eufórico (para os terroristas, disfórico para os<br />
demais) de Omar Bakri afirmando que “No mundo islâmico, hoje é um dia de<br />
festa”, caberia o dever de detalhar o quão abrangente é este mundo. O sema<br />
disfórico /vermes/ usado por Steve Dunleavy em seu artigo é um indicativo de<br />
desinformação e caracterização preconceituosa do “outro”. Curiosamente o desejo<br />
de Dunleavy é verbalizado na figurativização “quadras de basquete”, um ícone do<br />
esporte estadunidense. Esconde-se por trás <strong>da</strong> declaração o desejo de domínio e<br />
imposição de uma cultura sobre a outra. (tema: reação eufórica de facções<br />
islâmicas, ódio ao mundo islâmico)<br />
O terceiro texto a ser analisado em CartaCapital, “O caminho para a<br />
intolerância” (p. 41), é assinado pelo Coordenador <strong>da</strong> Escola Superior de Guerra e<br />
Diretor do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos do Rio de Janeiro, Darc<br />
Costa.<br />
... uma socie<strong>da</strong>de ameaça<strong>da</strong> é uma socie<strong>da</strong>de que tende a se isolar, um processo<br />
indissociável <strong>da</strong> valorização do que é seu, mas que raramente escapa de resvalar<br />
na desvalorização sistemática do que é dos outros. Uma socie<strong>da</strong>de que procura<br />
marcar forte a alteri<strong>da</strong>de. Esses novos atributos, postos em hegemonia, podem<br />
criar razões de insegurança bem maiores que as atuais. Podem construir um<br />
mundo de dúvi<strong>da</strong>s e de riscos. Aí está o maior dos crimes que foi perpetrado nos<br />
ataques terroristas a Washington e Nova York: levar a que se reconstrua no<br />
mundo o espaço <strong>da</strong> completa intolerância. Não haverá mais espaço para posturas<br />
antiamericanas sem que isso seja visto como terrorismo. O maniqueísmo voltou<br />
com todo o seu trágico séqüito. (COSTA, 2001, p. 41)<br />
No texto, Darc Costa alerta para o uso político que os estadunidenses e<br />
seus simpatizantes poderiam fazer nas medi<strong>da</strong>s antiterrorismo: confundir qualquer<br />
manifestação contrária aos Estados Unidos ou ao sistema capitalista como<br />
indicativos de simpatia ao terror. O cenário que emergia após os atentados<br />
fornecia a oportuni<strong>da</strong>de de reforçar os valores <strong>da</strong> cultura estadunidense ao<br />
mundo, mesmo que as origens dos ataques estejam veicula<strong>da</strong>s a esta imposição<br />
cultural e econômica dos Estados Unidos sobre outros países, sobretudo, os do<br />
Oriente Médio. (tema: imposição cultural)<br />
141
Assim, os valores representados pelo sema /antiamericanismo/ coadunam<br />
com os de /terrorismo/. O /antiamericanismo/ seria negação dos valores<br />
defendidos pelos Estados Unidos – /não-americanismo/. Desta forma, a ideologia<br />
terrorista apresenta-se contrária a axiologia estadunidense como mostra a<br />
seguinte passagem: Americanismo → Não-Americanismo → Antiamericanismo.<br />
Sendo o /terrorismo/ o sentido resultante <strong>da</strong> afirmação dos valores contra os<br />
Estados Unidos.<br />
Em suas palavras, Darc Costa atenta que após os atentados terroristas<br />
sofridos pelos Estados Unidos poderia se erguer uma atitude social contrária às<br />
posturas antiamericanas. Os valores culturais abrigados pelo país poderiam ser,<br />
mais uma vez, impostos a outras culturas. A intolerância aos valores do “outro” –<br />
tudo o que é contrário aos ideais estadunidenses – apresentar-se-ia como um dos<br />
sentimentos do governo dos Estados Unidos nas políticas de retaliação, como<br />
ilustrou a sentença do presidente George W. Bush: “Ca<strong>da</strong> país, em ca<strong>da</strong> região,<br />
precisa decidir: ou está conosco, ou com os terroristas”. Seria novamente<br />
desfral<strong>da</strong><strong>da</strong> a bandeira do pensamento único em defesa de um modo de vi<strong>da</strong>.<br />
(tema: intolerância)<br />
À guisa de conclusão, Darc Costa destila sentimentos eufóricos ao Brasil.<br />
Para o autor, o valor disjuntivo que impulsiona o terrorismo – a intolerância – não<br />
se perpetua no Brasil, alijando o país de possíveis ataques dessa natureza.<br />
Historicamente filho <strong>da</strong> intolerância, o terror não encontra solo fértil no Brasil.<br />
Mantendo nossa tolerância, nosso sincretismo, nossa miscigenação – porque ser<br />
tolerante não é ceder na essência <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de –, haveremos de permanecer fora<br />
<strong>da</strong>s rotas do terror. (COSTA, 2001, p. 41)<br />
Ser tolerante e saber distinguir a diversi<strong>da</strong>de cultural não significa perder a<br />
identi<strong>da</strong>de e sim valorizar a riqueza que o contato, a troca de experiências<br />
proporciona ao enriquecimento <strong>da</strong>s civilizações. (tema: tolerância)<br />
“Não entendemos o mundo árabe” (p. 43), traz entrevista com o Michael T.<br />
Klare, Diretor do Programa de Estudos de Paz e Segurança Mundial.<br />
142
O título <strong>da</strong> entrevista demonstra o percurso <strong>da</strong>s idéias de Michael T. Klare:<br />
a dificul<strong>da</strong>de de compreensão de outra cultura por parte <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
estadunidense.<br />
O americano comum acredita que o que nós fazemos é para o bem do mundo<br />
inteiro, não entende que existem outras pessoas que interpretam as nossas ações<br />
como hostis.<br />
(...)<br />
Se for confirmado que esses atentados têm origens islâmicas ou árabes, eu temo<br />
que realmente possa haver uma reação violenta contra os árabes americanos.<br />
Aqui se diz que esses acontecimentos são como Pearl Harbor, e depois desse<br />
ataque o governo americano prendeu americanos de descendência japonesa em<br />
campos de isolamento. É um precedente grave. (KLARE, 2001, p. 43)<br />
O discurso de Michael T. Klare revela valores disfóricos em relação a outras<br />
culturas presentes no imaginário de parcela <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de estadunidense, uma vez<br />
que existe a dificul<strong>da</strong>de de reconhecer o “outro”, procurando desvalorizá-lo.<br />
Quando declara que “O americano comum acredita que o que nós fazemos é para<br />
o bem do mundo inteiro”, Klare indica o quanto os valores do Destino Manifesto 79<br />
ain<strong>da</strong> povoam a cultura dos Estados Unidos. (temas: exaltação dos valores<br />
estadunidenses e intolerância cultural)<br />
Na reportagem “Os culpados de sempre” (p. 54-55) de Ana Paula Sousa, as<br />
revistas Veja e CartaCapital se encontram ao trazerem para os leitores a<br />
contundente relação entre o cinema e a cultura árabe 80 na produção dos sentidos<br />
e depreciação dos valores.<br />
79 O Destino Manifesto é a uma sentença que expressa a crença de que o povo dos Estados<br />
Unidos é eleito por Deus para coman<strong>da</strong>r o mundo, e por isso o expansionismo estadunidense é<br />
apenas o cumprimento <strong>da</strong> vontade Divina. Os defensores do Destino Manifesto acreditaram que<br />
expansão não só era boa, mas que era óbvia ("manifesto") e inevitável ("destino"). Em 1997,<br />
Madeleine Albright, Secretária de Estado estadunidense durante o governo de Bill Clinton,<br />
procurando justificar o lançamento de mísseis contra o Iraque, bradou: “Se nós temos que usar a<br />
força, é porque somos a América. Somos a nação indispensável. Nós temos estatura. Nós<br />
enxergamos mais longe em direção ao futuro”.<br />
80 Um grupo americano de defesa dos direitos dos muçulmanos protestou em janeiro de 2007<br />
contra um episódio <strong>da</strong> série de TV “24 horas”, afirmando que a história promove estereótipos<br />
preconceituosos que prejudicam o Islamismo.<br />
O episódio questionado pelo Conselho de Relações Islâmico-americano (CAIR, sigla em inglês),<br />
exibido no domingo passado, nos Estados Unidos, conta como terroristas islâmicos explodem uma<br />
bomba nuclear perto de Los Angeles.<br />
“O impacto emocional de cenas de ficção, que incluem mortes em grande escala e destruições<br />
com uma grande amplitude nos Estados Unidos, podem ter efeitos negativos sobre a atitude frente<br />
às liber<strong>da</strong>des civis e religiosas, assim como as relações entre as religiões", afirmou o Conselho em<br />
um comunicado. "A relação estabeleci<strong>da</strong> repeti<strong>da</strong>s vezes pelo programa de atos de terrorismo com<br />
143
O filme Nova York Sitia<strong>da</strong>, dirigido por Edward Zwick mais uma vez é citado<br />
como exemplo. O enredo do filme narra a investigação de um agente do FBI sobre<br />
uma série de atentados terroristas causados pela prisão, nos Estados Unidos, de<br />
um líder muçulmano. O fato serve de pretexto para a militarização <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de de<br />
Nova York contra o inimigo de origem árabe e islâmica.<br />
Quando do lançamento do filme (1997) a comuni<strong>da</strong>de árabe protestou<br />
acusando a obra de estereotipar sua cultura e associar de maneira irresponsável<br />
Islamismo e terrorismo como valores intrínsecos. (tema: depreciação dos valores<br />
islâmicos)<br />
O texto traz em suas linhas referências ao professor <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de<br />
Los Angeles, Douglas Kellner que, em parceria com Michael Ryan, analisou o<br />
fenômeno no livro Camera Politics: The Politics and Ideology of Contemporany<br />
Hollywood Film que ilustram tal preconceito.<br />
No levantamento realizado por Douglas Kellner (...) em pelo menos 21 filmes<br />
produzidos pelos Estados Unidos entre 1984 e 1986 os árabes receberam<br />
praticamente o mesmo tratamento que o cinema nazista dispensou aos judeus.<br />
Segundo ele, em filmes como Protocolo, Jóia do Nilo e Setembro Vermelho, os<br />
árabes são apresentados como ver<strong>da</strong>deiros ícones do mal. “Eles são<br />
constantemente demonizados nos filmes de Hollywood, ocupando o lugar dos<br />
comunistas como os inimigos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de americana...”<br />
De acordo com Kellner, os árabes são mostrados sempre de modo estereotipado:<br />
como milionários grosseiros ou pobretões ignorantes. “Essa demonização é<br />
deplorável e perigosa, criando inimigos internos e externos que podem provocar<br />
reações como o destrutivo ato terrorista que acabamos de vivenciar”, avalia o<br />
autor. (SOUZA, 2001, p. 54)<br />
O texto mostra de maneira clara os valores disjuntivos destinados aos<br />
“outros”. As figurativizações construí<strong>da</strong>s pelos semas /árabes/, /milionários<br />
grosseiros/ e /pobretões ignorantes/, /ver<strong>da</strong>deiros ícones do mal/ se constituem<br />
em uma rede isotópica depreciativa à cultura do outro, forjando inimigos tanto<br />
externa como internamente. A produção de sentidos negativos aos árabes é<br />
reforça<strong>da</strong> ain<strong>da</strong> pela associação de valores entre a prática nazista de propagan<strong>da</strong><br />
o Islã acabará apenas no agravamento dos preconceitos antimuçulmanos em nossa socie<strong>da</strong>de",<br />
contesta o Conselho.<br />
Fonte: http://televisao.uol.com.br/ultnot/2007/01/19/ult32u15954.jhtm<br />
144
durante a Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial, época em que os judeus foram perseguidos,<br />
presos e mortos pelo governo alemão. (tema: depreciação dos valores islâmicos).<br />
Em geral, os filmes antiárabes dos últimos anos combinam ideologias racistas e<br />
chauvinistas que apresentam os árabes como a encarnação do mal, e os<br />
americanos, como a personificação do bem. Essa visão repete o que Edward Said<br />
(1978) descrevia como “orientalismo”: estabelece as virtudes do Ocidente por meio<br />
<strong>da</strong> delineação <strong>da</strong>s diferenças entre o Ocidente “civilizado” e o Oriente “selvagem”,<br />
que é pintado como irracional, bárbaro, subdesenvolvido e inferior ao Ocidente<br />
racional, refinado e humano (KELLNER, 2001, p.119-120).<br />
Essa liturgia de sentidos disjuntivos prepara o terreno para inimigos préproduzidos,<br />
grupos responsáveis pelos problemas que ameaçam os<br />
estadunidenses. Trata-se de uma estratégia, pois, para Wolton (2004, p. 350) “... a<br />
ideologia nunca é tão forte como quando é banal e cotidiana”. To<strong>da</strong> vez que o<br />
temor foi destaque contra os Estados Unidos, o cinema sempre optou por fatores<br />
exteriores, aos “diferentes”, os “outros”. Comunistas, árabes, alienígenas ou a<br />
própria natureza já protagonizam a encarnação do “mal” nas telas do cinema.<br />
4.4.3. Superinteressante<br />
O distanciamento dos atentados <strong>da</strong> <strong>da</strong>ta de publicação de um veículo<br />
midiático tem duas faces. A revista, sendo mensal, tem um tempo maior de<br />
apuração dos fatos, além de poder relatar novos direcionamentos do ato. Por<br />
outro lado, corre-se o risco de saturação de notícias, como a revista<br />
Superinteressante deixa claro em sua carta ao leitor.<br />
Como li<strong>da</strong>r, em uma revista mensal, com uma notícia desse porte? A imprensa<br />
online, a diária e a semanal esmiuçariam o fato à exaustão. A ponto de as<br />
imagens mais espetaculares jamais registra<strong>da</strong>s por uma lente – o mergulho<br />
suici<strong>da</strong> do Boeing e subseqüente colapso <strong>da</strong>s Torres Gêmeas do World Trade<br />
Center – virarem, em questão de horas, um lugar-comum insuportável. (SILVA,<br />
2001, p.09)<br />
Despindo-se dessa saia-justa, a revista opta por investigar o funcionamento<br />
<strong>da</strong> mente dos terroristas e combater a idéia de que todos eles são doentes<br />
mentais, as origens remotas do terrorismo e embaralha as cartas entre o “bem” e<br />
145
o “mal”, aproximando o “nós” dos “outros”. Na tentativa de que não se confun<strong>da</strong><br />
to<strong>da</strong> uma manifestação cultural como fanáticos pelo terror, Superinteressante<br />
também fornece aos leitores seções que explicam as faces históricas do<br />
terrorismo e do mundo islâmico.<br />
Abaixo seguem a lista de reportagens analisa<strong>da</strong>s 81 .<br />
1. O Islã é maior que o terror – Jomar Morais<br />
2. Terror na cabeça – Rodrigo Cavalcante<br />
3. De Ju<strong>da</strong>s a Bin Laden – Denis Russo Burgierman<br />
4. A globalização do medo – Leandro Sarmatz<br />
5. Existe terrorismo bom? - Denis Russo Burgierman<br />
A seção “Supernovas – Conhecimento e curiosi<strong>da</strong>de à veloci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> luz”,<br />
tem como característica ofertar aos leitores às novi<strong>da</strong>des sobre o mundo. Nesta<br />
edição, a cartografia do mundo islâmico é pinta<strong>da</strong> com cores vivas. Mesmo<br />
quando a revista apresenta assuntos desconectados do 11 de setembro de 2001,<br />
são impressas frases reflexivas sobre guerras entre os textos.<br />
“Não espere pelo Juízo Final. Ele acontece todos os dias”. Albert Camus (p.21)<br />
“Guerra não é aventura. É uma doença”. Antonie de Sanit-Exupéry (p.23)<br />
“Nunca houve uma guerra boa ou uma paz ruim”. Benjamin Franklin (p.24)<br />
Em comum, as sentenças trazem semas disfóricos em relação às ações<br />
bélicas. Assim, Superinteressante assume postura contrária à guerra optando pelo<br />
tom conciliador e reflexivo em suas páginas mostrando os valores disfóricos entre<br />
/paz/ e /guerra/. (tema: não alinhamento à guerra)<br />
Com chama<strong>da</strong> de título “Separando o joio do quibe”, “O Islã é maior que o<br />
terror” (p.18), de autoria de Jomar Morais, é o texto que abre a seção<br />
“Supernovas”.<br />
81 Superinteressante aponta dois títulos para suas reportagens: um no sumário e outro para o<br />
mesmo artigo no corpo <strong>da</strong> edição. Optamos por enfocar o título presente nas páginas de revista.<br />
146
Uma semana depois de os Estados Unidos terem sofrido o maior atentado<br />
terrorista <strong>da</strong> história, o presidente George W. Bush visitou o Centro Islâmico de<br />
Washington e, pés descalços, exortou os americanos a não confundirem os<br />
terroristas com as pessoas pacíficas que professam o Islã, a religião que mais<br />
cresce no planeta. Mesquitas têm sido apedreja<strong>da</strong>s e muçulmanos, agredidos no<br />
mundo todo, no rastro de uma confusão antiga que atingiu seu ápice sob a<br />
comoção provoca<strong>da</strong> pelo terror: a completa incapaci<strong>da</strong>de dos ocidentais de<br />
entender as peculiari<strong>da</strong>des e as dessemelhanças culturais que compõem o<br />
fascinante mundo islâmico.<br />
Visto pelos olhos de um americano – ou de um brasileiro –, um muçulmano de<br />
Dubai, árabe, e outro de Teerã, persa, pensam e agem de forma idêntica. Errado.<br />
Os 1,3 bilhão de seguidores do profeta Maomé (1,5 milhão no Brasil) não são um<br />
bloco homogêneo. Como os cristãos, dividem-se em correntes e seitas que<br />
interpretam diferentemente os textos do Corão, o livro sagrado islâmico. Os<br />
muçulmanos sequer se limitam aos países de etnia árabe, como muitos imaginam.<br />
A maior nação islâmica do mundo – a Indonésia – não é árabe. Entre os 56 países<br />
em que o Islamismo é a religião predominante, há até dois vizinhos do Brasil – a<br />
Guiana e o Suriname.<br />
Na lista, estão desde países tolerantes como Marrocos e Tunísia, que aderiram à<br />
economia global e mantêm acordos com a União Européia, até economias<br />
agrárias, como Moçambique e Afeganistão.<br />
No pequeno Dubai, 200 empresas de alta tecnologia – inclusive a IBM e Microsoft<br />
– dão o tom <strong>da</strong> abertura ao Ocidente. Já a Malásia ostenta, no horizonte de sua<br />
capital, um par de torres bem mais altas que as que desabaram em Nova York.<br />
A face mais conservadora do Islã se apresenta nos Estados teocráticos, onde as<br />
normas religiosas constituem ou norteiam o sistema legal e governos são<br />
dominados pelo clero. Mas países assim são absoluta exceção. Um deles é o Irã,<br />
transformado em república Islâmica em 1979 (e que, nos últimos dois anos, está<br />
adotando posturas mais flexíveis). Outro é o Afeganistão, onde há cinco anos a<br />
milícia Taleban – que George W. Bush achava que era uma ban<strong>da</strong> de rock –<br />
impôs sua interpretação fun<strong>da</strong>mentalista do Corão. Em ambos os países há<br />
milhões de pessoas que condenam a ditadura teocrática e são contrárias ao<br />
terrorismo. Mesmo assim, à revelia <strong>da</strong> maioria <strong>da</strong> população, os governos têm<br />
apoiado militar e financeiramente organizações violentas como o Hezbollah (no<br />
caso do Irã) e o Al Qae<strong>da</strong> de Bin Laden (no caso do Afeganistão).<br />
“A maior parte dos movimentos políticos islâmicos não utiliza a força”, diz a<br />
professora de relações internacionais Norma Bre<strong>da</strong> dos Santos, <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de<br />
de Brasília. O Islamismo não professa o ódio. Aliás, os árabes, assim como os<br />
judeus, cumprimentam-se desejando paz uns aos outros (salam em árabe, shalom<br />
em hebraico). A opção pelo terrorismo, minoritária nessas nações, é um fenômeno<br />
recente que na<strong>da</strong> tem a ver com a essência <strong>da</strong> crença em Alá.<br />
Foi graças à força do Islamismo que a humani<strong>da</strong>de viu surgir, há 13 séculos, o<br />
maior império do mundo – o árabe. Durante sua expansão militar, esse sofisticado<br />
povo levou para a Europa, até então mergulha<strong>da</strong> nas trevas <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média,<br />
inovações como a medicina, a história, as universi<strong>da</strong>des, a ciência e a justiça.<br />
Nós, ocidentais, devemos tudo isso ao Islã. (MORAIS, 2001, p. 18)<br />
147
O texto identifica elementos conjuntivos entre valores islâmicos e ocidentais<br />
e sinaliza que é possível a coexistência pacífica entre ambos. Do outro lado,<br />
preconceito e desinformação são semas disfóricos que se unem em uma axiologia<br />
negativa sobre o assunto em questão. (tema: compreensão do mundo islâmico)<br />
O enunciado é repleto de ancoragens territoriais. Este recurso semiótico<br />
aplicado ao texto ilustra a amplitude alcança<strong>da</strong> pelo Islamismo contornando a<br />
estreita idéia de que o mesmo se finca apenas em solos do Oriente Médio.<br />
Os argumentos elencados por Jomar Morais demonstram a fragili<strong>da</strong>de do<br />
conceito de “choque de civilizações” de Samuel P. Huntington. Mostram as várias<br />
faces do Islamismo, ilustrando que o mesmo não pode ser reduzido a fanáticos<br />
terroristas, além de relembrar a contribuição histórica do Islã para o Ocidente.<br />
Afinal, o mundo “ocidental” recebeu a herança greco-romana e a difusão dos<br />
sistemas de irrigação existentes no norte <strong>da</strong> África através dos árabes; a<br />
arquitetura românica européia tem raízes árabes, sendo a basílica de São Marcos,<br />
em Veneza, possuidora do traço bizantino.<br />
Assim, ao analisarmos o nível profundo do enunciado, temos a relação de<br />
contrários expostas em /Tolerância/ vs /Intolerância/. A disjunção /Intolerância/ se<br />
enfraquece com apresentação <strong>da</strong>s ancoragens territoriais que ampliam a<br />
geografia islâmica e figurativizações que colocam muçulmanos, judeus e cristãos<br />
em um tom conjuntivo. Constrói-se o sentido como é ilustrado no quadrado<br />
semiótico abaixo.<br />
Tolerância Intolerância<br />
Não-Intolerância Não-Tolerância<br />
148
Ao edificar os argumentos que esclarecem que não são todos os islâmicos<br />
fanáticos e expandindo a ancoragem territorial para além <strong>da</strong>s fronteiras do Oriente<br />
Médio, tem-se a seguinte passagem na produção de sentidos: Intolerância → Não-<br />
Tolerância → Tolerância. Afloram-se no texto valores conjuntivos com a cultura do<br />
“outro”, quebrando as engrenagens que ro<strong>da</strong>m o reducionismo ao colocar todo o<br />
Islamismo sobre um mesmo manto de interpretação, principalmente negativa.<br />
(tema: tolerância à cultura islâmica)<br />
Além de jogar luz à discussão, o enunciado usa de ironia para criticar o<br />
despreparo de George W. Bush ao comentar que o presidente estadunidense<br />
pensava que a milícia Talebã era um grupo de rock. Essa sentença irônica reforça<br />
as dúvi<strong>da</strong>s do êxito e uma incursão chefia<strong>da</strong> pelo presidente dos Estados Unidos,<br />
reforçando a tese de não alinhamento à guerra proposta pela revista. O texto<br />
também procura desfral<strong>da</strong>r a bandeira <strong>da</strong> paz. Quando descreve a visita de<br />
George W. Bush a mesquitas e relata o depoimento do presidente que consiste na<br />
separação de facções terroristas do Islamismo em geral. Contudo, as atitudes<br />
posteriores de George W. Bush ofuscariam seu discurso apaziguador. O sangue<br />
de civis iria irrigar as invasões estadunidenses no Afeganistão e posteriormente no<br />
Iraque. Da atitude politicamente correta o presidente George W. Bush partiria para<br />
o famoso e bélico aforisma: “Olho por olho, dente por dente”. (tema: não<br />
alinhamento à guerra)<br />
O segundo texto analisado “Terror na cabeça” (p. 40-44), assinado por<br />
Rodrigo Cavalcante, ilustra o raciocínio terrorista à luz <strong>da</strong> ciência e quebra<br />
estereótipos construídos pelo senso comum em relação ao “outro”. A reportagem<br />
argumenta que é possível a existência de psicopatas no nicho terrorista, mas é um<br />
engodo achar que todos os terroristas são psicopatas ou loucos. (tema:<br />
compreensão do raciocínio terrorista)<br />
“A idéia de que terroristas são mentalmente doentes não correspondem à<br />
reali<strong>da</strong>de”, diz Philip Schorodt, especialista em terrorismo <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de<br />
Kansas, Estados Unidos. “Eles não são pirados que ouvem vozes do além. São<br />
pessoas que acreditam estar agindo certo e farão de tudo para atingir seus<br />
objetivos”. Quando perguntado sobre por que alguém <strong>da</strong>ria a própria vi<strong>da</strong> por uma<br />
causa, qualquer que seja ela, Schorodt diz: “Procure a lista de sol<strong>da</strong>dos<br />
149
americanos que ganharam me<strong>da</strong>lhas de honra na Guerra do Vietnã e você vai<br />
encontrar dezenas de homens que morreram em ações suici<strong>da</strong>s pela mesma<br />
leal<strong>da</strong>de ao grupo que moveu as pessoas que cometeram o atentado”. Apesar de<br />
reconhecer que há uma clara diferença entre uma guerra e um ato terrorista – o<br />
ato terrorista é inesperado e, por isso, mais covarde, atingindo bem mais inocentes<br />
–, ele diz que a mente dessas pessoas funciona como a de um sol<strong>da</strong>do. “Na<br />
cabeça deles, a guerra existe, eles estão do lado do bem e não conseguem<br />
enxergar civis inocentes. Para eles só há inimigos”.<br />
O historiador de assuntos religiosos Philip Jenkins, <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
Pensilvânia, também nos Estados Unidos, tem uma visão pareci<strong>da</strong>. Ele costuma<br />
perguntar para os seus alunos o que acham dos pilotos americanos que<br />
derrubaram as bombas atômicas que mataram mais de 120.000 civis – 20 vezes<br />
mais que as cerca de 6.000 vítimas no ataque a Nova York e Washington – em<br />
Hiroshima e Nagasaki, em 1945. “Como havia uma guerra e eles representavam<br />
uma nação inteira, ninguém poderia chamá-los de extremistas”, diz Jenkis.<br />
“Terroristas também acham que estão numa guerra e representam uma causa,<br />
mesmo que essa batalha não seja entre nações”. Assim como os kamikazes<br />
japoneses e os sol<strong>da</strong>dos americanos que sabiam que não <strong>voltar</strong>iam de suas<br />
missões no fronte ocidental, os seqüestradores que atacaram Nova York também<br />
acreditavam que estavam destruindo um inimigo em nome de uma causa justa.<br />
“Dentro <strong>da</strong> sua lógica, não havia inocentes nas torres do World Trade Center”, diz<br />
Jenkins. (CAVALCANTE, 2001, p. 41-42)<br />
Entoando a melodia contraria à posição bélica e revanchista dos Estados<br />
Unidos, o texto procura construir o efeito de eficiência/credibili<strong>da</strong>de utilizando-se<br />
de argumentos de especialistas para reforçar sua posição. A ancoragem territorial<br />
iconiza<strong>da</strong> pelo país dos especialistas reforça essa produção de sentidos: ambos<br />
são dos Estados Unidos. Tem-se nessa constatação, a posição defendi<strong>da</strong> pela<br />
revista. Como os atentados sangraram os Estados Unidos, posições favoráveis à<br />
vingança e justificativas para tal ato (como tantas que apareceram nesse período)<br />
seriam até compreensíveis vindo de ci<strong>da</strong>dãos estadunidenses.<br />
As figurativizações conti<strong>da</strong>s em kamikazes japoneses e sol<strong>da</strong>dos<br />
americanos ilustram que a cultura <strong>da</strong> guerra é cola<strong>da</strong> a outros povos. A guerra dos<br />
terroristas é constante e, não raro, é alimenta<strong>da</strong> por atos belicosos praticados no<br />
passado contra suas pátrias.<br />
A reportagem sobrepõe às opiniões dos especialistas em um exemplo<br />
prático feito com Mohamed Atta, que pilotou o Boeing 767 que colidiu com a torre<br />
norte do World Trade Center. O depoimento de Chaille Wendt, ex-colega de<br />
estudo do terrorista, realça a tese.<br />
150
“Ele era gentil, calmo e extremamente educado. (...) Seu trabalho de conclusão<br />
de curso – um projeto sobre o planejamento <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de síria de Aleppo –<br />
mereceu elogios dos professores”. (CAVALCANTE, 2001, p. 41)<br />
Desta feita, a reportagem distingue os sentimentos que movem o psicopata<br />
e o terrorista, destacando a opinião do psiquiatra Henrique Del Nero que declara:<br />
“Só pelo olhar dele, desconfio que Osama bin Laden seja o único psicopata <strong>da</strong><br />
ação de Nova York” (p.42).<br />
É fato real que os líderes terroristas jamais se imolam em missões “santas”,<br />
de cunho libertador e divino. Sempre recrutam pessoas para tal ação que, além <strong>da</strong><br />
promessa do paraíso, sua família recebe dinheiro pela tarefa realiza<strong>da</strong>.<br />
O uso <strong>da</strong> religião como contexto ou pretexto para práticas de sacrifício é<br />
algo estável entre fun<strong>da</strong>mentalistas, sempre que se discute eventos dessa<br />
natureza. As benesses pós-morte prometi<strong>da</strong>s pelo ritual de sangue é um canto<br />
que seduz muitos: transformar-se em mártir seria a prova de fé definitiva e o ponto<br />
áureo de uma vi<strong>da</strong> de devoção.<br />
Nesse ponto, brotam os problemas <strong>da</strong>s interpretações <strong>da</strong>s escrituras<br />
sagra<strong>da</strong>s, muitas vezes usa<strong>da</strong>s como normas políticas, seu conteúdo se ajusta<br />
conforme a necessi<strong>da</strong>de e visão de quem o lê.<br />
Assessor de assuntos bíblicos <strong>da</strong> Conferência Nacional dos Bispos do Brasil<br />
(CNBB), o padre Johan Konings (...) diz que a suposta dor física no Cristianismo<br />
não passa de uma má interpretação dos textos <strong>da</strong> Bíblia. “Quando Jesus diz: ”Se<br />
um olho lhe faz pecar, arranca-o”, as pessoas não podem interpretar isso como<br />
um incentivo à automutilação, mas como um conselho de que devemos cortar o<br />
mal pela raiz”.<br />
(...)<br />
Já no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, há uma passagem que diz que<br />
aqueles que morrem em defesa de Alá irão para o mais alto nível do paraíso, o<br />
sétimo, ao lado dos profetas, com direito a mulheres delica<strong>da</strong>s e cálices cheios.<br />
“Essas palavras são uma forma de explicar aos homens que o paraíso é um lugar<br />
maravilhoso”, diz o xeque Jihad Hassan Hammadeh, líder <strong>da</strong> religião islâmica em<br />
São Paulo. Mas ele lembra que não há nenhuma promessa de paraíso para<br />
aqueles que usam a violência. “O texto é claro: quem mata um homem inocente<br />
age como se estivesse matando to<strong>da</strong> a humani<strong>da</strong>de”, diz o xeque. “O Alcorão<br />
somente permite o uso <strong>da</strong> violência como legítima defesa, e ain<strong>da</strong> assim, na<br />
mesma proporção do agressor, nunca incitando mais violência”. Por essa visão,<br />
Mohamed Atta e os outros terroristas que participaram do atentado de 11 de<br />
setembro podem esquecer o paraíso islâmico pelo qual provavelmente decidiram<br />
morrer. (CAVALCANTE, 2001, p. 43)<br />
151
Recorrendo às figuras de linguagem (Bíblia, Alcorão, padre, Jesus, Alá,<br />
xeque...) e sentenças religiosas (”Se um olho lhe faz pecar, arranca-o”, “aqueles<br />
que morrem em defesa de Alá irão para o mais alto nível do paraíso, o sétimo, ao<br />
lado dos profetas, com direito a mulheres delica<strong>da</strong>s e cálices cheios”...) o texto<br />
resgata passagens que demonstram o risco que as más interpretações <strong>da</strong>s<br />
escrituras sagra<strong>da</strong>s nutrem nos ideais do fanatismo tanto cristão como islâmico,<br />
jogando assim com valores semelhantes como os “nossos” – Cristianismo – e os<br />
“deles” – Islamismo. (tema: fun<strong>da</strong>mentalismo religioso)<br />
A reportagem em seu arremate aponta para o perigo do anseio belicista que<br />
mol<strong>da</strong>va substancial parcela <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de estadunidense e que tinha na mídia<br />
seu forte expoente.<br />
Até mesmo a revista Time, geralmente tão equilibra<strong>da</strong> em suas toma<strong>da</strong>s de<br />
posição, escreveu um editorial dizendo que não era hora de os americanos se<br />
consolarem, era hora de eles aproveitarem o ódio para responderem com fúria aos<br />
ataques. Alguns especialistas vêem um risco nisso. “O discurso americano está<br />
ca<strong>da</strong> vez mais parecido com o discurso dos fun<strong>da</strong>mentalistas islâmicos”, diz<br />
Roberto Ziemer, especialista em psico-história – uma maneira de estu<strong>da</strong>r história à<br />
luz <strong>da</strong> psicologia. Ziemer diz que, no fundo, o fun<strong>da</strong>mentalismo – e seu filho, o<br />
terrorismo – é apenas uma forma simplista de os homens personificarem num<br />
inimigo o mal que existe em todos. (CAVALCANTE, 2001, p. 44)<br />
Os semas /ódio/ e /fúria/ expõem o desejo de vingança defendido pela<br />
mídia dos Estados Unidos contra o terror. A emoção se sobrepunha à razão.<br />
Razão em saber exatamente a quem se deveria atacar em uma retaliação. A<br />
passagem do enunciado alerta para o próprio fun<strong>da</strong>mentalismo que se colava à<br />
parcela substancial dos estadunidenses. Nessa passagem, procura-se mostrar<br />
que “nós” somos tão fun<strong>da</strong>mentalistas como os “outros”.<br />
O conceito de “mal” é um valor disfórico presente em to<strong>da</strong>s as socie<strong>da</strong>des –<br />
embora se possa discutir as concepções que ca<strong>da</strong> um tem sobre esse sentimento<br />
– mas para a grande maioria dos estadunidenses, em especial seus governantes,<br />
ele sempre está encarnado no “outro”, principalmente estrangeiros e pessoas que<br />
não estejam perfeitamente conecta<strong>da</strong>s à cultura defendi<strong>da</strong> pelos Estados Unidos.<br />
(tema: o “outro” como culpado)<br />
152
Entre as abor<strong>da</strong>gens realiza<strong>da</strong>s pela revista Superinteressante a<br />
contextualização sobre o terrorismo como processo político e histórico ganha<br />
relevo em duas reportagens: “De Ju<strong>da</strong>s a Bin Laden” (p.45-46) e “Existe terrorismo<br />
bom?” (p.49-50), ambas assina<strong>da</strong>s por Denis Russo Burgierman. Os textos<br />
eluci<strong>da</strong>m que os ingredientes para conflitos são sempre temperados por um<br />
inimigo externo ou interno; alguém que represente características disjuntivas a<br />
determinado segmento social: o “outro”.<br />
“De Ju<strong>da</strong>s a Bin Laden” procura analisar as raízes do terrorismo, situando-o<br />
no tempo e no espaço. As palavras iniciais parecem descrever a atuali<strong>da</strong>de do<br />
Oriente Médio.<br />
A Palestina está ocupa<strong>da</strong> por uma nação poderosa. Em meio à população<br />
oprimi<strong>da</strong> surge um grupo de terroristas que começa a empreender atentados<br />
contra os invasores, exigindo que eles deixem a ci<strong>da</strong>de sagra<strong>da</strong> de Jerusalém.<br />
(BURGIERMAN, 2001, p. 45)<br />
As ancoragens territoriais Palestina e Jerusalém induzem o leitor à região<br />
asiática castiga<strong>da</strong> por conflitos entre dois povos: israelenses e palestinos.<br />
Figurativizações como população oprimi<strong>da</strong>, grupo de terroristas e invasores...<br />
criam o efeito de contemporâneo no enunciatário. Contudo, trata-se de um<br />
episódio antigo como é esclarecido na seqüência.<br />
Não, não estamos falando do terrorismo muçulmano nos territórios ocupados por<br />
Israel. Essa história é muito mais antiga que o Islamismo – <strong>da</strong>ta do ano 6, quando<br />
Jesus ain<strong>da</strong> era menino. Os judeus não são invasores, mas os oprimidos. É deles<br />
que parte o terrorismo.<br />
(...)<br />
O terrorismo é tão antigo quanto o homem – desde sempre há pessoas usando o<br />
medo, a ameaça, a intimi<strong>da</strong>ção para alcançar seus objetivos. Mas coube a Sicarii,<br />
um grupo radical de militantes judeus, a discutível honra de ser o primeiro grupo<br />
terrorista organizado <strong>da</strong> história.<br />
Para protestar contra a ocupação do Império Romano – uma espécie de Estados<br />
Unidos <strong>da</strong> época –, os Sicarii matavam romanos e judeus colaboracionistas nas<br />
ruas, de forma a criar pânico. Os assassinatos eram cometidos a punhala<strong>da</strong>s (<strong>da</strong>í<br />
o nome Sicarii, ou “homens do punhal”, em grego). O sobrenome do apóstolo<br />
Ju<strong>da</strong>s, Iscariote, é interpretado por alguns estudiosos como uma corruptela de<br />
Sicarii e um indício de que Ju<strong>da</strong>s pertencia ao grupo.<br />
(...)<br />
A palavra “terrorismo” só veio surgir bem depois, para designar o período mais<br />
sanguinolento <strong>da</strong> Revolução Francesa – entre 1793 e 1794 sob o comando de<br />
153
Robespierre (...) cabeças rolaram <strong>da</strong>s guilhotinas, sem julgamento público ou<br />
advogado de defesa. “Ao contrário do terrorismo praticado pelos Sicarii e pelos<br />
Nizarins, o terror revolucionário francês se exercia de cima para baixo”, diz Gayle<br />
Olson-Raymer especialista em história do terrorismo <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de Humboldt,<br />
na Califórnia. (BURGIERMAN, 2001, p. 45)<br />
A estratégia de enunciação utiliza<strong>da</strong> no intróito <strong>da</strong> matéria sublinha o quão<br />
antiga é a manifestação terrorista forjando um cenário aparentemente moderno.<br />
Esclarece que a paisagem agressiva tão comumente associa<strong>da</strong> ao Oriente Médio<br />
<strong>da</strong>ta de tempos vetustos, mostrando a antigüi<strong>da</strong>de do terrorismo como ação<br />
política e, ao se associar os semas /terrorismo/ com /judeus/, constrói-se o sentido<br />
de que não são apenas os islâmicos que fazem uso dessa coerção contra povos.<br />
O texto reforça que o terrorismo é um processo histórico e, mesmo o sema<br />
“terrorismo” tendo sido gestado há pouco mais de dois séculos, durante um marco<br />
<strong>da</strong> História Contemporânea (Revolução Francesa), sua manifestação política<br />
remonta à Antigüi<strong>da</strong>de. As estratégias de atuação também são distintas e, ao<br />
mencionar que “o terror revolucionário francês se exercia de cima para baixo”,<br />
deixa claro que se tratava do “Terrorismo de Estado” em que se produzia pânico<br />
visando à intimi<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil. (tema: terrorismo como processo<br />
histórico)<br />
A matéria fornece como complemento uma síntese indicando os principais<br />
atos terroristas dos últimos cem anos; uma vez que, mesmo antigo, foi no decorrer<br />
no século XX que o terrorismo se arvorou no cenário político internacional.<br />
154
Tabela 3. Século do Terror: os principais atentados dos últimos 100 anos<br />
1901: O anarquista Leon Czolgosz mata a tiros o popular presidente americano William<br />
McKinley. A on<strong>da</strong> de atentados anarquistas que começara na Rússia e chega à América.<br />
1914: Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia são assassinados pelo terrorista sérvio<br />
Gavrilo Princip. O crime deu início à Primeira Guerra Mundial.<br />
1930: Ocorre o primeiro seqüestro de avião, no Peru. A partir dos anos 50, à medi<strong>da</strong> que voar<br />
ficou mais comum, essa nova mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>de de terrorismo espalho pânico pelo mundo.<br />
1946: Extremistas judeus detonam duas minas no Hotel King David, em Jerusalém. O<br />
atentado matou dezenas de civis e apressou a retira<strong>da</strong> <strong>da</strong>s tropas britânicas e a criação do<br />
Estado de Israel.<br />
1972: O grupo palestino Setembro Negro invade a vila olímpica de Munique, seqüestra a<br />
delegação israelense e mata nove atletas.<br />
1995: O extremista americano Timothy McVeigh explode um prédio do governo em Oklahoma,<br />
mata 168 e assusta os americanos, ao mostrar que o terrorismo pode vir de dentro.<br />
2001: O pior atentado <strong>da</strong> história, dois dos maiores prédios do mundo são derrubados, o<br />
centro militar americano é maculado e cerca de 6.000 pessoas morrem 82 .<br />
Fonte: Revista Superintessante (outubro/2001), p. 46. (a<strong>da</strong>ptado)<br />
O início do texto seguinte, “Existe terrorismo bom?” (p.49-50), segue a<br />
mesma metodologia de seu antecessor ao jogar com a produção de sentidos do<br />
enunciatário.<br />
Rolihlahla criou uma milícia em seu país, apesar <strong>da</strong> oposição dos companheiros,<br />
que condenavam a violência. Ele vestiu-se com trajes militares, escondeu-se com<br />
seus homens na mata e distribuiu armas. Seu grupo começou a explodir bombas,<br />
sabotar fábricas, atirar em guar<strong>da</strong>s desprevenidos e espalhar o pavor entre a<br />
população civil. Rolihlahla incitava a violência contra membros <strong>da</strong> elite e muita<br />
gente acabou sendo assassina<strong>da</strong> na on<strong>da</strong> de atentados que se seguiu. Até que<br />
prenderam Rolihlahla.<br />
Sujeito horrível esse Rolihlahla, não é? Terrorista <strong>da</strong> pior espécie, não há dúvi<strong>da</strong>.<br />
Por sorte, ele foi condenado à prisão perpétua. Aliás, talvez você já tenha ouvido<br />
falar dele. Ele é mais conhecido pelo nome inglês que adotou depois do batismo<br />
cristão: Nelson. Nelson Mandela. (BURGIERMAN, 2001, p. 49)<br />
Ou seja, com fina ironia, constrói-se o perfil de um terrorista que, por suas<br />
ações, é compreensível que tenha tido a prisão perpétua como sentença. Quando<br />
o quebra-cabeça é concluído e descobre-se que se trata de Nelson Mandela, a<br />
surpresa é quase que certa 83 .<br />
82 À época dos atentados não se tinha um número preciso de mortos. Estipulavam-se entre 5.000 e<br />
6.000 mortos. Posteriormente, chegou-se ao número de 2.973 vítimas fatais registra<strong>da</strong>s.<br />
83 Mais uma vez ressalta-se a importância do contexto para análise dos fatos. Nelson Mandela teve<br />
tal atuação no combate ao regime do apartheid que negava os direitos civis a maioria <strong>da</strong><br />
população negra na África do Sul. Nelson Mandela fazia uso de práticas terroristas para combater<br />
o Terrorismo de Estado contra um segmento <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de sul-africana.<br />
155
Uma questão feita como subtítulo <strong>da</strong> matéria endossa a produção dos<br />
sentidos na manifestação terrorista. Ao questionar “Violência contra civis é uma<br />
tática horrível. Mas será que no fundo, você não simpatiza com ela?” expressa<br />
que a dubie<strong>da</strong>de entre o bem e o mal depende do ponto de vista em que se<br />
analisa o processo político e que “nós”, em nosso inconsciente, até podemos<br />
compactuar com práticas que condenamos nos “outros”, desde que ajusta<strong>da</strong>s as<br />
nossas intenções.<br />
Com tom instigante o percurso textual cria um emaranhado de sentidos;<br />
mostra-se que quatro “(ex-)terroristas” já foram abençoados com o Prêmio Nobel<br />
<strong>da</strong> Paz. Nelson Mandela, Menachem Begin, Yasser Arafat e Henry Kissinger em<br />
determinados momentos de suas vi<strong>da</strong>s fizeram <strong>da</strong> prática terrorista (de Estado ou<br />
de guerrilhas) uma extensão de seus pensamentos. Sem arrependimentos<br />
garantem que foram forçados a fazer do terrorismo um instrumento de ação para<br />
uma “boa causa”. O enunciado põe à reflexão e à prova se a violência é a única<br />
via a ser trilha<strong>da</strong> contra o inimigo quando cita Mahatma Gandhi. Gandhi foi<br />
protagonista <strong>da</strong> independência indiana pregando a resistência pacífica aos<br />
colonizadores ingleses. O pacifista Mahatma Gandhi nunca foi agraciado com o<br />
Nobel <strong>da</strong> Paz. Euforia e disforia tornam-se sentimentos dotados de efeitos<br />
distintos de acordo com certos objetivos e valores culturais. (tema: ideologias<br />
terroristas)<br />
No texto “A globalização do medo” (p.47-48), Leandro Sarmatz toca as<br />
trombetas <strong>da</strong> história ao entoar o fim de uma era: “Em 11 de setembro, um mundo<br />
morreu e outro nasceu” (p.47) diz o autor, em tom eufórico, no subtítulo. Sarmatz<br />
credita aos ataques terroristas perpetrados contra os Estados Unidos o marco<br />
zero de uma nova ordem mundial que será marca<strong>da</strong> “pela paranóia” (p. 47). (tema:<br />
conseqüências dos atentados contra os Estados Unidos)<br />
O enunciado relata o manto do medo que repousava sobre o planeta pouco<br />
tempo após o 11 de setembro de 2001. Sarmatz aponta que os novos conflitos<br />
mundiais não serão mais apenas entre Estados-Nações, uma vez que os grupos<br />
terroristas ganharam papel de destaque nessa nova formatação militar. Assim, a<br />
munição a ser utiliza<strong>da</strong> contra o terrorismo é composta pela cooperação entre<br />
156
Estados, organizações sociais e religiosas, transformando-se em uma aliança<br />
global contra a ameaça do terror que assombra o mundo. (tema: caminhos<br />
alternativos no combate ao terrorismo)<br />
A decapitação de direitos civis em nome <strong>da</strong> segurança nacional e<br />
internacional gerava pavor nos ci<strong>da</strong>dãos e organizações sociais além de fomentar<br />
o sentimento do preconceito em relação ao “outro”.<br />
“O grande perigo que nós corremos é o de constrangermos ain<strong>da</strong> mais pessoas<br />
que pareçam diferentes, ou seja, de pele mais escura”, afirma (Christoper) Kutz.<br />
O que seria apenas transportar a intolerância e o fanatismo dos grupos<br />
extremistas para as socie<strong>da</strong>des democráticas.<br />
(...)<br />
Membro do Conselho Diretivo <strong>da</strong> John Birch Society, um dos bastiões mais<br />
conservadores do espectro político americano, e editor <strong>da</strong> publicação The New<br />
American, órgão porta-voz dos republicanos, o jornalista Willian Norman Grigg<br />
procura adotar um discurso mais moderado em relação à per<strong>da</strong> de direitos civis<br />
em nome do combate ao terrorismo e à possibili<strong>da</strong>de de uma guerra. “Ao contrário<br />
de um endurecimento <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des individuais e de uma guerra, seria<br />
maravilhoso se a América se inspirasse nesta tragédia para se devotar mais uma<br />
vez aos valores não-intervencionistas”, afirma. Grigg diz ain<strong>da</strong> que uma aliança<br />
global antiterrorismo poderá servir como uma luva a países como Rússia e China,<br />
dispostos a aniquilar movimentos separatistas islâmicos nos territórios <strong>da</strong><br />
Chechênia e de Xinxiang, velhos causadores de enxaquecas nos intransigentes<br />
governos locais. (SARMATZ, 2001, p. 47-48)<br />
A existência de grupos que contestam a ordem vigente foi coloca<strong>da</strong> sobre a<br />
lente <strong>da</strong> severa vigilância. Os atentados terroristas forneceriam o atestado para<br />
mutilação <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des justificando perseguições contra os “outros”. Mesmo os<br />
países onde a possibili<strong>da</strong>de de ataques terroristas era pequena ou nula<br />
escapariam <strong>da</strong> on<strong>da</strong> de espionagem. No Brasil, ain<strong>da</strong> em setembro de 2001, uma<br />
divisão <strong>da</strong> CIA foi instituí<strong>da</strong> no consulado dos Estados Unidos em São Paulo<br />
destina<strong>da</strong> a investigar a lavagem de dinheiro de grupos terroristas no continente.<br />
(tema: redução <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des)<br />
Nos Estados Unidos às opiniões se digladiavam sobre o ar de incertezas<br />
que os estadunidenses respiravam depois <strong>da</strong> execução terrorista sobre o país.<br />
Mas o governo do país não se devotou aos valores não-intervencionista, muito<br />
pelo contrário, a Doutrina Bush pregaria o oposto <strong>da</strong>s intenções de Willian Norman<br />
157
Grigg, esguichando ain<strong>da</strong> mais sangue no desdobramento do 11 de setembro de<br />
2001 e esmaia<strong>da</strong> solução para a problemática do terrorismo mundial. (tema:<br />
conseqüências dos atentados contra os Estados Unidos)<br />
4.4.4. Caros Amigos<br />
Os atentados de 11 de setembro de 2001 mereceram páginas de destaque<br />
na edição de outubro <strong>da</strong> Caros Amigos. A composição <strong>da</strong> capa já era um<br />
indicativo do teor que delinearia as notícias <strong>da</strong> revista. Em um fundo negro os<br />
dizeres disfóricos contra a revanche dos Estados Unidos: “A Guerra de Bush”.<br />
O modelo de sumário utilizado pela revista difere dos demais veículos<br />
analisados. A revista opta por citar o nome do jornalista e um comentário sobre o<br />
texto ao invés do título <strong>da</strong> matéria. O sumário, que já é uma amostra <strong>da</strong> posição<br />
editorial <strong>da</strong> revista, referente à edição de outubro, foi às bancas assim 84 .<br />
1. A grande interrogação<br />
2. José Arbex Jr. mostra o que está por trás <strong>da</strong> Guerra de Bush<br />
3. Sérgio Kalili, do Arizona, conta como é viver no meio <strong>da</strong> nova paranóia macarthista<br />
4. Georges Bourdoukan e a Nona Cruza<strong>da</strong><br />
5. Luis Fernando Novoa Garzon destaca a importância do “inimigo” para o sistema<br />
americano<br />
Em apresentação <strong>da</strong> edição ao leitor, na seção “Carta ao Leitor”, sobre o<br />
título “Grande Interrogação”, a revista se equivoca em suas palavras ao afirmar:<br />
“Esta é uma publicação atípica de Caros Amigos, como têm sido as de to<strong>da</strong>s as<br />
publicações no mundo desde 11 de setembro” (CAROS AMIGOS, 2001, p. 03).<br />
Por qual motivo a presente edição seria atípica? Os atentados aos Estados<br />
Unidos abalaram as estruturas <strong>da</strong> política internacional. Nessa condição, é<br />
perfeitamente normal que todos os veículos de comunicação, inclusive Caros<br />
Amigos, retratassem os atos terroristas. Seria uma edição atípica se a revista<br />
optasse pela omissão. Omitir-se aos atentados sofridos pelos Estados Unidos<br />
seria um pecado mortal para qualquer meio de comunicação. Nesse sentido, a<br />
84 Estamos nos referindo apenas às reportagens que versam sobre os atentados de 11 de<br />
setembro de 2001. Caros Amigos também não cita os títulos de seus textos no sumário. Faremos<br />
isso no decorrer <strong>da</strong>s análises.<br />
158
edição de outubro <strong>da</strong> Caros Amigos apenas seguiu os procedimentos de outros<br />
veículos: criou seu valor de ver<strong>da</strong>de, ao retratar de modo particular, o terrorismo<br />
desferido aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Não há na<strong>da</strong> fora do<br />
comum em retratar um ato permeado pela barbárie que entrou para a história.<br />
Trata-se de puro procedimento jornalístico.<br />
“Carta ao Leitor” termina seu texto com um pensamento do saudoso<br />
professor Milton Santos que afirma: “... haverá ‘uma globalização vin<strong>da</strong> de baixo<br />
para cima, com emoção, com menos cálculos’ e ‘com novas instituições<br />
internacionais’”, e uma interrogação: “Estaremos assistindo o despertar <strong>da</strong><br />
periferia global”? (p.03). Com esses questionamentos, Caros Amigos tenta creditar<br />
que os atentados foram uma manifestação de protesto <strong>da</strong> periferia do sistema<br />
capitalista, ou seja, um ato dos países subdesenvolvidos, alimentando o efeito<br />
disfórico entre /Desenvolvimento/ e /Subdesenvolvimento/ que na dinâmica dos<br />
eixos do quadrado semiótico que assim se apresentam.<br />
Desenvolvimento<br />
(Centro)<br />
Subdesenvolvimento<br />
(Periferia)<br />
Não-Subdesenvolvimento Não-Desenvolvimento<br />
No enunciado <strong>da</strong> Caros Amigos, o valor eufórico apresenta-se na isotopia<br />
/Desenvolvimento/ que traz em seu ventre o capitalismo presente no centro <strong>da</strong><br />
economia mundial (países desenvolvidos). Assim, o /Subdesenvolvimento/ estaria<br />
na raiz <strong>da</strong>s diferenças impostas pelos países capitalistas centrais aos países<br />
periféricos. E caberia a esses países a transformação <strong>da</strong> conjuntura mundial. O<br />
159
sentido de /Desenvolvimento/ defendido pela revista só tem sentido na<br />
transformação do capitalismo ou extinção deste. Dessa forma, “o despertar <strong>da</strong><br />
periferia global” seria uma atitude de transformação mundial em que os países<br />
subdesenvolvidos teriam papel decisivo para uma outra globalização, finca<strong>da</strong> em<br />
valores justos para todos, já que /Desenvolvimento/ expressa relação entre<br />
contraditórios gerando o /Não-Desenvolvimento/ que resulta na operação de<br />
contrários, em /Subdesenvolvimento/. Isso conduz a transformação dos sentidos<br />
produzidos como demonstra<strong>da</strong> no esquema: Subdesenvolvimento → Não-<br />
Subdesenvolvimento → Desenvolvimento, seguindo os sentidos de conjunção que<br />
a linha editorial que Caros Amigos defende como valores eufóricos do capitalismo<br />
ao comunismo.<br />
Realmente, a voz de comando ecoou de um líder islâmico que residia (ou<br />
ain<strong>da</strong> reside) no mundo subdesenvolvido. Mas trata-se de lideranças políticas que<br />
mantém o poder a custo <strong>da</strong> submissão do povo, não se tratando de uma atitude<br />
coletiva. Os inimigos muitas vezes estão em seus próprios territórios. Utilizam-se<br />
do recurso de apontar as causas de todos os males aos “outros” (no caso em<br />
questão aos Estados Unidos). Além do que, os terroristas suici<strong>da</strong>s que se<br />
lançaram sobre Nova York e Washington eram homens educados, de classe<br />
média, não pobres refugiados que padecem de condições básicas de existência.<br />
O questionamento também não leva em conta que os governos de muitos países<br />
periféricos (inclusive o brasileiro) se posicionaram contrários aos atos terroristas e<br />
se soli<strong>da</strong>rizaram com os Estados Unidos. A tentativa de blin<strong>da</strong>r seus argumentos<br />
com o pensamento de Milton Santos, quando passa<strong>da</strong> ao nível mais profundo de<br />
análises também se esvai. A globalização proposta por Milton Santos 85 é ungi<strong>da</strong><br />
pelos ares <strong>da</strong> democracia e extermínio <strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>des que maculam o mundo.<br />
O geógrafo realiza profun<strong>da</strong> reflexão sobre o processo do capitalismo globalizado;<br />
avalia as conquistas tecnológicas e também os limites do próprio processo<br />
buscando identificar nos movimentos populares <strong>da</strong> Ásia, África e América pontos<br />
de sustentação para a materialização de uma socie<strong>da</strong>de justa. Como já<br />
85 Esse pensamento pode ser visto em sua totali<strong>da</strong>de no livro Por uma outra globalização: do<br />
pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003 que citamos<br />
em nossas referências.<br />
160
discutimos 86 os ideais de grupos como a rede Al Qae<strong>da</strong> confrontam-se com esses<br />
valores e visam à instalação de uma teocracia islâmica. O terrorismo <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong><br />
não tem em sua agen<strong>da</strong> a erradicação <strong>da</strong> pobreza e garantir direitos sociais. Se<br />
assim o fosse, a fortuna de Bin Laden seria destina<strong>da</strong> a causas sociais e não para<br />
financiamento de grupos terroristas como o milionário saudita faz há tempos. Além<br />
do que, a rede terrorista chefia<strong>da</strong> por Bin Laden se aproveita do fluxo capitalista<br />
mundial para “lavar” seu dinheiro. Contudo, o pensamento do grupo liderado por<br />
Osama bin Laden e seus mecanismos lubrificados no fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico<br />
não são discutidos pela revista em seus textos futuros, limitando o debate a<br />
respeito do cabe<strong>da</strong>l ideológico fincado na mente dos terroristas e complexi<strong>da</strong>de<br />
que os rodeia. (temas: protesto anticapitalista e não alinhamento à guerra)<br />
Caros Amigos deixa claro em sua apresentação – e reafirma em suas<br />
páginas futuras – quem é o “outro” para a publicação. O grande vilão <strong>da</strong> história<br />
são os próprios Estados Unidos. Os atos terroristas seriam uma conseqüência <strong>da</strong>s<br />
políticas internacionais perpetra<strong>da</strong>s a outros países. (tema: causa dos atentados<br />
de 11 de setembro)<br />
As páginas seguintes do periódico constituem em um manifesto contra os<br />
Estados Unidos. No primeiro texto, “O reichstag de Bush”, o jornalista José Arbex<br />
Jr. comenta que “ninguém lucrou tanto quanto Bush junior (sic) com o atentado de<br />
11 de setembro, por várias razões” (p.10). Arbex Jr. expõe que o presidente dos<br />
Estados Unidos obteve legitimi<strong>da</strong>de no comando do país, uma vez que sua<br />
eleição foi uma fraude; os movimentos contrários à globalização iriam diminuir; o<br />
controle do petróleo no Oriente Médio iria ficar mais próximo já que o Afeganistão<br />
(país invadido em retaliação) ficaria sob comando dos Estados Unidos<br />
aumentando a influência do país na região; a geopolítica estadunidense se<br />
fortaleceria pelas invasões e guerras preventivas assegura<strong>da</strong>s pela Doutrina Bush<br />
e, conseqüentemente, a indústria armamentista lucraria como nunca. Países como<br />
a Rússia e a China, por exemplo, poderiam justificar ataques contra povos<br />
supostamente hostis (os “outros”) em nome <strong>da</strong> defesa contra a ameaça terrorista,<br />
86 Ver Capítulo 3: Terrorismo: um legado histórico e sua caracterização na plataforma midiática<br />
(Item: 3.5. A Al Qae<strong>da</strong> e o “Terrorismo em Rede”, p.85).<br />
161
além dos Estados Unidos encontrarem respaldo para ampliar seu círculo<br />
geopolítico contra outras áreas do planeta. (tema: conseqüências dos atentados<br />
de 11 de setembro)<br />
No entanto, em seus comentários Arbex Jr. não levou em conta (pelo<br />
menos não os discutiu mais detalha<strong>da</strong>mente) que os Estados Unidos teriam<br />
dificul<strong>da</strong>des na concretização <strong>da</strong>s “benesses” de George W. Bush. Países como<br />
França e Alemanha no continente europeu, China e Rússia na Ásia, por exemplo,<br />
colocar-se-iam como obstáculos em determinados momentos <strong>da</strong> retaliação<br />
instiga<strong>da</strong> pelo governo dos Estados Unidos. Ca<strong>da</strong> país, obviamente, analisaria o<br />
que seria melhor para si nessa atmosfera geopolítica que se respirava na arena<br />
política internacional. Além do que, a própria complexi<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des do<br />
Oriente Médio seria um entrave aos Estados Unidos. O caldeirão fervente em que<br />
o Iraque se transformou é uma prova concreta.<br />
Arbex Jr. ain<strong>da</strong> construiria um paralelo histórico entre Adolf Hitler e a<br />
Alemanha às vésperas <strong>da</strong> Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial e George W. Bush e sua<br />
política no pós-11 de setembro.<br />
... Bush e seus asseclas devem estar secretamente comemorando os efeitos do<br />
atentado de 11 de setembro. Não poderia receber melhor notícia. Irresistível,<br />
nesse ponto, fazer uma analogia com o incêndio <strong>da</strong> sede do parlamento alemão<br />
(Reichstag), na noite de 28 de fevereiro de 1933. Enquanto o prédio ardia, Adolf<br />
Hitler, que acabara de assumir o poder, fez um dramático discurso: “Vocês têm<br />
aqui um exemplo do que a Europa e nós devemos esperar do comunismo. Sobre<br />
este cairá agora o punho duro e poderoso”. Imediatamente, foram presos 4000<br />
militantes comunistas e outro tanto de social-democratas e liberais. Hitler, com<br />
grande senso de oportuni<strong>da</strong>de política, aproveitou o momento para consoli<strong>da</strong>r o<br />
poder nazista. Começava a sua ditadura.<br />
Hitler responsabilizou os comunistas, antes de qualquer comprovação (como<br />
Bush, devi<strong>da</strong>mente ancorado pela mídia histérica); também falou em nome <strong>da</strong><br />
“Europa”, contra o inimigo universal comunista (como Bush fala em nome <strong>da</strong><br />
“civilização” e <strong>da</strong> “democracia” contra o Islã); e, finalmente, fez do julgamento uma<br />
farsa para justificar a sua própria ditadura. Até hoje existem dúvi<strong>da</strong>s quanto à<br />
autoria do incêndio do Reichstag. Ao que parece, foi um ato isolado do comunista<br />
holandês Van der Lubbe, embora existam suspeitas de que tenha sido obra dos<br />
próprios homens de Hitler.<br />
Não há, obviamente, evidências de que os “homens de Bush” armaram o atentado<br />
em Nova York e Washington. Mas na<strong>da</strong> prova o contrário. (ARBEX JR., 2001, p.<br />
11)<br />
162
O processo de ancoragem histórica identificado no texto externa o desejo<br />
de comparação do jornalista para unir dois fatos históricos pelo mesmo verniz<br />
ideológico: Nazismo e Doutrina Bush. Dois atentados de grande repercussão em<br />
seus respectivos países fortaleceriam os governantes a concretizarem suas<br />
ambições políticas. Hitler se propôs a falar em nome do continente europeu; Bush<br />
iria além, falaria em nome dos valores democráticos e ocidentais.<br />
As figurativizações identifica<strong>da</strong>s com disjunção em comunismo, socialdemocratas<br />
e liberais (Nazismo) e conjunção em civilização e democracia e<br />
disjuntivo em Islã (Doutrina Bush), apontam valores que os líderes dizem defender<br />
em seus territórios. Se para o Nazismo o “outro” era aquele permeado pelas<br />
doutrinas comunista, social-democrata e liberal (sem nos esquecermos dos<br />
judeus, ciganos, homossexuais e portadores de doenças...) o “outro” sob o signo<br />
<strong>da</strong> Doutrina Bush seria representado pelo Islamismo (estendendo-se a todos que<br />
pudessem de alguma forma ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos). Os<br />
“outros” ganhavam assim um formato, seriam palpáveis; tinha-se alguém a ser<br />
combatido. (tema: construção do inimigo, justificativa para guerra)<br />
Na seqüência, é apresentado o artigo “Más notícias” (p.14) de autoria do<br />
jornalista Sérgio Kalili. Com esse texto, a revista passa a seus leitores o sentido de<br />
eficiência/credibili<strong>da</strong>de, uma vez que o autor se encontra em Nova York, ci<strong>da</strong>de<br />
vitima<strong>da</strong> pela barbárie terrorista. As palavras do jornalista têm méritos por noticiar<br />
fatos pouco divulgados pela grande mídia.<br />
Estando in loco, tem-se a vantagem de acompanhar os acontecimentos<br />
com maior riqueza de detalhes além de ser um antídoto para a “reportagem sem<br />
repórter” (Künsch, 2006). O texto-depoimento de Sérgio Kalili externa ao leitor o<br />
clima de pânico que se assentava sobre a socie<strong>da</strong>de estadunidense, a paranóia<br />
abria suas asas na órbita dos Estados Unidos.<br />
163
Políticos e estações de televisão conservadoras, como a Fox (o canal favorito <strong>da</strong><br />
atual administração), aproveitam a cegueira de um povo traumatizado para<br />
reforçar preconceito, discriminação, patriotismo exacerbado e paranóia.<br />
(...)<br />
O terror espalhou tensão e violência. Logo nas primeiras horas após o massacre<br />
em Nova York, mesquitas sofreram atentados, sites árabes foram fechados pela<br />
quanti<strong>da</strong>de de mensagens de ódio, imigrantes xingados na rua. Alguns do Oriente<br />
Médio apanharam nas universi<strong>da</strong>des, outros tiveram o carro queimado na<br />
garagem. A polícia visitou casa de imigrantes no sul <strong>da</strong> Ásia e Oriente Médio<br />
oferecendo proteção.<br />
(...)<br />
Diz a polícia que, em uma mesma noite, o feroz Frank Silva Roque rodou a ci<strong>da</strong>de<br />
atrás de presas. Tentou acertar um libanês com uma de suas pistolas semiautomáticos,<br />
um descendente de afegãos e obteve sucesso após atirar e matar<br />
um homem por causa <strong>da</strong> cor escura, <strong>da</strong> barba longa e do turbante característico<br />
de um sikh. Ato consumado, Roque gritou: “Sou patriota!” O irmão <strong>da</strong> vítima foi à<br />
televisão para explicar que, apesar <strong>da</strong> aparência, são americanos. No dia<br />
seguinte, o pequeno mercado em frente a minha casa, proprie<strong>da</strong>de de uma família<br />
de indianos, pregou a bandeira americana na porta. Minhas vizinhas do Japão<br />
colocaram a gravata do Tio Sam. É proteção contra loucos. Como disse o<br />
presidente Bush: “Ou estão do nosso lado ou do lado dos terroristas”.<br />
A agressão não pára e quem a pratica não tem vergonha, seja no Brasil onde<br />
algum os chamam de “assassinos”, seja aqui, onde árabes são encarados na rua,<br />
ameaçados, revistados e retirados de aviões por causa <strong>da</strong> roupa, <strong>da</strong> cor, dos<br />
olhos, do rosto. (KALILI, 2001, p. 14)<br />
As incertezas dos primeiros dias pós-11 de setembro de 2001 sinalizariam<br />
para o sinuoso caminho do preconceito. O “outro”, o “diferente” era o inimigo mais<br />
próximo, que poderia ser tocado, visto e percebido, para assim se desferir a ira<br />
pelos ataques terroristas.<br />
As ancoragens territoriais Oriente Médio, Japão e sul <strong>da</strong> Ásia soma<strong>da</strong>s as<br />
figurativizações sikh, libanês, afegãos, imigrantes, cor escura, barba longa,<br />
turbante, indianos, árabes e aos semas /preconceito/, /discriminação/, /patriotismo<br />
exacerbado/ e /paranóia/ resultam em uma cadeia isotópica o forte sentimento<br />
disfórico ampliado nos Estados Unidos contra o “outro”. Mesmo que esse “outro”<br />
fosse estadunidense de nascença, o traço físico diferente seria a senha e o<br />
principal fator para se destilar o preconceito. (tema: intolerância)<br />
Mas é importante lembrar que esses sentimentos não nasceram depois dos<br />
atentados. É algo já presente no inconsciente dos estadunidenses que apenas<br />
aflorou depois <strong>da</strong> terça-feira negra.<br />
164
Em seu texto, Sérgio Kalili destila críticas a postura e a falta de preparo de<br />
George W. Bush para ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos e alerta<br />
que o país pode se tornar um “Estado Policial”, retrocedendo à sombria época do<br />
macarthismo 87 . (tema: críticas às políticas estadunidenses contra o terror)<br />
Fechando o texto, o jornalista menciona a frase dita pelo ex-jogador de<br />
futebol, o argentino Diego Armando Maradona: “Choremos pelos mortos, mas não<br />
precisamos seguir tudo o que Bush diz”, para defender a idéia que não se devia<br />
seguir to<strong>da</strong>s as determinações do presidente dos Estados Unidos por conta do 11<br />
de setembro de 2001. George W. Bush saiu <strong>da</strong> mediocri<strong>da</strong>de para a condição de<br />
respeitado estadista. A rápi<strong>da</strong> ascensão, baliza<strong>da</strong> por uma tragédia, <strong>da</strong>ria ao líder<br />
dos estadunidenses, grande poder de decisões nas políticas que julgasse<br />
conveniente para combater o terrorismo, inclusive o sacrifico <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des<br />
individuais e insensatez para com os “outros”.<br />
George Bourdokan dedica seu texto “A nona cruza<strong>da</strong>” (p.20) à defesa dos<br />
códigos do Islamismo, mostrando resistência em aceitar que islâmicos estivessem<br />
envolvidos nos ataques terroristas, impetrando culpabili<strong>da</strong>de aos próprios<br />
estadunidenses.<br />
Confesso que reluto em crer que o terrível atentado contra o TWC (sic) tenha sido<br />
praticado por muçulmanos. Acredito que ele seja mais uma obra de<br />
fun<strong>da</strong>mentalistas americanos ligados a McVeigh, o acusado de explodir o prédio<br />
de Oklahoma, porque um dos preceitos básicos do Islamismo diz que, durante<br />
uma luta, as mulheres e crianças são sagra<strong>da</strong>s e devem ser poupa<strong>da</strong>s. E o que<br />
não pode ser transportado não deve ser destruído. (BOURDOKAN, 2001, p. 20)<br />
Entretanto, o jornalista empobrece suas palavras ao transferir<br />
responsabili<strong>da</strong>des aos “fun<strong>da</strong>mentalistas americanos” e omitir uma explanação<br />
necessária <strong>da</strong>s facções islâmicas, em especial, a sua versão fun<strong>da</strong>mentalista.<br />
George Bourdokan procura criar no leitor o sentido de que o mundo muçulmano é<br />
construído de maneira homogênea. Já ilustramos em outros comentários que o<br />
87 O macarthismo configurou-se em um movimento iniciado nos Estados Unidos em 1951 pelo<br />
senador Joseph McCarthy. Foi caracterizado pela perseguição a pessoas acusa<strong>da</strong>s se<br />
simpatizarem com o movimento comunista e de realizarem ativi<strong>da</strong>des pretensamente contrárias<br />
aos Estados Unidos. Ao substituir o termo comunismo por terrorismo, para muitos, teríamos a<br />
reedição do movimento macarthista.<br />
165
Islamismo é uma religião com subdivisões, e, assim, ca<strong>da</strong> grupo faz a sua própria<br />
interpretação dos textos sagrados. Quando escreve que “um dos preceitos básicos<br />
do Islamismo diz que, durante uma luta, as mulheres e crianças são sagra<strong>da</strong>s e<br />
devem ser poupa<strong>da</strong>s”, o jornalista expõe a face modera<strong>da</strong> <strong>da</strong> religião, como se<br />
não fossem parte integrante do mundo muçulmano as crenças dos islâmicos<br />
fun<strong>da</strong>mentalistas, em especial a fatwa, que não são menciona<strong>da</strong>s em nenhum<br />
momento do texto.(tema: enaltecimento do mundo islâmico)<br />
Além de fornecer apenas as informações que lhe interessavam sobre o<br />
Islamismo, George Bourdokan faz uso <strong>da</strong> disforia quanto cita a economia<br />
capitalista e as desigual<strong>da</strong>des gera<strong>da</strong>s por esta. Para o jornalista, as ações<br />
terroristas trariam benefícios à máquina econômica do capitalismo e para os<br />
Estados Unidos, seu principal expoente. (tema: conseqüências dos atentados)<br />
Dentro do condomínio de críticas comuns ao capitalismo, um lote sempre é<br />
destinado à imprensa, instrumento considerado omisso em divulgar as<br />
desigual<strong>da</strong>des ou fazê-lo com o verniz <strong>da</strong> brandura, sem a acidez necessária. Os<br />
ícones que produzem essa “desinformação” se fixam nos países desenvolvidos e<br />
influenciam as mídias periféricas.<br />
Hoje, vivemos sob a ditadura dos veículos de comunicação, cuja representante<br />
maior é a empresa norte-americana CNN. É, sem dúvi<strong>da</strong>, a maior empresa de<br />
press release do mundo. (BOURDOKAN, 2001, p. 20)<br />
A CNN é um alvo comum nas críticas destina<strong>da</strong>s aos meios de<br />
comunicação devido a sua grande influência no campo do jornalismo em tempo<br />
real. Embora com embasamento, esse tipo de julgamento peca pela parciali<strong>da</strong>de<br />
resultante dos interesses de quem o emite. Os países socialistas, assim como os<br />
islâmicos – particularmente os fun<strong>da</strong>mentalistas – comungam desse mesmo<br />
procedimento de censura e edição de notícias conforme a conveniência. Assim,<br />
isso configura-se em um vício <strong>da</strong> própria mídia, não sendo exclusivi<strong>da</strong>de desta ou<br />
<strong>da</strong>quela cultura em específico. A mídia “deles” também é tão pecadora como a<br />
“nossa” (tema: parciali<strong>da</strong>de midiática)<br />
As mãos de George Bourdokan também tocam no embate entre Ocidente e<br />
Oriente, mostrando que este é historicamente dotado de complacência.<br />
166
A luz vem do Oriente, já diziam os sábios. Talvez por se lembrarem do governante<br />
muçulmano Jalaluddin Muhamad (1542-1605), um filósofo, que transformou o<br />
Industão (seus limites iam do Afeganistão até a baía de Bengala, e do Himalaia<br />
até o rio Godâvari) na An<strong>da</strong>luzia do Oriente. Isso, para citarmos apenas um<br />
exemplo. Jalaluddin, que passaria para a posteri<strong>da</strong>de com o nome de Akbar (o<br />
grande), além de responsável pela tradução do Mahabharata, abriu as portas de<br />
seu império para os pregadores do zoroastrismo, do jananismo e, num exemplo<br />
único de tolerância religiosa, pediu a seus escribas que traduzissem o Novo<br />
Testamento, na mesma época em que cristãos se matavam entre si. Os católicos<br />
assassinando protestantes na França, os protestantes assassinando os católicos<br />
na Inglaterra, enquanto Gior<strong>da</strong>no Bruno ardia na fogueira em Roma.<br />
(BOURDOKAN, 2001, p. 20)<br />
O texto exalta euforicamente valores presentes <strong>da</strong> cultura islâmica deixando<br />
o lado disfórico para o Cristianismo e sua política inquisitória. Cria-se assim, uma<br />
duali<strong>da</strong>de de valores entre /Cristianismo/ e /Islamismo/, onde o primeiro tem<br />
essência disjuntiva, enquanto o segundo valores conjuntivos.<br />
Para Bourdokan, o “outro” se traduz no cristão, nos valores ocidentais.<br />
Mesmo se pautando em mostrar o brilho <strong>da</strong> cultura islâmica, as lacunas editoriais<br />
do enunciado mostram que o jornalista padece do mesmo fun<strong>da</strong>mentalismo de<br />
que acusa os Estados Unidos e os capitalistas. (tema: depreciação dos valores<br />
ocidentais)<br />
“A coreografia macabra do inimigo invisível e do império onipresente”<br />
(p.23), de autoria do sociólogo Luís Fernando Novoa Garzon, aponta para uma<br />
nova geometria de poder assumi<strong>da</strong> pelos Estados Unidos. Os ataques terroristas<br />
teriam sido “benéficos” para os interesses expansionistas tão comuns aos<br />
estadunidenses e, em decorrência disso, alguns valores seriam invertidos: “A<br />
partir do 11 de setembro, guerra é paz, liber<strong>da</strong>de é escravidão e ignorância é<br />
força” (p. 23). (temas: conseqüências dos atentados de 11 de setembro)<br />
Garzon destaca importância para os Estados Unidos de terem “inimigos”. O<br />
risco constante alimenta a poderosa indústria bélica do país, além de propiciar<br />
situações para que a tão conheci<strong>da</strong> polícia externa estadunidense se espalhe para<br />
outros países.<br />
167
... se o inimigo é capaz de tudo e pode estar em qualquer lugar, a única forma de<br />
submetê-lo é constituir um império mundial totalitário e onipresente.<br />
(...)<br />
Foi com base nessa associação esquizofrênica entre regras morais superiores e<br />
violência heróica que se vislumbrou o “destino manifesto” dos EUA. Por<br />
merecimento e superiori<strong>da</strong>de, os norte-americanos (brancos) devem governar e<br />
liderar o mundo. (GARZON, 2001, p. 23)<br />
O sociólogo aponta que essa nova etapa <strong>da</strong> legitimação <strong>da</strong> força foi<br />
possível graças a Osama bin Laden que, junto com seus asseclas, absorveram<br />
to<strong>da</strong>s as mazelas capitalistas. Os mecanismos estadunidenses são a incorporação<br />
do mal na visão de Garzon que aponta que qualquer semelhança do histórico<br />
expansionista dos Estados Unidos “com o arianismo nazista não é mera<br />
coincidência” (p.23). Ou seja, tal como Arbex Jr., o sociólogo procure estreitar as<br />
práticas nazistas com as <strong>da</strong> Doutrina Bush. Para obter êxito, um inimigo que<br />
justifica as ações militares e expansionistas é vital. (tema: insegurança global)<br />
Assim, a existência do “outro”, independentemente <strong>da</strong> feição que este<br />
assuma, torna-se um símbolo tão significativo na história estadunidense quanto<br />
seu hino ou sua bandeira. (tema: construção do inimigo)<br />
168
4.4.5. Quadro demonstrativo dos temas dos periódicos analisados<br />
Revistas Temas que integram os discursos dos periódicos<br />
Veja • Heroísmo e patriotismo estadunidenses<br />
• Choque de identi<strong>da</strong>des<br />
• Retrógrado x moderno<br />
• Exaltação aos valores ocidentais<br />
• Depreciação aos valores orientais<br />
• Intolerância<br />
• Causas dos atentados de 11 de setembro<br />
• A cultura do “Outro”<br />
• O mundo em conflito<br />
• Compreensão limita<strong>da</strong> e parcial do mundo islâmico<br />
• Insegurança global<br />
• Fragili<strong>da</strong>de do sistema de segurança dos Estados Unidos<br />
• Fun<strong>da</strong>mentalismo islâmico<br />
• Fun<strong>da</strong>mentalismo religioso<br />
• Compreensão limita<strong>da</strong> e parcial do mundo islâmico<br />
• Depreciação dos valores islâmicos<br />
• Figurativização do mal no Islamismo<br />
• Crítica ao antiamericanismo<br />
• Surgimento de Osama bin Laden no cenário internacional<br />
• Divisões do mundo islâmico<br />
• Choque de civilizações<br />
• Harmonia entre culturas<br />
• Medo como instrumento político<br />
• Destruição como componente social<br />
• Terrorismo como gênero cinematográfico<br />
• Exaltação dos valores estadunidenses<br />
CartaCapital • Autopropagan<strong>da</strong><br />
• Crítica ao sistema capitalista<br />
• Causas dos atentados de 11 de setembro<br />
• Fragili<strong>da</strong>de do sistema de segurança dos Estados Unidos<br />
• Reação eufórica de fanáticos islâmicos<br />
• Ódio ao mundo islâmico<br />
• Imposição cultural<br />
• Intolerância<br />
• Tolerância<br />
• Exaltação dos valores estadunidenses<br />
• Intolerância cultural<br />
• Depreciação dos valores islâmicos<br />
Superinteressante • Não alinhamento à guerra<br />
• Compreensão <strong>da</strong> cultura islâmica<br />
• Tolerância à cultura islâmica<br />
• Compreensão do raciocínio terrorista<br />
• Fun<strong>da</strong>mentalismo religioso<br />
• O “outro” como culpado<br />
• Terrorismo como processo histórico<br />
• Ideologias terroristas<br />
• Conseqüências dos atentados contra os Estados Unidos<br />
• Caminhos alternativos no combate ao terrorismo<br />
• Redução <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des<br />
Caros Amigos • Crítica ao sistema capitalista<br />
• Não alinhamento à guerra<br />
• Causas dos atentados de 11 de setembro<br />
• Conseqüências dos atentados de 11 de setembro<br />
• Construção do inimigo<br />
• Justificativa para guerra<br />
• Intolerância<br />
• Críticas às políticas estadunidenses contra o terror<br />
• Enaltecimento do mundo islâmico<br />
• Parciali<strong>da</strong>de midiática<br />
• Depreciação dos valores ocidentais<br />
• Insegurança global<br />
• Construção do inimigo<br />
169
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A sabedoria consiste em não acreditar em tudo sem reflexão.<br />
Cícero<br />
Narciso acha feio tudo que não é espelho.<br />
Caetano Veloso - Sampa<br />
“Entre quatro paredes” é uma peça de teatro escrita pelo filósofo francês<br />
Jean Paul Sartre. Nesse texto, Sartre narra a história de três personagens que ao<br />
desencarnarem têm suas almas conduzi<strong>da</strong>s ao inferno. Assim que chegam ao seu<br />
destino, os três, são trancados numa sala onde existem adereços simples, tudo<br />
muito rústico, e ali permanecem condenados a uma vigília eterna. O enredo <strong>da</strong><br />
peça gira em torno <strong>da</strong> insuportabili<strong>da</strong>de do outro, caracterizando que, o inferno é,<br />
para ca<strong>da</strong> um dos três, os outros dois. Dessa trama, Sartre conclui, naquela que é,<br />
provavelmente, sua sentença mais célebre: “O inferno são os outros”.<br />
A expressão sartreana ilustra a dificul<strong>da</strong>de de convivência com o “outro”,<br />
com as diferenças, com aquilo que nos é estranho... A mídia inverte a sentença<br />
sartreana ao mostrar que o “paraíso são os outros”. A presença do “outro” ampara<br />
e reconforta, expõe — como um discurso do avesso — o que somos e não<br />
queremos saber que somos. Ao mesmo tempo em que o “outro” é o insuportável,<br />
tem-se a paradoxal constatação <strong>da</strong> impossibili<strong>da</strong>de de se viver sem ele.<br />
Impossibili<strong>da</strong>de assenta<strong>da</strong> no conforto de se ter alguém para tributar culpas,<br />
descarregar nossos sentimentos de frustrações e ira. Enfim, um “inimigo útil”,<br />
aquele que podemos utilizar sempre que necessitamos desviar, camuflar uma<br />
situação que nos põe em xeque.<br />
No primeiro capítulo desta pesquisa, evocamos as palavras de René<br />
Descartes. O texto do filósofo francês é atravessado por uma rede de isotopias<br />
que versam sobre a aplicação do bom senso para uma sadia interpretação dos<br />
fatos que nos são apresentados. Fatos sempre acompanhados de pesa<strong>da</strong> malha<br />
persuasiva. Ancorado na persuasão, procura-se manipular o receptor e prender<br />
este a determinado sistema de valores. A “guerra de discursos” no mundo<br />
170
jornalístico também é de ver<strong>da</strong>des, onde a vítima, além dos leitores, é o próprio<br />
conceito de ver<strong>da</strong>de.<br />
Este é o jornalismo pós-moderno: tem estilo, é muito bem escrito e repleto de boas<br />
histórias. Só tem um problema: elas não são ver<strong>da</strong>deiras. O sagrado território do<br />
jornalismo agora se confunde com o do entretenimento: em vez de mu<strong>da</strong>r o<br />
mundo, passou a ser somente a arte de contar uma boa história. E, para contá-la,<br />
na<strong>da</strong> como uma boa mentira. Os fatos, assim como a ver<strong>da</strong>de, muitas vezes só<br />
atrapalham. (BRASIL, 2007, p.72)<br />
O discurso não se constitui apenas de um fio temático, mas em uma teia<br />
onde, ao se costurar esses fios, constrói-se uma rede de significados e sentidos.<br />
O enunciador, de acordo com sua intencionali<strong>da</strong>de, faz uso de determinados<br />
recursos persuasivos para convencer o enunciatário quanto ao conteúdo do que<br />
está sendo enunciado é ver<strong>da</strong>deiro. Em muitas passagens sobre os atentados de<br />
11 de setembro de 2001, a mídia reproduziu – e ampliou – determinados<br />
estereótipos que, via de regra, pouco eluci<strong>da</strong>ram a questão e tão somente<br />
refletiram os valores de quem os proferem, jogando o fardo de todos os males na<br />
direção dos “outros”.<br />
“A propagan<strong>da</strong> tem que quebrar a principal linha de defesa do inimigo antes<br />
que o exército avance”. Esse pensamento de Joseph Goebbels ecoou em fatias<br />
substanciais <strong>da</strong>s mídias mundiais e, claro, na brasileira que, em grande parte,<br />
seguiu os passos <strong>da</strong> mídia estadunidense e sua produção de sentidos. “Quebrar a<br />
linha de defesa”, traduz-se nas estratégias de persuasão utiliza<strong>da</strong>s pelos veículos<br />
de comunicação em justificar a guerra, produzindo efeitos de sentidos contra os<br />
“outros”, deformando sua cultura, transformando o denso conteúdo <strong>da</strong> política<br />
internacional em um “conto de fa<strong>da</strong>s”, onde os efeitos de valores são guiados nas<br />
disforias /bem/ vs /mal/, /heróis/ vs /vilões/, /sagrado/ vs /profano/, /moderno/ vs<br />
/atrasado/... Construindo assim uma cadeia isotópica assenta<strong>da</strong> na duali<strong>da</strong>de<br />
onde se amplia o valor <strong>da</strong> alteri<strong>da</strong>de. Entretanto, como mostramos no decorrer<br />
desta pesquisa, os valores presentes nas diversas socie<strong>da</strong>des não se configuram<br />
em um único dogma. Seus significados assumem feições diferencia<strong>da</strong>s de acordo<br />
com o universo cultural que os abriga. Ao homogeneizar culturas, fertiliza-se o<br />
171
terreno para que as sementes <strong>da</strong> intolerância e do ranço se frutifiquem. Em<br />
determinados momentos, a arma do medo parece inerente à mídia.<br />
Pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores<br />
almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto <strong>da</strong>s maiores virtudes, e os<br />
que só an<strong>da</strong>m muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre<br />
o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam. (DESCARTES,<br />
1996, p. 65)<br />
As análises sobre os tenebrosos ataques de 11 de setembro de 2001<br />
atravessaram o tempo. Pelo impacto <strong>da</strong> estrondosa operação e seus<br />
desdobramentos (invasões ao Afeganistão e ao Iraque, Doutrina Bush, ações<br />
terroristas em Madri e Londres...), a <strong>da</strong>ta sempre seria lembra<strong>da</strong> como referência<br />
primeira de uma trama geopolítica desenha<strong>da</strong> a partir dos atentados aos Estados<br />
Unidos neste começo de século.<br />
O tempo parecia ser um bom conselheiro para análises mais cometi<strong>da</strong>s, ao<br />
distanciar-se do calor emocional do momento e transformar as dúvi<strong>da</strong>s em<br />
repostas concretas, certo? Nem tanto! Imprecisões, preconceitos, desinformações,<br />
ódios, manipulação de informações e servidão ain<strong>da</strong> marcariam relatos sobre a<br />
tragédia estadunidense.<br />
O trabalho <strong>da</strong> mídia depois do 11 de setembro só reforçou a sua capaci<strong>da</strong>de de<br />
ditar rumos. Por cumplici<strong>da</strong>de ou por omissão, mas sem inocência. (DORNELES,<br />
2003, p. 271)<br />
Com a aplicação do quadrado semiótico em nossas análises, pudemos<br />
depreender a geometria de sentidos presentes nos enunciados <strong>da</strong>s revistas<br />
analisa<strong>da</strong>s, e assim transpor a rede de significados que emergiram nas entrelinhas<br />
<strong>da</strong> notícia e a carga de sentidos presentes nestas.<br />
Entre as revistas analisa<strong>da</strong>s nesta pesquisa, Veja foi quem mostrou maior<br />
alinhamento ideológico aos valores defendidos pelos Estados Unidos. Grande<br />
parte dos textos do periódico que retratam os atentados não contém assinaturas,<br />
inclusive os cinco enunciados que integraram nossas análises. Veja procurou<br />
ocultar sua parciali<strong>da</strong>de apresentando seus discursos com o rótulo de<br />
172
“reportagens” ao invés de textos opinativos (embora a revista possua colunistas<br />
que externam suas opiniões sobre diversos temas).<br />
O discurso <strong>da</strong> revista Veja exalta os valores capitalistas e ocidentais como<br />
ícones <strong>da</strong> civilização, e exala preconceito contra o Islamismo. Para Veja, os<br />
“outros” são os árabes, islâmicos, antiamericanos, os contrários aos valores<br />
“ocidentais”.<br />
Já em sua chama<strong>da</strong> de capa, a revista evoca o pensamento de Samuel P.<br />
Huntigton sobre o “choque de civilizações” confrontando em campos distintos<br />
/Ocidente/ vs /Oriente/. Os enunciados <strong>da</strong> revista quando se reportam à religião do<br />
profeta Maomé são atravessados por isotopias disfóricas sempre atrelando-a ao<br />
/atraso/, /totalitarismo/, /fanatismo/... como valores presentes apenas no mundo<br />
islâmico, encobrindo a presença desses componentes no mundo ocidental. Em<br />
linhas gerais, quando se constrói o discurso sobre o mundo islâmico, as diferenças<br />
entre moderados e fun<strong>da</strong>mentalistas se diluem em um caldeirão aquecido pelo<br />
fogo do preconceito. Usa-se <strong>da</strong> estratégia enunciativa de afirmar que a guerra não<br />
era contra todo o Islã, mas no texto criticava-se tudo que tem relação ao<br />
Islamismo. O mundo árabe é retratado como /autoritário/, /retrógrado/... Quando<br />
enuncia<strong>da</strong>s, as exceções (exemplos <strong>da</strong> diversi<strong>da</strong>de islâmica, de ares<br />
democráticos respirados em alguns países) ganham espaço diferenciado,<br />
cabendo-lhes poucas linhas, litros de água frente a um oceano de fatores<br />
disfóricos. Ancora-se na tese do “choque de civilizações” e do caos, para dizer que<br />
“o mundo está em guerra”. Os Estados Unidos e seus aliados são a cavalaria que<br />
salvarão o mundo do mal encarnado no “terrorismo”.<br />
No plano profundo, a edição <strong>da</strong> revista Veja ao repercutir os atentados,<br />
concebe os ataques de 11 de setembro de 2001 como uma atitude “isola<strong>da</strong>”, feita<br />
por fanáticos gestados na incubadora terrorista no mundo árabe e, em especial,<br />
no Islamismo contra o mundo capitalista e ocidental. Uma trama narrativa que<br />
in<strong>da</strong>ga ao leitor: e você, de que lado está?!<br />
173
CartaCapital procurou seguir outra linha editorial, afastando-se em alguns<br />
momentos dos valores discursivos impressos nas páginas <strong>da</strong> Veja. Todos os<br />
enunciados que integram a revista são assinados – inclusive a seção “Carta ao<br />
Leitor”.<br />
Na rede de argumentos construí<strong>da</strong> pelo periódico os ataques de 11 de<br />
setembro de 2001 são conseqüências <strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>des inerentes ao sistema<br />
capitalista eleva<strong>da</strong>s ao nível planetário. Os atentados serem direcionados aos<br />
Estados Unidos não fora por acaso, e sim, dotados de sentidos. Afinal, trata-se <strong>da</strong><br />
maior potência capitalista de nossos tempos, “um Império” como tantas vezes a<br />
revista classificou o país.<br />
Os contrários /igual<strong>da</strong>de/ vs /desigual<strong>da</strong>de/, seriam os protagonistas do<br />
grande enredo político mundial. A /desigual<strong>da</strong>de/ converte-se no motor de<br />
propulsão que impulsionaria as socie<strong>da</strong>des atravessa<strong>da</strong>s por essa disforia a<br />
lançarem-se contra o sistema vigente – o capitalismo – e suas políticas de<br />
exclusão. O “outro”, o “diferente” para revista, é personalizado em uma ideologia<br />
socioeconômica – o capitalismo – e, de maneira indireta, aponta para os próprios<br />
Estados Unidos seu rincão de responsabili<strong>da</strong>de.<br />
CartaCapital também alude que a influência dos Estados Unidos no mundo<br />
pós-11 de setembro poderia se ampliar. O país, em nome <strong>da</strong> “guerra ao<br />
terrorismo”, imporia suas políticas a outros povos e/ou as reforçariam nos<br />
ambientes que já as abrigam. Assim, o sentimento de antiamericanismo poderia<br />
se fragilizar ao ser comparado com caráter conjuntivo com o terrorismo.<br />
To<strong>da</strong>via, a revista apresenta visão estreita do mundo islâmico. Quando o<br />
mesmo é citado sublinha-se as facções fun<strong>da</strong>mentalistas, não ampliando as<br />
análises sobre a diversi<strong>da</strong>de muçulmana.<br />
Superinteressante foi <strong>da</strong>s revistas analisa<strong>da</strong>s a que mostrou maior<br />
comedimento em seus enunciados. Em suas páginas procurou mostrar posição<br />
contrária à “guerra total” defendi<strong>da</strong> pelos Estados Unidos e deseja<strong>da</strong> por outras<br />
mídias. Mostrou elementos conjuntivos entre valores islâmicos, contextualizou o<br />
terrorismo como instrumento político há tempos presente na história (Veja também<br />
fez uso desse procedimento editorial, mas acabou perdendo efeito perante o tom<br />
174
usado nos demais textos), apontou caminhos alternativos de combate ao terror,<br />
procurou clarear a compreensão do raciocínio de um terrorista... Deslizou em<br />
classificar o 11 de setembro de 2001 como o maior atentado terrorista <strong>da</strong> história<br />
sem discutir os motivos que comprovavam tal título. Mesmo assim, a revista, no<br />
âmbito geral, apresentou sereni<strong>da</strong>de, destoando positivamente <strong>da</strong>s demais.<br />
Procurou fornecer a seus leitores enunciado mais "objetivo" do ponto de visto<br />
jornalístico,<br />
Os enunciados presentes na revista Caros Amigos são de maneira<br />
inconteste opinativos. Os valores defendidos por seus articulistas estão às claras,<br />
sem maquiagem nas opiniões editoriais. O periódico euforicamente se classifica<br />
“independente”. A independência que Caros Amigos afirma ter está basea<strong>da</strong> em<br />
destoar dos padrões de outros veículos de comunicação, ofertando-se como<br />
abrigo para o pensamento crítico. Quando, o que a revista faz, é defender seu<br />
ponto de vista como o ver<strong>da</strong>deiro, assim como os demais periódicos. Muitas <strong>da</strong>s<br />
críticas teci<strong>da</strong>s as outras mídias também lhe cabem.<br />
A crítica feroz aos Estados Unidos foi a escolha <strong>da</strong> Caros Amigos,<br />
mantendo-se fiel a sua ideologia marxista e expandindo este valor à arena política<br />
mundial. A revista se utiliza do atentado para ampliar a crítica aos Estados Unidos<br />
e ao sistema capitalista, contudo, seus discursos não são dogmas, e, sim<br />
interpretações de como os mecanismos sociais funcionam. Sendo produção<br />
humana, sua mensagem também é exposta às falhas, e, isto mostra, que, assim<br />
como outras mídias, a revista apenas forneceu sua visão dos fatos, o que,<br />
obviamente, não significa, em absoluto, a ver<strong>da</strong>de suprema.<br />
Passaram-se seis anos dos ataques a Nova York e Washington, mas<br />
algumas feri<strong>da</strong>s são eternas, serão sempre senti<strong>da</strong>s. A linha do tempo pode até<br />
minimizar as chagas, costurando-as, mas não tem a força necessária para apagálas<br />
ou fechar essas cicatrizes. E, as mídias, eternizam-nas ou as ampliam criando<br />
outras enfermi<strong>da</strong>des.<br />
Quando analisamos as informações conti<strong>da</strong>s nos enunciados de quatro,<br />
cinco ou seis veículos de comunicação, não raro temos a sensação de que o<br />
mundo em que vivemos transformou-se em outros mundos diferentes, resultado<br />
175
do enunciados e filtros cognitivos utilizados pelas mídias para atingir e cooptar<br />
seus leitores; uma vez que o jornalismo global é dominado pelas agências de<br />
noticiais ocidentais, que têm no capitalismo existente, os Estados Unidos como<br />
seus aliados e pontos de vistas deste como valores absolutos.<br />
O jornalista francês Ignacio Ramonet (2004) comentando o poder midiático<br />
e suas conseqüências, defende em comunicação, uma expressão chama<strong>da</strong><br />
“ecologia <strong>da</strong> informação”. Segundo o jornalista, tal como o meio ambiente que se<br />
encontra contaminado por impurezas resultante de uma hiperindustrialização que<br />
produziu o desastre ambiental, a informação está contamina<strong>da</strong> por uma série de<br />
interesses, ideologias, mentiras e por isso é preciso descontaminá-la.<br />
Descartes nos aconselha que “e os que só an<strong>da</strong>m muito lentamente podem<br />
avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que<br />
correm e dele se distanciam”. Comungando desse pensamento, Wolton (2004)<br />
indica caminhos para essa problemática.<br />
A solução consistiria em fazer o contrário do que geralmente se empreende.<br />
Diminuir a veloci<strong>da</strong>de em vez de acelerar, organizar e racionalizar em vez de<br />
aumentar os volumes de informação, reintroduzir intermediários em vez de<br />
suprimi-los, regulamentar em vez de desregulamentar. (WOLTON, 2004, p. 267)<br />
Claro que não se trata aqui de sermos ingênuos e acharmos que com um<br />
toque de mágica a mídia abandone vícios intrínsecos a sua prática,<br />
descontaminando-se. As manipulações enunciativas sempre estarão presentes<br />
nas linhas <strong>da</strong>s notícias, propagando sentidos conforme os interesses e valores do<br />
enunciador. Mas é necessário nos agarrarmos aos fios que tecem a utopia para<br />
tentar se vislumbrar um futuro menos sombrio para o discurso jornalístico,<br />
quebrando o reducionismo do “jornalismo Control-C (copia) e Control-V (cola)”<br />
(Dimas, 2005). O bom senso está em saber que o conhecimento <strong>da</strong> informação no<br />
mundo moderno se associa ao julgamento dos eventos que o regem. Temos<br />
assim, um jogo de valores, onde o bom senso converte-se em uma ferramenta<br />
analítica tanto para o enunciador quanto para o enunciatário apreciarem<br />
criteriosamente as notícias que lhes são forneci<strong>da</strong>s diariamente.<br />
176
“Não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem”,<br />
recomen<strong>da</strong>-nos Descartes. O direito à comunicação constitui-se um<br />
prolongamento lógico do processo democrático, devendo ser entendido como<br />
valor vital aos direitos humanos mais originais e orgânicos. Todos podem – e<br />
devem – ter idéias, anunciá-las, defendê-las... Entretanto, como idéias, pontos de<br />
vistas, e não travesti<strong>da</strong>s em princípios fun<strong>da</strong>mentais de uma doutrina,<br />
apresentados como valores certos e indiscutíveis, cuja ver<strong>da</strong>de se espera que as<br />
pessoas aceitem sem questionar. Aplicando-se às coberturas midiáticas a máxima<br />
de que “a história se repete duas vezes, a primeira como tragédia, a segun<strong>da</strong> com<br />
farsa”, comprova-se que, ca<strong>da</strong> vez mais, é difícil saber qual foi uma e qual será a<br />
outra.<br />
Tão perto e, mesmo assim, tão longe!<br />
177
REFERÊNCIAS<br />
ABRANCHES, Sérgio. O vôo <strong>da</strong> águia vingadora. In: Revista Veja, Editora Abril,<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp.73.<br />
ACCARDO, Alain. A liber<strong>da</strong>de de fazer “como se deve”. In: Revista Caros<br />
Amigos, n.º 39, São Paulo, junho de 2000, pp.20-21.<br />
ALENCASTRO, Luiz Felipe. A trilha do terror. In: Revista Veja, Editora Abril, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.22.<br />
ARANTES, Paulo Eduardo. Notícias de uma guerra cosmopolita. Bauru:<br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual Paulista – Facul<strong>da</strong>de de Arquitetura, Artes e Comunicação,<br />
2004.<br />
ARBEX JR, José. Islã: um enigma de nossa época. São Paulo: Moderna, 1996.<br />
_____. Guerra Fria: terror de Estado, Política e Cultura. São Paulo: Moderna,<br />
1997.<br />
_____. O poder <strong>da</strong> TV. 4. ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.<br />
_____. Showrnalismo: a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa Amarela,<br />
2001a.<br />
_____. O reichstag de Bush. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55,<br />
outubro de 2001, pp. 10-11<br />
_____. A escória <strong>da</strong> mídia. In: Revista Caros Amigos (Edição Especial “Por trás<br />
<strong>da</strong> Guerra”), n.º 10, São Paulo, dezembro de 2001b, pp.35.<br />
_____. Horrores que não saem no jornal e na televisão. In: Revista Caros<br />
Amigos (Edição Especial “O Novo Imperialismo”), n.º 17, São Paulo, junho de<br />
2003a, pp. 22-23.<br />
_____. O jornalismo canalha: a promíscua relação entre a mídia e o poder. São<br />
Paulo: Casa Amarela, 2003b.<br />
ARISTÓTELES. Arte retórica e Arte poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho.<br />
14. ed. São Paulo: Ediouro, s/d.<br />
AUBENAS, Florence & BENASAYAG, Miguel. A fabricação <strong>da</strong> informação: os<br />
jornalistas e a ideologia <strong>da</strong> comunicação. Trad. Luiz Paulo Rouanet. São Paulo:<br />
Edições Loyola, 2003.<br />
178
AURÉLIO, Daniel. O senhor <strong>da</strong> guerra: o nome de Deus como justificativa para a<br />
morte e a destruição. São Paulo: Universo do Livro, 2005.<br />
AUSTER, Paul. E assim começa o século XXI. In: Folha de S. Paulo, Caderno<br />
Especial “Guerra na América”, pp. 8, 25/09/2001.<br />
AZEVEDO, Carlos. O terror no centro do império. In: Revista Caros Amigos<br />
(Edição Especial “Por trás <strong>da</strong> Guerra”), n.º 10, São Paulo, dezembro de 2001,<br />
pp.04.<br />
BACEGGA, Maria Apareci<strong>da</strong>. Comunicação e linguagem: discursos e ciências.<br />
São Paulo: Moderna, 1998.<br />
BARBEIRO, Heródoto & DE LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Telejornalismo: os<br />
segredos <strong>da</strong> notícia na TV. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2005.<br />
BARBOSA, Marialva. O que a história pode legar aos estudos do jornalismo. In:<br />
Revista Contratempo. Dossiê Histórias e Teorias do Jornalismo, nº.12, Niterói:<br />
UFF, 2005, pp. 51-61.<br />
BARROS, Diana L. Pessoa. Teoria do discurso: fun<strong>da</strong>mentos semióticos. São<br />
Paulo: Editora Atual, 1988.<br />
BARROS, Diana L. Pessoa (org.) Os discursos do descobrimento. São Paulo:<br />
EDUSP, 2000.<br />
BARROS, Diana L. Pessoa. Teoria semiótica do texto. 4. ed. São Paulo: Ática,<br />
2001.<br />
BEIRÃO, Nirlando. A guerra era de ver<strong>da</strong>de. In: Revista Carta Capital, n.º 157,<br />
São Paulo, 19 de setembro de 2001, pp.66.<br />
BOFF, Leonardo. Fun<strong>da</strong>mentalismo: a globalização e o futuro <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de.<br />
Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2002.<br />
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.<br />
BOURDIEU, Pierre (coord.) A miséria do mundo. 5. ed. Petrópolis-RJ: Vozes,<br />
2003.<br />
BOURDOUKAN, George. A nona cruza<strong>da</strong>. In: Revista Caros Amigos, São Paulo,<br />
n.º 55, outubro de 2001, pp. 20.<br />
BRANCO, Carlos Castelo. A caseira do presidente e o recado ao presidente dos<br />
EUA. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 26.<br />
179
BRASIL, Antonio Cláudio. Antimanual de jornalismo e comunicação. Ensaios<br />
críticos sobre jornalismo, televisão e novas tecnologias. São Paulo: Editora Senac,<br />
2007.<br />
BRENER, Jayme. Leste Europeu: a revolução democrática. São Paulo: Atual,<br />
1991.<br />
_____. Feri<strong>da</strong> aberta: o Oriente Médio e a nova ordem internacional. 7.ed. São<br />
Paulo: Atual Editora, 1993.<br />
BRETON, Philippe. A argumentação na comunicação. 2.ed. Trad. Viviane<br />
Ribeiro. Bauru-SP: EDUSC, 2003.<br />
BRIGGS, Asa & BURKE, Peter. Uma história social <strong>da</strong> mídia: de Gutemberg à<br />
Internet. 2. ed. Trad. Maria Carmelia Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar<br />
Editor, 2006.<br />
BRINKLEY, Alan. O homem invisível. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.42.<br />
BULLIET, Richard. A hora <strong>da</strong>s armas. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp. 42.<br />
BURGIERMAN, Denis Russo. De Ju<strong>da</strong>s a Bin Laden. In: Revista<br />
Superinteressante, São Paulo, n.º 169, outubro de 2001, pp. 45-46.<br />
_____. Existe terrorismo bom? In: Revista Superinteressante, São Paulo,<br />
outubro de 2001, pp. 49-50.<br />
BURKE, Jason. Al-Qae<strong>da</strong>: a ver<strong>da</strong>deira história do radicalismo islâmico. Trad.<br />
Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.<br />
CABRAL, Raquel & FIGUEIREDO, Wellington dos Santos. A comunicação como<br />
instrumento de guerra: os exemplos do Nazismo e <strong>da</strong> doutrina Bush. In: Revista<br />
Ciência Geográfica, Ano XI – Vol.XI, n.º 02 – Bauru – SP, AGB-Bauru,<br />
maio/agosto de 2005, pp. 94-98.<br />
CALIARI, Tânia. De olho na imprensa. In: Revista Caros Amigos (Edição<br />
Especial “Por trás <strong>da</strong> Guerra”), n.º 10, São Paulo, dezembro de 2001, pp. 33-34.<br />
CAPEL, Horácio. La geografía después de los atentados del 11 de septiembre. In:<br />
Revista Terra Livre, n.º 18, São Paulo, AGB, 1.º Semestre de 2002, pp. 11-36.<br />
CARDOSO, Clodoaldo M. (org.) Humani<strong>da</strong>des em comunicação: um diálogo<br />
multidisciplinar. Bauru-SP: UNESP/FAAC: Acadêmica Editora, 2005.<br />
180
CARLOS, Newton. Do Vietnã ao Iraque, o declínio <strong>da</strong> mídia americana. In:<br />
Boletim Mundo: geografia e política internacional, São Paulo, ano 12, n.º 6,<br />
outubro de 2004, pp.09.<br />
CARR, Caleb. A assustadora história do terrorismo. São Paulo: Ediouro, 2002.<br />
CARTA, Mino. O ataque e a idéia. In: Revista CartaCapital (Carta ao leitor). n.º<br />
157, São Paulo, 19/09/2001, pp. 05.<br />
CASADO, José. Uma caça<strong>da</strong> no Cone Sul. In: Revista Época, n.º 175, Rio de<br />
Janeiro, 24/09/2001, pp. 102-104.<br />
CASTELLS, Manuel. A socie<strong>da</strong>de em rede. (A era <strong>da</strong> informação: economia,<br />
socie<strong>da</strong>de e cultura, v. 1). 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.<br />
_____. O poder <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de. (A era <strong>da</strong> informação: economia, socie<strong>da</strong>de e<br />
cultura, v.2). 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000a.<br />
_____. Fim de milênio. (A era <strong>da</strong> informação: economia, socie<strong>da</strong>de e cultura,<br />
v.3). 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000b.<br />
_____. Guerra <strong>da</strong>s redes. In: Folha de S. Paulo, Caderno Especial “Guerra na<br />
América”, pp. 8, 21/09/2001.<br />
CASTRO, Iná Elias et al (orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro:<br />
Bertrand Brasil, 1995.<br />
CANTANHADÊ, Eliane. Pimenta só nos olhos dos outros. In: Folha de S. Paulo,<br />
Opinião, pp. A2, 17/06/2007.<br />
CAVALCANTE, Rodrigo. Terror na cabeça. In: Revista Superinteressante, São<br />
Paulo, n.º 169, outubro de 2001, p. 40-44.<br />
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso <strong>da</strong>s mídias. Trad. Ângela S. M. Corrêa. São<br />
Paulo: Contexto, 2006.<br />
CLARKE, Michael. O mundo não está em guerra. In: Revista Carta Capital, n.º<br />
157, São Paulo, 19/09/2001, pp.37-38.<br />
CLAVAL, Paul. Geografia cultural. Trad. Luíz F. Pimenta & Margareth C. A.<br />
Pimenta. Florianópolis: Editora UFSC, 1999.<br />
CHOMSKY, Noam. O que o Tio Sam realmente quer. Brasília: Editora<br />
Universi<strong>da</strong>de de Brasília, 1999a.<br />
_____. Segredos, mentiras e democracia. Brasília: Editora Universi<strong>da</strong>de de<br />
Brasília, 1999b.<br />
181
_____. Os EUA apertaram o botão antes. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.36.<br />
_____. 11 de setembro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.<br />
CICERO, Antonio. Barbárie e civilização. In: Folha de S. Paulo, Caderno<br />
Ilustra<strong>da</strong>, pp. E-10, 28/07/2007.<br />
COMAS, Juan et al (orgs.) Raça e ciência – Vol. 1. Trad. Dora Ruhman & Geraldo<br />
de Souza. São Paulo: Editora Perspectiva, 1970.<br />
COSTA, Darc. Caminho para a intolerância. In: Revista Carta Capital, n.º 157,<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp.41.<br />
COTTINGHAIN, John. Descartes: a filosofia <strong>da</strong> mente de Descartes. Trad. Jesus<br />
de Paula Assis. São Paulo: Editora <strong>Unesp</strong>, 1999.<br />
CRENSHAW, Marta. Os filhotes <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong>. In: Revista Veja, Editora Abril, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.100-101.<br />
CVIIC, Stephen. Objetivi<strong>da</strong>de e reportagem de guerra. In: GOYZUETA, Verónica &<br />
OGIER, Thierry. Guerra e imprensa: um olhar crítico <strong>da</strong> cobertura <strong>da</strong> Guerra do<br />
Iraque. São Paulo: Summus Editorial, 2003, pp. 17-22.<br />
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Trad. Viviane Ribeiro.<br />
Bauru-SP: EDUSC, 1999.<br />
DA COSTA, Antonio Luiz Monteiro Coelho. O dia <strong>da</strong> dependência. In: Revista<br />
Carta Capital, n.º 157, São Paulo, 19/09/2001, pp.46-48.<br />
DA SILVA, Lenyra Rique. Do senso-comum à geografia científica. São Paulo:<br />
Contexto, 2004.<br />
DA SILVA, Juremir Machado. O pensamento contemporâneo francês sobre a<br />
comunicação. In: HOHLFELDT, Antonio et al. Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed.<br />
Petrópolis-RJ: Vozes, 2003, pp. 171-186.<br />
DE MORAES, Dênis. Mundialização e mídia. In: SOUZA, Álvaro José et al (orgs.).<br />
Milton Santos: ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e globalização. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 134-140.<br />
DE MORAES, Dênis (org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização<br />
cultural e poder. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.<br />
DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado<br />
Júnior. (Os pensadores, v. IX). São Paulo: Abril, 1996.<br />
182
DIAS, Leila Christina. Redes: emergência e organização. CASTRO, Iná Elias et al<br />
(orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995,<br />
pp.141-162.<br />
DIAS JR, José A. & ROUBICEK, Rafael. Guerra Fria: a era do medo. São Paulo:<br />
Ática, 1996.<br />
DINIZ, Maria Lúcia Vissotto Paiva. "Contratos na mídia: o Jornal Nacional na<br />
berlin<strong>da</strong>". In: OLIVEIRA, A. C.de & MARRONI,F.V. VII Caderno de Discussão do<br />
Centro de Pesquisas Sociossemióticas, ISSN 1519-4175, São Paulo, Editora<br />
CPS, 2001a.<br />
_____. Telejornal: identi<strong>da</strong>de/alteri<strong>da</strong>de mascara<strong>da</strong>s. Texto apresentado na IV<br />
Jorna<strong>da</strong> Interdisciplinar: Identi<strong>da</strong>de e Alteri<strong>da</strong>de no Brasil Contemporâneo,<br />
promovi<strong>da</strong> pelo Departamento de Ciências Humanas <strong>da</strong> FAAC, <strong>Unesp</strong>/Bauru,<br />
2001b.<br />
_____. “Reali<strong>da</strong>de e escrita na TV: relação camufla<strong>da</strong>”. In: Estudos Lingüísticos,<br />
Revista do Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo, CD-ROM,<br />
FFLCH/USP, 2002.<br />
DINIZ, Maria Lúcia Vissotto Paiva & ZANIRATTO, B.G. “Jornal Nacional: uma<br />
reali<strong>da</strong>de virtual”. In: Estudos Lingüísticos, Revista do Grupo de Estudos<br />
Lingüísticos do Estado de São Paulo, CD-ROM, FFLCH/USP, 2002.<br />
_____. Telejornal e globalização: um discurso engessado. Estudos Lingüísticos,<br />
vol. 33, revista do GEL - Grupos de Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo<br />
(ISSN 1413 0939), São Paulo, UNICAMP, 2004a.<br />
_____. Acontecimento e memória no telejornal: comunicação efetiva e afetiva. In:<br />
Anais do XXVII INTERCOM - Congresso Brasileiro de Ciências <strong>da</strong> Comunicação<br />
<strong>da</strong> Socie<strong>da</strong>de Brasileira de Estudos Interdisciplinares <strong>da</strong> Comunicação. Publicado<br />
em CD-ROM, Porto Alegre, 2004b. Disponível em: .<br />
Acesso em 26/07/2007<br />
_____. Telejornal: comunicação efetiva e afetiva. In: Revista Comunicação<br />
Midiática, Bauru-SP, n.º 3, Ago, pp. 67-88, 2005a.<br />
_____. Comunicação e teorias <strong>da</strong>s ciências humanas: produção de sentidos e<br />
práxis enunciativa. In: CARDOSO, Clodoaldo M. (org.) Humani<strong>da</strong>des em<br />
comunicação: um diálogo multidisciplinar. Bauru-SP: UNESP/FAAC: Acadêmica<br />
Editora, 2005b, pp.03-20.<br />
183
_____. Tensivi<strong>da</strong>de em notícia: A práxis enunciativa no telejornal. Revista Ícone<br />
do Programa de Pós-graduação em Comunicação. Universi<strong>da</strong>de Federal de<br />
Pernambuco. Ano 7, número 9. Recife: Editora Contraluz (ISSN 1516-6082),<br />
dezembro, 2006a<br />
_____. Telejornal: a hiperemoção em semiótica tensiva. Revista Estudos<br />
Lingüísticos 35. GEL – Grupo de Estudos Lingüísticos (ISSN: 1413-0939), 2006b.<br />
_____. Práxis enunciativa no telejornal: tensivi<strong>da</strong>de em notícia. Estudos<br />
Semióticos, Número 2, São Paulo, 2006c. Disponível em<br />
. Acesso em 26/07/2007<br />
_____. Telejornal ou experiência hiperbólica: uma questão de tensivi<strong>da</strong>de. VII<br />
Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação – NP Semiótica <strong>da</strong><br />
Comunicação XXX Congresso Brasileiro de Ciências <strong>da</strong> Comunicação. Intercom,<br />
2007.<br />
DISCINI, Norma. A comunicação nos textos. São Paulo: Contexto, 2005.<br />
DORNELES, Carlos. Deus é inocente: a imprensa, não. São Paulo: Globo, 2003.<br />
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os demônios. Trad. Paulo Bezzerra. São Paulo: Editora<br />
34, 2004.<br />
DUARTE, Fábio. Global e local no mundo contemporâneo: integração e conflito<br />
em escala global. São Paulo: Moderna, 1998.<br />
DURKHEIN, Émile. As regras do método sociológico. Trad. Pietro Nasseti. São<br />
Paulo: Editora Martin Claret Lt<strong>da</strong>, 2006.<br />
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.<br />
FIGUEIREDO, Wellington dos Santos. Informação, socie<strong>da</strong>de e jornalismo. In: O<br />
Espaço do Geógrafo. Bauru-SP, 3 o trimestre de 2003, p.02-03.<br />
FIORI, José Luiz. O império e a pobreza. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19 de setembro de 2001, pp.24-32.<br />
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto,<br />
1989.<br />
_____. Linguagem e ideologia. 4. ed. São Paulo: Editora Ática, 1995.<br />
_____. As astúcias <strong>da</strong> enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. 2.<br />
ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.<br />
184
FRAGA, Érica. Imprensa britânica e islã batem de frente. In: Folha de S. Paulo,<br />
Caderno Mundo, pp. A 21, 05/09/2004.<br />
FRANÇA, Vera Veiga. O objeto <strong>da</strong> comunicação/A comunicação como objeto. In:<br />
HOHLFELDT, Antonio et al. Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed. Petrópolis-RJ:<br />
Vozes, 2003, pp. 39-60.<br />
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,<br />
1977.<br />
FUSER, Igor. Os donos do mundo. In: Aventuras na história, edição 35, São<br />
Paulo, junho de 2006, pp.26-33.<br />
GALEANO, Eduardo. Símbolos. In: Revista Caros Amigos (Edição Especial “Por<br />
trás <strong>da</strong> Guerra”), n.º 10, São Paulo, dezembro de 2001, pp.46.<br />
GARZON, Luís Fernando Novoa. A coreografia macabra do inimigo invisível e do<br />
império onipresente. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de<br />
2001, pp. 23.<br />
GHILARDI, Maria Inês. Sobre a semiótica de Greimas. In: Revista Alfa, PUC-<br />
Campinas, n.º 10 (1/2), 1991, pp. 09-18.<br />
GLOBO NEWS: 10 anos, 24 horas no ar. Coordenação de Vera Íris Paternostro.<br />
São Paulo: Globo, 2006.<br />
GOMES, Beto & MIRANDA, Celso. 102 minutos. In: Aventuras na História, São<br />
Paulo, edição 25, setembro de 2005, pp. 26-35.<br />
GOMES, Mayra Rodrigues. Poder no jornalismo. São Paulo: Hacker Editores,<br />
Edusp, 2003.<br />
GOMES, Wilson. Ver<strong>da</strong>de e perspectiva. A questão <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de e o fato<br />
jornalístico. In: Textos de Cultura e Comunicação. Salvador-BA, v.29, 1993, pp.<br />
63-83.<br />
GOYZUETA, Verónica & OGIER, Thierry. Guerra e imprensa: um olhar crítico <strong>da</strong><br />
cobertura <strong>da</strong> Guerra do Iraque. São Paulo: Summus Editorial, 2003.<br />
GREIDER, William. A ca<strong>da</strong> dia mais solitário. In: Revista Carta Capital, n.º 157,<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp.39-40.<br />
GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973.<br />
_____. Sobre o sentido: ensaios semióticos. Petrópolis: Vozes, 1975.<br />
185
_____. Semiótica e ciências sociais. São Paulo: Cultrix, 1981.<br />
_____. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002.<br />
GRUPO DE ENTREVERNES. Analisis semiótico de los textos. Introduccion –<br />
Teoria – Practica. Madrid: Ediciones Cristian<strong>da</strong>d, 1982.<br />
GWERCMAN, Sérgio. E se... o 11 de setembro não tivesse ocorrido? In: Revista<br />
Superinteressante, São Paulo, n.º 230, setembro de 2006, pp. 50-51.<br />
IMPRENSA OFICIAL. O dever <strong>da</strong> memória – NYC 11.09.2001. São Paulo,<br />
setembro de 2003.<br />
JOST, François A televisão entre a “grande arte” e a arte pop. Tradução de Maria<br />
Lucia Vissotto Paiva Diniz. In: Revista Comunicação Midiática, Bauru-SP, n.º 3,<br />
Ago, pp. 13-32, Setembro de 2006.<br />
KAMEL, Ali. Sobre o Islã: a afini<strong>da</strong>de entre muçulmanos, judeus e cristãos e as<br />
origens do terrorismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.<br />
KALILI, Sérgio. Más notícias. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55,<br />
outubro de 2001, pp. 14.<br />
KELLNER, Douglas. A cultura <strong>da</strong> mídia. Bauru, SP: Edusc, 2001.<br />
_____. A cultura <strong>da</strong> mídia e o triunfo do espetáculo. In: Líbero, São Paulo, n.º 6,<br />
2004a, pp. 04-15.<br />
_____. Espetáculo e propagan<strong>da</strong> <strong>da</strong> mídia na guerra contra o Iraque: uma crítica<br />
<strong>da</strong>s redes de transmissão dos Estados Unidos. In: Líbero, São Paulo, n.º 13/14,<br />
2004b, pp. 65-71.<br />
KLARE, Michael T. Não entendemos o mundo árabe. In: Revista Carta Capital,<br />
n.º 157, São Paulo, 19/09/2001, pp.43.<br />
KÜNSCH, Dimas A. Teoria guerreira <strong>da</strong> incomunicação: jornalismo, conhecimento<br />
e compreensão do mundo. In: Líbero, São Paulo, ano VIII, nº. 15/16, 2005, pp. 22-<br />
31.<br />
_____. A comunicação jornalística em tempos de ódio: as revistas brasileiras e a<br />
Guerra contra o Iraque. In: Revista Comunicação Midiática, Bauru-SP, nº. 5,<br />
Set, 2006, pp. 67-88.<br />
_____. Comunicação e incomunicação: aproximação complexo-compreensiva à<br />
questão. In: Líbero, São Paulo, ano VIII, nº. 19, 2007, pp. 51-59.<br />
186
HABERMAS, Jürgen. O valor <strong>da</strong> notícia. In: Folha de S. Paulo, Caderno Mais, pp.<br />
04, 27/05/2007.<br />
HAESBAERT, Rogério. Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de<br />
exclusão. CASTRO, Iná Elias et al (orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de<br />
Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 165-205.<br />
_____. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002a.<br />
_____. A multiterritoriali<strong>da</strong>de do mundo e o exemplo <strong>da</strong> Al Qae<strong>da</strong>. In: Revista<br />
Terra Livre, n.º 18, São Paulo, AGB, 1.º Semestre de 2002b, pp. 37-46.<br />
HALL, Stuart. A identi<strong>da</strong>de cultural na pós-moderni<strong>da</strong>de. 10. ed. Trad. Tomas<br />
Tadeu <strong>da</strong> Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A Editoria, 2005.<br />
HELLER, Agnes. Uma teoria <strong>da</strong> história. Rio de Janeiro: Editora Civilização<br />
Brasileira, 1993.<br />
HENWOOD, Doug. Olho no umbigo. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19/09/ 2001, pp.38.<br />
HERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques: o que jornal, revista, TV, rádio e<br />
Internet fazem para manter a atenção do público. São Paulo: Contexto, 2006.<br />
HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo:<br />
Companhia <strong>da</strong> Letras, 1995.<br />
HOHLFELDT, Antonio et al. Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed. Petrópolis-RJ:<br />
Vozes, 2001.<br />
HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição <strong>da</strong><br />
ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997.<br />
JESUS, Antonio Carlos. O monopólio dos meios de comunicação e a globalização<br />
<strong>da</strong> informação. In: SOUZA, Álvaro José et al (orgs.). Milton Santos: ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e<br />
globalização. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 141-146.<br />
LACOSTE, Yves. A geografia: isso serve em primeiro lugar, para fazer a guerra.<br />
4. ed. Campinas: Papirus, 1997.<br />
LANDOWSKI, Eric. A socie<strong>da</strong>de refleti<strong>da</strong>: ensaios de sociossemiótica. São<br />
Paulo: EDUC/Pontes, 1992.<br />
_____. Presenças do outro: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: Editora<br />
Perspectiva, 2002.<br />
187
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 18. ed. Rio de<br />
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.<br />
LEIRIS, Michel. Raça e civilização. In: COMAS, Juan et al (orgs.) Raça e ciência<br />
– Vol. I. Trad. Dora Ruhman & Geraldo de Souza. São Paulo: Editora Perspectiva,<br />
1970, pp. 189-229.<br />
LESSER, Ian O. O novo terrorismo. In: Revista Veja, Editora Abril, São Paulo,<br />
19/09/2001, pp.11-15.<br />
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. In: COMAS, Juan et al (orgs.) Raça e<br />
ciência – Vol. I. Trad. Dora Ruhman & Geraldo de Souza. São Paulo: Editora<br />
Perspectiva, 1970, pp. 231-270.<br />
LOBO, Flavio. E o mundo mudou. In: Revista CartaCapital. São Paulo, n. º 157,<br />
19/09/2001, pp. 06-10.<br />
LOPES, Luís Carlos. Culto às mídias: interpretação, cultura e contatos. São<br />
Carlos: Editora UFSCAR, 2004.<br />
LUZ, Antonio Carlos Colangelo. Momento requer cautela. In: Revista Carta<br />
Capital, n.º 157, São Paulo, 19/09/2001, pp.50.<br />
MACHADO, Irene. O ponto de vista semiótico. In: HOHLFELDT, Antonio et al.<br />
Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003, pp. 279-309.<br />
MAGNOLI, Demétrio. O novo mapa do mundo. São Paulo: Moderna, 1995.<br />
_____. O mundo contemporâneo: relações internacionais 1945-2000. São Paulo:<br />
Moderna, 2002.<br />
MAGNOLI, Demétrio (org.) História <strong>da</strong>s guerras. 2.ed. São Paulo: Editora<br />
Contexto, 2006.<br />
MAGNOLI, Demétrio. O grande jogo: política, cultura e idéias em tempo de<br />
barbárie, São Paulo: Ediouro, 2006.<br />
MAGNONI, Antônio Francisco. A comunicação na era <strong>da</strong> informação: o conflito<br />
entre o local e o global. In: Impasses <strong>da</strong> globalização no limiar do século XXI:<br />
ações <strong>da</strong> educação brasileira e caminhos <strong>da</strong> geografia (Caderno de Resumo).<br />
AGB-Bauru - CEUV, 1999, pp. 32-35.<br />
MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. De caçador à caça. In: Revista Carta<br />
Capital, n.º 157, São Paulo, 19 de setembro de 2001, pp.16-23.<br />
188
_____. Quando setembro vier. In: Revista Carta Capital, n.º 454, São Paulo, 25<br />
de julho de 2007, pp. 44.<br />
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. 3. ed. São<br />
Paulo: Cortez Editora, 2004.<br />
MANZANO, Marcelo. O crash-crash de Nova York. In: Revista Caros Amigos,<br />
São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 16<br />
MARIANI, Bethania S.C. Sobre um percurso de análise do discurso jornalístico – A<br />
Revolução de 30. In: INDURSKY, Fre<strong>da</strong>; FERREIRA, Maria C. L. Os múltiplos<br />
territórios <strong>da</strong> análise do discurso. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzato, 1999,<br />
pp. 102-121.<br />
MARTINO, Luiz C. De qual comunicação estamos falando? In: HOHLFELDT,<br />
Antonio et al. Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003a, pp.<br />
11-25.<br />
_____. Interdisciplinari<strong>da</strong>de e objeto de estudo <strong>da</strong> comunicação. In: HOHLFELDT,<br />
Antonio et al. Teorias <strong>da</strong> comunicação. 3. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003b, pp.<br />
27-38.<br />
MATOS, Laura. CNN vira porta-voz dos EUA. In: Folha de São Paulo, Caderno<br />
Especial “Guerra na América”, pp. 20, 13/09/2001.<br />
MATHEWS, Gordon, Cultura global e identi<strong>da</strong>de individual: à procura de um lar<br />
no supermercado global. Trad. Mário Mascherpe. Bauru-SP: EDUSC, 2002.<br />
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e<br />
hegemonia. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2003.<br />
_____. Globalização comunicacional e transformação cultural. In: DE MORAES,<br />
Denis (org.) Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder.<br />
2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.<br />
MARTINS, Rui. EUA encosta a Suíça na parede. In: Revista Caros Amigos, São<br />
Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 22.<br />
MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar Editor, 2004.<br />
MENDONÇA, Maria Luísa. Quando a priori<strong>da</strong>de é a paz. In: Revista Caros<br />
Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 24.<br />
MIRANDA, Ana. Carta a um amigo norte-americano. In: Revista Caros Amigos,<br />
São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 13.<br />
189
MONDAINI, Marco. Terrorismo político: a globalização do medo. In: PINSKY,<br />
Jaime & PINSKY, Carla B. Faces do fanatismo. São Paulo: Contexto, 2004, pp.<br />
227-245.<br />
MODESTO, Luiz Sergio. Paz de Lennon intimi<strong>da</strong> coletivi<strong>da</strong>de-bando EUA. In:<br />
Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 25.<br />
MOORE, Michael. Stupid white men: uma nação de idiotas. São Paulo: Francis,<br />
2003.<br />
MORAIS, Jomar. O Islã é maior que o terror. In: Revista Superinteressante, São<br />
Paulo, n.º 169, outubro de 2001, pp. 18.<br />
MORAN, José Manuel. Leituras dos meios de comunicação. São Paulo:<br />
Pancast Editora, 1993.<br />
MOREIRA, Ruy. A Geografia serve para desven<strong>da</strong>r máscaras sociais. In:<br />
MOREIRA Ruy (org.). Geografia: teoria e crítica – o saber posto em questão.<br />
Rio de Janeiro: Vozes, 1982, pp. 33-63.<br />
_____. A mídia e a regulação de massa. In: Impasses <strong>da</strong> globalização no limiar<br />
do século XXI: ações <strong>da</strong> educação brasileira e caminhos <strong>da</strong> geografia<br />
(Caderno de Resumo). AGB-Bauru - CEUV, 1999, pp.31.<br />
_____. O círculo e a espiral: para crítica <strong>da</strong> geografia que se ensina – 1. Niterói-<br />
RJ: Edições AGB-Niterói, 2004.<br />
_____. Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma epistemologia crítica.<br />
São Paulo: Contexto, 2006.<br />
_____. Pensar e ser em geografia. São Paulo: Editora Contexto, 2007.<br />
MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. 6. ed. Portugal:<br />
Biblioteca Universitária, 2000.<br />
MOURÃO, Caio. Paisagem carioca. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55,<br />
outubro de 2001, pp. 26.<br />
NASSIF, Luis. Os erros <strong>da</strong> cobertura apressa<strong>da</strong>. In: Jornal <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong>de, Brasil,<br />
02/08/2007, pp. 25.<br />
NETO, Francisco Paulo de Melo. Marketing do terror. São Paulo: Editora<br />
Contexto, 2002.<br />
NEVEU, Érick. Sociologia do jornalismo. Trad. Daniela Dariano. São Paulo:<br />
Edições Loyola, 2004.<br />
190
NÖTH, Winfried. A semiótica no século XX. São Paulo: Annablume, 1996.<br />
PARACHINI, John. Ato criminoso. In: Revista Carta Capital, n.º 157, São Paulo,<br />
19/09/2001, pp.40.<br />
PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Editora Contexto, 2005.<br />
PERUZZOLO, A<strong>da</strong>ir Caetano. Elementos <strong>da</strong> semiótica <strong>da</strong> comunicação: quando<br />
aprender é fazer. Bauru-SP: EDUSC, 2004.<br />
PETROS, Francisco. Monitor de mercado. In: Revista CartaCapital, n.º 157, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.52.<br />
POMPEU, Renato. “É a terceira guerra mundial”. In: Revista Caros Amigos, São<br />
Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 18-19.<br />
_____. As lições que ninguém aprende: história do Oriente Médio. In: Revista<br />
Caros Amigos (Edição Especial “Oriente Médio”), n.º 30, São Paulo, setembro de<br />
2006, pp.04-05.<br />
PIMENTA, Ângela. O engraxate que nasceu de novo. In: Revista CartaCapital<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp. 11.<br />
PINSK, Jaime & PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Faces do fanatismo. São<br />
Paulo: Editora Contexto, 2004.<br />
PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise do discurso.<br />
2. ed. São Paulo: Hacker Editores, 2002.<br />
PROENÇA JR, Domício. Depois do 11 de setembro: cruza<strong>da</strong> americana,<br />
encruzilha<strong>da</strong> brasileira. In: Revista Múltipla, n.º 13, Brasília, dezembro de 2002,<br />
pp. 09-60.<br />
RABAÇA, Carlos Alberto & BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de<br />
Comunicação. 2. ed. (Revista e Amplia<strong>da</strong>). Rio de Janeiro: Campus, 2001.<br />
RAMONET, Ignacio. A tirania <strong>da</strong> comunicação. 2. ed. Petrópolis-RJ: Editora<br />
Vozes, 1999.<br />
_____. Propagan<strong>da</strong>s silenciosas: massas, televisão, cinema. Petrópolis-RJ:<br />
Editora Vozes, 2002.<br />
_____. 11 de setembro de 2001: guerra mundial contra o terrorismo. In:<br />
RAMONET, Ignácio. Guerras do século XXI – Novos temores e ameaças.<br />
Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2003, pp. 45-69.<br />
191
_____. O poder midiático. In: DE MORAES, Denis (org.) Por uma outra<br />
comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. 2. ed. Rio de Janeiro:<br />
Record, 2004, pp. 243-252.<br />
RAYES, Chantal. A outra face <strong>da</strong> guerra. In: GOYZUETA, Verónica & OGIER,<br />
Thierry. Guerra e imprensa: um olhar crítico <strong>da</strong> cobertura <strong>da</strong> Guerra do Iraque.<br />
São Paulo: Summus Editorial, 2003, pp. 23-30.<br />
REVISTA CAROS AMIGOS. A grande interrogação. (Carta ao Leitor). São Paulo,<br />
n.º 55, outubro de 2001, pp. 03.<br />
_____. Caros leitores. São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 05-06.<br />
REVISTA VEJA. O que incomo<strong>da</strong> o terror (Carta ao leitor). Editora Abril, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.09.<br />
_____. Cartas. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.24-29.<br />
_____. A descoberta <strong>da</strong> vulnerabili<strong>da</strong>de. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001,<br />
pp.48-59.<br />
_____. A morte no fogo, num salto ou no desabamento. Editora Abril, São Paulo,<br />
19/09/2001, pp.60-67.<br />
_____. O inimigo número 1 <strong>da</strong> América. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001,<br />
pp.68-72.<br />
_____. Assassinato em nome de Alá. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.80-<br />
85.<br />
_____. A morte pelo celular. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.88-89.<br />
_____. No topo do mundo. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.91-92.<br />
_____. A bomba financeira. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.98-99.<br />
_____. Escolas de terror. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.104-114.<br />
_____. O que parou no Brasil. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.120-123.<br />
_____. A cultura do apocalipse. Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.130-141.<br />
_____. O mundo lê, vê e ouve os atentados. In: Revista Veja, Editora Abril, São<br />
Paulo, 19/09/2001, pp.102-104.<br />
192
ROMANO, Roberto. Dos cérebros às bombas, alternativas do império. In: Revista<br />
Caros Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 12.<br />
_____. Propagan<strong>da</strong> e força bruta. In: Revista Caros Amigos (Edição Especial “O<br />
Novo Imperialismo”), n.º 17, São Paulo, junho de 2003, pp. 20-21.<br />
ROSSEAU, Jean-Jaques. Do contrato social: princípios do direito político. Bauru-<br />
SP: EDIPRO, 2000.<br />
ROSSI, Clóvis. O que é jornalismo. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.<br />
_____. As bestas e o espetáculo. In: Folha de S. Paulo, Opinião, 15/06/2007, pp.<br />
A2.<br />
SADER, Emir. Washington ou Cabul? Porto Alegre. In: Revista Caros Amigos,<br />
São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 21.<br />
SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Trad.<br />
Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia <strong>da</strong>s Letras, 1990.<br />
_____. Cultura e política. Trad. Luiz Bernardo Pericás. São Paulo: Boitempo<br />
Editorial, 2003.<br />
SANCHEZ, Giovana. Al Jazeera. In: Revista Superinteressante, São Paulo,<br />
fevereiro de 2007, pp. 74-79.<br />
SANTAELLA, Lucia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e<br />
doutorado. São Paulo: Hacker Editores, 2001.<br />
SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico<br />
informacional. São Paulo: Hucitec, 1996a.<br />
_____. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 2. ed. São<br />
Paulo: Hucitec, 1996b.<br />
_____. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência<br />
universal. Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2003.<br />
SARMATZ, Leandro. A globalização do medo. In: Revista Superinteressante,<br />
São Paulo, n.º 169, outubro de 2001, pp. 47-48.<br />
SAUER, Ildo Luís. O ataque terrorista nos EUA e o petróleo. In: Revista Caros<br />
Amigos, São Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 17.<br />
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1989.<br />
193
SCHELP, Diogo & BOSCOV, Isabela. 50 coisas que o terror mudou no mundo. In:<br />
Revista Veja, Editora Abril, São Paulo, 06/09/2006, pp. 82-96.<br />
SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço geográfico. São Paulo: Contexto,<br />
2003.<br />
SENRA, Stella. Tempo de Guerra: o 11 de Setembro, os Reality Shows e as<br />
estratégias de mobilização pela imagem. In: Novos Estudos CEBRAP, nº. 64,<br />
nov. 2002, pp. 73-82.<br />
SERVA, Leão. Jornalismo e desinformação. São Paulo: Editora SENAC, 2001.<br />
SEVERIANO, Mylton. Enfermaria. In: Revista Caros Amigos, São Paulo, n.º 55,<br />
outubro de 2001, pp. 27.<br />
SILVA, Adriano. A tragédia e nós. In: Revista Superinteressante, São Paulo, n.º<br />
169, outubro de 2001, pp. 09.<br />
SOLOMON, Norman. Paira o silêncio sobre a ver<strong>da</strong>de. In: Revista Carta Capital,<br />
n.º 157, São Paulo, 19/09/2001, pp.44.<br />
SOUSA, Ana Paula. Os culpados de sempre. In: Revista Carta Capital, n.º 157,<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp.54-55.<br />
SOUZA, Álvaro José de. Geografia lingüística: liber<strong>da</strong>de e dominação. São<br />
Paulo: Contexto, 1990.<br />
STEINBERGER, Margarethe Born. Cognição jornalística e história dos<br />
acontecimentos. In: XXVII Congresso Brasileiro de Ciências <strong>da</strong> Comunicação<br />
(INTERCOM), sessão temática de Jornalismo do VII Colóquio Brasil-França<br />
de Ciências <strong>da</strong> Comunicação e <strong>da</strong> Informação. Porto Alegre, 2004.<br />
_____. Discursos geopolíticos <strong>da</strong> mídia: jornalismo e imaginário internacional<br />
na América Latina. São Paulo: EDUC; FAPESP; Cortez, 2005.<br />
TERENA, Marcos. Assim caminha a humani<strong>da</strong>de. In: Revista Caros Amigos, São<br />
Paulo, n.º 55, outubro de 2001, pp. 22.<br />
TOLEDO, Roberto Pompeu. Alguém faltou ao grande encontro. In: Revista Veja,<br />
Editora Abril, São Paulo, 19/09/2001, pp.142.<br />
TUMA, Rogério. Os quarteirões do horror. In: Revista CartaCapital. São Paulo,<br />
n.º 19/09/2001, pp. 12-13.<br />
VIEIRA, Rosângela de Lima. História e jornalismo: um diálogo metodológico. In:<br />
CARDOSO, Clodoaldo M. (org.) Humani<strong>da</strong>des em comunicação: um diálogo<br />
multidisciplinar. Bauru-SP: UNESP/FAAC: Acadêmica Editora, 2005, pp.119-126.<br />
194
VERSIGNASSI, Alexandre. Extremismo do Oriente Médio cai na rede. In: Folha<br />
de S. Paulo, Caderno de Informática, pp. 3, 21/09/2001.<br />
VERSIGNASSI, Alexandre & BURGIERMAN, Denis Russo. A guerra que já<br />
começou. In: Revista Superinteressante, São Paulo, n.º 230, setembro de 2006,<br />
pp. 52-63.<br />
VESENTINI, José William. Novas geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000.<br />
_____. A nova ordem mundial. São Paulo: Ática, 2002.<br />
VICENTE, Maximiliano Martin. Comunicação na globalização. In: Impasses <strong>da</strong><br />
globalização no limiar do século XXI: ações <strong>da</strong> educação brasileira e<br />
caminhos <strong>da</strong> geografia (Caderno de Resumo). AGB-Bauru - CEUV, 1999,<br />
pp.29-30.<br />
_____. O jornalismo do Le Monde Diplomatique. Revista Comunicação<br />
Midiática, Bauru-SP, n.º 3, Ago, pp. 133-149, 2005a.<br />
_____. O Le Monde Diplomatique e a globalização: versões e interpretações. In:<br />
CARDOSO, Clodoaldo M. (org.) Humani<strong>da</strong>des em comunicação: um diálogo<br />
multidisciplinar. Bauru-SP: UNESP/FAAC: Acadêmica Editora, 2005b, pp.169-182.<br />
ZAKARIA, Fareed. É preciso dividir o Islã para vencer. In: Revista Época, n.º 480,<br />
Rio de Janeiro, 30/08/2007, pp. 91.<br />
ZILBERBERG, Claude. Louvando o acontecimento. Trad. Maria Lucia V. P. Diniz.<br />
Galáxia, revista Transdisciplinar de Comunicação, Semiótica, Cultura (ISSN 1519-<br />
311X). Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. Pontifícia<br />
Universi<strong>da</strong>de Católica de São Paulo, 2006. (no prelo).<br />
WAINBERG, Jaques A. Mídia e terror: comunicação e violência política. São<br />
Paulo: Paulus, 2005.<br />
WEBB, David. Eles naufragam, vamos juntos. In: Revista Carta Capital, n.º 157,<br />
São Paulo, 19/09/2001, pp.45.<br />
WOLTON, Dominique. Pensar a comunicação. Trad. Zélia Leal Adghirni. Brasília:<br />
Editora Universi<strong>da</strong>de de Brasília, 2004.<br />
WRIGHT, Lawrence. O vulto <strong>da</strong>s torres: a Al Qae<strong>da</strong> e o caminho até o 11/09.<br />
Trad. Ivo Korytowsky. São Paulo: Companhia <strong>da</strong>s Letras, 2007.<br />
195