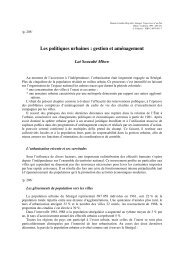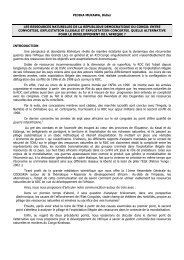CODESRIA CODESRIA
CODESRIA CODESRIA
CODESRIA CODESRIA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CODESRIA</strong><br />
12th General Assembly<br />
Governing the African Public Sphere<br />
12e Assemblée générale<br />
Administrer l’espace public africain<br />
12a Assembleia Geral<br />
Governar o Espaço Público Africano<br />
عشر الثانية العمومية الجمعية<br />
ﻰﻘﻳﺮﻓﻹا مﺎﻌﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻢﻜﺣ<br />
“As Mulheres Estão Mais Livres Apesar de Trabalharem<br />
Muito” 1 . Mulheres Camponesas Lutam Pela Dignidade<br />
Numa Aldeia de Moçambique<br />
Isabel Maria Casimiro<br />
Universidade Eduardo Mondlane<br />
07-11/12/2008<br />
Yaoundé, Cameroun
“As Mulheres Estão Mais Livres Apesar de Trabalharem Muito” 1 . Mulheres<br />
Camponesas Lutam Pela Dignidade Numa Aldeia de Moçambique 2<br />
Isabel Maria Casimiro 3<br />
As mulheres estão mais livres. Antes as mulheres tinham de fugir por causa das<br />
patrulhas. As mulheres antes não procuravam fazer negócio, não podiam, tinham de<br />
ficar em casa. O homem era escravizado pelo governo e por sua vez escravizava as<br />
mulheres. Se elas hoje trabalham é para o bem delas (...) As mulheres trabalham e<br />
compram o que acham necessário. Antigamente não tinham escolha. São mais livres<br />
hoje, apesar de trabalharem muito para conseguirem essas coisas. As mulheres hoje<br />
trabalham e então é difícil de se casarem. Numa casa podem viver uma ou três<br />
solteiras.<br />
Viúva, Bairro Puli, Angoche, 64 anos, Ent41, 6/09/03<br />
…Gostaria de ter um sítio onde fizessem justiça quando aparecem homens a<br />
maltratar-nos. Com emprego, talvez as mulheres pudessem dizer não, mas as<br />
mulheres nunca conseguem dizer não e os homens abusam, porque uma mulher<br />
solteira é incompleta.<br />
Mulher Abandonada (FCM), membro da CDL 4 , 41 anos, Ent32, Mirrepe,<br />
24/09/03<br />
Os homens abandonam as mulheres com os filhos aqui em Angoche. As mulheres não<br />
sabem onde ir e então resignam-se. Mas é um problema que afecta muita gente e nós<br />
não encontramos solução para ele. Não sabemos a quem pedir auxílio pelo facto dos<br />
homens serem irresponsáveis. As mulheres são e estão a ser usadas como coisas<br />
descartáveis.<br />
Mulher Abandonada (FCM), 36 anos, Ent50, Angoche, 30/09/03<br />
Antes havia emprego mas levava-se porrada, não éramos seres humanos. Hoje não há<br />
serviço. Mas a Independência é uma coisa boa. Tempo colonial não tinha tempo. Era<br />
só sofrer, apanhar.<br />
Secretário da Aldeia, 51 anos, Ent11, Mirrepe, 5/09/03<br />
1<br />
Palavras duma mulher viúva de 64 anos, numa Família Chefiada por Mulher (FCM), Bairro Puli, cidade de<br />
Angoche, (Distrito de Angoche, Província de Nampula), 06/09/03 (Ent41).<br />
2<br />
Artigo elaborado com base em entrevistas semi-estruturadas a mulheres e homens da cidade de Angoche e<br />
aldeia de Mirrepe, entre Maio e Outubro de 2003, enquadrado nos preparativos para o doutoramento em<br />
Sociologia.<br />
3<br />
Docente e investigadora, Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo,<br />
Moçambique. Membro das organizações Fórum Mulher e Cruzeiro do Sul – Instituto de Investigação para o<br />
Desenvolvimento José Negrão.<br />
4<br />
CDL, Comissão de Desenvolvimento Local, Mirrepe. Foi uma das primeiras CDL’s a ser constituída em<br />
Nampula.<br />
1
Introdução<br />
O processo de globalização e de reestruturação económica que o mundo viu acelerar-se a<br />
partir da década de 70 e que se instalou depois de meados dos anos 80 e na década de 90<br />
através dos modelos neo-liberais tem produzido impactos desiguais à escala local e individual<br />
e com consequências diferenciadas para mulheres e homens. Apesar das inovações ao nível<br />
dos processos de trabalho, das tecnologias de comunicação e informação e das condições que<br />
têm criado para reduzir a dureza do trabalho, os processos económicos globais têm<br />
incentivado a proletarização ou semi-proletarização e a crescente desigualdade à escala<br />
mundial, o desemprego, o aumento da migração internacional, a feminização da força laboral,<br />
a formação e recomposição das classes sociais a nível nacional e internacional, e a crescente<br />
importância das redes globais. A reestruturação económica desencadeou o aumento da<br />
quantidade total de trabalho realizado, o aparecimento de novas divisões de trabalho bem<br />
como uma distribuição mais desiquilibrada de todas as formas de trabalho ao nível dos<br />
agregados familiares. E ademais as divisões de trabalho dentro e entre as famílias, entre<br />
mulheres e homens de diversas idades, mudou do mesmo modo que mudaram também as<br />
divisões de trabalho a nível internacional (Santos, 2001, 1995); Martínez, Moya e Muñoz,<br />
1995: 79, 96).<br />
Nos anos 50 e 60 o optimismo do paradigma da modernização que dominava a produção<br />
teórica da Economia do Desenvolvimento, no período posterior à II Guerra Mundial, levou<br />
muitas pessoas a acreditar que as formas tradicionais de trabalho e de produção<br />
desapareceriam como resultado do progresso económico nos países desenvolvidos. Todavia à<br />
medida que as economias começavam a dar sinais negativos, os teóricos do desenvolvimento<br />
dedicaram-se ao estudo do que então se designava como sector tradicional, constatando que<br />
este sector não havia apenas persistido como ampliado dando origem a novos<br />
desenvolvimentos. Com as políticas neo-liberais a expandirem-se nos países desenvolvidos,<br />
muitos trabalhadores foram despedidos dos seus empregos formais e empurrados para o<br />
emprego informal. O termo sector informal começou a ser utilizado a partir de inícios da<br />
década de 70 transformando-se num tema de investigação não apenas ao nível da economia<br />
mas também da sociologia e da antropologia.<br />
A partir de meados de 1990 muitos académicos começaram a utilizar o termo ‘economia<br />
informal’ para se referirem a um conceito mais lato que inclui empresas e diferentes tipos de<br />
emprego em países com vários níveis de desenvolvimento, reconhecendo tratar-se duma<br />
economia diversa que inclui em vários países do mundo membros de pequena escala e<br />
ocasionais (no geral vendedores de rua e recicladores de lixo) bem como empresas maiores,<br />
pessoal de empresas formais mas empregue informalmente, trabalho à peça, lavagem e<br />
confecção de roupa ao domicílio, preparação de refeições, fabrico de bebidas tradicionais,<br />
confecção de bolos e biscoitos, etc.<br />
2
A agenda política económica ficou quase que inteiramente subordinada ao pensamento<br />
económico neo-liberal do Washington Consensus, criando profundas e crescentes<br />
desigualdades de riqueza e de rendimento – pessoas cada vez mais empobrecidas, em especial<br />
as mulheres, que foram ficando marginalizadas no acesso a estratégias económicas e sociais<br />
seguras. A constatação destas situações tem conduzido académicos e activistas ligados aos<br />
Novos Movimentos Sociais, a considerar que a justiça económica e social só poderá ser<br />
alcançada através da segurança das estratégias de desenvolvimento e dum ambiente<br />
económico favorável (Sen, 2005: 10, 12, 15, 17).<br />
É neste contexto que diante dos limites das políticas desenvolvimentistas que dominam a<br />
produção teórica da Economia do Desenvolvimento e do impacto das políticas neo-liberais<br />
em países com variados graus de desenvolvimento, começou a ganhar corpo uma outra<br />
abordagem para o desenvolvimento e para a pobreza a partir da década de 90. A pobreza<br />
deixou de ser definida apenas em termos económicos – como uma falta de rendimento ou<br />
Produto Nacional Bruto per capita – como acontecia antes da década de 70 para, depois dos<br />
anos 70, se começar a falar no conceito de necessidades básicas – incluindo o acesso a bens<br />
de consumo como também a bens colectivos – a educação e os serviços de saúde – e<br />
igualmente outros aspectos mais gerais de bem-estar (Espling, 2006: 4).<br />
A perspectiva das necessidades básicas foi parcialmente abandonada nos anos 80 e foram<br />
ganhando terreno interpretações mais gerais de bem-estar passando a ser consideradas como<br />
parte integrante das dimensões críticas da pobreza a habilidade das pessoas para desempenhar<br />
várias funções, desenvolver e desdobrar as suas capacidades. Tomaram-se em consideração os<br />
direitos de mulheres e homens aos recursos e a vulnerabilidade dos mais pobres em face das<br />
mudanças no meio ambiente ecológico, económico e político, reconhecendo-se a relatividade<br />
do conceito de pobreza e a sua conexão íntima com os valores políticos, morais e culturais, de<br />
acordo com as características de cada sociedade e relacionando as condições de ‘exclusão<br />
social’ a todos estes factores (Chambers e Conway, 1992).<br />
Nos anos 90 reconheceu-se o carácter multidimensional e contextualizado da pobreza e<br />
das suas causas considerando os aspectos económicos, ecológicos, sociais, culturais, políticos,<br />
o facto dos pobres não constituírem um grupo homogéneo e de não serem sujeitos passivos à<br />
espera de soluções para os seus problemas 5 . É a partir destas reflexões suportadas na<br />
investigação e na prática de trabalho em vários países do mundo que se desenha a perspectiva<br />
5 A este propósito é importante referir que no documento do PARPA I, 2001-2005, elaborado pelo<br />
Governo Moçambicano se definia pobreza como a incapacidade dos indivíduos de assegurar para si e para os<br />
seus dependentes um conjunto de condições básicas mínimas para a sua subsistência e bem estar, segundo as<br />
normas da sociedade (PARPA: 10). Definição bastante contestada pelas organizações da sociedade civil e<br />
discutida ao nível do Grupo 20 que integra o Observatório da Pobreza criado pelo Governo para acompanhar os<br />
esforços a nível nacional no combate à pobreza em Moçambique. Esta definição faz recair sobre os pobres e suas<br />
famílias a responsabilidade da sua própria pobreza, não se abordando a questão da distribuição justa e<br />
sustentável dos benefícios e da igualdade de direitos e oportunidades no acesso e controlo dos recursos como<br />
referiu o Fórum Mulher num documento de reflexão sobre a ausência de perspectiva de género no PARPA I.<br />
Para além de que considera este combate a nível individual e como tendo por objectivo apenas a satisfação das<br />
necessidades básicas e não os aspectos globais que contribuem para o desenvolvimento das pessoas.<br />
3
das estratégias sustentáveis de sobrevivência (sustainable livelihoods), focando as atenções<br />
nas pessoas, nos bens e recursos ao seu alcance, assim como nas suas escolhas acerca das<br />
estratégias de sobrevivência múltiplas e em mudança por si adoptadas (Chambers e Conway,<br />
1992).<br />
Tomando como ponto de partida as soluções endógenas desenvolvidas a partir das<br />
experiências quotidianas da economia familiar conducentes ao empoderamento dos seus<br />
membros, mulheres e homens, e das comunidades, esta estratégia reconhece a participação de<br />
diversos actores que intervêm nas acções das pessoas, desde as organizações comunitárias, as<br />
redes de entreajuda, os organismos governamentais a vários níveis e o sector privado<br />
(Espling, 2006).<br />
No distrito de Angoche, província de Nampula, mulheres e homens desenvolvem<br />
actividades múltiplas e variadas para fazer face às necessidades do quotidiano dificilmente<br />
cobertas apenas pelos rendimentos auferidos através das actividades agrícolas ou dum<br />
emprego assalariado, praticamente inexistente. Neste artigo abordo a experiência de mulheres<br />
camponesas duma pequena aldeia deste distrito no norte costeiro de Moçambique.<br />
Confrontadas com a pobreza e a necessidade de contribuir para o bem estar dos seus filhos,<br />
um grupo de mulheres criou uma associação de fomento de cabrito em Mirrepe. Os múltiplos<br />
problemas que foram obrigadas a enfrentar obrigaram-nas a mudar o foco da sua actividade<br />
para a pulverização dos cajueiros, numa região em que o caju é uma das principais culturas de<br />
rendimento.<br />
1. Angoche: o caju e as plantações<br />
Angoche foi, durante décadas, um importante centro económico, não só para a província<br />
de Nampula, mas também para Moçambique. A sua economia é predominantemente agrícola,<br />
representando a agricultura o principal meio de sustento para a maioria da população. As<br />
principais culturas alimentares são o arroz, o milho, a mandioca, a mapira, a mexoeira, o<br />
amendoim e os feijões (“Distrito de Angoche, Plano de Desenvolvimento Distrital, 1999-<br />
2003”, 1999: 22; da Conceição, 2003: 506).<br />
As grandes empresas agrícolas, sobretudo de sisal e palmar ocupavam, durante o período<br />
colonial, vastas concessões, exploradas no geral em sistema de monocultura. As actividades<br />
industriais estavam associadas à economia de base agrária, as agro-indústrias, e destinadas à<br />
preparação e aproveitamento dos seguintes produtos: copra, sisal, algodão e sumaúma; caju,<br />
amendoim e coco; arroz. A Companhia Comercial de Angoche (CCA), uma companhia<br />
concessionária com sede na Suíça e com a administração na cidade de Angoche, era dona de<br />
imensas plantações de sisal e palmar, em Natire, Merrere e Nametória, que dispunham de<br />
maquinaria de desfibramento, lavagem, prensagem e enfardamento do sisal, e de uma fábrica<br />
4
de descasque e processamento de castanha de caju, à entrada da cidade de Angoche. O Banco<br />
da Agricultura era uma outra grande empresa agrícola com palmares e cajuais no distrito.<br />
Devido à imensa riqueza florestal havia também a exploração de madeira com umas poucas<br />
serrações espalhadas pelo distrito para além do aproveitamento dos produtos florestais a nível<br />
dos agregados familiares para o artesanato, cestaria, medicamentos e bebidas ricas em<br />
vitaminas. Era e ainda é conhecido o aroma e paladar do café de Angoche ou do Liúpo, que se<br />
encontra bravio e espontâneo. Apesar das boas condições para a pecuária, esta nunca esteve<br />
muito desenvolvida, para além das aves de capoeira, cabras e cabritos, a nível das famílias. Os<br />
bovinos e os suínos eram apenas criados nas grandes e médias empresas, como a CCA, que<br />
desenvolveu a pecuária nas Plantações de Merrere e Natiri, no Posto Administrativo de Boila-<br />
Nametória. A pesca foi sempre uma actividade importante, praticada tanto por grandes e<br />
médias empresas como pelos pescadores artesanais. Angoche dispunha duma empresa de<br />
pesca, com embarcações e armazéns, que abastecia a cidade e o mercado da província. Na<br />
cidade havia também uma fábrica de descasque de arroz e derivados (SINLA, Sociedade<br />
Industrial do Niassa Lda); Oficinas de Reparação Auto; Salinas; Padarias; Indústria de<br />
Transportes Terrestres (Machado, 1970: 589-604).<br />
A maior parte destas agro-indústrias passou, depois da Independência em 1975, por<br />
processos de abandono por parte dos antigos proprietários, nacionalização pelo Estado<br />
Moçambicano e sua transformação em Empresas Estatais, paralisação ou semi-paralisação<br />
devido à guerra, privatização e reorientação com o Programa de Reajustamento Estrutural, e<br />
privatização e encerramento depois do Acordo de Paz entre o Governo Moçambicano e a<br />
Renamo, em 1992.<br />
1.1. O sector do caju e a agro-indústria no distrito de Angoche<br />
As pessoas agora estão a sofrer muito, principalmente as solteiras. Porque antes as<br />
solteiras trabalhavam nas fábricas. Agora não têm nada.<br />
Ent47, FCM, abandonada, 42 anos, 30/09/03<br />
…Nós fomos os primeiros trabalhadores a trabalhar, pois a CCA é a primeira<br />
fábrica. Uns foram indemnizados – os da CAJUCA – mas nós não. E nós não fomos<br />
para casa de propósito.<br />
Viúva em casa da filha, 64 anos, Ent57, bairro Puli, 02/10/03<br />
No período colonial, Moçambique foi um dos principais produtores de castanha de caju,<br />
constituindo o sector do caju uma importante fonte de receitas da economia de exportação. O<br />
ano de 1972 foi apontado como o momento mais alto da sua produção. Em 1974 a economia<br />
do caju ganhava posição face ao algodão e ao açúcar, núcleos centrais de estruturação da<br />
economia de exportação colonial (representando respectivamente 11,1% e 20,9% do comércio<br />
externo do território). Moçambique impunha-se então como o maior produtor mundial de<br />
castanha de caju (190 mil ton, ou seja, 42,7% da produção total) (Leite, 1999: 3).<br />
5
Hoje é um pequeno competidor em concorrência com a Índia, o Brasil e o Vietname, os<br />
maiores produtores mundiais. A Índia é na actualidade o maior importador de castanha em<br />
bruto, importando a maior parte da produção comercializada de Moçambique, sendo também<br />
o maior exportador de castanha processada. São as famílias camponesas que têm as árvores e<br />
que comercializam a castanha de caju, uma das suas principais fontes de rendimento, nutrição<br />
e emprego 6 . Calcula-se que cerca de 95% da produção actual de caju seja feita pelos pequenos<br />
produtores e que perto de um milhão de agregados familiares rurais tenham cajueiros. O caju<br />
é processado a nível doméstico e industrial (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 5-6;<br />
Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur, 2004: 4-5, 7-9).<br />
Na década de 70, registou-se uma baixa tanto na produção como na qualidade da<br />
castanha de caju. O sistema de economia centralizada, adoptado depois da Independência, a<br />
ruptura da rede de comercialização assente nos cantineiros, o controlo estatal do<br />
abastecimento num contexto de escassez estimulando o auto consumo e a desmonetarização<br />
da economia familiar, a ruptura das vias de acesso agravada pela guerra de desestabilização e<br />
a destruição das infra-estruturas no sector agrícola, originaram rupturas no funcionamento da<br />
economia do caju, que se reflectiram na sua produção e produtividade. Os movimentos da<br />
população devido à política de socialização do campo e a concentração das pessoas nas<br />
aldeias comunais, que se traduziam no afastamento e abandono ou semi-abandono das<br />
árvores, impedindo o seu tratamento ou substituição por novas sementeiras, tiveram<br />
implicações no envelhecimento do cajual e na diminuição da sua produtividade 7 . Os<br />
camponeses sentiam-se menos motivados a vender a castanha por causa do fraco poder<br />
aquisitivo do dinheiro, e o auto-consumo da castanha aumentou devido ao preço praticado,<br />
que não estimulava o produtor/apanhador. A produção média por árvore baixou para 2-4 kg<br />
quando se poderia produzir 10-15 kg. (Leite, 1999: 3-5; Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji,<br />
2003: 5-6).<br />
Depois da Independência o Estado, através da Caju de Moçambique E.E. (Empresa<br />
Estatal), fez a gestão de 7 unidades industriais que constituíam o parque industrial do sector<br />
do caju no período colonial dum total de 11 fábricas em funcionamento e 3 em fase de<br />
instalação (1 das quais em Angoche). Por intervencionar ficaram entre outras 1 da Anglo-<br />
América, a Mocita, e a CCA em Angoche. Esta última seria encerrada em 1983, para depois<br />
ser privatizada pela ENACOMO e a Gani Comercial, vindo a fechar definitivamente em<br />
1998. No começo da década de 90, apenas se encontrava a funcionar a Fábrica de Caju do<br />
Monapo, do Grupo Português Entreposto. A paralisação do sector industrial provocou um<br />
6<br />
A castanha de caju é uma fonte de proteínas para as famílias e possui importantes derivados como o falso<br />
fruto, o sumo e o álcool.<br />
7<br />
Alfredo Gamito que foi Secretário de Estado do Caju na década de 80 (Governador da província de<br />
Nampula nos anos 90, mais tarde Ministro da Administração Estatal e actualmente deputado da AR), apontou<br />
numa entrevista a Joana Pereira Leite a 25 de Novembro de 1993 como principais razões para a decadência do<br />
caju após a independência, a socialização do campo e a concentração das pessoas nas aldeias comunais; a ruptura<br />
da rede de comercialização e o controlo estatal do abastecimento; e a ruptura das vias de acesso (Leite, 1999: 5,<br />
nota 6).<br />
6
excedente da castanha e o Ministério das Finanças e do Comércio suspendeu em finais de<br />
1992 a política de interdição da exportação do caju que havia sido decidida em 1975 (Leite,<br />
1999: 5-7, 38).<br />
A partir de 1995, o governo Moçambicano liberalizou o sector do caju, por imposição do<br />
Banco Mundial, como condição para ter acesso a créditos dessa instituição, o que se traduziu<br />
num colapso do sector de processamento e da indústria nacional (Vijfhuizen, Braga, Artur e<br />
Kanji, 2003: 6; Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur, 2004: 7). Na opinião do Banco Mundial, a<br />
liberalização da castanha de caju levaria a um aumento dos preços ao produtor bem como das<br />
intenções da oferta (Leite, 1999: 27).<br />
Aproximadamente 10.000 trabalhadores estavam empregados nas fábricas<br />
antes da sua privatização e da liberalização do sector. A maior parte das fábricas<br />
estatais foi vendida a privados em 1994 e a maioria dos proprietários começou a<br />
reabilitá-las e a mudar a tecnologia para o descasque semi-mecanizado, o que<br />
requer mão-de-obra intensiva mas quebra menos amêndoas (Kanji, Vijfhuizen,<br />
Braga e Artur, 2004: 7).<br />
De acordo com o estudo realizado pelo IIED (International Institute for Environment and<br />
Development) e pela Universidade Eduardo Mondlane, a que se tem feito referência (2003 e<br />
2004), depois da privatização e liberalização no sector do caju e antes do encerramento das<br />
unidades de produção, os salários e as condições de vida dos trabalhadores pioraram. Os<br />
trabalhadores passaram a ganhar à tarefa, laborando durante longas horas e muitas vezes sem<br />
auferir o salário mínimo nacional, desapareceram as creches e o posto de saúde, o que<br />
prejudicou sobretudo as trabalhadoras. As mulheres trabalham normalmente mais horas que<br />
os homens embora aufiram salários inferiores e raramente ocupam postos de chefia. Os<br />
sindicatos ou são inexistentes ou não defendem os interesses dos trabalhadores e os líderes<br />
são maioritariamente homens, situação não apenas deste sector mas característica dos<br />
sindicatos em Moçambique. Mas os empresários que privatizaram as antigas fábricas também<br />
se queixavam dos custos e de problemas como o absentismo e o roubo (Vijfhuizen, Braga,<br />
Artur e Kanji, 2003: 20-21, 28-29; Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur, 2004: 18-19; Arthur,<br />
2004: 173-206).<br />
Em 1997 a maior parte das fábricas estava encerrada e apesar dos protestos públicos e<br />
nos meios de comunicação 8 , e dos debates no interior do governo e do Parlamento<br />
8 Carlos Cardoso, jornalista e editor do jornal por fax Mediafax e depois proprietário e editor do jornal por<br />
fax Metical (a partir de 25/06/97), assassinado a 22 de Novembro de 2000, foi dos que mais se bateu pelo<br />
processamento da castanha de caju em Moçambique e contra a estratégia do Banco Mundial. A AICaju –<br />
Associação dos Industriais do Caju – criada em 1992 e constituída por donos e/ou compradores das antigas<br />
grandes empresas estatais agora encerradas, também tem criticado a rápida liberalização e a abolição das taxas<br />
proteccionistas protagonizadas pelo Banco Mundial, bem como a política desastrosa do governo Moçambicano<br />
em relação ao sector do caju (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 8).<br />
7
Moçambicano, a maioria das fábricas não reabriu (Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur, 2004: 7).<br />
A Associação dos Industriais do Caju (AICAJU) também chamou a atenção para o facto do<br />
tratamento das árvores (pulverização) ser muito caro para os agricultores, e que se deveria<br />
priorizar o plantio de novas árvores 9 (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 8).<br />
O encerramento das fábricas verificou-se por diversas razões: os baixos níveis de<br />
produção; a necessidade de abastecer as fábricas com grandes quantidades de castanha em<br />
bruto; a diminuição das taxas proteccionistas sobre a castanha em bruto 10 . Em 1995, foi<br />
eliminada a directiva que estabelecia a obrigatoriedade de satisfazer as necessidades das<br />
fábricas nacionais antes da exportação da castanha em bruto e a sua taxa de exportação foi<br />
reduzida de 30 para 20% em 1995/96 (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 15).<br />
A crise no sector do caju tem as suas origens nos conflitos de interesse que remontam à<br />
década de 50 relacionados com a partilha da castanha entre a indústria que então despontava e<br />
o antigo comércio exportador. Na década de 90 depois do Acordo de Paz entre o Governo de<br />
Moçambique e a Renamo e na vigência das políticas neo-liberais reacenderam-se os conflitos<br />
entre os interesses da indústria nacional e dos exportadores, e as instituições de Bretton<br />
Woods desempenharam um papel central no relançamento das antigas solidariedades<br />
mercantis entre Moçambique e a Índia, dando origem a um novo ciclo no desenvolvimento da<br />
economia do caju (Leite, 1999: 2, 7).<br />
Os responsáveis pela política económica no governo, divididos entre as imposições do<br />
Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e os interesses de grupos da sociedade<br />
moçambicana, não assumiram um posicionamento claro no respeitante à política para o sector<br />
do caju 11 . Os defensores dos diferentes interesses organizaram os seus lobbies e foram<br />
angariando apoio entre membros e sectores do Governo, do Parlamento e da Frelimo, partido<br />
no poder. Os representantes da indústria nacional do sector do caju denunciaram a acção de<br />
um lobby indiano que no BM agia no sentido de reter para a Índia o quase monopólio<br />
mundial de produção de amêndoa. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Caju, SINTIC,<br />
opunha-se à liberalização das exportações de castanha. A ACIANA – Associação Comercial,<br />
9 A necessidade de plantio de novas árvores deveu-se ao facto das existentes estarem velhas, sofrerem<br />
problemas relacionados com as pestes e com as queimadas descontroladas (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji,<br />
2003: 11).<br />
10 Esta situação aconteceu no momento em que os proprietários privados tinham acabado de adquirir as<br />
fábricas e que necessitavam de reabilitação, e quando as fábricas estavam em processo de mudança de<br />
tecnologia, de descasque por impacto para uma tecnologia de corte semi-mecanizado (Vijfhuizen, Braga, Artur e<br />
Kanji, 2003: 15).<br />
11 Joana Pereira Leite menciona no texto que alguns observadores faziam referência à falta de vontade<br />
política do Governo para levar avante as suas posições perante a política de liberalização do BM e do FMI e que<br />
parte das suas hesitações se deviam ao facto do processo de privatização da indústria do caju não se ter<br />
constituído enquanto espaço de emergência de um empresariado nacional. Apoiar as recém-privatizadas<br />
unidades de fabricação significaria proteger interesses estrangeiros ou estrangeirados de origem portuguesa,<br />
luso-moçambicana ou indo-moçambicana. Assim de acordo com algumas interpretações a estratégia do caju<br />
adoptada pelo BM era bem acolhida pelo governo moçambicano pois ela visava, não o apoio à reconversão das<br />
unidades existentes, uma vez que pertença de interesses estrangeiros, mas a criação das condições da emergência de uma<br />
indústria nacional (Leite, 1999: 34).<br />
8
Industrial e Agrícola, Nampula – defendia os interesses dos exportadores da castanha no norte<br />
do país (Leite, 1999: 10, 18-19, 22).<br />
Alguns meios de comunicação, entre os quais o Mediafax e mais tarde também o<br />
Metical, animaram as reflexões em torno do caju, divulgando posições de interesses diferentes<br />
e atraindo a opinião pública para o debate (Leite, 1999: 26). Carlos Cardoso foi o principal<br />
porta-voz dos debates sobre a política do caju em Moçambique, chamando a atenção para o<br />
facto de que a liberalização havia beneficiado mais os comerciantes que o camponês e<br />
deixando claro que a melhor solução era a industrialização (Metical Nº53, 05/09/97, referido<br />
por Leite, 1999: 37).<br />
Há evidências consideráveis de que a estratégia do Banco Mundial não<br />
funcionou. Embora os preços tivessem de facto subido, os aumentos foram pequenos.<br />
Os preços dos alimentos e dos bens de consumo básicos também aumentaram.<br />
Tendencialmente, os comerciantes beneficiarem mais do que os produtores e,<br />
produtores que tinham capacidade para manter castanha armazenada até ao final<br />
da campanha de comercialização beneficiaram mais do que os outros.<br />
Contrariamente às expectativas, os produtores plantaram muito pouco novas<br />
árvores. Em conclusão, os ganhos líquidos dos produtores foram<br />
desanimadoramente baixos e grandemente contra-balançados pelo desemprego<br />
causado pelo colapso do sector de processamento (Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur,<br />
2004: 7-8).<br />
Com este importante sector da economia nacional em crise o Estado criou o Instituto de<br />
Fomento do Caju (INCAJU) que iniciou em 1998 uma estratégia abrangente e integrada<br />
visando estimular as actividades nas áreas da produção, processamento e comercialização,<br />
através da colaboração entre o sector privado, o governo, as ONG’s e as comunidades. A sua<br />
intervenção incluiu a introdução de novas variedades – com o objectivo de obter árvores mais<br />
produtivas e mais resistentes às doenças – a pulverização das árvores para combater as<br />
doenças, a investigação, a formação e a extensão. Registaram-se algumas melhorias entre<br />
1998-2003 em relação à produção de castanha mas as iniciativas apenas forneceram cerca de<br />
2.000 postos de trabalho 12 contra os 10.000 antes da liberalização. Nas fábricas de<br />
processamento de média escala há um equilíbrio entre trabalhadoras e trabalhadores, mas<br />
apenas no Sul do país, uma vez que no Norte há menos mulheres a trabalhar (Vijfhuizen,<br />
Braga, Artur e Kanji, 2003: 12, 21; Kanji, Vijfhuizen, Braga e Artur, 2004: 8, 16).<br />
12 Que correspondem sensivelmente a 1.100 homens e 940 mulheres a trabalhar nas fábricas de<br />
processamento de média escala, 2 no Norte do país – Geba, distrito de Memba e Namige, distrito de Mogincual,<br />
ambas na província de Nampula – Madecaju, em Maputo; Invape e Maciacaju, na província de Gaza; e 2 na<br />
província de Inhambane (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 15).<br />
9
Nas novas fábricas em Nampula, objecto da pesquisa do IIED e da UEM, por exemplo na<br />
de Cageba, em Memba, há queixas sobre as relações laborais, e faz-se referência a um “clima<br />
de medo”. Nesta fábrica semi-mecanizada, instalada em 1995 em Geba, distrito de Memba,<br />
província de Nampula, trabalhavam 642 trabalhadores, em 2002, sendo 538 homens e 104<br />
mulheres. Entretanto na fábrica de Namige, no Mogincual, que começou a funcionar em 2002<br />
e que surgiu graças a uma colaboração entre o empresariado, o governo e algumas ONG’s 13 ,<br />
os trabalhadores falam de melhores condições de trabalho, de uma refeição diária grátis,<br />
assistência médica, creche, férias anuais pagas, indemnização por acidentes de trabalho, e os<br />
trabalhadores estão organizados num sindicato. Aqui trabalham 92 trabalhadores, 56 homens<br />
e 36 mulheres. Ambas são fábricas de pequena escala (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003:<br />
18-19).<br />
Outras iniciativas são também de registar, ainda que na sua fase inicial. Referimo-nos a<br />
uma colaboração entre as ONG’s, SNV (Netherlands Development Organisation),<br />
TechnoServe 14 , ADPP-Moçambique e a AMODER (Associação Moçambicana para o<br />
Desenvolvimento Rural) através do Programa CASCA (Componente de Apoio ao Sector do<br />
Caju 15 ), integrando a formação direccionada à produção e processamento, implementada pela<br />
ADPP (Ajuda para o Desenvolvimento de Povo para Povo) e um programa de micro-crédito<br />
destinado ao processamento e implementado pela AMODER. Compete à SNV prestar<br />
assessoria e serviços de facilitação tendo Namige sido escolhido como primeira zona de<br />
intervenção. O programa CASCA é uma tentativa inovadora de ligar a produção, o<br />
processamento e a comercialização (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 22 e 29).<br />
Em Angoche havia três fábricas de processamento de castanha de caju, todas encerradas<br />
na actualidade. O processamento da castanha de caju era a principal fonte de emprego para os<br />
habitantes da cidade e não só. As pesquisas e estudos que têm sido realizados sobre o sector<br />
do caju em Angoche fazem referência ao empobrecimento das mulheres e dos homens depois<br />
do encerramento das três fábricas. Mulheres e homens foram obrigados a dedicar mais tempo<br />
à agricultura para poderem sobreviver, mas as mulheres enfrentaram mais problemas pois<br />
perderam o emprego antes dos homens, quando as fábricas foram privatizadas, e foi-lhes mais<br />
difícil conseguir fontes alternativas de rendimento. Muitas delas eram chefes de família,<br />
divorciadas e viúvas, e quase todas tiveram de se voltar para o comércio informal, devido à<br />
dificuldade de viver apenas da agricultura. Todavia, a sobrevivência com base nos pequenos<br />
negócios comporta muitos riscos devido à estagnação da vida económica da cidade<br />
(Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 16-17, 27-28).<br />
13<br />
Esta nova fábrica surgiu da iniciativa dum empresário com o apoio do governo, da TechnoServe e da<br />
ONG Holandesa para o Desenvolvimento SNV.<br />
14<br />
ONG dos Estados Unidos da América, cujo objectivo é apoiar mulheres e homens nas zonas rurais a<br />
organizarem negócios, para terem rendimentos, oportunidades e crescimento económico, para as suas famílias,<br />
comunidades e país (Vijfhuizen, Braga, Artur e Kanji, 2003: 7).<br />
15<br />
Que envolve a SNV, a ADPP (Ajuda de Povo para Povo) e a AMODER (Associação Moçambicana para<br />
o Desenvolvimento Rural).<br />
10
Em 1999 já se encontravam paralisadas quase todas as unidades industriais existentes no<br />
distrito de Angoche. A Companhia de Caju de Nacala - Grupo Entreposto, cuja actividade era<br />
o processamento de castanha de caju, na sede do distrito, a EMOPESCA E.E. (alugada à<br />
Angopesca Lda), cuja actividade era a pesca industrial, localizada na sede do distrito, e a<br />
Sociedade Industrial de Madeiras Moçambique Lda, cuja actividade era a serração e<br />
carpintaria, também na sede do distrito, eram as únicas unidades agro-industriais em<br />
funcionamento em 1998. Nesse mesmo ano já se encontravam paralisadas ou encerradas: a<br />
Angocaju-ENACOMO/Gani Comercial, cuja actividade era o processamento de castanha de<br />
caju, na sede do distrito, paralisada; a CCA – Fábrica, cuja actividade era o processamento da<br />
castanha de caju, na sede do distrito, encerrada; a CCA – Natiri, na Unidade de Produção de<br />
Natiri e a CCA – Merrere (antigas Plantações), cuja actividade era o desfibramento de sisal e<br />
a criação de gado, encerradas; e a Empresa Agrária de Angoche – SINLA (Sociedade<br />
Industrial do Niassa Lda), cuja actividade era o descasque de arroz, na sede do distrito,<br />
encerrada também, e hipotecada ao BCM. No que respeita à pequena indústria funcionavam<br />
em 1998, 3 Moageiras, 3 Padarias, 3 Salinas e 1 Olaria (“Distrito de Angoche, Plano de<br />
Desenvolvimento Distrital, 1999-2003”, 1999: 13-14, 26-27).<br />
Em relação à actividade pesqueira industrial a EMOPESCA E.E., vocacionada para a<br />
pesca industrial, alugou as suas instalações a empresas privadas. A pesca artesanal era<br />
praticada por cerca de 10.500 pescadores operando com cerca de 1.600 embarcações de pesca,<br />
homens esses também responsáveis pela venda do pescado. As mulheres envolvem-se em<br />
pequenas actividades de pesca secundárias, com pequenas redes e capulanas, na apanha de<br />
marisco, para o reforço da dieta alimentar. Muitos são os conflitos entre os pescadores<br />
industriais e artesanais, a maior parte dos quais relacionados com a pesca de arrasto utilizada<br />
pelos industriais e que destroem as redes dos artesanais, pelo facto de não respeitarem os<br />
limites marítimos recomendados para a pesca industrial (“Distrito de Angoche, Plano de<br />
Desenvolvimento Distrital, 1999-2003”, 1999: 24-26; da Conceição, 2003, 501-521).<br />
1.2. As Plantações<br />
O Posto Administrativo de Aúbe é o primeiro produtor de arroz do distrito de Angoche.<br />
Para além do arroz este Posto Administrativo tem como culturas alimentares e de rendimento<br />
a mandioca, feijões variados, milho, amendoim, mapira, árvores de fruto - laranja, tangerina,<br />
toranja e limão fino - cajueiros, coqueiros, gado de pequeno porte, recursos marinhos e<br />
produção apícola.<br />
Aqui em Mirrepe há terra e boa. Eu cultivo mandioca, amendoim, feijão jugo,<br />
feijão ephuirri e feijão nhemba (mais perto do rio M’luli), arroz (um pouco), milho<br />
(não chega a 3 sacos) abóbora, coco. Tenho cabritos, galinhas, patos perus,<br />
11
galinhas do mato, mas há doenças que matam os animais. Aqui em Mirrepe houve<br />
fome em 1960. Mas não há fome hoje. (HV Mwene Mujhihia, Mirrepe, 18/06/03).<br />
Existiam no distrito de Angoche, nos Postos Administrativos de Aúbe e Nametória, as<br />
Plantações de Palmar em Mirricué, da CCA de Sisal em Natiri e Merrere, e a de algodão em<br />
Merrere, todas encerradas na actualidade. A Unidade de Produção de Natiri, que antes<br />
pertencera à CCA e depois ao Estado, foi privatizada pela Gani Comercial a qual também<br />
privatizou outros sectores anteriormente pertencentes à CCA, mas só recomeçaria o plantio de<br />
sisal no ano de 2003. Habitantes de Mirrepe e da cidade de Angoche entrevistados ocuparam<br />
as terras da antiga Plantação de Natiri, mesmo depois de privatizadas pela Gani Comercial, já<br />
que estavam abandonadas pelos “antigos e novos donos”.<br />
Os habitantes mais velhos de Mirrepe referiram-se, para o início do século XX, à cultura<br />
obrigatória do arroz e feijão cuti em Natire, Natepa e no Palmar de Mirricué, áreas próximas<br />
de Mirrepe. O trabalho forçado, obrigatório, xibalo, terminou em 1959, na Plantação da CCA<br />
de Natiri, em 1962 no Palmar de Mirricué e em 1963 naquela região (Relatório do<br />
Diagnóstico Rural participativo realizado com a Comunidade de Mirrepe, 1998: 14).<br />
A vida era dura (no tempo colonial). Havia o trabalho contratado, nas<br />
plantações, nas estradas, era preciso pagar imposto. E havia os Cabo de Terra e os<br />
Cipaios para fazer cumprir as ordens. Nas Empresas havia trabalho contratado, o<br />
contrato era por seis meses. Se faltavas ao serviço apanhavas pancada com a<br />
palmatória ou ias para a cadeia, ou para São Tomé. As Plantações onde os homens<br />
trabalhavam eram a de Sisal da CCA em Mirrere; Plantação de coco da Boror;<br />
Plantação de Palmar em Mirricué; Plantação de arroz. Nas machambas de arroz,<br />
cada um tinha de trabalhar 100 m2 por ano e tirar 6 sacos de arroz, se não ia para<br />
a cadeia. Em 1957 o salário era de 60$00 por mês em Mirricué. Em 1974 recebia-se<br />
120$00 por mês. Quando o homem não trabalhava bem ou fugia, iam buscar a<br />
mulher para trabalhar. Muita gente fugiu daquela zona por causa das condições de<br />
trabalho e por causa do imposto (HV Mwene Mujhihia, Mirrepe, 18/06/03).<br />
Apenas uma entrevistada da área rural participou no trabalho obrigatório. Trata-se duma<br />
mulher que referiu ter realizado trabalho forçado, sem remuneração, na construção da estrada<br />
de Angoche para Boila.<br />
Outros entrevistados referiram ter participado em trabalho contratado nas plantações de<br />
sisal de Natire, Merrere e Mirricué e na Plantação de palmar de Mirricué. Seis (6) homens de<br />
Mirrepe trabalharam nas Plantações e dois (2) na fábrica MOCITA, na cidade de Angoche e<br />
12
na Boror 16 , na província da Zambézia. Quatro (4) homens e três (3) mulheres da área urbana<br />
são ex-trabalhadores de fábricas de caju em Angoche, nomeadamente a MOCITA, depois<br />
designada CAJUCA.<br />
Seis meses de trabalho (contratado) sem adoecer ou morrer; depois ia<br />
descansar. Pagavam 300 Escudos por 6 meses de trabalho. O trabalho era nas<br />
Plantações… O trabalho obrigatório terminou oficialmente antes da Independência<br />
(em 1963), porque foi depois da luta de libertação. Os contratos passam a ser de 1<br />
mês e pagava-se 150 Escudos. Só os homens é que trabalhavam no Xibalo (HV<br />
Mwene Mukoroma, Mirrepe, 13/06/03).<br />
2. As mulheres agora é que são a fábrica de descasque de arroz. A pluriactividade dos<br />
membros dos agregados familiares<br />
As pessoas agora estão a sofrer muito, principalmente as solteiras. Porque antes as<br />
solteiras trabalhavam nas fábricas. Agora não têm nada. Eu pilo mandioca, mas não<br />
consigo vender toda. As mulheres agora é que são a fábrica de descasque de arroz.<br />
Elas estão no mercado a vender. Mas é raro apanhar cliente. Passam vale e ficam um<br />
mês à espera de pagamento.<br />
FCM, abandonada, 42 anos, Ent47, 30/09/03<br />
“…As pessoas antes não eram livres, eram muito atormentadas. Hoje o que faz mal à<br />
população é não ter emprego. Todo o homem aceita sofrer, mas o desemprego é o<br />
desespero”.<br />
Líder Religioso, Mirrepe, 40 anos, Ent13, 19/09/03<br />
Os membros dos agregados familiares desenvolvem estratégias de sobrevivência<br />
diversificadas que podem incluir o envolvimento no mercado de trabalho temporário ou não,<br />
poupanças, empréstimos e investimento, actividades produtivas e reprodutivas, estratégias<br />
combinadas de rendimento, trabalho e de recursos. As mulheres fomentam a criação e<br />
participação em redes sociais, associações ou redes económicas com base na reciprocidade,<br />
para mais facilmente aceder a recursos sobretudo financeiros que permitam a manutenção dos<br />
seus agregados familiares mas também efectuar investimentos de vária ordem que doutro<br />
modo não conseguiriam devido aos seus fracos rendimentos e quase nenhuma poupança<br />
(Kabeer, 2003).<br />
Em Moçambique, as políticas neo-liberais introduzidas através do Programa de<br />
Reabilitação Económica (PRE) em meados dos anos 80 e mais recentemente do Plano de<br />
Acção para a Redução da Pobreza Absoluta, 2001-2005 (PARPA I) 17 originaram alterações<br />
nas condições sócio-económicas dos cidadãos, nas suas práticas quotidianas, bem como nos<br />
16<br />
Constituída no princípio do século XX e inspirada no regime dos antigos Prazos da Coroa, tinha extensões de<br />
palmares na Província da Zambézia na área dos Prazos de Namacurra – na Zambézia existiu um dos maiores palmares do<br />
mundo. Na província de Nampula, a Companhia da Boror também tinha grandes palmares, todos no distrito de Moma, sendo<br />
a copra exportada pelo porto de Moma utilizando os serviços da associada Boror Comercial (Machado, 1970: 589-590).<br />
17<br />
Em 2005 organizações da sociedade civil participaram em debates sobre a proposta do governo para o<br />
PARPA II, 2006-2009.<br />
13
sistemas de valores e representações. Estas alterações têm conduzido, no geral, à<br />
pluriactividade dos membros das unidades familiares mas com impactos diferenciados para<br />
mulheres e homens, e de acordo com a sua posição económica, estatuto, idade (Loforte, 2002:<br />
137-138).<br />
Para ser vendedor do mercado colhi muita mandioca e feijão ephuirri. Vendi e<br />
tive muito dinheiro e então vi que dava para começar o negócio. Nos domingos vou<br />
para a Marcação vender 18 … Vendo blusas, fatos para crianças, brincos. Vou buscar<br />
a Nampula. O negócio está bom. Não costumo ter prejuízo (Ent38, responsável dum<br />
grupo cultural, homem, 27 anos, 25/09/03).<br />
Estas alterações têm também conduzido ao crescimento do sector não estruturado da<br />
economia, ou seja da economia informal, que constitui a principal variável de ajuste do<br />
mercado laboral nos países do Terceiro Mundo, mas não só. O aumento do desemprego e de<br />
trabalho informal tem sido acompanhado de fortes descidas dos ingressos laborais e de uma<br />
rápida precariedade do emprego; aumentou o trabalho temporário e de tempo parcial e ao<br />
mesmo tempo baixou a qualidade do mesmo. Se é verdade que a presença das mulheres no<br />
pequeno comércio ou comércio a média e longa distância possa recuar, por vezes, até á época<br />
pré-colonial em muitos países Africanos, é na actulidade uma resposta à pressão económica, à<br />
perda de empregos assalariados onde estes existissem, à carestia de vida, ao desmantelamento<br />
das políticas sociais, especialmente nos sectores da educação e saúde, à falta de empregos e<br />
ao facto dos rendimentos agrícolas por si só não permitirem a manutenção e reprodução social<br />
das famílias. Há mulheres a realizarem, por questões de pobreza e de sobrevivência familiar,<br />
uma multiplicidade de tarefas, as quais constituem um alargamento do trabalho doméstico,<br />
sem qualquer visibilidade, reconhecimento ou apoio legal.<br />
A noção de economia informal tem sido utilizada para cobrir uma enorme variedade de<br />
actividades geradoras de rendimento, caracterizadas por salários ou rendimentos baixos,<br />
actividades incertas, irregulares e descontínuas, condições de trabalho bastante adversas e<br />
desfavoráveis. São actividades que contam com maior proporção de mulheres que homens,<br />
realizando a maior parte das vezes tarefas/funções diferentes. Pelo peso que vem assumindo<br />
nas últimas décadas, a economia informal, longe de poder ser considerada marginal, residual<br />
ou em declínio, constituiu uma parte vital no conjunto da actividade económica desenvolvida<br />
pelos vários membros dos agregados familiares (Sen e Grown, 1988: 36-38; Loforte, 2002:<br />
240-251).<br />
De acordo com a OIT (2002), a economia informal contempla todas as actividades<br />
económicas de trabalhadores e unidades económicas que não estão cobertas – pela<br />
18 Local onde se realiza uma das maiores feiras e mercados do Distrito e onde se vende de tudo; esta feira<br />
começou a desenvolver-se depois do fim da guerra. Chama-se Marcação porque fica no cruzamento da estrada<br />
que vem de Angoche para Moma e a da Plantação de Mirrere e Aúbe sede.<br />
14
legislação ou pela prática – pelas disposições oficiais que as enquadram, regulamentam e<br />
disciplinam; estão excluídas do seu campo, as actividades ilícitas, delituosas e criminosas<br />
(tráfico de armas e droga, contrabando, etc.) (CdoSul, 2006: 8-9, citando Feliciano et al,<br />
2005: 2).<br />
A economia informal é o lugar onde se têm estruturado as novas actividades produtivas,<br />
onde se geram novas relações sociais com um maior participação nas decisões a nível<br />
doméstico, de solidariedade e de novas legitimidades (Loforte, 2002:251). Ao realizar<br />
actividades fora do agregado familiar, as mulheres podem ir adquirindo margens de<br />
autonomia que lhes permitam dar sentido às suas condutas e às relações sociais em que se<br />
inserem. A sua incorporação no mercado de trabalho, estruturado ou não, permite estabelecer<br />
uma nova relação com o social, oferecendo-lhes uma base para a sua valorização individual e<br />
social, a possibilidade de maior protagonismo nas instâncias de tomada de decisão o que não<br />
acontece, a maior parte das vezes, com o trabalho doméstico (Abreu, 1995: 89; WLSA Moç.<br />
1998).<br />
A adesão das mulheres a novas formas de cooperação extra-agregado familiar empodera<br />
as mulheres por comparação a outros membros do agregado familiar. Muitas mulheres nestes<br />
grupos são viúvas ou separadas mas a pesquisa em vários países do mundo revela que as<br />
casadas também têm a possibilidade de operar com uma independência considerável dos seus<br />
maridos, mantendo orçamentos separados e por vezes até poupanças (Kabeer, 2003: 120-121).<br />
Esta situação foi constatada através da experiência das mulheres com o Projecto de Fomento<br />
de Cabrito, mais tarde de Pulverização dos Cajueiros, em Mirrepe, tratada no ponto 4, deste<br />
Capítulo. Umas mulheres da Associação são mães solteiras, outras os seus maridos não têm<br />
ocupação e é uma fonte de rendimentos. São as associadas que gerem e controlam os fundos,<br />
adiantando que não têm tido problemas com os maridos (Jacinta Mário, Ent39, 25/09/03).<br />
Sou eu que controlo o dinheiro do fomento do cabrito, que tenho utilizado para<br />
o filho que estuda em Angoche, mas para mim é complicado manter esta situação<br />
(Ent5, Piamwene, 55 anos, casada, 13/09/03).<br />
As actividades geradoras de rendimento, através de redes sociais fora do agregado<br />
familiar, conferem às mulheres melhor possibilidade de negociação, maior grau de autonomia<br />
e de poder político, ainda que as relações desiguais de poder, o seu acesso desigual aos<br />
recursos e ao crédito, sejam motivos de desavença com os membros masculinos dos<br />
agregados familiares (Osório e Mejia, 2006; Casimiro, Bonate e Mungói, 2007). A<br />
participação das mulheres em associações por si organizadas permite-lhes adquirir não apenas<br />
recursos materiais – terra, trabalho e capital – mas também recursos políticos ou sociais<br />
acedendo aos mecanismos que lhes assegurem a continuidade do acesso aos recursos. A<br />
estima e influência das mulheres numa comunidade está intimamente relacionada com a sua<br />
15
adesão a associações extra-domésticas, sendo todavia necessário distinguir entre associações<br />
‘defensivas’ baseadas na exclusão das mulheres das redes masculinas e associações mais<br />
‘activas’ com origem e propósitos económicos através de ligações horizontais e não verticais<br />
entre os seus membros. Tal é o caso por exemplo das associações de crédito rotativo, tipo<br />
xitique, ou de diversos tipos de trabalho, que promovem e não apenas protegem a sua posição<br />
ao nível do agregado familiar e da comunidade (Kabeer, 2003: 121-122).<br />
Pertenço a uma Associação de Mulheres orientada pela CARE. Abrimos uma<br />
área para semear amendoim (…) Agora não sei quantas somos. Na primeira hora<br />
éramos 23 e agora não sei quantas resistiram. No grupo há mulheres separadas e<br />
casadas (Ent34, 24/09/03, FCM, abandonada, 33 anos, 2ª classe, Católica, teve 5<br />
casamentos, todos patrilocais).<br />
Grupo de Poupança. Este Grupo tem 21 mulheres. De 2ª a 6ª feira cada cabeça<br />
tira 10.000,00MT. Temos duas malas para guardar o dinheiro. A que tem<br />
50.000,00MT também pode deixar (guardar). Para cada quantia deixada existe um<br />
cartão. E fazemos um contrato de 6 meses ou 1 ano. Esta poupança chama-se PSR –<br />
trata-se dum projecto que saiu da CARE e depois passou para o IDPPE – Instituto<br />
de Pesca de Pequena Escala. Começou em 2001... Também participo num Grupo de<br />
Xitique que tem 11 mulheres. Cada mulher guarda 10.000,00MT de 3 em 3 dias.<br />
Quando estou à rasca peço dinheiro emprestado – 1 milhão, por exemplo – e pago<br />
depois com juro (10% de juro). Eu vou comprar peixe e levo esse peixe para<br />
Namitória e troco com mandioca. Com o lucro devolvo o empréstimo. Às vezes<br />
também posso trocar peixe com sura, carvão ou tomate (Ent70, 06/10/03, FCM,<br />
Muçulmana, Ancha Amade, 42 anos, 4ª classe e Madrassa, 3 casamentos patrilocais,<br />
separada) 19 .<br />
As experiências variadas de associativismo revelam o surgimento de uma consciência<br />
sobre o papel das mulheres como produtoras de riqueza e maior visibilidade, num processo<br />
dinâmico de mudanças complexas e geradoras de conflitos e de novas situações também<br />
causadoras de tensões a que é necessário fazer face (Osório e Mejia, 2006: 89, 92). Uma das<br />
nossas entrevistadas dizia que a situação económica ‘empurra’ as mulheres para o trabalho<br />
fora de casa, o que era impensável antes, permitindo-lhes adquirir, gerir e controlar os bens<br />
necessários à sua sobrevivência, considerando-a positiva, mas resultando igualmente em<br />
maiores dificuldades nomeadamente para contrairem casamento (Ent41, FCM, 64 anos,<br />
06/09/03).<br />
19 A entrevistada referiu que também revende peixe.<br />
16
Ana Loforte na sua pesquisa sobre as relações de género e poder entre os Tsonga de<br />
Moçambique adianta que, num contexto de crise económica no País, de fraca capacidade de<br />
intervenção por parte do Estado e devido à exclusão no acesso aos serviços e aos sistemas de<br />
protecção social e institucional, os cidadãos desenvolvem alternativas variadas de<br />
sobrevivência.<br />
Gerando laços sociais através destas redes, criam-se associações informais de<br />
carácter económico e social onde os seus membros se arrogam ao direito de exercer<br />
as suas funções com procedimentos próprios, negociando e defendendo os seus<br />
interesses. Para as mulheres, algumas destas associações permitem o acesso a<br />
recursos básicos como a posse da terra, de insumos agrícolas, de instrumentos de<br />
produção e créditos; elas estão ainda presentes em organizações partidárias e<br />
religiosas, mediando conflitos, aconselhando e confortando os necessitados. A<br />
importãncia não só numérica, mas também em termos de liderança nestas<br />
associações, faz com que a sua posição nas redes de poder no interior da<br />
comunidade seja transformadora: ela pressupõe novos saberes novas informações.<br />
(…) O seu envolvimento rompe ainda com a sua condição de invisibilidade pública<br />
(Loforte, 2000: 250).<br />
3. Mulheres e homens em actividades geradoras de rendimento<br />
Na província de Nampula…cerca de 70% da população vive com US$64.00 per capita<br />
por ano (US$ 0.18 por dia) e somente 4% têm rendimentos brutos superiores a US$ 1.00 por<br />
dia (CdoSul, Projecto SEGUI, 2000: 8). O Censo de 1997 indicou que cerca de 80% dos seus<br />
habitantes vivia nas zonas rurais e 95% da produção agrícola era realizada pelas famílias<br />
rurais com um rendimento médio anual de 205US$.<br />
Alguns entrevistados têm fontes de rendimento variadas e simultâneas, como por<br />
exemplo, ser membro dum grupo cultural e vendedor do mercado (Ent38); ser dum grupo<br />
cultural, cortar bambu para venda e fazer trabalho temporário na reparação da estrada (Ent37);<br />
ser professor da ‘Escolinha” e realizar trabalho temporário na reparação da estrada (Ent36);<br />
ser Técnica de laboratório e ter machamba; pertencer a um Grupo Parampa, a um de Xitique e<br />
revender peixe (Ent70), atestando a necessidade das pessoas criarem e recriarem estratégias<br />
de sobrevivência múltiplas e móveis que lhes permitam ter o suficiente para comer, para<br />
comprar os produtos necessários, pôr os filhos na escola e conseguir aceder ao Posto de Saúde<br />
e comprar medicamentos.<br />
A machamba dá comida suficiente, não há fome. São os filhos que fazem tudo –<br />
dão capulana, roupa, compram petróleo, etc. A família vive da machamba, que dá<br />
17
para consumo e para venda; outros filhos compram peixe e revendem (Ent6,<br />
Piamwene, 71 anos, 13/09/07).<br />
Muito sofrimento porque as pessoas já não têm as machambas. Eu tenho a<br />
minha filha e os netos e não sei como vou viver sem a machamba da Marcação que<br />
foi ocupada. Lá já começaram a plantar o sisal, portanto não temos nada. E as<br />
estruturas não ligam nenhuma. Uma vez o Administrador estava na Marcação e<br />
disse à população que devia fazer machamba. E então nós dissemos, ‘Mas nós<br />
vamos fazer machamba nas nossas casas porque nos estão a tirar as terras’ (Ent46,<br />
FCM, 50 anos, 30/09/03).<br />
Identificámos como Outras Fontes de Rendimento a partir das entrevistas realizadas: a<br />
Medicina Tradicional; a Coordenação dos Ritos de Iniciação Femininos em Mirrepe, o<br />
aconselhamento e a participação nos Ritos de Iniciação Femininos Parampara em Angoche;<br />
participação em grupos culturais; o Projecto de Fomento de Cabrito e de Pulverização dos<br />
Cajueiros; a participação em grupos de tipo xitique, para poupança e empréstimo de dinheiro;<br />
machamba associativa de amendoim envolvendo mulheres; o fabrico e venda de bebidas,<br />
bolos, biscoitos; venda de diversos produtos; a criação e venda de galinhas; pesca, compra e<br />
revenda de peixe; corte e venda de bambu e de palha; confecção de esteiras; trabalho<br />
temporário na reparação das estradas; barbearia, serralharia, carpintaria.<br />
No caso da nossa pesquisa 48 entrevistados 20 , 24 na área rural e igual número na urbana,<br />
documentaram que têm outras fontes de rendimento para além da agricultura ou do emprego<br />
assalariado, podendo estas ser controladas pela mulher (22 entrevistadas, 8 na área rural e 14<br />
na urbana), homem (18 entrevistados, 11 na rural e 7 na urbana) ou por ambos (8<br />
entrevistados, 5 na rural e 3 na urbana). O trabalho assalariado apenas foi identificado em 12<br />
respondentes – 7 na urbana, com 3 mulheres, e 5 na rural, com 1 mulher. Na área rural: Ent15,<br />
Director Escola Primária Mirrepe; Ent20, Professor da Madrassa do Conselho Islâmico,<br />
Mirrepe; Ent23, Parteira, Mirrepe; Ent31, Alfabetizador, Mirrepe. E na área urbana: Ent62,<br />
Professora da Escola primária, bairro Puli; Ent65, Parteira no Hospital Rural de Angoche;<br />
Ent67, Assistente Técnica de Laboratório, Hospital Rural de Angoche; Ent68, Enfermeiro,<br />
Hospital Rural de Angoche; Ent69, Professor da Escola Secundária, Angoche; Ent79,<br />
Professor da madrassa do Conselho Islâmico, bairro Inguri, Angoche.<br />
No que respeita às actividades geradoras de rendimento, foram mencionadas as<br />
seguintes:<br />
A Medicina Tradicional, compreendendo 4 curandeiros (Ents1, 2, 7 e 63) e 4 curandeiras<br />
(Ents3, 4, 43 e 66); o Projecto de Fomento de Cabrito e de Pulverização dos Cajueiros (todas<br />
20 / Foram realizadas 80 entrevistas semi-estruturadas, 40 na cidade de Angoche e 40 na aldeia de Mirrepe, 24 mulheres e 16<br />
homens no bairro Puli, cidade de Angoche, 21 mulheres e 19 homens em Mirrepe, totalizando 45 mulheres e 35 homens.<br />
18
mulheres, Ents5, 6 que são Piamwene, 39 e 40, Presidente da Associação); o fabrico de<br />
bebidas (Ents11, homem, e 17, mulher); ser Coordenadora e Coordenador dos Ritos de<br />
Iniciação Femininos e Masculinos da Igreja Católica em Mirrepe (Ents14 e 16); a criação e<br />
venda de cabritos por parte do pai da entrevistada e criação e venda de galinhas à<br />
responsabilidade da entrevistada (Ent29, mulher); o Grupo de Parampara, Ritos de Iniciação<br />
Femininos em Angoche (Ents53, 67 e 70, mulheres); ser conselheira dos Ritos de Iniciação<br />
Femininos em Angoche (Ent59); o grupo de poupança tipo xitique, Angoche (Ent70, mulher);<br />
a confecção de arrufadas para venda, Angoche (Ents50 e 55, mulheres); a Associação com<br />
machamba de amendoim apoiada pela Associação CARE, Mirrepe (Ent34, mulher); os grupos<br />
culturais, Mirrepe (Ents37 e 38, homens); ser Raissa da dança Tufo, Angoche (Ents75 e 78,<br />
mulheres); participar no grupo cultural da Dança Tufo, Angoche (Ent77, mulher); a pesca,<br />
Mirrepe e Angoche (Ents16, 27, 28, 37, 39, 40, 44, 49, 58, 59 e 80 21 ); a compra e revenda de<br />
peixe, Angoche (Ents70, mulher e 72, homem); o corte de bambu para venda, Mirrepe (Ent37,<br />
homem); a venda no mercado, Mirrepe (Ent38, homem); o ensino na ‘Escolinha’, Mirrepe<br />
(Ent36, homem); o trabalho temporário na reparação da estrada que liga Aúbe-sede a Mirrepe<br />
(Ents36 e 37, homens); a barbearia, Angoche (Ent54, homem); a carpintaria, Angoche (Ent64,<br />
homem); a serralharia, Angoche (Ent73, homem); a venda de tomate aos montinhos em frente<br />
à casa, Angoche (Ent77, mulher) e a venda de amendoim torrado, Angoche (Ent75, mulher); o<br />
corte de palha para cobertura das casas, a confecção de esteiras e a pesca no tempo chuvoso,<br />
Angoche (Ent80, homem).<br />
4. A Associação de Fomento de Cabrito e de Pulverização dos Cajueiros 22<br />
Maria Tadeu e Jacinta Mário são membros da Associação de Fomento de Cabrito na<br />
Aldeia de Mirrepe, Posto Administrativo de Aúbe, Distrito de Angoche, Província de<br />
Nampula, Moçambique. Nascidas em aldeias vizinhas, Macogone e Mazica, ambas foram<br />
residir para Mirrepe quando se casaram. Maria Tadeu tem 45 anos, vive com o marido e cinco<br />
filhos, uma das quais já casada. Com 30 anos de idade, Jacinta Mário vive com o marido e<br />
quatro filhos, todos menores de 13 anos (Jacinta Mário, Ent39; Maria Tadeu, Ent40, Mirrepe,<br />
25/09/03).<br />
Mirrepe é uma aldeia pequena com cerca de 1500 habitantes. A maioria vive da<br />
agricultura de subsistência. As principais culturas são a mandioca, o arroz, o feijão jugo, o<br />
milho, a mapira, o gergelim, o inhame, a abóbora, a ervilha. À volta das casas encontram-se<br />
21 São os homens que pescam. No caso das entrevistadas, houve duas informaram que são os irmãos que<br />
vão à pesca (Ents27 e 28); o marido (Ent39); ou o filho (Ents49 e 59).<br />
22 Parte deste texto foi preparado para integrar o livro Mulheres de Moçambique e da Finlândia, Fotos.<br />
Women from Finland and Mozambique, Photos. Magi Vizjanen e Rui Assubuji, Embassy of Finland, Maputo,<br />
Libris Oy, com o título “Ajudar quem se ajuda a si próprio”, 2pp.; e também para o artigo “Mulheres de Mirrepe<br />
em defesa da sua dignidade”, integrado no livro Artigo Feminino: Das raízes da participação, AJP, Santa Maria<br />
da Feira, 2008, pp. 71-78.<br />
19
coqueiros e cajueiros, principais produtos de rendimento. Algumas casas também possuem<br />
árvores de fruta, entre as quais laranjeiras, tangerineiras, limoeiros e toranjeiras.<br />
A alimentação base é constituída por caracata, uma ‘papa’ de farinha de mandioca.<br />
Poucos habitantes cultivam milho e este produto quase não faz parte da sua dieta alimentar,<br />
como é também o caso das verduras. No tempo chuvoso cultivam, sobretudo à volta das<br />
casas, o arroz, produto de consumo e de rendimento. Muitas famílias têm galinhas e patos e<br />
como Mirrepe não fica longe do mar há homens que pescam à linha, os mais jovens com<br />
anzol, e apanham caranguejo.<br />
O principal problema nesta aldeia é a falta de água. Como refere M.ª Tadeu, Agora as<br />
mães quase que abandonam os filhos porque têm de ir ao poço, a toda a hora. No tempo<br />
seco, mulheres e raparigas chegam a despender cerca de 6 horas por dia na busca da água em<br />
aldeias vizinhas, pois os poços de Mirrepe secam. A situação é tão grave que chegamos a ver<br />
famílias inteiras a carregar água, com todas as implicações para a participação dos jovens na<br />
Escola, dos mais velhos nas aulas de alfabetização, para as doenças endémicas, a elevada<br />
mortalidade infantil e, sobretudo, a falta de tempo para outras actividades geradoras de<br />
rendimento e para o lazer. Até os homens participam nesta actividade utilizando as suas<br />
bicicletas.<br />
A Associação de Fomento de Cabrito começou a ganhar corpo em finais dos anos 90, por<br />
iniciativa da SNV, uma Associação Holandesa para o Desenvolvimento radicada em Angoche<br />
e a operar nos distritos de Moma, Angoche, Mogovolas e Mogincual (Programa MAMM).<br />
Subjacente a esta iniciativa estava o desejo de envolver mulheres em projectos geradores de<br />
rendimento, de acordo com o objectivo geral da SNV em Moçambique de contribuir para a<br />
redução da pobreza, através do desenvolvimento institucional e o fortalecimento<br />
organizacional da governação local. Este projecto assenta na participação da sociedade civil,<br />
do governo local e do sector privado, devendo guiar-se por uma perspectiva de género na<br />
concepção e implementação das actividades (Honwana, 2003).<br />
Tendo ouvido falar no fomento do cabrito, mulheres da Aldeia de Mirrepe abraçaram a<br />
iniciativa porque precisávamos para as crianças de livros, cadernos, esferográficas (M.ª<br />
Tadeu).<br />
Jacinta Mário contou que, Éramos 44 senhoras no início. Reunimo-nos porque ouvimos<br />
falar que havia uma instituição que dava cabritos para criação. Falámos com a Comissão de<br />
Desenvolvimento Local, com o Sr. Carlos Ussene. A CDL falou com a SNV que veio aqui e<br />
disse que cada mulher tinha que dar 110.000,00MT (que ficaram guardados). Trouxeram os<br />
cabritos no tamanho de cria. Cada mulher recebia 2 fêmeas. No grupo de 44 devia haver<br />
grupos de 5 mulheres cada. Cada grupo de 5 tinha 1 bode. O bode circulava pelas 5<br />
mulheres do grupo. Quando tivessem as crias deviam devolver. No caso de terem cabra<br />
devolviam o número recebido. Se tivessem 1 bode, ou devolviam o anterior, ou organizavam<br />
uma das senhoras para devolver o menor.<br />
20
Apesar das instruções para fazer capoeiras mais altas, porque as cabras não se podem<br />
deitar no chão” (M.ª Tadeu), os cabritos não aguentaram, foram morrendo, e algumas<br />
associadas ficaram apenas com 1 ou 2 cabritos. De notar que na Aldeia de Mirrepe há doenças<br />
periódicas que atingem os animais, em especial as galinhas, os patos e os cabritos, situação<br />
até agora não resolvida.<br />
Mas as mulheres não desistiram. Reunimos outra vez e vimos que devíamos ter outra<br />
alternativa. Fomos buscar o dinheiro, comprámos arroz, revendemos e fomos comprar a<br />
bomba de pulverização, que custa 7 milhões de Meticais. Pagámos um milhão. Falámos com<br />
o Técnico de Extensão que está na Marcação (M.ª Tadeu).<br />
As mulheres tiveram a ideia da pulverização dos cajueiros em 2002, pois acreditaram<br />
poder trazer mais dinheiro para casa. Algumas mulheres da Associação são mães solteiras, os<br />
maridos de outras não têm ocupação.<br />
Apesar da persistência das mulheres da Associação, a verdade é que cada passo é moroso<br />
e acarreta muito dinheiro. O litro de remédio custa 300.000,00MT e a bomba também precisa<br />
de gasolina e óleo. Às vezes têm de comprar no mercado informal, porque os técnicos não<br />
levam os medicamentos para a pulverização às associadas. Prometeram botas, luvas,<br />
equipamentos, máscaras, que as associadas nunca receberam, protegendo o nariz e a boca com<br />
saco de plástico. Para adquirir os remédios, cada associada contribuía com um pouco de<br />
mandioca, juntavam 1 a 2 sacos, vendiam e compravam os remédios. Desta forma foi possível<br />
pulverizar os cajueiros da população de Mirrepe no primeiro ano de actividade. Não pudemos<br />
trabalhar muito porque era pouco medicamento de cada vez. Tínhamos de andar a pedir<br />
emprestado, pagar por vale, de cada vez (M.ª Tadeu). Por cada cajueiro pulverizado, a<br />
Associação recebe 2 kg de caju.<br />
4.1. Historial<br />
Desde 1999 que existe na aldeia de Mirrepe uma Associação de Fomento de Cabrito,<br />
composta unicamente por mulheres. Entrevistámos Jacinta Mário, com 29 anos de idade,<br />
casada com o Conselheiro dos Ritos de Iniciação Masculinos da Capela, duma família<br />
chefiada por homem, cunhada do Secretário da CDL, e Maria Tadeu, Presidente da<br />
Associação, com 44 anos de idade, também casada e numa família chefiado por homem. As<br />
entrevistas realizaram-se no dia 25/09/03.<br />
Em relação à origem desta Associação. Uma de nós ouviu dizer que havia<br />
fomento de cabrito em Namaponda. Pensávamos que era o Governo (mas era uma<br />
iniciativa da SNV)... Dissemos que temos de falar com o Técnico Fernando, quando<br />
residia em Aúbe (Fernando António, ADL da SNV). Ele foi falar com a Teresa<br />
Assane (também da SNV), que veio falar com este grupo de mulheres. Ela disse que<br />
cada uma devia dar 110.000,00MT (que ficaram guardados). Ela trouxe os cabritos<br />
21
que distribuiu a todo o grupo – 44 mulheres (das quais já saíram 26). Ficámos só 18<br />
mulheres. Cada mulher recebia 2 crias fêmeas, e 1 bode por cada grupo de 5<br />
mulheres (Mª Tadeu).<br />
Mas, como adiantaram as entrevistadas, houve problemas e os cabritos morreram<br />
quase todos. Por isso surgiu a ideia da pulverização dos cajueiros.<br />
A maioria já não tem cabritos. Morreram muitos, antes de ter cria. As que não<br />
conseguiram devolver a cria, tiraram os cartões, mas não disseram nada (…)<br />
Passado algum tempo fomos buscar os 110.000,00MT. Comprámos arroz para<br />
revender. Revendemos o arroz. O dinheiro foi para a caixa. Outras senhoras tiraram<br />
o lucro para comprar cadernos ou roupa para a Escola. Com o dinheiro que ficou<br />
comprámos 6 sacos de milho que também vendemos. Depois saíram 26 mulheres do<br />
grupo. Estas receberam cada uma 60.000,00MT. E as outras 18 continuaram<br />
(Jacinta Mário).<br />
Quando reunimos e procurámos uma maneira de reunir fundos, tudo o que<br />
pensávamos dava um lucro insignificante. Então vimos que a pulverização dava<br />
mais. Com os produtos da machamba temos pago a gasolina e os medicamentos<br />
(depois de vendidos) (Mª Tadeu).<br />
Então ouvimos falar da Bomba para Pulverizar os Cajueiros...“Porque<br />
pensámos que podíamos trazer mais dinheiro para casa. Umas mulheres da<br />
Associação são mães solteiras, outras os seus maridos não têm ocupação e é uma<br />
fonte de rendimentos...Tentámos saber quem tinha, fomos à Marcação (um grupo de<br />
mulheres), pois disseram que os técnicos estavam lá. Demos 1 milhão de Meticais e<br />
adquirimos a Bomba 23 . Então para os remédios cada uma dava um pouco de<br />
mandioca, juntávamos 1 a 2 sacos, vendíamos e comprávamos os remédios. Neste 1º<br />
ano já pulverizámos os cajueiros da população de Mirrepe. Cada litro de remédio<br />
custa 300.000,00MT. O copo da medição não estava na Bomba, então utilizávamos<br />
uma tampa do frasco como medida. Depois trouxeram-nos a medida. Não sei<br />
quantos litros comprámos (Jacinta Mário).<br />
Não sei o número de beneficiários cujos cajueiros foram pulverizados, mas<br />
tenho a lista. Cobramos 2 kg de caju por cada cajueiro pulverizado. Alguns<br />
cajueiros não conseguiram completar a dose. Ainda não combinámos com os donos<br />
dos cajueiros qual vai ser o pagamento – só fizemos 2 pulverizações e deviam ser 3.<br />
23 A bomba custou 7 milhões de Meticais (cerca de US250,00), de acordo com a informação prestada por Maria Tadeu.<br />
22
E já vimos que os que não completaram a dose não deram tanta castanha (Mª<br />
Tadeu).<br />
Uns cajueiros não completaram a dose de medicamentos, pois deve haver 3<br />
pulverizações num espaço de 20 dias, de cada vez. Os que ficaram com a<br />
pulverização completa têm de pagar 2 kg de castanha por cada cajueiro<br />
pulverizado. Se tivéssemos completado tudo, seriam 200 cajueiros. Não<br />
completámos porque a bomba precisava de gasolina, óleo, medicamentos, e o<br />
dinheiro não chegava (Jacinta Mário).<br />
4.2. Organização, gestão e controlo dos fundos<br />
Esta Associação tem uma Presidente, Maria Tadeu e uma Caixa, Zaina Muihirere.<br />
Somos 18 mulheres com este Programa, que começou este ano (pulverização<br />
dos cajueiros). Vamos receber 2 tigelas de castanha (2 kgs) da pulverização de cada<br />
árvore (Jacinta Mário).<br />
O calendário de pulverização é, Entre Julho, Agosto e princípios de Setembro. São 3<br />
pulverizações, separadas por 20 dias. (Mª Tadeu).<br />
Desde que começaram com o fomento do cabrito que são as mulheres que integram a<br />
associação, que gerem e controlam os fundos. Somos nós as mulheres e até os homens<br />
colaboram (Mª Tadeu) e Não temos problemas com os maridos por causa disso (Jacinta<br />
Mário).<br />
Este é um daqueles exemplos em que o crédito faria a diferença. A falta de facilidades de<br />
crédito a nível rural e em condições apropriadas para as mulheres, é um impedimento para<br />
que as iniciativas locais tenham condições de vingar gerando rendimentos diversificados que<br />
permitam a acumulação de capital e o investimento; deste modo contribuindo para as<br />
mulheres desenvolverem habilidades e trabalho em rede, terem maior independência<br />
financeira e maior autonomia para gerir a sua vida e contribuindo para relações de poder mais<br />
equilibradas ao nível do agregado familiar e da comunidade.<br />
Não pudemos trabalhar muito porque era pouco medicamento de cada vez.<br />
Tínhamos de andar a pedir emprestado, pagar por vale, de cada vez. A primeira<br />
grande necessidade é de um poço que tenha água todo o ano. A segunda é uma<br />
moagem (Mª Tadeu).<br />
Ficaríamos satisfeitas se não fosse pelo preço dos combustíveis e<br />
medicamentos. Às vezes temos de comprar no mercado informal porque os técnicos<br />
não traziam até nós os medicamentos para a pulverização. Eles diziam que haviam<br />
23
de trazer botas, luvas, equipamentos, máscaras, mas nunca mais trouxeram. Assim,<br />
protegemos o nariz e a boca com saco de plástico (Jacinta Mário).<br />
Eu gostaria de ter apoio em termos de combustível e medicamentos por causa<br />
das dificuldades. Depois de pagar 1 milhão pela Bomba, ainda temos uma dívida de<br />
6 milhões. E como não pulverizámos todos os cajueiros, não sabemos como vamos<br />
liquidar a dívida. Eu não sei quem são os que vendem a Bomba. Nós fomos<br />
solicitadas para ir a vários lados (Jacinta Mário).<br />
Esta é a única iniciativa colectiva de pulverização no Posto Administrativo de Aúbe. As<br />
outras são privadas. Por isso Mª Tadeu adianta que,<br />
Gostaria que tivéssemos ou apoio ou alguma instituição que desse crédito de<br />
gasolina, óleo, medicamentos. Ou seja, um credor por uma certa época, que podia<br />
reaver o dinheiro depois de cobrarmos a castanha.<br />
Das 44 mulheres que iniciaram o fomento de cabrito mantiveram-se 18 com o projecto<br />
de pulverização dos cajueiros em Mirrepe. Apesar de todas as dificuldades M.ª Tadeu dissenos<br />
no final da entrevista, Penso que não vai render. Mas não vamos desistir.<br />
Em jeito de conclusão<br />
Os estudos realizados sobre Nampula, Moçambique e outras regiões Africanas ao Sul do<br />
Sahara, mencionam que os membros das famílias, sobretudo as rurais, têm o seu tempo de<br />
trabalho completamente preenchido com as diversas actividades e que a pluriactividade de<br />
mulheres e meninas representa sérios constrangimentos ao seu envolvimento em actividades<br />
geradoras de rendimento, à frequência na escola, e no garante de melhores cuidados de saúde<br />
e de lazer (CdoSul, Projecto SEGUI, 1999: 66). Porém é inevitável a sua participação em<br />
actividades variadas ao nível da economia informal porque: asseguram emprego; são uma<br />
fonte de iniciativa criadora com elevado potencial de criação de riqueza; proporcionam preços<br />
baixos e alternativas comerciais competitivas; são uma reacção inevitável à carga fiscal não<br />
distribuída equitativamente pela população economicamente activa; inserem os pobres no<br />
consumo e melhoram o seu poder de compra (CdoSul, 2006: 13).<br />
Entretanto, uma das alternativas para a situação de extrema pobreza, de desemprego e de<br />
falta de empregos, pode também passar pela valorização da machamba familiar e dos<br />
conhecimentos que as mulheres detêm sobre plantas, etc., como ponto de partida para a<br />
introdução de novas tecnologias, num país onde grande parte da população vive nas área<br />
rurais e tem como base de sustento a machamba familiar. A valorização pode ser conseguida<br />
estabelecendo diálogos entre conhecimentos locais e tecnologias externas e não impondo<br />
modelos que atentem contra as condições sociais e ambientais próprias das comunidades,<br />
24
correndo-se o risco de retirar às populações a sua capacidade para a segurança alimentar –<br />
aliás o que aconteceu em muitos países devido ao impacto dos programas de reajustamento<br />
estrutural (CdoSul, Projecto SEGUI, 1999: 38; Casimiro, 1999).<br />
Em resposta a uma pergunta de como melhorar as condições de vida na Aldeia, um dos<br />
nossos entrevistados adiantou que,<br />
Aqui no campo nunca pensámos numa iniciativa. Mas a única maneira de fazer<br />
dinheiro é ter machambas grandes, para consumo e para excedentes (Ent11, Líder<br />
de Tipo Novo, Secretário da Aldeia e membro da CDL, 51 anos, 15/09/03).<br />
As actividades geradoras de rendimento, através de redes sociais fora do agregado<br />
familiar, conferem às mulheres melhor possibilidade de negociação, maior grau de autonomia<br />
e de poder político, ainda que as relações desiguais de poder, o seu acesso desigual aos<br />
recursos e ao crédito, sejam motivos de desavença com os membros masculinos dos<br />
agregados familiares (Osório e Mejia, 2006; Casimiro, Bonate e Mungói, 2007).<br />
Um desafio considerável para a democracia, a autonomia dos cidadãos, em especial das<br />
mulheres, e a participação de todos nos processos de tomada de decisão está relacionado com<br />
as características hierarquizadas das sociedades rurais Africanas, submetidas a estímulos de<br />
mudança acelerados e que originaram a desintegração das sociedades pré-existentes, ou então<br />
a maior autoritarismo que pudesse garantir a acumulação de riqueza e poder por parte das<br />
elites dirigentes. As estruturas do Estado colonial, impuseram-se às sociedades rurais pela<br />
força, dependendo do tipo de região e da resistência havida, muitas vezes aproveitando<br />
anteriores sistemas de vassalagem e aliança (O’Laughlin, 2000).<br />
A participação das mulheres em associações por si organizadas permite-lhes adquirir não<br />
apenas recursos materiais – terra, trabalho e capital – mas também recursos políticos ou<br />
sociais acedendo aos mecanismos que lhes assegurem a continuidade do acesso aos recursos.<br />
A estima e influência das mulheres numa comunidade está intimamente relacionada com a<br />
sua adesão a associações extra-domésticas, sendo todavia necessário distinguir entre<br />
associações ‘defensivas’ baseadas na exclusão das mulheres das redes masculinas e<br />
associações mais ‘activas’ com origem e propósitos económicos através de ligações<br />
horizontais e não verticais entre os seus membros. Tal é o caso por exemplo das associações<br />
de crédito rotativo, tipo xitique, encontradas em Mirrepe e Angoche ou de diversos tipos de<br />
trabalho, que promovem e não apenas protegem a sua posição ao nível do agregado familiar e<br />
da comunidade (Kabeer, 2003), situação verificada ao nível do Projecto de Fomento de<br />
Cabrito e da Pulverização dos Cajueiros em Mirrepe, através da experiência das mulheres nas<br />
machambas colectivas, do protagonismo das mulheres nos grupos culturais associados aos<br />
ritos de iniciação femininos.<br />
As formas institucionais endógenas, constituídas por mulheres e com características próactivas,<br />
encerram possibilidades emancipatórias permitindo o acesso a e o controlo de<br />
25
ecursos, a melhoria das condições materiais, a auto-estima e respeito, a criação de condições<br />
para a auto-sustentabilidade, a maior visibilidade das actividades, e também o acesso a cargos<br />
de direcção, fazendo emergir saberes, conhecimentos e práticas ausentes do modelo patriarcal<br />
dominante.<br />
Mapa 1 Moçambique<br />
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Moçambique_mapa.gif<br />
26
Mapa 2<br />
27
BIBLIOGRAFIA<br />
Abreu, Alice Rangel de Paiva, 1995, “América Latina. Globalización, Género y Trabajo”. In:<br />
Todaro, Rosalba, Regina Rodríguez (eds) El Trabajo de las Mujeres en el Tiempo<br />
Global, Isis Internacional e Centro de Estudios de la Mujer, Ediciones de las Mujeres Nº<br />
22, Santiago-Chile, pp. 79-90.<br />
Casimiro, Isabel, 2008, “Mulheres de Mirrepe em defesa da sua dignidade”, in: Artigo<br />
Feminino: Das raízes da participação, AJP, Santa Maria da Feira, 2008, pp. 71-78.<br />
Arthur, Mª José, 2004, “Fantasmas que assombram os sindicatos: mulheres sindicalistas e as<br />
lutas pela afirmação dos seus direitos, Moçambique, 1993-2000”. In: Santos, Boaventura<br />
de Sousa e Teresa Cruz e Silva (Orgs), Moçambique e a reinvenção da Emancipação<br />
Social, Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Direito em Sociedade 1, Maputo, pp.<br />
173-206.<br />
Casimiro, Isabel, Liazzat Bonate e Dulce Mungói, 2007, “Violência Baseada em Género<br />
(VBG) em Moçambique: O caso das províncias de Inhambane e Nampula”. Pesquisa<br />
realizada para a CARE International em Moçambique, Maputo, Maio, 94pp.<br />
Casimiro, Isabel, 2005, “Ajudar quem se ajuda a si próprio”. In: Mulheres de Moçambique e<br />
da Finlândia, Fotos. Women from Finland and Mozambique, Photos. Magi Vizjanen e<br />
Rui Assubuji, Embassy of Finland, Maputo, Libris Oy.<br />
Casimiro, Isabel, 1999, “Relações de género na família e na comunidade em Nampula”.<br />
Artigo elaborado no âmbito da I Fase do Programa SEGUI, do Programa Estratégico de<br />
Nampula (PEN), Cruzeiro do Sul, Maputo.<br />
Chambers, Robert & Conway, Gordon R, 1992, “Sustainable Rural Livelihoods: Practical<br />
Concepts for the 21st Century”, IDS Discussion Paper, Nº296, IDS, Brighton.<br />
Conceição, Rafael da, 2003, “A Resolução de Conflitos nas Comunidades de Pescadores da<br />
Zona de Angoche/Moma, Província de Nampula”, In: Santos e Trindade (Orgs) Conflito<br />
e Transformação Social: Uma Paisagem das Justiças em Moçambique, II. Vol., Cap. 24,<br />
Edições Afrontamento, Porto, pp.501- 521.<br />
Conselho Executivo Distrital de Angoche, 1999, “Distrito de Angoche, Plano de<br />
Desenvolvimento Distrital, 1999-2003. Equipa Técnica de Elaboração do Plano,<br />
Setembro, Angoche.<br />
Cruzeiro do Sul – IID José Negrão, 2006, “Impacto da Economia Informal na Protecção<br />
Social, Pobreza e Exclusão: A Dimensão Oculta da Informalidade em Moçambique”.<br />
Preparado por António A. Da Silva Francisco e Margarida Paulo. Relatório da Pesquisa<br />
realizada pelo Cruzeiro do Sul em parceria com o Centro de Estudos Africanos, ISCTE,<br />
Lisboa, Maputo, Maio.<br />
28
Cruzeiro do Sul Trust Fund, 1999, “Projecto Seguimento do Programa Estratégico de<br />
Nampula” (Projecto SEGUI), Relatório Ano 1 (referente a 1998), Nampula e Maputo,<br />
Janeiro.<br />
Cruzeiro do Sul – Instituto de Investigação para o Desenvolvimento - IID –, 2000, “Projecto<br />
Seguimento do Programa Estratégico de Nampula. Relatório Final - 2000”, Maputo.<br />
Espling Margareta, 2006 “Tracking Women’s Livelihoods in Urban Mozambique – 10 years<br />
after”. Proposta de projecto de investigação com o CEA/UEM, 8pp.<br />
Honwana, Nely, 2003, “Programa MAMM/UDC, Angoche”, Angoche, Janeiro-Junho.<br />
“Breve Sumário sobre o Programa MAMM (1997-2003) ”, 2003, Comissão Instaladora para<br />
uma Associação de Desenvolvimento na Província de Nampula, 6pp.<br />
Kabber, Naila, 2003, Reversed Realities – Gender Hierarchies in Development Thought,<br />
Verso, London, New York.<br />
Kanji, Nazneen, Carin Vijfhuizen, Carla Braga and Luis Artur, 2004, Liberalisation, Gender<br />
and Livelihoods: The Mozambique Cashew Nut Case. Summary Report, International<br />
Institute for Environment and Development (IIED), 58 pp.<br />
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9554IIED&n=1&l=4&k=Liberalisation%20Gen<br />
der%20and%20Livelihoods%20The%20Mozambique%20cashew%20nut%20case&a=N<br />
%20Kanji, acessado a 23/02/06.<br />
Leite, Joana Pereira, 1999, “A guerra do caju e as relações Moçambique-Índia na época póscolonial”<br />
(Versão Definitiva), Documento de Trabalho nº57, CEsA, Lisboa, 1999,<br />
Instituto Superior de Economia e Gestão, 48pp.<br />
Loforte, Ana, 2003, “A questão e o maneio dos recursos marinhos num contexto de conflito:<br />
o caso da Ilha de Moçambique”. Santos e Trindade (Orgs) Conflito e Transformação<br />
Social: Uma Paisagem das Justiças em Moçambique, II. Vol, Cap. 23, Edições<br />
Afrontamento, Porto, pp.479-499.<br />
Loforte, Ana, 2000, Género e Poder entre os Tsonga de Moçambique. Colecção Identidades.<br />
PROMÉDIA, Maputo.<br />
Machado, Major A. J. de Mello, 1970, Entre os Macuas de Angoche. Historiando<br />
Moçambique. Prelo Editora, Lisboa.<br />
Martínez, Ana S, Juana Mª. R. Moya e Mª. Ángeles D. Muñoz, 1995, Mujeres, Espacio y<br />
Sociedad. Hacia una Geografia del Género, Editorial Síntesis, Madrid.<br />
O’Laughlin, Bridget, 2000, “Class and the Customary: The Ambiguous Legacy of the<br />
Indigenato in Mozambique”. In: African Affairs, 99, pp. 5-42.<br />
Osório, Conceição e Margarita Mejia, 2006, “As relações sociais de poder: Um estudo nas<br />
províncias de Inhambane e Nampula”. Pesquisa realizada para a CARE International em<br />
Moçambique, Maputo, Maio, 114pp.<br />
29
Sen, 2005, “Neolibs, Neocons and Gender Justice. Lessons from Global Negotiations”.<br />
United Nations Research Institute for Social Development, Occasional Paper 9, 30pp.<br />
Sen, Gita e Caren Grown, 1998, Desenvolvimento, Crise e Visões Alternativas: perspectivas<br />
das Mulheres do Terceiro Mundo, Co-edição Editora Espaço e Tempo e<br />
DAWN/MUDAR, Rio de Janeiro, Brasil.<br />
Vijfhuizen, Carin, Carla Braga, Luis Artur e Nazneen Kanji, 2003, “Género, Mercados e<br />
meios de Sustento no Contexto da Globalização: Um estudo do sector da castanha de<br />
cajú em Moçambique, Janeiro 2002-Junho 2004”. International Institute for Environment<br />
and Development (IIED); Universidade Eduardo Mondlane: Faculdade de Agronomia e<br />
Engenharia Florestal; Faculdade de Letras, Departamento de Arqueologia e<br />
Antropologia, Maputo, 32 pp.<br />
WLSA 1998 Famílias em Contextos de Mudanças em Moçambique, DEMG, CEA, UEM,<br />
Maputo.<br />
30