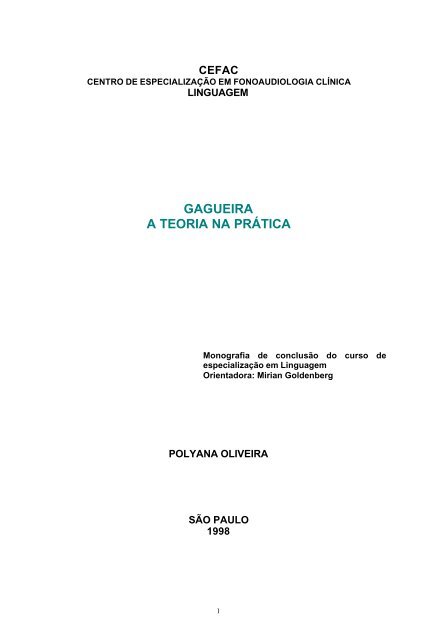You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>CEFAC</strong><br />
CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA<br />
LINGUAGEM<br />
<strong>GAGUEIRA</strong><br />
A <strong>TEORIA</strong> <strong>NA</strong> <strong>PRÁTICA</strong><br />
Monografia de conclusão do curso de<br />
especialização em Linguagem<br />
Orientadora: Mirian Goldenberg<br />
POLYA<strong>NA</strong> OLIVEIRA<br />
SÃO PAULO<br />
1998<br />
1
<strong>CEFAC</strong><br />
CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA<br />
LINGUAGEM<br />
<strong>GAGUEIRA</strong><br />
A teoria na prática<br />
POLYA<strong>NA</strong> OLIVEIRA<br />
SÃO PAULO<br />
1998<br />
2
SUMÁRIO<br />
Introdução............................................................................................... 08<br />
Duas concepções sobre gagueira........................................................ 15<br />
Implicações da teoria na prática.............................................................. 38<br />
Considerações finais............................................................................... 51<br />
Referências Bibliográficas....................................................................... 69<br />
3
RESUMO<br />
O presente estudo tem como objetivo correlacionar a teoria e a prática da<br />
gagueira, focalizando o trabalho das fonoaudiólogas Isis Meira e Silvia Friedman. A<br />
partir desse enfoque, analisamos os pontos fundamentais das propostas defendidas<br />
por cada uma, refletindo sobre a prática clínica com a gagueira.<br />
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, privilegiamos a obra de cada autora<br />
que aprofunda o tema nos aspectos vinculados aos objetivos do trabalho.<br />
Pudemos constatar que as dúvidas que surgem durante o tratamento da<br />
gagueira esbarram na falta de uma compreensão clara de que concepções filosóficas<br />
diferentes sobre a linguagem e sobre o mundo, podem estabelecer práticas clínicas<br />
diferentes: ou voltadas para a patologia ou voltadas para o indivíduo.<br />
Ao relacionarmos teoria e prática, evidenciamos semelhanças e diferenças entre<br />
as duas autoras, o que resultou numa complementação das propostas, já que ambas<br />
não encerram a gagueira em seu aspecto aparente.<br />
Na abordagem do tema, um ponto sempre polêmico encontra-se na etiologia da<br />
gagueira. No desenvolvimento deste estudo, comprovamos que, embora a discussão<br />
das prováveis causas seja importante, ela não é suficiente para o estabelecimento de<br />
uma prática assertiva.<br />
Em nosso trajeto em busca das implicações da teoria na prática, concluímos<br />
que, ao optar por essa ou aquela teoria, predeterminamos práticas diferenciadas para o<br />
tratamento da gagueira. A partir disso, propusemos um roteiro de leitura para outros<br />
textos sobre o tema, discutimos as formas que o discurso terapêutico pode assumir<br />
frente à família e comparamos dois pontos de partida para o trabalho com a gagueira na<br />
clínica fonoaudiológica.<br />
4
SUMARY<br />
The main purpose of this study is to correlate the theory and the practice of the<br />
stuttering focusing on the speech language therapists Isis Meira and Silvia Friedman.<br />
From this focus we analysed the main points of the proposals defended by each one,<br />
reflecting about the clinical practice of the stuttering.<br />
Through bibliographical research, we granted privilege to the work of each author<br />
that goes deep on the theme in the aspects linked to the objectives of the work. We can<br />
notice that the doubts arising from the treatment of stuttering touches in the lack of a<br />
clear understanding of different philosophical vision regarding conceptions of language<br />
and of world establising a clinical practice towards the pathology or to the individual.<br />
When we relate theory and practice, we highlight similarities and differences<br />
regarding the two authors, determining a complement of the proposals since both do not<br />
face the stutter in its apparent aspect.<br />
The critical point in the approach of the theme is regarding the stuttering<br />
ethiology. In the development of this study we proved that although the discussion<br />
about the possible reasons is important, it is not definite for the establishment of an<br />
assertive practice. In our track towards the implications of the theory in practice, we<br />
concluded that when selecting this or that theory we pre-determined different practices<br />
for the stuttering treatment. We propose a reading path of other texts about the theme;<br />
we discussed the ways that a therapeutic speech can assume before the family and we<br />
compared two starting points for the stuttering work at a speech language therapeutical<br />
clinic.<br />
5
AGRADECIMENTOS<br />
- À Prof a Dr a Silvia Friedman, que com sua análise minuciosa e brilhante,<br />
associada ao constante carinho, disponibilidade e apoio, dedicou uma<br />
assistência fundamental para a execução deste trabalho.<br />
- À Prof a Dr a Isis Meira, pelo interesse e disponibilidade em fazer uma<br />
competente, rigorosa e sensível revisão deste trabalho.<br />
- À Prof a M. Goldenberg, por transformar as aulas do curso de Metodologia<br />
Científica em estímulo constante para que superássemos as dificuldades<br />
inerentes ao esforço de pensar e escrever cientificamente.<br />
- Às fonoaudiólogas Dora Holzheim e Leila Farah, pelo incentivo e apoio de<br />
todas as horas.<br />
- Ao Eduardo Raccioppi por se fazer presente de forma carinhosa e solidária.<br />
6
7<br />
Esquece do que te separa de mim<br />
e valoriza o que te aproxima de mim.<br />
Eduardo Raccioppi
INTRODUÇÃO<br />
O homem sempre procurou entender a natureza das coisas e o comportamento<br />
das pessoas. O desejo humano de aprender, a curiosidade, a observação do mundo<br />
que o rodeia fizeram nascer a ciência, o conhecimento, a arte e a tecnologia.<br />
A construção do conhecimento científico tem sido uma das ferramentas<br />
fundamentais para a consolidação e aprimoramento da ação individual e coletiva do<br />
homem. Como produto humano, esse conhecimento se constitui num processo infinito<br />
e cumulativo de verdades parciais e objetivas. Sempre na dependência de um<br />
enquadramento sócio-histórico, o conhecimento do mundo pelo homem por um lado<br />
se amplia e, por outro, muda qualitativamente. Ao examinarmos sua evolução<br />
detectamos semelhanças e diferenças, mas sobretudo o vemos de uma outra maneira.<br />
Fala-se muito na Fonoaudiologia enquanto ciência e discute-se a sua prática,<br />
sendo que a noção de “empréstimos” e aplicação direta de outros ramos de<br />
conhecimento, como por exemplo a Medicina, Psicologia, Lingüística, Educação foi<br />
superada, evoluindo para a noção de “interpelação” (PALLADINO, 1996, 48) entre<br />
áreas afins que se configuram numa reflexão que constrói o saber próprio da<br />
fonoaudiologia, focalizando um objeto específico e não menos polêmico: a Linguagem.<br />
O tema Gagueira inscreve-se na Fonoaudiologia de maneira bastante<br />
desafiadora: falante e ouvinte são parceiros numa interlocução, onde o foco principal<br />
está numa fala proibida, negada.<br />
Em 1982, no I Encontro Nacional de Fonoaudiologia, realizado na PUC - São<br />
Paulo, em comemoração aos vinte anos da profissão, FRIEDMAN, MELLO,<br />
MONTENEGRO, POTEL (1982) apresentaram uma pesquisa intitulada “Uma análise<br />
da atuação do fonoaudiólogo em relação à terapia da gagueira”, evidenciando o fato de<br />
estudantes e profissionais de fonoaudiologia reagirem negativamente à gagueira tanto<br />
8
quanto a outros problemas graves de origem neurológica. Elas também constatam a<br />
falta, na fonoaudiologia, de uma linguagem, de um discurso próprio, que não os<br />
emprestados da psicologia ou da fonoaudiologia “clássica” centrados no código, ou<br />
seja, exclusivamente no aspecto formal da linguagem.<br />
FRIEDMAN (1997), numa revisão da literatura a respeito da gagueira, comenta a<br />
investigação de BARBOSA & CHIARI (1995) sobre o conhecimento de senso comum e<br />
o conhecimento acadêmico, presentes nas concepções dos estudantes de<br />
fonoaudiologia sobre a gagueira. A pesquisa mostra que o conhecimento de senso<br />
comum se relaciona à etiologia da gagueira, e o acadêmico, a sua prevenção e<br />
tratamento. Nesse contexto, FRIEDMAN (1997) destaca a necessidade de revisão dos<br />
currículos acadêmicos, principalmente com relação aos problemas de fluência.<br />
Considerando que treze anos separam as pesquisas de FRIEDMAN, MELLO,<br />
MONTENEGRO, POTEL (1982) das de BARBOSA & CHIARI (1995), chegamos à<br />
conclusão de que a compreensão da gagueira no meio fonoaudiológico carece de um<br />
maior aprofundamento e reflexão. Talvez não apenas, no que se refere a definições<br />
etiológicas, de prevenção e tratamento, mas sobretudo com relação a questões de<br />
ordem filosófica e epistemológica. É preciso analisar até que ponto o estigma da<br />
gagueira infiltrou-se nas concepções que se tem dela, bem como examinar a visão<br />
preconceituosa que daí advém. O que parece subrepticiamente presente na<br />
compreensão fonoaudiológica da gagueira é sua interpretação exclusivamente a partir<br />
do caráter patológico que lhe é atribuído. GOFFMAN (1980) ao falar do indivíduo<br />
estigmatizado comenta: “Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total,<br />
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma,<br />
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele<br />
também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem (...)”.<br />
Se assumimos a ótica das Ciências Naturais para a Fonoaudiologia, devemos<br />
entender o sujeito (no caso, o paciente) por meio da explicação do funcionamento da<br />
9
“máquina” do corpo. Mas, diante da gagueira, ficamos perplexos. Onde está a lesão<br />
cerebral, a disfunção neurológica? O que dizem as ressonâncias eletromagnéticas, as<br />
tomografias computadorizadas, as avaliações (e testagens) neurológicas, psicológicas<br />
e de linguagem? Onde encontrar a resposta?<br />
Nessa perspectiva, o fonoaudiólogo, interlocutor legitimado pela profissão, sente<br />
a necessidade de ter em mãos uma explicação para a causa da gagueira que fosse<br />
comprovada por aparelhos, com uma cópia e um laudo assinado. Ao buscar uma<br />
remediação para uma fala, que entende não funcionar como deveria, ele se agarra a<br />
todas as “certezas” de que dispõe a ciência positivista e não atinge o indivíduo (a sua<br />
subjetividade), porque pára na gagueira (na manifestação).<br />
A minha entrada nesse universo não foi propriamente espontânea. Como muitos<br />
colegas da época de faculdade, não pretendia me debruçar sobre esse assunto, que<br />
parecia impenetrável demais. Evitar trabalhar com esse aspecto da fala 1 humana era<br />
mais que natural.<br />
O que mudou minha atitude diante do fenômeno gagueira foi a possibilidade de<br />
compreender sua natureza de um ponto de vista psicossocial.<br />
No contato com fonoaudiólogos que se dedicam ao tratamento da gagueira,<br />
tenho ouvido queixas e dúvidas quanto à condução do trabalho clínico e, não raro, uma<br />
reação também negativa quanto ao atendimento terapêutico de indivíduos gagos.<br />
De modo geral, a gagueira aparece tanto em publicações científicas, quanto nos<br />
meios de comunicação de massas, associada à idéia de algo a ser desvendado, um<br />
_________________________________<br />
1 Consideramos a linguagem, de acordo com CUNHA (1997), como a capacidade humana de<br />
representar através de signos e a fala, como uma possibilidade individual de manifestação (verbal-oral)<br />
da linguagem. Poderíamos então colocar a gagueira, de modo geral, como um problema ligado à<br />
produção da fala (e não da linguagem) que, por sua vez, também levaria a um problema na<br />
comunicação, dependendo da forma como a interação (falante com gagueira e interlocutor) se<br />
estabelecesse. Dentro de uma análise mais aprofundada, veremos que, segundo FRIEDMAN (1993), o<br />
que acontece na fala e na comunicação são efeitos dos valores que se projetam sobre a gagueira;<br />
10
sendo ela entendida como a parte manifesta de um problema com a imagem de falante do sujeito, de<br />
um tipo de simbolização negativa de si como falante.<br />
enigma, um mistério. É certo que as pesquisas na área dão conta de interpretações<br />
variadas e até contraditórias, e nem sempre o acesso a elas é imediato, mas já existe<br />
algum material pesquisado e com fundamentação científica adequada, que pode ser<br />
utilizado por profissionais que se dedicam ao atendimento de pessoas com gagueira.<br />
São esses profissionais que, em sua atuação clínica, se deparam com questões<br />
do tipo: “Eu acho que a criança está bem, mas a família diz que ela está gaguejando, o<br />
que fazer?” “Qual o momento certo para a alta do paciente?” “E se eu conseguir que o<br />
paciente pare de gaguejar e ele apresentar recidiva?”; “O paciente diminuiu a gagueira,<br />
mas eu nem sei bem o que fiz, e agora?” Procurar um fio condutor para responder<br />
essas e outras questões poderá trazer avanços importantes para a compreensão da<br />
prática clínico-terapêutica com a gagueira.<br />
Este trabalho tem como objetivo compreender a relação possível entre a teoria e<br />
a prática, procurando identificar fatores que determinam parte das dificuldades em<br />
conduzir um tratamento para a gagueira. É preciso compreender como diferentes<br />
teorias buscam e desenvolvem um entendimento da gagueira e quais são os<br />
pressupostos teóricos que o terapeuta pode assumir, para que haja coerência entre<br />
teoria e prática.<br />
Por estabelecerem parâmetros para uma abordagem em que o trabalho com a<br />
gagueira está inserido num contexto que promove uma ação terapêutica, na qual teoria<br />
e prática estão integradas de forma crítica e coerente, é que optamos pelas pesquisas<br />
de doutorado e mestrado desenvolvidas respectivamente pelas fonoaudiólogas ISIS<br />
MEIRA (1983) e SILVIA FRIEDMAN (1986).<br />
Ao privilegiar essas duas pesquisas (embora FRIEDMAN tenha dado<br />
continuidade a sua obra com um doutorado em 1992) consideramos ser suficiente,<br />
para os objetivos desta monografia, privilegiar em nossa discussão teórica, as obras<br />
citadas acima, por articularem satisfatoriamente os pontos de vista de cada autora.<br />
11
O que reforça essa escolha é o fato de essas obras serem referências<br />
fundamentais na bibliografia sobre o tema e também o fato de cada uma das autoras<br />
ter-se proposto a entender a gagueira a partir de uma perspectiva original<br />
(fenomenologia e materialismo dialético), sem adaptar métodos de autores estrangeiros<br />
ou transferir diretamente pressupostos de outras disciplinas (neuropsicologia,<br />
psicanálise, entre outras) para o campo fonoaudiológico.<br />
Em sua pesquisa, ISIS MEIRA (1983) analisou os depoimentos de nove<br />
profissionais em resposta à pergunta: O que é a gagueira? Comparando esses<br />
depoimentos, ela concluiu que os profissionais vêem a gagueira em sua existência<br />
imediata (ôntica) e fora do indivíduo. A fé desses profissionais nas teorias (tradicionais)<br />
impossibilita-os de conhecer a gagueira no sentido fenomenológico e de lidar com ela<br />
na terapia.<br />
Os depoimentos (escritos) de sete indivíduos gagos, em resposta à pergunta: “O<br />
que é a sua gagueira?” , foram também analisados, evidenciando com isso relatos que<br />
contém referências à reação dos interlocutores frente à gagueira por eles apresentada,<br />
e o efeito da gagueira neles mesmos (seus sentimentos, suas reações). Segundo a<br />
autora, os indivíduos gagos não têm um pensar reflexivo que inclua o ser com a<br />
gagueira, o habitar a gagueira. Esta, enquanto fenômeno, permanece oculta para o<br />
gago e, conseqüentemente, agrava o sintoma (MEIRA, 1983, 91).<br />
Na primeira parte da pesquisa, MEIRA (1983) faz um cruzamento das análises<br />
obtidas nos discursos dos autores (e suas diferentes teorias sobre a gagueira) com os<br />
discursos dos profissionais e dos gagos. Na segunda parte, ela propõe uma<br />
compreensão da gagueira sob o ponto de vista fenomenológico, o que revela que o<br />
fenômeno gagueira está envolto por alterações de tônus; a partir daí, a autora propõe<br />
uma condução da terapia voltada para esses invólucros de tensão do gago, que a<br />
autora chamou de gagueira construída e que é diferente da gagueira essência.<br />
12
Em sua metodologia de pesquisa, SILVIA FRIEDMAN (1986) utilizou o discurso<br />
de sete sujeitos com história de gagueira na fala. A coleta do discurso dos sujeitos de 1<br />
a 5 foi realizada por meio de fita cassete, a do sujeito 6, em gravação em vídeo e a do<br />
sujeito 7, por meio de material escrito, que incluía um “Diário de fala” (44 relatos) e um<br />
“Livro sem nome” (4 relatos). O procedimento escolhido para a organização e análise<br />
do material coletado foi baseado na teoria das Representações Sociais e materializado<br />
na Análise Gráfica do Discurso. Partindo dos discursos transcritos, a autora decompôs<br />
esses discursos em unidades de significação, mantendo as ligações entre as frases por<br />
numeração. Isso permitiu reagrupar as falas dos sujeitos por temas, de onde<br />
emergiram Categorias de análise do discurso, bem como as ligações entre elas. Essa<br />
análise permitiu uma descrição da natureza do fenômeno gagueira no interior do<br />
referencial materialista-dialético adotado.<br />
A autora ressalta, na revisão da literatura, como ao abordar o tema, as diferentes<br />
teorias conhecidas, voltam-se para a manifestação externa e, a partir daí, tentam<br />
explicar mecanicamente sua origem, seja por explicações orgânicas, sociais ou<br />
psicológicas. Apontando para um modelo, psicossocial, reforçado pelas categorias<br />
básicas de pensamento que emergiram da análise do discurso dos sujeitos, ela explica<br />
a gênese da gagueira, sua manutenção e reprodução, construindo um caminho<br />
terapêutico onde o alvo não é a fala gaguejada, mas a imagem de mau falante do<br />
indivíduo.<br />
Na Fonoaudiologia, como em qualquer área da ciência, toda explicação é<br />
sempre relativa. Mesmo nos comprometimentos da linguagem, onde o aspecto<br />
orgânico é fator decisivo (por exemplo: na afasia; na paralisia cerebral), não teremos<br />
nunca explicações definitivas e baseadas apenas em um único elemento. A pretensa<br />
“unanimidade” em torno do tema é de certa forma um esvaziamento da questão,<br />
porque para construir um saber científico “o sujeito que conhece (...) ‘transforma’ as<br />
informações obtidas segundo o Código complicado das determinações sociais (...), pela<br />
13
mediação da sua situação de classe e dos interesses de grupo que a ela se ligam, pela<br />
mediação das suas motivações conscientes e subconscientes e, sobretudo, pela<br />
mediação da sua prática social sem a qual o conhecimento é uma ficção especulativa”<br />
(SCHAFF, 1987,82). Portanto, compreendendo que a ciência não comporta<br />
enquadramentos definitivos, já que toda explicação é sempre relativa, deveremos estar<br />
atentos para não engessarmos nosso pensamento e ação dentro de uma perspectiva<br />
fracionada da realidade.<br />
Ao repensar a teoria na prática, delimitamos as seguintes hipóteses:<br />
Parte das incertezas encontradas pelos profissionais no atendimento da<br />
gagueira não se deve à falta de referências teóricas para o método fonoaudiológico.<br />
É necessário construir uma visão de mundo antes de se definir por esta ou<br />
aquela linha teórica no trabalho com a gagueira.<br />
Há uma incoerência teórico-metodológica quando se “aplica” diferentes teorias<br />
conforme o tipo de paciente gago.<br />
14
DUAS CONCEPÇÕES SOBRE A <strong>GAGUEIRA</strong><br />
A discussão sobre a gagueira passa por diferentes pontos de vista<br />
(Positivismo, Fenomenologia, Materialismo dialético), varia de autor para autor, linhas<br />
de pesquisa e país de origem. Em nossa escolha, priorizamos autoras com formação<br />
fonoaudiológica, que abordam a gagueira sob o ponto de vista das Ciências Humanas:<br />
ISIS MEIRA (1983), que segue a orientação da Fenomenologia e SILVIA FRIEDMAN<br />
(1986) que desenvolve seu trabalho sob o enfoque do Materialismo dialético. Nossa<br />
investigação procurará focalizar as concepções desenvolvidas nas pesquisas com a<br />
gagueira por elas realizadas, como essas visões se entrelaçam e se complementam, e<br />
quais aspectos podem ser destacados para servir de base a um roteiro de leitura para<br />
outras pesquisas.<br />
Em seu enfoque a partir da Fenomenologia 2 , MEIRA (1983), nos mostra como a<br />
visão Positivista vê a gagueira de uma perspectiva ôntica (em sua existência imediata e<br />
fora do indivíduo), como um fato, algo que se mostra à primeira vista, levando os<br />
autores que seguem essa linha a se preocupar com definições, explicações e<br />
classificações. Em conseqüência, MEIRA (1983), mostra que a postura positivista<br />
acaba por não elucidar, des-velar - para empregar a expressão heideggeriana - a<br />
gagueira em sua essência. A postura fenomenológica, ao contrário, vê a gagueira<br />
como ontológica (isto é, ressaltando a continuidade da gagueira com o ser que<br />
________________________________<br />
2 A Fenomelogia - filosofia e método - teve em Husserl (1859-1938) o formulador de suas<br />
principais linhas. Seguiram-se outros representantes como: Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty.<br />
Ela se contrapõe à postura positivista e defende que o objeto (do conhecimento) devem ser os<br />
fenômenos apreendidos pela percepção humana de forma pura essencial, como aparecem, como se<br />
apresentam à consciência. Isso é feito, a partir da “redução fenomenológica” que consiste em colocar em<br />
suspensão todo e qualquer conhecimento previamente produzido sobre o fenômeno para focalizá-lo no<br />
que ele tem de mais puro e essencial (ARANHA & MARTINS, 1986).<br />
15
gagueja), é com base nela que MEIRA (1983) propõe-se a olhá-la enquanto fenômeno,<br />
sem dados pré-estabelecidos, para sair da aparência (fato) que a fragmenta e poder<br />
captar sua essência.<br />
Recusando essa visão fragmentada da maioria dos autores positivistas, MEIRA<br />
(1983) questiona qual seria o caminho a percorrer: em direção ao gago, isto é, o sujeito<br />
que expressa a gagueira, ou em direção à gagueira, seu problema na fala. Para obter<br />
um discurso esclarecedor sobre a gagueira e poder chegar ao fenômeno, ela a focaliza<br />
no indivíduo que a manifesta, o qual foi com o tempo encobrindo a sua gagueira por<br />
meio de alterações de tensão. A partir disso percebe a necessidade de um<br />
aprofundamento na gagueira manifesta pelo gago (a gagueira constituída por<br />
alterações de tensão), para poder atingir a sua essência ( a gagueira livre de alterações<br />
de tensão). Assim, distanciando-se da gagueira enquanto fato, MEIRA (1983) se<br />
propõe a conhecer sua essência e não sua causa.<br />
A autora nos mostra que, cada classe de teorias (orgânica, psicológica e do<br />
comportamento aprendido) impõe uma ótica diferente às causas da gagueira e faz<br />
apenas uma análise quantitativa de comportamentos pré-estabelecidos, sem atingir a<br />
gagueira nela mesma (gagueira construída).<br />
Diante desse estado de coisas, MEIRA (1983) assume uma postura investigativa<br />
fenomenológica, que deve procurar des-velar o fenômeno gagueira e captar o que<br />
permanece oculto. Para isso, para se aproximar do que pode ser captado pela<br />
percepção quando se tenta ver o fenômeno (e não o fato) gagueira, deve-se voltar o<br />
olhar para a gagueira mesma e não para suas causas e para os sentimentos e atitudes<br />
ligados a ela.<br />
FRIEDMAN (1986) por sua vez, apoiada numa concepção materialista dialética<br />
busca uma compreensão da gagueira que permita conhecer sua origem e<br />
desenvolvimento. A autora argumenta que a maioria dos estudos sobre a gagueira<br />
aborda o problema de maneira positivista, reificada 3 , focalizando apenas a<br />
16
manifestação externa, aparente, da fala. Nessa atitude positivista a autora detecta a<br />
incapacidade dessas abordagens de compreender a gagueira em todos os seus<br />
desdobramentos e interrelações entre o que é subjetivo (do indivíduo) e o que é<br />
objetivo (do organismo e do social).<br />
Em seu trabalho, FRIEDMAN (1986) considera três grandes grupos de teorias<br />
sobre a gagueira: As teorias orgânicas, que vêem como causa problemas neurológicos,<br />
como afasia, lesões cerebrais, dominância cerebral, incoordenação motora, retardo de<br />
mielinização do córtex da fala, etc. Além de fatores hereditários, congênitos,<br />
metabólicos e outros. As teorias psicológicas, que sustentam que a gagueira é sintoma<br />
de traumas, conflitos afetivos, necessidades sexuais inconscientes não resolvidas<br />
(fixação oral ou anal), agressividade reprimida, entre outros. E as teorias sociais, que<br />
vêem as causas da gagueira na relação do indivíduo com os outros, isto é, como um<br />
hábito adquirido em conseqüência do reforço negativo do meio sobre a fala; por<br />
julgamentos inadequados de pessoas significativas sobre as vacilações normais da fala<br />
da criança, pela influência da cultura em sociedades competitivas que, conferindo valor<br />
extremo ao prestígio social, atribuem um grande valor à competência da fala.<br />
Para a autora, dar prioridade a um dos três aspectos (social, psicológico ou<br />
orgânico) em detrimento dos outros, é uma atitude limitadora que leva a um<br />
reducionismo do conhecimento e impede o aprofundamento da questão. FRIEDMAN<br />
_________________________________<br />
3 “Res”, em latim, significa “coisa”. O materialismo dialético - filosofia e método - considera os fenômenos<br />
materiais como processos e vê a realidade, não de forma linear, mas numa dependência recíproca e em seu processo<br />
de produção. Ao contrário da postura positivista, a “reificação”, conceito forjado pelo materialismo dialético,<br />
consiste em considerar os fenômenos apenas como se fossem “coisas”, deslocadas de seus processos de produção<br />
(ARANHA & MARTINS, 1986). “Reificada”, a gagueira é vista como uma coisa, como algo distante do indivíduo<br />
que gagueja; aí, o sujeito é visto despojado de sua história de fala.<br />
(1986) propõe uma abordagem que relacione esses três aspectos, não apenas como<br />
uma somatória entre eles, mas estabelecendo suas influências recíprocas. As várias<br />
17
formas de entender a fala gaguejada a partir das teorias existentes não deixam de<br />
mostrar aspectos verdadeiros dela, mas sem as conexões com as demais, esses<br />
aspectos ficam à deriva, desvinculados de um todo, provocando o isolamento da<br />
manifestação observada, do processo que levou o indivíduo a essa manifestação.<br />
Em seu estudo, MEIRA (1983) manteve-se centrada na estrutura própria da<br />
gagueira constituída (as alterações de tensão), cuidando para não isolar e também<br />
para não confundir os estados de consciência do indivíduo com as ocorrências<br />
corporais. Afirma: “Ficou mais fácil ver a trajetória do gago vivendo penosamente com a<br />
gagueira, difusamente percebida por ele, mesmo como um fato, pondo sobre ela ainda<br />
pesadas cargas trazidas por ele próprio e adicionadas pelos outros, com dificuldade de<br />
lidar com os seus sentimentos e com sua forte rejeição à gagueira” (MEIRA, 1983, 99).<br />
FRIEDMAN (1986) também compreende a gagueira (tensões) dentro de uma relação<br />
de mútua dependência entre os estados de consciência e as ocorrências corporais, e<br />
busca, num contexto materialista dialético, detectar como ela se apresenta.<br />
MEIRA (1983), “ao pôr a gagueira em suspensão para intuir sua essência”,<br />
procura distanciar-se das causas e conteúdos que envolvem a gagueira, e assim<br />
chegar à gagueira pura que foi encapsulada pelas tensões que o indivíduo apresenta<br />
ao falar. Contudo, isso é apenas parte de sua proposta para a terapia. Fazendo uma<br />
clara distinção entre o gago (o indivíduo) e a gagueira (a dificuldade na fala), MEIRA<br />
(1983) enfatiza a importância de trabalhar também o gago (o indivíduo) nas suas<br />
dificuldades relacionadas à gagueira. FRIEDMAN (1986), partindo desses dois<br />
aspectos (a atividade de fala e o indivíduo que gagueja) já enfatizados por MEIRA<br />
(1983), aponta para a possibilidade de também compreender a gagueira através do<br />
discurso do indivíduo gago, apreendendo assim outras significações igualmente<br />
importantes para a compreensão da atividade da fala gaguejada. A gagueira, segundo<br />
a autora, não deve ser vista apenas em seu caráter desviante (como sugere a visão<br />
18
positivista pautada nas Ciências Naturais), mas enquanto reveladora de crenças e<br />
condicionamentos.<br />
Em seu estudo, MEIRA (1983), já fazia esse questionamento, afirmando: “A<br />
questão da gagueira, porém, sendo essencialmente humana, tem uma estrutura<br />
significativa própria que precisa ser focalizada de forma a evitar redução e distorção”<br />
(p. 95, grifo meu). Portanto, ambas as autoras, partindo do campo das Ciências<br />
Humanas, procuraram compreender a gagueira a partir do indivíduo que gagueja. Mas<br />
enquanto MEIRA (1983) investigou a atividade de fala do sujeito gago decompondo o<br />
“todo” da gagueira (tensões) em suas partes constituintes, evidenciando a dinâmica<br />
dos grupos e regiões musculares envolvidas, FRIEDMAN (1986), por seu lado<br />
investigou o discurso do sujeito gago, decompondo-o em categorias que denotam o<br />
movimento genérico do pensamento do indivíduo com relação à fala e à gagueira.<br />
Em sua pesquisa, MEIRA (1983) investigou a fala do sujeito gago, detectando a<br />
rede de alterações de tônus construída pelo gago (chamada pela autora de <strong>GAGUEIRA</strong><br />
CONSTRUÍDA ou INVÓLUCROS da gagueira pura), que pode ser “desmanchada” na<br />
terapia, e o núcleo da gagueira que existe no indivíduo gago (chamado pela autora de<br />
<strong>GAGUEIRA</strong> PURA ou <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA), que permanece no indivíduo gago<br />
durante a sua existência e não pode ser “retirado”.<br />
A <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA se mostra, em todos os gagos, nas regiões oral,<br />
cervical e diafragmática. Estes são os INVARIANTES da gagueira. Em alguns gagos,<br />
no entanto, a gagueira construída pode também se manifestar em outras regiões do<br />
corpo. As alterações de tônus nas três regiões mencionadas se correlacionam, como<br />
explica a autora quando diz: “A fluência e, portanto, a coordenação exigida para a fala,<br />
requer tônus muscular adequado. A alteração simultânea no tônus muscular da região<br />
oral, da região cervical e da região diafragmática resulta em falha na coordenação<br />
dessa musculatura. Essa falha na coordenação se mostra tanto nos movimentos<br />
isolados da musculatura de cada região quanto nos movimentos que envolvem, ao<br />
19
mesmo tempo, o trabalho muscular destas três regiões mencionadas” (p. 125) (...) “um<br />
grupo muscular tenso sempre corresponde à tensão de outro grupo muscular, mesmo<br />
na ausência de fala” (p. 27).<br />
Os grupos musculares com tônus alterado que compõem a fala gaguejada<br />
variam de indivíduo para indivíduo, já que o mapeamento de cada gagueira é<br />
individual e dinâmico.<br />
Assim, MEIRA (1983) descreveu a ação dos grupos musculares com tônus<br />
alterado, pontuou as regiões que se mostram invariavelmente hiper ou hipotensas nos<br />
indivíduos gagos e explicou o processo da seguinte forma: “A falha na coordenação<br />
muscular do gago ocorre, a nível da ação de um grupo muscular, que realiza seu<br />
movimento com tremores e interrupções e a nível do movimento muscular simultâneo<br />
das três regiões - oral, cervical e diafragmática - cuja parada e tremores indicam uma<br />
falha na movimentação coordenada das três regiões do corpo que também estejam<br />
tensas” (p. 128). Ou seja, os invólucros de tensão se ligam, atuando de forma conjunta<br />
e dinâmica.<br />
Ao mapeamento dessa gagueira construída individualmente por cada gago no<br />
decorrer de sua existência, MEIRA (1983) estabeleceu um paralelo, já apontado por<br />
KRETSCHMER (MEIRA, 1983, 101), com a afetividade (emoções) e as alterações do<br />
tônus muscular e visceral, mostrando que: “À medida que se altera a afetividade, a<br />
tensão muscular e a tensão visceral, o gago, como qualquer ser-no-mundo, reflete<br />
esta alteração em sua dificuldade maior, a gagueira”. (p. 107, grifo meu).<br />
Na literatura há referências ao papel das emoções negativas (medo, ansiedade,<br />
culpa) na ocorrência de gagueira. MEIRA (1983) aponta a interferência também das<br />
emoções ditas positivas (alegria exagerada, excitação, euforia), explicando que toda<br />
emoção que tire o gago de seu equilíbrio contribui para a piora da gagueira.<br />
Observa-se nos autores positivistas, uma tendência a quantificar os<br />
comportamentos de gagueira (bloqueio, repetição, prolongamento, por exemplo).<br />
20
MEIRA (1983), ao contrário, apoiada nos princípios das Ciências Humanas, propõe<br />
uma análise qualitativa, mapeando e descrevendo a gagueira expressa em cada gago.<br />
A pesquisa de FRIEDMAN (1986) explicitou uma “ideologia do bem falar”<br />
permeando as relações da sociedade. A partir dessa ideologia, criam-se as condições-<br />
base para que um rótulo social, estigmatizado, da fala gaguejada se transforme em<br />
algo pessoal para o indivíduo que gagueja. A autora explica que a família é capturada<br />
por uma “armadilha”, ao ver na fala gaguejada da criança algo negativo (relação de<br />
comunicação paradoxal: pedir à criança que fale, mas que não fale como fala. Como<br />
então, poderá a criança falar?). Assim, a autora mostra que quanto mais se solicita<br />
uma fala “correta”, mais gagueira se observa surgir. Segundo a autora, a vivência<br />
sistemática desse tipo de relação interpessoal durante o período de desenvolvimento<br />
da linguagem do indivíduo acarretará numa relação distorcida com a fala, consigo<br />
mesmo e com o outro.<br />
A apresentação de uma fala gaguejada que não pode ser valorizada pelo grupo<br />
em que o falante se encontra, gera preocupação, medo, insegurança ao falar. Essas<br />
vivências concorrem para a quebra do sinergismo natural, espontâneo do ato motor da<br />
fala, que passa a apresentar-se com tensão. Como vimos em MEIRA (1983), essa<br />
tensão, vista de forma geral, possui características específicas no quadro de<br />
referências da gagueira construída. Concomitantemente a isso, porque (...)<br />
“representando o mundo que a cerca, a criança vai representando a si mesma como<br />
parte dele, desenvolvendo sua identidade” (FRIEDMAN, 1986,19), surge uma imagem<br />
negativa de falante. Marcado por uma vivência de incapacidade, de impossibilidade de<br />
corresponder a um padrão ideal de falar, o indivíduo passa a acreditar na sua<br />
deficiência e tenta falar de um novo modo, buscando a fala sem gagueira. A construção<br />
da identidade do indivíduo se faz junto com a representação de mundo e de sua<br />
linguagem, que em meio ao conflito criado por se ver impelido a falar de forma diferente<br />
do que é esperado para ser socialmente aceito, faz com que as situações<br />
21
comunicativas sejam cada vez mais carregadas de tensão. Cristaliza-se assim uma<br />
imagem negativa ou estigmatizada de falante.<br />
A articulação entre o psicológico (construção da identidade: auto-imagem<br />
estigmatizada, emoções negativas), o social (ideologia do “bem falar”, relações de<br />
comunicação paradoxais), e o orgânico (tensão, incoordenação dos movimentos<br />
articulados da fala) revela-se, segundo FRIEDMAN (1986), um quadro coerente para<br />
explicar os comportamentos (hesitações, bloqueios, repetições, evitações, etc)<br />
reconhecidos pelos diversos autores como característicos do quadro de gagueira.<br />
Como vimos, também MEIRA (1983) em sua pesquisa, conseguiu distanciar-se<br />
da gagueira como um fato e deixar de olhar exclusivamente para os prolongamentos de<br />
sons, as repetições de sílabas, os bloqueios que reduzem a gagueira a sua aparência<br />
imediata, podendo assim, captar e compreender a fala gaguejada em seus aspectos<br />
constitutivos, revelando o que estava por detrás da aparência, o que MEIRA (1983)<br />
chamou de invólucros de tensão, a <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA.<br />
Ao analisar detalhadamente o modo como a postura e o movimento do corpo e<br />
da fala vão se organizando em função dos grupos musculares e regiões tensas, MEIRA<br />
(1983) também aponta para aspectos subjetivos vinculados a essa atividade de fala. A<br />
autora observa que “ao invés de seguir seu caminho habitando a gagueira, o gago luta<br />
para escondê-la, negando sua existência” (p. 131). Em sintonia com esse aspecto<br />
levantado por MEIRA (1983), FRIEDMAN (1986) ressalta que ao ver-se como falante<br />
estigmatizado e ter que falar bem, o indivíduo cria o hábito de interferir com a fala<br />
(atendendo ao desejo de querer controlá-la para não gaguejar), quebrando a<br />
espontaneidade e gerando tensão. A autora mostra que a tensão se constrói,<br />
basicamente, porque o indivíduo nessa situação prevê (antecipa) gagueira na fala<br />
ainda não falada, como estratégia para evitá-la, mecanismo que só produz mais tensão<br />
e portanto mais gagueira. Quanto maior a necessidade social e pessoal de<br />
corresponder a uma imagem idealizada de falante sem gagueira, maior será a ativação<br />
22
emocional negativa que entrará em jogo, subvertendo a possibilidade da fala fluir sem<br />
os condicionamentos tensos. Por sua vez, MEIRA (1983), ao captar as tensões<br />
apresentadas pelos gagos na fala, explica que, de uma concepção generalizada e<br />
difusa dessas tensões, deve-se avançar para uma observação mais cuidadosa e<br />
aprofundada, em que grupos musculares que vão constituir a gagueira expressa se<br />
apresentam com seu tônus em desequilíbrio, e se caracterizam por uma dinâmica e<br />
mapeamento próprios.<br />
Dessa forma, em seu estudo, MEIRA (1983) havia verificado que, ao tentar<br />
ocultar a gagueira, o gago a torna mais evidente. Como relata a autora : “(...) o gago,<br />
por toda a sua vivência não aceitando a gagueira, tem um nível de tensão aumentado<br />
(...). Estas tensões são percebidas e assimiladas pelo outro que também, se não tiver<br />
condições de lidar com a nova carga de tensão, se torna mais tenso e reage<br />
apresentando tensão (...). O gago percebe estas reações, que são manifestações de<br />
uma não aceitação da gagueira, angustia-se e aumenta seu nível de tensão. Esta<br />
tensão manifesta-se na fala” (p. 111). A autora mostra que são as emoções que têm<br />
íntima relação com a tensão, que alteram a gagueira. FRIEDMAN (1986) também<br />
confirma esse aspecto identificado por MEIRA (1983), mostrando que as emoções se<br />
alteram e as tensões aumentam porque o indivíduo tenta modificar a fala para ser<br />
aceito. A autora mostra como a atitude de ocultamento da fala gaguejada tem suas<br />
motivações nos conteúdos da mente (auto-imagem de mau falante) advindos e ligados<br />
à necessidade de falar sem a gagueira (ideologia veiculada socialmente), que, ao<br />
dispararem sentimentos como o medo, ou a ansiedade, aumentam a tensão durante a<br />
fala. A vivência sistemática em meio a esse contexto paradoxal (sou gago; não posso<br />
ser gago; tento falar bem e gaguejo) mantém o indivíduo preso ao universo que a<br />
autora passa a denominar de <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO. MEIRA (1983), ao fazer a<br />
ligação entre a afetividade e as tensões (muscular e visceral), evidenciou que os<br />
estados-de-mente dos indivíduos que gaguejam correlacionam-se, em primeiro lugar,<br />
23
com a gagueira percebida, e que a percepção dos estados afetivos (medo, ansiedade,<br />
angústia) ocorre mais facilmente do que a percepção das tensões. É no trabalho<br />
terapêutico com os invólucros de tensão, voltado para o corpo em geral e para a fala<br />
especificamente, que o indivíduo entrará em contato com a localização e intensidade<br />
das tensões (no corpo e na fala), desenvolvendo uma consciência aprofundada das<br />
condições em que ocorre a fala gaguejada. Ao observar que os gagos fazem uma<br />
correspondência entre a alteração da afetividade e a gagueira, MEIRA (1983) explica<br />
que “por um distúrbio da consciência (consciência difusa de sua gagueira), o gago<br />
‘fantasia’ determinada situação percebendo-a de forma irreal, e, em geral, com fortes<br />
cargas de ansiedade” (p. 106). É justamente sobre esse ponto, a forma como o<br />
indivíduo percebe as situações de fala, ou seja, a relação entre gagueira e o<br />
desenvolvimento da consciência, que FRIEDMAN (1986) procurou, ao analisar os<br />
conteúdos subjacentes ao discurso dos sujeitos de sua pesquisa, compreender “o<br />
movimento do pensamento a respeito da fala e da gagueira, em suas múltiplas<br />
determinações” (p. 30).<br />
Para MEIRA (1983), o gago deve “conviver com seus estados de mente” e<br />
“habitar sua gagueira”, dessa forma, esses estados-de-mente não serão facilmente<br />
alterados e não interferirão tanto com a fala (p. 112). Da mesma forma, FRIEDMAN<br />
(1986) defende que “desmistificando e questionando a lógica da gagueira a nível do<br />
pensamento”, o indivíduo gago deverá ter um “compromisso com o gaguejar”, já que o<br />
não gaguejar “está sendo apontado com o motor do processo da gagueira” (p. 116).<br />
Um ponto de divergência entre as duas abordagens estaria então, no fato de que<br />
MEIRA (1983), por seu lado entende que o social é vivido pelo indivíduo que gagueja e,<br />
obviamente, não pela gagueira. Em seu estudo, gago e gagueira constituem um todo<br />
indivisível, mas são entidades distintas que não podem ser confundidas. Se na terapia,<br />
o gago for trabalhado com relação a seus estados-de-mente, suas atitudes e seu modo<br />
de ver o mundo, ele compreenderá as reações dos outros e poderá não ter problemas<br />
24
sociais, mesmo que continue gaguejando. Para FRIEDMAN (1986), por outro lado, o<br />
mundo, o social, tem a marca da história e da ideologia, interferindo necessariamente<br />
nas concepções formadas pelo indivíduo que expressa a gagueira. A autora também<br />
aceita considerar o fato de que o social é vivido pelo indivíduo e que a mudança na<br />
auto-imagem de falante possibilitará um “convívio melhor” no meio social, mas isso<br />
não impede uma reflexão mais ampla de natureza sociológico-filosófica que revele<br />
concepções da gagueira enquanto uma fala desviante e necessariamente patológica.<br />
A forma de considerar o “aspecto social” vinculado ao tema da gagueira, é o que<br />
parece diferir nas duas pesquisas. Em MEIRA (1983), o “aspecto social” consiste nas<br />
relações que o indivíduo estabelece com pessoas e situações de vida no dia-a-dia<br />
(trabalho, família, amigos, relacionamentos afetivos, etc). A autora relata o caso de um<br />
gago extremamente bonito e bem sucedido, que atuava como um líder, sendo bastante<br />
solicitado por pessoas que o cercavam. Esse sujeito gago “era consciente de seu<br />
sucesso e de suas muitas possibilidades. Convivia com os outros e a gagueira era vista<br />
como uma de suas possibilidades, sem grande importância”. A autora verifica então<br />
que “(...) o aspecto social não chega, nem mesmo, a interferir alterando o estado-de-<br />
mente do gago e, conseqüentemente, alterando a própria gagueira” (p. 112). Já na<br />
pesquisa de FRIEDMAN (1986) vemos que o “aspecto social” aparece vinculado tanto<br />
à individualidade quanto à coletividade. Com relação à individualidade, a autora<br />
emprega a categoria OUTROS, que ela identifica na Análise Gráfica do Discurso dos<br />
sujeitos da pesquisa, referindo-se à família, trabalho, escola, amigos, pessoas em<br />
geral, etc; sendo que o sujeito que gagueja poderá lidar com esse “aspecto social” de<br />
diferentes modos, dependendo das representações que ele faz desse meio social e de<br />
si mesmo. Como exemplo, temos o relato do sujeito1 que menciona poucos amigos, e<br />
se refere ao fato de o grupo (de amigos) se desinteressar por ele (se afastar) e de ele<br />
pedir para que falem por ele nas situações cotidianas (p. 39). O sujeito2 se refere a<br />
pessoas conhecidas, amigáveis, que aceitam e não ligam muito (para a fala<br />
25
gaguejada), com as quais ele se dá bem e que, às vezes, falam por ele para ajudá-lo,<br />
apoiá-lo (p. 46). Focalizando os “aspectos sociais” com relação à coletividade , a autora<br />
parte para uma conceituação mais geral, filosófica, ligada aos pressupostos do<br />
Materialismo dialético. Aqui, os “aspectos sociais” da gagueira vinculam-se à noção de<br />
realidade social circundante enquanto princípios, regras, valores e ações dentro da<br />
história social da humanidade. É nesse sentido que FRIEDMAN (1986) afirma que os<br />
conteúdos da consciência do indivíduo gago, que promovem o movimento do<br />
pensamento gerador de atitudes de evitação/negação da gagueira (que fazem<br />
aumentar a tensão na fala, como MEIRA (1983) também havia visto), não são<br />
passíveis de ser tomados como algo inato, como produção psíquica naturalmente<br />
circunscrita a uma atividade neurofisiológica do indivíduo, mas como fator sócio-<br />
histórico construído nas relações do indivíduo com a sociedade e a cultura. São essas<br />
relações que determinam a representação de si e do mundo dos indivíduos.<br />
É importante compreender que a diferença dos pontos de vista de cada autora é<br />
decorrente da opção que cada uma faz ao abordar o tema. MEIRA (1983) afirma que “a<br />
pesquisa centralizada exclusivamente nas ordens física e biológica não poderia<br />
apresentar uma visão satisfatória e completa para uma questão humana tão importante<br />
como a gagueira” (p. 95). Para tanto, ela parte para uma descrição e análise<br />
fenomenológica do problema da gagueira. A fenomenologia coloca em primeiro plano a<br />
subjetividade enquanto movimento interno de um sujeito que tem sua individualidade<br />
exacerbada. Assim, o papel do sujeito ganha mais importância que a realidade<br />
circundante. Como MEIRA (1983), FRIEDMAN (1986) também critica a visão positivista<br />
que reduz a gagueira a seu aspecto manifesto, fragmentando sua totalidade. Mas, na<br />
busca por uma visão mais integrada para a gagueira, ela parte para um modelo<br />
filosófico que prioriza a interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. A opção<br />
feita - o materialismo dialético - vê a subjetividade se construindo na dialética homem -<br />
mundo com seus valores e regras sociais.<br />
26
Em seu estudo, MEIRA (1983), ao procurar as invariantes da gagueira, chegou<br />
ao conceito de tensão. Constituindo-se nos invólucros da gagueira, esses invólucros<br />
apontam para aquilo que está “por detrás dela” - a essência da gagueira. Ao mostrar<br />
onde estão os invólucros, a autora se depara com tensões nas regiões oral, cervical e<br />
diafragmática, descritas em termos dos músculos e órgãos fonoarticulatórios<br />
envolvidos.<br />
Examinando a correlação entre as áreas de tensão, verifica-se que a<br />
musculatura alterada de uma região altera a outra e que, em todos os gagos estudados<br />
na pesquisa, a musculatura respiratória também estava alterada. MEIRA (1983)<br />
acredita que, embora haja relação entre afetividade, tensão muscular e visceral, o gago<br />
reage a seus próprios estados de mente, sendo responsável por eles. Essa concepção<br />
não assume o paradigma da determinação biopsicossocial (em que a consciência não<br />
é vista como pura reflexão, passividade, e para a qual as idéias são forças ativas),<br />
como vemos em FRIEDMAN (1986), e olha a realidade intra-psíquica como criada<br />
apenas por si mesma (uma consciência doadora de sentido), exatamente de acordo<br />
com a visão de sujeito da fenomenologia, já mencionada anteriormente. MEIRA(1983)<br />
mostra que os interlocutores, também são regidos pela mesma “lei” e, por isso, não<br />
respondem com críticas, expressões faciais, e sorrisos à gagueira do gago, mas aos<br />
seus próprios conteúdos afetivos, não sendo possível afirmar-se que a gagueira<br />
(constituída por tensões) é um problema que surge no social, embora esse aspecto<br />
possa influenciar o indivíduo. FRIEDMAN (1986) também concorda com a afirmação de<br />
que a reação dos indivíduos deve-se aos seus próprios conteúdos, mas mostra que<br />
isso não exclui a compreensão de que esses mesmos conteúdos se desdobram a partir<br />
de um contexto sócio-cultural mais amplo, no qual se encontra a ideologia do bem-<br />
falar, que passa a forjar os conteúdos afetivos próprios e, a seguir, o modo de reagir ao<br />
mundo.<br />
27
Focalizando, agora, o aspecto da utilização dos dados encontrados nas<br />
pesquisas, no sentido de uma determinação dos objetivos da terapia, as pesquisas das<br />
duas autoras, embora seguindo caminhos diferentes, também podem se<br />
complementar. Fenomenologia e Materialismo dialético “equilibram-se” coerentemente<br />
e não desconsideram as variáveis orgânicas, desde que “se integrem as ordens física e<br />
biológica em novas estruturas”, como afirma MEIRA (1983, 95), ou que não se<br />
pressuponha “a prioridade de qualquer um dos três aspectos, social, psicológico ou<br />
orgânico sobre os demais (...)”, como defende FRIEDMAN (1986,14). É mantendo,<br />
portanto, as premissas e diferenças básicas entre cada uma das pesquisas que<br />
procuraremos ver de que modo elas podem se integrar e interagir.<br />
No trabalho com o indivíduo gago em terapia, segundo MEIRA (1983), “o<br />
primeiro passo é, então, a tomada de consciência (...) para seu corpo inicialmente, para<br />
os recursos usados na tentativa de ocultar a gagueira e para seu próprio portar-se<br />
diante da gagueira”. A autora propõe uma “consciência alerta” para todo indivíduo<br />
gago que queira manter um “estado de zelo” e, através dele, dissolver os invólucros e<br />
conseguir manter a “gagueira livre, solta” (p. 132 e 133). Assim, é realizado um<br />
trabalho verbal específico, durante o processo terapêutico com o gago, abordando suas<br />
dificuldades enquanto pessoa, a fim de que ele aprenda a “con-viver” com sua<br />
gagueira, lidando com a não-aceitação dela pelos seus interlocutores e com sua<br />
própria não-aceitação. Como afirma a autora: “É, no entanto, numa relação<br />
intersubjetiva terapeuta-paciente, e não num caminhar solitário, que o gago muda a<br />
representação que ele tem de si mesmo e de sua gagueira. Esta mudança diz respeito<br />
ao existir-com-os outros e com-a-sua-gagueira” (p. 112). Esses mesmos aspectos são<br />
apontados por FRIEDMAN (1986), quando afirma que o trabalho terapêutico consiste<br />
(dentre outros aspectos) em “desmistificar a ideologia sobre a qual se assenta a<br />
gagueira”, por meio do diálogo (terapeuta-paciente), colocando em xeque as posturas<br />
assumidas pelo indivíduo diante da fala gaguejada, posturas que “ao mesmo tempo<br />
28
que tentam ocultar, afirmam a gagueira” (p.116). Ambas autoras lidam em terapia com<br />
os aspectos subjetivos ligados às concepções que o indivíduo gago tem das relações<br />
interpessoais, da fala, das situações vividas e de si mesmo. A diferença está na opção<br />
feita por FRIEDMAN (1986) pelos princípios do materialismo dialético, que permite<br />
reconduzir essa subjetividade também para o campo social (enquanto valores e<br />
regras), mostrando que essa subjetividade sofre a marca tanto da cultura quanto da<br />
história pessoal (do indivíduo) e coletiva (da sociedade). É nesse contexto que a autora<br />
trabalha com as noções de ideologia do bem falar (estigma), construção da identidade<br />
(auto-imagem de falante); essas noções são “trazidas” do social para o individual e<br />
retrabalhadas (na terapia) em termos daquilo que representam para o falante com<br />
gagueira, na especificidade de cada caso.<br />
FRIEDMAN (1986), a partir da análise do discurso dos sujeitos da pesquisa,<br />
destacou as quatro categorias subjacentes a eles: Auto-imagem, Nível Motor, Ativação<br />
Emocional, Outros. Essas categorias representam os conteúdos da consciência de<br />
cada sujeito e a interação entre elas reflete o movimento genérico do pensamento dos<br />
indivíduos estudados.<br />
Na categoria Ativação Emocional, revelam-se medos, ansiedades, vergonhas,<br />
preocupações, raivas, etc, do falante gago em relação a sua fala e aos outros.<br />
No categoria Nível Motor, evidenciam-se tensões nos movimentos de fala,<br />
relatados pelos indivíduos gagos como: gaguejar, não sair a fala, repetir sílabas, língua<br />
enrolada, que surgem diante dos outros e sob certas emoções. Esse nível será visto<br />
separadamente, quando falarmos sobre a terapia para a atividade de fala em si.<br />
Na categoria Auto-Imagem, revela-se um conceito negativo de si como falante,<br />
quando se constata determinadas atitudes assumidas diante da fala: pensar como<br />
falar, achar que não sabe falar, achar ter um defeito, achar-se incapaz, evitar conversar<br />
para não se mostrar, considerar-se gago - sempre diante dos outros - sentindo as<br />
emoções delineadas, acima, e a tensão na fala.<br />
29
O social é representado pela categoria - Outros - e aparece no relato dos<br />
indivíduos quando se referem a familiares, amigos, chefe, escola, professores com<br />
quem gaguejam e sentem as emoções mencionadas.<br />
Segundo FRIEDMAN (1986), as categorias vistas à luz da história de fala dos<br />
indivíduos que gaguejam são elementos fundamentais para se traçar um caminho a ser<br />
desenvolvido na atividade clínica, já que refletem um movimento genérico do<br />
pensamento dos indivíduos estudados, servindo, assim, de sinalização das estruturas<br />
sociais e ideológicas que estão por trás de cada sujeito e que, no plano pessoal,<br />
assumem características específicas para cada um. Centrada, no processo de<br />
produção da gagueira, nos planos subjetivo (auto-imagem e emoção) e social<br />
vinculados ao motor (atividade de fala em si), a terapia deve trabalhar os conteúdos da<br />
auto-imagem negativa de falante (que pode ser negativa em maior ou menor grau),<br />
desmistificando as crenças que a ideologia do “bem falar” inculcou no indivíduo e que<br />
fazem parte de sua identidade.<br />
Antes de iniciarmos as considerações sobre o trabalho terapêutico com o<br />
aspecto motor da fala gaguejada (tensa), veremos primeiramente como diferem, nesse<br />
item, os dois estudos aqui referidos. Em sua pesquisa, MEIRA (1983) estabeleceu uma<br />
trajetória que diferencia claramente a atividade de fala (invólucros de tensão) do<br />
indivíduo gago. Focalizando o conhecimento da gagueira, enquanto fenômeno, ela<br />
cuidou para não misturar gago e gagueira, fazendo com que surgissem suas<br />
particularidades dentro da totalidade que representam e evitando a dicotomia<br />
cartesiana sujeito/objeto, pela qual vinha sendo tratado o tema na visão positivista.<br />
FRIEDMAN (1986), ao colocar-se diante do problema, buscou na análise qualitativa do<br />
discurso do sujeito (gago) entender a manifestação da gagueira através da história do<br />
desenvolvimento da fala da pessoa gaga. Como MEIRA (1983), FRIEDMAN (1986) não<br />
vê a atividade de fala gaguejada (tensa) como algo que surge de um indivíduo com<br />
“defeito de fabricação”, como querem aqueles que assumem uma visão positivista<br />
30
dentro do campo das Ciências Naturais e que mantêm, assim, a dicotomia sujeito-<br />
objeto do conhecimento. Em sua pesquisa, a diferenciação entre o indivíduo (gago) e a<br />
gagueira aparece em termos da atividade de fala com tensões (gagueira), que aparece<br />
representada pela categoria Nível Motor, sendo que as outras categorias - Auto<br />
Imagem, Ativação Emocional, Outros - relacionam-se mais diretamente com o<br />
indivíduo, e juntamente com a categoria Nível Motor, interligam a história de fala dos<br />
sujeitos.<br />
Portanto, MEIRA (1983) partiu de uma análise da fala (em si mesma) e não dos<br />
conteúdos desta. “O conteúdo não foi levado em consideração para os objetivos deste<br />
estudo, mas constitui um dado que aponta para a dificuldade que os gagos têm de falar<br />
sobre a própria gagueira” (p. 18). FRIEDMAN (1986), por outro lado, partiu da análise<br />
dos conteúdos do discurso e não da fala (em si mesma) percebendo, como MEIRA<br />
(1983), que esses conteúdos poderiam trazer significações sobre o indivíduo gago e<br />
conseqüentemente sobre a gagueira, no sentido mais específico do ato motor e, no<br />
mais amplo, enquanto uma concepção de fala ligada ao desenvolvimento do<br />
psiquismo, à subjetividade humana.<br />
A seguir, falaremos mais especificamente do trabalho com a fala gaguejada,<br />
lembrando que tanto MEIRA (1983) quanto FRIEDMAN (1986), ao abordarem em<br />
terapia o aspecto motor da fala com gagueira, não perderam de vista as questões<br />
subjetivas que dizem respeito ao indivíduo e que estão obviamente ligadas à gagueira:<br />
sentimentos, atitudes, modos de ver o mundo, modos de ver a gagueira, para MEIRA<br />
(1983) e ideologia do bem falar, ativação emocional, auto-imagem de falante,<br />
representações de mundo e de si, para FRIEDMAN (1986).<br />
Ao abordar o aspecto motor da gagueira, FRIEDMAN (1986) ressalta a<br />
importância do trabalho de relaxamento voltado para o corpo todo e proprioceptivo com<br />
a fala em particular. Ao desenvolver a capacidade de sentir, aprofundar e interferir com<br />
os movimentos articulatórios e do corpo (ritmo respiratório, batimento cardíaco, tensões<br />
31
de cada segmento corporal), o indivíduo vai desfazendo a dúvida (ideologicamente<br />
criada) sobre sua capacidade de falar sem as tensões apresentadas. A autora também<br />
coloca a fluência como um ponto de destaque no trabalho com o aspecto motor, neste<br />
sentido explica que: “A tarefa de recuperação da capacidade articulatória, é feita<br />
enfatizando-se a existência de momentos fluentes, conforme todos os gagos relatam<br />
(...)”, já que, “(...) sua consciência se ocupa apenas com a gagueira (...)” (p. 116, grifo<br />
meu). Assim, ao revelar concretamente a capacidade de fala através dos mecanismos<br />
que a integram (respiração, movimentação da musculatura oral e corporal, articulação<br />
dos sons, etc) pode-se redimensionar o Nível Motor (fala gaguejada), valorizando-se a<br />
fluência que já existe sob certas circunstâncias. Com isso, confirma-se a capacidade<br />
de fala, e rompe-se com a idéia alienada de que não se consegue falar sem a tensão<br />
que caracteriza a gagueira.<br />
MEIRA (1983), por seu lado, desenvolveu sua pesquisa focalizando<br />
primordialmente a atividade de fala com tensões, que se revelou para a autora na<br />
gagueira formada pelo indivíduo, os invólucros (ou Gagueira Construída). Recusando<br />
os trabalhos mecânicos feitos para reduzir o aparecimento da gagueira, ela propõe um<br />
trabalho aprofundado com o corpo e com a fala propriamente dita, que vise ao<br />
desenvolvimento e à ampliação do nível da consciência do indivíduo e ao equilíbrio do<br />
tônus. Ao compor o quadro da gagueira construída, a autora procurou determinar<br />
como a tensão se manifestava em cada gago, quais regiões do corpo eram<br />
tensionadas por todos os sujeitos da pesquisa e que grupos musculares eram<br />
“ativados” por cada gago individualmente. A autora, trabalhando com a fala gaguejada<br />
em terapia, lida com as alterações de tônus que constituem a gagueira no corpo e na<br />
fala. Os grupos musculares tensos apresentam-se alterados tanto durante a atividade<br />
de fala quanto, na ausência dela. Foi num caminhar para além da tensão vista de modo<br />
genérico, que MEIRA (1983) pôde chegar ao mapeamento das tensões, que<br />
compreendido em sua profundidade, mostra diferenças com relação a cada sujeito,<br />
32
mas, por outro lado, guarda certa estabilidade quanto às áreas envolvidas (oral,<br />
cervical, diafragmática), os invariantes.<br />
Segundo MEIRA (1983), a Tensão Oral é evidenciada, em geral, por:<br />
movimentos atípicos caracterizados por tremores, deslocamentos, incoordenações;<br />
movimentos articulatórios reduzidos, dor e cansaço após algum tempo de<br />
movimentação. A Tensão Cervical, se manifesta principalmente nas posturas tensas de<br />
ombros e pescoço (elevação, contração, dores, movimentos atípicos), essas tensões<br />
permanecem mesmo na ausência da fala. A respiração encontra-se alterada em todos<br />
os indivíduos gagos, observando-se que toda a musculatura (principalmente os<br />
músculos diafragmático, intercostais internos, transverso do tórax) envolvida na<br />
respiração está tensionada. A Tensão Diafragmática, então, se caracteriza por:<br />
incoordenação da inspiração, expiração e fala (exemplos: falar na inspiração, falar<br />
bloqueando a saída do ar, falar quase sem ar). Essas tensões também permanecem<br />
mesmo na ausência de fala.<br />
No trabalho em terapia com a dissolução dos invólucros de tensão, MEIRA<br />
(1983) desenvolve um caminhar com-o-gago em direção à “tomada de consciência do<br />
seu corpo” e aos “invólucros” (gagueira). Primeiramente, o indivíduo deve voltar sua<br />
consciência para as tensões (com sua dinâmica e mapeamento) e para as posturas<br />
corporais, ambas durante a fala e na ausência dela. Nesse processo ele deverá<br />
conhecer, localizar e verificar a intensidade dessas tensões no corpo e na fala;<br />
trabalhar e modificar a “sensibilidade cutânea e mio-funcional”. E assim, ao “vivenciar”<br />
a gagueira construída, através de diferentes situações terapêuticas, como relaxamento,<br />
massagem, toques em regiões sensíveis do corpo, poder “liberar” essas tensões.<br />
Como mostra a autora, em vez da atitude de “conter a gagueira, segurá-la, não deixar<br />
que ela surja”, o indivíduo passa a “ter uma fala livre, liberta das tensões”; condição<br />
básica que deverá ser adquirida na terapia. O sujeito aprende a “viver em propriedade<br />
33
com a gagueira” e a dissolver os invólucros, porque sabe que “na medida em que tenta<br />
ocultar a gagueira, consegue apenas acentuá-la” (p. 133).<br />
Vimos que as posições teóricas de MEIRA (1983) e FRIEDMAN (1986)<br />
pertencem ao campo das Ciências Humanas e partem de visões filosóficas diferentes.<br />
Para MEIRA (1983), a <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA pode ser captada a partir da<br />
percepção e descrição da atividade de fala expressa pelo gago. Para se compreender<br />
o fenômeno e poder lidar com o que surge individualmente em cada gago, é preciso<br />
deixar de lado as análises quantitativas (saber, por exemplo, quantas vezes o indivíduo<br />
gagueja) e realizar um análise qualitativa (como é a gagueira desse indivíduo). A autora<br />
propõe, assim, uma abordagem terapêutica que segue por dois caminhos diferentes,<br />
um em direção ao indivíduo (ao gago), e outro, em direção à gagueira, sempre de<br />
forma interligada e sobreposta. Para FRIEDMAN (1986), a <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO<br />
pode ser compreendida a partir da análise do discurso do indivíduo que gagueja, que<br />
revela o movimento do seu pensamento com relação à fala e à gagueira. Assim,<br />
através de uma análise qualitativa desse discurso, de onde emergiram leis gerais<br />
(categorias), foi possível verificar a relação entre a gagueira e o desenvolvimento da<br />
consciência. A gagueira sofrimento é, portanto, o “produto ideológico” da história de<br />
fala do indivíduo, e uma abordagem terapêutica que leve em conta seus determinantes<br />
psicossociais poderá levar o indivíduo a recuperar a confiança em sua capacidade de<br />
fala e devolvê-lo ao estado de fala fluente. FRIEDMAN (1986) propõe um trabalho com<br />
a subjetividade (a ativação emocional, a imagem de si como falante, o social) e com a<br />
gagueira (o nível motor (orgânico) da atividade de fala), considerando-se sempre a<br />
estreita relação entre ambos. Um aspecto em comum a essas duas propostas<br />
terapêuticas está no fato de que ambas consideram a fluência apenas como<br />
conseqüência do trabalho terapêutico, sendo que o indivíduo gago deverá “vivenciar”<br />
sua gagueira, e não, negá-la. “Dessa forma, não se trabalha na terapia o<br />
desaparecimento da gagueira (essência) mas a dissolução dos invólucros (gagueira<br />
34
construída) e um novo comportar-se do gago diante da gagueira” (MEIRA, 1983,131).<br />
“O paciente começa a perceber que a gagueira não é a negação da fluência, mas se<br />
sobrepõe e coexiste com ela. Que a fluência não é uma meta a ser alcançada, porque<br />
já existe” (FRIEDMAN, 1986,116).<br />
É indiscutível a importância dessas duas pesquisas para uma reflexão mais<br />
pertinente sobre a produção de fala com gagueira. Elas trazem um arcabouço teórico<br />
elaborado na esfera da Psicologia Clínica e da Psicologia Social e sistematizado a<br />
partir do olhar clínico terapêutico do fonoaudiólogo, para constituí-lo como teoria na<br />
esfera da fonoaudiologia. Elas se constróem por meio da investigação das<br />
características da gagueira, de tal forma que não são uma simples transposição direta<br />
da Psicologia para Fonoaudiologia, mas constituem um discurso próprio, pautado sobre<br />
a realidade do fenômeno estudado que serve como teoria para a clínica<br />
fonoaudiológica.<br />
Cada autora nos fornece “imagens” diferentes, mas complementares, de um<br />
mesmo acontecimento - a produção de gagueira na fala, resultado de sua formação<br />
teórica, experiência clínica, visão de homem e de mundo, crenças, valores, história de<br />
vida. A obra de cada autora vem imbricada por todos esses contornos. Embora<br />
apoiados em visões de homem e de mundo diferentes, a da Fenomenologia e a do<br />
Materialismo dialético, é possível que sejam convergentes, justamente porque são<br />
visões e não dogmas, sendo que uma dialoga com a outra e podem, assim, se<br />
complementar.<br />
O ponto de discordância está nas concepções subjetivo-idealista da<br />
Fenomenologia (a consciência é a fonte de significado para o mundo) em<br />
contraposição à objetivo-ativista do Materialismo dialético (a consciência se constrói na<br />
dialética homem-mundo com seus valores e regras ideológicas). “A Fenomenologia tem<br />
como preocupação central a descrição da realidade colocando como ponto de partida<br />
de sua reflexão o próprio homem (...)”. Para o materialismo dialético, os “fenômenos<br />
35
materiais são processos, o homem não pode ser analisado como uma abstração e a<br />
realidade, sendo o conjunto das relações sociais, deve ser considerada em sua<br />
dependência recíproca, e não linear” (ARANHA & MARTINS, 1986, p. 270-325). É<br />
assim que a tensão (fenômeno captado) é interpretada como sendo do indivíduo,<br />
segundo os princípios da Fenomenologia, e como construção nas relações sociais,<br />
para o Materialismo dialético.<br />
Apesar disso, há complementaridade na visão idealista-fenomenológica da<br />
gagueira e na sua análise por uma visão materialista dialética. Segundo MEIRA (1983),<br />
ao trabalharmos os invólucros de tensão (Gagueira Construída), poderemos levar o<br />
gago a ser capaz de lidar com suas tensões, dissolvendo-as. FRIEDMAN (1986)<br />
concorda com esse ponto e mostra que o trabalho com a tensão/soltura revela um<br />
falante capaz, que, ao não evitar a gagueira, permite a fluência e constata que gaguejar<br />
é bom para superar a gagueira, reforçando positivamente a imagem de falante do<br />
indivíduo. MEIRA (1983) aborda em terapia as dificuldades do gago como pessoa,<br />
desenvolvendo sua consciência por meio da reflexão e compreensão de seus limites e<br />
possibilidades, sua capacidade em lidar com os outros no mundo. FRIEDMAN (1986)<br />
se coloca numa mesma perspectiva em termos desse trabalho terapêutico, destacando<br />
a importância de se abordar os aspectos vinculados ao sujeito (emoções, auto-imagem<br />
de falante, visão de mundo, da fala e da gagueira, etc) correlacionando-os às<br />
determinações sociais, evitando considerá-los apenas como um reflexo interno de um<br />
indivíduo isolado em si mesmo.<br />
Quando se verificam semelhanças e diferenças entre pontos de vista para<br />
acontecimentos idênticos, fica a pergunta: Onde está a “verdade”? A verdade é<br />
sempre relativa e parcial, ela se refere a um dado momento histórico e de<br />
conhecimento. Portanto, não se trata de adotar uma postura maniqueista e decidir com<br />
quem (Positivismo, Fenomenologia, Materialismo dialético) está a razão. É preciso que<br />
confrontemos nossas próprias concepções e valores enquanto terapeutas da fala, com<br />
36
as concepções e valores da obra e do autor. A partir daí, comprometidos com uma<br />
concepção teórica e falando a mesma língua, poderemos ancorar nossa prática e<br />
torná-la adequadamente fundamentada.<br />
37
IMPLICAÇÕES DA <strong>TEORIA</strong> <strong>NA</strong> <strong>PRÁTICA</strong><br />
Ao iniciarmos as considerações deste capítulo, deixaremos de lado a oposição<br />
feita, até o momento, entre MEIRA (1983) e FRIEDMAN (1986), para situarmos nossa<br />
discussão em torno da oposição entre as Ciências Naturais e as Ciências Humanas,<br />
confrontando basicamente uma visão positivista da gagueira (visão mecanicista da<br />
relação sujeito-objeto, em que o comportamento se explica pela causa-efeito) com uma<br />
visão humanista (todo comportamento existe num contexto que deve ser interpretado;<br />
relação sujeito-objeto é algo complexo e mutável). O contexto da pesquisa das autoras<br />
aparecerá, na medida em que, se desenvolva a visão humanista da gagueira.<br />
Normalmente o primeiro contato com o estudo da gagueira acontece na<br />
graduação. Saímos da faculdade com a imagem do paciente gaguejando e nos<br />
perguntamos: “Como é que eu vou fazer para essa pessoa parar de gaguejar?” O<br />
paciente e a família também nos procuram com essa expectativa. Por seu lado, as<br />
teorias nos oferecem diferentes possibilidades, que obedecem a concepções variadas<br />
de linguagem. Por exemplo: trabalhar apenas a articulação (produção da fala em si);<br />
trabalhar com a tensão; trabalhar com a subjetividade enquanto pulsões (psicanálise);<br />
trabalhar com a aceitação da gagueira dentro da compreensão das condições<br />
psicossociais de sua produção. Precisamos, então, nos decidir por um caminho.<br />
Sabemos que o conhecimento não surge do vazio. As teorias se organizam em<br />
torno de idéias e valores, estabelecem pontos de vista, defendem uma ideologia. É<br />
preciso perguntar antes de mais nada: Qual será a visão de Linguagem que irei adotar?<br />
Qual a visão de homem que irei assumir? Qual será o objetivo do trabalho terapêutico a<br />
partir daí?<br />
Para uma perspectiva estruturalista, a Linguagem pode ser vista como um<br />
sistema de códigos (símbolos), tendo na fala sua expressão oral, que evoca nos<br />
falantes da Língua a coisa significada. A adequação da Linguagem é medida pelo uso<br />
38
correto da sintaxe e da semântica, e a da fala, pela produção fonológica e articulatória<br />
dos significantes de acordo com o padrão hegemônico.<br />
Outra forma de entender a Linguagem é não vê-la somente na dimensão do<br />
código, mas como produto histórico-social, construída ao longo da história da<br />
humanidade e, ao mesmo tempo construtora do homem e dessa humanidade. Nessa<br />
medida, é preciso entender a linguagem também em sua dimensão ideológica, e, por<br />
isso mesmo, em sua capacidade de assujeitar os indivíduos à ideologia que veicula,<br />
sendo, desse modo, constitutiva tanto da objetividade que nos cerca quanto da<br />
subjetividade a nós inerente. A Linguagem é, assim, elemento mediador entre o<br />
homem e o mundo, depositária dos significados socialmente construídos e veículo dos<br />
sentidos. Essa visão de linguagem, independe da patologia focalizada (afasias,<br />
gagueiras, distúrbios de leitura e escrita, etc) e abrange a todas.<br />
Uma visão mais estruturalista da Linguagem focaliza a gagueira apenas em seu<br />
aspecto motor. Essa visão promove um recorte da realidade e nos leva a colocar o<br />
problema separado do indivíduo. Privilegia a aparência, o oral, a articulação. O<br />
indivíduo que gagueja se torna uma “boca inoperante”, uma “boca” que não produz o<br />
esperado, que não funciona de acordo com o idealizado pela estrutura da língua.<br />
Partindo dessa perspectiva, ganham sentido as divisões da gagueira em estágios,<br />
os levantamentos da quantidade de hesitações com relação ao tempo de produção da<br />
fala, as comparações mecânicas de gagos com não-gagos, a medição dos tipos e da<br />
freqüência das disfluências na fala, da tensão por meio da eletromiografia, da<br />
capacidade respiratória, bem como os levantamentos dos condicionamentos para<br />
determinadas palavras e outros aspectos quantitativos da fala.<br />
Apoiados na visão estruturalista da Linguagem, voltada para o produto,<br />
estaríamos mais seguros se pudéssemos identificar as causas da gagueira a partir de<br />
uma tomografia computadorizada, ressonância magnética, ou mesmo num exame de<br />
laringe. Diante da possibilidade de uma causa orgânica detectável, bastaria tratar o<br />
39
efeito causado pelo aspecto orgânico? Mesmo que isso fosse possível, não serviria<br />
para “reconciliar” o terapeuta com o almejado “trabalho corretivo”, porque o indivíduo<br />
que gagueja, ainda seria aquele que não pode falar direito.<br />
Assumimos aqui que a gagueira não se resume a bloqueios, hesitações, pausas,<br />
prolongamentos. Entendemos que o indivíduo que gagueja expressa com essa<br />
condição somente a dimensão aparente de um problema que se materializa na<br />
produção da fala. Subjacentes a esse modo de falar estão significações socialmente<br />
construídas que determinaram sua biografia ou história pessoal, seu modo de ser no<br />
plano coletivo e no pessoal. Trata-se, enfim, das relações de comunicação vividas<br />
deixando marcas na forma de um indivíduo se comunicar.<br />
Numa visão sócio-histórica, (LEONTIEV, 1975) a Linguagem não é meramente a<br />
expressão de um código. É porque vivemos num mundo verbalizado que, ao aprender<br />
a Língua, também aprendemos os valores que nela estão expressos. A Linguagem não<br />
existe simplesmente como código que os indivíduos têm a capacidade de usar, ela é<br />
também a expressão das relações sociais vividas, lógica e afetivamente significativas,<br />
e está marcada pela história, valores e crenças do grupo a que esse indivíduo<br />
pertence. Tudo isso funciona como motor daquilo que os indivíduos expressam. Nesse<br />
sentido é que entendemos que a Linguagem vai além do código. A Linguagem é, antes,<br />
as diferentes possibilidades de dizer as coisas, apesar do código e para além do<br />
código. Até mesmo subvertendo esse código, por exemplo, como na “ironia” em que<br />
posso usar a palavra “bonito” para significar “feio” e ser entendido pelo meu grupo.<br />
Os movimentos articulatórios, por sua vez, também foram socialmente definidos.<br />
De um conjunto de possibilidades sonoras, somente alguns conjuntos pré-definidos de<br />
sons constituem a Língua falada por um grupo. Esses conjuntos (e seus significados)<br />
também não se mostram estáticos, como foram “aprisionados” no dicionário, mas se<br />
modificam no curso do processo social e pessoal. Considerar o gaguejar como<br />
adequado ou não, patológico ou não, portanto, varia de concepção para concepção e<br />
40
de acordo com a intensidade e freqüência da manifestação, em função de se<br />
considerarem a condições subjetivas a sua manifestação ou de apenas se ter como<br />
parâmetro sua justaposição à visão idealizada do padrão de fala.<br />
Ao considerarmos a Linguagem (LEONTIEV, 1975) na perspectiva da dialética<br />
homem-sociedade, a gagueira pode despir-se de seu aspecto visível e passar a contar<br />
a sua história. Permite-se que apareça o outro na comunicação com suas crenças e<br />
valores, influenciando a interlocução e o processo de produção da fala, e assim desvia-<br />
se o olhar fixo, exclusivamente voltado para o aspecto aparente da fala.<br />
As duas dimensões da Linguagem delineadas (visão positivista e visão<br />
humanista), determinam posições clínico-terapêuticas diferenciadas. A primeira (visão<br />
estruturalista da linguagem) subsidia uma abordagem direta do problema em si,<br />
geralmente visto como um defeito, como algo fora da norma, como patológico,<br />
acarretando numa abordagem terapêutica corretivo-normatizadora e tendo o terapeuta<br />
a ação de um “adestrador”. A segunda vê as manifestações como expressão, também<br />
da subjetividade. Ela busca, quando necessário, os seus determinantes orgânicos, mas<br />
não fica surda a subjetividade de quem os manifesta (como mostra MEIRA (1983) em<br />
seu trabalho com o indivíduo gago), nem cega às determinações sócio-históricas<br />
ligadas ao processos subjetivos (como mostra FRIEDMAN, 1986). Procura, em síntese,<br />
apreender de forma mais abrangente o ser humano, para construir, a partir desse<br />
enfoque, a teoria e a prática fonoaudiológicas.<br />
Nessa perspectiva, compartilhamos das idéias de FRIEDMAN (1986) no que se<br />
refere à <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO, que, longe de ser o que se mostra de imediato,<br />
nos revela, na verdade, um indivíduo preso a uma imagem, a uma representação<br />
estigmatizada de si como falante. Portanto, as hesitações e bloqueios não podem ser<br />
vistos isoladamente ou apenas vinculados a um “déficit” orgânico, e explicados por si<br />
mesmos. Antes, devem ser compreendidos na intersecção entre: as crenças e valores<br />
do meio, a linguagem materializada na produção da fala e os conteúdos que formam a<br />
41
imagem de falante na constituição da identidade do indivíduo - ele, não pode ser<br />
reduzido à idéia de patologia.<br />
Uma visão positivista, fragmentada, do homem determina um posicionamento<br />
mecanicista diante da Linguagem. Isso faz com que se pense isoladamente aspectos<br />
biológicos, psicológicos e sociais, como se fossem uma realidade em si (na crítica de<br />
FRIEDMAN, 1986), separando corpo e mente, homem e mundo (na crítica de MEIRA,<br />
1983). O conhecimento, o homem, os fatos são tratados como “coisas” e<br />
consequentemente não estabelecem uma rede de significações. O indivíduo gago não<br />
tem a possibilidade de ser algo diferente daquilo que ele expressa na fala (a gagueira)<br />
e a gagueira, por sua vez, se explica unicamente por uma relação de causa e efeito.<br />
O comprometimento com uma visão não fragmentada de homem nos remete a<br />
uma visão (humanista), apontada por FRIEDMAN (1986) no ser bio-psico-social e por<br />
MEIRA (1983) no ser humano enquanto ser-no-mundo. Assim a história não é um<br />
acúmulo de fatos, mas um processo que tem relevância para a compreensão do<br />
sujeito. A realidade não é vista como estática, mas dinâmica. O homem é visto como<br />
produto e produtor da história da humanidade e da sua, em particular (LEONTIEV,<br />
1975).<br />
O indivíduo forma sua consciência por meio das significações que objetos,<br />
fenômenos e relações interpessoais possuem em meio à realidade que o cerca. A<br />
Linguagem é uma das formas (e por certo a mais importante) com a qual o indivíduo<br />
apreende esse mundo. Quando utiliza a Linguagem para se comunicar, ele não só<br />
adquiriu a forma de comunicação do seu grupo como também os valores aí veiculados,<br />
formando sua consciência, sua subjetividade. Essa relação entre o coletivo e o<br />
individual tem por base a mediação feita pela linguagem, pelo outro.<br />
Dentro da visão humanista, podemos concluir que a gagueira construída na<br />
pesquisa de MEIRA (1983), é entendida enquanto a revelação concreta da atividade de<br />
fala gaguejada, que supera o conceito vago de tensão e passa a compor-se de<br />
42
invólucros, grupos musculares com tônus em desequilíbrio. A autora diferencia o<br />
conceito de <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA da <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA. Para MEIRA<br />
(1983), o estar gago refere-se à gagueira que o indivíduo gago construiu no corpo (os<br />
invólucros de tensão) que serão dissolvidos na terapia. O ser gago refere-se à<br />
gagueira essência, que é uma condição inerente ao indivíduo, da qual ele não pode<br />
escapar, ou seja, o sujeito é gago mesmo tornando-se fluente, após o tratamento. Por<br />
sua vez, a <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO, na pesquisa de FRIEDMAN (1986), só pode ser<br />
efetivamente compreendida a partir da história de fala do sujeito, em sua especificidade<br />
orgânica, psicológica e social. Diferentemente do que forneceria uma visão<br />
fragmentada do homem e mecanicista, da Linguagem que previamente estipula uma<br />
“falha” orgânica para a fala desviante, entende-se que o indivíduo não é gago, mas<br />
está gago. Já que, ao vivienciar um tipo determinado de mediação (a das<br />
comunicações paradoxais sobre seu padrão de fala: fale - mas não fale do modo<br />
espontâneo como você fala) identificada nas relações interpessoais e afetivas, o<br />
indivíduo vai incorporando - colocando no corpo - a crença de que vai falhar durante<br />
a fala e, assim, aos movimentos automáticos da fala se somam tensões (esforço). A<br />
autora opõe o conceito de <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO à <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL, sendo<br />
esta última a possibilidade tanto do sujeito gago (após tratamento) como a do não-<br />
gago.<br />
O caminho a seguir no trabalho terapêutico dependerá das concepções de<br />
linguagem e homem vinculadas à teoria assumida. Faremos aqui um parêntese para<br />
ressaltar que as duas teorias analisadas, MEIRA (1983) e FRIEDMAN (1986), podem<br />
ser, em certos aspectos, compatilizadas, embora filosoficamente se filiem a<br />
concepções de homem e de mundo diferentes.<br />
Independentemente de MEIRA (1983) não defender uma causa para o fenômeno<br />
gagueira e FRIEDMAN (1986) estabelecer parâmetros que explicam a gênese da<br />
43
gagueira (sofrimento), ambas propõem um trabalho terapêutico coerente com uma<br />
visão não estruturalista de Linguagem e, em muitos aspectos, convergente. Assim,<br />
dando-nos o direito de deixar de lado as diferenças de concepção de homem<br />
subjacentes a essas duas teorias da gagueira, trabalhamos com seus produtos.<br />
Enfatizando que as duas pesquisas apresentadas são resultado da prática clínica das<br />
autoras (e não apenas uma discussão puramente teórica) e que, portanto, o produto de<br />
uma das pesquisas circunscrita a um modelo subjetivo-idealista que prioriza o sujeito<br />
que conhece e seus produtos mentais (Fenomenologia) e o da outra, baseada no<br />
modelo objetivo-ativista que prioriza o papel ativo do sujeito e sua determinação social<br />
(Materialismo dialético), não necessariamente precisam se opor, mas podem se unir,<br />
ampliando, assim, os dois enfoques.<br />
Como dissemos, as teorias organicistas, que entendem a gagueira como um<br />
defeito da fala (visão estruturalista da linguagem) e lhe atribuem uma causa isolada<br />
(psicológica, orgânica, comportamental), estabelecem um plano terapêutico voltado<br />
para a superação da forma desviante de fala.<br />
O paciente é assim colocado à margem de seu processo de desenvolvimento<br />
da fala, pelo outro – o fonoaudiólogo – interlocutor socialmente identificado como a<br />
autoridade na situação terapêutica. Perde o paciente, perde o terapêuta. Vítimas do<br />
mesmo pré-conceito: a fala gaguejada não deve ter seu espaço, deve ser transformada<br />
em exercícios motores, respiratórios, corporais, de entonação, de leitura. A técnica se<br />
justifica na busca pela cura.<br />
Se adotarmos como premissa a idéia de que a Linguagem é construção mútua<br />
entre indivíduo e sociedade (LEONTIEV, 1975), a gagueira adquire um outro sentido.<br />
Com MEIRA (1983, 1990, 1998), por um lado, temos a compreensão da dinâmica das<br />
tensões (invólucros) da atividade de fala, e por outro, a compreensão dos estados de<br />
mente do gago, levando, assim, o indivíduo à superação da dicotomia sujeito/objeto, ao<br />
desenvolvimento da consciência e ao lidar com propriedade com seus modos-de-ser.<br />
44
Com FRIEDMAN (1986, 1993, 1996), abre-se a perspectiva de uma compreensão da<br />
subjetividade do indivíduo com relação a sua atividade de fala (a gagueira), na qual<br />
condições afetivas, lingüísticas, interacionais, motoras, sociais e históricas se articulam<br />
de forma específica e não aleatória, levando o sujeito a desenvolver uma auto-imagem<br />
de mau falante que interfere com a fala por meio de tensões, temos assim a<br />
possibilidade de romper a visão estigmatizada da gagueira bem como o impacto que<br />
esta representa na vida dos indivíduos.<br />
Em nossa visão o caminho da terapia, numa abordagem psicossocial da gagueira,<br />
é o caminho da partilha, da comunicação, do resgate de uma auto-imagem de falante<br />
apoiada na efetiva capacidade de fala. Não se troca uma fala “com defeito” por outra<br />
em “boas condições”.<br />
O falante que gagueja aprenderá que duas palavras fazem a grande diferença.<br />
Não é falar ou gaguejar, mas falar e gaguejar. Reconhecer a fala em sua unicidade<br />
fala-gagueira e poder ouvir a si mesmo com e sem gagueira, sem estar confinado<br />
apenas ao formato da expressão. Aceitar a gagueira para poder sair dela, como afirma<br />
FRIEDMAN (1986), ou “habitar sua gagueira”, nas palavras de MEIRA (1983).<br />
Ao dar seqüência às considerações até aqui expostas, pareceu-nos importante<br />
salientar que existe, por um lado, uma evidente demanda de casos de gagueira na<br />
clínica fonoaudiológica e, por outro, uma necessidade dos profissionais em delinear um<br />
caminho para o atendimento de indivíduos gagos. Pensando nessa realidade é que<br />
procuramos assumir uma postura pró-ativa diante dessas condições, a despeito da<br />
celeuma em torno das causas e resultados do trabalho com a gagueira. Para tanto,<br />
propusemos como ponto de partida comparar a visão positivista, no campo da Ciências<br />
Naturais com a visão psicossocial de FRIEDMAN (1986), no campo das Ciências<br />
Humanas, para, desta forma, poder buscar subsídios que possam orientar a prática e<br />
as escolhas profissionais. Ao contrapor posições filosóficas bastante diferenciadas,<br />
focalizamos dois aspectos já polarizados na abordagem do tema: a gagueira e a<br />
45
fluência.<br />
Nossa opção pela comparação entre as concepções positivista e psicossocial (ao<br />
invés de opormos também a visão fenomenológica à visão positivista) se deve ao fato<br />
de que, na visão psicossocial, a fluência pode ser redimensionada no contexto da<br />
gagueira. O indivíduo gago sabe que tem fluência, mas esse saber não é suficiente<br />
para mudar seu posicionamento diante da fala gaguejada. Ele busca tratamento porque<br />
deseja uma mudança no seu padrão de fala, acreditando que, para obter a fala fluente<br />
(idealizada), é necessário não gaguejar. Quando se afirma a importância de se partir da<br />
fluência, não é no sentido simplista de indicar ao falante com gagueira que ele perceba<br />
sua fluência (porque isso ele já o faz), mas sim, no de dar à fluência um sentido real,<br />
concreto fazendo com que ela passe a ser um “catalisador” para as mudanças<br />
qualificativas que se procurará obter com relação à fala, à vivência concreta da<br />
gagueira e às implicações desta na subjetividade. A fluência como revelação da<br />
capacidade de fala do Sujeito deverá ser retomada no trabalho com a gagueira.<br />
Portanto, sem perder de vista que nosso alvo é uma ação terapêutica coerente<br />
com nossa visão de Homem e Linguagem, delineamos na sequência, de forma<br />
sintética, um esquema teórico e prático (esquemas 1 e 2) com relação à abordagem<br />
terapêutica da gagueira, no qual explicitamos dois pontos de partida. O que se<br />
pretendeu com esse esquema foi tornar mais elucidativa a idéia de “ponto de partida” e<br />
também a forma como que uma dada visão teórica poderá determinar a prática. Mais<br />
uma vez, reafirmamos a idéia de que, na ciência, não há uma verdade única e<br />
acabada, e enfatizamos que não buscamos estabelecer a superioridade de uma<br />
posição teórica sobre outra.<br />
Confrontamos basicamente uma visão positivista que contempla a fala com<br />
gagueira como um desvio (erro) que deverá ser corrigo (ponto de partida - Gagueira) a<br />
uma outra, a visão psicossocial, que vê na gagueira uma das possibilidades (dentre<br />
outras) da fala (ponto de partida - Fluência).<br />
46
A visão positivista tende a colocar o foco da terapia na gagueira, na fluência ou em<br />
ambas, sempre vendo o indivíduo como o portador de um defeito na fala. A idéia de ponto de<br />
partida, aqui explicitada, sugere um meio de reflexão para o profissional diante da teoria e<br />
da prática.<br />
47
ESQUEMA 1<br />
PONTO DE PARTIDA<br />
u<br />
<strong>GAGUEIRA</strong><br />
u<br />
Enfatiza o aspecto motor da fala, a<br />
gagueira é negada (proibida)<br />
u<br />
Indivíduo gago é portador de um<br />
defeito<br />
u<br />
Fala desviante deverá ser aproximada<br />
do normal<br />
u<br />
Percurso terapêutico centra-se na<br />
queixa<br />
<strong>TEORIA</strong><br />
48<br />
PONTO DE PARTIDA<br />
u<br />
FLUÊNCIA<br />
u<br />
Enfatiza o Indivíduo com sua fluência,<br />
a gagueira é permitida<br />
u<br />
Indivíduo gago não é portador de um<br />
defeito<br />
u<br />
Fala fluente não deverá ser objeto de<br />
conquista<br />
u<br />
Pecurso terapêutico centra-se na<br />
crítica à concepção do indivíduo<br />
quanto a sua própria fala e ênfase em<br />
sua efetiva capacidade de fala.
ESQUEMA 2<br />
PONTO DE PARTIDA<br />
u<br />
<strong>GAGUEIRA</strong><br />
<strong>PRÁTICA</strong><br />
A<strong>NA</strong>MNESE = levantamento de dados<br />
sobre: gestação, desenvolvimento,<br />
antecedentes familiares, etc.<br />
AVALIAÇÃO = QUANTITATIVA<br />
(tipo e freqüência)<br />
DESCRITIVA<br />
(bloqueios, hesitações<br />
prolongamentos, etc)<br />
u<br />
TERAPIA = O indivíduo deve parar de<br />
gaguejar e se tornar fluente<br />
com a ajuda do terapeuta.<br />
u<br />
ALTA = Quando o indivíduo parar de<br />
gaguejar ou quando<br />
conseguir um “bom”<br />
controle da gagueira.<br />
49<br />
PONTO DE PARTIDA<br />
u<br />
FLUÊNCIA<br />
“A<strong>NA</strong>MNESE / AVALIAÇÃO” =<br />
Reconstrução da história de fala,<br />
seus determinantes sócio-históricos e<br />
as interrelações que se estabelecem<br />
para a visão falante.<br />
u<br />
TERAPIA = Trabalhar o motor, os<br />
conteúdos sociais, emocionais da<br />
identidade de falante de forma<br />
correlacionada. O indivíduo deve<br />
compreender que a fala fluente se<br />
compõe de momentos de tensão e<br />
fluência, deve sentir sua fluência e<br />
sua tensão = gagueira, para voltar a<br />
ter confiança na efetiva capacidade<br />
de fala.<br />
u<br />
ALTA = Não se define a priori, mas<br />
pelas mudanças conseguidas pelo<br />
indivíduo com relação à imagem de<br />
falante, ele mesmo a sugere.
Retomando: No modelo positivista, temos a predominância na relação sujeito-<br />
objeto voltada para o objeto (ação mecânica do objeto sobre o sujeito). No modelo<br />
fenomenológico, a “atenção está centrada sobre o sujeito a quem se atribui mesmo o<br />
papel de criador da realidade” (SCHAFF, 1986, 74). No modelo materialista dialético, é<br />
o princípio da interação, e não da preponderância, que se instaura na relação sujeito-<br />
objeto. Como nos mostra SCHAFF (1986): “Contrariamente ao modelo mecanista do<br />
conhecimento para o qual o sujeito é um instrumento que registra passivamente o<br />
objeto, é atribuído aqui um papel ativo ao sujeito submetido por outro lado a diversos<br />
condicionamentos, em particular às determinações sociais, que introduzem no<br />
conhecimento uma visão da realidade socialmente transmitida” (p. 75).<br />
Se a diferença entre MEIRA (1983) e FRIEDMAN (1986) se encontra no modelo<br />
escolhido (o que implica certamente em visões de sujeito diferentes), poderíamos,<br />
como forma de encarar essa “divergência”, propor um “diálogo” entre as duas<br />
pesquisas no que se refere aos seus produtos, e assim, ao trabalho, terapêutico<br />
proposto por MEIRA (1983), com a consciência corporal, os invólucros de tensão<br />
(gagueira construída) e o sujeito gago, somar o de FRIEDMAN (1986) também com<br />
relação à consciência corporal, da gagueira, da fala ligada à subjetividade e aos seus<br />
determinantes psicossociais. Ambas permanecem, então, com suas particularidades e<br />
concepções que, olhadas de uma perspectiva histórica, conferem sentido e valor ao<br />
estudo da gagueira no campo fonoaudiológico.<br />
50
CONSIDERAÇÕES FI<strong>NA</strong>IS<br />
Comparar duas teorias sobre gagueira e verificar semelhanças e diferenças<br />
possibilitou-nos abrir um diálogo entre as duas concepções e repensar a prática clínica<br />
com a gagueira. Serviu-nos de reflexão para poder argumentar no sentido de que é<br />
necessário que o terapeuta determine um ponto de partida para esse trabalho: a<br />
gagueira (manifestação externa) ou a fluência (o indivíduo com sua atividade de fala e<br />
subjetividade). O que nos levou a centrar nossa exposição na importância de se<br />
estabelecer um ponto de partida foi a necessidade de estabelecer uma fronteira<br />
clara entre diferentes tipos de práticas e seus correspondentes subsídios teóricos.<br />
No que diz respeito ao debate em torno da gagueira, fundamental para o exame<br />
concreto de um problema humano tão desafiador, não nos parece exagerado<br />
considerar que as pesquisas a respeito de aspectos orgânicos (neurofisiológicas,<br />
genéticas, etc) da gagueira não deveriam estar atreladas apenas ao discurso da<br />
medicina positivista, marcada por uma valorização do objeto (empirismo) em<br />
detrimento do sujeito (subjetividade), como se “doença” e “doente” fossem elementos<br />
desvinculados. Entendemos, antes, que é necessária uma reflexão dentro da área<br />
fonoaudiológica, em que o objeto da pesquisa não fique sujeito a um recorte<br />
reducionista, a uma limitação ao aspecto anatômico, ou a uma explicação<br />
neurofisiológica desconectada de uma perspectiva de Linguagem. É necessário que se<br />
possa ter conhecimentos qualitativos (e não apenas quantitativos) da produção da fala<br />
com gagueira e esses conhecimentos envolvem necessariamente o estudo da<br />
subjetividade (como vimos em FRIEDMAN, 1986) e sua interferência na dinâmica e<br />
mapeamento das tensões (como vimos em MEIRA, 1983).<br />
Se é importante determinar que tipo de dado orgânico está ligado à disfluência, é<br />
igualmente importante desenvolver uma discussão que vem a “posteriori”, pautada nos<br />
51
indivíduos já “prontos” com sua “carga constitucional”, para compreender como a<br />
“constituição orgânica somada à subjetividade do indivíduo foi se reelaborando em<br />
função das relações que se estabelecem com o meio social (LEONTIEV, 1975). Será<br />
possível concluir que a produção de fala disfluente está ligada a um determinado dado<br />
orgânico; mas disfluência não é o mesmo que <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA (MEIRA,<br />
1983) ou <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO (FRIEDMAN, 1986). Podemos argumentar que<br />
MEIRA (1993) reforça essa visão, quando mostra que “o que se observou foi que o<br />
fenômeno gagueira está envolvido por fortes camadas de tensão (invólucros)<br />
colocadas pelo gago no decorrer de sua história com a gagueira, vista por ele como um<br />
fato” (p. 113, grifo meu). FRIEDMAN (1986) também adota essa visão, ao mostrar que<br />
a gagueira sofrimento tem sua gênese na intersecção entre o desenvolvimento<br />
orgânico e o desenvolvimento psicológico no meio social. O que a autora destaca é<br />
efeito gerado sobre o organismo (lugar em que as pesquisas tentam identificar a<br />
gagueira), ao ser submetido a certas dinâmicas psicossociais, com relação à produção<br />
da fala de um indivíduo.<br />
Portanto, os conceitos de <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA (MEIRA, 1983) e de<br />
<strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO (FRIEDMAN, 1986) não negam a existência de fatores<br />
orgânicos ligados à disfluência, ao mesmo tempo em que permitem a suas autoras<br />
manter suas premissas teóricas básicas. Ao assumirmos as idéias defendidas por<br />
LEONTIEV (1975), acreditamos que não apenas a <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO<br />
(FRIEDMAN, 1986), mas também a <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA (MEIRA, 1983) são<br />
produtos de determinantes psicossociais atuando sobre a subjetividade do indivíduo<br />
que se refletem no organismo (fala). FRIEDMAN (1993) defende a tese de que tal fator<br />
orgânico, em princípio, só pode ser entendido como o que ela designa como<br />
<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL, comum a todos os falantes em maior ou menor grau.<br />
É justamente em relação ao ponto de vista sobre a fala que é preciso somar a<br />
compreensão do desenvolvimento sócio-histórico, para não qualificar, de antemão, a<br />
52
fala normal como patológica. As pesquisas que seguem uma linha estritamente<br />
organicista deveriam resgatar uma visão não estruturalista de Linguagem e de<br />
Homem, para desenvolver uma visão de fala compatível com o fazer fonoaudiológico. A<br />
concepção médica da fala (anatomia e fisiologia) é importante para a clínica<br />
fonoaudiológica, mas não é sua tutora. A clínica fonoaudiológica não pode pautar-se<br />
somente na visão orgânica do falar. Mais do que localizar, classificar ou quantificar a<br />
gagueira, é preciso interpretá-la à luz da subjetividade e em sua dialética com a<br />
sociedade, para dar-lhe um sentido. Em outras palavras: “(...) qualquer estado do<br />
organismo, se for uma adaptação a circunstâncias impostas, acaba sendo, no fundo,<br />
normal, enquanto for compatível com a vida (...) O homem, mesmo sob o aspecto<br />
físico, não se limita a seu organismo (...). É, portanto, além do corpo que é preciso<br />
olhar, para julgar o que é normal ou patológico para esse mesmo corpo”<br />
(CANGUILHEM, 1995, 162).<br />
Em contraposição a esse cenário de discussões sobre a etiologia da gagueira,<br />
está a necessidade de abrirmos perspectivas para uma ação terapêutica (método<br />
clínico) coerente com concepções de Linguagem e princípios teóricos articulados no e<br />
para o campo fonoaudiológico. Dessa forma, pareceu-nos importante comparar duas<br />
formas de reflexão muito diferenciadas - uma em direção à gagueira (defeito, desvio)e<br />
outra à fluência (possibilidade concreta de fala, em que a gagueira é permitida) - e<br />
buscarmos respaldo naquela teoria que possa dar sustentabilidade a nossa opção.<br />
Quando o enfoque, na visão positivista, for a manifestação externa (gagueira)<br />
teremos muitas teorias dando suporte. Algumas apresentam explicações que vão em<br />
direção ao inconsciente; outras às funções cerebrais superiores, à retroalimentação<br />
auditiva, ou mesmo à multicausalidade. Ao pensar a fala priorizando a gagueira,<br />
pretende-se ajudar o indivíduo que sofre com esse problema a atingir um nível mais<br />
estável da fala, com um maior controle da gagueira, para que assim ele possa falar<br />
com mais fluência. Quando partimos do indivíduo fluente teremos, por exemplo, a<br />
53
abordagem psicossocial defendida por FRIEDMAN (1986, 1993) como um ponto de<br />
apoio para a idéia de competência de fala, focalizando a fluência enquanto uma<br />
realidade concreta na vida passada e presente do falante. A gagueira não é vista em<br />
oposição à fala fluente, mas como um momento tenso dentro dela. Sendo assim, a<br />
meta de obtenção da fala fluente deixa de ser o objeto da intervenção terapêutica e<br />
passa a ser consequência dela. Já encontrávamos também na abordagem<br />
fenomenológica (MEIRA, 1983) da gagueira, um ponto de apoio à essa idéia de<br />
gagueira permitida. O indivíduo gago deverá tomar consciência das suas tensões, das<br />
características da sua fala que superam a aparência das manifestações (bloqueios,<br />
repetições, etc.) comumente identificadas como sendo a gagueira pela visão positivista.<br />
Assim, o trabalho terapêutico se volta para o lidar com as camadas de tensões da<br />
gagueira, em vez de negá-la, proibi-la.<br />
O conhecimento científico na Fonoaudiologia, assim como em qualquer área do<br />
saber está submetido às realidades do objeto a ser pesquisado, do pesquisador e das<br />
condições culturais, sociais e históricas em que é produzido. Portanto, se as teorias<br />
colocam a gagueira sob diversos enfoques, cabe ao fonoaudiólogo formular suas<br />
próprias indagações e verificar a teoria que mais reflete o seu modo de pensar o<br />
indivíduo, o mundo, a linguagem e, por fim, o problema da gagueira. É necessário<br />
tomar cuidado para que a prática não se transforme em uma “colcha de retalhos”, onde<br />
diversas teorias são retiradas do seu contexto e costuradas sem consistência. É no<br />
sentido de levar o fonoaudiólogo a questionar-se que MEIRA (1983) afirma: “A partir<br />
daí, isto é, do situar-se diante da bibliografia, os profissionais optam por uma das linhas<br />
de trabalho propostas, sem deixar espaço para sua própria reflexão a respeito daquilo<br />
com que estão lidando em terapia (...), isto é, a respeito da gagueira” (p. 88). Agir<br />
assim é um engano, e os enganos nos levam a cometer erros. Quando “aplicamos”<br />
para cada paciente uma teoria diferente, cometemos um “homicídio” teórico-prático. O<br />
que podemos considerar válido é, antes, o processo de interpelar (PALLADINO, 1996)<br />
54
áreas de conhecimento que possam responder e aprofundar as questões que nos<br />
coloca o trabalho clínico terapêutico, no sentido de nortear e construir o caminho da<br />
clínica fonoaudiólogica, sem introduzir-mos idéias (e suas consequentes práticas)<br />
incompatíveis com a linha do pensamento teórico que seguimos.<br />
Ao nos deparar com as questões que o trabalho clínico nos impõe, devemos nos<br />
perguntar primeiramente sobre a natureza da nossa dúvida. Assim, as dúvidas podem<br />
ser relativas a aspectos orgânicos, psicológicos, lingüísticos ou sociais, relacionados ao<br />
problema que é objeto de tratamento. As dúvidas podem também ser relativas a como<br />
estabelecer a alta, ou relativas à “recidivas”, entre outras. Em todos os casos, os<br />
critérios para essa definição começarão a ser respondidos no ponto de partida, de<br />
acordo com os princípios teóricos e práticos adotados, ou seja, entre outros aspectos,<br />
estará em pauta o que o terapeuta priorizou com relação ao paciente, a correção ou a<br />
construção da fala.<br />
Assumir a competência de fala, ou seja, redimensionar no contexto da fala<br />
gaguejada, a fluência já presente na fala do indivíduo, que não é valorizada por ele<br />
porque “sua consciência se ocupa apenas da gagueira” (como mostra FRIEDMAN,<br />
1986), nos parece o panorama adequado para se construir um processo terapêutico<br />
com o indivíduo que apresenta gagueira. Ao não deixar de ver a capacidade de fala<br />
efetiva do falante, o fonoaudiólogo rompe com a visão estigmatizada que se tem da<br />
gagueira. Devemos desenvolver uma visão crítica da sociedade em que terapeuta e<br />
paciente se inserem, para não sermos envolvidos pelos saberes de senso comum que<br />
formam a ideologia dominante, para os quais “falar certo é falar sem gaguejar” e “o<br />
fonoaudiólogo é visto como aquele que corrige mecanicamente problemas de fala”.<br />
A transformação no trabalho com a gagueira acontece quando o terapeuta<br />
concebe o outro (o paciente) como o representante de uma fala que não é inferior à<br />
sua, vendo os estados da mente, somados às emoções e às posturas corporais tensas,<br />
como condições que acabam por encobrir uma capacidade de fala íntegra,<br />
55
subvertendo, assim, o falar espontâneo em momentos de manifestação de tensão<br />
(força). Paciente e terapeuta não são dois tipos de falantes opostos, e aí se encontra<br />
um desafio: ambos deverão redescobrir juntos um novo processo comunicativo,<br />
caracterizado pela aceitação e tolerância dos padrões já estabelecidos e pela<br />
desestigmatização dos momentos de gagueira.<br />
Nessa construção de uma relação terapêutica em que o falante não é apenas<br />
visto como uma gagueira que se mostra, o fonoaudiólogo deve ser ouvinte do seu<br />
próprio discurso e de seu padrão de fala. Deve, além disso, colocar o conteúdo de seu<br />
discurso, não em confronto com as concepções que o paciente já traz, mas “ao lado”<br />
destas, compartilhando maneiras de olhar, falar, pensar, agir. “Lembremos que estar<br />
em relação significa religar-se a uma pessoa, lugar, acontecimento e, ao mesmo<br />
tempo, religar-se a si mesmo no sentido de uma unidade maior, de uma coerência<br />
interna” (SALOMÉ, 1994, 27).<br />
Entendemos que essa forma de compreensão bio-psico-social do sujeito não é<br />
exclusiva ao estudo da gagueira, mas que ela se estende para o campo<br />
fonoaudiológico como um todo. Nesse sentido, CUNHA (1997) afirma: “Parece-me<br />
fundamental assumirmos que nosso objeto não é a doença (...). Disto decorre que os<br />
diagnósticos não devem resultar em mera nomeação de doenças e que os processos<br />
terapêuticos não devem buscar exclusivamente a remoção de sintomas observáveis”<br />
(p. 11). Essa é uma importante mudança do olhar e do lugar do terapeuta na atividade<br />
clínica, embora muitas vezes o “cenário positivista” ainda permaneça montado e o<br />
fonoaudiólogo repita seu velho “script”.<br />
Durante nosso percurso, revendo a teoria e a prática com a gagueira, reforçamos<br />
a importância de se manter uma coerência entre o pensar e o fazer, a importância de<br />
manter um olhar conscientemente direcionado para o ponto de partida escolhido em<br />
nossa atuação (já que diferentes formas de ver o mundo levam a diferentes modos de<br />
agir sobre ele), reafirmando nosso vínculo com o indivíduo, e não com a patologia.<br />
56
Antes de explicitarmos os pontos fundamentais da terapia com a gagueira, em<br />
que o ponto de partida é a fluência, é preciso esclarecer de que gagueira estamos<br />
falando. Para o senso comum, a gagueira está vinculada a uma dificuldade<br />
caracterizada por um impedimento do ato motor da fala. A essa concepção se associa<br />
uma visão preconceituosa do gaguejar, que provoca um impacto negativo sobre quem<br />
fala. Para superar o senso comum e chegar a uma visão que passa por um<br />
aprofundamento científico, o fonoaudiólogo deverá fazer uso de uma terminologia<br />
adequada ao pensar e ao referir-se à gagueira.<br />
Não é por acaso que, na pesquisa de MEIRA (1983), a palavra gagueira vem<br />
acompanhada por outra que lhe integra o sentido e, na de FRIEDMAN (1986), ela vem<br />
adjetivada. MEIRA (1983) diferencia a <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA/PURA da <strong>GAGUEIRA</strong><br />
CONSTRUÍDA, FRIEDMAN (1986) opõe o uso da expressão <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL à<br />
expressão <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO. Esses cuidados terminológicos incorporam à<br />
palavra gagueira um universo conceitual científico, e portanto diferenciando do senso<br />
comum, que leva em conta o contexto de produção da fala. Em termos do<br />
conhecimento científico, a DISFLUÊNCIA ou <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL deve ser<br />
entendida como diferenciada da <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO. Na primeira, temos um<br />
fato normal, natural à fala de qualquer indivíduo, seja ele criança ou adulto, sendo que<br />
a DISFLUÊNCIA ocorre por fatores ligados à motricidade oral, à elaboração do<br />
pensamento, à incipiência ou falta de abrangência no vocabulário disponível para se<br />
expressar, bem como ao “contexto” emocional de quem fala em relação a quem ouve,<br />
entre outras variáveis possíveis. Sendo assim, a <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL ou<br />
DISFLUÊNCIA é um momento integrante da fala de qualquer pessoa e não está ligada<br />
a perturbações patológicas de ordem física ou psíquica, mas sim às condições em que<br />
se dá a fala espontânea dos indivíduos, que é antes de tudo um ato social, porque<br />
falamos com o objetivo de comunicar-nos com os outros, e não de perfeição na<br />
motricidade oral.<br />
57
Com relação à demarcação entre o que é <strong>GAGUEIRA</strong> (SOFRIMENTO) e o que é<br />
DISFLUÊNCIA, a caracterização do quadro não será dada simplesmente pela idade<br />
cronológica (não é a partir de uma idade “x” que gaguejar “vira” patológico) ou pela<br />
descrição quantitativa das hesitações, repetições de sons ou bloqueios, ambos<br />
aspectos frequentemente encontrados na literatura especializada, que não passam de<br />
juízos de valor. Não se pode estabelecer um diagnóstico diferencial (disfluência x<br />
gagueira) a partir da mensuração do dado aparente da fala (exemplo: repetir sons mais<br />
de duas vezes, gaguejar em mais de 10% da fala). O quadro de <strong>GAGUEIRA</strong><br />
SOFRIMENTO exige a compreensão, de um lado, dos valores, crenças e expectativas<br />
da família sobre a fala da criança e de como lida com as situações de fala gaguejada, e<br />
de outro, da articulação disso com a subjetividade do falante: pensamentos,<br />
sentimentos, bem como das correspondentes manifestações corporais. É importante<br />
pesquisar como a criança se vê, como ela reage a sua gagueira e aos outros, como<br />
lida com as situações de fala e de fala gaguejada. O diagnóstico diferencial entre<br />
DISFLUÊNCIA (<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL) e <strong>GAGUEIRA</strong> (SOFRIMENTO) não está<br />
meramente no padrão de fala, mas na subjetividade do falante face às circunstâncias<br />
em que a fala se construiu. É preciso identificar se está existindo a possibilidade de<br />
uma DISFLUÊNCIA vir a tornar-se uma <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO ou se esta já se<br />
instalou, e isso só pode ser feito, a partir de uma dialética entre a subjetividade e o<br />
conjunto das condições de fala experenciadas pelo indivíduo.<br />
Da mesma forma que a <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO (FRIEDMAN, 1986) deve ser<br />
entendida como diferenciada da <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL (ou DISFLUÊNCIA), a<br />
<strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA (MEIRA, 1983), formada pelo indivíduo gago, tem um<br />
significado diferente da <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA (pura) que, por sua vez, não equivale à<br />
DISFLUÊNCIA. Assim, ao analisar a atividade de fala gaguejada através do falante<br />
gago, MEIRA (1983) elaborou o conceito de <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA (invólucros de<br />
tensão). Ao trabalhar com os invólucros da gagueira-fenômeno, dissolvendo-os,<br />
58
atinge-se a essência da gagueira (ou <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA, PURA). Após o trabalho<br />
terapêutico, mesmo que o indivíduo gago apresente fluência na fala, segundo a autora,<br />
ele continua sendo gago, porque a <strong>GAGUEIRA</strong> ESSÊNCIA (PURA) está presente<br />
como possibilidade do Ser-no-mundo. Nesse contexto, o termo DISFLUÊNCIA refere-<br />
se aos falantes em geral, que não desenvolveram a <strong>GAGUEIRA</strong> CONSTRUÍDA.<br />
Tomando como referência a compreensão psicossocial da gagueira, que<br />
demanda do fonoaudiólogo esforços para a sua prevenção (e tratamento), vemos que a<br />
intervenção fonoaudiológica nos casos de DISFLUÊNCIA (<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL)<br />
deve ser desenvolvida no sentido de conduzir a família (ou escola) a uma clara<br />
compreensão dos fatores que condicionam a fala espontânea (que comporta também a<br />
DISFLUÊNCIA), bem como os que condicionam a fala com <strong>GAGUEIRA</strong><br />
(SOFRIMENTO). A conduta médica normal ou usual, de solicitar aos pais que<br />
aguardem para ver se a DISFLUÊNCIA se resolve ou se transforma em <strong>GAGUEIRA</strong><br />
(SOFRIMENTO) vê a gagueira como coisa e ignora que ela vai sendo construída ao<br />
longo das relações que não aceitam o padrão disfluente. É preciso evoluir nas<br />
possibilidades de intervenção, assumindo que no caso da gagueira, seja ela <strong>NA</strong>TURAL<br />
(disfluência) ou SOFRIMENTO, é preciso sempre agir, e não esperar. É necessário dar<br />
uma ajuda específica, aproveitando o contexto em que a fala e as relações sociais<br />
ocorrem. Em vez de aconselhar os pais a esperar, é preciso trabalhar seus conceitos,<br />
ou antes, seus preconceitos sobre a fala, de forma a poderem compreender a estreita<br />
relação entre produção de fala, contexto emocional, contexto linguístico e gagueira<br />
natural ou disfluência.<br />
Uma consideração importante a ser feita com relação ao diagnóstico de gagueira<br />
é a de que este não pode deixar de lado os conteúdos implícitos e explícitos envolvidos<br />
no processo de construção do indivíduo considerado gago. Crianças que apresentam<br />
atraso no desenvolvimento da linguagem ou dificuldades na organização dos sons da<br />
fala (distúrbio articulatório) podem manifestar um aumento da DISFLUÊNCIA<br />
59
(<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL) e, dependendo da forma como a família lida com essa<br />
condição, pode desencadear-se um quadro de <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO. Da mesma<br />
forma, crianças que desenvolveram grande habilidade lingüística, falando cedo e<br />
“corretamente”, podem ter suas disfluências, que na realidade são inerentes ao<br />
processo de elaboração do pensamento em palavras, compreendidas como algo<br />
incompatível com seu desempenho lingüístico, como algo que não deveria ocorrer o<br />
que, mais uma vez, dependendo das circunstâncias que cercam o indivíduo, pode<br />
desencadear a <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO. O velho mito que afirma o aparecimento da<br />
gagueira após uma situação de forte stress é míope ao fato de que as emoções podem<br />
alterar a fala e gerar disfluência em maior ou menor grau, como também MEIRA(1983)<br />
já havia mostrado. Isso, conforme a reação dos outros à gagueira, poderá transformar<br />
esse evento de <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL em SOFRIMENTO.<br />
Defendemos, assim, que são as determinações sociais específicas, agindo sobre<br />
o organismo e o psiquismo, que influenciam e modificam a imagem de falante de um<br />
indivíduo, determinando que ele passe a se ver como mau falante e a acreditar na sua<br />
incapacidade de falar, o que, por sua vez, gera-lhe grande tensão ao falar. As<br />
situações acima descritas ajudam a pensar que a produção da fala não pode ser<br />
compreendida a partir de rotulações “a priori”, préconcebidas, mas que é preciso antes<br />
considerar que o que difere uma DISFLUÊNCIA (<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL) de uma<br />
<strong>GAGUEIRA</strong> (SOFRIMENTO) é o estado subjetivo do falante.<br />
A ação clínica terapêutica, somando-se às propostas de MEIRA (1983) e<br />
FRIEDMAN (1986) naquilo que o “diálogo” entre ambas permite, apóia-se em aspectos<br />
mentais, emocionais e corporais, relativos à produção de fala e à <strong>GAGUEIRA</strong> (<br />
CONSTRUÍDA e SOFRIMENTO). Entendemos que esses aspectos são os tripé de<br />
apoio para a estruturação do trabalho com o paciente que manifesta gagueira. O<br />
aspecto mental refere-se à imagem de si, aos valores e crenças sobre a gagueira, as<br />
atribuições de sentido dados às situações de fala vividas. O aspecto emocional refere-<br />
60
se aos sentimentos e sensações que acompanham a visão que o indivíduo tem de sua<br />
fala. O aspecto corporal refere-se à vivência concreta do ato motor da fala, às tensões<br />
que se instauraram e automatizaram no corpo. Todos esses aspectos fazem parte da<br />
matéria prima a ser trabalhada com o paciente na terapia, e implicam num movimento<br />
que os relacionam e os integram na totalidade da fala, com e sem gagueira, para<br />
trabalhar o sujeito dentro de uma nova perspectiva, quer dizer, uma perspectiva<br />
diferente daquela que ele originalmente traz, de compreensão da construção da fala.<br />
Como vimos, ao trilhar um caminho em direção ao tratamento fonoaudiológico<br />
da gagueira, deveremos buscar uma teoria que se assente em visões de linguagem e<br />
de homem compatíveis com o pensar do terapeuta. Quando ajustamos o nosso foco,<br />
seja sobre a manifestação externa seja sobre o indivíduo fluente (estabelecendo assim<br />
um ponto de partida), devemos igualmente nos voltar para uma dada teoria, compatível<br />
com a visão adotada. Precisamos fazer sempre uma leitura das teorias (ou pesquisas),<br />
para além das palavras. Verificar, por exemplo, qual o enquadramento (Ciências<br />
Naturais ou Humanas) dado, qual a visão filosófica assumida (positivismo,<br />
fenomenologia, materialismo dialético), qual o alcance da investigação, quais as<br />
premissas consideradas para a explicação dos fatos, qual a validade das<br />
generalizações, entre outras.<br />
A partir disso, construir um roteiro que possa ir “radiografando” as teorias e nos<br />
situando criticamente diante da visão do autor, no que se refere à gagueira, mostrou-se<br />
fundamental. Formulamos esse roteiro por meio de algumas questões, que têm o<br />
objetivo de organizar e destacar informações essenciais para uma melhor<br />
compreensão das teorias:<br />
• O autor se baseia em teorias de outros autores ou propõe uma teoria original.<br />
Nesse sentido, o autor adapta algum método?<br />
• Qual a posição do autor frente à gagueira? É coerente com o método<br />
proposto para abordá-la?<br />
61
• Qual o campo de estudo ou articulação de campos (medicina, lingüistica,<br />
psicologia, educação, fonoaudiologia) que serviu de base para o<br />
entendimento da gagueira?<br />
• O foco do autor está na gagueira (manifestação externa, desviante) ou no<br />
indivíduo (análise qualitativa da atividade de fala e da subjetividade)?<br />
• Qual (is) a (s) causa (s) que atribui a gagueira?<br />
• Que visão de linguagem e de homem defende?<br />
• Há priorização dos aspectos quantitativos e descritivos?<br />
• Há priorização dos aspectos relacionais e comunicativos?<br />
• Como é o percurso terapêutico?<br />
Quando propusemos a idéia de um ponto de partida para orientação da prática do<br />
fonoaudiólogo, quisemos marcar as diferenças principais entre a visão positivista<br />
(ponto de partida - gagueira) e visão psicossocial (ponto de partida - fluência) da<br />
fala com gagueira. Tomando como base a idéia de que uma fala gaguejada<br />
(<strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL) é uma manifestação normal presente na fala fluente de todos<br />
os falantes e tendo essa concepção como esteio das concepções por nós assumidas,<br />
poderemos fazer uma leitura nas entrelinhas de alguns “discursos” que mantém seu<br />
enfoque da gagueira apenas no interior de uma visão patológica da linguagem,<br />
enquanto mero desvio em relação à norma. O que dizem essas “falas”:<br />
“Gagueira é um problema para a psicologia... Tratamento não se baseia em um<br />
único método..., não são as reações críticas da família o fato mais importante para a<br />
gagueira... as causas da gagueira só podem ser entendidas de acordo com cada<br />
caso... trabalhar a consciência é fazer com que o paciente entenda que precisa se<br />
esforçar para falar sem gaguejar... eu uso essa teoria (da gagueira) somente quando o<br />
paciente precisa construir a imagem de bom falante...ele terá alta se conseguir falar<br />
sem a gagueira... a mãe disse que nunca chamou a atenção dele por causa da fala,<br />
mas ele é gago...”<br />
62
Nesses fragmentos de discursos, observa-se uma abordagem mecanicista da<br />
gagueira, que é vista como um defeito orgânico ou problema psicológico, levando o<br />
fonoaudiólogo a um reducionismo e esvaziamento da teoria e da prática. Além disso,<br />
os significados captados na entrelinhas dessas “falas” apontam para uma análise<br />
desfocada e dogmática da gagueira e do indivíduo. Como nos mostra FRIEDMAN<br />
(1986, 1993), a linguagem em si, o psicólogo em si, o orgânico em si e o social em si,<br />
não são decisivos para a formação da identidade de falante. O que contribui para essa<br />
formação são conteúdos que histórica e ideologicamente constituem a crença vigente,<br />
sobre as peculiaridades da expressão linguística dos indivíduos, que, na articulação<br />
com as representações do sujeito, seu meio sócio-cultural e a linguagem, passam a<br />
construir essa identidade, processo que não é, e não pode ser, entendido de forma<br />
direta, na base do estímulo-resposta.<br />
Um ponto relevante sobre o qual gostaríamos ainda de levantar uma discussão é<br />
o da CURA da gagueira. A idéia de cura nos remete à oposição saúde e doença. Se<br />
pensarmos de forma literal, a cura para a gagueira (doença) seria atingir a fala fluente<br />
(saúde). Mas isso não funciona, quando se entende que a fala fluente contém falhas,<br />
contém gagueira. A atitude do terapeuta de fixar-se na gagueira enquanto doença ou<br />
defeito, sem achar necessário procurar a compreensão de seus determinantes, ou seja,<br />
sem procurar um sentido para a manifestação, parece tão alienada quanto a do falante<br />
que gagueja, quando acredita que precisa parar de gaguejar, para obter a fala<br />
desejada. Como diz Groddeck com relação à medicina, e que seria legítimo afirmar<br />
também para a fonoaudiologia: “É impostura de uma medicina que gostaria de curar os<br />
corpos e reduzi-los a uma saúde não humana” ( in EPI<strong>NA</strong>Y, 1988, 61). Na mesma<br />
direção argumenta CANGUILHEM (1995), para quem “a doença não deixa de ser uma<br />
espécie de norma biológica, consequentemente o estado patológico não pode ser<br />
chamado de anormal no sentido absoluto, mas anormal apenas na relação com uma<br />
situação determinada” (p. 58). Uma postura mecanicista enclausura o orgânico e tenta<br />
63
dele tirar uma norma, que sempre vai ser relativa e ideológica. O corpo e a função do<br />
corpo são colocados à frente da humanidade, fechando-se neles mesmos. O que<br />
realmente nos parece importante para o fonoaudiólogo é o ser que está diante dele,<br />
que extrapola a dimensão orgânica, a doença, e se revela na sua forma de produção<br />
de vida, e produção de fala no mundo. Portanto, se a fluência não é a ausência de<br />
gagueira, a cura não é levar o indivíduo gago a um estado de saúde ideal e definitivo<br />
com relação a uma fala, também ideal (ilusória), quanto ao padrão de fluência.<br />
Um outro ponto relevante de discussão é o das “orientações básicas” com relação<br />
à fala gaguejada. A família comumente vê a gagueira como algo desolador e não tem<br />
a possibilidade de saber qual fala com gagueira é normal e qual não é. Salientamos<br />
que a nossa discussão sobre as “orientações” deve estar circunscrita à noção de que<br />
a queixa dos pais se refere sempre à noção, que aqui chamamos, de <strong>GAGUEIRA</strong><br />
SOFRIMENTO (no sentido de visão estigmatizada), ou algo no limiar dela. FRIEDMAN<br />
(1996) delimita as fronteiras entre a abordagem terapêutica com indivíduos que são<br />
vistos como gagos (que apresentam uma gagueira natural/disfluência desvinculada de<br />
uma imagem de falante estigmatizada) e a abordagem terapêutica com indivíduos que<br />
se vêem e são vistos como gagos (quadro característico da gagueira sofrimento). Isso,<br />
entendemos, confirma a importância de sempre esclarecer, para nós terapeutas e para<br />
o cliente, sobre que gagueira estamos falando. Isso significa aprendermos a diferença<br />
qualitativa entre <strong>GAGUEIRA</strong> <strong>NA</strong>TURAL e <strong>GAGUEIRA</strong> SOFRIMENTO no que diz<br />
respeito aos conteúdos da subjetividade.<br />
com ela.<br />
O discurso terapêutico com a família pode ser construído para a família ou junto<br />
O discurso para a família se traduz em “receitas” de comportamentos afetivos,<br />
verbais e físicos que seus membros devem ter diante da criança que gagueja.<br />
Exemplos: “Não recrimine a fala gaguejada, fale devagar e com voz calma, retire do<br />
64
osto expressões de desagrado, seja um bom ouvinte, não diga para ela ficar calma ou<br />
respirar fundo...”<br />
Parecendo adequadas, essas “falas terapêuticas” ficam soltas no contexto<br />
familiar. Tentam apenas acomodar o comportamento dos pais àquilo que o terapeuta<br />
diz ser o certo. De um ponto de vista superficial, parece ser suficiente dizer para o pai e<br />
a mãe o que eles não devem fazer, mas de um ponto de vista que compreende que as<br />
pessoas vivem de acordo com suas concepções, não adianta apenas dizer o que deve<br />
ou não ser feito, porque as pessoas apenas passam a fazer o que já faziam de outro<br />
modo, justamente porque a concepção que sustentava seu fazer, não mudou. A<br />
orientação não é, assim, um “cardápio” do que se pode e do que não se pode fazer<br />
com relação à gagueira. A família, quando vista pelo terapeuta como um elemento<br />
estanque, deverá receber deste uma “ lista” de orientações e subseqüentemente<br />
aguardar que o trabalho terapêutico atinja o resultado esperado: o fim da fala com<br />
gagueira. Entretanto, é nossa convicção que devemos cuidar para que as<br />
“orientações” não se transformem em um manual de “assistência técnica autorizada”,<br />
complementado pela idéia de “cura” (anteriormente abordada); é preciso, ao contrário<br />
um envolvimento com a família, para consolidar os pontos conquistados no sentido de<br />
novos modos de ver a gagueira. Assim, o encaminhamento adequado do trabalho se<br />
daria via “orientação” ou via um processo? Elegendo a fluência como ponto de partida<br />
para o entendimento e tratamento da gagueira, consideramos as orientações como um<br />
processo a ser desenvolvido junto com a família.<br />
Na construção do discurso junto com a família, ela tem espaço para explicitar<br />
sentimentos, valores, crenças e atitudes diante da fala gaguejada e poder colocar sua<br />
forma particular de entender e ajudar a criança. Essa forma particular é o objetivo do<br />
trabalho. É preciso fazer emergir a concepção que os pais têm sobre a fala, sobre a<br />
gagueira e sobre a fala do seu filho, o quanto essa fala os preocupa e lhes parece não<br />
estar de acordo com as expectativas que a família tem de um falante ideal. É preciso<br />
65
descobrir com os pais qual a fala que queriam que o filho tivesse, para poder trabalhar<br />
com eles o que de fato é a fala. É preciso ajudá-los a compreender seus valores para<br />
poder ajudar a relativizá-los, ao apresentar-lhes uma visão mais aprofundada da fala. É<br />
preciso fazê-los compreender que a gagueira não é uma deficiência da fala, mas sim,<br />
uma manifestação coerente com certos estados emocionais associados ao processo<br />
complexo de tradução do pensamento em palavras, a partir do repertório linguístico da<br />
criança, que não lhe permite fluir de outro modo, menos hesitante ou repetitivo, no<br />
encaminhamento das “imagens” mentais. Não é portanto, levar os pais a esperarem<br />
que a gagueira desapareça, mas a entenderem o que significa o aparecimento da<br />
gagueira no processo de produção da linguagem. O aparecimento da gagueira não vai<br />
simplesmente desaparecer, vai antes, modificar-se com o tempo, porque, na<br />
motricidade, no campo emocional, na auto-imagem e nas relações com o social, vão<br />
surgindo novos encadeamentos com o desenvolvimento do indivíduo, que abrirão<br />
espaço para essa modificação, para a fluência. A gagueira deixa de ser um sofrimento,<br />
seja para os pais, seja para o indivíduo, para se tornar natural. Ela assim pode fazer<br />
parte da fala de qualquer ser humano, conforme a observação da fala dos falantes<br />
comuns pode nos mostrar.<br />
Ao contrapor as duas formas de discurso do terapeuta aqui assinaladas,<br />
poderíamos, à guisa de exemplo, descrever como seria um discurso onde o terapeuta<br />
não receita regras de comportamento:<br />
“...Realmente vocês têm razão em se preocupar com a fala gaguejada, porque até<br />
então a única referência que tinham dessa fala era a de um grande problema... Sem<br />
nenhum outro entendimento da situação vocês só poderiam, sentir e agir assim...<br />
Precisamos parar para refletir se é preciso mesmo que o seu filho fale sem gagueira....<br />
o que faz com que busquemos essa solução.... vamos olhar a fala toda, inteira, do seu<br />
filho? ... a fala com gagueira e a que não tem gagueira.... vamos ver como vocês vêm<br />
ajudando seu filho... porque como existem maneiras diferentes de perceber a mesma<br />
66
situação... maneiras científicas e não, de senso comum cheias de mitos e<br />
preconceitos... com certeza encontraremos novas formas de perceber essa situação....”<br />
O que consideramos aqui, é que uma orientação clássica quanto à postura<br />
adequada da família frente à gagueira (“não complete sentenças, preste atenção ao<br />
que a criança quer dizer, evite palavras ou reações negativas, etc.”) somente fará<br />
sentido depois que os pais tiverem sido trabalhados quanto às visões e preconceitos<br />
(as visões do senso comum) que têm da criança e da sua forma de fala em especial.<br />
Devemos estar atentos para o perigo de se trabalhar com uma concepção de família<br />
inventada em vez de trabalhar com a família real. Não se pode substituir a “verdade” da<br />
família por uma simples “orientação”. Nosso objetivo com os pais é o de que eles<br />
possam vir a valorizar a fala gaguejada a fim de reduzir a frustração na comunicação<br />
que estão produzindo inadvertidamente na criança, porque ela não fala da forma<br />
idealizada que esperam. Quando a família consegue dar valor à fala da criança, do<br />
modo como ela espontaneamente se produz, naturalmente surgem atitudes que<br />
demonstram isso. É essa qualidade de relacionamento de comunicação com a criança<br />
que deve ser encontrada e reforçada. Nas palavras de Jacques Salomé: “Tenhamos a<br />
ousadia de reinventar uma comunicação viva e relações saudáveis com nossos filhos,<br />
conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta, para superar nossos velhos<br />
esquemas, para libertar outras possibilidades” ( SALOMÉ, p. 77).<br />
Ao compor as idéias deste trabalho, tínhamos a preocupação de resgatar, para o<br />
fonoaudiólogo, a noção de que as dificuldades e inseguranças diante do tratamento da<br />
manifestação de gagueira na fala não se devem à falta de teorias explicativas e<br />
métodos para o seu trabalho terapêutico. Quando: abrimos um diálogo entre as<br />
teorias, buscamos as implicações na prática, propusemos pontos de partida para o<br />
trabalho clínico, discutimos as questões envolvidas no conceito de cura da gagueira e<br />
orientações à família e traçamos um roteiro que servisse de “bússola” para caminhar<br />
por outros textos; quisemos com isso mostrar que o tema gagueira pode receber da<br />
67
Fonoaudiologia respostas positivas para quebrar o estigma que carrega; que existem<br />
boas possibilidades para sua compreensão e para o desenvolvimento de intervenções<br />
dentro da especificidade do quadro. Mas, mesmo assumindo um referencial teórico-<br />
prático coerente “não se pode negligenciar o fato de que a formação do terapeuta está<br />
intrinsecamente relacionada à sua formação pessoal, constituída pelas experiências de<br />
vida do sujeito, experiências nas quais ele desenvolve e explicita sua sensibilidade<br />
para a apreensão do fenômeno humano de um modo geral, e em particular para as<br />
manifestações ‘patológicas’ e de sofrimento existencial” (PASSOS, 1996, 63). É<br />
preciso, assim, lembrar que não se faz um terapeuta; o terapeuta é que se faz.<br />
Falar, olhar, silenciar, interagir, prender, comunicar, permutar, afirmar-se,<br />
testemunhar, pensar, definir, reparar, pedir... Como uma obra de arte que pode ser lida<br />
de várias maneiras, a interação entre o terapeuta e indivíduo com gagueira, também<br />
pode ser traduzida de muitas formas. Quando não conseguimos transgredir as palavras<br />
e sons tensos ficamos mutilados. Permanecemos na impotência de resolver a<br />
aparência.<br />
Na fala gaguejada o que interessa para que a comunicação se efetive é o seu<br />
conteúdo semântico. Devemos cuidar para não propor uma terapia que leve terapeuta<br />
e paciente a incomunicar.<br />
68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ARANHA, M.L.A. & MARTINS, M.H.P. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo,<br />
Moderna, 1986. 443 p.<br />
CANGUILHEM, G. O normal e o Patológico. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1995.<br />
307 p.<br />
CUNHA, M.C. Fonoaudiologia e Psicanálise: A Fronteira como território. São Paulo,<br />
1997. [Tese-Doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo]<br />
EPI<strong>NA</strong>Y, M.L.d’. Groddeck: a doença como linguagem. São Paulo, Papirus, 1988. 165 p.<br />
FRIEDMAN, S.; MELLO, Y.R.A.S.; MONTENEGRO, M.E.; POTEL, I.<br />
Uma análise da atuação do Fonoaudiólogo em relação a terapia de gagueira. In:<br />
Anais do I Encontro Nacional de Fonoaudiologia. São Paulo, 1982. p. 139-142.<br />
FRIEDMAN, S. Gagueira: Origem e tratamento. São Paulo, Summus, 1986. 143 p.<br />
__________ . A Construção do Personagem Bom Falante. São Paulo, Summus, 1993.<br />
185 p.<br />
69
__________ . Reflexões sobre a natureza e o tratamento da gagueira. In: PASSOS,<br />
M.C. (org.) Fonoaudiologia: Recriando seus sentidos. São Paulo, Plexus,<br />
1996. p. 81-17.<br />
__________ . Gagueira. In: LOPES FILHO, O. ed. Tratado de Fonoaudiologia. São<br />
Paulo, Roca, 1997. p. 971-999.<br />
GOFFMAN, E. Estigma: Notas sobre a manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de<br />
Janeiro, Zahar, 1980. 158 p.<br />
LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa, Livros Horizonte,<br />
1975. 350 p.<br />
MEIRA, M.I.M. Gagueira: Do Fato para o Fenômeno. São Paulo, Cortez, 1983. 144 p.<br />
__________ . Gagueira: uma análise qualitativa. Distúrbios da Comunicação, São Paulo, 3<br />
(2) : 205 - 218, Janeiro, 1990.<br />
__________ . Gagueira: In Goldfeld, M org. Fundamentos em Fonoaudiologia -<br />
Linguagem. Rio de Janeiro, Guanabara - Koogan, 1988. p 53 - 68.<br />
PALLADINO, R.R.R. Encontros e desencontros da Fonoaudiologia.<br />
In: PASSOS, M.C. (org.) Fonoaudiologia: Recriando seus sentidos.<br />
São Paulo, Plexus, 1996. p. 45-52.<br />
70
PASSOS, M.C. Família e Clínica fonoaudiológica, em tese. In: ________________<br />
Fonoaudiologia: Recriando seus sentidos. São Paulo, Plexus, 1996. p. 53-68.<br />
SALOMÉ, J. Aprendendo a se Comunicar : você se revela quando fala.<br />
Rio de Janeiro, Vozes, 1994. 187p.<br />
SCHAFF, A. História e verdade. São Paulo, Martins Fontes, 1986. 317 p.<br />
71