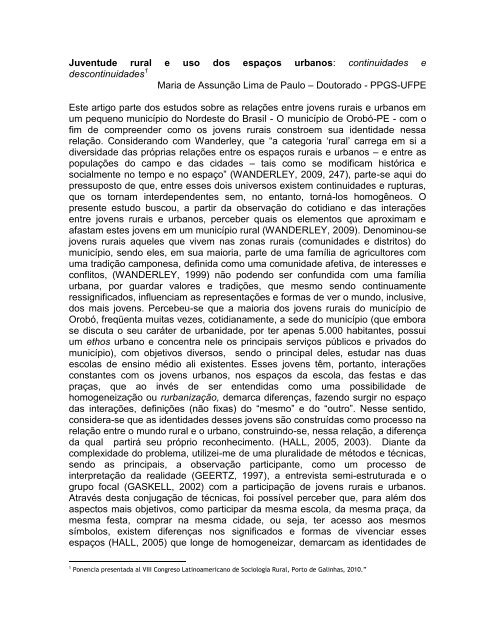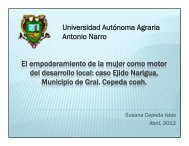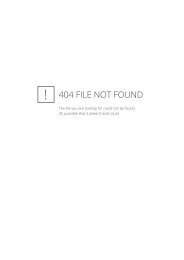Juventude rural e uso dos espaços urbanos: continuidades ... - alasru
Juventude rural e uso dos espaços urbanos: continuidades ... - alasru
Juventude rural e uso dos espaços urbanos: continuidades ... - alasru
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Juventude</strong> <strong>rural</strong> e <strong>uso</strong> <strong>dos</strong> <strong>espaços</strong> <strong>urbanos</strong>: <strong>continuidades</strong> e<br />
des<strong>continuidades</strong> 1<br />
Maria de Assunção Lima de Paulo – Doutorado - PPGS-UFPE<br />
Este artigo parte <strong>dos</strong> estu<strong>dos</strong> sobre as relações entre jovens rurais e <strong>urbanos</strong> em<br />
um pequeno município do Nordeste do Brasil - O município de Orobó-PE - com o<br />
fim de compreender como os jovens rurais constroem sua identidade nessa<br />
relação. Considerando com Wanderley, que “a categoria „<strong>rural</strong>‟ carrega em si a<br />
diversidade das próprias relações entre os <strong>espaços</strong> rurais e <strong>urbanos</strong> – e entre as<br />
populações do campo e das cidades – tais como se modificam histórica e<br />
socialmente no tempo e no espaço” (WANDERLEY, 2009, 247), parte-se aqui do<br />
pressuposto de que, entre esses dois universos existem <strong>continuidades</strong> e rupturas,<br />
que os tornam interdependentes sem, no entanto, torná-los homogêneos. O<br />
presente estudo buscou, a partir da observação do cotidiano e das interações<br />
entre jovens rurais e <strong>urbanos</strong>, perceber quais os elementos que aproximam e<br />
afastam estes jovens em um município <strong>rural</strong> (WANDERLEY, 2009). Denominou-se<br />
jovens rurais aqueles que vivem nas zonas rurais (comunidades e distritos) do<br />
município, sendo eles, em sua maioria, parte de uma família de agricultores com<br />
uma tradição camponesa, definida como uma comunidade afetiva, de interesses e<br />
conflitos, (WANDERLEY, 1999) não podendo ser confundida com uma família<br />
urbana, por guardar valores e tradições, que mesmo sendo continuamente<br />
ressignifica<strong>dos</strong>, influenciam as representações e formas de ver o mundo, inclusive,<br />
<strong>dos</strong> mais jovens. Percebeu-se que a maioria <strong>dos</strong> jovens rurais do município de<br />
Orobó, freqüenta muitas vezes, cotidianamente, a sede do município (que embora<br />
se discuta o seu caráter de urbanidade, por ter apenas 5.000 habitantes, possui<br />
um ethos urbano e concentra nele os principais serviços públicos e priva<strong>dos</strong> do<br />
município), com objetivos diversos, sendo o principal deles, estudar nas duas<br />
escolas de ensino médio ali existentes. Esses jovens têm, portanto, interações<br />
constantes com os jovens <strong>urbanos</strong>, nos <strong>espaços</strong> da escola, das festas e das<br />
praças, que ao invés de ser entendidas como uma possibilidade de<br />
homogeneização ou rurbanização, demarca diferenças, fazendo surgir no espaço<br />
das interações, definições (não fixas) do “mesmo” e do “outro”. Nesse sentido,<br />
considera-se que as identidades desses jovens são construídas como processo na<br />
relação entre o mundo <strong>rural</strong> e o urbano, construindo-se, nessa relação, a diferença<br />
da qual partirá seu próprio reconhecimento. (HALL, 2005, 2003). Diante da<br />
complexidade do problema, utilizei-me de uma pluralidade de méto<strong>dos</strong> e técnicas,<br />
sendo as principais, a observação participante, como um processo de<br />
interpretação da realidade (GEERTZ, 1997), a entrevista semi-estruturada e o<br />
grupo focal (GASKELL, 2002) com a participação de jovens rurais e <strong>urbanos</strong>.<br />
Através desta conjugação de técnicas, foi possível perceber que, para além <strong>dos</strong><br />
aspectos mais objetivos, como participar da mesma escola, da mesma praça, da<br />
mesma festa, comprar na mesma cidade, ou seja, ter acesso aos mesmos<br />
símbolos, existem diferenças nos significa<strong>dos</strong> e formas de vivenciar esses<br />
<strong>espaços</strong> (HALL, 2005) que longe de homogeneizar, demarcam as identidades de<br />
1 Ponencia presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, 2010.”
jovens rurais, também não homogêneas, mas que têm como base os valores que<br />
se constituem no diálogo entre a tradição e a modernidade (GIDDENS, 2002).<br />
Assim, pode-se concluir que na vivência <strong>dos</strong> jovens rurais, entre os elementos da<br />
tradição e da modernidade, do <strong>rural</strong> e do urbano, existem <strong>continuidades</strong> e<br />
des<strong>continuidades</strong>.<br />
Palavras- chave: <strong>Juventude</strong> <strong>rural</strong>, <strong>rural</strong>, urbano.<br />
Introdução:<br />
A discussão sobre a relação <strong>rural</strong>/urbano sempre permeou o campo da<br />
sociologia <strong>rural</strong> instigando inúmeras discussões sobre o tema. Atualmente, esse<br />
debate gira em torno de três perspectivas: A primeira delas, parte da oposição<br />
<strong>rural</strong>/urbano, definindo o <strong>rural</strong> como o espaço ligado à tradição, e, portanto, ao<br />
atraso, enquanto o urbano é definido como o espaço do desenvolvimento. Esta<br />
perspectiva, que fundamenta ideologicamente, a oposição <strong>rural</strong>/urbano e que<br />
prevê o fim do <strong>rural</strong> nas sociedades contemporâneas, serviu de base teórica para<br />
muitos estu<strong>dos</strong> no Brasil. Sob essa ótica, o <strong>rural</strong> e o urbano são percebi<strong>dos</strong> como<br />
mun<strong>dos</strong> dicotômicos.<br />
Destarte, no Brasil, como no mundo, muitas foram as transformações<br />
sofridas pelo meio <strong>rural</strong> a partir da segunda metade do século XX e com elas,<br />
novas visões sobre ele vêem sendo construídas impulsionando um instigante<br />
debate sobre os impactos dessa transformação.<br />
Na década de 1980, no Brasil, José Graziano da Silva coordenou o projeto<br />
Rurbano ligado ao Instituto de economia da UNICAMP – Campinas- SP, por meio<br />
do qual, foram desenvolvidas pesquisas sobre o que ficou denominado “Novo<br />
Rural Brasileiro”. Na obra de mesmo título, o autor afirma a diferença entre o <strong>rural</strong><br />
e o urbano é cada vez mais importante, enfatizando que o <strong>rural</strong> hoje é um<br />
continuum do urbano. (SILVA, 1999, p.1). E continua afirmando que o meio <strong>rural</strong><br />
brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas principalmente pelo processo de<br />
industrialização da agricultura e pelo transbordamento do mundo urbano no<br />
espaço que tradicionalmente era tido como <strong>rural</strong>. Apoiando-se em da<strong>dos</strong> do<br />
IBGE/PNAD 2 , o autor buscou demonstrar que o meio <strong>rural</strong> do Brasil está marcado<br />
hoje pelo crescimento de atividades não agrícolas e a diminuição das atividades<br />
2 Instituto Brasileiro de Geografia e estatística/ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio.
agrícolas, casadas com mais acesso a políticas de infra-estrutura, interpretadas<br />
por ele como urbanização do campo, tornando assim, insignificante a diferença<br />
entre o <strong>rural</strong> e o urbano.<br />
Entretanto, levando em conta tais mudanças no meio <strong>rural</strong>, outra<br />
perspectiva de análise reconhece a pertinência das categorias <strong>rural</strong> e urbano para<br />
explicar a diversidade de formas atuais de vida social. Percebe que o meio <strong>rural</strong> é<br />
o resultado de um processo histórico e de relações sociais específicas, que não se<br />
diluem em meio aos contatos freqüentes com o mundo urbano ou pela inserção de<br />
elementos tecnológicos em sua realidade, não podendo ser pensado fora das<br />
relações com a sociedade englobante. O <strong>rural</strong> é multifacetário e multifuncional,<br />
não podendo ser pensado a partir de uma única dimensão, tampouco afastado<br />
das relações sociais com o meio urbano. (WANDERLEY,2009)<br />
Sob essa ótica o mundo <strong>rural</strong> deve ser visto em uma relação dialética por<br />
meio da qual pode-se considerar que há entre estes dois <strong>espaços</strong> <strong>continuidades</strong> e<br />
des<strong>continuidades</strong>.<br />
Para construir sua argumentação, Wanderley recupera Mendras, e através<br />
da sua leitura considera três características para pensar o <strong>rural</strong>: “A vida em<br />
pequenos grupos; a relação de interconhecimento e a relação de proximidade com<br />
a natureza” 3 . Estas características são particularmente construídas em contextos<br />
sócio-históricos específicos e são responsáveis por relações que resultam de<br />
práticas e representações particulares a respeito do espaço, do tempo, do<br />
trabalho, da família, etc. Sendo assim, o <strong>rural</strong> não se constitui como uma essência<br />
imutável, mas como uma categoria histórica que se transforma.<br />
No sentido de contribuir com essa discussão, tive como objetivo estudar a<br />
participação do jovem <strong>rural</strong> nos <strong>espaços</strong> <strong>urbanos</strong> no pequeno município de Orobó-<br />
PE 4 .<br />
3 Henri Mendras (1978) afirma que as sociedades camponesas são organizadas em coletividades,<br />
relativamente pequenas e autônomas, instaladas sobre o território que exploram, estabelece entre si uma<br />
relação de interconhecimento que marca uma organização mais ou menos coletivizada e mais ou menos<br />
individualizada, marcada por uma homogeneidade cultural e uma heterogeneidade social.<br />
4 Este município possui uma população total de 22.800 habitantes, com apenas cerca de 5.000<br />
vivendo em sua sede, o que o caracteriza como um município <strong>rural</strong> 4 . O mesmo está situado na<br />
micro-região do agreste setentrional de Pernambuco.
A juventude <strong>rural</strong> é aqui entendida como uma categoria socialmente<br />
construída constituindo uma situação específica da condição juvenil determinada<br />
pelo lugar de vida (ABRAMO, 2005). O jovem <strong>rural</strong> 5 tem tendo como característica<br />
a vida no meio <strong>rural</strong> a partir do qual constrói suas relações familiares das quais<br />
alicerça sua visão de mundo.<br />
Na pequena cidade de Orobó, sede do município, a vida cotidiana é<br />
movimentada pela intensa presença de jovens e adultos das zonas rurais em<br />
busca de serviços, como escolas, hospitais, correios, comércio, igreja, instituições<br />
políticas, entre outros. Esse fluxo é responsável pela dinâmica dessas cidades,<br />
bem como pelo seu desenvolvimento. Dentre os atores que transitam naquele<br />
espaço, os principais e mais constantes, pela atividade cotidiana que ali praticam<br />
– estudar - são os jovens das várias comunidades rurais.<br />
Giddens (1989) enfatiza que toda ação por si, é propulsora de<br />
transformação e nesse sentido, a presença desses jovens naquele espaço o<br />
transforma ao mesmo tempo em que transforma suas vidas a partir da carga de<br />
conhecimentos que constroem.<br />
Para além dessa auto-transformação que se estende para os <strong>espaços</strong> onde<br />
freqüenta, as moças e rapazes das zonas rurais, ao participar <strong>dos</strong> <strong>espaços</strong><br />
<strong>urbanos</strong>, preenche-os de novos significa<strong>dos</strong> e interpela os habitantes da cidade,<br />
construindo a partir daí interações marcadas por várias aproximações e estigmas<br />
que conduzem a ele e ao “outro” a refletirem sobre si e sobre suas ações,<br />
influenciando no processo de construção de suas identidades. Como afirma Luiz<br />
Eduardo Soares a “identidade só existe no espelho e este espelho é o olhar do<br />
outro”. (2005: p. 206).<br />
Todo espaço ganha sentido a partir das práticas que os atores sociais neles<br />
desenvolvem, (CERTEAU, 1993) por isso, <strong>espaços</strong> comuns como as escolas, as<br />
praças, as festas, não são vivencia<strong>dos</strong> da mesma forma pelos rapazes e moças<br />
das zonas rurais e os da sede do município. As formas, os horários, o objetivos<br />
5 Mesmo compreendendo que a juventude é socialmente construída, para efeitos metodológicos,<br />
nessa pesquisa foi incluído jovens com faixa etária entre 14 e 25 anos, seguindo os critérios já<br />
utiliza<strong>dos</strong> em vários estu<strong>dos</strong> sobre juventude <strong>rural</strong>.
através <strong>dos</strong> quais vivenciam esses <strong>espaços</strong>, bem como os senti<strong>dos</strong> que atribuem<br />
a cada um deles, identificam comportamentos, valores e visões de mundo.<br />
É sob esse argumento, que discutirei aqui através de uma etnografia 6<br />
(GEERTZ, 1997) a participação <strong>dos</strong> rapazes e moças rurais dois <strong>espaços</strong> <strong>urbanos</strong><br />
diferentes: A escola e a festas.<br />
1. A vivência <strong>dos</strong> jovens rurais no espaço da escola<br />
Uma das constatações de importantes pesquisas realizadas no Brasil, é<br />
que uma das características atuais da juventude <strong>rural</strong>, que a aproxima da urbana é<br />
seu interesse pelos estu<strong>dos</strong>. (CARNEIRO, 2005; WANDERLEY, 2006). De fato,<br />
apesar de haver ainda uma marcante evasão escolar por parte, principalmente,<br />
<strong>dos</strong> rapazes da zonas rurais 7 , a maioria <strong>dos</strong> jovens, rapazes e moças rurais,<br />
buscam terminar o ensino médio e grande parte deles sonha em cursar o ensino<br />
superior, possibilidade que já não é totalmente alheia à realidade de Orobó.<br />
Com 35 escolas municipais de ensino fundamental nas zonas rurais, o<br />
município possui apenas três escolas estaduais de ensino médio. Uma<br />
funcionando no distrito de Matinadas 8 e as outras duas na sede do município:<br />
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Abílio de Souza Barbosa<br />
(A.B.S.) e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rita Maria da<br />
Conceição (R.M.C.). São essas duas Escolas que agregam a maior parte <strong>dos</strong><br />
jovens do município que estão cursando o ensino médio, sendo na primeira que se<br />
concentra maioria parte <strong>dos</strong> rapazes e moças das zonas rurais.<br />
Foi nesta última que concentrei minhas pesquisas para a tese de doutorado<br />
sobre a construção da identidade <strong>dos</strong> jovens rurais, na relação com o meio urbano<br />
e é sobre as vivências, interações e significa<strong>dos</strong> construí<strong>dos</strong> no espaço dessa<br />
6 Para Geertz (1997), a etnografia permite estabelecer relações com o grupo pesquisado,<br />
selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear situações, mas,<br />
sobretudo “dar conta das estruturas significantes que estão por trás do menor gesto humano, por<br />
intermédio de uma interpretação aguçada onde os gestos, olhares, sorrisos interferem nos senti<strong>dos</strong><br />
que as palavras pretendem comunicar”(GEERTZ, 1997, p.15).<br />
7 Esta evasão se deve não uma desvalorização <strong>dos</strong> estu<strong>dos</strong>, mas à necessidade, principalmente<br />
<strong>dos</strong> rapazes de migrarem em busca de trabalho em outras regiões, uma vez que o município não<br />
lhes garante essa condição.<br />
8 Este distrito fica situado à cerca de 15 km da sede do município, sendo o maior distrito do<br />
município de Orobó.
escola que irei discutir neste artigo. É imprescindível deixar claro que não<br />
pretendo aqui fazer um estudo a fundo da função da Escola, como instituição<br />
responsável na formação <strong>dos</strong> jovens rurais ou <strong>urbanos</strong>.<br />
A escola A.S.B. possui hoje cerca de 1.100 alunos estudando nos três<br />
turnos, sendo a maior parte no turno da tarde que concentra em média entre 700 e<br />
800 alunos. Estes, ficam recl<strong>uso</strong>s no prédio desde o início do horário das aulas,<br />
12:30 hs até o término destas, 16:30, sendo o espaço interno da escola a única<br />
possibilidade de socialização durante o período das aulas. Luís Antônio Groppo<br />
(2000), ao discutir o surgimento da juventude como uma fase da vida, demonstra<br />
que a escola, sendo uma instituição criada especificamente para jovens, tem como<br />
característica, o controle do tempo e a normatividade do comportamento. Dentro<br />
de tais instituições a juventude possui a função social de maturação. Valorizando<br />
as devidas mudanças ocorridas nessa instituição, parece ser ainda esse o real<br />
objetivo da escola nos moldes como ali funciona.<br />
A Escola também foi percebida por mim como um espaço de descobertas,<br />
desenvolvimento da criatividade e talentos, mas também de competição.<br />
No que se refere ao espaço físico, além das salas de aula, a escola possui<br />
uma biblioteca, onde ocorre um bom fluxo de alunos, um laboratório de<br />
informática, cantina e quadra de esportes. Para muitos <strong>dos</strong> alunos das zonas<br />
rurais aquele é o único espaço onde têm acesso a livros e a informática.<br />
No entanto, para além da construção <strong>dos</strong> conhecimentos formais, a Escola<br />
é um <strong>dos</strong> importantes <strong>espaços</strong> de socialização e interação entre os jovens. Ali<br />
podem se desenvolver relações de amizade, paquera, namoro, intrigas, e mais<br />
que isso, a formação de grupos por laços de identificação. Como enfatiza Sposito<br />
(2005, p. 90) “A instituição escolar ao se expandir, surge também como um<br />
espaço de intensificação e abertura das interações com o outro e, portanto,<br />
caminho privilegiado para a ampliação da experiência de vida <strong>dos</strong> jovens que<br />
culminaria com sua inserção no mundo do trabalho.”<br />
Como espaço de interação a Escola é também propício à práticas de lazer,<br />
consumo, demonstração de vestimentas, estilos, etc. Nela se constituem “tribos” e<br />
estas se expandem para além do seu espaço. Como vêem demonstrando muitas
pesquisas sobre juventude, uma das características do jovem é a necessidade de<br />
viver em grupos. (PAIS, 2003)<br />
Nas próprias salas de aula os jovens se organizam em suas carteiras a<br />
partir das identificações, formando-se ali grupos, de moças, rapazes, ou grupos<br />
mistos que podem, mesmo no momento da aula, trocar idéias, fazer comentários,<br />
emitir opiniões e construir julgamentos.<br />
O que chama atenção na formação desses grupos na Escola pesquisada, é<br />
que as moças e rapazes das zonas rurais têm tendência maior a se aproximarem,<br />
mesmo que com outros de comunidades rurais distantes das suas, nos levando a<br />
perceber uma identificação maior entre esses jovens para estabelecer laços de<br />
amizade. Essa mesma situação foi percebida por Pereira (2004) ao estudar os<br />
jovens rurais de Nova Friburgo. De acordo com esse autor o que os jovens rurais<br />
consideram como amizade não é percebido por eles no meio urbano, havendo,<br />
uma dificuldade de relacionarem-se com os jovens <strong>urbanos</strong>. A solidariedade e o<br />
sentimento de igualdade, a ajuda mútua, elementos da sociabilidade no âmbito da<br />
pequena agricultura familiar e importantes elementos norteadores da amizade<br />
para os jovens rurais, não são, na visão desses jovens, encontra<strong>dos</strong> na relação<br />
com os jovens <strong>urbanos</strong>, sendo a cidade o espaço da heterogeneidade, afirma<br />
Pereira (2004).<br />
A vivência de realidades sociais parecidas aproxima os jovens das zonas<br />
rurais, levando-os a construir sobre os <strong>urbanos</strong> representações negativas que se<br />
refletem em um certo afastamento entre eles. Estas representações, de que as<br />
moças da cidade são enxeridas e metidas e os rapazes, são meti<strong>dos</strong> e<br />
mauricinhos, ao mesmo tempo em que denota uma resistência em aceitar as<br />
diferenças de comportamento, afirma uma valorização da sua forma mais<br />
“simples” de ser. É o que podemos interpretar sobre a fala de M. A. do sítio Água<br />
Branca. “Essas menina aqui da cidade só quere ser melhor que a gente, são todas<br />
inxiridas. Até aqui na escola se acham melhor e as vezes nem são, nem tira nota<br />
melhor, mas, são muito metidas. Nem todas né? mas muitas são. Até no jeito de<br />
andar com o nariz impinado”.
Todavia, é importante ponderar que tais impressões não impedem o<br />
convívio entre esses jovens, havendo, mesmo que em menor quantidade, relações<br />
de amizade entre jovens das zonas rurais e jovens da cidade. Uma observação<br />
importante a ser considerada aqui é que essas imagens estigmatizantes, são<br />
construídas mais em relação aos jovens da cidade de Orobó, do que em relação<br />
aos das outras cidades vizinhas que chegam também a estudar na escola.<br />
Situação percebida acontece também nas festas, que discutirei mais à frente.<br />
Da mesma forma, os jovens da cidade de Orobó, também constroem sobre<br />
os rurais imagens negativas, sendo a denominação de matuto a principal delas.<br />
Ser matuta, no caso da moça significa não “saber se vestir” da forma mais<br />
adequada, não apenas no que se refere aos modelos das roupas, mas a<br />
adequação destas ao tempo e ao espaço, não saber “falar direito” demonstrando<br />
inibição diante das pessoas, não saber se maquiar, não saber conversar e não<br />
saber dançar. Para os rapazes, a to<strong>dos</strong> esses caracteres é agregado o fato de não<br />
saber paquerar as moças e de não saberem beber. É o que demonstra a fala de I.<br />
D. moradora da cidade.<br />
Ah, as moças do sítio são assim, sei lá, num sabe se vestir direito,<br />
vem pra escola toda pintada, de sapato alto, coisa que a gente só<br />
usa à noite né? e não sabe falar direito, conversar com as<br />
pessoas (...) basta conversar com uma pessoa da cidade e outra<br />
do sítio que já sabe quem é do sítio. Elas tem muita vergonha. E<br />
eu num sei porque isso, deviam num ter né? porque não é pior<br />
porque é do sítio, mas são assim.<br />
O estigma 9 de matuto, sentido pelos jovens das zonas rurais, ao mesmo<br />
tempo em que os atinge e interfere em sua auto-estima quando na interação com<br />
os jovens da cidade, também é reelaborado e valorizado à luz da tradição <strong>dos</strong><br />
valores das suas famílias, em sua esmagadora maioria, camponesa. Por essa<br />
outra percepção, ao ser matuto é atribuído o caráter, o respeito, a dignidade, a<br />
simplicidade e a honestidade de viver como pode. Assumir a identidade<br />
exteriormente imposta de matuto implica em se assumir como diferente, em<br />
alguns aspectos, <strong>dos</strong> jovens da cidade, que, ao mesmo tempo em que pode<br />
9 Goffman usa o termo estigma como um atributo altamente depreciativo, mas que é preciso na realidade de<br />
uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode afirmar a<br />
normalidade de outrem, portanto, ele não é em si mesmo, honroso ou desonroso (GOFFMAN, 1988, p. 13).
envergonhar os jovens das zonas rurais, pode também afirmar para eles a<br />
qualidade de pessoas “direitas” e sob o seu ponto de vista, mais “confiáveis”.<br />
É notório, diante das falas apresentadas, que a Escola é um espaço<br />
demarcador de identidades a partir da construção de diferenças. Da mesma forma<br />
percebeu Pereira (2004), ao argumentar que as relações com a cidade<br />
possibilitam um repensar sobre as identidades e realizações pessoais <strong>dos</strong> jovens<br />
rurais, deixando claro como as constantes relações não dilui, no entanto, as<br />
diferenças entre o <strong>rural</strong> e o urbano.<br />
As diferenças aqui mencionadas, não aparecem à primeira vista, como<br />
objetivamente dadas, mas, na interação, elas buscam se afirmar no vestir, falar,<br />
andar e nos aspectos simbólicos que envolvem a relação. Todavia, apesar de<br />
haver entre os jovens das zonas rurais da cidade diferenças e percepções do<br />
outro, muitas vezes negativas, estas não são fixas, e por isso, não impede, de<br />
toda forma, que eles estabeleçam entre si relações de proximidade, amizade e até<br />
namoro. É importante salientar, que tanto da parte <strong>dos</strong> jovens das zonas rurais<br />
quanto <strong>dos</strong> da cidade, não há em princípio, uma negação da possibilidade dessa<br />
amizade, é o que demonstra a pesquisa realizada por Wanderley (2006) com 601<br />
jovens de Orobó e de mais dois pequenos municípios do Estado de Pernambuco.<br />
Do total <strong>dos</strong> entrevista<strong>dos</strong>, 58,6% declaram ter amigos na cidade e 52,8% afirmam<br />
receber amigos “<strong>urbanos</strong>” em casa.<br />
O que percebemos até aqui é que é nas interações entre esses jovens as<br />
diferenças são produzidas, construídas e negociadas como um processo que<br />
permite a construção do si e do outro não de forma fixa, mas negociada de acordo<br />
com os contextos. (HALL, 2005) Esse processo é marcado por relações de poder,<br />
já que em última instância, toda ação social, é demarcada por interações e por<br />
interferir no curso da vida social, se constitui em poder. (GIDDENS, 1989)<br />
Este poder se concretiza em várias outras ações que se estabelecem em<br />
outros <strong>espaços</strong> da Escola, como por exemplo, a banda marcial. Este é outro<br />
espaço por meio do qual se processam diferenças entre rurais e <strong>urbanos</strong>.<br />
Participar da mesma é sinal de status para os alunos e alunas, não apenas no<br />
interior da escola, mas para a sociedade nos momentos em que a mesma se
apresenta em eventos na cidade ou fora dela. Por esse motivo, a participação na<br />
mesma, é motivo de disputa. Todavia, me foi relatado, que pela necessidade de<br />
realizar ensaios em horários diferentes do horário regular das aulas, poucos<br />
jovens das zonas rurais têm a oportunidade de participar da mesma, pois para isto<br />
teriam que se deslocar em horários diferentes até a cidade em transportes pagos<br />
com seus recursos, condição que a maioria deles não dispõe.<br />
De fato, a distância das suas comunidades até a cidade é a principal queixa<br />
<strong>dos</strong> rapazes e moças das zonas rurais, o que segundo eles, dificulta a<br />
participação em muitos <strong>espaços</strong>, principalmente as festas.<br />
Nesse sentido, diante de uma maior dificuldade <strong>dos</strong> jovens rurais em<br />
participarem de outros <strong>espaços</strong> lúdicos fora de suas comunidades, a Escola passa<br />
a ser um <strong>dos</strong> principais <strong>espaços</strong> onde moças e rapazes das zonas rurais podem<br />
paquerar e articular seus namoros, já que a prática em si é ali proibida. Tendo<br />
poucas possibilidades de sair para as cidades, esta se torna um importante meio<br />
para construir amizades, namorar, paquerar e estar longe <strong>dos</strong> olhos <strong>dos</strong> pais, uma<br />
vez que para frequentar as festas, principalmente as moças, em sua maioria,<br />
dependem da autorização <strong>dos</strong> mesmos e quando as consegue, estes, quase<br />
sempre, se responsabilizam por acompanhá-las. Por este motivo, é freqüente<br />
perceber nos corredores da escola, em horários de intervalo e mesmo durante o<br />
tempo de aulas, casais conversando, trocando flertes e olhares, articulando<br />
namoros que muitas vezes se estendem para fora dali, chegando a culminar em<br />
casamentos.<br />
O espaço da Escola é principalmente propício a conversas entre grupos de<br />
jovens, principalmente moças, que, como já foi dito, tendem a se unir mais com as<br />
das zonas rurais. Entre os assuntos ali discuti<strong>dos</strong>, além da compra e do modelo<br />
das roupas e calça<strong>dos</strong> ou outros objetos de consumo, quase sempre, estão<br />
presentes aqueles que em casa, poucas vezes são permiti<strong>dos</strong>, como namoro,<br />
sexo, etc. Muitas dessas conversas são sobre as experiências de algumas delas,<br />
(no que diz respeito ao sexo, as experiências das casadas) ou fofocas acerca de<br />
atitudes de outras e mesmo intrigas em relação a namora<strong>dos</strong> ou disputas em torno<br />
<strong>dos</strong> mesmos. Nesse meio também se desenvolvem polêmicas a partir de assuntos
como sexo antes do casamento, homossexualismo, entre outros, que muitas<br />
vezes, revelam profundas diferenças de valores entre jovens das zonas rurais e da<br />
cidade.<br />
Mas, os grupos de conversas não são necessariamente separa<strong>dos</strong> por<br />
gênero, muitos grupos mistos deflagram conversas acerca de questões como: um<br />
<strong>dos</strong> sexos se sentem em relação ao outro, quando verdadeiramente amam,<br />
porque traem, que tipo de moça ou rapaz idealizam para namorar, ficar ou casar,<br />
qual o estilo de moça ou rapaz mais bonito, além de assuntos mais polêmicos. Em<br />
meio a essas conversas, muitas vezes, também se constroem estigmas em<br />
relação ao comportamento de moças e rapazes.<br />
Evidentemente, as conversas nesses grupos também giram em torno das<br />
dificuldades relacionadas às matérias, ajuda em determina<strong>dos</strong> conteú<strong>dos</strong>,<br />
reclamação sobre professores e sobre a própria escola, insatisfação em relação<br />
ao domínio <strong>dos</strong> pais, bem como sobre suas dificuldades cotidianas, constituindo-<br />
se assim a escola um espaço de resistência, através <strong>dos</strong> discursos ocultos.<br />
(SCOTT, 2007)<br />
Por fim, a Escola também pode ser vista como o espaço da construção de<br />
sonhos (de fazer uma faculdade, de se formar em determinada profissão e<br />
desenvolver determinado talento) que podem ser limita<strong>dos</strong> pelas diferenças de<br />
possibilidades existentes entre o <strong>rural</strong> e o urbano, mesmo em um pequeno<br />
município, uma vez que, como afirma Wanderley (2002) no Brasil, o <strong>rural</strong> foi sendo<br />
construído como o espaço da precariedade. É esta também a opinião de muitos<br />
<strong>dos</strong> jovens que participaram do grupo focal 10 . O sítio é o espaço da falta de<br />
saneamento, de boas estradas, de dificuldade de transporte, de falta de<br />
oportunidade de estu<strong>dos</strong>, trabalho e lazer o que dificulta a realização <strong>dos</strong> nossos<br />
sonhos. (fala obtida no grupo focal)<br />
Podemos inferir que mesmo frequentando a mesma Escola, esta, ao ser<br />
praticada e significada de forma específica pelos jovens das zonas rurais, torna-se<br />
também espaço específico no sentido em que propõe Certeau (1991). Sob este<br />
10 O grupo focal (GASKEL, 2002) foi um instrumento de pesquisa, realizado no mês de agosto de 2009 com a<br />
participação de 10 moças e rapazes rurais e <strong>urbanos</strong>. Nele foram discuti<strong>dos</strong> os mais polêmicos assuntos,<br />
momento importante em que se foram percebendo as diferenças.
fio de análise o espaço da escola, para além do espaço formal do conhecimento é<br />
significado como o espaço de construção de si e do outro por meio de<br />
representações, senti<strong>dos</strong>, sentimentos, desejos e sonhos compartilha<strong>dos</strong> com<br />
outros jovens e teci<strong>dos</strong> na relação entre os conteú<strong>dos</strong> e conhecimentos de caráter<br />
formal e universal ali adquiri<strong>dos</strong> e os conhecimentos vivencia<strong>dos</strong> na realidade <strong>rural</strong><br />
da qual participam, pauta<strong>dos</strong> em valores da tradição (sempre reinventada, como<br />
enfatiza Giddens, (2007) do modo de vida camponês.<br />
2. A festa: os significa<strong>dos</strong> do espaço e a construção da diferença.<br />
Apesar de freqüentarem cotidianamente a cidade com o objetivo de estudar, os<br />
jovens das zonas rurais, principalmente as moças, não freqüentam com a mesma<br />
facilidade os <strong>espaços</strong> lúdicos ali, proporciona<strong>dos</strong>, quase que exclusivamente em<br />
termos de município. As festas profanas que esporadicamente acontecem na<br />
pequena cidade são pouco freqüentadas por esses jovens, sendo a festa da<br />
Padroeira a única capaz de congregá-los em massa.<br />
A festa da padroeira de Orobó acontece no dia 08 de dezembro de cada<br />
ano em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e por isso já é conhecida<br />
como, simplesmente, “a festa do dia 08”.<br />
Os preparativos das pessoas, principalmente jovens, principalmente das<br />
zonas rurais para a festa do dia 08 inicia-se muitas vezes,, alguns meses antes,<br />
quando esses jovens se preocupam em criar animais como galinhas e bodes ou<br />
juntar o dinheiro para comprar a roupa da festa. Para os de condições sociais mais<br />
baixas, esta é uma das poucas épocas do ano em que se compra roupa. Claro<br />
que não são to<strong>dos</strong> os jovens das zonas rurais do município que participam da<br />
festa e a maior parte deles participa apenas da parte religiosa.<br />
De toda forma, a roupa nova é importante e sinal de status, sendo assim,<br />
mesmo os que não a compraram naquele momento, guardaram a que ganharam<br />
há alguns meses para inaugurar apenas naquele dia, sendo motivo também de<br />
choro e conflitos no interior das famílias para que os jovens (principalmente as<br />
moças) consigam suas roupas novas para a festa.
No dia da festa à tarde, pelas 15hs já começam a chegar toyotas<br />
carregadas de pessoas do sítio, mulheres, homens e muitos jovens para participar<br />
da procissão. As pessoas da cidade, começam a chegar também pelas 15:30h,<br />
lotando o centro da cidade.<br />
Em torno das 16hs, acontece a procissão. Durante a mesma, a participação<br />
<strong>dos</strong> jovens rurais, principalmente das moças é intensa. Os rapazes ficam nas<br />
calçadas e acompanham a procissão mais de fora. As moças das zonas rurais<br />
estão sempre acompanhadas de suas mães ou um parente ou vizinho mais velho.<br />
Quase sempre vestidas com as roupas que irão estar durante a noite. Muitas com<br />
botas, calças jeans, blusas cheias de detalhes, algumas outras com roupas<br />
brilhosas, sandálias com salto alto e cabelos soltos ou presos com broxes<br />
enfeita<strong>dos</strong> com pedras. Brincos, anéis e colares, também fazem parte <strong>dos</strong> enfeites<br />
usa<strong>dos</strong> por essas moças. Muitas delas, também estão maquiadas com batom,<br />
sombra, lápis de olhos e blash, mas a maioria, apenas com batom e lápis de olho.<br />
Uma das características marcantes de suas roupas é que, apesar de seus<br />
modelos serem, embora modestamente os mesmos que as moças da cidade<br />
usam, as cores, normalmente, são bastante fortes.<br />
Já as moças urbanas, acompanham a procissão algumas descalças, outras<br />
com trajes iguais, “simples”: calças jeans e blusas de malha pintadas com<br />
homenagem a nossa senhora que são comercializadas na igreja mesmo. Algumas<br />
ficam apenas olhando a procissão com toucas ou rolinhos no cabelo, muitas vezes<br />
vestidas com shorts, sandálias de dedo.<br />
As roupas de aparência “simples” são importantes demarcadoras do tempo<br />
e do espaço social da festa para aquelas moças, uma vez que, mais tarde,<br />
aparecerão de forma totalmente diferente em um outro tempo e espaço da festa<br />
se diferenciando <strong>dos</strong> jovens rurais que, em sua maioria, não mudarão as<br />
vestimentas para participar desses momentos. Quanto a essa necessidade de<br />
demarcar as diferenças no espaço da festa, Luciana Chianca (2007) ao estudar<br />
quadrilhas tradicionais na cidade de Natal - RN as percebe como <strong>espaços</strong> que<br />
revelam as distâncias entre o mundo <strong>rural</strong> e o mundo urbano, recuperando-as e
eorganizado-as em um conjunto pertinente, que ritualiza as distinções sociais<br />
cotidianas.<br />
Voltando a festa, a missa que acontece depois da procissão é realizada na<br />
frente da Igreja, dado o número de pessoas que participam da mesma. Durante o<br />
seu acontecimento, as moças da zona <strong>rural</strong>, bem como muitos <strong>dos</strong> rapazes, estão<br />
em frente à Igreja, em pé, recosta<strong>dos</strong> nas calçadas, em cima de uma mureta que<br />
fica em frente à igreja, separando um lado da rua do outro, quase sempre em<br />
grupos com as mães, ou com parentes mais velhos e algumas apenas com outras<br />
moças. Dificilmente, se encontra um grupo misto de rapazes e moças das zonas<br />
rurais. Os rapazes ficam mais distantes um pouco. Estes estão quase sempre<br />
acompanha<strong>dos</strong> de um outro rapaz ou de um grupo deles, nunca sozinhos ou com<br />
a família. É possível perceber, portanto, que, naquele espaço, os grupos de<br />
geração funcionam, para os jovens das zonas rurais, mais entre os rapazes, do<br />
que entre as moças.<br />
Os rapazes da cidade, pouco participam desse momento e as moças,<br />
muitas participam ficando ali até terminar a missa e depois conversam um pouco<br />
entre si, visitam a igreja para olhar o altar e o andor 11 , em seguida, voltam para as<br />
suas casas, ou ficam observando a festa, mas não participam ativamente como os<br />
jovens das zonas rurais.<br />
Enquanto acontece a missa, o fluxo de toyotas que chega na cidade com<br />
jovens das zonas rurais é intenso. Atualmente, muitos participam mais da festa<br />
profana, chegando à cidade apenas depois da parte religiosa. Muitas moças<br />
chegam acompanhadas do pai, outras de um casal vizinho mais velho, mas<br />
também é possível ter aquelas que vêm apenas com um grupo de amigas,<br />
embora, seja muito mais raro esse tipo de arrajo. Normalmente estas, são aquelas<br />
moças que estudam na cidade e moram em distritos.<br />
A partir desse momento, a festa na rua já está “rolando” e muitos jovens<br />
rurais estão “rua acima, rua abaixo” como dizem no município. As moças das<br />
zonas rurais andam em grupos, circulando pelos <strong>espaços</strong> da festa, muitas<br />
11 Que depois servirá de comentários sobre as condições econômicas e a capacidade de gastar “com nossa<br />
senhora” do juiz da festa.
pegadas nas mãos e outras com uma mão no ombro da outra, muitas vezes na<br />
frente de suas mães ou pessoas adultas que as acompanham.<br />
Para as moças que possuem namora<strong>dos</strong>, o passeio na festa também é<br />
acompanhado de mais velhos, e, nesses casos, principalmente das mães, pois a<br />
vigília é muito importante, servindo de controle para que os jovens não caiam na<br />
tentação de, diante de um universo composto por pessoas estranhas, praticarem<br />
aquilo que é considerado proibido. Assim, são poucas as moças das zonas rurais<br />
do município que vão para as festas apenas acompanhadas <strong>dos</strong> seus namora<strong>dos</strong>.<br />
As moças ficam sempre andando, ou param um pouco, conversam e depois<br />
retornam o mesmo percurso. Já os rapazes, muitos ficam em bares na rua.<br />
A questão da bebida é mencionada pelas jovens urbanas, como sendo uma<br />
característica negativa do comportamento <strong>dos</strong> jovens rurais na festa, embora,<br />
tenha observado que os jovens <strong>urbanos</strong> (e nesse caso, moças e rapazes) bebem<br />
da mesma forma e na mesma quantidade que os rurais.<br />
A paquera acontece, frequentemente, quando as moças passam pelos<br />
bares, perto das mesas, onde estão senta<strong>dos</strong> os rapazes. As moças das zonas<br />
rurais olham discretamente, mas logo continuam seu passeio, o flerte acontece,<br />
inicialmente de longe e só alguma vezes, os rapazes chegam para se<br />
apresentarem às moças.<br />
Enquanto isso, muitas moças da cidade estão na rua, ainda de touca e<br />
shorts, sandálias, ou com a roupa da procissão. Aquele não é ainda o momento<br />
em que elas entrarão em cena na festa. Nesse momento demarcam ali a diferença<br />
a partir do significado que dão àquele momento. Apesar de ser a festa, não é o<br />
momento mais importante para elas aparecerem com suas roupas, que muitas<br />
vezes compraram fora da cidade no intuito de demarcar através desta, um status<br />
diferenciado diante das moças da cidade, mas principalmente para as das zonas<br />
rurais.<br />
Depois das 22 horas, muitos jovens rurais começam a sair da festa,<br />
retornando para suas comunidades, enquanto os jovens <strong>urbanos</strong>, rapazes e,<br />
principalmente as moças, começam a sair de suas casas arrumadas para dar uma<br />
volta na rua e seguir direto para o tradicional baile do dia da festa.
O espaço que para os jovens das zonas rurais constitui a própria festa, para<br />
os <strong>urbanos</strong> é vivenciado apenas como um prelúdio do que para eles terá<br />
realmente o sentido da festa – o baile. É nesse contexto que podemos inferir que<br />
os senti<strong>dos</strong> e significa<strong>dos</strong> da festa a constitui como <strong>espaços</strong> totalmente<br />
diferencia<strong>dos</strong> no sentido em que aponta Certeau (1991) já que as práticas e<br />
significa<strong>dos</strong> destas nesses <strong>espaços</strong> são totalmente diferentes, distinguindo assim,<br />
não apenas os <strong>espaços</strong>, mas as pessoas que os praticam. É nesse emaranhado<br />
de senti<strong>dos</strong> e significa<strong>dos</strong> que as identidades são processadas no diálogo entre a<br />
forma como o jovem se percebe e como percebe o outro, construindo-se ali<br />
também as diferenças, já que são delas dependem a identidade. (WODWARD,<br />
2007).<br />
As moças da cidade aparecem com roupas, sempre mais exclusivas,<br />
maquiadas, cabelos muito bem arruma<strong>dos</strong>, elas andam pela rua principal do<br />
centro como se estivessem desfilando em uma passarela de moda. Se o fato de<br />
estarem muito “simples”, nos momentos anteriores, chamou a atenção da<br />
pesquisadora, como sendo um elemento que estas moças utilizavam para se<br />
diferenciar das rurais, nesse momento, a forma como andavam e se comportavam<br />
diante <strong>dos</strong> “outros da festa” denotava um ar de extrema superioridade perante<br />
aqueles.<br />
Estas jovens exibem uma postura corporal ereta, (entre os jovens rurais,<br />
muitas vezes mais curvadas) a cor da pele mais uniforme (entre os rurais é em<br />
geral, um pouco queimada pelo sol) e a forma como as roupas, mesmo com<br />
modelos um tanto pareci<strong>dos</strong>, vestiam seus corpos, tornava possível diferenciar<br />
jovens rurais de <strong>urbanos</strong>. Embora, a forma como se comportavam diante <strong>dos</strong><br />
mesmos, naquele cenário fosse o principal elemento diferenciador. Percebemos<br />
ali que a héxis corporal (BOURDIEU,2002) é um <strong>dos</strong> elementos que ainda<br />
persistem na distinção entre os jovens rurais e <strong>urbanos</strong>, segundo esse autor, as<br />
técnicas corporais constituem verdadeiros sistemas solidários a todo um contexto<br />
social. A identidade de camponês ou filho de camponês é percebida na postura<br />
corporal.
O espaço da festa devidamente freqüentado pelos jovens da cidade, é o<br />
baile. Este, que sempre acontecia no clube municipal, situado no centro da cidade<br />
e que era quase que totalmente restrito à pessoas dali (de Orobó e outras<br />
cidades), atualmente, acontece em um clube particular, denominado Espaço 2000<br />
que fica situado distante do centro da cidade em um lugar só recentemente<br />
urbanizado. Esse espaço funciona como depósito durante boa parte do ano e só<br />
nas festas, funciona como clube.<br />
Enquanto o baile não se inicia, os jovens da cidade ficam por ali em frente<br />
ao clube em bares improvisa<strong>dos</strong>, outros com a mala do carro aberta e o som alto<br />
dançando, outros em roda conversando e outros ainda senta<strong>dos</strong>. Poucos jovens<br />
das zonas rurais, sendo menos as moças, participam do baile e estes, quase<br />
sempre, estão separa<strong>dos</strong> <strong>dos</strong> grupos de jovens da cidade.<br />
Dentro do baile, os rapazes reconhecidamente da zona <strong>rural</strong> que eu estava<br />
acompanhando, dançaram com poucas moças, sendo que o grupo de moças da<br />
cidade, que eu observava, dançava também com poucos rapazes, mas descartou<br />
to<strong>dos</strong> os que haviam antes, sido reconheci<strong>dos</strong> por elas para mim, como sendo da<br />
a zona <strong>rural</strong>, a quem trataram como tronxos que não sabiam dançar. O<br />
comportamento <strong>dos</strong> jovens <strong>urbanos</strong> sempre se apresentando como sendo o<br />
centro da festa, sem inibição para dançar, para cortejar as moças, e as mesmas<br />
também dançando sozinhas ou acompanhadas, sorridentes, bebendo ou<br />
desfilando a arrumação que passaram horas fazendo para chegar naquele<br />
momento.<br />
A realidade encontrada por mim no baile que observei, me surpreendeu<br />
pela carga de estigma construída pelas moças em relação aos rapazes das zonas<br />
rurais, levando-me a me remeter à clássica obra de Bourdieu (2002) “O Baile <strong>dos</strong><br />
solteiros” onde o autor percebeu os bailes são importantes <strong>espaços</strong> onde se<br />
desencadeiam tensões e conflitos entre o <strong>rural</strong> e o urbano e entre os sexos.<br />
Considerações: construindo interpretações a partir de um olhar etnográfico.
A etnografia aqui apresentada sobre as práticas, senti<strong>dos</strong> e signifca<strong>dos</strong> <strong>dos</strong><br />
<strong>uso</strong>s <strong>dos</strong> <strong>espaços</strong> <strong>urbanos</strong> pelos jovens das zonas rurais, demonstra a pertinência<br />
da discussão sobre a relação <strong>rural</strong>/urbano, não como uma relação dicotômica,<br />
mas dialética e de mútuas influências entre as duas realidades.<br />
No seu importante artigo: <strong>Juventude</strong> <strong>rural</strong>: projetos e valores, publicado na<br />
obra Retratos da <strong>Juventude</strong> Brasileira, Maria José Carneiro analisando a situação<br />
atual da juventude <strong>rural</strong> no Brasil enfoca a heterogeneidade da mesma e<br />
criticando a bipolaridade <strong>rural</strong>/urbano afirma que as semelhanças de expressão<br />
entre os jovens “podem indicar uma diluição das fronteiras culturais entre o que<br />
socialmente se definiu como <strong>rural</strong> e urbano, tornando cada vez mais imprecisas as<br />
fronteiras concernentes às idealizações e projetos <strong>dos</strong> jovens” (CARNEIRO, 2005,<br />
p. 260).<br />
No entanto, a etnografia aqui apresentada demonstra, que mesmo havendo<br />
inúmeras semelhanças no que os jovens praticam, pensam, sonham, expressam,<br />
e os <strong>espaços</strong> comuns que freqüentam, os significa<strong>dos</strong> atribuí<strong>dos</strong> pelos jovens das<br />
zonas rurais a estas práticas, sonhos, ações, expressões e senti<strong>dos</strong>, bem como<br />
aos esses <strong>espaços</strong>, revelam que a interação entre <strong>rural</strong> e urbano não dilui as<br />
diferenças. Ao contrário, é na relação entre esses dois ambientes sociais<br />
perpassada por um processo de construção de si e do outro, com base em valores<br />
familiares (pauta<strong>dos</strong> em um “modo de vida” camponês), mas também em novos<br />
conhecimentos produzi<strong>dos</strong> por mecanismos e instituições modernas, que as<br />
diferenças são construídas, reconstruídas e afirmadas. E, nesse sentido, concordo<br />
com Giddens (1991) que não existe uma separação fixa entre a tradição e a<br />
modernidade.<br />
As relações entre os jovens das zonas rurais e os jovens da cidade, mesmo<br />
em um pequeno município, ou exatamente por assim ser pequeno, são marcadas<br />
por conflitos, estigmas, amizade, conviviabilidade, sendo nessa mesma relação<br />
que se marca a diferença afirmando sua identidade a partir dela. No exercício de<br />
construção do outro, os jovens das zonas rurais e urbanas, buscam construir a si<br />
mesmo, ora como iguais, ora como diferentes. Ora essa diferença é negativada
ora positivada em um processo de negociação que depende <strong>dos</strong> fluxos de<br />
pessoas, objetos, conhecimentos e informações que estão em jogo na interação.<br />
Nesse sentido, concordo com Wanderley (2009), que entre o <strong>rural</strong> e o urbano<br />
existem <strong>continuidades</strong> e des<strong>continuidades</strong> que são percebidas e afirmadas nas<br />
vivências e significa<strong>dos</strong> <strong>dos</strong> <strong>espaços</strong> <strong>urbanos</strong> pelos jovens rurais.<br />
Referências Bibliográficas:<br />
ABRAMO, Helena Wendel. Condição juvenil no Brasil contemporâneo. In:<br />
ABRAMO, H. W. ; BRANCO. P. P. M. Retratos da <strong>Juventude</strong> Brasileira.<br />
Análises de uma pesquisa nacional. Editora Fundação Perseu Abramo: São Paulo,<br />
2005.<br />
BOURDIEU, Pierre. Lê bal dês célibataires. Crise de la societé paysanne em<br />
Béarn. Paris: Editions du Seuil, 2002.<br />
CARNEIRO, Maria José. <strong>Juventude</strong> Rural. Projetos e Valores. In: ABRAMO, H. W.<br />
; BRANCO. P. P. M. Retratos da <strong>Juventude</strong> Brasileira. Análises de uma<br />
pesquisa nacional. Editora Fundação Perseu Abramo: São Paulo, 2005.<br />
CERTEAU, Michel de. Relatos de Espaço in A invenção do cotidiano: 1- Artes de<br />
Fazer. Rio de Janeiro- Petrópoles: Vozes, 1994.<br />
CHIANCA. Luciana de Oliveira. Quando o Campo está na Cidade: migração,<br />
identidade e festa.Revista Sociedade e Cultura. V. 10. nº 1, 2007. p.45-59.<br />
GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In: BAUER, Martin W.;<br />
GASKEL, Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som. Editora Vozes:<br />
Petrópolis- RJ, 2002.<br />
GEERTZ, C. O saber local: novos rumos em antropologia interpretativa.<br />
Petrópolis: Vozes, 1997.<br />
GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes,<br />
1989.<br />
______, As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.<br />
______, O mundo em descontrole. Rio de Janeiro: Record, 2007.<br />
GOFFMAN, Erving. Estigma nota sobre a manipulação da identidade<br />
deteriorada. 4ª ed. Rio de Janeiro: LCT, 1988.
GROPPO. Luis Antônio. <strong>Juventude</strong>. História sobre Sociologia e História das<br />
<strong>Juventude</strong>s Modernas. Ed. Difel: Rio de Janeiro, 2000.<br />
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na pós Modernidade. Editora DP&A. Rio de<br />
Janeiro, 2005.<br />
MENDRAS, H. Sociedades Camponesas. Ed. Zahar, Rio de Janeiro: 1978.<br />
PAIS, José Machado. CULTURAS JUVENIS. Imprensa Nacional casa da moeda:<br />
Lisboa: Portugal, 2003.<br />
PEREIRA, Jorge Luiz de Góes. Entre a cidade e o campo: amizade e <strong>rural</strong>idade<br />
segundo jovens de Nova Friburgo. Revista: Estu<strong>dos</strong> Sociedade e Agricultura.<br />
Vol.12 nº2, outubro de 2004.<br />
SILVA. José Graziano da. O novo Rural Brasileiro. Campinas-SP:UNICAMP, 1999.<br />
SILVA, Thadeu Thomaz. da.(org.) Identidade e Diferença. A perspectiva <strong>dos</strong><br />
Estu<strong>dos</strong> culturais. Stuart Hall e Kathryn Woodward. 7ª Ed. Editora Vozes:<br />
Petrópolis- RJ, 2007.<br />
SOARES, Luis Eduardo; BILL, M. V. ATHAÍDE Celso. Cabeça de Porco. Editora<br />
Objetiva: Rio de Janeiro, 2005.<br />
SPOSITO, Marília Pontes. Algumas reflexões e muitas indagações sobre as<br />
relações entre juventude e escola no Brasil. In: In: ABRAMO, H. W. ; BRANCO. P.<br />
P. M. Retratos da <strong>Juventude</strong> Brasileira. Análises de uma pesquisa nacional.<br />
Editora Fundação Perseu Abramo: São Paulo, 2005.<br />
______, Urbanização e Ruralidade: Relações entre a Pequena Cidade e o Mundo<br />
Rural: Estudo Preliminar Sobre os Pequenos Municípios em Pernambuco. In:<br />
LOPES, E. S.; MOTA, D. M.; SILVA, T. E.M. Ensaios de Desenvolvimento <strong>rural</strong><br />
e transformações na agricultura. Embrapa Tabuleiros Costeiros/UFS: Sergipe,<br />
2002.p.21-40.<br />
______,Jovens rurais de Pequenos Municípios de Pernambuco: que sonhos para<br />
o futuro. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Guaraná de. <strong>Juventude</strong><br />
Rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauá X, 2007.<br />
______. O Mundo Rural como Espaço de Vida, reflexões sobre a propriedade<br />
da terra, agricultura familiar e <strong>rural</strong>idade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.