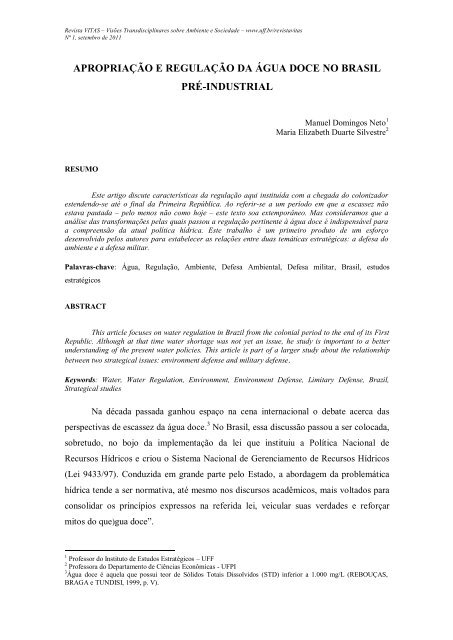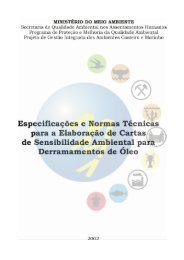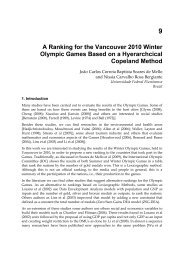apropriação e regulação da água doce no brasil pré-industrial - UFF
apropriação e regulação da água doce no brasil pré-industrial - UFF
apropriação e regulação da água doce no brasil pré-industrial - UFF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
APROPRIAÇÃO E REGULAÇÃO DA ÁGUA DOCE NO BRASIL<br />
RESUMO<br />
PRÉ-INDUSTRIAL<br />
Manuel Domingos Neto 1<br />
Maria Elizabeth Duarte Silvestre 2<br />
Este artigo discute características <strong>da</strong> <strong>regulação</strong> aqui instituí<strong>da</strong> com a chega<strong>da</strong> do colonizador<br />
estendendo-se até o final <strong>da</strong> Primeira República. Ao referir-se a um período em que a escassez não<br />
estava pauta<strong>da</strong> – pelo me<strong>no</strong>s não como hoje – este texto soa extemporâneo. Mas consideramos que a<br />
análise <strong>da</strong>s transformações pelas quais passou a <strong>regulação</strong> pertinente à <strong>água</strong> <strong>doce</strong> é indispensável para<br />
a compreensão <strong>da</strong> atual política hídrica. Este trabalho é um primeiro produto de um esforço<br />
desenvolvido pelos autores para estabelecer as relações entre duas temáticas estratégicas: a defesa do<br />
ambiente e a defesa militar.<br />
Palavras-chave: Água, Regulação, Ambiente, Defesa Ambiental, Defesa militar, Brasil, estudos<br />
estratégicos<br />
ABSTRACT<br />
This article focuses on water regulation in Brazil from the colonial period to the end of its First<br />
Republic. Although at that time water shortage was <strong>no</strong>t yet an issue, he study is important to a better<br />
understanding of the present water policies. This article is part of a larger study about the relationship<br />
between two strategical issues: environment defense and military defense.<br />
Keywords: Water, Water Regulation, Environment, Environment Defense, Limitary Defense, Brazil,<br />
Strategical studies<br />
Na déca<strong>da</strong> passa<strong>da</strong> ganhou espaço na cena internacional o debate acerca <strong>da</strong>s<br />
perspectivas de escassez <strong>da</strong> <strong>água</strong> <strong>doce</strong>. 3 No Brasil, essa discussão passou a ser coloca<strong>da</strong>,<br />
sobretudo, <strong>no</strong> bojo <strong>da</strong> implementação <strong>da</strong> lei que instituiu a Política Nacional de<br />
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos<br />
(Lei 9433/97). Conduzi<strong>da</strong> em grande parte pelo Estado, a abor<strong>da</strong>gem <strong>da</strong> problemática<br />
hídrica tende a ser <strong>no</strong>rmativa, até mesmo <strong>no</strong>s discursos acadêmicos, mais voltados para<br />
consoli<strong>da</strong>r os princípios expressos na referi<strong>da</strong> lei, veicular suas ver<strong>da</strong>des e reforçar<br />
mitos do que)gua <strong>doce</strong>”.<br />
1 Professor do Instituto de Estudos Estratégicos – <strong>UFF</strong><br />
2 Professora do Departamento de Ciências Econômicas - UFPI<br />
3 Água <strong>doce</strong> é aquela que possui teor de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) inferior a 1.000 mg/L (REBOUÇAS,<br />
BRAGA e TUNDISI, 1999, p. V).
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
A reforma hídrica em curso é apresenta<strong>da</strong> como alternativa racional de uso <strong>da</strong><br />
<strong>água</strong> de sorte a garantir a todos – hoje e amanhã – acesso a esse elemento <strong>da</strong> natureza a<br />
um só tempo escasso, essencial e insubstituível e permitir o chamado desenvolvimento<br />
sustentável. O conteúdo conflitivo <strong>da</strong> <strong>apropriação</strong>, uso e controle <strong>da</strong> <strong>água</strong>, desaparece;<br />
reforça-se a ideia de que a escassez – ou sua possibili<strong>da</strong>de – pode ser evita<strong>da</strong> via<br />
legislação e gerenciamento adequados; sobretudo, reafirma-se a perspectiva de que não<br />
existe racionali<strong>da</strong>de fora <strong>da</strong>s atuais regras estabeleci<strong>da</strong>s pelo capital.<br />
Muitos são levados a crer que a preocupação com a conservação <strong>da</strong> <strong>água</strong> é coisa<br />
recente e que <strong>no</strong> Brasil não havia <strong>no</strong>rmas para a <strong>apropriação</strong> e o uso <strong>da</strong> <strong>água</strong>, donde a<br />
presente ameaça. Na melhor <strong>da</strong>s hipóteses, lembra-se o Código de Águas de 1934,<br />
afirma-se seu caráter “avançado” para a época em que foi editado e sua incapaci<strong>da</strong>de de<br />
responder às deman<strong>da</strong>s do século XXI.<br />
Essencial à vi<strong>da</strong> e à produção, insubstituível e quantitativamente limita<strong>da</strong>, a <strong>água</strong><br />
<strong>doce</strong> é a um só tempo objeto de partilha e soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>de, pivô de conflitos, meio de fazer<br />
guerras e de submeter inimigos. Por to<strong>da</strong> parte sua presença condicio<strong>no</strong>u a ocupação de<br />
territórios, possibilitou o surgimento de socie<strong>da</strong>des sedentárias, o desenvolvimento <strong>da</strong><br />
agricultura e o aparecimento de povoados e vilas. Em decorrência de seu caráter<br />
estratégico, a <strong>apropriação</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong> <strong>doce</strong> encontra-se estreitamente vincula<strong>da</strong> à produção<br />
e repartição <strong>da</strong> riqueza e é objeto de <strong>regulação</strong> – ain<strong>da</strong> que não necessariamente escrita –<br />
em to<strong>da</strong> e qualquer socie<strong>da</strong>de. No Brasil jamais foi diferente.<br />
As tensões provoca<strong>da</strong>s pela <strong>apropriação</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong> provêm de tempos imemoriais.<br />
Os homens sempre guerrearam por recursos naturais. Hoje, os maiores conflitos são<br />
provocados pelo controle <strong>da</strong>s reservas de petróleo. A descoberta <strong>da</strong>s reservas do <strong>pré</strong>-sal<br />
tem sido argui<strong>da</strong> como uma justificativa indiscutível para investimentos <strong>no</strong> sistema de<br />
defesa militar. Mas, a julgar pela frenética disputa pelo domínio de recursos naturais, os<br />
recursos hídricos tendem a se configurar como objeto de disputa ca<strong>da</strong> vez mais<br />
relevante. Neste caso, antes de se pensar em defesa militar, caberia refletir sobre como<br />
foi construí<strong>da</strong> a escassez de <strong>água</strong> e como o Estado buscou regular seu uso.<br />
As relações entre homens e natureza e, portanto, as formas de <strong>apropriação</strong> e uso<br />
<strong>da</strong> <strong>água</strong> devem ser trata<strong>da</strong>s como relações sociais e de poder e as <strong>no</strong>rmas que as<br />
regulam, fruto de pressões que os diversos grupos sociais exercem sobre o Estado, como<br />
resultado e condição <strong>da</strong> reprodução destas relações. Nossa abor<strong>da</strong>gem segue na<br />
contramão <strong>da</strong> abun<strong>da</strong>nte literatura sobre recursos hídricos produzi<strong>da</strong> recentemente.
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
Salvo raras exceções, a <strong>água</strong> vem sendo trata<strong>da</strong> como tema atinente a biólogos,<br />
químicos, engenheiros, sanitaristas, geólogos e outros profissionais <strong>da</strong>s ditas áreas<br />
técnicas. Ora, mais do que nunca a <strong>regulação</strong> do uso <strong>da</strong> <strong>água</strong> é assunto eminentemente<br />
político, como de resto tudo o que diz respeito aos recursos naturais. A compreensão<br />
aprofun<strong>da</strong> do problema hídrico deman<strong>da</strong> forçosamente uma abor<strong>da</strong>gem multifacetária.<br />
A <strong>água</strong> é essencial à produção e, numa socie<strong>da</strong>de mercantil, é impossível se<br />
compreender a lógica subjacente às <strong>no</strong>rmas que regulam sua <strong>apropriação</strong> sem ter em<br />
conta os interesses econômicos em disputa.<br />
Já se tor<strong>no</strong>u lugar comum afirmar que este é um país rico em <strong>água</strong> <strong>doce</strong>.<br />
Estimativas compila<strong>da</strong>s por P. H. Gleick et. al. (2009, p. 215-220) para o Pacific<br />
Institute indicam o Brasil como o país que possui o maior volume de <strong>água</strong> <strong>doce</strong><br />
re<strong>no</strong>vável do mundo. Aldo Rebouças (2001, p. 337) informa que as reservas<br />
subterrâneas são calcula<strong>da</strong>s em 112 mil km³ com recarga aproxima<strong>da</strong> de 3,4 mil<br />
km³/a<strong>no</strong> e que à ocasião, o uso de 25,0% <strong>da</strong> recarga disponibilizaria 5 mil m³/hab/a<strong>no</strong>,<br />
volume bem superior ao mínimo de 2 mil m³/hab/a<strong>no</strong> que segundo a Organização <strong>da</strong>s<br />
Nações Uni<strong>da</strong>s (ONU) são necessários para a manutenção <strong>da</strong> produção.<br />
O Brasil é um dos países mais ricos em <strong>água</strong> <strong>doce</strong>. Pero Vaz de Caminha captou<br />
o significado dessa riqueza. As <strong>água</strong>s eram “muitas, infin<strong>da</strong>s”, relatava, antes de apontar<br />
para as condições quanto a ativi<strong>da</strong>de que por séculos caracterizaria a América<br />
Portuguesa, a agropecuária: “[a terra] em tal maneira é graciosa que, querendo-a<br />
aproveitar, <strong>da</strong>r-se-á nela tudo por bem <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s que tem”. Cem a<strong>no</strong>s depois,<br />
Brandônio, personagem de “Diálogos <strong>da</strong>s grandezas do Brasil”, dizia: “A umi<strong>da</strong>de de<br />
que gozam to<strong>da</strong>s as terras do Brasil a faz ser tão frutífera <strong>no</strong> produzir, que infini<strong>da</strong>de de<br />
estacas de diversos paus metidos na terra cobram raízes, e em breve tempo, chegam a<br />
<strong>da</strong>r frutos [...] (BRANDÃO, 1997, p. 3).<br />
Segundo Gilberto Freyre (2002) as “muitas <strong>água</strong>s” do Brasil serviram ao<br />
expansionismo e à mobili<strong>da</strong>de simbolizados pelos bandeirantes e à fixação e<br />
estabili<strong>da</strong>de representa<strong>da</strong>s pela lavoura. No seu entender os grandes rios <strong>da</strong>vam “[...]<br />
grandeza à terra [...], mas grandeza sem possibili<strong>da</strong>des econômicas para a técnica e o<br />
conhecimento <strong>da</strong> época”. Ao transbor<strong>da</strong>r destruíam plantações e moradias, dizimavam<br />
rebanhos ou deterioravam o pasto. Por essa razão foram “colaboradores incertos [...] do<br />
homem agrícola na formação econômica e social do <strong>no</strong>sso país”. Contudo, foram eles os<br />
rios “do bandeirante e do missionário, que os subiam vencendo dificul<strong>da</strong>des de que<strong>da</strong>s
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
de <strong>água</strong> e de curso irregular à procura de ouro, escravos e de almas para Nosso Senhor<br />
Jesus Cristo”.<br />
Em contraparti<strong>da</strong>, para o autor de “Casa grande & senzala”, do século XVI<br />
ao século XIX to<strong>da</strong> riqueza rural <strong>brasil</strong>eira esteve vincula<strong>da</strong> a rios como o Mamanguape,<br />
o Una, o Paranamirim, o Ipojuca e o Paraíba do Sul. Me<strong>no</strong>res e mais regulares eles<br />
[...] <strong>doce</strong>mente se prestaram a moer as canas, a alagar as várzeas, a<br />
enverdecer os canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais tarde<br />
o café, a servir aos interesses e às necessi<strong>da</strong>des de populações fixas,<br />
humanas e animais, instala<strong>da</strong>s às suas margens. [Foram estes] os rios<br />
do senhor de engenho, do fazendeiro, do escravo, do comércio de<br />
produtos <strong>da</strong> terra (FREYRE, 2002, p. 53).<br />
Tradicionalmente estratégicos <strong>no</strong> comércio e nas guerras os rios navegáveis<br />
foram fun<strong>da</strong>mentais para a penetração, o conhecimento e a ocupação do “Novo Mundo”.<br />
Vale dizer: para a conquista do território, a exploração de suas riquezas e a afirmação do<br />
poder colonial. Seguindo-os em busca de ouro, prata, pedras preciosas ou homens para<br />
escravizar, os “paulistas” partiam de São Vicente rumo aos “sertões” (Norte e Sul)<br />
abrindo caminhos para povoamentos futuros. Por séculos os rios foram as principais vias<br />
de comunicação <strong>brasil</strong>eira. Por eles viajava a madeira, cedo exporta<strong>da</strong> para a Europa e<br />
deles dependia boa parte do comércio inter<strong>no</strong> e exter<strong>no</strong> aqui realizado.<br />
Na Amazônia, região na qual a navegação fluvial ain<strong>da</strong> é decisiva para o<br />
transporte de pessoas e mercadorias, conforme Berta Becker e Claudio Egler (2006) e<br />
Rodrigo Medeiros (2006), após a expulsão dos comerciantes estrangeiros (meados do<br />
século XVII) os rios foram cruciais para o controle do território e a expansão portuguesa<br />
além <strong>da</strong> linha demarca<strong>da</strong> em Tordesilhas. Na ausência de uma base econômica e<br />
populacional estável a Coroa estimulou o estabelecimento de missões religiosas nas<br />
margens dos rios e construiu fortes nas principais desembocaduras. A estratégia impediu<br />
o retor<strong>no</strong> dos estrangeiros – cujos navios foram proibidos de navegar <strong>no</strong>s rios<br />
amazônicos – e possibilitou incursões de reconhecimento e levantamento <strong>da</strong>s riquezas<br />
regionais.<br />
Certo é que, independentemente de tamanho, trajeto e condições de<br />
navegabili<strong>da</strong>de os rios desempenharam relevante papel na formação territorial <strong>brasil</strong>eira<br />
entendi<strong>da</strong>, como observa Milton Santos (2008, p. 62), como o “conjunto formado pelos<br />
sistemas naturais existentes em <strong>da</strong>do país ou numa <strong>da</strong><strong>da</strong> área e pelos acréscimos que os<br />
homens superimpuseram a esses sistemas naturais”. Portugal, desde o início <strong>da</strong>
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
colonização, reforçou a tendência natural dos seres huma<strong>no</strong>s de se estabelecerem<br />
próximos às fontes de <strong>água</strong> <strong>doce</strong>. O Regimento que instruiu Tomé de Souza na escolha<br />
do sítio em que seria fun<strong>da</strong><strong>da</strong> a ci<strong>da</strong>de de Salvador (Bahia), parcialmente transcrito por<br />
Nireu Cavalcanti (2004), dizia que o mesmo deveria adequar-se à defesa, comportar um<br />
porto, ser sadio, possuir bons ares e abastança de <strong>água</strong>. 4 Para este estudioso, tudo indica<br />
que tais recomen<strong>da</strong>ções eram comuns.<br />
Dependendo <strong>da</strong>s circunstâncias preponderava um ou outro critério.<br />
Segurança e perspectivas de ativi<strong>da</strong>des altamente rendosas – como a exploração de<br />
pedras e metais preciosos – decisivos. No território que hoje constitui o Estado de<br />
Minas Gerais, <strong>no</strong> interior do Estado do Rio de Janeiro e Goiás inúmeras ci<strong>da</strong>des têm sua<br />
origem direta ou indiretamente vincula<strong>da</strong> à extração do ouro e de pedras preciosas. Por<br />
outro lado, embora a primeira casa portuguesa na Baia de Guanabara tenha se localizado<br />
às margens de um rio, ao escolher o local em que a ci<strong>da</strong>de do Rio de Janeiro foi ergui<strong>da</strong><br />
– o morro do Castelo – a defesa foi priori<strong>da</strong>de. Distante de qualquer fonte de <strong>água</strong> <strong>doce</strong><br />
e difícil acesso à <strong>água</strong> subterrânea, a história <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de, por aproxima<strong>da</strong>mente 150 a<strong>no</strong>s<br />
capital <strong>brasil</strong>eira, desde sua origem é marca<strong>da</strong> por problemas <strong>no</strong> abastecimento de <strong>água</strong><br />
potável.<br />
Na maior parte do território <strong>água</strong>s superficiais e chuvas regulares serviram à<br />
agricultura sem que fossem necessárias significativas obras hídricas. A existência de<br />
solos férteis e úmidos, rios e boa pluviosi<strong>da</strong>de na Zona <strong>da</strong> Mata Nordestina e <strong>no</strong><br />
Recôncavo Baia<strong>no</strong> foram decisivos <strong>no</strong> sucesso <strong>da</strong> produção açucareira colonial. A falta<br />
de <strong>água</strong> não obstaculizou o cultivo do cacau na Bahia, do mate <strong>no</strong> sul do país ou do café<br />
<strong>no</strong> vale do Rio Paraíba do Sul. Tampouco <strong>no</strong> chamado sertão <strong>no</strong>rdesti<strong>no</strong> – situado em<br />
parte <strong>no</strong> cristali<strong>no</strong>, com elevados índices de evapotranspiração e pluviosi<strong>da</strong>de me<strong>no</strong>r e<br />
mais irregular do que o restante do país – a falta de <strong>água</strong> impediu a multiplicação do<br />
gado vacum e cavalar. Como principal meio de transporte terrestre, força de tração,<br />
alimento e matéria auxiliar na indústria açucareira o gado criado à solta integrava-se à<br />
indústria açucareira, à mineração e ao comércio regional. Em parte significativa do<br />
semiárido a seca só se tor<strong>no</strong>u sinônimo de calami<strong>da</strong>de social com a decadência <strong>da</strong><br />
pecuária, o adensamento populacional e a expansão <strong>da</strong> agricultura de subsistência em<br />
fins do século XIX (DOMINGOS NETO, 2010; DOMINGOS NETO e BORGES,<br />
4 Regimento e Foral: documentos do gover<strong>no</strong> português que estabeleciam <strong>no</strong>rmas jurídicas e<br />
administrativas de estruturação do poder local e traçavam diretrizes para a escolha do local e onde uma<br />
ci<strong>da</strong>de seria fun<strong>da</strong><strong>da</strong> (CAVALCANTI, 2004).
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
1987). No Rio Grande do Sul, a visão de lavradores perdendo suas colheitas é fenôme<strong>no</strong><br />
recente.<br />
Além de saciar a sede do homem e do gado, propiciar o cultivo de alimentos<br />
e constituir, por longo período, a principal via de transporte do Brasil, a <strong>água</strong> fornecia<br />
alimento e força motriz, servia a práticas religiosas, ao deleite <strong>da</strong> população e ao<br />
descanso e asseio dos viajantes. Areia e pedra necessárias às construções e argila para os<br />
mais variados fins eram retira<strong>da</strong>s dos rios, neles eram lavados utensílios e roupas,<br />
vertiam-se lixo e as <strong>água</strong>s servi<strong>da</strong>s. As margens eram as preferi<strong>da</strong>s para os cultivos de<br />
subsistência, porém, quando manti<strong>da</strong>s, facilitavam a caça de peque<strong>no</strong>s animais.<br />
Fazen<strong>da</strong>s, vilas e ci<strong>da</strong>des tendiam a surgir próximas às fontes de <strong>água</strong> como<br />
testemunham incontáveis ruas, bairros e ci<strong>da</strong>des <strong>brasil</strong>eiros cujos <strong>no</strong>mes remetem à<br />
<strong>água</strong>. Beira-Rio, Lava-Pés, Barro Branco, Águas Belas, Águas Claras, Paraíba do Sul,<br />
Três Rios, Piratininga, Piauí, Poti e Iguatemi são alguns exemplos.<br />
Como em grande parte do Planeta, <strong>no</strong> Brasil a <strong>apropriação</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong><br />
associou-se à posse <strong>da</strong> terra e os direitos sobre o solo aos direitos sobre o subsolo e suas<br />
riquezas. 5 Vale dizer: a posse <strong>da</strong> terra conferia direitos às <strong>água</strong>s superficiais e<br />
subterrâneas que nela se encontrassem. Contudo, por ser insubstituível e essencial à<br />
vi<strong>da</strong>, possuir múltiplas utilizações (não raro conflitantes) e ser dota<strong>da</strong> de<br />
particulari<strong>da</strong>des como o uso compartilhado, a <strong>água</strong>, desde a Antigui<strong>da</strong>de e nas mais<br />
diferentes civilizações sempre foi objeto de regulações especiais.<br />
A progressiva instituição <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de priva<strong>da</strong> <strong>da</strong> terra levaria também à<br />
proprie<strong>da</strong>de priva<strong>da</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong>. Porém, <strong>da</strong>do o papel estratégico dos rios navegáveis, era<br />
costume na Europa que incluí-los <strong>no</strong> patrimônio Real e a Coroa portuguesa – tal como<br />
posteriormente o Estado nacional <strong>brasil</strong>eiro – procurou manter controle sobre essas vias<br />
reservando para si a proprie<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s mesmas. Conforme disposto <strong>no</strong> Livro II, título XV,<br />
§ 7 <strong>da</strong>s Ordenações Manuelinas 6 e <strong>no</strong> Livro II, Título XXVI <strong>da</strong>s Ordenações Filipinas<br />
em seu, § 8, assim como as estra<strong>da</strong>s e as ruas públicas, os rios navegáveis e aqueles que<br />
5 Os direitos que derivam <strong>da</strong> associação entre a posse <strong>da</strong> terra e <strong>da</strong> <strong>água</strong> hoje são conhecidos como<br />
direitos ribeirinhos. Em outra mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>de de direito, a doutrina <strong>da</strong> “<strong>apropriação</strong> <strong>pré</strong>via”, a <strong>água</strong> pertence<br />
ao primeiro usuário. Nasci<strong>da</strong> nas áreas de mineração do oeste america<strong>no</strong>, onde a <strong>água</strong> precisava ser<br />
desvia<strong>da</strong> de seu curso natural para acompanhar os veios do ouro, sua abrangência é geograficamente<br />
restrita. Atualmente, os defensores <strong>da</strong> transformação <strong>da</strong> <strong>água</strong> em uma mercadoria como qualquer outra a<br />
defendem como exemplo de racionali<strong>da</strong>de dos agentes frente à escassez de <strong>água</strong> <strong>doce</strong>.<br />
6 As Ordenações do Rei<strong>no</strong> consoli<strong>da</strong>vam a ordem jurídica portuguesa e, complementa<strong>da</strong>s Cartas Régias,<br />
Resoluções, Ordenações avulsas e Alvarás tinham vigência <strong>no</strong> Brasil. As Afonsinas tiveram vigência do<br />
descobrimento 1500 a 1514; as Manuelinas de 1514 a 1603 e as Filipinas, que remontam ao período <strong>da</strong><br />
dominação espanhola, de 1603 a 1917, quando entrou em vigor o Código Civil (OLIVEIRA, 2002).
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
os formam, sendo cau<strong>da</strong>is e permanentes ain<strong>da</strong> que de uso comum, seriam proprie<strong>da</strong>de<br />
Real. O uso dessas <strong>água</strong>s estaria sujeito a uma “doação” ou “concessão de uso Real”.<br />
Ademais, diferentemente do que faz crer o discurso hegemônico o uso <strong>da</strong><br />
<strong>água</strong> <strong>no</strong> Brasil – fosse ela proprie<strong>da</strong>de de particulares, <strong>da</strong> Coroa ou do Estado – jamais<br />
esteve livre de regulações. Essencial, insubstituível e dota<strong>da</strong> de peculiari<strong>da</strong>des como o<br />
uso compartilhado, embora abun<strong>da</strong>nte e sujeita as mesmas leis de proprie<strong>da</strong>de que<br />
outros minerais, desde o início <strong>da</strong> colonização a <strong>água</strong> foi objeto de <strong>no</strong>rmas especiais.<br />
O controle sobre rios particulares e a intenção de proteger a <strong>água</strong> impedindo<br />
o desmatamento <strong>da</strong>s matas ciliares é clara na carta de sesmaria <strong>da</strong><strong>da</strong> a Francisco de Pina<br />
(16/02/1611) pela Câmara do Rio Janeiro em parte transcrita por Nireu Cavalcanti<br />
(2004, p. 35). Sugerindo o que hoje receberia a de<strong>no</strong>minação de legislação de proteção<br />
ambiental, a Carta alertava que ao longo do rio Carioca deveria ser mantido o “mato<br />
virgem, o qual não derrubará, nem se cortará de maneira que esteja sempre em pé”,<br />
estando o fi<strong>da</strong>lgo proibido de ali cultivar “[...] bananais e legumes e as mais coisas que<br />
se plantam”. Mostrando que desde então se procurava preservar os diversos usos <strong>da</strong><br />
<strong>água</strong> e que era costume que os trechos dos rios à montante fossem reservados para usos<br />
mais exigentes em quali<strong>da</strong>de a Carta determinava que “ao servir-se do dito Rio com sua<br />
<strong>água</strong> para assim beber e lavar a roupa fará na parte e lugar para isso”. Contudo, o<br />
cumprimento <strong>da</strong> lei exigia contínua e severa vigilância e <strong>no</strong> citado rio essa só se fez<br />
presente após a inauguração de um aqueduto que levava <strong>água</strong> às dezesseis bicas de um<br />
chafariz <strong>no</strong> Largo de Santo Antônio (atual Largo <strong>da</strong> Carioca), núcleo central <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de 7 ,<br />
em 1723. Porém, apenas entre a nascente e o ponto inicial <strong>da</strong> obra. No restante,<br />
“abandonado pela fiscalização pública [...] instalou-se um ver<strong>da</strong>deiro colar de<br />
lavanderias públicas, bebedouros de animais e reservatórios de lixo e esgoto”<br />
(CAVALCANTI, 2004, p. 35).<br />
Em 1797, alegando necessi<strong>da</strong>de de proteger as florestas e os rios do Brasil,<br />
uma Carta Régia <strong>da</strong>ta<strong>da</strong> de 13 de março tor<strong>no</strong>u patrimônio Real às “matas e arvoredos<br />
existentes à bor<strong>da</strong> <strong>da</strong> costa ou de rios que desembocassem imediatamente <strong>no</strong> mar e de<br />
qualquer via fluvial capaz de permitir a passagem de janga<strong>da</strong>s transportadoras de<br />
madeiras”. As terras já doa<strong>da</strong>s que se enquadravam nestas condições retornaram à Coroa<br />
7 Até então a <strong>água</strong> <strong>no</strong> Rio de Janeiro era, basicamente, trazi<strong>da</strong> por “aguadeiros” do distante rio e vendi<strong>da</strong> a<br />
altos preços. Em fins do Império apenas as repartições públicas, as igrejas e umas poucas residências<br />
recebiam <strong>água</strong> domiciliar. Apenas em 1876, tem início as obras para levar <strong>água</strong> aos domicílios na mais<br />
importante ci<strong>da</strong>de do país.
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
e os sesmeiros receberam <strong>no</strong>vas concessões. Para facilitar a fiscalização e o<br />
cumprimento <strong>da</strong> lei – cujos infratores estavam sujeitos a severas penas – <strong>no</strong>vos<br />
instrumentos administrativos foram instituídos, informa Evaristo Eduardo de Miran<strong>da</strong><br />
(s/d, s/p). A medi<strong>da</strong> procurava coibir o contrabando e resguar<strong>da</strong>r uma fonte de riqueza<br />
para a Metrópole: a exportação de pau-<strong>brasil</strong>, mog<strong>no</strong>, cedro e outras madeiras <strong>no</strong>bres,<br />
utiliza<strong>da</strong>s <strong>no</strong> mobiliário e na construção de embarcações. Mas seu alcance mais amplo.<br />
Já então se sabia que conservar as florestas significava também conservar os rios, ou<br />
seja, manter as vias pelas quais a madeira chegava aos portos. Impunha-se, pois,<br />
controlar o corte <strong>da</strong>s árvores nas matas próximas às margens – tal como ocorria em<br />
Portugal 8 .<br />
Porém, com o desenvolvimento <strong>da</strong> indústria açucareira cresceu a necessi<strong>da</strong>de<br />
de <strong>água</strong> <strong>no</strong>s engenhos e alguns proprietários solicitaram mu<strong>da</strong>nça na legislação. Assim,<br />
“em benefício <strong>da</strong> agricultura e <strong>da</strong> causa pública”, o Alvará de 04/03/1819 estendeu ao<br />
Brasil “e a to<strong>da</strong>s as Províncias do Rei<strong>no</strong> de Portugal e Domínios Ultramari<strong>no</strong>s” alguns<br />
parágrafos do Alvará de 27/11/1804 que regulava a construção e o uso de <strong>água</strong>s <strong>no</strong><br />
Alentejo.<br />
A partir <strong>da</strong>í, independentemente de pertencerem ou não ao patrimônio Real,<br />
[...] uma povoação [...] ou [...] proprietário em particular<br />
[necessitando construir] canal ou leva<strong>da</strong> [para] tirar <strong>água</strong> de algum<br />
Rio, Ribeira, Paul ou Nascente [e] regar [suas] terras ou para as<br />
esgotar sendo inun<strong>da</strong><strong>da</strong>s [...] poderia faze-lo, [devendo, para isso,]<br />
requerer licença a um Ministro <strong>da</strong> Vara Branca do Termo ou Comarca<br />
ao qual caberia demarcar o lugar por onde passaria a dita construção<br />
(Alvará de 27/11/1804, § 11).<br />
As dificul<strong>da</strong>des em fazer cumprir a lei <strong>no</strong> vasto e distante território eram<br />
e<strong>no</strong>rmes. Para Cid Tomanik Pompeu (1972) o Alvará apenas reconheceu a situação de<br />
fato existente e permitiu a utilização livre dessas correntes, tornando letra-morta o<br />
disposto nas “Ordenações”. Formalmente, entretanto, a utilização dessas <strong>água</strong>s seguia<br />
requerendo autorização e estava sujeita a condicionali<strong>da</strong>des.<br />
O Alvará de 1804 regulava a <strong>apropriação</strong> e o uso <strong>da</strong> natureza – <strong>água</strong>, terras e<br />
florestas – na clara perspectiva de promover a produção e a riqueza, ou seja, aquilo que<br />
8 Ao longo do rio Tejo (10 léguas em ca<strong>da</strong> uma <strong>da</strong>s margens) proibia-se “descascar” e cortar certas<br />
árvores para fazer carvão ou cinzas mesmo por seus proprietários (OF, T.V, T. LXXV). Em terras comuns<br />
do Alentejo a exploração de matas silvestres cujas árvores serviam para madeira e lenha deveria obedecer<br />
a certo ordenamento e era expressamente proibido cortar ou destruir as árvores <strong>no</strong>vas e brotos (Alvará de<br />
27 de <strong>no</strong>vembro de 1804, OF. L. IV).
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
hoje comumente se de<strong>no</strong>minaria desenvolvimento. Era preciso conservar os “interesses<br />
dos lavradores [para que] se promovesse também a melhor cultura”, dizia. Tal como os<br />
atuais institucionalistas, afirmava que não poderia haver dúvi<strong>da</strong>s a respeito dos direitos<br />
de ca<strong>da</strong> um – proprietários e lavradores. Aliás, esclarecer dúvi<strong>da</strong>s e evitar interpretações<br />
divergentes de leis anteriores era seu propósito. Porém, ao contrário dos discursos que<br />
presidem as intervenções nas formas de <strong>apropriação</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong> <strong>doce</strong> como parte <strong>da</strong><br />
estratégia de combate à escassez – existente ou potencial – o citado Alvará não deixava<br />
claro que regulava relações sociais e de poder o que implica dizer, relações conflituosas.<br />
Assim, embora em <strong>no</strong>me <strong>da</strong> “cultura” fosse necessário resguar<strong>da</strong>r os interesses dos<br />
lavradores, a afirmação destes direitos não poderia prejudicar “a classe dos<br />
proprietários, que deveria tirar vantagem do melhoramento de seus <strong>pré</strong>dios [...]”, diz em<br />
sua justificativa inicial.<br />
As relações de vizinhança eram trata<strong>da</strong>s minuciosamente. Conforme seu<br />
parágrafo 11, os do<strong>no</strong>s dos terre<strong>no</strong>s pelos quais passasse uma corrente de <strong>água</strong> não<br />
poderiam impedir a construção de canais ou obras necessárias ao esgotamento de áreas<br />
inun<strong>da</strong><strong>da</strong>s embora devessem ser ressarcidos dos prejuízos que viessem a sofrer em<br />
decorrência <strong>da</strong>s mesmas. Caso tais obras afetassem “Quintas <strong>no</strong>bres e mura<strong>da</strong>s e [...]<br />
quintaes dos Prédios urba<strong>no</strong>s nas Ci<strong>da</strong>des ou nas Villas”, podendo causar-lhes prejuízos,<br />
a licença para a construção deveria ser concedi<strong>da</strong> por “expressa” Resolução de sua<br />
Majestade e, ain<strong>da</strong> assim, se não houvesse prejuízo a outra já “construí<strong>da</strong>, seja para a<br />
rega de terras ou para alguns engenhos”, mas, apenas “quando possa haver commo<strong>da</strong><br />
divisão <strong>da</strong> <strong>água</strong> de forma que não fique inútil a cultura já feita, ou o Engenho já<br />
construído” (Alvará de 1804, § 12).<br />
Procurando conciliar o direito de proprie<strong>da</strong>de com o direito de acesso à <strong>água</strong>,<br />
seu parágrafo 13 estabelecia que os do<strong>no</strong>s <strong>da</strong>s proprie<strong>da</strong>des que <strong>no</strong> futuro fossem<br />
mura<strong>da</strong>s ou vala<strong>da</strong>s não se obrigavam a <strong>da</strong>r caminho ou passagem por suas terras.<br />
To<strong>da</strong>via, estavam obrigados a deixar passar a <strong>água</strong> e a consertar o aqueduto. Caso uma<br />
mu<strong>da</strong>nça do aqueduto não prejudicasse a passagem <strong>da</strong> <strong>água</strong>, poderiam esses<br />
proprietários requere-la, à condição de arcar com os custos <strong>da</strong>s obras. Previa, também,<br />
acesso aos aquedutos por produtores que não os houvessem custeado devendo, para isso,<br />
pagar “sua cota parte <strong>da</strong> despeza [...] aos que os fizeram construir [...]” A ocorrência de<br />
conflitos era prevista, ficando estabelecido que sendo “[...] necessario haver divisão<br />
judicial <strong>da</strong> <strong>água</strong>, nesta se seguirá o arbítrio de Louvados inteligentes”.
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
O advento do Império não trouxe mu<strong>da</strong>nças <strong>no</strong> que concerne ao domínio <strong>da</strong>s<br />
<strong>água</strong>s. A Constituição de 25 de março de 1824 (artigo 179, XVIII) determi<strong>no</strong>u a<br />
elaboração de um Código Civil e validou o disposto nas Ordenações Filipinas até que o<br />
referido Código fosse promulgado, informa Adriane Stoll de Oliveira (2002),<br />
continuando em vigor o disposto em 1804 até 1917.<br />
O domínio/proprie<strong>da</strong>de legal <strong>da</strong> terra não implicava necessariamente sua posse<br />
efetiva. A capaci<strong>da</strong>de de exercer controle sobre o território e, por extensão, sobre seus<br />
recursos contava mais do que títulos legais. A licenciosi<strong>da</strong>de <strong>no</strong> uso <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s<br />
pertencentes ao patrimônio Real e a vitória dos posseiros piauienses em prolonga<strong>da</strong> luta<br />
contra os sesmeiros baia<strong>no</strong>s (século XVIII) demonstram que as determinações legais<br />
pouco significam frente à incapaci<strong>da</strong>de de garantir os direitos e obrigações que delas<br />
emanam. O mesmo se conclui <strong>da</strong> leitura do belo livro de Denise Santana (2007) sobre<br />
as <strong>água</strong>s na ci<strong>da</strong>de de São Paulo. A rica hidrografia <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de não evitou as frequentes<br />
queixas contra a falta de <strong>água</strong> <strong>no</strong> decorrer do século XVIII. A razão <strong>da</strong> “escassez” e de<br />
contínuos conflitos era o desvio <strong>da</strong> <strong>água</strong> - que deveria servir à coletivi<strong>da</strong>de - para<br />
proveito de poucos. O mesmo se pode dizer a respeito do lançamento de dejetos e <strong>água</strong>s<br />
servi<strong>da</strong>s em certos pontos dos rios, inutilizando-os para usos mais exigentes em<br />
potabili<strong>da</strong>de. Na ausência de vigilância constante, inclusive <strong>no</strong>turna, as leis não se<br />
cumpriam. É razoável supor que nas ci<strong>da</strong>des em que a captação e canalização de<br />
nascentes e riachos por particulares era mais fácil se reproduzissem os mesmos conflitos<br />
aí registrados Sem minimizar o poder econômico e o prestígio social dos contendores,<br />
diferentemente do que ocorria nas áreas mais distantes dos poderes estabelecidos, rurais<br />
ou não, ali era comum recorrer-se à justiça para fazer valer os direitos de vizinhança<br />
estabelecidos em Lei.<br />
O século XIX foi marcado por grandes transformações na vi<strong>da</strong> <strong>brasil</strong>eira: a<br />
vin<strong>da</strong> <strong>da</strong> Corte portuguesa para o Brasil, o boom cafeeiro <strong>no</strong> vale do Paraíba do Sul e,<br />
em segui<strong>da</strong>, <strong>no</strong> Oeste paulista, refletiu-se sobre o espaço urba<strong>no</strong> direta ou indiretamente<br />
vinculado à produção e à comercialização do café. Nas últimas déca<strong>da</strong>s do século o fim<br />
<strong>da</strong> escravidão, a instituição <strong>da</strong> República e as grandes levas de imigrantes que chegaram<br />
ao país reforçaram o aumento <strong>da</strong> população urbana favorecendo a dinamização do<br />
comércio, o nascimento de indústrias leves e de peças e implementos dirigidos para o<br />
setor exportados nas ci<strong>da</strong>des vincula<strong>da</strong>s à produção e exportação do café; vários bancos<br />
surgiram. Entre o último terço do século XIX e 1930 o poder público investiu – ou
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
financiou inversões priva<strong>da</strong>s – em portos, linhas de navegação, ferrovias, transporte<br />
urba<strong>no</strong>, aterros, loteamentos e arruamentos. O espaço <strong>da</strong>s modificando profun<strong>da</strong>mente<br />
como indicam, dentre outros, Wilson Suzigan (1986) e Maurício Abreu (2001).<br />
A <strong>água</strong> ganhou <strong>no</strong>vos usos, a deman<strong>da</strong> aumentou. O crescimento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong>des<br />
exigia ampliação e melhorias <strong>no</strong>s recentes e precários serviços de abastecimento de <strong>água</strong><br />
potável, energia e saneamento. Datava de 1876 as primeiras obras visando levar <strong>água</strong><br />
aos domicílios na capital do Império. Até então apenas as repartições públicas, Igrejas e<br />
umas poucas residências recebiam <strong>água</strong> domiciliar. Em resposta, multiplicaram-se as<br />
pequenas hidrelétricas construí<strong>da</strong>s em rios particulares cuja energia – principal uso<br />
<strong>industrial</strong> <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s – era consumi<strong>da</strong> pelos próprios produtores ou comercializa<strong>da</strong>. Seu<br />
desti<strong>no</strong>: iluminação pública, tecelagens, serrarias, indústrias de beneficiamento de<br />
produtos agrícolas e mineradoras.<br />
A indústria exigia a desvinculação entre a proprie<strong>da</strong>de do subsolo e do solo.<br />
As que<strong>da</strong>s d’<strong>água</strong> e as minas precisavam estar disponíveis para permitir o ple<strong>no</strong><br />
desenvolvimento <strong>da</strong> produção de energia, <strong>da</strong> mineração e <strong>da</strong> metalurgia. Assim ocorrera<br />
na Europa, alertara Claude Henri Gorceix (2000, s/p) em 1875, a propósito <strong>da</strong>s minas. O<br />
cientista convi<strong>da</strong>do para montar a primeira Escola de Minas <strong>no</strong> Brasil argumentou junto<br />
ao Imperador que a realização de “trabalhos grandiosos” e a sustentação <strong>da</strong>s guerras, há<br />
muito se sabia, exigiam que o subsolo fosse declarado “proprie<strong>da</strong>de pública”. As minas<br />
deveriam estar sujeitas a uma legislação particular e caberia ao Estado explorá-las “ou<br />
entregá-las à indústria priva<strong>da</strong>, sob condições determina<strong>da</strong>s pela natureza e situação <strong>da</strong><br />
jazi<strong>da</strong>”. Porém, o Brasil era um país eminentemente agrário O poder dos do<strong>no</strong>s de terra<br />
prevaleceu.<br />
A primeira Constituição republicana manteve associa<strong>da</strong>s ao solo a<br />
proprie<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s minas e <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s. Afinal o trabalho escravo mal acabara de ser abolido<br />
e fazia apenas meio século que a própria terra se tornara objeto de compra e ven<strong>da</strong>. 9<br />
Contudo, a possibili<strong>da</strong>de de futuras limitações dos direitos sobre a <strong>água</strong> em favor do<br />
desenvolvimento <strong>da</strong> produção mineral foi prevista.<br />
Dizia a Constituição de 1891:<br />
9 Lei 601 de 1850, conheci<strong>da</strong> como Lei de Terras.<br />
O direito de proprie<strong>da</strong>de mantém-se em to<strong>da</strong> a sua plenitude salva a<br />
des<strong>apropriação</strong> por necessi<strong>da</strong>de ou utili<strong>da</strong>de pública mediante <strong>pré</strong>via<br />
indenização. As minas pertencem aos proprietários do solo salvas as
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
limitações que forem estabeleci<strong>da</strong>s por lei a bem <strong>da</strong> exploração deste<br />
ramo de indústria (C.F. 1891, art. 72, § 17).<br />
As transformações na socie<strong>da</strong>de <strong>brasil</strong>eira sinalizavam para a necessi<strong>da</strong>de de<br />
<strong>no</strong>vas definições legais acerca do domínio e uso <strong>da</strong> <strong>água</strong> <strong>doce</strong>. A tentativa de efetuar<br />
essas mu<strong>da</strong>nças e elaborar uma legislação específica para as <strong>água</strong>s proposta pelo<br />
professor Alfredo Valadão em 1907, fracassou. Até 1934 as <strong>água</strong>s permaneceriam<br />
regi<strong>da</strong>s pelos direitos de proprie<strong>da</strong>de e vizinhança consubstanciados, a partir de 1917, <strong>no</strong><br />
Código Civil 10 cujo artigo 526 preceituava:<br />
A proprie<strong>da</strong>de do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em to<strong>da</strong> a<br />
altura e em to<strong>da</strong> a profundi<strong>da</strong>de, úteis ao seu exercício, não podendo,<br />
to<strong>da</strong>via, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma<br />
altura ou profundi<strong>da</strong>de tais, que não tenha ele interesse algum em impedi-los<br />
(Re<strong>da</strong>ção <strong>da</strong><strong>da</strong> pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15/01/1919).<br />
Finalmente, em 1934, <strong>no</strong> bojo <strong>da</strong>s ações modernizadoras enceta<strong>da</strong>s pela<br />
chama<strong>da</strong> Revolução de Trinta, com o Decreto 24.643 o Brasil ganhou uma legislação de<br />
<strong>água</strong>s específica: o Código de Águas. Na condução dos trabalhos que levaram a adoção<br />
deste dispositivo legal estava um militar, Juarez Távora, um oficial de mentali<strong>da</strong>de<br />
moderna, ou seja, plenamente envolvido <strong>no</strong>s esforços pela <strong>industrial</strong>ização do país. O<br />
Brasil <strong>da</strong>va passos cruciais rumo a superação <strong>da</strong> eco<strong>no</strong>mia agroexportadora e o Código<br />
de Águas foi um instrumento essencial desse processo. Em 1997, a Lei n. 9.433 altera<br />
princípios fun<strong>da</strong>ntes do Código de 1934. A alteração correspondia a uma <strong>no</strong>va fase do<br />
desenvolvimento capitalista <strong>no</strong> país. O Brasil urba<strong>no</strong> e <strong>industrial</strong>izado precisaria<br />
disciplinar a <strong>apropriação</strong> e a <strong>regulação</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong> <strong>doce</strong> conforme <strong>no</strong>vos interesses<br />
hegemônicos.<br />
Referencias Bibliográficas<br />
ABREU, Maurício. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: IPP, 2006.<br />
BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos <strong>da</strong>s grandezas do Brasil. Disponível em:<br />
Acesso:<br />
10/07/2011.<br />
BRASIL. Constituições do Brasil. Organização, revisão e índices por Fernando Mendes de Almei<strong>da</strong>, 2ª<br />
ed. São Paulo: Saraiva, 1958. 701 p.<br />
CAMINHA, Pero Vaz. Carta a el Rei D. Manuel. Disponível em:<br />
Acesso: 09/07/10.<br />
10 Lei 3.071 de 01/01/1916, que entrou em vigor em 1917 (POMPEU, 1972).
Revista VITAS – Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Socie<strong>da</strong>de – www.uff.br/revistavitas<br />
Nº 1, setembro de 2011<br />
CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista – a vi<strong>da</strong> e a construção <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> invasão<br />
francesa até a chega<strong>da</strong> <strong>da</strong> Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.<br />
DOMINGOS NETO, Manuel e BORGES, Geraldo de Almei<strong>da</strong>. Seca Seculorum: flagelo e mito na<br />
eco<strong>no</strong>mia rural piauiense. 2ª ed. Teresina: CEPRO, 1987.<br />
GLEICK, Peter H. et al./Pacific Institute. The world’s water. 2008-2009. The biennial report on<br />
freshwater resources. 2009. Disponível em: . Acesso<br />
em: 23 ago. 2010.<br />
GORCEIX, Claude Henri. Relatório. Disponível em: Acesso:<br />
20/09/07.<br />
LUZ, Nícia Vilela. A luta pela <strong>industrial</strong>ização do Brasil: 1808 a 1930. 2ª ed. São Paulo: Alfa Omega,<br />
1975. 224 p.<br />
MEDEIROS, Rodrigo. Evolução <strong>da</strong>s tipologias e categorias de áreas protegi<strong>da</strong>s <strong>no</strong> Brasil. Ambiente &<br />
Socie<strong>da</strong>de. Vol. 9, n°.1, Campinas Jan./Jun., 2006. Disponível em:<br />
Acesso: 10/04/10.<br />
MIRANDA, Evaristo Eduardo de. Uma legislação de <strong>água</strong>s desde o século XVI. Disponível em:<br />
http://www.padrefelix.com.br/agua37.htm. Acesso: 09/07/10<br />
OLIVEIRA, Adriane. Stoll de. A codificação do Direito. Jus Navigandi, Teresina, a<strong>no</strong> 7, n. 60, <strong>no</strong>v. 2002.<br />
Disponível em: <br />
Acesso: 15/07/10.<br />
ORDENAÇÕES FILIPINAS. [1998]. Disponível em:<br />
. Acesso em: 09 out. 2010.<br />
ORDENAÇÕES MANUELINAS. [1998]. Disponível em: .<br />
Acesso em: 09 out. 2010.<br />
POMPEU, Cid Tomanik. Regime jurídico <strong>da</strong> concessão de uso <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s públicas. In: Revista de Direito<br />
Público, n.º 21, p. 160-173, 1972.<br />
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização <strong>da</strong> natureza e a natureza <strong>da</strong> globalização. Rio de<br />
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.<br />
REBOUÇAS, Aldo <strong>da</strong> Cunha. Água e desenvolvimento rural. In: Estudos Avançados.<br />
V. 15, set/dez., p. 327-344, 2001.<br />
REBOUÇAS, Aldo <strong>da</strong> Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia. Apresentação. Águas <strong>doce</strong>s<br />
<strong>no</strong> Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 1999.<br />
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Ci<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s <strong>água</strong>s: usos de rios, córregos, bicas e chafarizes em São<br />
Paulo (1822-1901). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.<br />
SILVESTRE, M. E. D. Água <strong>doce</strong> <strong>no</strong> Brasil – razões de uma <strong>no</strong>va política. Dissertação de mestrado.<br />
Universi<strong>da</strong>de Federal do Ceará (UFC), 2003. Disponível em:<br />
http://www.prodema.ufc.br/dissertações/077.pdf. Acesso: 02/06/08.<br />
SUZIGAN, W. Indústria <strong>brasil</strong>eira. Origem e desenvolvimento. São Paulo: Brasiliense. 1986.