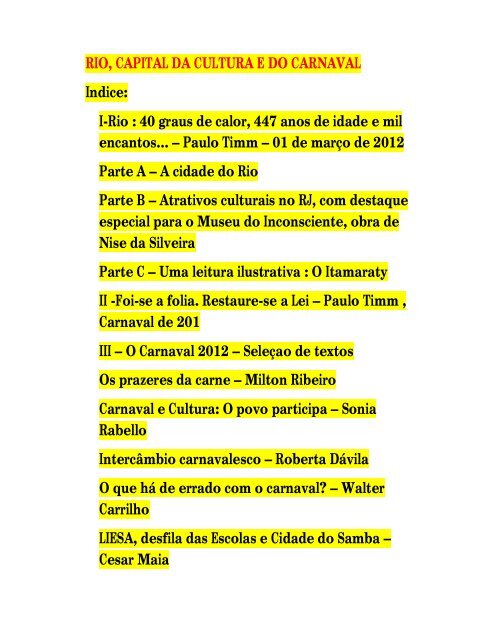Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RIO, CAPITAL DA CULTURA E DO CARNAVAL<br />
Indice:<br />
I-<strong>Rio</strong> : 40 graus de calor, 447 anos de idade e mil<br />
encantos... – Paulo Timm – 01 de março de 2012<br />
Parte A – A cidade do <strong>Rio</strong><br />
Parte B – Atrativos culturais no RJ, com destaque<br />
especial para o Museu do Inconsciente, obra de<br />
Nise da Silveira<br />
Parte C – Uma leitura ilustrativa : O Itamaraty<br />
II -Foi-se a folia. Restaure-se a Lei – Paulo Timm ,<br />
Carnaval de 201<br />
III – O Carnaval 2012 – Seleçao de textos<br />
Os prazeres da carne – Milton Ribeiro<br />
Carnaval e Cultura: O povo participa – Sonia<br />
Rabello<br />
Intercâmbio carnavalesco – Roberta Dávila<br />
O que há de errado com o carnaval? – Walter<br />
Carrilho<br />
LIESA, desfila das Escolas e Cidade do Samba –<br />
Cesar Maia
I<br />
***<br />
RIO, 40 GRAUS DE CALOR, 447 ANOS DE IDADE E<br />
ENCANTOS MIL...<br />
Carioca - Chico Buarque<br />
Sun, 07 Feb 2010 11:21:39 PST<br />
PARTE A<br />
Clipe oficial da canção "Carioca", incluída no disco "As cidades" de 1998. Conteúdo de áudio: Sony Music<br />
Entertainment.<br />
www.youtube.com<br />
Os leitores hão de se perguntar:- Que diabos, esta coluna, sobre o <strong>Rio</strong> de Janeiro?! Tão distante<br />
de Torres, com a qual tem apenas um longínquo parentesco pelo mar!?<br />
Explico-me: Até os melhores, dentre nós, têm as suas fraquezas. No fundo, como diz o Caetano,<br />
ninguém se salva...!<br />
Nasci no <strong>Rio</strong>, no ano da Guerra de 1944. E fico pensando na minha sorte de estar tão fora das<br />
famosas bombas U2 de Hitler, que fustigavam Londres na mesma época. Afinal, nossas tropas<br />
já estavam em luta ao lado dos Aliados, na Itália, e éramos tão inimigos dos alemães quanto os<br />
ingleses...Mas longe do “teatro de operações”, sobrevivi. Sou carioca. Um termo estranho<br />
derivado do tupi kari’oka, que, segundo Marcio Bueno, na sua Origem curiosa das palavras,<br />
veio da junção da kara’iwa , ou caraíba, homem branco e oka , casa:<br />
A significação da palavra, portanto, era a de “casa de branco”, construção feita de<br />
pedra e cal que os índios até então não conheciam. As primeiras casas que foram<br />
chamadas de carioca foram construídas na praia do Flamengo em 1503 ao lado da foz<br />
de um rio de água límpidas, chamado Tijuca.<br />
Na época, era uma das únicas fontes de água doce da cidade, pela qual lutaram<br />
portugueses, franceses e índios. Um tempo depois, o rio ficou conhecido como Carioca.<br />
As águas do rio tiveram um papel muito importante para o progresso da cidade. Devido<br />
a essa importância, com o tempo, o nome passou a ser dado aos nascidos na cidade. No<br />
início do século 19, o termo tinha um sentido ruim e disputava com “fluminense” o<br />
adjetivo que denominaria os moradores do <strong>Rio</strong> de Janeiro. Carioca acabou se<br />
popularizando e hoje diferenciamos o habitantes da cidade do <strong>Rio</strong> de Janeiro, os<br />
cariocas, dos habitantes do estado do <strong>Rio</strong> de Janeiro, chamados fluminenses.<br />
Fonte: Origem curiosa das palavras – Márcio Bueno<br />
http://emdiacomalp.wordpress.com/2008/07/08/origem-da-palavra-%E2%80%9Ccarioca%E2%80%9D/
Talvez por isso sempre tive uma grande obsessão pela Cidade Maravilhosa. Filho de militar,<br />
porém, só fiz nascer e viver meus primeiros anos naquela cidade. Logo me trouxeram para o<br />
<strong>Rio</strong> Grande, onde me aquerenciei para o resto da vida. Aqui fiz-me “quera”. Mas lá ficou,<br />
gravado na pedra imemorial, o amor pelo <strong>Rio</strong>. Nem havia chegado aos 18 anos de idade e já lá<br />
estava morando, numa empreitada que fiz junto com meu amigo Salustio (tinho)Maciel,<br />
morador do Edifício dos Bancários, no fim da Riachuelo, o qual lá tinha um já famoso irmão , o<br />
Luiz Carlos Maciel. Era o começo da década de 60, a cidade estava revirada pelas obras do<br />
aterro, à época do Lacerda, e tudo no <strong>Rio</strong> me encantava:sol, a praia, as mulheres... Tinho foi<br />
trabalhar na “ Courolândia”, de Copacabana; o James, outro gaúcho, amigo nosso, foi trabalhar<br />
num Banco e eu, ainda longe da maioridade, fiquei desempregado um bom tempo. Acabei<br />
voltando para o Sul. Retornaria, na década seguinte, já formado, trabalhando no IPEA em<br />
Brasília, para um sem número de reuniões ao <strong>Rio</strong>. E ali passava todas as férias. Na “ minha “<br />
cidade, fazia questão de dizer, aos que estranhavam o acento... E já nos anos 80, coube-me um<br />
longo período de mais de dois anos no <strong>Rio</strong>,trabalhando ao lado de Brizola, no Palácio<br />
Guanabara. Dali, todos os dias,irremediavelmente, saía com José Casali, outro aspone, para o<br />
fim de tarde no centenário “ Lamas” . Sem ter ainda chegado aos 40, vivi , então, um dos<br />
melhores momentos da minha vida. No <strong>Rio</strong>...<br />
Tudo isto, à guisa de explicação ao prezado leitor, para que compreenda minha tentação em<br />
registrar esta data, que no ano de 1565, daria origem à maravilhosa cidade incrustada entre<br />
abundantes espécies de Mata Atlântica, ainda visíveis e aprazíveis, e os recortes insinuantes do<br />
mar. Poucos sabem, entretanto, que já em meados do século XIX as manchas de mata<br />
circundante já haviam sido extintas e só voltaram a crescer graças aos esforços, neste sentido,<br />
do Imperador Dom Pedro II. Mas foram precisamente estas formas sinuosas e femininas da<br />
natureza que levariam Niemeyer a discordar de seu grande amigo, Le Corbusier, amante das<br />
linhas retas, levando-o aos delicados toques de sustentação de suas estruturas arquitetônicas que<br />
revolucionaram esta arte. Não mais colunas, mas elos de ligação entre o efêmero da terra e o<br />
eterno dos céus. E o <strong>Rio</strong> como inspiração. Brasília, como oportunidade.<br />
Coelho Neto "Príncipe dos Prosadores Brasileiros” , em 1908, deu ao <strong>Rio</strong> o cognome de “<br />
Cidade Maravilhosa” , nas páginas do jornal "A Notícia" . Tão apropriada a denominação que<br />
ele, em1928, celebraria este feito com o lançamento da centésima publicação do livro com este<br />
título.Estava consagrado o novo nome. Faltava-lhe uma canção e ela veio em 1934, quando o<br />
compositor baiano André Filho lança, para o carnaval daquele ano, na voz de Aurora Miranda,<br />
uma das músicas brasileiras mais famosas de todos os tempos, transformada em Hino do <strong>Rio</strong> de<br />
Janeiro:<br />
Daniela Mercury - Réveillon 2010 "CidadeMaravilhosa" - www.youtube.com<br />
http://www.youtube.com/v/liCVcDqhQ5Y&fs=1&source=uds&autoplay=1<br />
"Cidade Maravilhosa/ Cheia de Encantos Mil.../ Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil!<br />
Berço do samba e das lindas canções / Que vivem n'alma da gente... / És o altar dos nossos<br />
corações/ Que cantam alegremente !<br />
Cidade Maravilhosa/ Cheia de Encantos Mil... /Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil !<br />
Jardim florido de amor e saudade, / Terra que a todos seduz.../ Que Deus te cubra de<br />
felicidade/ Ninho de sonho e de luz./
Cidade Maravilhosa/ Cheia de Encantos Mil... /Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil ! "<br />
Hoje, o <strong>Rio</strong> não é mais a capital do país, mas ainda é um grande centro de irradiação cultural.<br />
Erram, aliás, os que, indo ao <strong>Rio</strong>, limitam-se às suas praias ou à sua noite, sempre promissora.<br />
Quem resiste aos Arcos da Lapa? Ou a uma visita ao “ Estudantina” ? Mas o grande passeio no<br />
<strong>Rio</strong> é a visitação aos seus museus, à Biblioteca Nacional, ao Gabinete Português de Leitura, ao<br />
Teatro Nacional, que aliás, tem, um belo Restaurante, sempre muito frequentado. Prometo fazer<br />
um roteiro mais apropriado para os interessados neste turismo cultural. Por hoje, meu <strong>Rio</strong>:<br />
MEUGRANDE ABRAÇO!!! “AQUELE ABRAÇO”...<br />
Aquele Abraco, Gilberto Gil<br />
Thu, 29 May 2008 14:32:44 PDT<br />
Aquele Abraco by Gilberto Gil from his Acoustic album. This song made Gil famous decades ago but still<br />
sounds modern in this acoustic ...<br />
www.youtube.com<br />
PARTE B<br />
Promessa é dívida. Nem bem o dia acabou, anunciando as águas de março, e cá estou trazendo<br />
aos leitores que viajam ao <strong>Rio</strong>, algumas sugestões para um roteiro mais cultural do que<br />
veranístico. BOA VIAGEM!<br />
Antes, porém, algumas observações históricas sobre esta sempre maravilhosa cidade.<br />
Embora fundada em 1565, o <strong>Rio</strong> teria que esperar o despertar da mineração nas Gerais, no<br />
século XVIII, para se converter em centro de maior atenção. O ouro colonial iria abastecer a<br />
ociosidade das Cortes em Portugal e começou a sair pelos portos litorâneos descendo o tortuoso<br />
caminho que ainda hoje leva a Parati. Já em 1763, diante da crise da economia açucareira no<br />
Nordeste, a capital se desloca para o <strong>Rio</strong> de Janeiro, o qual, não obstante, permanecerá como<br />
uma acanhada vila até a chegada da Família Real, em 1808. Aí a cidade ganha foro de cidade<br />
européia, abrigando uma corte de mais de dez mil reinóis e vindo a se tornar, cada vez mais,<br />
uma cidade com ares cosmopolitas e elevada presença estrangeira. Vive, então, seu primeiro<br />
surto de iluminação, graças à presença na comitiva Real de diversos artistas, como Debret, que<br />
deixará deste tempo memorável registro em seus quadros:<br />
Quase de imediato, a paisagem carioca começa a mudar. Ruas são alargadas;<br />
calçadas, construídas. A cidade vai ficando mais moderna, limpa, e ganha um banho de<br />
civilização. No mesmo ano, começa a circular a Gazeta do <strong>Rio</strong> de Janeiro, primeiro<br />
jornal do País. Fundam-se a Real Biblioteca do Brasil (o embrião da Biblioteca<br />
Nacional), e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (a atual Escola de Belas Artes);<br />
Na área de um antigo engenho de cana, ergue-se uma fábrica de pólvora; a beleza do<br />
entorno deixa Dom João fascinado. Ali ele inaugura o Real Horto, depois rebatizado de<br />
Jardim Botânico.<br />
(http://www.brasilparatodos.com.br/)<br />
Com a Independência, a cidade passa a ser o centro de convergência da política<br />
nacional, daí retumbando as farpas de inflamados discursos liberais, antiescravistas e até<br />
sociais, tanto da tribuna do Senado , como da Câmara dos Deputados, como também
dos movimentos de rua e primeiros jornais, que reproduziam em suas páginas literárias<br />
as primeiras letras brasileiras. No dia 15 de dezembro de 1896, às três da tarde, na sala<br />
de redação da Revista Brasileira, na travessa o Ouvidor, nº 31, Machado de Assis, foi<br />
aclamado Presidente da recém criada Academia Brasileira de Letras. Formalizava-se a<br />
língua, revigorava-se, neste gesto, a própria Pátria. A emergência na economia cafeeira<br />
no Vale do Paraíba, revigorou, também o <strong>Rio</strong> de Janeiro, convertendo-o no grande<br />
centro de comercialização do produto e pilar da Boa Sociedade da época. Ao final do<br />
século XIX cerca de um milhão de pessoas já se aglomeravam entre os bairros<br />
tradicionais ao longo da praia e os morros. O Governo, enquanto isto, procurava fazer<br />
da cidade o cartão de visita da nova nação, colocando-a em concorrência com Buenos<br />
Aires como a réplica de Paris deste lado do Novo Mundo.<br />
Veio, então, a República e com ela um novo surto iluminista no <strong>Rio</strong> de Janeiro, que teve<br />
na gestão do Prefeito Pereira Passos (1902-1906) um grande marco. Desta época é a<br />
remodelação urbana da cidade e a adoção do samba como sua principal inspiração<br />
musical, que só se consagrará, no entanto, depois da Revolução de 30, quando se ocorre<br />
a oficialização do carnaval. Noel Rosa (1910-19370 sobe e inspira-se no morro,<br />
resgatando-o para a desconfiada Boa Sociedade do asfalto, ainda amedrontada com o<br />
espectro da escravidão negra.<br />
Já no século XX, inaugura-se o Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris. A<br />
capital francesa também servira de modelo para o prefeito Pereira Passos, que entre<br />
1902 e 1906 manda abrir largas avenidas no centro da cidade, no estilo dos bulevares<br />
parisienses. Túneis ligam Botafogo a Copacabana, iniciando-se assim a ocupação do<br />
bairro, e popularizando o hábito (tão carioca) dos banhos de mar. Um otimismo<br />
ensolarado parece contagiar o <strong>Rio</strong>. No início dos anos 1920, dois hotéis de luxo, o<br />
Glória e o Copacabana Palace, abrem as portas: a cidade entra de vez na rota do<br />
turismo internacional. Na década seguinte, a estátua do Cristo Redentor é instalada no<br />
topo do Corcovado<br />
(Idem, cit. Acima)<br />
Estava preparado o cenário para o grande momento cultural do <strong>Rio</strong> de Janeiro, entre<br />
1930 e 1960, quando perde a condição de Capital Federal para Brasília, sem qualquer<br />
compensação por esta perda de status, que teria grandes reflexos na economia<br />
doméstica. Nesta etapa, o <strong>Rio</strong> se consolida como o grande centro de ressonância<br />
nacional em todos os campos: política e artes, só perdendo para Sáo Paulo no tocante à<br />
modernização da economia industrial. É a Era do Rádio, articulando em torno da Rádio<br />
Nacional todos os interesses do país. O cinema dá seus primeiros passos e a Bossa Nova<br />
culmina o período se transformando num gênero internacional. A literatura, em especial<br />
o teatro de Nelson Rodrigues, incorpora o Brasil nas grandes expressões universais do<br />
gênero.<br />
O <strong>Rio</strong>, claro, não é só festa. Desde que a capital foi transferida para Brasília, em 1960,<br />
a cidade sofre com o descaso do poder público. A retração econômica e a falta de<br />
políticas de habitação abriram as porteiras para a ocupação desordenada dos morros,
muitos deles dominados pelo tráfico de drogas. A violência existe – e assusta; aliás,<br />
como em qualquer metrópole brasileira, mas no <strong>Rio</strong> ela repercute com mais força, seja<br />
pela proximidade morro-asfalto, seja porque a cidade serve de caixa de ressonância<br />
das sequelas nacionais, reverberandoas para o resto do País. Mas o carioca resiste a<br />
se deixar ficar preso em casa.A vida noturna segue intensa, ainda mais depois que, na<br />
última década, o outrora decadente bairro da Lapa (região central do <strong>Rio</strong>) ressurgiu,<br />
revitalizado, com novas casas de samba ocupando antigos casarões restaurados.<br />
Vários bairros têm personalidade própria, marcante, e são atrações turísticas em si<br />
mesmas. Também na área do Centro, Santa Teresa é território de gente descolada, com<br />
ruas e ladeiras de paralelepípedo se espalhando por morros, cheias de barzinhos e<br />
ateliês. Já na Zona Sul, o ar bucólico da Urca, pequeno bairro residencial aos pés do<br />
Pão de Açúcar, contrasta com o caos e a claustrofobia de Copacabana, que continua<br />
sendo a praia preferida dos gringos. Já Ipanema é a favorita dos cariocas, com seu<br />
jeito despojado (e que todo verão lança uma moda). Vizinho, o Leblon reúne, numa<br />
combinação salutar, lojas de grife e restaurantes chiques à informalidade dos bares e<br />
botecos, e de sua contrapartida natureba, as casas de suco, onde a regra também é<br />
encostar o cotovelo no balcão. Mais distante, a Barra da Tijuca lembra Miami, com<br />
shoppings e condomínios, mas preserva uma das melhores praias da cidade, com<br />
aspecto meio selvagem, onde kitesurfistas aproveitam o vento forte.<br />
(cit.acima)<br />
Ao longo desta jornada, desde 1808 até 1960 o <strong>Rio</strong> de Janeiro forjou uma identidade<br />
que se confundiria com a própria identidade nacional. Desta época são os grandes<br />
monumentos do Roteiro Cultural da cidade , indicados a seguir.<br />
ATRATIVOS CULTURAIS NO RIO DE JANEIRO<br />
http://www.feriasbrasil.com.br/rj/riodejaneiro/atrativosculturais.cfm - Por Editoria Férias Brasil<br />
Boa parte da história do Brasil – em especial do período Imperial - está<br />
guardada no <strong>Rio</strong> de Janeiro. Belos prédios dos séculos 19 e 20 abrigam museus<br />
e centros culturais que não se limitam a contar os fatos – muitos espaços<br />
oferecem programação intensa e funcionam como cenários perfeitos para<br />
exposições temporárias, mostras de cinema, apresentações de música, teatro e<br />
dança... Antes de partir para o passeio, consulte os atrativos para checar os<br />
horários de funcionamento – alguns fecham às segundas-feiras. Aproveite para<br />
agendar as visitas guiadas e se informar sobre os dias em que a entrada é<br />
gratuita. Já para fazer um dos programas culturais preferidos dos cariocas,<br />
siga para as livrarias espalhadas pelo Centro, Leblon e Ipanema. Além de<br />
conferir os últimos lançamentos e tomar um café, não é raro cruzar com<br />
celebridades, curtir um show ou participar de uma noite de autógrafos.
ATRATIVOS CULTURAIS NO RIO DE JANEIRO<br />
http://www.feriasbrasil.com.br/rj/riodejaneiro/atrativosculturais.cfm - Por Editoria Férias Brasil<br />
Boa parte da história do Brasil – em especial do período Imperial - está<br />
guardada no <strong>Rio</strong> de Janeiro. Belos prédios dos séculos 19 e 20 abrigam museus<br />
e centros culturais que não se limitam a contar os fatos – muitos espaços<br />
oferecem programação intensa e funcionam como cenários perfeitos para<br />
exposições temporárias, mostras de cinema, apresentações de música, teatro e<br />
dança... Antes de partir para o passeio, consulte os atrativos para checar os<br />
horários de funcionamento – alguns fecham às segundas-feiras. Aproveite para<br />
agendar as visitas guiadas e se informar sobre os dias em que a entrada é<br />
gratuita. Já para fazer um dos programas culturais preferidos dos cariocas,<br />
siga para as livrarias espalhadas pelo Centro, Leblon e Ipanema. Além de<br />
conferir os últimos lançamentos e tomar um café, não é raro cruzar com<br />
celebridades, curtir um show ou participar de uma noite de autógrafos.
Turismo Cultural do <strong>Rio</strong> de Janeiro ganha novo roteiro<br />
Em 2009, por ocasião da celebração do aniversário da Proclamação da República e<br />
junto à 7ª Semana Nacional de Museus, foi lançado, no Museu da República, pela<br />
Prefeitura do <strong>Rio</strong> o Circuito Sítios Históricos da República, selecionando lugares que<br />
contemplaram importantes feitos da instauração da República. Trata-se de uma proposta<br />
de produto turístico que enriquece a cultura e o turismo seletivo da cidade. Na ocasião,<br />
houve a encenação da obra "A Pátria", de Pedro Bruno.<br />
Roteiro do Circuito Sítios Históricos da República:<br />
1.Igreja Positivista;<br />
2. Museu Casa de Benjamin Constant;<br />
3. Palácio do Itamaraty;<br />
4. Praça da República;<br />
5. Casa de Deodoro;<br />
6. Museu da República.<br />
Alguns podem estranhar a inclusão do Palácio do Itamaraty, antiga sede do Ministério<br />
das Relações Exteriores, no <strong>Rio</strong> de Janeiro. Basta, porém, passar os olhos no texto<br />
anexo, ao final deste artigo, para se verificar o acerto da escolha, que foi, aliás, minha<br />
primeira visita cultural quando cheguei à cidade, nos idos de 1962, lá indo à caça de<br />
informações para ingresso na carreira diplomática.<br />
Ainda como parte da Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro<br />
de Museus, o bairro de São Cristóvão apresentou o “Turismo Cultural no Bairro
Imperial de São Cristóvão”, um roteiro pelos cinco museus daquele bairro . Eis o<br />
roteiro:<br />
Museu Nacional/UFRJ<br />
Quinta da Boa Vista, s/nº - Tel. 2562-6940<br />
Museu Militar Conde de Linhares<br />
Av. Pedro II, 383 - Tel. 2589-9734<br />
Museu do Primeiro Reinado/Solar Marquesa de Santos<br />
Av. Pedro II, 293 – Tel. 2332-4513<br />
Museu de Astronomia e Ciências Afins<br />
Rua General Bruce, 586 – Tel. 2580-7010<br />
Museu Maçônico<br />
Campo de São Cristóvão, 114<br />
Clube de Regatas Vasco da Gama.<br />
http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?article-id=735149<br />
Embora sem constar do catálogo acima, vale registrar outro importante evento em<br />
Sáo Cristóvão: A FEIRA DE S. CRISTOVAM – clique:<br />
http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-especial/videos/t/todos-os-videos/v/conheca-afeira-de-sao-cristovao-um-pedaco-do-nordeste-no-rio-de-janeiro/1760220/<br />
OUTROS ESPAÇOS CULTURAIS NO RIO DE JANEIRO<br />
Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro<br />
O Centro Cultural Banco do Brasil está instalado, desde 1989, no prédio estilo<br />
neoclássico que foi sede do Banco do Brasil de 1906 a 1986. Polo cultural e artístico, o<br />
CCBB possui 17 mil m² que abrigam dois teatros, quatro salas para mostras, biblioteca<br />
com mais de 140 mil volumes em acervo informatizado, auditório, salas de vídeo e<br />
cinema, cinema, teatro, livraria, loja, salão de chá e restaurante, além de espaços para<br />
exposições temporárias. leia mais<br />
No primeiro e segundo andares, são realizadas exposições que mudam a cada dois<br />
meses. O museu fica no sexto andar e traz uma exposição permanente, Brasil Através da<br />
Moeda, que apresenta uma coleção formada por cerca de 38 mil peças, entre moedas,<br />
medalhas, cédulas e outros valores impressos nacionais e estrangeiros.<br />
O espaço oferece ainda programação que inclui espetáculos, mostras de cinema,<br />
debates, oficinas e ciclos de conferências. Outro destaque é a programação musical,<br />
com shows de todos os estilos, realizados durante o horário de almoço e também no<br />
pós-expediente.<br />
Foto: Pedro Kirilos / <strong>Rio</strong>tur<br />
Fonte: http://www.bb.com.br/cultura/ ; Email: ccbbrio@bb.com.br<br />
Telefones - (21) 3808-2020 - Estacionamento: gratuito - Horário: Terça a domingo, 9h às<br />
21h.<br />
Theatro Municipal<br />
Um dos mais glamourosos prédios da Cinelândia, o Theatro Municipal foi inspirado na<br />
Ópera de Paris e inaugurado em 1909. Em seu interior estão arcadas, balaustradas,<br />
colunas e escadarias de mármore, esculturas em bronze e vitrais importados da Europa.<br />
As pinturas na abóbada do foyer e no teto sobre a platéia levam a assinatura...<br />
Prédio passou por reforma completa em 2009, ano do centenário Foto: Vânia Laranjeira
Museu de Arte Moderna do <strong>Rio</strong> de Janeiro (MAM)<br />
O prédio modernista representa um marco na arquitetura brasileira, resultado das linhas<br />
retas do arquiteto Affonso Eduardo Reidy e do projeto paisagístico de Roberto Burle<br />
Marx. Inaugurado em 1958 e reativado em 1990, o museu sedia grandes exposições<br />
nacionais e internacionais. Com um acervo de onze mil obras reúne esculturas e<br />
pinturas.<br />
concorridas exposições Foto: Embratur<br />
Museu do Inconsciente<br />
MAM é cenário de eventos e<br />
História - http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/html/historia.html<br />
Nise da Silveira – vídeo - http://www.youtube.com/watch?v=Ns_x0rCxI8w<br />
O Museu de Imagens do Inconsciente teve origem nos ateliês de pintura e de<br />
modelagem da Seção de Terapêutica Ocupacional, organizada por Nise da Silveira em<br />
1946, no Centro Psiquiátrico Pedro II. Aconteceu que a produção desses ateliês foi<br />
tão abundante e revelou-se de tão grande interesse científico e utilidade no tratamento<br />
psiquiátrico que pintura e modelagem assumiram posição peculiar.<br />
Daí nasceu a idéia de organizar-se um Museu que reunisse as obras criadas nesses<br />
setores de atividade, a fim de oferecer ao pesquisador condições para o estudo de<br />
imagens e símbolos e para o acompanhamento da evolução de casos clínicos através da
produção plástica espontânea. Em 20 de maio de 1952 foi inaugurado o Museu de<br />
Imagens do Inconsciente, numa pequena sala. Em 28 de setembro de 1956 passou a<br />
ocupar mais amplas instalações inauguradas com a presença dos ilustres psiquiatras<br />
Henry Ey, Paris; Lopez Íbor, Madrid; e Ramom Sarró (Barcelona) que se encontravam<br />
no <strong>Rio</strong> a convite da Universidade do Brasil. Já naquela data, segundo o professor Lopez<br />
Íbor, o Museu de Imagens do Inconsciente “reunia uma coleção artística psicopatológica<br />
única no mundo”.<br />
O Museu não cessou de crescer. Diretamente vinculado aos ateliês de pintura e de<br />
modelagem, recebe cada dia novos documentos plásticos. Seu acervo reúne atualmente<br />
cerca de 300 mil documentos entre telas, pinturas, desenhos e modelagens.<br />
O Museu é um centro vivo de estudo e pesquisa sobre as imagens do inconsciente,<br />
aberto aos estudiosos de todas as escolas psiquiátricas.<br />
No dia 7 de junho de 1978 Ronald Laing deixou escrito que o trabalho aqui realizado<br />
“representa uma contribuição de grande importância para o estudo científico do<br />
processo psicótico”.<br />
Grupo de Estudos<br />
Desde julho de 1968 funciona como atividade do Museu um Grupo de Estudos que tem<br />
por principal objetivo o acompanhamento do processo psicótico através de imagens<br />
apresentadas em exposições. Este Grupo tem caráter marcadamente interdisciplinar, o<br />
que permite troca constante entre experiência clínica, conhecimentos teóricos de<br />
psicologia e psiquiatria, antropologia cultural, história, arte e educação.<br />
O Grupo reúne-se com regularidade às terças-feiras, as 10:30 da manhã e está aberto a<br />
todos os interessados.<br />
Exposições/Cursos<br />
O Museu organiza exposições internas e externas, promove cursos e oferece aos<br />
interessados campo para pesquisa.<br />
Método<br />
O método de trabalho no Museu de Imagens do Inconsciente consiste principalmente no<br />
estudo de séries de imagens. Isoladas, parecem sempre indecifráveis. Com surpresa<br />
verificar-se-á então que nos permitem acompanhar o desdobramento de processos<br />
intrapsíquicos. Assim, são organizadas séries de imagens de um mesmo doente, o que<br />
permite ao terapeuta melhor compreender a situação psíquica do autor das imagens.<br />
Outras seleções reúnem temas de incidência freqüente em diversos casos clínicos, como<br />
mandalas, rituais, metamorfoses, animais fantásticos, etc.<br />
O trabalho no ateliê revela que a pintura não só proporciona esclarecimentos para<br />
compreensão do processo psicótico mas constitui igualmente verdadeiro agente<br />
terapêutico. As imagens do inconsciente objetivadas na pintura tornam-se passíveis de<br />
uma certa forma de trato, ainda que não haja nítida tomada de consciência de suas<br />
significações profundas. Retendo sobre cartolinas fragmentos do drama que está<br />
vivenciando desordenamdamente, o indivíduo dá forma a suas emoções, despotencializa<br />
figuras ameaçadoras.<br />
A pintura permite detectar, mesmo nos casos mais graves, movimentos instintivos das
forças autocurativas da psique buscando diferentes caminhos. A experiência demonstra<br />
que a pintura pode ser utilizada pelo doente como um verdadeiro instrumento para<br />
reorganizar a ordem interna.<br />
Conclusão<br />
O Museu de Imagens do Inconsciente, nas palavras de Mário Pedrosa, “é mais do que<br />
um Museu, pois se prolonga de interior a dentro até dar num ateliê onde artistas em<br />
potencial trabalham, fazem coisas, criam, vivem e convivem.<br />
Com efeito, se foi reunindo ao acaso todo um grupo de enfermos - esquizofrênicos<br />
tirados do pátio do hospício para a seção de terapêutica ocupacional, desta para o ateliê,<br />
do ateliê para o convívio, onde passou a gerar-se o afeto e o afeto a estimular a<br />
criatividade”.<br />
Mostrando em incontáveis documentos as vivências sofridas pelos esquizofrênicos, bem<br />
como as riquezas do seu mundo interior invisíveis para aqueles que se detêm apenas na<br />
miséria de seu aspecto externo, o trabalho realizado no Museu de Imagens do<br />
Inconsciente aponta para a necessidade de uma reformulação da atitude face a esses<br />
doentes e para uma radical mudança nos tristes lugares que são os hospitais<br />
psiquiátricos.<br />
Algumas opiniões sobre o Museu<br />
“Estou profundamente impressionado com as obras de arte que aqui vi. Aumentam o<br />
acervo artístico do Brasil e o mundo precisa conhecer estes desenhos e pinturas. Admiro<br />
as pessoas que ajudaram os doentes a libertarem-se por esta forma. O Brasil deveria<br />
proteger estas obras. Pertencem à maior herança espiritual deste nação”<br />
Herbert Pée - Diretor do Museu de Arte de Ulm<br />
Chefe da Delegação Alemã na XI Bienal de São Paulo<br />
“Confio na continuidade e expansão deste trabalho. Trata-se de uma coleção que já tem<br />
fama internacional. Espero que as autoridades locais reconheçam seu alto valor e façam<br />
o possível para facilitar seu futuro desenvolvimento, pois representa uma contribuição<br />
de grande importância para o estudo científico do processo psicótico”<br />
Ronald Laing<br />
“Uma coleção de arte psicopatológica única no mundo”<br />
J.J. López Ibor - Professor Catedrático da Universidade de Madri<br />
Visite a exposição<br />
Nise da Silveira - Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde<br />
Como Chegar<br />
Clique aqui para mais opiniões
O Museu de Imagens do Inconsciente fica no Instituo Municipal de Assistência à Saúde<br />
Nise da Silveira (antigo Centro Psiquiátrico Pedro II).<br />
Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro<br />
CEP 20730-460 - <strong>Rio</strong> de Janeiro<br />
Telefone (55 21) 3111 7471 Fax (55 21) 3111 7465<br />
Diretor: Luiz Carlos Mello<br />
Nise da Silveira<br />
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.<br />
Ir para: navegação, pesquisa<br />
Nise da Silveira<br />
Nascimento 15 de Fevereiro de 1905<br />
Maceió, Brasil<br />
Morte 30 de outubro de 1999 (94 anos)<br />
<strong>Rio</strong> de Janeiro, Brasil<br />
Nacionalidade brasileira<br />
Ocupação médica psiquiatra<br />
Nise da Silveira (Maceió, 15 de fevereiro de 1905 — <strong>Rio</strong> de Janeiro, 30 de outubro de<br />
1999) foi uma renomada médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung.<br />
Dedicou sua vida à psiquiatria e manifestou-se radicalmente contrária às formas<br />
agressivas de tratamento de sua época, tais como o confinamento em hospitais<br />
psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia.<br />
Índice<br />
[esconder]<br />
1 Formação<br />
2 Prisão<br />
3 Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro<br />
o 3.1 Pioneira da psicologia junguiana no Brasil<br />
o 3.2 Reconhecimento internacional<br />
4 Obras publicadas<br />
5 Referências bibliográficas<br />
6 Referências<br />
7 Ligações externas<br />
[editar] Formação
Sua formação básica realiza-se em um colégio de freiras, na época, exclusivo para<br />
meninas, o Colégio Santíssimo Sacramento, localizado em Maceió, AL. Seu pai foi<br />
jornalista e diretor do "Jornal de Alagoas". [1][2]<br />
De 1921 a 1926 cursa a Faculdade de Medicina da Bahia, onde formou-se como a única<br />
mulher entre os 157 homens desta turma. Está entre as primeiras mulheres no Brasil a se<br />
formar em Medicina. [1] Casa-se nesta época com o sanitarista Mário Magalhães da<br />
Silveira, seu colega de turma na faculdade, com quem vive até seu falecimento em<br />
1986. Em seu trabalho ele aponta as relações entre pobreza, desigualdade, promoção da<br />
saúde e prevenção da doença no Brasil.<br />
Em 1927, após o falecimento de seu pai, ambos mudam-se para o <strong>Rio</strong> de Janeiro, onde<br />
engajou-se nos meio artístico e literário.<br />
Em 1933 estagia na clínica neurológica de Antônio Austregésilo.<br />
Aprovada aos 27 anos num concurso para psiquiatra, em 1933 começou a trabalhar no<br />
Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental do Hospital da Praia Vermelha.<br />
[editar] Prisão<br />
Spinoza (1632-1677).<br />
Durante a Intentona Comunista foi denunciada por uma enfermeira pela posse de livros<br />
marxistas. A denúncia levou à sua prisão em 1936 no presídio da Frei Caneca por 18<br />
meses.<br />
Neste presídio também se encontrava preso Graciliano Ramos, assim ela tornou-se uma<br />
das personagens de seu livro Memórias do Cárcere.<br />
De 1936 a 1944 permanece com seu marido na semi-clandestinidade, afastada do<br />
serviço público por razões políticas. Durante seu afastamento faz uma profunda leitura<br />
reflexiva das obras de Spinoza, material publicado em seu livro Cartas a Spinoza em<br />
1995.
[editar] Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro<br />
Gravura de William Hogarth representando um manicomio. O trabalho de Nise da Silveira é<br />
pioneiro na luta antimanicomial no Brasil.<br />
Em 1944 é reintegrada ao serviço público e inicia seu trabalho no "Centro Psiquiátrico<br />
Nacional Pedro II", no Engenho de Dentro, no <strong>Rio</strong> de Janeiro, onde retoma sua luta<br />
contra as técnicas psiquiatricas que considera agressivas aos pacientes.<br />
Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, recusando-se a aplicar<br />
eletrochoques em pacientes, Nise da Silveira é transferida para o trabalho com terapia<br />
ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. Assim em 1946 funda nesta<br />
instituição a "Seção de Terapêutica Ocupacional".<br />
No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes exerciam<br />
sob o título de terapia ocupacional, ela cria ateliês de pintura e modelagem com a<br />
intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da<br />
expressão simbólica e da criatividade, revolucionando a Psiquiatria então praticada no<br />
país.<br />
O Museu de Imagens do Inconsciente
A biografia de Van Gogh é uma referência importante para os estudiosos interessados em<br />
compreender as possibilidades terapeuticas do trabalho criativo frente às perturbações<br />
emocionais.<br />
Em 1952, ela funda o Museu de Imagens do Inconsciente, no <strong>Rio</strong> de Janeiro, um centro<br />
de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de<br />
modelagem e pintura que criou na instituição, valorizando-os como documentos que<br />
abrem novas possibilidades para uma compreensão mais profunda do universo interior<br />
do esquizofrênico.<br />
Entre outros artistas-pacientes que criaram obras incorporadas na coleção desta<br />
instituição podemos citar: Adelina Gomes; Carlos Pertuis; Emygdio de Barros, e<br />
Octávio Inácio.<br />
Este valioso acervo alimentou a escrita de seu livro "Imagens do Inconsciente", filmes e<br />
exposições, participando de exposições significativas, como a "Mostra Brasil 500<br />
Anos".<br />
Entre 1983 e 1985 o cineasta Leon Hirszman realizou o filme "Imagens do<br />
Inconsciente", trilogia mostrando obras realizadas pelos internos a partir de um roteiro<br />
criado por Nise da Silveira.<br />
A Casa das Palmeiras<br />
Poucos anos depois da fundação do museu, em 1956, Nise desenvolve outro projeto<br />
também revolucionário para sua época: cria a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à<br />
reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas.<br />
Neste local podem diariamente expressar sua criatividade, sendo tratados como<br />
pacientes externos numa etapa intermediária entre a rotina hospitalar e sua reintegração<br />
à vida em sociedade.<br />
O auxílio dos animais aos pacientes
Ao perceber que a responsabilidade de cuidar de um animal e o desenvolvimento de laços<br />
afetivos pode contribuir para a reabilitação de doentes mentais, Nise da Silveira os incorporou<br />
a seu trabalho como co-terapeutas.<br />
Foi uma pioneira na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais, que<br />
costumava chamar de co-terapeutas.<br />
Percebeu esta possibilidade de tratamento ao observar como um paciente a quem<br />
delegara os cuidados de uma cadela abandonada no hospital melhorou tendo a<br />
responsabilidade de tratar deste animal como um ponto de referência afetiva estável em<br />
sua vida.<br />
Ela expõe parte deste processo em seu livro "Gatos, A Emoção de Lidar", publicado em<br />
1998.<br />
[editar] Pioneira da psicologia junguiana no Brasil<br />
Os estudos de Jung sobre os mandalas atraíram a atenção de Nise da Silveira para suas teorias<br />
sobre o inconsciente.<br />
Através do conjunto de seu trabalho, Nise da Silveira introduziu e divulgou no Brasil a<br />
psicologia junguiana.<br />
Interessada em seu estudo sobre os mandalas, tema recorrente nas pinturas de seus<br />
pacientes, ela escreveu em 1954 a Carl Gustav Jung, iniciando uma proveitosa troca de<br />
correspondência.<br />
Jung a estimulou a apresentar uma mostra das obras de seus pacientes que recebeu o<br />
nome "A Arte e a Esquizofrenia", ocupando cinco salas no "II Congresso Internacional<br />
de Psiquiatria", realizado em 1957, em Zurique. Ao visitar com ela a exposição, a<br />
orientou a estudar mitologia como uma chave para a compreensão dos trabalhos criados<br />
pelos internos.<br />
Nise da Silveira estudou no "Instituto Carl Gustav Jung" em dois períodos: de 1957 a<br />
1958; e de 1961 a 1962. Lá recebeu supervisão em psicanálise da assistente de Jung,<br />
Marie-Louise von Franz.
Retornando ao Brasil após seu primeiro período de estudos jungianos, formou em sua<br />
residência o "Grupo de Estudos Carl Jung", que presidiu até 1968.<br />
Escreveu, dentre outros, o livro "Jung: vida e obra", publicado em primeira edição em<br />
1968.<br />
[editar] Reconhecimento internacional<br />
Foi membro fundadora da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica<br />
("Societé Internationale de Psychopathologie de l'Expression"), sediada em Paris.<br />
Sua pesquisa em terapia ocupacional e o entendimento do processo psiquiátrico através<br />
das imagens do inconsciente deram origem a diversas exibições, filmes, documentários,<br />
audiovisuais, cursos, simpósios, publicações e conferências.<br />
Em reconhecimento a seu trabalho, Nise foi agraciada com diversas condecorações,<br />
títulos e prêmios em diferentes áreas do conhecimento, entre outras:<br />
"Ordem do <strong>Rio</strong> Branco" no Grau de Oficial, pelo Ministério das Relações Exteriores<br />
(1987)<br />
"Prêmio Personalidade do Ano de 1992", da Associação Brasileira de Críticos de Arte<br />
"Medalha Chico Mendes", do grupo Tortura Nunca Mais (1993)<br />
"Ordem Nacional do Mérito Educativo", pelo Ministério da Educação e do Desporto<br />
(1993)<br />
Seu trabalho e idéias inspiraram a criação de museus, centros culturais e instituições<br />
terapêuticas similares às que criou em diversos estados do Brasil e no exterior, por<br />
exemplo:<br />
o "Museu Bispo do Rosário", da Colônia Juliano Moreira (<strong>Rio</strong> de Janeiro)<br />
o "Centro de Estudos Nise da Silveira" (Juiz de Fora, Minas Gerais)<br />
o "Espaço Nise da Silveira" do Núcleo de Atenção Psico-Social (Recife)<br />
o "Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira", do Hospital Psiquiátrico São<br />
Pedro (Porto Alegre, <strong>Rio</strong> Grande do Sul)<br />
a "Associação de Convivência Estudo e Pesquisa Nise da Silveira" (Salvador, Bahia)<br />
o "Centro de Estudos Imagens do Inconsciente", da Universidade do Porto (Portugal)<br />
a "Association Nise da Silveira - Images de L'Inconscient" (Paris, França)<br />
o "Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli" (Genova, Itália)<br />
O antigo "Centro Psiquiátrico Nacional" do <strong>Rio</strong> de Janeiro recebeu um sua homenagem<br />
o nome de "Instituto Municipal Nise da Silveira".<br />
[editar] Obras publicadas<br />
SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra, <strong>Rio</strong> de Janeiro: José Álvaro Ed. 1968.<br />
SILVEIRA, Nise da. Imagens do inconsciente. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Alhambra, 1981.<br />
SILVEIRA, Nise da. Casa das Palmeiras. A emoção de lidar. Uma experiência em<br />
psiquiatria. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Alhambra. 1986.
SILVEIRA, Nise da. O mundo das imagens. São Paulo: Ática, 1992.<br />
SILVEIRA, Nise da. Nise da Silveira. Brasil, COGEAE/PUC-SP 1992.<br />
SILVEIRA, Nise da. Cartas a Spinoza. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Francisco Alves. 1995.<br />
SILVEIRA, Nise da. Gatos, A Emoção de Lidar. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Léo Christiano Editorial,<br />
1998.<br />
[editar] Referências bibliográficas<br />
CÂMARA, Fernando Portela "Vida e obra de Nise da Silveira" Psychiatry On-line Brazil,<br />
7 de Setembro de 2002.<br />
CÂMARA, Fernando Portela "A contribuição de Nise da Silveira para a psicologia<br />
junguiana" - Psychiatry On-line Brazil, 9 de Março de 2004.<br />
Gullar, Ferreira. "Nise da Silveira: uma psiquiatra rebelde", 1996.<br />
FRAYZE-PEREIRA, João A. "Nise da Silveira: imagens do inconsciente entre psicologia,<br />
arte e política" in Estudos Avançados. vol.17 no.49 São Paulo Sept./Dec. 2003.<br />
Disponível em [1] no formato .pdf<br />
"Expérience d'art spontané chez des schizophrènes dans un service de therapeutique<br />
occupationelle" (em colaboração com o Dr. Pierre Le Gallais, apresentado no II<br />
Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique), Congress Report vol. IV, 380-386,<br />
1957.<br />
Philatelic Release (2005), n. 1, Brasil.<br />
Referências<br />
1. ↑ a b Os 10 anos da morte de Nise da Silveira (html) (em português). Página visitada<br />
em 15/01/2010.<br />
2. ↑ Colégio de freiras, francês e disciplina. No ponto de exame, ela recitou Le Cid, de<br />
Corneille (pdf) (em português). Página visitada em 15/01/2010.<br />
[editar] Ligações externas<br />
Site do Museu de Imagens do Inconsciente<br />
Textos de Nise da Silveira<br />
"Nise da Silveira: imagens do inconsciente entre psicologia, arte e política" - João A.<br />
Frayze-Pereira<br />
Mostra Nise da Silveira - Vida e Obra, com diversas fotos<br />
"A psiquiatria rebelde de Nise da Silveira", por Katia Rubio<br />
"Mar do Inconsciente - A Imagem Como Linguagem" , com depoimentos de Carlos<br />
Drummond de Andrade, Frei Betto e da própria doutora Nise.<br />
"Felinos e as janelas da mente", matéria da revista Época<br />
Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro<br />
O formato octogonal e o pequeno interior revestido com painéis de azulejos<br />
setecentistas feitos pelo Mestre Valentim garantem ao Outeiro o título de uma das<br />
igrejas mais aconchegantes da cidade. Construída em 1739, guarda na parte de trás o
Museu da Imperial Irmandade, com peças sacras e de ourivesaria. leia mais<br />
A singela construção se destaca na<br />
paisagem Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Ilha Fiscal<br />
Posto alfandegário até 1913, o palacete da ilha ficou famoso por sediar o último baile do<br />
Império, em novembro de 1889. A construção, que remete a um pequeno castelo em<br />
estilo neogótico, é aberta para visitação e tem como principal atrativo o torreão,<br />
ornamentado com pinturas nas paredes e na abóbada, piso com mosaico.<br />
Cenário do último baile do Império,<br />
palácio é aberto para visitação Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Mosteiro de São Bento<br />
A maior riqueza do mosteiro é a igreja barroca de Nossa Senhora de Monserrat,<br />
concluída em 1798 com interior revestido em ouro, grades de jacarandá e painéis do<br />
século 17. Os tubos do antigo órgão, datado de 1773, estão interligados ao atual e<br />
acompanham o canto gregoriano entoado pelos monges na concorrida missa de<br />
domingo...
As missas de domingo de manhã são<br />
acompanhadas por canto gregoriano Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Museu Casa do Pontal<br />
Com cinco mil peças - a maioria de arte popular brasileira – o museu reúne obras de<br />
Mestre Vitalino e de dezenas de artesãos de todo o país. A coleção é fruto de quarenta<br />
anos de pesquisa do designer francês Jacques van de Beuque. A localização do museu<br />
também faz parte dos atrativos .<br />
Espaço abriga artesanato produzido<br />
em todo o país Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Paço Imperial<br />
Erguido em 1743, o Paço Imperial entrou para a história do Brasil em 1808, quando D. João<br />
VI transformou o prédio em residência da família real portuguesa. Desde então, importantes<br />
acontecimentos tiveram o palacete como cenário - em 9 de janeiro de 1822 o príncipe regente D.<br />
Pedro anunciou sua recusa de voltar a Portugal.
Paço Imperial reúne cinema,<br />
livraria, cafés e salas de exposições Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Sítio Roberto Burle Marx<br />
A casa do renomado paisagista Roberto Burle Marx, que lá viveu durante 21 anos, foi<br />
tombada pelo Iphan. No sítio, com uma área verde de 365 mil metros quadrados, está<br />
uma coleção formada por 3.500 espécies de plantas tropicais de várias partes do mundo.<br />
Dentro da casa os destaques são, dentre outros, a capela construída em 1681.<br />
Na casa onde viveu o paisagista<br />
estão belos jardins e muitas obras de arte Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Centro Cultural Parque das Ruínas<br />
A programação cultural variada, que oferece de chorinho à teatro para crianças, é um<br />
dos atrativos do Parque das Ruínas, que se destaca também pela arquitetura – a estrutura<br />
da casa foi mantida, utilizando materiais como pedra, madeira e vidro. A residência<br />
pertenceu à grande mecenas carioca, Laurinda Santos Lobo, que reunia em seus<br />
concorridos... leia mais
Parque das Ruínas abriga exposições e exibe bela vista da baía de<br />
Guanabara Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Confeitaria Colombo<br />
A belle epoque carioca, vivenciada pela alta sociedade nos séculos 19 e 20X, continua<br />
intacta na charmosa confeitaria que abriu suas portas em 1894 e que teve como clientes<br />
nomes como Chiquinha Gonzaga, Rui Barbosa e Olavo Bilac. Além dos doces e<br />
salgados que seguem as receitas de outrora.<br />
A suntuosidade dos salões divide a<br />
atenção com as delícias da cozinha Foto: <strong>Rio</strong> Convention & Visitors Bureau<br />
Igreja de Nossa Senhora da Candelária<br />
A primeira igreja da cidade, datada de 1630, passou por uma série de reformas até<br />
chegar ao modelo atual, inaugurado em 1898. Do projeto original permanece apenas a<br />
fachada, com cúpula em pedra lioz. O interior neoclássico, ao invés de talha de madeira<br />
à maneira portuguesa, é todo em mármore. Possui vitrais de cores vivas,... leia mais
Embratur<br />
Jardins e esculturas ornamentam entrada principal da igreja Foto:<br />
Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil<br />
Situado em um belo casarão do século 19, dispõe do maior e mais completo acervo do<br />
mundo. São seis mil peças de artistas de 130 países, nas quais predominam as cores<br />
vivas, os traços irregulares e os temas bucólicos, características típicas deste tipo de<br />
arte.<br />
Espaço funciona ao lado do Trem do<br />
Corcovado e reúne colcoridas obras Foto: Embratur<br />
Biblioteca Nacional<br />
Inaugurada em 1910, a maior biblioteca da América Latina – e a oitava do mundo - tem<br />
um acervo de 13 milhões de obras. Para conhecer o imponente prédio, com elementos<br />
neoclássicos e art nouveau, há visitas guiadas com 40 minutos de duração.
Estudiosos folheando documentos<br />
históricos da Biblioteca Enviada por Bruna Z.<br />
Conjunto do Convento de Santo Antônio<br />
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (Iphan), o conjunto do século<br />
18 inclui o convento e as igrejas de Santo Antônio e de São Francisco da Penitência -<br />
esta última, considerada jóia rara do barroco, tem paredes de cedro recobertas por 400<br />
quilos de entalhes de ouro. Nela estão guardados expressivos exemplares da arte<br />
colonial brasileira.<br />
Em pleno Largo da Carioca, o<br />
contrastante ar bucólico do Convento Enviada por Waldyr Oliveira<br />
Museu da República<br />
O Palácio do Catete, sede da Presidência da República de 1897 a 1960, foi palco de<br />
importantes acontecimentos da política nacional como a declaração da participação do<br />
Brasil nas Guerras Mundiais e o suicídio do Presidente Getúlio Vargas em 1954.<br />
Transformado em museu em 1960 por Juscelino Kubitschek, foi reativado em 1989 com<br />
novo perfil.
Museu da República no Catete<br />
Enviada por Roberto<br />
Museu Nacional<br />
Primeiro museu do Brasil, o Museu Nacional ocupa o Palácio São Cristóvão desde<br />
1892. Na moderna ala de arqueologia há vasos, esquifes e múmias deixadas como<br />
herança por D. Pedro I. Já a coleção greco-romana pertenceu à imperatriz Teresa<br />
Cristina, esposa de D. Pedro II. O restante das nove mil peças espalha-se pelas seções<br />
de.<br />
O Museu fica na Quinta da Boa<br />
Vista, programa de família nos finais de semana Enviada por Waldyr Oliveira<br />
Museu Nacional de Belas Artes<br />
Em estilo neoclássico, o museu é repleto de galerias que abrigam pinturas, esculturas e<br />
desenhos de autores brasileiros e estrangeiros dos séculos 17 ao 20. Exibe ainda<br />
coleções de arte popular, imagens, medalhas, arte africana e mobiliário. Na biblioteca<br />
há cerca de 15 mil publicações nacionais e estrangeiras.
Esculturas e exposições encantam<br />
visitantes Foto: Pedro Kirilos - <strong>Rio</strong>tur<br />
Fundação Eva Klabin<br />
A antiga residência da colecionadora Eva Klabin abriga obras de arte reunidas por ela<br />
ao longo de 70 anos. O acervo, bastante diversificado, é constituído por mais de duas<br />
mil peças procedentes de quatro continentes e reunidas por temas. Nos vários ambientes<br />
da casa-museu podem ser apreciados trabalhos de origem egípcia, grega e chinesa.<br />
Visitas guiadas conduzem pela bela<br />
casa Foto: Divulgação<br />
Instituto Moreira Salles<br />
A casa de três mil metros quadrados em estilo modernista foi inaugurada em 1951 e<br />
serviu de residência da família Moreira Salles. Adaptada para os novos fins, sedia<br />
exposições fotográficas e abriga um centro musical com biografias e CDs para consulta,<br />
além de biblioteca, ateliê, cinema, auditório e café.
Enviada por Eliane<br />
Um lugar super agradável.<br />
Museu Histórico Nacional<br />
O conjunto arquitetônico formado pelo antigo Arsenal de Guerra (1764) e pela Casa do<br />
Trem (1762) tornou-se museu em 1922. Considerado um dos mais importantes do<br />
Brasil, reúne mais de 250 mil peças que contam a história do país – do descobrimento à<br />
República. No acervo estão documentos, armas, quadros, móveis, coleções de notas,<br />
etc.<br />
Cenário imperial junto à<br />
movimentada Praça XV Enviada por Waldyr Oliveira<br />
Real Gabinete Português de Leitura<br />
Inaugurada em 1887, a biblioteca reúne o maior acervo de obras literárias lusitanas fora<br />
de Portugal, com 350 mil livros. A fachada do prédio, com estilo arquitetônico<br />
manuelino, apresenta esculturas de figuras históricas. No interior, a estrutura de ferro é<br />
dividida em três níveis de estantes de madeira com entalhes rebuscados.
Ventos de Além Mar tremulam com<br />
Cultura as Bandeiras do Brasil e Portugal. Enviada por Beto Matheus<br />
Casa França-Brasil<br />
Construído em 1820, o edifício se caracteriza pela severidade da fachada neoclássica,<br />
amenizada pela graça da elevação alternada dos telhados, deixando transparecer o traço<br />
elegante do arquiteto Grandjean de Montigni. No interior estão espaços para exposições<br />
temporárias e eventos, além de sala de cinema, bistrô e loja de artesanato.<br />
movimentam o espaço Foto: Divulgacao<br />
Renomadas exposições temporárias<br />
Catedral Metropolitana<br />
Inaugurada em 1979, chama a atenção pela grandiosidade e pelo projeto arquitetônico<br />
em forma de cone – são 75 metros de altura e 106 metros de diâmetro externo, com<br />
capacidade para 20 mil pessoas em pé. No interior, os vitrais coloridos e a imagem<br />
suspensa de Cristo são os destaques. No subsolo fica o Museu<br />
Entrada<br />
Enviada por Roberto e Meri
Centro Cultural Justiça Federal<br />
A construção histórica que foi sede do Supremo Tribunal Federal de 1909 a 1960<br />
passou por uma grande reforma para abrigar o Centro Cultural Justiça Federal. A<br />
programação de exposições tem como enfoque a arte nacional, sobretudo a fotografia.<br />
Entrada do saguão principal<br />
Enviada por IARINHA<br />
Espaço Cultural da Marinha<br />
A área de mil metros quadrados abriga e conta a história da navegação através de<br />
mapas, maquetes e equipamentos usados em antigas embarcações. Entre os destaques<br />
estão a Galeota D. João VI, uma embarcação a remo construída em 1808 e utilizada<br />
pela família real em seus deslocamentos pela Baía de Guanabara.<br />
Enviada por Roberto e Meri<br />
Submarino da Marinha<br />
Forte de Copacabana<br />
Inaugurado em 1914, o forte conserva as características originais - muralhas de 12<br />
metros de espessura voltadas para o mar e canhões alemães Krupp, fabricados no início<br />
do século 20. A construção abriga o Museu Histórico do Exército, com armas e painéis.
estava instalada no Forte. Enviada por Fafa<br />
Vista de cima da Roda Gigante que<br />
Roteiros Geográficos<br />
Curtir a área central da cidade fora do fuzuê característico do horário comercial. Esse é<br />
o objetivo dos passeios noturnos promovidos pelo Instituto de Geografia da UERJ, em<br />
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, iniciados em setembro de 2010.<br />
Caminhadas com guia às quintas feiras.<br />
Foto: Pedro Kirilos - <strong>Rio</strong>tur<br />
Arcos da Lapa fazem parte dos tours<br />
Museu Chácara do Céu<br />
A antiga residência do colecionador Raymundo Castro Maya reúne um rico acervo de<br />
oito mil peças de arte moderna. Entre as preciosidades estão trabalhos de Di Cavalcanti,<br />
Lygia Clark, Volpi, Taunay, aquarelas de Debret e a série de desenhos Dom Quixote, de<br />
Portinari. Projetada pelo arquiteto moderno Wladimir Alves de Souza, a casa é de 1957<br />
.<br />
Museu do Açude<br />
A residência de verão do industrial Raymundo de Castro Maya guarda belezas dentro e<br />
fora do casarão colonial de 1913. Localizada em uma propriedade de 150 mil metros<br />
quadrados em plena Floresta da Tijuca, é cortada por 7,5 quilômetros de trilhas
sinalizadas e belos jardins ornamentados com esculturas de artistas brasileiros<br />
contemporâneos como Anna Maria Maiolino e Helio... leia mais<br />
Palácio das Laranjeiras<br />
Datada de 1913, a antiga casa da família Guinle foi transformada em residência oficial<br />
dos governadores do estado em 1975. Por esse motivo, a visitação restringe-se aos<br />
ambientes da ala social, com mosaicos em detalhes em ouro nos pisos e nas paredes. O<br />
acervo compreende quadros, esculturas, objetos de decoração e móveis, muitos<br />
importados<br />
Academia Brasileira de Letras<br />
Réplica do Petit Trianon de Paris, o prédio foi construído pelo Governo da França em<br />
1922 e, um anos depois, tornou-se sede da Academia Brasileira de Letras. Um grupo de<br />
atores comanda a visita guiada – narrada e cantada - pelos salões. A biblioteca tem 90<br />
mil volumes e móveis de escritores brasileiros.<br />
Centro Cultural Correios<br />
Por mais de 50 anos o imóvel, inaugurado em 1922, abrigou as unidades administrativas<br />
e operacionais dos Correios. Desativado na década de 80, o prédio de fachada eclética<br />
reabriu suas portas em 1993, totalmente adaptado para atividades culturais. Os espaços<br />
para exposições, galerias de arte, teatro, cinema e bistrô estão divididos em três<br />
pavimentos interligados.<br />
CASA DE RUI BARBOSA<br />
http://www.casaruibarbosa.gov.br/<br />
A Fundação -<br />
A Fundação oferece um espaço reservado ao trabalho intelectual, à consulta de livros e<br />
documentos e à preservação da memória nacional. Conheça suas atividades relacionadas à<br />
preservação e divulgação do legado de Rui Barbosa e à formação, conservação e difusão de<br />
acervos bibliográficos, documentais e arquitetônicos, com o apoio de laboratórios técnicos.<br />
Conheça também os estudos e pesquisas (estudos ruianos, de política cultural, história, direito e<br />
filologia e em cultura brasileira em geral). >><br />
Concurso de<br />
bolsas<br />
Estão abertas até 25<br />
de maio as<br />
inscrições para o concurso de<br />
seleção de bolsistas para o<br />
Programa de Incentivo à<br />
Produção do Conhecimento<br />
Técnico e Científico na Área da<br />
Cultura. >><br />
Cursos de<br />
árabe e de<br />
hebraico<br />
Estão abertas as<br />
inscrições para os cursos de<br />
árabe e de hebraico, promovidos<br />
pela Fundação Casa de Rui<br />
Barbosa. As aulas acontecem a<br />
partir de 4/04. >>
funcionamen<br />
to do Museu<br />
O Museu e o jardim<br />
permanecerão<br />
fechados no dia 6 de abril,<br />
Sexta-feira Santa. >><br />
Chamada de<br />
trabalhos<br />
A FCRB recebe até<br />
7/05 propostas para<br />
apresentação de trabalhos para<br />
o IV Encontro Luso–Brasileiro de<br />
Museus Casas. >><br />
Colóquio<br />
Brasil menor,<br />
Brasil vivo!<br />
O 1º encontro tem<br />
como tema O comum e a<br />
exploração na crise do<br />
capitalismo global. Dia 5/04,<br />
14h. Entrada franca. >><br />
Chamada de<br />
trabalhos<br />
A FCRB recebe,<br />
entre 1º de maio e<br />
4 de junho de 2012, propostas<br />
para apresentação de trabalhos<br />
para o III Seminário<br />
Internacional de Políticas<br />
Culturais. >><br />
As bases de dados dos acervos se apresentam em duas formas: digital e<br />
referencial.<br />
Veja em acervos as descrições sobre os conjuntos documentais da Fundação Casa<br />
de Rui Barbosa, e conheça os procedimentos para consulta em uso do acervo.<br />
Bases digitais<br />
Bases de acesso a versões digitais de documentos relevantes (livros, artigos,<br />
folhetos, fotografias capas, recortes, fotografias) da diversas coleções da<br />
Fundação Casa de Rui Barbosa.<br />
:: Iconografia (banco de imagens dos acervos arquivísticos)<br />
:: Biblioteca São Clemente<br />
:: Biblioteca Rui Barbosa digital<br />
:: Cordel : cultura popular em verso<br />
:: Obras completas de Rui Barbosa on-line (Tomos e volumes da coleção<br />
editorial)
:: Revista O malho (coleção da FCRB)<br />
Bases de referências<br />
Bases com informações descritivas das peças e documentos que integram as<br />
respectivas coleções e fundos de arquivo. Ressalta-se que o processo de inclusão<br />
de dados e de revisão é constante, havendo informações sobre os acervos da<br />
Fundação ainda não disponíveis nessas bases de dados.<br />
Informações gerais - Base com informações genéricas sobre os arquivos e<br />
coleções: normas de acesso e reprodução, estágio de tratamento, assuntos<br />
principais e forma de aquisição<br />
:: Guia de Fundos/Coleções<br />
Informações por acervo - Base com informações sobre cada coleção, com a<br />
descrição e conteúdo informacional, que podem ser consultadas segudo pesquisa<br />
livre por "palavra" ou segundo indices: autoria, título, assuntos, tipo de<br />
documento, data e acervo digital<br />
:: Base do Arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa<br />
(arquivo institucional)<br />
:: Base dos Arquivos Pessoais<br />
(arquivo Rui Barbosa e consulta aos arquivos históricos)<br />
:: Base dos Arquivos Pessoais de Escritores Brasileiros<br />
(consulta aos arquivos literários e arquivos e coleções)<br />
:: Base da Biblioteca<br />
(biblioteca Rui Barbosa e biblioteca São Clemente)<br />
:: Base da Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti<br />
(Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti)<br />
:: Base do Museu<br />
(acervo do museu)<br />
PARTE C – ANEXO – Uma leitura de ilustração
Casa bem-assombrada<br />
O Itamaraty antes da sua ida para Goiás<br />
por Marcos de Azambuja<br />
Publicado na Revista PIAUI, 02 de abril de 2011<br />
O Palácio continua lá, quase no fim (ou quase no começo) da Rua Larga. Vou chamá-la<br />
assim, com maiúscula e tudo, apesar de hoje ser outro o seu nome, e de ter sido<br />
promovida a avenida. Era, a Rua Larga, uma via de mão dupla em mais de um sentido.<br />
Cedinho, e por boa parte da manhã, sua maré entrava, numerosa, da Central do Brasil<br />
em direção ao Centro (dizia-se “a Cidade”). E, do meio para o fim da tarde, e à noitinha,<br />
o fluxo ia, com a mesma intensidade, no sentido contrário. Era aquela vasta e modesta<br />
humanidade dos subúrbios da Central, que vinha para o trabalho muito mais pelos<br />
trilhos dos trens e dos bondes do que sobre rodas. Mais avançada a noite, o tráfego de<br />
pessoas e veículos era quase nenhum, e indefinido o seu sentido. Lima Barreto teria<br />
reconhecido, nesse vaivém, muitos de seus personagens.<br />
A nossa Broadway – fazíamos, às vezes, a tradução literal por graça, e para dar à rua um<br />
pouco mais de prestígio – já estava então longamente assentada e arborizada, e fazia<br />
ofício de parecer que ali estivera desde sempre. Paralela a ela, parecendo uma imensa e<br />
recente cicatriz, ficava a avenida Presidente Vargas, que vinha da Igreja da Candelária e<br />
continuava em direção à Praça Onze (que já havia acabado, sem que o seu<br />
desaparecimento, como temera Herivelto Martins, tivesse levado ao fim as escolas de<br />
samba) até chegar à Cidade Nova. Foram-se as polacas do Mangue, com o renascimento<br />
administrativo e empresarial dos últimos anos; chegaram, mais numerosos do que elas,<br />
funcionários públicos e congêneres. A Rua Larga acabava em frente ao Ministério da<br />
Guerra, hoje chamado pelo nome menos ameaçador de Palácio Duque de Caxias.<br />
Os grandes prédios continuam quase todos lá: a Igreja de Santa Rita, o Colégio Pedro II,<br />
a antiga sede da Light, chamada, devido à extensão e ao poder real e imaginado de seus<br />
tentáculos, de “o polvo canadense”. E desapareceu, sim, o Dragão, grande loja de coisas<br />
de casa, copa e cozinha.<br />
Cyro de Freitas-Valle, que foi secretário-geral do Itamaraty, e fora antes embaixador em<br />
Berlim (o nosso último representante a entregar credenciais a Hitler, e cuja missão<br />
terminou com sua internação em Baden-Baden, na boa companhia de Guimarães Rosa,<br />
cônsul em Hamburgo, e de todo nosso pessoal diplomático na Alemanha; até serem<br />
trocados, em Lisboa, pelos alemães que serviam no Brasil), pois Freitas-Valle era<br />
conhecido na Casa, por sua severidade, como o “Dragão da Rua Larga”. Não só
apreciava como não cansava de repetir o apelido, que o fazia passar por muito mais<br />
feroz do que de fato era.<br />
Continua a haver hoje, em volta do Itamaraty, o mesmo ruidoso pequeno comércio. E,<br />
como insígnias de outros tempos, sobrevivem lojas de chapéus, que vão se adaptando às<br />
novas cabeças e aos novos tempos, e, por razões inexplicáveis, várias lojas de velas,<br />
prontas a serem acesas, ecumenicamente, nos altares de todos os cultos e na devoção a<br />
todos os santos e orixás.<br />
As lojas de então, ao que parece, tinham mais estoque do que espaço. Como o calor<br />
fazia com que se procurasse temperaturas mais amenas, mercadorias e vendedores<br />
extravasavam para as calçadas, assaltando os transeuntes com o alarido de um assédio<br />
ruidoso, cheio de gestos e bordões pitorescos. Diminuíram muito, de lá para cá, os<br />
aleijados mais dramáticos, que tinham presos aos andrajos bilhetes de loteria e, com<br />
isso, encarnavam o cruel encontro da esperança da sorte com a falta de sorte. Havia<br />
também, numa vitrine, uma bota de borracha imersa em um aquário. Lá ficou a bota,<br />
por muitos e muitos anos, talvez ainda lá esteja, esverdeada pela presença de fungos,<br />
para provar, urbi et orbi, a sua robusta impermeabilidade.<br />
Encontrava-se comida farta e barata nas redondezas. Havia o Tim-tim por Tim-tim, na<br />
rua do Lavradio, que, em épocas melhores, alimentara Sarah Bernhardt. Havia o<br />
Penafiel, com suas grandes panelas já abertas perto da porta, à exposição para a<br />
freguesia que chegava. O Cedro do Líbano e o Sentaí. Um pouco mais longe, mas tudo<br />
se fazia a pé, o <strong>Rio</strong> Minho, a Cabaça Grande, o Mosteiro e o Dirty Dick. Vários deles<br />
desapareceram, e os que sobraram gozam de aparelhos de ar-condicionado. Foram-se,<br />
exceto por uns bravos e barulhentos remanescentes, os ventiladores de teto. E foram-se<br />
de vez os palitos, aos quais dedicávamos, os cariocas, uma paixão incontrolável: mesmo<br />
senhoras grã-finíssimas, findo o repasto, estendiam a mão ao paliteiro e punham-se a<br />
futucar os dentes com galhardia.<br />
Com a sua fachada neoclássica, a Casa continua virtualmente sem mudanças há mais de<br />
150 anos. Só variou o matiz de sua pintura externa, que ao longo dos anos viajou de um<br />
rosa pálido até um siena intenso. Dá ainda para a rua sem recuo, mas tinha, naqueles<br />
tempos, o mais democrático dos acessos. Posteriormente, a sua guarda ficou, e perdura<br />
até hoje, a cargo dos Fuzileiros Navais – corporações ambas, a deles e a nossa, criadas<br />
quando da chegada providencial de dom João VI a estas praias. Não havia, ou não se<br />
percebia, ou não ameaçava a gente de boa paz, a violência urbana. Naquele tempo, no<br />
<strong>Rio</strong>, só me assaltavam dúvidas.<br />
Ainda se entra, a pé, pela mesma e longa galeria flanqueada pelos bustos dos heróis da<br />
independência das Américas, e os de alguns penetras de outras safras e procedências.
Existe outra entrada, só usada em dias de gala. Ela leva ao saguão que se abre para a<br />
bela escadaria e conduz ao andar superior. Por ela subiu o Império para comemorar,<br />
dançando, o fim da Guerra do Paraguai, na noite em que a princesa Isabel e o conde<br />
d’Eu receberam para um grande baile os oficiais que, vitoriosos, voltavam à Corte.<br />
Havia, e há, uma terceira entrada. É a exclusiva para automóveis, que contorna o<br />
edifício e leva à garagem, ao estacionamento e aos demais prédios que integram o nosso<br />
quadrilátero diplomático. Mas naquele tempo havia pouquíssimos automóveis.<br />
Chegávamos quase todos a pé.<br />
Fiz longa essa descrição da Casa e do seu entorno porque acho que uma parte da cultura<br />
do Itamaraty derivava de nossa situação na cidade e de nossa planta. Em Brasília, mais<br />
tarde, os espaços e as vistas iriam permitir sonhar e antever um novo Brasil. No <strong>Rio</strong>,<br />
estávamos ancorados no âmago mesmo da cidade, e não era possível escapar do que, de<br />
fato, éramos e tínhamos sido. A história e o presente, mais do que o futuro, nos<br />
definiam. Em Brasília, havia aspirações.<br />
Ser diplomata não é uma vocação primária. Nunca encontrei criança que quisesse ser<br />
diplomata ao crescer. Também não é emprego fácil de definir. David Silveira da Mota,<br />
colega que foi um grande profissional, contava que sua filha, no colégio, uma vez foi<br />
perguntada sobre o que fazia seu pai. A professora ia repetindo a pergunta a todos os<br />
alunos e recebia respostas simples e claras. Quando chegou a vez da menina, ela,<br />
hesitante, confessou: “Meu pai é diplomata. Faz discursos em francês.” Era o mais perto<br />
que ela conseguia chegar dos mistérios da profissão. Chega-se a ela mais por exclusão<br />
de alternativas e por avaliação de conveniências do que por uma irresistível convocação.<br />
A liturgia dos exames de admissão ao Instituto <strong>Rio</strong> Branco era cercada de pompa e<br />
circunstância. As vagas anuais não costumavam ultrapassar uma dúzia e meia, e o<br />
número de candidatos que se apresentavam beirava o milhar. Havia primeiro os exames<br />
psicológicos que, além de excluir os desequilibrados mais evidentes, tinham um<br />
objetivo acessório veladamente homofóbico. Não eram muito eficazes nesse objetivo<br />
semiclandestino, já que o Itamaraty sempre preservou entre os seus, ao longo dos anos,<br />
uma saudável diversidade de preferências sexuais.<br />
A exigência era a de que o candidato já tivesse dois anos de estudos universitários na<br />
bagagem. O processo de exames – orais e escritos – se estendia por seis meses, e como<br />
o curso de preparação durava dois anos, o candidato deveria prover seus gastos por<br />
quase três anos, sem qualquer remuneração, salvo se conseguisse provar à<br />
administração estar literalmente à míngua de recursos. Ao contrário das corporações<br />
militares, não dispúnhamos de alojamentos, nem de serviços médicos, nem de<br />
alimentação regular para os aspirantes, o que tinha o efeito de desencorajar os que
temiam não poder arcar com as despesas. A própria carga horária das aulas, e a<br />
necessidade de produzir papéis, e de estar preparado para arguições e exames, impedia<br />
que um aluno pudesse ter algum emprego complementar. Concluo: a natureza das coisas<br />
privilegiava os candidatos de classe média do <strong>Rio</strong> de Janeiro e, em menor medida, os<br />
que vinham de regiões mais próximas da então capital.<br />
Os exames escritos, eliminatórios, se faziam no grande salão de banquetes. Quando, por<br />
eliminações sucessivas, chegava-se a um número de candidatos espacialmente mais<br />
administrável, passava-se para o salão de leitura da biblioteca, espaço menor, mas ainda<br />
assim solene e intimidador.<br />
Os exames orais tinham uma liturgia que os aproximava mais do que havia sido em<br />
tempos antigos do que, imagino, acontece hoje. A banca, integrada por três membros,<br />
ficava aboletada sobre um estrado; e o candidato, sentado em um plano mais baixo,<br />
passava de uma cadeira, onde havia meditado depois de sorteado o seu ponto, para<br />
outra, de onde seria arguido.<br />
Lembro duas arguições que enfrentei. A primeira era o exame de português, no qual o<br />
principal arguidor foi Aurélio Buarque de Holanda (que o neto de um conhecido<br />
sugeriu, faz poucas semanas, que não existiu, e que era, apenas, o nome de um<br />
dicionário). Cabia-me falar sobre a crase, assunto que então, como agora, me enche de<br />
perplexidade e insegurança. Presidia a banca o embaixador Antônio Camilo de Oliveira,<br />
que tinha, por bons modos, o hábito de inclinar ligeiramente a cabeça quando a palavra<br />
lhe era dirigida. Respondi às perguntas de Aurélio não a ele, mas diretamente ao<br />
embaixador, que parecia concordar com o que eu dizia – o que, como eu sinistramente<br />
pretendia, inibia o nosso grande lexicógrafo.<br />
Mais de cinquenta anos depois, dois exemplos que eu devia comentar continuam<br />
presentes na minha memória: “Os touros se corriam desembolados à espanhola” e “Os<br />
cavalos corriam a toda brida.” Um, penso que leva crase. O outro, não. Mas qual?<br />
Acredito hoje, como aquele velho parlamentar nosso que, acusado de usar mal aquele<br />
acento, repetiu em plenário o velho adágio: “A crase, senhor presidente, não foi feita<br />
para humilhar ninguém.” Depois da chamada Guerra da Lagosta, que quase nos<br />
engalfinhou com a França, o nosso então embaixador em Paris, Carlos Alves de Souza,<br />
escreveu suas memórias do incidente, às quais deu o título de Tempos de Crise. Gilberto<br />
Chateaubriand, secretário da embaixada, e desafeto do embaixador, ao apontar no texto<br />
vários usos impróprios do cruel acento, sugeriu que o livro se chamasse Tempos de<br />
Crase.<br />
O último exame, aquele que encerrava o calvário do acesso à Casa, era o de cultura
geral, e o meu arguidor foi Guimarães Rosa, em quem a aparente bonomia escondia, de<br />
fato, um imenso saber. Na conversa, chegamos a Florença, que eu havia visitado meses<br />
antes. E Rosa perguntou-me se recordava de um grande crucifixo que estava na Basilica<br />
di Santa Croce. Nem Constantino ao ver o sinal das nuvens, nem Dom Afonso<br />
Henriques em Ourique, nem Vieira ao ser iluminado pelo celebérrimo estalo tiveram<br />
uma epifania tão sublime quanto eu ali, naquela hora grave. Apareceu-me no espírito,<br />
sem hesitação, nítida, a grandiosa obra de Cimabue. Ao identificá-la, comecei com<br />
aquele homem extraordinário uma amizade que se estendeu pelos anos. Ingressei na<br />
carreira sem nenhum chamado claro; e fui aprovado, literalmente, por um milagre.<br />
Valeu a pena.<br />
João Augusto de Araújo Castro, que foi ministro das Relações Exteriores, costumava<br />
pedir a Ítalo Zappa, seu assessor de imprensa, que espalhasse algum comentário,<br />
testasse alguma notícia ou disseminasse um rumor à medida que caminhasse pelos<br />
corredores. Zappa saía do gabinete do ministro e ia até o prédio mais distante, definido<br />
por suas colunas e pelo seu frontão triangular, onde ficavam o salão de conferências, a<br />
biblioteca, a mapoteca e o sempre poderoso Departamento de Administração. Parava<br />
aqui e acolá, fumava e conversava com gestos largos, tomava um café no fim de sua<br />
linha e voltava pelo mesmo caminho. Falava com um e outro, cravava os olhos<br />
cinzentos e buliçosos nos colegas, e recolhia o boato ou o balão de ensaio que ele<br />
mesmo havia plantado menos de uma hora antes, agora enriquecido e adornado de<br />
comentários, avaliações e especulações que seus interlocutores haviam agregado. Fazia<br />
Zappa, assim, o que o Itamaraty sempre fez bem: examinar e contextualizar qualquer<br />
fato ou rumor à luz da experiência e da ótica de alguns dos melhores analistas do país.<br />
Era uma maneira barata e artesanal, mas eficaz, de se fazer uma pesquisa de opinião. A<br />
geografia do conjunto e as características da grei permitiam que houvesse um acesso<br />
fluido a tudo e todos. O velho casarão e os seus anexos tinham uma escala civilizada e<br />
humana. Não tínhamos a pretensão à imponência que nos veio da Itália de Mussolini, e<br />
que encontra eco nos prédios que acolhiam o Ministério da Fazenda e o do Trabalho,<br />
nem certa teatralidade de outros, herdados da Exposição do Centenário de 1922. O<br />
Ministério da Educação e da Cultura, este era de outra inspiração. Ele talvez continue a<br />
ser o prédio mais bonito do <strong>Rio</strong>, mas tem mais a ver com as aspirações que nos levaram<br />
a Brasília, com a modernidade de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, do que com a história<br />
que moldou nossa Casa.<br />
Quando falávamos da Casa, queríamos privilegiar certo intimismo de nosso vínculo<br />
com a instituição. Mas também lembrávamos que o Itamaraty havia sido, por várias<br />
décadas, apenas a residência de uma família apatacada, cujo chefe recebeu o título<br />
primeiro de Barão e depois de Conde de Itamaraty. E fora onde por dez anos viveu e
trabalhou o Barão do <strong>Rio</strong> Branco, que nela morreu em 1912.<br />
Era bom que eu precisasse a moldura do tempo que essas recordações cobrem. Seriam<br />
os anos do governo de Juscelino Kubitschek, da sua tumultuada posse (quem se lembra<br />
ainda da revolta de Jacareacanga?) até a inauguração de Brasília (que é quando a<br />
história, se tivesse mais senso de teatro do que preocupação com o rigor cronológico,<br />
faria terminar seu mandato). Os contemporâneos nunca sabem como os enxergará o<br />
futuro. Não se sabia no fim do século XIX que aquela seria a Belle Époque; não sabiam<br />
os cortesãos de Versalhes, imersos na doçura de viver, que a festa Ancien Régime logo<br />
acabaria, nem que acabaria do jeito que acabou.<br />
Não sabíamos que vivíamos anos dourados. Mas sentíamos que eram bons os tempos e<br />
os ventos, e o <strong>Rio</strong> via com indiferença, e mesmo com desdém, os prenúncios de que<br />
deixaria de ser a capital. A cidade parecia convencida de que seus encantos e vantagens<br />
supririam as eventuais perdas e danos. Não foi bem assim. Também havia, no fundo,<br />
dúvidas sobre se a capital iria, de fato, mudar. Predominava aquele risonho ceticismo<br />
com que os cariocas costumam receber anúncios de ambiciosos projetos<br />
governamentais. Como seria possível imaginar que se deixaria Copacabana para viver<br />
em Goiás?<br />
Hoje parece natural que a capital esteja no Planalto Central, que tenhamos um imenso<br />
parque industrial e que a nossa energia venha de grandes usinas hidrelétricas. Não só<br />
não era assim, em meados dos anos 50, como havia um mar de descrédito cercando<br />
nossas pretensões de ocupar lugares e posições que cabiam apenas às grandes potências.<br />
Havia uma aceitação generalizada de que não tínhamos nem o talento, nem a vocação,<br />
nem a capacidade gerencial, nem os meios, nem o barro humano para sair do âmbito de<br />
nossas atividades mineiras e agrárias. O Brasil é um país essencialmente agrícola, diziase<br />
e repetia-se. Os motivos de nosso orgulho eram consequência de uma natureza<br />
generosa e raramente o resultado do aproveitamento e capacitação de nossos recursos<br />
humanos. O Brasil se definia em termos quantitativos e não qualitativos. Aqueles anos<br />
marcaram a mudança dessa perspectiva; começávamos a acreditar em nós mesmos.<br />
O Itamaraty teve nesse período três titulares, José Carlos de Macedo Soares, Francisco<br />
Negrão de Lima e Horácio Lafer. Cada qual com um traço que fazia a festa dos<br />
cartunistas: as fundas olheiras de Macedo Soares; a mecha branca de Negrão de Lima;<br />
os chapéus Gelot e a elegância europeia de Horácio Lafer. Além dos três, havia Augusto<br />
Frederico Schmidt, agente provocador, poeta e empresário, gordo e desarrumado, que<br />
teve um papel importante como conselheiro ad hoc para assuntos internacionais de<br />
Juscelino. Ele foi o mentor principal da Operação Pan-Americana, o nosso mais<br />
ambicioso projeto de política externa. Nas circunstâncias, era um desígnio pouco
ealista de botar de pé um Plano Marshall para a América Latina. A decisiva adesão<br />
política e financeira dos Estados Unidos só viria a se materializar quando a Revolução<br />
Cubana alterou a equação estratégica de toda a região.<br />
A polarização mais visível na definição da nossa inserção internacional era a que<br />
separava “nacionalistas” e “entreguistas”. A clivagem pode parecer simplista e ingênua,<br />
mas as duas palavras tinham uma grande capacidade de mobilização. O talento de<br />
Juscelino foi o de evitar essa armadilha, e encontrar no “desenvolvimentismo” a síntese<br />
que lhe permitiu agradar os que desejavam um Brasil forte em suas indústrias e na sua<br />
infraestrutura, mas que, ao mesmo tempo, abria as portas para capitais internacionais<br />
que poderiam alavancar as promessas criadas pelo seu Plano de Metas. O gênio de JK<br />
foi o de usar as virtudes do otimismo e da esperança (e uma dose caseira de<br />
irresponsabilidade), e sugerir que poderíamos progredir em grande velocidade, que o<br />
país se tornaria moderno. Mesmo o capital que vinha de fora, ele insinuava, não nos iria<br />
dominar: acabaria, como em ampla medida ocorreu, por ser metabolizado e incorporado<br />
ao patrimônio nacional.<br />
Há uma tendência hoje a olhar para trás e sugerir que o Itamaraty perdeu, nos últimos<br />
anos, influência e boa parte do controle operacional sobre a política exterior do Brasil.<br />
Se é verdade que, de um lado, é bem maior o número de agências públicas e de atores<br />
privados (acadêmicos, mediáticos e empresariais) que atuam no campo da política<br />
externa, por outro, desde a ditadura militar, os presidentes têm dado ao Itamaraty<br />
recursos mais amplos e uma medida de autonomia que antes não existia. O Brasil era<br />
mais personalista e menos disciplinado. A ideia de que dispúnhamos de um corpo<br />
profissional de agentes treinados especificamente para o exercício de funções<br />
diplomáticas só se afirma, em plenitude, depois da criação do Instituto <strong>Rio</strong> Branco. E só<br />
depois se consolida o conceito de que a condução das relações internacionais era<br />
assunto para ser tratado, de forma suprapartidária, por um corpo estável de<br />
profissionais.<br />
Se a formação profissional e universitária dos novos diplomatas me parece melhor do<br />
que era, e a distribuição social e geográfica mais representativa do país grande e diverso<br />
que somos, ainda assim sinto falta de certos ingredientes do estilo da Casa, que se<br />
perderam com o passar dos anos. Sou ocasionalmente nostálgico, mas não tenho<br />
nenhum ânimo restaurador. Sei que o que antes funcionava, e parecia necessário e certo,<br />
seria hoje apenas caricatura. Se não quero restaurar, procuro evitar, também, que se<br />
esqueçam boas práticas, e que se pretenda julgar aqueles tempos apenas com a ótica e os<br />
valores de hoje.<br />
Mudou o Natal e mudamos nós. Éramos, os empregados do Itamaraty, em primeiro
lugar, poucos. E tínhamos um acerado esprit de corps, que vinha de afinidades de<br />
formação, temperamento e origem. Essas afinidades eram reforçadas pela modelagem<br />
que, consciente e inconscientemente, o Itamaraty imprimia aos que ingressavam na<br />
carreira. Não era, por certo, uma camisa de força, e nem por gestos e palavras se exercia<br />
nada que parecesse uma ação autoritária, coercitiva.<br />
Como acontece com outras profissões altamente hierarquizadas, e com formas de<br />
proceder longamente incorporadas, o que se buscava na Casa não era reprimir<br />
individualidades, mas estimular uma cooperação harmoniosa que parecesse quase<br />
natural e pudesse ocorrer sem ruptura do princípio de autoridade. O Manual de Serviço,<br />
que era o nosso guia básico, continha uma frase central: “O pedido de um chefe é uma<br />
ordem.” Assim, tudo entre nós se expressava, na linguagem oral, por pedidos; e na<br />
linguagem escrita “rogar” era o verbo apropriado: “Rogo a V. Exa...”<br />
Era na linguagem e no comportamento que o Itamaraty buscava deixar a sua marca.<br />
Normas de redação nos empurravam a privilegiar certas expressões e maneiras de dizer,<br />
e a evitar outras não porque fossem erradas, mas porque não seriam as de nossa<br />
ortodoxia. Tínhamos para a correspondência oficial quase uma dezena de fechos, que<br />
iam de uma informalidade muito relativa até a expressão do nosso mais profundo<br />
respeito, que era reservado às comunicações dirigidas ao presidente da República.<br />
Os menos graduados se dirigiam aos mais altos na hierarquia com o invariável<br />
“Respeitosamente”; e os mais graduados se dirigiam aos subordinados, também sem<br />
exceção, com a fórmula “Atenciosamente”. Não se impunham regras de convívio de<br />
maneira explícita, mas quando um dos nossos cardeais dizia a um grupo de diplomatas<br />
que se sentassem “à vontade”, todos se sentariam no mais rigoroso respeito ao que<br />
determinava a lista de antiguidade. Em outras palavras: todos sabiam o seu lugar. As<br />
vantagens de sistemas com códigos de comportamento profundamente enraizados são<br />
evidentes. Ganha-se em organicidade e coerência, mas, reconheça-se, perde-se em<br />
criatividade e espontaneidade.<br />
Embora errasse pouco, o Itamaraty demorava em acertar. E sua força de arraste inercial<br />
era imensa. Ainda que Azeredo da Silveira tivesse consagrado a fórmula “a principal<br />
tradição do Itamaraty é saber renovar-se”, a renovação costumava ser de incorporação<br />
lenta e penosa. Ajudava também a nossa opção preferencial pelo conservadorismo das<br />
práticas e das ideias o fato de que não tínhamos um registro preciso das oportunidades<br />
perdidas, ou de derrotas que pudessem ser atribuídas a desacertos ou imprudências<br />
diplomáticas. Desconfiava-se da pressa; desconfiava-se das heterodoxias; desconfiavase<br />
das novidades; desconfiava-se enfim de tudo aquilo que não encontrasse legitimação<br />
nas mais sagradas fontes de nossas ações: os antecedentes e os precedentes.
O que podia parecer novo era a história que a gente não lera. Para toda proposta mais<br />
arrojada, ou afoita, recitava-se a frase “é urgente esperar”, mantra que, desde<br />
Talleyrand, se aplicava a toda tentativa de imprimir uma velocidade imprudente à<br />
tramitação dos negócios de Estado. Todos conhecem o Itamaraty do Barão do <strong>Rio</strong><br />
Branco; poucos, o Itamaraty do Visconde de Cabo Frio, seu contemporâneo e diretor-<br />
geral quase vitalício, patrono das regras de conduta corporativas. Ele encarnava, mesmo<br />
bem avançados a República e o século XX, a burocracia imperial, e procurava fazer o<br />
que por muitas décadas ninguém logrou conseguir: que o Itamaraty começasse a<br />
trabalhar cedo e mantivesse horários regulares e previsíveis. Dizia-se que os militares e<br />
os diplomatas nunca faziam nada: mas os militares não faziam nada cedo, e os<br />
diplomatas não faziam nada tarde.<br />
Não só eram os diplomatas brasileiros parecidos entre si, como éramos também<br />
parecidos com todos os diplomatas do mundo – mas um mundo que consistia em uns<br />
quarenta países, dentre os quais talvez uma dúzia ou pouco mais que de fato contassem.<br />
Integrávamos uma elite, uma comunidade global que compartilhava estilos e práticas.<br />
Essa crème de la crème internacional se entendia em francês, a língua diplomática par<br />
excellence. Compreende-se esse tribalismo elitista. Era prático que agissem todos sob<br />
um mesmo código e que, literal e metaforicamente, falassem a mesma língua. Pilotos de<br />
aviões comerciais e controladores de voo, no planeta mundializado de hoje, se pautam<br />
por procedimentos e códigos parecidos. De outra maneira, sobretudo em emergências,<br />
não se poderia contar com o automatismo e a confiabilidade de respostas e reflexos.<br />
Nenhuma palavra nos últimos cinquenta anos sofreu a degradação pela qual passou<br />
“elite”. Era ela um rótulo que todos buscavam, que servia tanto para situar uma senhora<br />
na sociedade e identificar um homem de saber e talento como para enfeitar a fachada de<br />
uma padaria ou um açougue. Só tinha conotações favoráveis, mesmo na esquerda: Lênin<br />
defendia que o partido revolucionário reunisse a nata da classe operária. Hoje, a palavra<br />
sugere uma seletividade pouco democrática e mesmo ilegítima; e “elitismo” quase que<br />
se contrapõe diretamente aos conceitos de igualdade de oportunidades e ampla inclusão.<br />
O Itamaraty era então – e sobretudo – a Casa da elite. Diria mais: era o lugar que reunia<br />
a elite da elite, e sua legitimação derivava de se perceber e de ser percebida como um<br />
núcleo de qualidade e excelência. Com a criação do Instituto <strong>Rio</strong> Branco, deixou de ser<br />
uma Casa de elite por seleção aristocrática para ser também uma Casa de elite por<br />
seleção intelectual. O conceito de elite não só permaneceu como robusteceu: We few, we<br />
happy few, we band of brothers.<br />
Não se imagine que a combinação de formalismo e elitismo criasse um lugar solene.<br />
Pelo contrário. O sentido do humor, a aceitação risonha da excentricidade dos<br />
comportamentos, a autoconfiança que boa parte desses atores trazia do berço faziam
com que o lugar fosse, bem mais do que hoje, divertido e pitoresco. É preciso pensar<br />
menos em um ministério, como o entendemos hoje, e mais em um clube social, com<br />
suas regras e peculiaridades. Um clube que valorizava, de maneira bisonha, certos<br />
traços e idiossincrasias que só se explicavam pelo objetivo, ora explícito ora não, de<br />
identificar para fora, para a sociedade, uma pequena comunidade que se comprazia na<br />
sua singularidade. Era, desse modo, o lugar de pensamento e do comportamento<br />
politicamente incorretos: o lugar livre onde não se envergava a camisa de força dos<br />
preconceitos e convenções.<br />
Não seria provável, hoje, uma grande figura afirmar, mesmo no círculo restrito da Casa,<br />
que a receita da felicidade consiste em viajar à custa do Estado, hospedar-se em casa de<br />
amigos e dormir com a mulher do próximo. Nem sobreviveria agora, sem certo<br />
escândalo, um notável embaixador, avançado em anos, cuja preferência por namoradas<br />
cada vez mais jovens levou a que se sugerisse que seu apartamento fosse decorado por<br />
Walt Disney. O controle institucional ou mediático do comportamento era bem menos<br />
rigoroso do que hoje, e a ambiguidade de valores era aceita com mais naturalidade do<br />
que agora.<br />
A imagem de vários dos nossos Maiores, em vetusto fardão e condecorações<br />
engalanadas, perdura nas paredes do palácio que agora é museu. São visitados por<br />
frequentes grupos de crianças de várias escolas, levados por suas professoras, e observo<br />
seu silêncio respeitoso em torno daquelas figuras augustas. O meu impulso, anárquico, é<br />
dizer pelo menos uma pequena parte do que sei a respeito deles. Refreio-me: se isso<br />
acontecesse, olharíamos a história com irreverência, que não é o sentimento que os<br />
museus procuram incentivar; e não se permitiria que o tempo fosse cobrindo a todos<br />
com o manto da respeitabilidade.<br />
Nossos Maiores eram, em bom número, fidalgos. Muitos tinham a autoconfiança que<br />
vinha de uma posição social desde sempre segura; de estarem entre pares e iguais; de<br />
terem sido preparados para o jogo e para as funções; de estarem imbuídos de um senso<br />
de superioridade sobre o meio no qual se inseriam; de cultivarem sentimentos que, pelos<br />
bons modos que então se praticavam, eram mais implícitos do que explícitos, e que<br />
vinham da soma desses traços e circunstâncias.<br />
Como selecionar um meio de campo que refletisse a alma da Casa naquele tempo? Nele<br />
deveriam figurar Maurício Nabuco, Vasco Leitão da Cunha, Pedro Leão Veloso, Ciro<br />
de Freitas-Valle, Décio de Moura, que ainda usava monóculo, como também o fazia<br />
Lafayette de Carvalho e Silva. Cada um tinha traços, atitudes e frases que ficaram. No<br />
caso de Leão Veloso, a imortalidade veio, sobretudo, por ter dado a receita e o nome de<br />
uma sopa que era uma transposição para as águas e os peixes daqui de uma<br />
bouillabaisse do Mediterrâneo. Só o filé à Oswaldo Aranha seria seu rival.
Vasco Leitão da Cunha, epítome de um cavalheiro conservador, era, ao mesmo tempo e<br />
paradoxalmente, amigo de Fidel Castro, de quem ficou próximo quando foi embaixador<br />
em Havana, e um vigoroso defensor de princípios democráticos. Foi ministro da Justiça<br />
e era homem trabalhador e corajoso. Não se ocupava de punhos de renda. Dizia que,<br />
quando trabalhava, arregaçava as mangas.<br />
Como numa boa receita mineira, José Sette Câmara Filho harmonizava todas as<br />
qualidades. Nabuco era impagável. À noite, só vestia smoking – alegava que fazia isso<br />
por racionalidade e economia: bastavam-lhe dois conjuntos para estar sempre<br />
corretamente vestido. Ao voltar ao <strong>Rio</strong>, aposentado, sumiu. Passados uns dias, os<br />
amigos, preocupados, foram procurá-lo. Encontraram-no em sua casa em Botafogo.<br />
Explicou, com naturalidade, que a palavra “aposentado” significava ficar confinado aos<br />
seus aposentos. Era o que simplesmente estava fazendo.<br />
A Maurício Nabuco devemos um livrinho encantador, Drinkologia dos Estrangeiros,<br />
manual do bem beber e cujo título evocava o bar a que estava habituado, no velho Hotel<br />
dos Estrangeiros, num dos lados da praça José de Alencar. Foi escrito em Roma, no fim<br />
da Segunda Guerra Mundial. As ilustrações eram de Giorgio de Chirico e foi Clarice<br />
Lispector, casada com Maury Gurgel Valente, secretário da embaixada, quem jogou no<br />
fogo de uma lareira, depois do jantar de lançamento, a matriz da obra, para assegurar<br />
para sempre o seu valor bibliográfico. Foi, por sua vez, Antônio Houaiss quem, muitos<br />
anos depois, resgatou e reeditou o livrinho, tendo preparado uma encantadora<br />
introdução.<br />
Ao caricaturá-los mansamente, e ao destacar um ou outro traço bizarro de nossos<br />
Maiores, poderia ir longe – no que cometeria grave injustiça. Eram mais densos em<br />
conteúdo e tinham muito mais estofo do que aqui lhes reconheço. O Itamaraty era um<br />
armazém de inteligências. Havia ali, em volta do lago e à vista dos cisnes, alguns dos<br />
melhores da nossa literatura (em prosa e verso), da nossa cultura e do nosso direito. A<br />
Casa cultivava a diversidade. Roberto Campos não via o mundo com os olhos de João<br />
Cabral de Melo Neto. Manoel Pio Corrêa não tinha, absolutamente, a mesma visão de<br />
Vinicius de Moraes e Paschoal Carlos Magno.<br />
Ao reclamarem para si mesmos certo tipo de tratamento e deferência, eles agiam em<br />
parte por vaidade pessoal. Mas igualmente, e em não menor medida, por acharem que,<br />
como representantes do Brasil, não podiam aceitar tratamento displicente, que reduzisse<br />
nosso prestígio. Havia, no culto geral ao formalismo e na exigência de que a liturgia das<br />
relações entre Estados fosse estritamente cumprida, a preocupação de não permitir que o<br />
Brasil, que em muitas dimensões contava pouco, pudesse ser menoscabado. Para eles, o
epresentante e o representado se confundiam. Os vultos itamaratianos eram<br />
cosmopolitas que retinham uma brasilidade essencial; eram cidadãos do mundo e<br />
patriotas à flor da pele.<br />
Para a maior parte deles, era importante parecer que não estavam se esforçando, mesmo<br />
quando, de fato, estivessem suando a camisa. Os mais velhos desejavam passar uma<br />
impressão de nonchalance que se contrapunha ao excesso de zelo. Não lhes custava<br />
muito manter a pose porque, de fato, trabalhar muito não era uma das exigências do<br />
ofício. Eram uma versão tropicalizada da maneira de proceder das épocas vitoriana e<br />
eduardiana.<br />
A caricatura ganhava contornos mais nítidos quando se pensava no cerimonial e nas<br />
regras do protocolo. Como venho da Casa, tenho robusto respeito por essas atividades<br />
tão próximas do âmago do saber diplomático. Postas de lado as mesuras e as afetações<br />
extravagantes, cerimonial é, na essência, duas coisas de difícil execução: a<br />
administração e a conciliação das vaidades pessoais e nacionais; e a montagem de<br />
operações diplomáticas como viagens, congressos, conferências e solenidades de todo<br />
tipo. Dá mais trabalho do que parece, e os riscos de um vexame à vista de todos são<br />
inúmeros. O erro é risco universal. A gafe é o papelão ou a trapalhada feita por quem é<br />
do ramo e tinha a obrigação de fazer melhor.<br />
O Itamaraty era um reduto de personalidades – e excentricidades. Como nas grandes<br />
famílias, o comportamento esdrúxulo, quando não biruta, era considerado parte<br />
inescapável da variedade da espécie e a sua tolerância como um imperativo do convívio<br />
social. Só a extrema desagradabilidade no trato e a improbidade com a coisa pública<br />
eram tidas como inaceitáveis. As peculiaridades das opções sexuais, os excessos com a<br />
bebida, um comportamento boêmio ou errático, tudo o mais era visto com indulgência<br />
civilizada.<br />
Conheciam-se quase todos miudamente, em geral desde a infância. Se o Barão do <strong>Rio</strong><br />
Branco era Juca Paranhos e Joaquim Nabuco, Quincas, alguns dos grandes chefes<br />
mantinham a tradição dos apelidos caseiros: Carlos Silvestre de Ouro Preto era Bubu;<br />
Carlos Alfredo Bernardes, Lolô; Antônio Corrêa do Lago, Ton Ton; Martim Francisco<br />
Lafayette de Andrada, Tim Tim; Frederico Chermont Lisboa, Fifi; e eu poderia me<br />
alongar em exemplos. Uso essa referência anedótica para acentuar o caráter intimista da<br />
instituição, e a natureza dos traços de família e de formação que uniam seus membros.<br />
Os laços familiares eram densos e cruzados. Os contemporâneos se conheciam de<br />
escolas e faculdades. A totalidade do mundo universitário brasileiro seria menor do que<br />
o número de alunos hoje de qualquer das nossas maiores universidades.<br />
Além desse grupo intramural de diplomatas, havia um pequeno número de pessoas
eminentes que, apesar de não fazerem parte dos quadros do Ministério, eram<br />
intimamente associadas à instituição, e ocasionalmente eram chamadas a socorrê-la ou<br />
representá-la. Refiro-me a Afonso Arinos de Melo Franco, Francisco Clementino de<br />
San Tiago Dantas, Raul Fernandes, Walther Moreira Salles, Gilberto Amado, Oswaldo<br />
Aranha e um punhado mais. Eram vistos pela Casa e viam-se a si mesmos, imagino,<br />
como membros fuori muri da família diplomática com a qual entretinham laços estreitos<br />
e fraternos.<br />
Dávamos, para fora, uma impressão de racionalidade e previsibilidade. O presidente<br />
John Kennedy – e o presidente Richard Nixon faria depois a mesma reflexão –, que só<br />
conversava com brasileiros que faziam parte desse círculo restrito, dizia de sua surpresa<br />
em ver como interlocutores tão qualificados, ao voltar ao Brasil, pareciam outras<br />
pessoas e se conduziam de maneira bem diferente da impressão que haviam deixado. Os<br />
americanos não levavam em conta que, ao voltar para casa, nossos negociadores tinham<br />
que enfrentar a turbulência doméstica das paixões nacionalistas e da exaltação retórica.<br />
Passada a grande fase das negociações de fronteiras e da presença brasileira na<br />
2ª Conferência de Paz de Haia, com Rui Barbosa, e da nossa participação na criação da<br />
Liga das Nações, e vencidos os desafios que para nós representaram a Primeira e a<br />
Segunda Guerra Mundial, o Itamaraty vivia como que uma entressafra. Do Pan-<br />
americanismo do Barão e de Nabuco sobrara o apoio à Organização dos Estados<br />
Americanos, a OEA, e a aceitação da presença influente de Washington no tratamento<br />
das questões latino-americanas. A frustração na expectativa de que o Brasil pudesse<br />
obter um assento permanente primeiro no Conselho da Liga e, mais tarde, no Conselho<br />
de Segurança das Nações Unidas mostrava os limites de nosso poder e influência.<br />
A lição aprendida parecia ser a de que o Brasil devia cuidar de seus interesses reais e<br />
imediatos na América do Sul e no hemisfério, e não apostar muito na elevação do<br />
patamar de sua inserção internacional.<br />
O foco de quase todas as nossas preocupações, pois, era o continente americano. Abro<br />
logo um espaço para qualificar e nuançar o que acabo de sustentar. Portugal tinha<br />
influência no Brasil, sobretudo na política e no comércio do <strong>Rio</strong> de Janeiro; a França era<br />
o farol de nossas ambições intelectuais e culturais; Londres importava como centro<br />
financeiro; como era grande a influência da Igreja Católica, na vida política; o Vaticano,<br />
portanto, também importava diplomaticamente. O resto (ou “os demais países”, segundo<br />
o linguajar da Casa) teria importância ocasional e incidental.<br />
Exceto um punhadinho de exceções, não existia a África independente nem o Caribe<br />
anglófilo, e na Ásia o Japão era o único parceiro que para nós existia. A Índia<br />
engatinhava e a China vivia ainda o tsunami de sua grande revolução. Com o Oriente
Médio petrolífero, falávamos através de intermediários ocidentais. Os contatos com a<br />
União Soviética e seus satélites eram tênues, e as aproximações e os distanciamentos se<br />
faziam em função das variações de temperatura da Guerra Fria, e à luz das<br />
condicionantes de nossa política interna, com seus laivos estridentes de anticomunismo.<br />
Praticávamos, ao fim e ao cabo, uma política exterior que tinha em Washington e<br />
Buenos Aires a sua natural bipolaridade. A Argentina aparecia como um grande rival.<br />
Perón, e sua política de restauração da primazia argentina, e mesmo de recriação das<br />
divisões administrativas da América espanhola na Bacia do Prata, nos inquietava muito<br />
mais do que faz hoje a retórica bolivariana de Hugo Chávez. O Brasil desconfiava de<br />
seus vizinhos e guardávamos as distâncias que mantínhamos em relação a eles desde a<br />
época colonial. Recorde-se que não éramos uma região de democracias estabilizadas, e<br />
sim uma parte remota do mundo ainda sujeita aos arroubos de caudilhos civis ou<br />
submetida a pronunciamentos militares. O Brasil, sem capacidade de liderar um<br />
processo associativo da América do Sul, temia que essa aglutinação se fizesse sem nós,<br />
ou em nosso desfavor. Certo imobilismo regional nos convinha.<br />
Como no tempo do Barão, a aliança com Washington era vista como um escudo e a<br />
garantia de que não ficaríamos isolados. A nossa aliança com os Estados Unidos<br />
durante a Segunda Guerra Mundial havia reforçado esses laços – e toda uma geração de<br />
civis e militares, para a qual a saga da guerra contra os países do Eixo havia sido uma<br />
experiência fundamental, encorajava a ligação especial entre o <strong>Rio</strong> e Washington.<br />
É interessante ver quem nos visitou nesses anos. O presidente Dwight Eisenhower e seu<br />
secretário de Estado, John Foster Dulles, pesos-pesados do poder norte-americano<br />
absolutamente hegemônico. Portugal e Itália mandaram seus presidentes e mais tarde<br />
viria De Gaulle, símbolo maior da tentativa europeia de recuperar o espaço perdido com<br />
o desenlace da Segunda Guerra Mundial. Comparado com o ritmo de hoje, o número de<br />
viagens presidenciais era irrisório. Cada uma delas devia ser acompanhada de uma<br />
parafernália de tratados e atos internacionais, declarações conjuntas e encontros<br />
ritualizados. Havia a emissão de selos, a designação de ruas como homenagem ao<br />
visitante, a disputa de troféus esportivos – uma azáfama para fazer com que a visita<br />
fosse guardada pela história.<br />
Fui convocado para ajudar a organizar a visita do presidente Eisenhower, que, por ser<br />
um exercício logístico de certa complexidade, serviria um pouco como ensaio para a<br />
inauguração de Brasília, que se daria semanas depois. Meu envolvimento começou no<br />
<strong>Rio</strong>, quando aqui aportou (o que para nós era uma grande novidade) a missão<br />
precursora. Chefiada pelo secretário de imprensa da Casa Branca, Jim Hagerty, a missão<br />
chegara com uma numerosa equipe multidisciplinar e uma parafernália de equipamentos<br />
de transporte, segurança e comunicações como nunca se tinha visto nestas bandas. Ela
era operada por funcionários da Casa Branca, das agências de informação e por oficiais<br />
do Exército, que se comunicavam desde o <strong>Rio</strong> com Washington e com todo o mundo na<br />
maior velocidade.<br />
Ainda no <strong>Rio</strong>, no meio de uma reunião na embaixada americana, fiquei incumbido de<br />
perguntar ao Itamaraty, distante uns poucos quarteirões, se uma ação que estávamos<br />
examinando seria a melhor. Não consegui linha, como era habitual. Tentei uma vez,<br />
duas vezes, três vezes. Depois de tentar várias vezes, achei que era humilhação demais<br />
admitir que não conseguia falar com um prédio das imediações, e fingi ao telefone uma<br />
conversa imaginária com um interlocutor inexistente. Se foi gravado – suponho que<br />
possa ter sido –, terá ficado o registro de que eu seria um interlocutor lunático, a ser<br />
tratado com cautela.<br />
Conto o episódio como ilustração de como era imensa a distância entre nós e eles em<br />
matéria de tecnologia, e como eram precários os recursos próprios de que dispúnhamos.<br />
Viajei de Brasília ao <strong>Rio</strong> no Air Force 2 e o percurso que costumava fazer em mais de<br />
duas horas e meia levou pouco mais de uma hora. Para quem pela primeira vez viajava<br />
em um avião a jato, o conforto era surpreendente.<br />
Fui recrutado também para fazer parte da equipe que organizou a transferência da<br />
capital para Brasília. Ficamos adidos à Casa Civil de JK, chefiada por Oswaldo Penido.<br />
Embora a empreitada fosse arriscada, para não pequena surpresa nossa, ela funcionou<br />
bem melhor do que era razoável esperar. Tenho alergia à expressão “momento<br />
histórico”, usada e abusada para rotular qualquer ocasião. Mas acho, com pequeno risco<br />
de erro, que se pode usar a expressão para definir aquele dia, 21 de abril de 1960.<br />
Juscelino mantinha no Palácio da Alvorada um livro de honra. Nele os visitantes ilustres<br />
– e quase ninguém de interesse passava por aqui naqueles tempos sem ser levado a<br />
Brasília – deixavam sua reação à nova capital. Os comentários iam desde a retórica<br />
laudatória de André Malraux (“la capitale de l’espoir”) até o ceticismo de Graham<br />
Greene (“I have seen the future and I don’t like it”).<br />
Havia em JK um entusiasmo com seu projeto que o impelia a correr riscos. Enquanto<br />
governava nunca foi tão popular quanto seria depois. Brasília tinha tantos detratores<br />
quanto defensores. A direita nunca o aceitou, e o via como um gastador irresponsável.<br />
Também a esquerda não se identificava com ele. Foi bem mais tarde, depois do golpe<br />
militar, quando foi criada a Frente Ampla reunindo JK, João Goulart e Carlos Lacerda,<br />
que o civilismo encontrou em Juscelino, em sua obra e em seu tempo, o melhor símbolo<br />
para a reconstrução de uma sociedade democrática.<br />
O Itamaraty não foi logo para Brasília. A cumplicidade entre o corpo diplomático
estrangeiro, que não queria ir, e a diplomacia brasileira, que em sua maioria preferia<br />
ficar, fez com que se passassem mais de dez anos. Só no verão de 1970 que uma série<br />
de caravanas de caminhões e funcionários empreendeu, finalmente, sua marcha para o<br />
oeste.<br />
O casarão da Rua Larga ficou com muitos de seus móveis e objetos, que não<br />
combinariam com a estética da nova sede. Ficaram os arquivos, a biblioteca e a<br />
mapoteca. O edifício passou depois por um longo período de vacas magérrimas. Não<br />
por desamor, talvez, mas pela razão oposta: a necessidade de quebrar os laços afetivos<br />
entre os lugares, as coisas e as pessoas. Era preciso, pela rejeição do que tinha sido,<br />
estabelecer as bases de uma nova fidelidade.<br />
O velho nome do palácio, contudo, não foi abandonado. Não há um Palácio do Catete<br />
em Brasília, nem um das Laranjeiras, menos ainda um da Guanabara. O nome Itamaraty<br />
não foi descartado – como que para dizer que a trajetória de nosso relacionamento com<br />
o mundo é um rio ininterrupto; e que, mesmo em circunstâncias inteiramente diversas, a<br />
nossa continua, estamos no mesmo endereço.<br />
Gosto de imaginar que, quando partiu o último comboio, na calçada oposta ao palácio,<br />
em frente ao restaurante Galo, um pé-sujo de mala muerte que por muitos anos<br />
funcionou ali, estaria aquele Aires a quem não fiz nenhuma referência até agora. Seria o<br />
mesmo conselheiro José da Costa Marcondes Aires que, em l887, depois de trinta e<br />
tantos anos fora do Brasil, havia regressado a sua terra, a sua língua e ao seu Catete,<br />
onde escreveu seu Memorial.<br />
Diz bem do que foi a impressão deixada por aquela gente que o mais civilizado e<br />
maduro personagem da literatura brasileira seja um velho diplomata aposentado para<br />
quem o mundo terminava no <strong>Rio</strong> de Janeiro.<br />
FOI-SE A FOLIA. RESTAURE-SE A LEI...<br />
Constituir-se-ia uma sociedade em que o riso, privilégio da<br />
humanidade, inacessível a outras criaturas, fosse a marca; reconhecendo-se sua<br />
significação positiva, regeneradora criadora, em contraposição às teorias e filosofias<br />
que acentuam sua função maculadora. Impregnados desses ideais, homens e<br />
mulheres
(Rachel Soihet in Reflexões sobre o carnaval na historiografia- algumas abordagenshttp://www.academiadosamba.com.br/monografias/raquelsoihet.pdf)<br />
“ O que são os trios elétricos senão cortejos que carregam milhares de pessoas que<br />
cantam, dançam e bebem numa verdadeira celebração dionisíaca? O que é o<br />
desnudamento aliado à luxúria, garantindo um cenário altamente propício à<br />
liberdade sexual, senão o clima tão bem descrito em Concerto Barroco, romance<br />
histórico do cubano Alejo Carpentier que se passa na Veneza de Vivaldi (no início do<br />
século XVIII)?”<br />
(Milton Ribeiro – www.sul21.com.br )<br />
Se a ideia é celebrar a farra e o caos, que seja de verdade. Mas por enquanto, a madame<br />
continua no camarote, a Globeleza está no carro alegórico e a turma da favela vai suando<br />
atrás, empurrando a tralha toda. Festa democrática um cazzo.( Walter Carrilho , em “O que<br />
há de errado com o Carnaval”-2012- )<br />
Há muito o que se falar sobre o carnaval como explosão dionisíaca dos<br />
prazeres da carne, desde sua origem latina carne vallis, nos tempos<br />
primitivos, milhares de anos atrás, passando pela seu reaparecimento na<br />
Idade Média, na Europa, até sua chegada ao Brasil no Século XIX. Ele foi<br />
sempre uma celebração do lado lúdico da alma, um momento de ruptura<br />
das regras e controles sociais para que o espírito diabólico das paixões<br />
pudesse vir à tona como catarse coletiva. Um mal necessário, quando o riso<br />
se instaura como soberana virtude humana, derrubando barreiras sociais e<br />
culturais.<br />
Escrevi um ensaio no ano passado sobre as diversas falas a respeito do<br />
carnaval – www.<strong>paulo</strong><strong>timm</strong>.com.br/obras . Ali, os interessados poderão saber<br />
mais sobre esta grande festa pagã, de origem religiosa, que acabou<br />
formando um dos núcleos da cultura brasileira. São íntimas as relações<br />
entre a música popular brasileira e o carnaval, embora sejam muito diversas<br />
as manifestações carnavalescas nas várias regiões do Brasil. Mas estas<br />
relações não se restringem à música. Ela invade, cada vez mais, outras artes<br />
como literatura, coreo-cenografia e artes plásticas. A obra de artistas<br />
plásticos como Hélio Oiticica e Lasar Segall mantém uma relação intensa<br />
com uma das manifestações mais intensas da cultura brasileira, como<br />
assinala um belo artigo de Roberta Ávila, publicado na Revista de Cultura<br />
deste mês - http://www.revistadacultura.com.br:8090/revista/rc55/index2.asp?page=arte
O estudo da longa tradição carnavalesca entre nós é mostrado no livro do<br />
Médico Hiram Araujo : “Carnaval – Seis milênios de história” (Editora<br />
Gryphus- 2002) e que pode ser acessado no http://liesa.globo.com/por/08historiadocarnaval/historiadocarnavalsumario/historiadocarnaval-sumario_principal.htm<br />
. Outros autores são<br />
indicados no ensaio sugerido acima, o qual contempla diversas resenhas<br />
sobre este e outros autores.<br />
O carnaval evoluiu no Brasil, no final do Século XIX , culminando na sua<br />
oficialização no <strong>Rio</strong> de Janeiro ,em 1935, época em que surgem, então, as<br />
primeiras Escolas de Samba. Noel Rosa é um marco importante deste<br />
processo ao apresentar o “morro” às classes médias cariocas, ainda<br />
amedrontadas pelo espectro da “malandragem”, vindo do século anterior. É<br />
dele a advertência - “Quem é Você / que não sabe o que diz ?/Meu Deus do<br />
Céu / que palpite infeliz! - que se transformaria no mote de sua polêmica<br />
com outro músico, do asfalto, Wilson Batista .<br />
Nem todo carnaval, entretanto, é samba.<br />
No nordeste, ele está associado à celebrações regionais. Em Pernambucano<br />
predomina o frevo, com cordões de folguedos que culminam no desfile de<br />
grandes bonecos ao final dos festejos. A Bahia inventou o “Trio Elétrico”,<br />
com muita gente em volta, num percurso de música frenética e eclética,<br />
lembrando os criadores desta modalidade, sempre venerados pelos Novos<br />
Baianos e sua já larga descendência: Dudu e Osmar.<br />
No Sul e em São Paulo, desde 1960, predominam os grandes desfiles de<br />
Escolas de Samba . No interior, porém, já vicejavam, desde a década de 40<br />
, os bailes a fantasia nos clubes. Lembro-me da minha infância, em Santa<br />
Maria, anos 50, quando a cidade mergulhava fundo nos bailes dos Clubes<br />
Caixeiral e Comercial, não sem antes postar-se às margens da Avenida <strong>Rio</strong><br />
Branco para ver os carros alegóricos passarem. Eu ia, claro, às vespertinas<br />
infantis...<br />
Já em Brasília a grande atração são os blocos de rua, destacando-se o<br />
irreverente Pacotão, criado em 1977, em resposta à uma iniciativa<br />
autoritária do então Presidente militar, Ernesto Geisel. Desde então,<br />
nenhuma autoridade de turno escapa à ironia dos foliões deste bloco.<br />
A espetacularização das Escolas de Samba como eixo do carnaval começou<br />
na década de 60 e teve um grande marco na inauguração, pelo Governador<br />
Leonel Brizola, do Sambódromo do <strong>Rio</strong>, em 1984,. Naquele momento,<br />
poucos anos depois da inauguração da TV a cores no país, o fato ganhou
epercussão nacional. Aí demos início ao que o Ex Prefeito Cesar Maia<br />
denomina como inauguração do Carnaval como Grande Ópera Popular.<br />
Paradoxalmente, foi também na década de 80 que os foliões decidiram<br />
voltar às ruas com seus blocos enfezados e alegres. Mesmo no <strong>Rio</strong>, o<br />
verdadeiro carnaval está, hoje, muito mais nas ruas do que no<br />
Sambódromo, onde é, cada vez mais, transformado em espetáculo caro e<br />
extremamente hierarquizado, ao contrário dos blocos, onde reina a<br />
espontaneidade e quase ausência de regras e comando. Talvez aí nos blocos<br />
disseminados por todo o país esteja o verdadeiro espírito do carnaval. Não<br />
como uma data, uma festa, um baile, um cortejo, mas como a fantasia que<br />
veste a utopia brasileira da fraternidade. Aquele momento em que o<br />
ancestral e o futuro se unem em celebração.<br />
Findo o carnaval, porém, tudo volta ao império da Lei. Começou o ano.<br />
Enfim...O outono se aproxima, os estudantes enchem as ruas, a cidade volta<br />
ao seu curso. Até que um novo Carnaval, em 2013, se anuncie<br />
promissoramente, de novo...É o eterno retorno se renovando,<br />
ritualisticamente, para que o equilíbrio jamais se perca em obsessões.<br />
II<br />
FOI-SE A FOLIA. RESTAURE-SE A LEI...<br />
Paulo Timm – 22.02.2012<br />
Publicado em<br />
www.sul21.com.br<br />
www.cartapolis.com.br<br />
www.<strong>paulo</strong><strong>timm</strong>.com.br<br />
Constituir-se-ia uma sociedade em que o riso, privilégio da<br />
humanidade, inacessível a outras criaturas, fosse a marca; reconhecendo-se sua<br />
significação positiva, regeneradora criadora, em contraposição às teorias e filosofias<br />
que acentuam sua função maculadora. Impregnados desses ideais, homens e<br />
mulheres<br />
(Rachel Soihet in Reflexões sobre o carnaval na historiografia- algumas abordagenshttp://www.academiadosamba.com.br/monografias/raquelsoihet.pdf)<br />
“ O que são os trios elétricos senão cortejos que carregam milhares de pessoas que<br />
cantam, dançam e bebem numa verdadeira celebração dionisíaca? O que é o<br />
desnudamento aliado à luxúria, garantindo um cenário altamente propício à<br />
liberdade sexual, senão o clima tão bem descrito em Concerto Barroco, romance<br />
histórico do cubano Alejo Carpentier que se passa na Veneza de Vivaldi (no início do<br />
século XVIII)?”
(Milton Ribeiro – www.sul21.com.br )<br />
Se a ideia é celebrar a farra e o caos, que seja de verdade. Mas por enquanto, a madame<br />
continua no camarote, a Globeleza está no carro alegórico e a turma da favela vai suando<br />
atrás, empurrando a tralha toda. Festa democrática um cazzo.( Walter Carrilho )<br />
Há muito o que se falar sobre o carnaval como explosão dionisíaca dos<br />
prazeres da carne, desde sua origem latina carne vallis, nos tempos<br />
primitivos, milhares de anos atrás, passando pela seu reaparecimento na<br />
Idade Média, na Europa, até sua chegada ao Brasil no Século XIX. Ele foi<br />
sempre uma celebração do lado lúdico da alma, um momento de ruptura<br />
das regras e controles sociais para que o espírito diabólico das paixões<br />
pudesse vir à tona como catarse coletiva. Um mal necessário, quando o riso<br />
se instaura como soberana virtude humana, derrubando barreiras sociais e<br />
culturais.<br />
Escrevi um ensaio no ano passado sobre as diversas falas a respeito do<br />
carnaval – www.<strong>paulo</strong><strong>timm</strong>.com.br/obras . Ali, os interessados poderão saber<br />
mais sobre esta grande festa pagã, de origem religiosa, que acabou<br />
formando um dos núcleos da cultura brasileira. São íntimas as relações<br />
entre a música popular brasileira e o carnaval, embora sejam muito diversas<br />
as manifestações carnavalescas nas várias regiões do Brasil. Mas estas<br />
relações não se restringem à música. Ela invade, cada vez mais, outras artes<br />
como literatura, coreo-cenografia e artes plásticas. A obra de artistas<br />
plásticos como Hélio Oiticica e Lasar Segall mantém uma relação intensa<br />
com uma das manifestações mais intensas da cultura brasileira, como<br />
assinala um belo artigo de Roberta Ávila, publicado na Revista de Cultura<br />
deste mês - http://www.revistadacultura.com.br:8090/revista/rc55/index2.asp?page=arte<br />
O estudo da longa tradição carnavalesca entre nós é mostrado no livro do<br />
Médico Hiram Araujo : “Carnaval – Seis milênios de história” (Editora<br />
Gryphus- 2002) e que pode ser acessado no http://liesa.globo.com/por/08historiadocarnaval/historiadocarnavalsumario/<br />
historiadocarnaval-sumario_principal.htm . Outros autores são indicados no<br />
ensaio sugerido acima, o qual contempla diversas resenhas sobre este e<br />
outros autores.<br />
O carnaval evoluiu no Brasil, no final do Século XIX , culminando na sua
oficialização no <strong>Rio</strong> de Janeiro ,em 1935, época em que surgem, então, as<br />
primeiras Escolas de Samba. Noel Rosa é um marco importante deste<br />
processo ao apresentar o “morro” às classes médias cariocas, ainda<br />
amedrontadas pelo espectro da “malandragem”, vindo do século anterior. É<br />
dele a advertência - “Quem é Você / que não sabe o que diz ?/Meu Deus do<br />
Céu / que palpite infeliz! - que se transformaria no mote de sua polêmica<br />
com outro músico, do asfalto, Wilson Batista .<br />
Nem todo carnaval, entretanto, é samba.<br />
No nordeste, ele está associado à celebrações regionais. Em Pernambucano<br />
predomina o frevo, com cordões de folguedos que culminam no desfile de<br />
grandes bonecos ao final dos festejos. A Bahia inventou o “Trio Elétrico”,<br />
com muita gente em volta, num percurso de música frenética e eclética,<br />
lembrando os criadores desta modalidade, sempre venerados pelos Novos<br />
Bahianos e sua já larga descendência: Dudu e Osmar.<br />
No Sul e em São Paulo, desde 1960, predominam os grandes desfiles de<br />
Escolas de Samba . No interior, porém, já vicejavam, desde a década de 40<br />
, os bailes a fantasia nos clubes. Lembro-me da minha infância, em Santa<br />
Maria, anos 50, quando a cidade mergulhava fundo nos bailes dos Clubes<br />
Caixeiral e Comercial, não sem antes postar-se às margens da Avenida <strong>Rio</strong><br />
Branco para ver os carros alegóricos passarem. Eu ia, claro, às vespertinas<br />
infantis...<br />
Já em Brasília a grande atração são os blocos de rua, destacando-se o<br />
irreverente Pacotão, criado em 1977, em resposta à uma iniciativa<br />
autoritária do então Presidente militar, Ernesto Geisel. Desde então,<br />
nenhuma autoridade de turno escapa à ironia dos foliões deste bloco.<br />
A espetacularização das Escolas de Samba como eixo do carnaval começou<br />
na década de 60 e teve um grande marco na inauguração, pelo Governador<br />
Leonel Brizola, do Sambódromo do <strong>Rio</strong>, em 1984,. Naquele momento,<br />
poucos anos depois da inauguração da TV a cores no país, o fato ganhou<br />
repercussão nacional. Aí demos início ao que o Ex Prefeito Cesar Maia<br />
denomina como inauguração do Carnaval como Grande Ópera Popular.<br />
Paradoxalmente, foi também na década de 80 que os foliões decidiram<br />
voltar às ruas com seus blocos enfezados e alegres. Mesmo no <strong>Rio</strong>, o<br />
verdadeiro carnaval está, hoje, muito mais nas ruas do que no<br />
Sambódromo, onde é, cada vez mais, transformado em espetáculo caro e<br />
extremamente hierarquizado, ao contrário dos blocos, onde reina a<br />
espontaneidade e quase ausência de regras e comando. Talvez aí nos blocos
disseminados por todo o país esteja o verdadeiro espírito do carnaval. Não<br />
como uma data, uma festa, um baile, um cortejo, mas como a fantasia que<br />
veste a utopia brasileira da fraternidade. Aquele momento em que o<br />
ancestral e o futuro se unem em celebração.<br />
Findo o carnaval, porém, tudo volta ao império da Lei. Começou o ano.<br />
Enfim...O outono se aproxima, os estudantes enchem as ruas, a cidade<br />
volta ao seu curso. Até que um novo Carnaval, em 2013, se anuncie<br />
promissoramente, de novo...É o eterno retorno se renovando,<br />
ritualisticamente, para que o equilíbrio jamais se perca em obsessões.<br />
CARNAVAL, LUGAR DA UTOPIA, Org. por Paulo Timm<br />
Clique para abrir e ler:<br />
http://www.<strong>paulo</strong><strong>timm</strong>.com.br/site/downloads/lib/pastaup/Obras%20do%20Timm/111030084403obras<br />
do<strong>timm</strong>-coluna-carnaval1.pdf<br />
Carnaval: antes da improvável<br />
penitência, os prazeres da<br />
carne<br />
Foto: Ramiro Furquim/Sul21
Milton Ribeiro - www.sul21.com.br - 18 fevereiro 2012 - cultura<br />
Tal como o Natal, o Carnaval é uma festa anterior ao Cristianismo. É comemorado há pelo menos 10 mil<br />
anos. Existia no Egito, na Grécia e na Roma antigos, sempre associado à ideia de fertilidade da terra. Era<br />
quando o povo comemorava a futura boa colheita, a proximidade da primavera e a generosidade dos<br />
deuses. A festividade começou pagã e trouxe até nossos dias parte de suas características originais: os<br />
rostos pintados, as máscaras, o excesso, a extravagância e a troca de papéis.<br />
Em Roma, o mais belo soldado era designado para representar o deus Momo do Carnaval. Era coroado<br />
rei e permanecia três dias nesta condição. Posteriormente, passou-se a escolher o homem mais obeso<br />
da cidade para servir como símbolo da fartura e reinar por três dias. Esta troca de papéis durante o<br />
carnaval foi extensivamente analisada por Mikhail Bakhtin no clássico A Cultura popular na idade média<br />
e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Segundo Bakhtin, o carnaval permitia a inversão da<br />
ordem estabelecida, a fuga temporária da realidade. Seria um espaço de suspensão da rotina que<br />
ofereceria aos homens um grau de liberdade não experimentado normalmente. Se Bakhtin visava<br />
descrever a Idade Média e o Renascimento com a frase anterior, também descreve o que ocorre hoje,<br />
aqui, agora.<br />
Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval, pela sua própria<br />
natureza, existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do<br />
carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a<br />
realização da festa, só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, as leis da liberdade.<br />
Foto: Jonathan Heckler/PMPA<br />
Mikhail BAKHTIN<br />
O antropólogo Roberto Da Matta, em sua obra Universo do Carnaval: imagens e reflexões, traz a obra de<br />
Bakhtin ao encontro da realidade brasileira. Se não há uma inversão completa da ordem, é o momento
em que os mais pobres, organizados, invadem o centro da realidade, estabelecendo um “mecanismo de<br />
liberação provisória das formalidades controladas pelo estado e pelo governo”. Durante o carnaval, há<br />
toda uma encenação em que se desmancham as subordinações – os pobres vestem ricas e escandalosas<br />
fantasias tomando o lugar da elite –, em que há outras inversões de papéis – homens travestindo-se de<br />
mulheres e vice-versa — e a celebração da abundância – de riqueza, de brilho, de música, de dança, de<br />
energia – em contraposição à rotina e à austeridade. Voltando à Bakhtin: “É a violação do que é comum<br />
e geralmente aceito; é a vida deslocada do seu curso habitual”.<br />
Foto: Evandro Oliveira/PMPA<br />
A Igreja Católica defendeu por muitos anos que a festa surgiu a partir da implantação da Semana Santa,<br />
no século XI. A Semana Santa ou, mais exatamente, a Sexta-feira Santa, é antecedida pela Quaresma,<br />
período de 40 dias que começa exatamente na Quarta-feira de Cinzas. A Quaresma seria um longo<br />
período voltado à reflexão e onde os cristãos se recolheriam em orações e penitências a fim de preparar<br />
o espírito para a chegada do Cristo ressurreto. Mas, antes, festa total! O longo período de privações teria<br />
incentivado as festividades nos dias anteriores à Quarta-feira de Cinzas. A palavra “carnaval” estaria<br />
também relacionada à ideia dos prazeres da carne e a etimologia vem a nosso auxílio: carnaval deriva<br />
da expressão carnis valles, carnis significa “carne” em latim e valles significa “prazeres”. Então, se há a<br />
devoção a Cristo, antes há a devoção aos prazeres da carne. E não é nada de espantar a nudez das<br />
pessoas durante o período…<br />
A passagem de uma data para outra, do Carnaval para Quaresma na Quarta-feira de Cinzas, foi tema<br />
para o grande Pieter Bruegel, o Velho (1525-1569) no quadro A Luta entre o Carnaval e a Quaresma<br />
(1559), onde são mostrados dois grupos frente a frente, o dos penitentes e o carnavalesco. É curioso<br />
notar que a genial gravura confronta dois grupos diversos e não uma mudança de postura das mesmas<br />
pessoas. Se há realismo no quadro do flamengo, havia dois grupos, o dos festeiros e o dos religiosos. À<br />
direita, vem o grupo de religiosos; à esquerda, o de carnavalescos.
A luta entre o carnaval e a Quaresma, obra de Pieter Brueghel, O Velho (Clique uma ou duas vezes para<br />
ampliar)<br />
O dia anterior ao fim do Carnaval é a Terça-feira Gorda, em francês Mardi Gras, nome do Carnaval de<br />
New Orleans.<br />
No Brasil e em todo o mundo onde há Carnaval, são verificadas características das manifestações<br />
antigas. O que são os trios elétricos senão cortejos que carregam milhares de pessoas que cantam,<br />
dançam e bebem numa verdadeira celebração dionisíaca? O que é o desnudamento aliado à luxúria,<br />
garantindo um cenário altamente propício à liberdade sexual, senão o clima tão bem descrito em<br />
Concerto Barroco, romance histórico do cubano Alejo Carpentier que se passa na Veneza de Vivaldi (no<br />
início do século XVIII)? Tais excessos, que normalmente acabavam em grandes orgias eram condenados<br />
pela Igreja, mas arrebatavam a nobreza. Bakhtin chama de “realismo grotesco” tal conjugação de<br />
materialidade e corpo, onde as satisfações carnais (comida, bebida e sexo) têm lugar de destaque.<br />
Ramiro Furquim/Sul21
Apesar da Quaresma ser quase desconhecida e pouco sentida em nossos dias, a catarse coletiva, o<br />
exagero e os efêmeros dias de festa contínua seguem e certamente seguirão por séculos. Na “sociedade<br />
do espetáculo”, como diria Guy Debord, o Carnaval se transforma em desfiles monumentais transmitidos<br />
pela TV, onde o que se vê é ainda o exagero, a troca de papéis e as alegorias e paródias que vêm desde<br />
há 10.000 anos, quando os homens afastavam os maus espíritos de suas plantações através de<br />
máscaras. A catarse atual não ocorre depois do longo inverno do hemisfério norte, nem é causada pela<br />
perspectiva de um longo período de penitência, mas é a data estabelecida no imaginário popular como a<br />
do verdadeiro início do ano, depois da qual tudo volta ao normal, entronizando finalmente o cotidiano<br />
que reina pelo resto do ano. Muito pensadores marxistas veem o carnaval como uma válvula de escape<br />
para as tensões do cotidiano, permitida, controlada e estimulada pelos grupos dominantes a fim de,<br />
depois, manipular e reforçar a ordem vigente, mas não sejamos tão revanchistas hoje. Dioniso não<br />
ficaria feliz.<br />
CARNAVAL E CULTURA no <strong>Rio</strong>: O POVO PARTICIPA? por<br />
Sonia Rabello (*)- RJ ,16 fev<br />
(*) Vereadora pelo PV no <strong>Rio</strong> de Janeiro<br />
http://www.soniarabello.blogspot.com/2012/02/carnaval-e-cultura-no-rio-o-povo.html
Mas ...<br />
1. Quem decide sobre as políticas e investimentos na área cultural?<br />
Respostas possíveis:<br />
a) O prefeito<br />
b) O conselho de cultura da Cidade do <strong>Rio</strong><br />
c) Os vereadores<br />
Acertou quem marcou a resposta A.<br />
Claro, fazendo a festa.<br />
2. Por que é o prefeito do <strong>Rio</strong>, sozinho, por vezes corroborado pelo nosso Secretário (paulistano) de<br />
Cultura, quem decide sobre os investimentos em patrimônio cultural, museus, carnaval e termos do<br />
contrato com a LIESA, valores, investimentos em teatros, cinemas, locais de lonas culturais, ONGs que<br />
realizam programas culturais, diretrizes de investimentos em pontos de cultura, etc...?<br />
Respostas possíveis:
a) Porque o <strong>Rio</strong> não possui uma lei que institua um Conselho de Cultura.<br />
b) Porque o Conselho de Cultura, previsto em lei municipal, ainda não foi instalado pelo prefeito.<br />
c) Porque os vereadores não querem<br />
Acertou que marcou a resposta do item B<br />
3. Se a lei municipal 5101 de 2009 criou o Conselho Municipal de Cultura da Cidade do <strong>Rio</strong> de Janeiro,<br />
cujas competências, dentre outras, são:<br />
I - elaborar diretrizes para política municipal de cultura;<br />
II - participar, seguindo o calendário nacional, ou ainda daquelas que poderão ser convocadas<br />
extraordinariamente, da coordenação das Conferências Municipais de Cultura organizadas<br />
para avaliar a política do setor e elaborar propostas para o seu aperfeiçoamento;<br />
III - acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas, projetos e ações do<br />
Poder Público na área cultural;<br />
IV - realizar audiências públicas ou outras formas de comunicação, para prestar contas de suas<br />
atividades ou tratar de assuntos da área cultural;<br />
V - receber e dar parecer sobre consultas de entidades da sociedade ou de órgãos públicos;<br />
VI - elaborar diretrizes que visem à proteção e à preservação de obras e manifestações de<br />
valor cultural, histórico e artístico;<br />
VII - elaborar diretrizes que visem à proteção e à preservação de bens arquitetônicos e<br />
paisagístico da Cidade;<br />
Como pode a sociedade carioca participar, efetivamente, com transparência e controle da gestão das<br />
políticas culturais?<br />
Respostas possíveis:
a) Suplicando aos vereadores que supliquem ao prefeito para que Ele instale o Conselho Municipal de<br />
Cultura da Cidade do <strong>Rio</strong>.<br />
b) Solicitando aos vereadores a elaboração de uma outra lei municipal, obrigando o prefeito a cumprir a<br />
lei existente – a que já criou o Conselho Municipal de Cultura do <strong>Rio</strong>.<br />
c) A sociedade não pode participar, no momento. Ela está excluída de participação mais direta na<br />
formulação das diretrizes das políticas culturais da Cidade do <strong>Rio</strong>, enquanto o prefeito da Cidade não<br />
determinar que, finalmente, se instale o Conselho de Cultura do <strong>Rio</strong>, em caráter definitivo.<br />
Acertou quem marcou a resposta C.<br />
Quem sabe, depois do Carnaval, a sociedade, além de fazer a festa, possa também contribuir, mais<br />
diretamente, na formulação de suas diretrizes para 2013, por meio de um Conselho Municipal de Cultura<br />
em funcionamento na Cidade!<br />
Afinal, o Carnaval do <strong>Rio</strong> é o símbolo de seu patrimônio cultural imaterial!<br />
***<br />
INTERCAMBIO CARNAVALESTO<br />
Roberta Ávila<br />
Revista de Cultura – fev. 2012<br />
A obra de artistas plásticos como Hélio Oiticica e Lasar Segall mantém uma relação intensa<br />
com uma das manifestações mais intensas da cultura brasileira
B52 Bólide-saco<br />
ILUSTRAÇÕES – Convite, esq., e projeto de alegoria Figura com cachimbo , feitos por Lasar<br />
Segall em 1934 para o Baile de Carnaval Expedição às Matas Virgens de Spamolândia<br />
B52 Bólide-saco 3 Teu amor eu guardo aqui, de 1967, Hélio Oiticica, vestindo uma calça verde e rosa<br />
coberta de lantejoulas, dança dentro de um saco plástico com os dizeres que dão nome à sua criação. Os<br />
bólides, objetos inventados pelo artista e construídos com diferentes materiais –como plástico e madeira –<br />
, são peças de arte que podem, de acordo com a intenção, ser “vestidas”. Foi com o bólide B52 que o<br />
artista inovou por duas razões: ao apresentá-lo como uma dança plástica e por ter esta dança um sentido<br />
mais amplo, referente ao amor que Oiticica nutria pela Mangueira, escola de samba que frequentava e<br />
cujas cores estão presentes na obra.<br />
“Hélio Oiticica teve, no carnaval e na escola de samba Estação Primeira de Mangueira, duas fontes de<br />
inspiração importantes em sua obra como artista plástico”, afirma Helenise Guimarães, vice-diretora da<br />
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do <strong>Rio</strong> de Janeiro (EBA-UFRJ). Para ela, o<br />
posicionamento do artista, que se opunha aos limites impostos pela sociedade, aliado à sua experiência<br />
na convivência com a comunidade mangueirense, refletem-se na sua produção.<br />
“Ao participar como passista na agremiação, ele capta o sentido do improviso em que cada sambista é<br />
capaz de criar um desenho novo em suas danças e capta também o sentido da plasticidade multicolorida<br />
que o visual do desfile transmite”, analisa.<br />
Os bólides, combinando o improviso da dança num movimento escultórico, estão hoje entre as obras mais<br />
importantes de Oiticica. Mas, em Teu amor eu guardo aqui, o que está mais visível é a influência do<br />
carnaval e a utilização desta manifestação popular como fonte de inspiração artística.
O carnaval apresenta uma diversidade de elementos plásticos que podem ser (e foram) fonte de<br />
inspiração não só para Oiticica, mas para artistas como Lasar Segall e Pancetti, cada um à sua maneira”,<br />
defende Helenise. Além dos bólides, Oiticica também criou a obra Tropicália, composta de pequenos<br />
ambientes coloridos, feitos para serem atravessados pelo espectador. “Tropicália foi inspirado na<br />
geografia do morro da Mangueira, com seu peculiar conjunto de construções e labirintos de ruas e<br />
escadas.”<br />
Da academia para a passarela<br />
Também nas décadas de 1950 e 1960, a relação entre artes plásticas e carnaval ganhou maior<br />
intensidade, sobretudo com os artistas da Escola de Belas Artes do <strong>Rio</strong> de Janeiro atuando na confecção<br />
de cartazes para os bailes de gala da cidade, o Baile do Theatro Municipal.<br />
E é no desfile das escolas de samba e nas decorações das ruas da capital carioca que veremos esta<br />
ponte entre artistas e carnaval se consolidar. “Durante mais de 30 anos, uma equipe chamada A Trinca,<br />
comandada por Adir Botelho (professor de gravura da EBA-UFRJ) disputaria com Fernando Pamplona<br />
(também da EBA-UFRJ) todos os concursos para decorar as ruas do <strong>Rio</strong> de Janeiro, com temáticas que<br />
iriam desde elementos da arte africana até elementos da flora e da fauna nacional”, revela.<br />
E em 1959, a escola Salgueiro renovou os enredos carnavalescos – então muito voltados a falar sobre<br />
políticos – com o samba-enredo Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, inspirado no pintor francês Jean-<br />
Baptiste Debret. A empolgação de Pamplona foi tamanha que ele foi convidado no ano seguinte a<br />
assumir a apresentação da escola, revolucionando a técnica e estética que mudaria para sempre o visual<br />
plástico do desfile e trazendo na equipe outros nomes que muito fariam depois neste sentido, como Rosa<br />
Magalhães, Max Lopes e Joãosinho Trinta. ©<br />
http://www.revistadacultura.com.br:8090/revista/rc55/index2.asp?page=arte<br />
O que há de errado no Carnaval ?<br />
Carnaval é como a lei da gravidade: não dá para escapar.<br />
Reclamar do carnaval é mais ou menos como tropeçar e xingar Newton: efeito zero. Não sou<br />
ruim da cabeça, até gosto de samba, mas sou doente do pé. E excessivamente racional. Por<br />
isso, há anos tento me entrosar com o carnaval sem sucesso.<br />
São vários problemas. O axé, por exemplo. Para mim, axé é música de adestrar cachorro:<br />
“abaixa um pouquinho, põe a mão no joelhinho, sacode a bundinha!” Dançar esse tipo de<br />
coisa parece um insulto a Darwin. Também não consigo entender samba-enredo. Já fui duas<br />
vezes ao desfile no sambódromo. Não entendi nada. Mas fiquei com um refrão de 2003 na<br />
cabeça até hoje:<br />
Bahia, Bahia… divina dança dos orixás<br />
Tua magia contagia o nosso ar<br />
O sol, o céu e o mar<br />
(bonito, né?)<br />
Tenho dificuldade em perceber qual é a ligação entre Nabucodonosor, “Niemayer, seu passado<br />
de glórias” e 80 passistas com espanador na cabeça. As letras são uma mistura estranha e
desconexa de palavras como “glória”, “esplendor”, “Iemanjá” e “aaaaiii!”. Só perde para as<br />
letras do Djavan.<br />
Também não me convenço pelo discurso de valorização cultural do carnaval, como se fosse<br />
algo obrigatoriamente ligado à nossa identidade. O carnaval é uma festa antiga que existe<br />
muito antes do Brasil ser descoberto. Era uma licença ao caos em países europeus. Permitia<br />
que escravos brincassem com seus donos, etc. Para um país como o nosso, onde o caos já<br />
reina durante o ano inteiro, o carnaval me parece um pleonasmo cívico.<br />
E que está sendo cada vez mais enquadrado pelas convenções. O desfile em avenida é uma<br />
invenção getulista, que tentou moralizar a farra, criando critérios de votação e essa ideia<br />
estranha de desfilar ordenadamente pela avenida, como um exército em 7 de setembro. Vem<br />
daí a ideia de exaltar símbolos nacionais em troca de dinheiro para as escolas. Agora imagine:<br />
neste ano, A Rosas de Ouro, em São Paulo, vai homenagear Roberto Justus.<br />
Faz sentido?<br />
Até o carnaval no Nordeste, que sempre foi mais popular, está sendo lentamente enquadrado.<br />
Esse lance de pagar uma fortuna por um abadá apenas para poder ficar dentro do cordão é<br />
uma forma de renegar o espírito democrático da farra, em que, supostamente, madames<br />
dançam com a empregada.<br />
Quando eu era moleque, carnaval era o momento de jogar água um nos outros com bisnaga.<br />
Os adultos ficavam putos com a zona, mas “é carnaval, o que vai se fazer?”. A gente dançava<br />
desordenadamente aquelas músicas meio bobas que falavam de colombina e cabeleira do<br />
Zezé. Era farra, não tinha ordem. Não tinha essa de seguir a coreografia da " Dança do morto<br />
muito louco" e ficar todo mundo com cara de aluno de aula aeróbica, decorando os passos.<br />
Caos no carnaval agora é só engarrafamento para descer a serra, cerveja a 7 pilas e aumento<br />
no números de acidentes por embriaguez. Perdemos algo do carnaval no meio do caminho.<br />
Se a ideia é celebrar a farra e o caos, que seja de verdade. Mas por enquanto, a madame<br />
continua no camarote, a Globeleza está no carro alegórico e a turma da favela vai suando<br />
atrás, empurrando a tralha toda. Festa democrática um cazzo.<br />
Mas continuo insistindo. Todo carnaval eu vou pra paia, me entupo de picanha e cerveja. Com<br />
sorte, lá pela 5ª hora eu até começo a entender a graça de "tchubirabiron", do Parangolé.<br />
Por enquanto tá difícil pacas.<br />
Walter Carrilho ( na verdade, o pseudônimo de um jornalista que prefere manter o anonimato)<br />
LIESA, DESFILE DAS ESCOLAS E CIDADE DO SAMBA!<br />
Cesar Maria – NL 28 fevereiro 2012<br />
1. Em 1984, o governador Brizola entregou o desfile das Escolas de Samba para a TV<br />
Manchete, retirando da TV Globo. As Escolas de Samba não foram consultadas. Decidiram<br />
entregar o DIREITO DE IMAGEM, a uma nova organização: a LIESA. A antiga associação<br />
terminou. Dessa forma, a LIESA não é uma associação das escolas, mas a detentora do Direito
de Imagem das Escolas de Samba que disputam o grupo especial. Portanto, da escolha da TV<br />
que cobre o desfile.<br />
2. Em 2004, vinte anos depois e cumprido o contrato com a TV Globo, a LIESA consultou o<br />
Prefeito do <strong>Rio</strong> sobre o televisionamento do Desfile. Foi informada que era uma relação<br />
privada entre a LIESA, que detém o Direito de Imagem, e a TV que escolhesse.<br />
3. Em 1993, a Prefeitura do <strong>Rio</strong>, levantando os custos e a compulsoriedade dos contratos para<br />
armação do desfile, decidiu se circunscrever aos serviços públicos, definindo que a LIESA,<br />
detentora do direito de imagem, assumiria os serviços relativos aos desfiles, ampliando a<br />
participação nos ingressos. A redução de custos superou 50% e o Desfile passou a ser<br />
superavitário (excluindo, claro, os serviços públicos, estaduais e municipais).<br />
4. Em 2000, alegando a entrada de um novo milênio, o Prefeito dessa época introduziu no<br />
contrato um subsídio que não existia antes. Em função da participação das escolas na eleição<br />
de 2000, o novo prefeito eleito sugeriu que a presidência da LIESA fosse ocupada<br />
profissionalmente, o que o é, até o dia de hoje, pelo mesmo presidente desde 2001.<br />
5. A construção da Cidade do Samba mudou o desfile de patamar. A centralização da<br />
confecção de Alegorias e Fantasias permitiu uma muito maior homogeneidade e controle de<br />
qualidade. E os Carros Alegóricos -que eram finalizados e montados na concentração-<br />
passaram a o ser integralmente nos galpões da Cidade do Samba. Isso produziu dois efeitos: a<br />
ampliação -em largura e altura dos carros- e a transformação dos carros de cenário das alas,<br />
em uma própria ala. Paulo Barros soube entender isso e mudar na frente o conceito dos<br />
carros.<br />
6. Trechos da entrevista do atual Prefeito ao Globo (26).<br />
6.1. Tentei licitar o carnaval por três vezes, mas não houve candidatos para assumir a<br />
organização do evento. (OBS.: O ponto é que a LIESA detém o direito de imagem, como um<br />
cantor ou grupo o faz através de seu agente).<br />
6.2. A terceirização do carnaval (OBS.: Entrega à LIESA a responsabilidade pelos desfiles) foi um<br />
avanço enorme e fez com que o carnaval passasse a ser montado com engrenagem<br />
profissional.
6.3. A Cidade do Samba, construída pelo meu antecessor, é um bom exemplo de investimento<br />
que ajudou as escolas a se profissionalizarem. Não apenas ficará onde foi construída, como<br />
também vou tombar o imóvel.