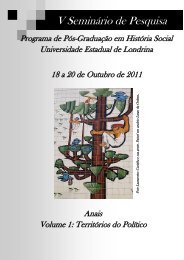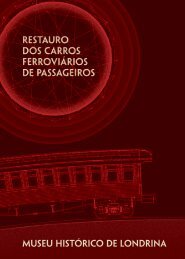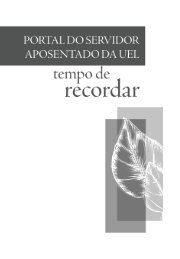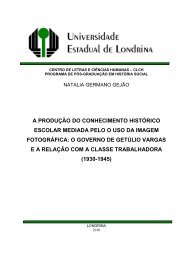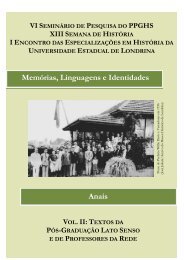JOSÉ ADIR LINS MACHADO A DINÂMICA MORAL EM ...
JOSÉ ADIR LINS MACHADO A DINÂMICA MORAL EM ...
JOSÉ ADIR LINS MACHADO A DINÂMICA MORAL EM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
___________________________________________________________________________<br />
<strong>JOSÉ</strong> <strong>ADIR</strong> <strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong><br />
A <strong>DINÂMICA</strong> <strong>MORAL</strong> <strong>EM</strong> MACINTYRE: O CONFLITO DAS<br />
RACIONALIDADES<br />
___________________________________________________________________________<br />
Londrina - Pr<br />
2012
<strong>JOSÉ</strong> <strong>ADIR</strong> <strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong><br />
A <strong>DINÂMICA</strong> <strong>MORAL</strong> <strong>EM</strong> MACINTYRE: O CONFLITO DAS<br />
RACIONALIDADES<br />
Dissertação apresentada ao Programa de<br />
Mestrado em Filosofia Contemporânea da<br />
UEL – Universidade Estadual de Londrina,<br />
como requisito parcial à obtenção do grau de<br />
Mestre em Filosofia Contemporânea – Ética e<br />
Filosofia Política.<br />
Orientador: Prof. Dr. Lourenço Zancanaro<br />
Londrina<br />
2012
<strong>JOSÉ</strong> <strong>ADIR</strong> <strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong><br />
A <strong>DINÂMICA</strong> <strong>MORAL</strong> <strong>EM</strong> MACINTYRE: O CONFLITO DAS<br />
RACIONALIDADES<br />
Dissertação apresentada ao Programa de<br />
Mestrado em Filosofia Contemporânea da<br />
UEL – Universidade Estadual de Londrina,<br />
como requisito parcial à obtenção do grau de<br />
Mestre em Filosofia Contemporânea – Ética e<br />
Filosofia Política.<br />
COMISSÃO EXAMINADORA<br />
______________________________________<br />
Prof. Dr. Lourenço Zancanaro.<br />
Universidade Estadual de Londrina<br />
______________________________________<br />
Prof. Dr. Darlei Dall‟Agnol<br />
Universidade Federal de Santa Catarina<br />
______________________________________<br />
Prof. Dr. Clodomiro José Bannwart Júnior<br />
Universidade Estadual de Londrina<br />
______________________________________<br />
Prof. Dr. Carlos Alberto Albertuni<br />
Universidade Estadual de Londrina<br />
Londrina, 30 de janeiro de 2012.
Dedicatória<br />
À Rose, minha esposa, pelo companheirismo, paciência, respeito e amor;<br />
Aos meus filhos, Rodrigo e Letícia, pela compreensão e por me mostrar o quão grande e<br />
maravilhoso é o amor de Deus para com suas criaturas;<br />
Aos meus pais, José e Hilda (in memoriam) pela educação e pelos cuidados;<br />
Aos meus irmãos, Audorestes (in memoriam), Dirceu e Ângela, pela experiência da partilha,<br />
da solidariedade e da tolerância;
Agradecimentos<br />
Ao Criador pela vida, pela luz da razão e pelos bons sentimentos;<br />
Ao Prof. Dr. Lourenço Zancanaro, pelo tempo despendido na orientação desta dissertação,<br />
pelas dicas e correções e pela amizade;<br />
Ao prof. Dr. Clodomiro José Bannwart Júnior, por ter sido a primeira pessoa a me apresentar<br />
o pensamento de MacIntyre;<br />
Ao prof. Dr. Carlos Alberto Albertuni, por apontar as lacunas a serem corrigidas;<br />
Aos professores, Dr. Darlei Dall‟Agnol e Dr. Helder B. A. de Carvalho pela consideração por<br />
este trabalho;<br />
Ao prof. Dr. Elve Miguel Cenci, pelo incentivo e pelas dicas;<br />
À CAPES, pela bolsa de estudos;<br />
Ao Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, sobretudo ao Programa<br />
de Mestrado e o seu corpo docente.
“Cada cultura é caracterizada em parte pelo que está oculto e obscuro em sua<br />
visão, por aquilo que seus hábitos intelectuais impedem-na de reconhecer e<br />
se apropriar. Portanto, podemos, às vezes, errar enormemente ao escrever<br />
a história das idéias, da ciência, da arte, da cultura em geral em termos<br />
de realização positiva exclusivamente. A cultura também está presente<br />
no fracasso e pode, em aspectos cruciais, cegar o educando para<br />
o que precisa ser visto. Foi assim com a incapacidade de<br />
compreender a obra de Tomás de Aquino na<br />
Idade Média. E, talvez possa estar sendo<br />
assim conosco também”.<br />
(MACINTYRE, 2008c, p. 169).
<strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong>, José Adir. A dinâmica moral em MacIntyre: o conflito das<br />
racionalidades. 2012. 136 folhas. Dissertação (Mestrado em Filosofia Contemporânea – Ética<br />
e Filosofia Política) – Universidade Estadual de Londrina.<br />
Resumo<br />
O propósito deste trabalho é apresentar as principais contribuições de MacIntyre à reflexão<br />
acerca da moralidade nos dias atuais. Contribuições que englobam tanto as críticas feitas,<br />
quanto as recebidas por MacIntyre, além do seu profundo apreço pela ética aristotélica das<br />
virtudes enriquecidas pela contribuição tomista e o seu ataque à moralidade dos modernos –<br />
iluministas e enciclopedistas, – emotivistas e genealogistas posnietzscheanos. Contrapondo à<br />
fundamentação universalista da ética a sua visão comunitarista e criticando a ética<br />
deontológica dos preceitos e normas, MacIntyre busca mostrar que a moralidade, atrelada à<br />
história da filosofia moral, vincula-se intimamente aos seus contextos históricos, sociais,<br />
econômicos e culturais. O grande desafio será negar o universalismo sem cair no relativismo e<br />
no perspectivismo, tarefa que requer a contribuição das mais diferentes esferas do<br />
conhecimento, da lógica à física, da história à antropologia, da sociologia à psicologia, etc.<br />
Some-se a isto o fato do autor ainda estar produzindo e, conseqüentemente, com a<br />
possibilidade de alterar o seu pensamento conforme novas descobertas vão sendo feitas.<br />
Apesar de todas as nossas limitações, é o que tentaremos apresentar.<br />
Palavras-chave: Ética, moralidade, virtude, relativismo.<br />
Abstract<br />
The purpose of this work is to present the main MacIntyre's contributions to the reflection on<br />
morality today. Contributions that include both the performed criticism and the taken one by<br />
MacIntyre, beyond his deep deference to the virtues of the Aristotelian ethics enriched by<br />
Thomist's contribution and its attack on the morality of modern – Illuminists and<br />
Encyclopaedists, - Emotivists and post-Nietzscheans genealogists. In contrast to the universal<br />
foundation of ethics his communitarian vision and criticizing the deontological ethical<br />
principles and rules, MacIntyre seeks to show that morality, connected to the history of moral<br />
philosophy, is deeply linked to its historical, social, economic and cultural contexts. The great<br />
defiance will be to deny the universalism without falling into relativism and perspectivism, a<br />
task that requires contribution from many different spheres of knowledge, from logic to<br />
physics, from history to anthropology, from sociology to psychology, etc. Add to this the fact<br />
that the author yet producing and, consequently, with the possibility to change his thinking as<br />
new discoveries are being made. Despite all our limitations, this is what we will try to present.<br />
Keywords: Ethics, morality, virtue, relativism.
SUMÁRIO<br />
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 02<br />
CAPÍTULO I – EL<strong>EM</strong>ENTOS ESTRUTURANTES DA <strong>MORAL</strong> <strong>EM</strong> MACINTYRE ...... 11<br />
1.1 A historicização da moral: a relação entre ethos e locus ........................................ 12<br />
1.2 A racionalidade das tradições e a questão da herança moral .................................. 20<br />
1.3 A leitura macintyreana da ética aristotélica ............................................................ 28<br />
1.4 O lugar das virtudes na moral macintyreana ........................................................... 41<br />
CAPÍTULO II – AS CRÍTICAS DE MACINTYRE À ÉTICA MODERNA ....................... 57<br />
2.1 A crítica de Nietzsche à ética dos modernos, segundo MacIntyre .......................... 58<br />
2.2 O fracasso da fundamentação ética iluminista ........................................................ 65<br />
2.3 A crítica ao emotivismo .......................................................................................... 73<br />
CAPÍTULO III – A <strong>DINÂMICA</strong> DO CONFLITO E A QUESTÃO DO RELATIVISMO<br />
<strong>MORAL</strong> .............................................................................................................. 85<br />
3.1 O posfácio à segunda edição do After Virtue .......................................................... 86<br />
3.2 A crítica de Tugendhat ............................................................................................ 93<br />
3.3 Tradição, enciclopedismo e genealogia .................................................................. 98<br />
3.3.1 O embate da tradição com o enciclopedismo..................................................100<br />
3.3.2 O embate da tradição com a genealogia..........................................................107<br />
3.4 O relativismo moral.................................................................................................113<br />
CONCLUSÃO........................................................................................................................127<br />
Referências bibliográficas.......................................................................................................131
INTRODUÇÃO<br />
róximo da década de 1970 intensificou-se o debate entre universalistas e<br />
comunitaristas acerca da fundamentação da moral, girando em torno da<br />
questão da imanência ou transcendência da moralidade em relação ao<br />
contexto. De um lado tem-se a defesa de um universalismo ético 1 P<br />
, ao estilo kantiano; e de<br />
outro a compreensão de que o contexto e a cultura, ou seja, os elementos que formam uma<br />
comunidade devem ser considerados como pertinentes na constituição da moralidade. Entre<br />
os principais defensores da primeira concepção está John Rawls e sua teoria que, acentuando<br />
as liberdades individuais, dá pouca relevância aos contextos sociais concretos e fala,<br />
inclusive, em “véu de ignorância” com relação às escolhas morais; e defendendo a segunda<br />
versão encontramos, entre outros, MacIntyre, um neotomista que busca resgatar a<br />
contribuição da ética das virtudes nos moldes aristotélicos.<br />
Por tratar-se de um pensador ainda pouco conhecido, até mesmo nos centros<br />
acadêmicos brasileiros, julgamos conveniente apresentá-lo mesmo que superficialmente.<br />
Alasdair Chalmers MacIntyre nasceu em 12 de janeiro de 1929, em Glasgow e, após fazer<br />
seus estudos em Londres, Manchester e Oxford, começou sua carreira docente lecionando<br />
sociologia em 1951, na Universidade de Manchester. Também lecionou na Universidade de<br />
Leeds, Essex e Londres. Em 1969 mudou-se para os Estado Unidos e assumiu a cadeira de<br />
história na Universidade de Brandeis, sendo em 1972 nomeado reitor da Faculdade de Artes<br />
Liberais e professor de filosofia na Universidade de Boston. Em 1985 foi para a Universidade<br />
Vanderbuilt, em Nashville, Tennessee. Em 1988 se tornou um pesquisador visitante no Centro<br />
de Humanidades Whitney na Universidade de Yale e, em 1995, passou a lecionar na Duke<br />
1 Os termos “ética” e “moral” são, normalmente, tomados como sinônimos – conjunto de costumes de uma<br />
determinada sociedade, os quais são tidos como valores e obrigações para a conduta de seus membros –<br />
porém, há aqueles que primam por um rigor conceitual e assumem que a significação original do vocábulo<br />
“ética” na língua grega era morada, covil ou abrigo dos animais; assumindo, posteriormente o sentido de<br />
caráter, temperamento. O seu correspondente em língua latina é “mores”, de onde deriva a palavra moral. Este<br />
termo foi metaforicamente transportado para o mundo humano dos costumes significando os valores<br />
subjacentes ao nosso agir. Quando o comportamento moral, prático, passa a ser questionado, esta prática moral<br />
se reveste de um caráter teórico, ético, propriamente. Disto decorre, portanto, que a ética tem um caráter<br />
teórico ao invés de pragmático. Ela é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou<br />
forma de comportamento dos homens, o da moral, considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e<br />
variedade. O valor da ética como teoria está naquilo que explica, e não no fato de prescrever ou recomendar<br />
com vistas à ação em situações concretas. E embora hoje haja uma tendência em ligar a moralidade às<br />
obrigações morais e a ética à questão da vida boa, ou do bem viver, utilizaremos a compreensão mais<br />
tradicional, ou talvez superficial, a qual expusemos acima e enquandramos a reflexão comunitarista mais no<br />
campo da moral por entender que a sua origem está nos costumes oriundos de sociedades, ou comunidades,<br />
situadas geográfica, histórica e temporalmente; surge da prática cotidiana. E a ética estaria mais atrelada ao<br />
pensamento moderno e iluminista que reflete acerca da possibilidade de se estabelecer racionalmente bases<br />
universais para o agir humano e, portanto, mais vinculada à teoria.
University. Por ter lecionado em dezenas de universidades nos EUA, passou a ser considerado<br />
uma especie de intelectual nômade. É professor emérito da Universidade de Notre Dame e<br />
devido a grande quantidade de trabalhos que discutem suas idéias foi, em 1982, incluído no<br />
Philosopher’s Index. Em abril de 2005 foi eleito para a Sociedade Filosófica Americana, e em<br />
julho de 2010 tornou-se pesquisador sênior da Universidade de Londres para estudos<br />
contemporâneos de ética e política aristotélicas.<br />
Mesmo sendo um neotomista, suas idéias são pouco conhecidas no Brasil 2 , um país<br />
fortemente marcado pela presença católica, a qual preza de modo especial o pensamento de<br />
Tomás de Aquino. MacIntyre converteu-se ao catolicismo no início da década de 1980 e se<br />
considera, dentro da abordagem moral, um tomista-agostiniano. Ao ser entrevistado por John<br />
Cornwell 3 , da revista Prospect, afirmou que sua conversão aconteceu próximo dos cinquenta<br />
anos de idade ao tentar desiludir seus alunos da autenticidade do tomismo. O seu<br />
empreendimento literário é bastante extenso, principalmente no âmbito da reflexão ética e<br />
dentre eles podemos destacar A short history of ethics (1966) e a trilogia After Virtue (1981),<br />
Whose justice? Which rationality? (1988) e Three versions rival of moral enquiry (1990). A<br />
primeira e a última delas ainda não têm tradução para a língua portuguesa 4 .<br />
No debate entre comunitaristas e universalistas a presença de MacIntyre é<br />
imprescindível. Ainda que possa parecer um debate travado por uma elite intelcetual, é bom<br />
ter em mente que esse confronto se faz muito presente na sociedade atual, pois somos<br />
desafiados, quase diariamente, a nos posicionarmos frente aos mais variados problemas<br />
morais. Aos desafios antigos e ainda não resolvidos, tais como justiça social, distribuição de<br />
bens, legitimidade do poder político, etc., agora se somam outros, por vezes, advindos do<br />
progresso científico e tecnológico. Diante do aquecimento global, da fecundação in vitro, da<br />
eutanásia ou da distanásia, hackers, ladrões eletrônicos, clonagem, transgênicos, terrorismo,<br />
citando apenas alguns, devemos priorizar o indivíduo ou a comunidade? A comunidade ou a<br />
humanidade? Onde fundamentar nossos julgamentos, nossas ações e nossas leis? E essa<br />
fundamentação é mesmo importante? Sim. Sua importância está no fato de ligar-se<br />
intimamente com a realização ou frustração dos ideais do pensamento contemporâneo: a<br />
2<br />
Helder Buenos Aires de Carvalho pode ser considerado um dos maiores estudiosos de MacIntyre em nosso<br />
país. Em 1997 ele defendeu sua dissertação sobre o pensamento de MacIntyre pela Universidade Federal de<br />
Minas Gerais, tendo Marcelo Perine por orientador e obtendo nota máxima. O seu trabalho de mestrado foi<br />
publicado pela Unimarco com o título Tradição e racionalidade na filosofia Moral de Alasdair MacIntyre,<br />
conforme consta em nossas referências bibliográficas.<br />
3<br />
Entrevista disponível em http://www.prospectmagazine.co.uk/2010/10/alasdair-macintyre-on-money/.<br />
Acessado em 30.06.2011; às 19h12m.<br />
4<br />
Tanto A short history of ethics quanto Three versions rival of moral enquiry tem tradução em língua espanhola.
usca da ação racional, moral e política pautadas no paradigma da linguagem, do debate – ou<br />
da dialética – e do entendimento, visto que a sociedade atual não pode mais compactuar com<br />
totalitarismos e fundamentalismos, sobretudo, na esfera da moral, haja vista que moral e<br />
intolerância denotam certo antagonismo.<br />
Devemos buscar compreender as razões subjacentes a cada uma das vertentes éticas<br />
disponíveis e válidas em nossos dias, para que a deliberação seja a mais razoável possível.<br />
Somos constantemente chamados a fazer valer as nossas dimensões específicas de<br />
racionalidade e sociabilidade, para as quais Aristóteles já acenava. Neste debate, a perspectiva<br />
comunitarista acentua os valores oriundos de uma comunidade, dando relevância ao ethos do<br />
grupo ou comunidade e a sua relação com a totalidade dos seres humanos. Sendo a<br />
comunidade o locus adequado para a realização ética.<br />
MacIntyre defende que um problema inicial para quem se opõe ao liberalismo é<br />
construir um foro no qual os termos do debate não tenham já de antemão determinado seu<br />
resultado. Por vezes, não percebemos que a contemporaneidade é dominada, no campo ético,<br />
por relevantes reflexos de um pensamento liberal, nem a sua conseqüente imposição de tais<br />
regras para o debate, assim como também não percebemos a presença de diferentes tradições<br />
de pesquisa e suas influências em nossas decisões e ações. O liberalismo dita as regras do<br />
debate ético e, impondo a abstração às teses a serem debatidas e às pessoas envolvidas no<br />
debate, impede que vozes fora da tradição liberal possam ser ouvidas 5 . Segundo ele, as<br />
decisões éticas que tomamos no nosso dia-a-dia são, na verdade, constituídas de fragmentos<br />
das mais diversas tradições éticas. É como tentar construir ciência com base apenas em<br />
fragmentos de diferentes teorias científicas. Talvez seja até desnecessário afirmar que não é, e<br />
nem poderia ser, nossa intenção arvorar-se em um trabalho conclusivo acerca desta questão,<br />
mas tão somente buscar luzes que nos auxiliem na compreensão do quadro ético em que nos<br />
encontramos. Até mesmo porque parece que ainda não se enveredou por uma perspectiva<br />
conclusiva.<br />
Ao apresentar sua preocupação pelo resgate de uma ética das virtudes, MacIntyre<br />
busca dar sua contribuição para o ser humano atingir seu telos: a felicidade. Quer nos parecer<br />
que o mundo, ao se permitir cada vez mais uma abertura à pluralidade, ou até mesmo em<br />
5 Diz MacIntyre: “[...] disputas [...] são propostas, modificadas, abandonadas ou substituídas, mas [...] não há<br />
nenhuma base [...] que não seja fornecida por uma ou outra tradição particular” (MACINTYRE, 1991, p.<br />
376). E ainda: “[...] embora [...] não exista nenhum padrão comum [...] para se julgar pontos de vistas<br />
adversários [...] cada uma pode [...] ter seus próprios padrões particulares. [...] Não há um conjunto de<br />
padrões independentes de justificação racional através dos quais as questões entre tradições adversárias<br />
possam ser decididas” (Ibidem, p. 377).
função dela, conflui em comunidade, onde entre as virtudes mais caras haveria de estar o<br />
diálogo, a tolerância, o respeito e o entendimento. Com certeza estas devem figurar<br />
juntamente com a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência, acrescidas da compaixão e<br />
da solidariedade e, cada vez mais das virtudes que acenam para o entendimento mútuo. Hoje<br />
as virtudes que visam a boa convivência com o outro e com o diferente têm de se encontrar no<br />
topo da lista das virtudes.<br />
Nesse trabalho pretendemos mostrar como a teoria ética de MacIntyre, acerca das<br />
vivências morais concretas, vai se constituindo, quais os elementos relevantes nesse processo,<br />
como suas críticas se dirigem à ética moderna e como ele também acaba se tornando alvo de<br />
críticas. Não se esquecendo que esse conflito de idéias é muito importante para que o<br />
pensamento acerca da moral catarsicamente se aperfeiçoe e progrida; que ele seja fortalecido,<br />
ou reconstruído, ou ainda, abandonado.<br />
No primeiro capítulo buscaremos apresentar os elementos que formam o pensamento<br />
acerca da moral em MacIntyre, abordando a historicização da moral e ressaltando como<br />
ocorre o reflexo histórico da relação entre a ética e o lugar concreto das vivências humanas.<br />
Nesse aspecto é possível detectar a crítica que nosso autor faz ao tratamento dispensado pela<br />
filosofia contemporânea à história da moral, principalmente quando se trata do pensamento<br />
moral desenvolvido pela filosofia analítica.<br />
Instaura-se com a modernidade uma recusa a tudo aquilo que represente acenos para a<br />
tradição, mas não se percebe que também o pensamento moral moderno, na sua vertente<br />
liberal, pode ser visto como tradição. Para MacIntyre a tradição é bastante importante<br />
enquanto herança moral e até mesmo o conflito entre tradições pode ter algo a nos ensinar ao<br />
mostrar que a moralidade adquire novos contornos através do confronto e da possível<br />
superação de uma tradição em relação à outra.<br />
Segundo MacIntyre a tradição aristotélica ainda não esgotou todas as suas<br />
possibilidades tendo, portanto, contribuições relevantes para o pensamento moral de nossos<br />
dias. Por isso ele faz um resgate do modo como se constitui tal tradição, desde a contribuição<br />
advinda do mito e, principalmente, do seu grande mestre Platão. Em Aristóteles a questão das<br />
virtudes, destacando-se dentre elas a justiça, têm um vínculo indissociável com a<br />
compreensão dos papéis sociais do homem grego junto à sua polis, ou seja, as virtudes<br />
requerem um contexto específico. É claro que MacIntyre faz uma releitura da tradição<br />
aristotélica e isso significa dizer que as idéias do Estagirita receberão roupagens novas num
viés propriamente macintyreano, buscando mostrar qual é o lugar que as virtudes ocupam<br />
hoje em nossa sociedade e o modo como elas ainda podem se vincular ao contexto social.<br />
No capítulo dois vamos buscar apresentar as principais críticas de MacIntyre ao<br />
pensamento moral moderno, lembrando que nessa elaboração ele se vale do pensamento de<br />
Nietzsche um crítico contumaz da modernidade o qual acena até para a possibilidade de uma<br />
reconstrução da moral, nos padrões da vontade de potência. Na seqüência vamos expor a<br />
dinâmica do fracasso da proposta de fundamentação da moral iluminista, mostrando o porquê<br />
da moral de Diderot, Hume, Kant e Kierkegaard não se sustentarem. E por fim, abordaremos a<br />
crítica ao emotivismo e à sua leitura da relevância, ou não, dos contextos sociais.<br />
Por fim, no terceiro capítulo buscaremos tratar das críticas dirigidas ao pensamento de<br />
MacIntyre, o modo como ele apresenta o embate entre enciclopedistas, genealogistas e os<br />
adeptos da tradição aristotélica-tomista, bem como acenar, ainda que brevemente para o<br />
aspecto do relativismo moral. No posfácio do After Virtue MacIntyre busca responder<br />
algumas dessas considerações e salienta a importância das mesmas e a contribuição que<br />
prestam ao debate moral contemporâneo. Nos capítulos VIII e XIX da obra Three rival<br />
versions of moral enquiry – Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition, ele busca demonstrar<br />
como se dá a superioridade da tradição sobre as outras duas visões. Abordaremos também a<br />
análise de Tugendhat e apresentaremos uma possível tentativa de resposta à mesma. E, por<br />
fim, trataremos da questão do relativismo moral e do modo como ele se apresenta hoje,<br />
suscitando controvérsias até mesmo junto às autoridades do Vaticano, e o tratamento que<br />
MacIntyre dispensa à essa questão, bem como ao perspectivismo.<br />
Abordando a crítica de relativismo ético feito à moral comunitarista, na forma como<br />
foi desenvolvida e apresentada por Alasdair MacIntyre na sua obra After Virtue tentaremos<br />
mostrar que, também, em conseqüência disto, ele elabora, como uma espécie de obra<br />
complementar, Whose Justice? Which Rationality? 6 . Embora esta última obra já estivesse sido<br />
pensada como retomada e aprofundamento de certas questões suscitadas na primeira, as<br />
críticas feitas por alguns leitores levam o autor a desenvolver um trabalho voltado também<br />
para a resposta acerca da questão do relativismo moral. Empenhar-nos-emos em sinalizar que<br />
a racionalidade prática, ao mesmo tempo em que determina tipos muito concretos de virtudes<br />
para as sociedades também é, em parte, determinada por esta mesma sociedade; fato, este, que<br />
6 MacIntyre sinaliza para este projeto ao afirmar “Minhas avaliações [...] pressupõem uma explicação sistemática<br />
[...] da racionalidade [...] a ser apresentada num livro posterior” (MACINTYRE, 2001, p. 435-436). E no<br />
prefácio de Justiça de quem? Qual racionalidade?, ele diz “prometi um livro no qual tentaria dizer o que faz<br />
com que seja racional agir de um modo e não de outro” (MACINTYRE, 1991, p. 7).
desqualificaria qualquer pretensão de fundamentação universalizante para a ética. Esse<br />
também será o tema central da obra Three rival versions of moral enquiry: encyclopaedia,<br />
genealogy, and tradition 7 , onde são apresentadas as versões da moralidade enciclopedista,<br />
aludindo ao pensamento moral moderno – mais especificamente dos editores e colaboradores<br />
da Nona Edição da Enciclopaedia Britannica – a genealogista, referindo-se à contribuição<br />
nietzscheana e aquela advinda da tradição e que busca sustentar o vínculo entre moralidade e<br />
contexto sócio-econômico-histórico-cultural.<br />
A principal tese sustentada por MacIntyre é que na busca pela fundamentação da<br />
moralidade, a ética das virtudes está mais bem fundamentada e é mais recomendável que a<br />
ética normativa, oriunda, principalmente, do iluminismo. Característico da ética das virtudes é<br />
a necessidade de um locus, pois ela se realiza de forma mais natural quando se tem um espaço<br />
apropriado para isto, o qual é apresentado como sendo a comunidade. Isto necessariamente<br />
faz com que a ética das virtudes não ocorra de maneira universal - em todas as épocas e em<br />
todos os lugares do mesmo modo – mas requeira um contexto apropriado; requeira uma<br />
tradição oriunda de determinado tipo de racionalidade.<br />
A moralidade das virtudes teria passado dos mitos, sobretudo dos mitos homéricos 8 ,<br />
para a sociedade ateniense e encontrado em Platão e Aristóteles uma elaboração sistemática e<br />
racional 9 ; depois, incorporada pelo cristianismo, sobreviveu – apesar de todas as mudanças<br />
sociais ocorridas – até os nossos dias. Tal sobrevivência teve um custo, pois, hoje ela difere<br />
dos genuínos valores morais aristotélicos advindos dos tempos heróicos, mesmo que ainda<br />
mantenha o seu núcleo na importância atribuída às virtudes. O que significa dizer que a<br />
reflexão ética sobreviveu, mas, encontra-se fragmentada, conforme assinala MacIntyre já no<br />
primeiro capítulo da sua obra After Virtue. A fragmentação deve-se ao fato de que, com o<br />
advento da modernidade, fomos privados de uma visão integrada de mundo e de uma<br />
concepção unificadora no terreno da moralidade, fato que tem nos conduzido a um debate<br />
interminável. Por mais que as teorias rivalizem e debatam não se chega a uma conclusão, pois<br />
não temos como pesar racionalmente as pretensões de uma corrente relativamente às outras; o<br />
debate moral fica reduzido a um jogo de afirmações e contra-afirmações.<br />
7 Infelizmente essa obra ainda não foi traduzida para o português.<br />
8 Para MacIntyre “[...] as argumentações de Aristóteles são não apenas o resultado [...] de uma seqüência de<br />
pensamento que começa com Homero, mas que fornecem um esquema [...] através do qual pensadores<br />
posteriores podem estender e continuar as pesquisas de Aristóteles[...]” (MACINTYRE, 1991, p. 113).<br />
9 O acento nas virtudes permanece, porém com algumas diferenciações, por exemplo: em Homero as virtudes se<br />
caracterizam pela competitividade enquanto na polis ateniense elas adquirem o primado da cooperação e, por<br />
algum tempo, estas duas concepções coexistem (Cf. MACINTYRE, 2001, p. 229). Amizade, coragem,<br />
controle das paixões, prudência e justiça são algumas das virtudes que sobrevivem.
A ética liberal, proveniente do iluminismo, prescinde das condições temporais e locais<br />
e defende a possibilidade de padrões de moralidade aceitos universalmente, através do<br />
estabelecimento de um denominador comum, o qual poderia ser encontrado, a princípio, na<br />
razão 10 e, mais recentemente, na utilização intersubjetiva da linguagem 11 . A crítica a estes<br />
universalistas reside justamente no estabelecimento desse denominador comum, o qual<br />
possibilitaria que os mais diversos costumes pudessem ter a liberdade de conviver no contexto<br />
plural das sociedades contemporâneas.<br />
Para MacIntyre os valores adotados numa determinada comunidade não podem jamais<br />
ser impostos externamente, mas devem ser fruto de um processo de maturação racional e<br />
moral, pois não se impõe uma tradição, antes, uma tradição se consolida com o decorrer do<br />
tempo. Os costumes genuínos e autênticos se formam ao longo dos anos e não devem ser<br />
frutos de imposições – pois neste caso seriam construídos externa e artificialmente e não<br />
pertenceriam intrinsecamente à comunidade – por isso não se poderiam construir normas e<br />
procedimentos morais a partir de culturas impostas e nem da junção de fragmentos das mais<br />
variadas concepções éticas, mas somente como resultado de um processo contínuo de<br />
amadurecimento.<br />
MacIntyre entende que o emotivismo 12 está na base deste debate infindável devido a<br />
sua pretensão de explicar a natureza dos juízos valorativos independentemente de tempo e<br />
lugar. Contudo, esta pretensão falha quando deixa de considerar a dimensão histórica dos<br />
conceitos morais; mesmo que muitos conceitos morais sejam utilizados para expressar<br />
sentimentos pessoais, isso nem sempre foi assim. É somente recorrendo à história das<br />
concepções éticas que compreenderemos como se constitui a discrepância em que nos<br />
encontramos.<br />
No último capítulo do After Virtue MacIntyre se compromete a elaborar uma nova<br />
obra onde explicará a questão da racionalidade e já antecipa que as possíveis críticas que<br />
surgirão ao seu livro também serão tratadas nesta futura obra. Já no posfácio da segunda<br />
edição ele cita algumas críticas recebidas, começando pela relação da filosofia com a história<br />
e deixa claro que sua postura é de defesa do historicismo 13 e mesmo quando Kant apresenta<br />
10<br />
Razão aqui é entendida como razão individual, razão do sujeito ou consciência.<br />
11<br />
A ética do discurso valoriza a ação comunicativa a qual é mais rica por ocorrer no processo de diálogo entre os<br />
indivíduos buscando superar a razão abstrata e o subjetivismo estabelecendo uma relação sujeito-sujeito.<br />
12<br />
Trataremos deste assunto no terceiro tópico do capítulo 2 (2.3 A crítica ao emotivismo, na obra Depois da<br />
virtude).<br />
13<br />
Defender Aristóteles a partir de um ponto de vista historicista parece paradoxal posto que o próprio Aristóteles<br />
não era historicista ( Cf. MACINTYRE, 2001, p. 465).
sua tese de princípios universais estes não seriam mais que pressupostos da moralidade<br />
protestante, pois as filosofias morais expressam a moralidade a partir de algum ponto de vista<br />
social e cultural. Disto conclui-se que a história da moralidade e a história da filosofia moral<br />
são uma única história 14 . Este historicismo, portanto, exclui a pretensão de conhecimento<br />
absoluto.<br />
Num segundo momento, do posfácio, ele aborda claramente a questão do relativismo e<br />
defende que as virtudes são as qualidades necessárias para se obter os bens internos 15 às<br />
práticas, sendo que tais qualidades contribuem para o bem de uma vida inteira e esta procura<br />
do bem se dá dentro de uma tradição social. Por vezes, temos o caso de virtudes para um<br />
determinado contexto aparecerem como vícios em outros contextos. A filosofia moral,<br />
portanto, é um nexo entre história, filosofia e sociologia.<br />
Segundo MacIntyre a racionalidade do conceito de virtude, por ele desenvolvido,<br />
concebe cada vida humana como unidade, de modo que cada vida possa ser justificada como<br />
tendo o seu bem. São as virtudes que habilitam cada indivíduo a fazer de sua vida um tipo de<br />
unidade e não outro. Essa reflexão acerca da vida humana em sua totalidade, pode resultar em<br />
um posicionamento por vezes diferente do modus vivendi que a sociedade moderna instaura,<br />
ao compartimentar a vida em esferas dicotômicas do trabalho e do lazer, da vida privada e da<br />
vida pública, do coletivo e do pessoal. Tanto a busca do bem como o exercício das virtudes<br />
não acontece de forma isolada das comunidades históricas que pertencemos, pois não se pode<br />
pensar o agente moral e sua identidade fora do âmbito social e da história da qual se pertence.<br />
A nossa história particular se insere na história de nossa comunidade e é dela que retiramos<br />
nossa identidade, muito embora esse processo de pertencimento às comunidades como<br />
família, vizinhança e cidade não deva significar ficar preso a particularidades sociais.<br />
A recusa de uma racionalidade a-histórica pode, contudo, conduzir a um relativismo<br />
moral que venha afirmar a validade de qualquer teoria ética. Para defender-se desta acusação<br />
MacIntyre busca traçar um paralelo com o caso da filosofia da ciência, sobretudo no modelo<br />
exposto por Thomas Kuhn. A partir de Kuhn, a filosofia da ciência passou a operar com a<br />
perspectiva de visões de mundo diferentes e incomensuráveis. Com isto, MacIntyre busca<br />
mostrar que a mudança conceitual pode ser racional mesmo sem a pretensão de validade<br />
absoluta, haja vista, que podemos usar uma noção sui generis de racionalidade. Desta forma<br />
14 Cf. Depois da Virtude, capítulo XIX: Posfácio à segunda edição (MACINTYRE, 2001, p. 450).<br />
15 Os bens internos às práticas, que se pode adquirir, são as excelências específicas a esses tipos de práticas (Cf.<br />
MACINTYRE, 1981, p. 459).
se justificaria uma teoria ética vinculada a uma determinada tradição, por meio de uma<br />
racionalidade prática também vinculada a esta tradição, o que permitiria a questão justiça de<br />
quem? Qual racionalidade? Assim, a relação que a filosofia da ciência tem com a história da<br />
ciência é similar à relação que a filosofia moral tem com a história da moralidade.<br />
Por fim, esclareço que algumas citações usadas no texto vêm acompanhadas do seu<br />
respectivo texto original visando possibilitar que se verifique se a idéia expressa realmente<br />
condiz com o sentido postulado pelo autor. Quando isso ocorrer a nota será expressa em<br />
algarismos romanos e se encontrará no final do capítulo para evitar confusões com notas de<br />
rodapé. Exceto quando a citação já se encontrar em rodapé, situação em que apresentamos<br />
logo na seqüência o texto na língua original. Quando utilizarmos trechos de obras que ainda<br />
não foram traduzidas para o português, procuraremos expressá-los dentro da maior coerência<br />
e fidelidade possíveis e quando tratar-se de obras já traduzidas utilizamos os textos como são<br />
encontradas nessas traduções buscando prestigiar o trabalho daqueles que se empenharam em<br />
trazer-nos as obras desse valioso pensador. Buscando evitar confusão das obras originais com<br />
suas traduções, ao utilizarmos obras originais, citaremos tais obrais pela suas iniciais, por<br />
exemplo, AV, After Virtue, WJ, Whose Justice?, TRV, Three Rival Versions, e assim por<br />
diante. E por tratar-se de poucas abreviaturas nos reservamos o direito de não elaborarmos<br />
uma lista para as mesmas.<br />
CAPÍTULO I
M<br />
EL<strong>EM</strong>ENTOS ESTRUTURANTES DA <strong>MORAL</strong> <strong>EM</strong> MACINTYRE<br />
acIntyre inicia sua obra “Justiça de Quem? Qual racionalidade”,<br />
abordando a questão do conflito acerca da moralidade na sociedade<br />
atual e, a partir daquilo que ele expõe, seria razoável entender que<br />
somos, em grande parte, fruto das nossas elaborações mentais, da<br />
racionalidade que nos permeia, ou seja, dos pensamentos 16 que herdamos e cultivamos.<br />
Herança adquirida sem prévia anuência, mas que mesmo assim poderá moldar as nossas ações<br />
e posicionamento no mundo e, até mesmo, ter reflexos na realização pessoal de cada<br />
indivíduo. Isso fica mais evidente ainda quando procura mostrar que se em nossa sociedade<br />
percebemos diferentes conceitos de justiça, deve-se ao fato de termos diferentes<br />
racionalidades em competição (MACINTYRE, 1991, p. 11). Dirá que, empiricamente, nossa<br />
sociedade não se caracteriza pela concordância, pela visão de totalidade harmônica, mas pelo<br />
conflito, onde os nossos pensamentos ocorrem sob a influência de diferentes tradições 17 .<br />
Somos herdeiros de visões de mundo que, muitas vezes chegam até nós de forma<br />
fragmentada, ou como diz MacIntyre, nós pensamos a partir de um “amálgama de<br />
fragmentos” i (MACINTYRE, 1991, p. 12) de diferentes tradições.<br />
Da nossa racionalidade depende o nosso conceito de justiça, pois MacIntyre sinaliza<br />
que justiça e racionalidade estão intimamente ligadas ao afirmar que “para saber o que é a<br />
justiça devemos primeiramente aprender o que a racionalidade exige de nós na prática” ii<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 12). Porém, as discussões acerca do que seja a racionalidade são tão<br />
difíceis quanto a discussão sobre a justiça. No domínio público, diz ele, essas questões não<br />
são tratadas com base em pesquisas racionais, mas com base em afirmações e contra-<br />
afirmações (MACINTYRE, 1991, p. 16).<br />
Para MacIntyre a racionalidade se forma sempre dentro e a partir de determinadas<br />
tradições. Ela se origina e se desenvolve de modo contextualizado e por isso podemos dizer<br />
que para se entender uma determinada racionalidade devemos antes entender a história dessa<br />
racionalidade. “Doutrinas, teses e argumentos, todos devem ser compreendidos em termos de<br />
16 Parece ser nesse sentido que Shakespeare afirma no Ato IV, cena I, de A Tempestade: “somos feitos da<br />
matéria dos sonhos” (SHAKESPEARE, 2002, p. 102).<br />
17 MacIntyre define tradição como “argumentação desenvolvida ao longo do tempo, na qual certos acordos<br />
fundamentais são definidos e redefinidos” a partir de conflitos (MACINTYRE, 1991, p. 23). “A tradition is an<br />
argument extended through time in which certain fundamental agreements are defined and redefined in terms<br />
of two kinds of conflict” (WJ, p. 12)
contexto histórico” iii (MACINTYRE, 1991, p. 20). Para entendermos o pensamento de<br />
MacIntyre, inclusive, temos de resgatar a contribuição daqueles que o afetaram de algum<br />
modo, ou a herança daqueles que MacIntyre interpreta e admite como pensadores importantes<br />
para a sua reflexão ética. Temos de procurar conhecer o percurso através do qual se estrutura<br />
a sua visão moral.<br />
Sendo assim, vamos iniciar este capítulo abordando a importância atribuída por<br />
MacIntyre à questão do contexto histórico-sócio-cultural, ou seja, a importância da tradição.<br />
Ressaltaremos a influência do pensamento de Aristóteles para a elaboração da sua ética<br />
comunitarista e trataremos, por último, da ética das virtudes. Pretendemos, desse modo,<br />
apresentar os elementos que entendemos serem mais relevantes da concepção ética<br />
macintyreana.<br />
1.1 A historicização da moral: a relação entre ethos e locus 18<br />
Já no prefácio do After virtue, se pode perceber que MacIntyre procura deixar claro<br />
que o filósofo não deve prescindir da história e buscar a compreensão dos conceitos morais<br />
utilizando-se apenas da reflexão, mas buscar “aprender com a história e a antropologia acerca<br />
da diversidade de práticas morais” 19 iv (MACINTYRE, 2001, p. 9). Nota-se, de certo modo,<br />
que ele reflete em consonância com a crítica feita por Nietzsche em Humano, demasiado<br />
humano, quando trata do “defeito hereditário dos filósofos” e diz:<br />
Todos os filósofos têm em si o defeito comum de partirem do homem do<br />
presente e acreditarem chegar ao alvo por uma análise dele. Sem querer,<br />
paira diante deles “o homem”, com uma aeterna veritas, como algo que<br />
permanece igual em todo o torvelinho, como uma medida segura das coisas.<br />
Tudo o que o filósofo enuncia sobre o homem, entretanto, nada mais é, no<br />
fundo, do que um testemunho sobre o homem de um espaço de tempo muito<br />
limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os<br />
filósofos (NIETZSCHE, 1999, p. 71).<br />
18 O termo ethos é utilizado aqui para indicar a moralidade vivida por uma determinada comunidade. Podendo a<br />
mesma estar circunscrita em um território ou espalhada territorialmente, mas mantendo a identidade de algum<br />
modo através da partilha de certos elementos comuns. E o termo locus utilizamos com o sentido de lugar, não<br />
só espacial, como também temporal. A junção desses dois elementos se faz apreensível através da história que<br />
os vincula. Ou seja, ethos, locus e história estariam, de algum modo, vinculados entre si (Cf. CARVALHO,<br />
2004, pp. 118-143).<br />
19 Afirma Danilo Marcondes que “segundo a própria definição original do termo, a ética não pode ser vista<br />
dissociada da realidade sociocultural concreta. Os valores éticos de uma comunidade variam de acordo com o<br />
ponto de vista histórico e dependem de circunstâncias determinadas. O que é considerado ético em um<br />
contexto pode não ser considerado da mesma forma em outro. Por exemplo: os sacrifícios humanos eram<br />
práticas normais em algumas sociedades, como entre os antigos astecas e mesmo na Grécia arcaica; hoje,<br />
entretanto, nos causam horror e parecem uma barbaridade. Outro exemplo menos drástico é o da poligamia e<br />
do concubinato, condenáveis em nossa sociedade mas admissíveis em outras culturas e religiões”<br />
(MARCONDES, 2009, p. 10).
Com isso, Nietzsche parece indicar que prescindindo da história ficamos<br />
impossibilitados de percebermos o percurso das mudanças conceituais e valorativas, ou seja,<br />
da racionalidade. E poderíamos considerar inegável que as mudanças temporais e espaciais<br />
alteram nossas formas de interpretação do mundo. Vemos aqui um paralelo com aquilo que<br />
Thomas Kuhn procurou demonstrar através da sua obra Estrutura das revoluções científicas,<br />
onde o autor analisa o modo como a ciência vai se estabelecendo e as alterações sofridas pelos<br />
padrões de racionalidade. Também poderíamos concluir acerca da possibilidade da alteração<br />
ocorrida no campo epistemológico, ter igualmente reflexos, ou uma ocorrência análoga, no<br />
campo da ética, gerando mudanças na natureza moral das comunidades e no juízo moral<br />
peculiar de tais sociedades (MACINTYRE, 2001, p. 10).<br />
Essa articulação entre a filosofia e o contexto histórico-social é muito presente no<br />
pensamento de MacIntyre, como bem nos lembra Helder Carvalho (1999, p. 15) quando diz<br />
que “a história da filosofia moral, não está desvinculada da história da moralidade e das<br />
formas de vida que são ou foram sua expressão social”; ou seja, a reflexão moral se dá a partir<br />
de uma contrapartida sociológica 20 . Em outro texto Helder Carvalho afirma que “não<br />
podemos esquecer que, para MacIntyre, filosofias morais são articulações das moralidades a<br />
partir de algum ponto de vista cultural e social particular, ou seja, a história da moralidade e a<br />
história da filosofia moral formam uma única e mesma história” (2007, p. 20).<br />
Dirá MacIntyre que nós “só compreenderemos totalmente as pretensões de qualquer<br />
filosofia moral depois de esclarecer qual seria sua concreta expressão social” v (2001, p. 51).<br />
Entendendo, portanto, que quando o vínculo entre moralidade, história e sociologia não é<br />
realizado, acabamos por refletir através dos fragmentos herdados de diferentes e opostas<br />
concepções morais, o que poderia ser visto como característico das argumentações morais da<br />
atualidade. Ou seja, se a desordem moral existe de fato, é porque não conseguimos “construir<br />
uma narrativa histórica verdadeira” vi (MACINTYRE, 2001, p. 29). Os conceitos que usamos<br />
estão desprovidos dos contextos onde se originaram e, por isso, não têm mais o significado<br />
que tinham. Dirá, ainda, que “na transição da diversidade de contextos dos quais se<br />
originaram até nossa cultura contemporânea, „virtude‟, „justiça‟, „piedade‟, „obrigação‟ e até<br />
„dever‟ tornaram-se diferentes do que eram” vii (MACINTYRE, 2001, p. 28). Como<br />
ocorreram tais transformações? Teria sido devido ao<br />
20 É justamente na obliteração do contexto social que residirá a crítica de MacIntyre aos emotivistas; tema que<br />
abordaremos mais adiante.
[...] tratamento anti-histórico persistente que os filósofos contemporâneos<br />
vêm aplicando à filosofia moral, tanto ao escrever sobre o assunto quanto ao<br />
ensiná-lo. Com muita freqüência ainda tratamos os filósofos morais do<br />
passado como contribuindo para um único debate com conteúdo<br />
relativamente invariável, tratando Platão, Hume e Mill como<br />
contemporâneos nossos e uns dos outros. Isso leva a abstrair esses filósofos<br />
do meio social e cultural no qual viveram e pensaram e, assim, a história de<br />
seu pensamento adquire uma falsa independência do resto da cultura viii<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 29).<br />
Para MacIntyre “os indivíduos herdam determinado espaço dentro de um conjunto<br />
interligado de relações sociais; quando lhes falta esse espaço, não são ninguém” ix (2001, p.<br />
68). E essa idéia choca-se com o modelo de racionalidade oriundo da modernidade, gerador<br />
de uma moralidade fragmentada e com ambições de universalização. A racionalidade dos<br />
modernos é atomizada e, portanto, a sua moralidade também será dessa mesma forma. O<br />
mesmo não acontece com MacIntyre, para quem a compreensão da filosofia moral deve<br />
acontecer sempre articulada com a contextualização sócio-histórica, entendendo-se “as<br />
filosofias morais como expressões teóricas das moralidades experienciadas nas sociedades em<br />
que emergiram” (CARVALHO, 2004, p. 119). É só recorrendo à história das concepções<br />
morais que poderemos compreender como a discrepância moral foi se constituindo. Como<br />
dirá Nietzsche: “Não há fatos eternos: assim como não há verdades absolutas. – Portanto, o<br />
filosofar histórico é necessário de agora em diante, e com ele, a virtude da modéstia”<br />
(NIETZSCHE, 1999, p 71).<br />
Entende MacIntyre que os problemas sobre os quais se debruçam os filósofos<br />
acadêmicos hoje 21 têm suas raízes nos problemas do nosso cotidiano social e que a sua<br />
compreensão crítica requer que analisemos o histórico de onde tais problemas emergiram,<br />
pois os principais episódios que transformaram a moralidade foram episódios vinculados de<br />
alguma maneira à história da filosofia. Por isso, segundo ele, “é somente à luz dessa história<br />
que podemos entender como surgiram as idiossincrasias do discurso moral contemporâneo” x<br />
(MACINYTRE, 2001, p. 73).<br />
Dirá ele que nós utilizamos a linguagem moral contemporânea para expressar<br />
discordâncias, tais como: A1) A guerra é justa quando o bem a ser alcançado supera os males<br />
inerentes à própria guerra; A2) quem deseja a paz deve estar preparado para a guerra, pois o<br />
único modo de alcançar a paz é refreando possíveis agressões (MACINYTRE, 2001, p. 21);<br />
A3) as guerras travadas para libertar grupos oprimidos se constituem num meio necessário e<br />
justificado de se combater a dominação exploradora. Ou ainda quando se trata do aborto: B1)<br />
21 Ele vê a filosofia acadêmica hoje como uma atividade marginalizada e especializada, embora seja rebento de<br />
uma cultura que lhe outorgava importante forma de atividade social (MACINTYRE, 2001, p. 74).
Todos têm direitos sobre si e seu corpo, o embrião faz parte do corpo da mãe, portanto a ela<br />
cabe o direito de decisão sobre o abortamento; B2) como não posso desejar que a minha mãe<br />
tivesse me abortado, também não devo negar o direito à vida às outras pessoas<br />
(MACINYTRE, 2001, p. 22); B3) se o infanticídio é assassinato, o abortamento também o é.<br />
Cada uma destas premissas encontrará seus defensores, pois os conceitos utilizados nos<br />
argumentos são incomensuráveis, cada premissa emprega um conceito diferente e as<br />
conclusões provêm das premissas, as quais têm grande diversidade de origens históricas<br />
(MACINYTRE, 2001, p. 27). Somos herdeiros de amplas e heterogêneas fontes de<br />
moralidade.<br />
As teorias expressam conceitos incorporados por determinadas comunidades as quais<br />
exigem a vivência destas formas sistematicamente incorporadas de vida humana<br />
(MACINYTRE, 1991, p. 419). A história da moralidade e a história da filosofia moral deve<br />
ser, para MacIntyre, uma única história: “a história dos sucessivos desafios a alguma ordem<br />
moral pré-existente” xi (MACINYTRE, 2001, p. 451). Assim como a filosofia das ciências<br />
depende da história das ciências, o que ocorre com a moralidade não é diferente, pois os<br />
assuntos da filosofia moral serão encontrados dentro da vida humana histórica, social e<br />
culturalmente situada. As filosofias morais expressam a moralidade a partir de algum ponto<br />
de vista social e cultural muito específico (MACINYTRE, 2001, p. 450), através de seus<br />
representantes.<br />
Aristóteles e Kant, por exemplo, poderiam ser vistos como representantes de culturas<br />
diversas, pois enquanto Aristóteles é o porta-voz dos atenienses do século IV a.C., Kant é o<br />
porta-voz do individualismo liberal (MACINYTRE, 2001, p.450), muito embora, entenda<br />
MacIntyre que aquilo que Kant nos apresenta como princípios universais característicos do<br />
individualismo liberal moderno, sejam princípios e pressupostos de uma moralidade bem<br />
específica: a moralidade do protestantismo. Inclusive, baseando-se nessa hipótese,<br />
poderíamos até chegar a entender como frustrada a pretensão kantiana de universalidade<br />
(MACINYTRE, 2001, p. 447).<br />
Os filósofos analíticos podem ser vistos como os porta-vozes dos anti-históricos, pois<br />
eles tendem a prescindir do contexto histórico afirmando que tal contexto é irrelevante para a<br />
definição do que seja verdadeiro ou falso; definição à qual se chegaria apenas analisando<br />
argumentações. Porém, segundo MacIntyre, é no confronto histórico que se define a<br />
superioridade racional de um ponto de vista, e neste sentido o contexto histórico é necessário<br />
para a investigação (MACINYTRE, 2001, p. 451).
A situação de MacIntyre com relação às teorias morais não difere da situação relativa<br />
às teorias científicas, pois ele defende que, assim como acontece com a filosofia da ciência<br />
também na filosofia moral, devemos “oferecer a melhor teoria até o momento” xii<br />
(MACINYTRE, 2001, p. 453). Contudo, devemos deixar sempre aberta a possibilidade do<br />
surgimento de um novo desafio à melhor teoria já aceita até o momento e que venha a<br />
destituí-la. Temos, portanto, um historicismo falibilista, isto é, um historicismo que exclui<br />
“pretensões de conhecimento absoluto” xiii (MACINYTRE, 2001, p. 453). Idéia que não se faz<br />
presente na filosofia iluminista moderna.<br />
Diante disso, podemos dizer que também a reflexão de MacIntyre deve ser<br />
emoldurada dentro de um contexto histórico que possibilite sua construção crítica à filosofia<br />
acadêmica contemporânea. Devemos lembrar que na segunda metade do século XX um dos<br />
problemas que se coloca à reflexão ética, sobretudo no mundo anglo-saxão, será o confronto<br />
com a filosofia analítica, em suas diferentes formulações. Os analíticos têm uma consideração<br />
peculiar para com a história e a sociologia gerando expressões e conceitos próprios. Para<br />
Helder Carvalho,<br />
MacIntyre, como todo filósofo autêntico, está dialogando com o seu tempo,<br />
respondendo às questões fundamentais que, como um contemporâneo do<br />
final do século XX e começo do XXI, divisa no seu horizonte vital. A<br />
despeito de defender uma retomada da ética aristotélica das virtudes, ou seja,<br />
um recurso a elementos teóricos pré-modernos como fundamentais para<br />
recuperar a coerência e a compreensão da nossa moralidade, seu trabalho<br />
não se reduz a um simples retorno à perdida “bela totalidade” do universo<br />
clássico. Por se encontrar mergulhado profundamente no seu tempo, partilha<br />
a ambiência epistêmica historicizante característica do final do século XX e<br />
do começo do XXI na tematização da natureza da racionalidade e da<br />
moralidade (2004, p. 119).<br />
É o tempo em que MacIntyre se situa, entre outros tantos elementos, que lhe permite<br />
fazer uso das idéias oriundas da filosofia da ciência, sobretudo daquelas desenvolvidas por<br />
Thomas Kuhn, num modelo historicista com relação às mudanças conceituais. Nesse tempo<br />
vige a idéia de “pluralidade e incomensurabilidade das teorias”, bem como a de “abandono da<br />
noção de progresso linear na definição da racionalidade” (CARVALHO, 2004, p. 119). Tendo<br />
isso por base, ele se propõe a dialogar com a filosofia moral analítica a qual busca restringir<br />
questões morais à análise da linguagem moral, sua estrutura e seu funcionamento, de modo<br />
desarticulado e sem considerar o contexto histórico e social.<br />
Entre os representantes da filosofia moral analítica com os quais MacIntyre dialoga<br />
estão John Rawls e Robert Nozick. Apesar de representarem a mesma corrente filosófica,<br />
ambos diferem em suas conceituações e MacIntyre serve-se disso para exemplificar que nessa
cultura pluralista em que nos encontramos não existe um método que possa avaliar<br />
reivindicações morais, pois as mesmas são incomensuráveis.<br />
Iniciando por John Rawls ele lembra que esse pensador se utiliza do conceito de “véu<br />
de ignorância”, através do qual defende que um agente racional ao escolher os princípios da<br />
justiça deveria estar no estado original, ou seja, deveria estar numa posição que não lhe<br />
permitisse saber qual seria o seu lugar na sociedade, nem sua classe, talento e capacidades,<br />
nem conceito de bem, objetivos na vida, temperamento, ordem econômica, política, cultural e<br />
social (MACINTYRE, 2001, 413). Segundo Rawls<br />
A idéia da posição original é estabelecer, um processo eqüitativo de modo<br />
que quaisquer princípios aceitos sejam justos. O objetivo é usar a noção de<br />
justiça procedimental pura como fundamento da teoria. De algum modo,<br />
devemos anular os efeitos das contingências específicas que colocam os<br />
homens em posições de disputa, tentando-os a explorar as circunstâncias<br />
naturais e sociais em seu próprio benefício. Com esse propósito, assumo que<br />
as partes se situam atrás de um véu de ignorância. Elas não sabem como as<br />
várias alternativas irão afetar o seu caso particular, e são obrigadas a avaliar<br />
os princípios unicamente com base nas considerações gerais 22 (RAWLS,<br />
2000, p. 146s).<br />
Para MacIntyre, com esse conceito e prescindindo da história e do contexto social,<br />
Rawls, sustenta que qualquer agente racional poderá definir “a justa distribuição de bem em<br />
qualquer ordem social segundo dois princípios e uma norma para a definição de prioridades<br />
quando os dois princípios entrarem em conflito” xiv (MACINTYRE, 2001, p. 413). Os dois<br />
princípios de Rawls são:<br />
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema<br />
de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante<br />
de liberdades para as outras. Segundo: as desigualdades sociais e econômicas<br />
devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a)<br />
consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e<br />
(b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (RAWLS, 2000, p. 64).<br />
Na análise de MacIntyre (2001, p. 414), Rawls está defendendo que o primeiro<br />
princípio tem prioridade sobre o segundo e a justiça tem prioridade sobre a eficiência. Além<br />
disso, os bens sociais fundamentais devem ser distribuídos igualmente, exceto se a<br />
distribuição desigual beneficie os menos favorecidos. Mas o que devemos salientar aqui é que<br />
22 Nesse ponto Rawls se utiliza de uma nota de rodapé, a qual, em parte, reproduzo aqui: “O véu de ignorância é<br />
uma condição tão natural que algo parecido deve ter ocorrido a muitas pessoas. A formulação apresentada no<br />
texto está implícita, julgo eu, na doutrina kantiana do imperativo categórico, tanto no modo como esse critério<br />
processual é definido quanto no uso que Kant faz dele. Assim, quando Kant nos diz para testarmos nossa<br />
máxima através da consideração de qual seria o caso se ela fosse uma lei universal da natureza, ele deve supor<br />
que não conhecemos nosso lugar dentro desse sistema natural imaginado” (RAWLS, 2000, pp. 668-669).
Rawls deduz seus princípios tendo por base um agente racional coberto pelo “véu de<br />
ignorância” e apenas nessa condição seria possível a sua escolha.<br />
Voltando-se para a análise das idéias de Nozick, MacIntyre lembra que esse pensador<br />
defende que se o mundo fosse totalmente justo, as únicas pessoas com direito de posse<br />
“seriam aquelas que haviam adquirido de maneira justa o que possuíam” xv , ou herdado de<br />
alguém que o adquiriu de modo justo 23 . As deduções de Nozick são baseadas nos direitos<br />
inalienáveis de cada indivíduo.<br />
MacIntyre afirma que não quer discutir a coerência das estruturas internas das<br />
premissas, e que apenas pretende mostrar “que é somente de algumas dessas premissas que se<br />
poderia deduzir racionalmente tais princípios” xvi (MACINTYRE, 2001, p. 415). Mas as mais<br />
relevantes observações apontadas por ele é que Rawls e Nozick têm posições incompatíveis e,<br />
desse modo, ilustram a real situação do debate moral contemporâneo. Além disso, ambos<br />
deixam de captar um elemento sobrevivente da tradição clássica onde as virtudes eram<br />
fundamentais. E por último ele nos lembra que Rawls torna fundamental o princípio da<br />
igualdade com relação às necessidades e Nozick torna fundamental o princípio de igualdade<br />
com relação ao direito de posse (MACINYTRE, 2001, p. 416). Assim, ele conclui que as<br />
prioridades de Rawls são incompatíveis com as de Nozick, assim como também será<br />
incomensurável a postura de um para com o outro.<br />
Esses dois pensadores teriam um aspecto possivelmente negativo: não fazem nenhuma<br />
menção ao mérito. Embora só possamos reclamar de injustiça fazendo menção ao mérito,<br />
Rawls “argumenta que só sabemos o que qualquer pessoa merece depois de formular as<br />
normas da justiça” xvii (MACINTYRE, 2001, p. 418). E Nozick é menos explícito ainda e não<br />
concede lugar ao mérito. Ambos defendem que indivíduos com interesses precisam “reunir-se<br />
e formular normas de vida em comum” xviii (MACINTYRE, 2001, p. 419), sinalizando, assim,<br />
que os indivíduos estão em primeiro lugar e a sociedade em segundo; e que o cumprimento<br />
das normas deve anteceder os méritos e as virtudes.<br />
Agora talvez fique mais claro porque eles não fazem menção ao mérito, pois “a noção<br />
de mérito só faz sentido no contexto de uma comunidade cujo vínculo principal seja um<br />
entendimento em comum tanto do bem para o homem quanto do bem da comunidade” xix<br />
23 A afirmação de Nozick é a seguinte: “Se o mundo fosse inteiramente justo, a definição indutiva seguinte<br />
cobriria exaustivamente a questão da justiça na propriedade. 1. A pessoa que adquire uma propriedade de<br />
acordo com o princípio de justiça na aquisição tem direito a essa propriedade. 2. A pessoa que adquire uma<br />
propriedade de acordo com o princípio de justiça em transferências, de alguém mais com direito à propriedade,<br />
tem direito á propriedade. 3. Ninguém mais tem direito a uma propriedade exceto por aplicações (repetidas) de<br />
1 e 2” (NOZICK, 1991, p. 172).
(MACINTYRE, 2001, p. 419) e eles antepõe o indivíduo à comunidade. As idéias de Nozick<br />
são oriundas de Hobbes, Locke e Maquiavel e outros, e mostram a sociedade como um<br />
“conjunto de estranhos, cada um à procura de seus próprios interesses” xx (MACINTYRE,<br />
2001, p. 420), que vivem segundo uma diversidade de conceitos fragmentados, os quais são<br />
usados para expressar ideais e políticas sociais rivais e incompatíveis.<br />
Diante disso, MacIntyre afirma que em nossa sociedade podemos encontrar<br />
fragmentos da tradição, sobretudo conceitos de virtudes, ao lado de conceitos modernos e<br />
individualistas. Apesar da ampla disseminação dos ideais e conceitos modernos, ainda temos<br />
comunidades 24 “que reconhecem na tradição das virtudes uma parte fundamental de seu<br />
próprio patrimônio cultural” xxi (MACINTYRE, 2001, p. 422). E isso seria suficiente para<br />
indicar que a nossa identidade cultural e moral é plasmada a partir do locus em que nos<br />
encontramos. Hélder Carvalho afirma: “nós herdamos uma variedade de débitos, expectativas<br />
de direitos e obrigações de nossas famílias, cidades e nações; essa herança comunitária<br />
constitui a particularidade moral de nossas vidas, o nosso necessário ponto de partida moral”<br />
(CARVALHO, 1999, p. 74). Não devemos pensar a moralidade sem levar em conta sua<br />
história e sua sociologia e talvez seja isso que esteja faltando aos filósofos morais analíticos,<br />
pois parece que não percebem que o histórico e o filosófico se fundem.<br />
Uma adequada filosofia moral deve, segundo Hélder Carvalho (1999, p. 73),<br />
“combinar o histórico com o normativo” e não simplesmente “operar no campo da moralidade<br />
sem um pano de fundo histórico”. Se por um lado não podemos esquecer a contribuição da<br />
sociedade, por outro não podemos reduzir a moralidade na sociabilidade. Lembra-nos Helder<br />
Carvalho que<br />
A dimensão normativa da filosofia moral não é perdida, pois as filosofias<br />
morais são tentativas de formular racionalmente respostas, critérios e<br />
fundamentos para as questões, dilemas e possibilidades de ação que<br />
emergem nas práticas sociais; as tradições de pesquisa racional são a<br />
sistematização histórica das respostas, critérios e fundamentos que<br />
originalmente se colocaram como problemáticos no âmbito da vida social<br />
(CARVALHO, 1999, p. 74)<br />
Cabe lembrar, portanto, que, embora MacIntyre atribua grande relevância à questão da<br />
contextualização histórica e afirme que devemos evitar o erro de considerar o contexto<br />
histórico apenas como mero contexto de fundo (MACINTYRE, 1991, p. 418), ele admite que<br />
também devemos evitar o erro de sustentar que o pensamento seja unicamente dependente de<br />
24 Dentre essas comunidades que se encontram nos Estados Unidos, ele cita os irlandeses católicos, os gregos<br />
ortodoxos, os judeus e os camponeses, além de protestantes brancos e negros.
papéis desempenhados pelos interesses sociais, políticos e econômicos de grupos particulares.<br />
Ou seja, se por um lado a pesquisa não é distinta nem inteligível fora da história, por outro<br />
lado ela não é apenas uma variável dependente da história 25 . Dirá ele que cada pessoa enfrenta<br />
um conjunto de posições intelectuais rivais, de tradições rivais, de comunidades rivais de<br />
discurso e é através da relação entre a doutrina de cada uma destas posições com as crenças de<br />
cada indivíduo que o significado dos problemas é determinado (MACINTYRE, 1991, p. 422).<br />
O que ocorre na prática é que a maioria dos contemporâneos não consegue reconhecer<br />
os elementos de uma e de outra tradição e, mesmo aderindo a determinada tradição, se<br />
utilizam de recursos de outras tradições, o que por vezes pode gerar uma incoerência<br />
fundamental e perturbadora, manifestada em “atitudes morais divididas, expressas em<br />
princípios morais e políticos inconsistentes” xxii (MACINTYRE, 1991, p. 426).<br />
1.2 A racionalidade das tradições e a questão da herança moral<br />
Normalmente se concebe a tradição como uma herança cultural, como a transmissão<br />
de crenças ou técnicas de uma geração para outra (Cf. ABBAGNANO, 2003, p. 966). Porém,<br />
filosoficamente a tradição também se vincula a questão da garantia de verdade 26 . Plotino<br />
defendia que a verdade havia sido descoberta por antigos e santos filósofos e a nós cabia crer<br />
nisso e buscar compreender (PLOTINO, Enéada, III, 7, 1; Apud ABBAGNANO, 2003, p.<br />
967). Mas a cultura das luzes, típica da modernidade, e sua mentalidade anti-historicista,<br />
atribuiu outro sentido ao termo tradição afirmando que sua herança, na maioria das vezes, era<br />
erro, preconceito ou superstição e com isso deu-lhe uma conotação negativa e até pejorativa.<br />
Para Helder Carvalho<br />
O moderno passou a ser entendido como crítica à tradição e, muito<br />
especialmente, como recusa do seu conteúdo metafísico e religioso que<br />
aprisionaria os homens na obscuridade e no atraso. Mais ainda, a tradição<br />
passou a significar negação de mudanças, representando, assim, um<br />
empecilho para o progresso dos homens, de sua consciência e do seu saber.<br />
Toda a cultura iluminista é portadora dessa negação da tradição, seja no<br />
nível da reflexão ética e política, seja no nível epistemológico<br />
(CARVALHO, 1999, p. 78).<br />
25 É interessante notar que ele afirma isso no capítulo 17 de Depois da virtude, o qual tem por título “A justiça<br />
como uma virtude: concepções em mudança”. Ou seja, ele parece sinalizar que assim como os paradigmas<br />
estruturantes da racionalidade mudam, também as concepções morais mudam. É justamente aqui que poderia<br />
caber a crítica de relativismo moral, a qual buscaremos analisar melhor mais adiante.<br />
26 Aristóteles é um dos partidários dessa visão e afirma que é só a partir da tradição que podemos tornar claras as<br />
opiniões dos nossos antepassados e predecessores (ABBAGNANO, 2003, p. 967).
No entanto, esse preconceito moderno começa perder força com o romantismo, a partir<br />
do momento que seus pensadores passam a ver a tradição como uma “cadeia sagrada que liga<br />
os homens ao passado, conserva e transmite tudo o que foi feito pelos que o precederam”<br />
(ABBAGNANO, 2003, p. 967). E hoje encontramos autores que reconhecem o valor da<br />
tradição como fonte de inspiração, renovação e amadurecimento da reflexão filosófica 27 . Para<br />
Helder Carvalho<br />
Há não só uma recusa do veto iluminista às tradições, mas uma retomada da<br />
tradição até mesmo no seu valor epistemológico, isto é, com o<br />
reconhecimento de que a compreensão humana é construída no interior das<br />
tradições, de que elas constituem o substrato a partir do qual se constroem as<br />
razões do homem e de sua ação no mundo (CARVALHO, 1999, p. 78).<br />
Entre os autores contemporâneos que mais dão valor à tradição está Gadamer.<br />
Amplamente conhecido por sua teoria da interpretação ou “hermenêutica filosófica”,<br />
Gadamer opôs-se à idéia de que a interpretação de textos requer uma compreensão objetiva<br />
das intenções do autor. Segundo Gadamer não podemos escapar ao condicionamento de nossa<br />
própria situação histórica e, por isso, o processo de compreender um texto envolve<br />
necessariamente duas perspectivas: a do autor e a do intérprete. Com a noção de consciência<br />
da determinação histórica, Gadamer diz que “cada ato interpretativo das obras e dos<br />
documentos do passado é uma mediação que intervém no elemento linguagem” (HUISMAN,<br />
2004, p. 418). Para ele a linguagem faz a ponte entre o passado e o presente e a história é o<br />
diálogo que se verifica na linguagem. E assim, com Gadamer a “tradição readquire a devida<br />
importância na definição da inserção do homem na história e na constituição da racionalidade<br />
(CARVALHO, 1999, p. 78). Contrapondo-se ao positivismo que marca fortemente a filosofia<br />
dos finais do século XIX e início do século XX, podemos dizer que<br />
A obra de Gadamer pode ser considerada a base para essa ênfase que damos<br />
hoje aos limites das várias abordagens filosóficas e da racionalidade em<br />
geral, à necessidade de enfrentar a nossa finitude e ao caráter, em última<br />
instância, contingente de nossos esforços de compreender o mundo e a nós<br />
mesmos (CARVALHO, 2004, p. 61).<br />
Portanto, se de um lado – para os modernos – a tradição deveria ser descartada por<br />
estar associada a superstições e erros, por outro lado, temos uma revalorização da tradição que<br />
vem desde os românticos até pensadores contemporâneos, com destaque para o pensamento<br />
de Gadamer. E, assim, fica mais claro porque a crítica de MacIntyre aos modernos considera-<br />
27 Talvez essa mudança de perfil com relação à tradição deva muito aos avanços da sociologia e também a uma<br />
nova maneira de se conceber a história. Hoje alguns historiadores buscam compreender a história do ponto de<br />
vista do homem comum e chamam isso de “a história vista debaixo” ou microhistória. Entre os expoentes<br />
desta visão podemos destacar Edward Palmer Thompson e Carlo Ginzburg.
os apenas como mais uma tradição, enquanto eles próprios se considerariam como a<br />
superação da tradição, fundamentados nas luzes da razão.<br />
Para os comunitaristas a tradição assume um importantíssimo papel para delimitar os<br />
padrões normativos e valorativos necessários à prática da justiça e do agir moral, pois para<br />
eles “o „contexto da justiça‟ deve ser o de uma comunidade que, em seus valores, práticas e<br />
instituições amadurecidos historicamente – enfim, em sua identidade –, forma um horizonte<br />
normativo” (FORST, 2010, p. 11). Seguramente MacIntyre é um dos comunitaristas que mais<br />
representa essa tese 28 , pois, como já demonstramos, ele atribui grande importância ao<br />
contexto histórico-sócio-cultural, e chega afirmar que o iluminismo nos cegou de algo que<br />
agora precisamos recuperar: a “concepção de pesquisa racional incorporada numa tradição”<br />
xxiii (MACINTYRE, 1991, p. 18). Para ele, o conceito de pesquisa racional é inseparável da<br />
tradição 29 social e intelectual, pois jamais se deve buscar compreender doutrinas, teses e<br />
argumentos desvinculados de seu contexto histórico, visto que “a própria racionalidade,<br />
teórica ou prática, é um conceito com uma história” xxiv (MACINTYRE, 1991, p. 20).<br />
Entende MacIntyre que quatro tradições são importantes para se compreender a nossa<br />
herança cultural, pois “cada uma é parte do substrato histórico de nossa própria cultura” xxv<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 21). E, diz ele, que a proposta do seu livro Whose Justice? Which<br />
rationality? será abordar cada uma dessas quatro tradições: Aristóteles, Tomás de Aquino,<br />
Hume e o liberalismo. E para que se entenda a ligação entre elas ele descreve<br />
[...] a visão aristotélica da justiça e da racionalidade prática emerge dos<br />
conflitos da pólis antiga, mas é em seguida desenvolvida por Tomás de<br />
Aquino de um modo que escapa às limitações da pólis. Assim a versão<br />
agostiniana do cristianismo estabeleceu, no período medieval, complexas<br />
28 O conceito de tradição é tão importante para a filosofia moral de MacIntyre, que Gordon Graham lembra “esta<br />
noção de tradição vem a ser de importância central [...] para todo o projeto de MacIntyre” (“It is this notion of<br />
a tradition that comes to be of central importance [...] to MacIntyre‟s whole project.”) (GRAHAM, 2003, p.<br />
24). Também PORTER (2003, p. 38) afirma: “A idéia de uma tradição continua a desempenhar um papel<br />
central nas obras de MacIntyre. Em Justiça de quem? Qual racionalidade? ele desenvolve uma teoria da<br />
racionalidade como tradição de pesquisa, que ele oferece como uma alternativa para as opções insustentáveis<br />
do fundacionalismo iluminista, por um lado, e as versões pós-modernas do relativismo e do perspectivismo de<br />
outro lado” (“The idea of a tradition continues to play a central role in MacIntyre‟s works. In Whose Justice?<br />
Which Rationality? he develops a theory of rationality as tradition-guided inquiry, which he offers as an<br />
alternative to the untenable options of Enlightenment foundationalism on the one hand, and postmodern<br />
versions of perspectivism and relativism on the other hand”. E conclui: “Certamente, qualquer estudo do<br />
pensamento de MacIntyre deve ter em conta o lugar central que ele dá ao conceito de tradição” (“Clearly, any<br />
study of MacIntyre‟s thought must take account of the central place that he gives to the concept of tradition”)<br />
(Idem).<br />
29 Cf. PORTER, 2003, pp. 38-69, onde é analisado o conceito de tradição em três obras de MacIntyre. O<br />
trabalho de Porter é intitulado Tradition in the recent work of Alasdair MacIntyre e os subtítulos são: “After<br />
virtue: tradition as the context for virtue”; “Whose justice? Which rationality? Rationality as tradition-guided<br />
inquiry”; e “Tradition as a form of moral inquiry: Three rival versionsof moral enquiry”. Relato-os tão somente<br />
para indicar a importância dada por Porter à questão da tradição em MacIntyre.
elações de antagonismo, posteriormente de síntese, e depois de continuado<br />
antagonismo, com o aristotelismo. Assim, num contexto cultural posterior<br />
bastante diferente, o cristianismo agostiniano, agora numa forma calvinista,<br />
e o aristotelismo, agora numa versão da Renascença, entraram numa nova<br />
simbiose na Escócia do século XVII, gerando uma tradição que no ápice de<br />
sua realização foi subvertida a partir de dentro por Hume. Assim, finalmente,<br />
o liberalismo moderno, nascido do antagonismo com toda tradição,<br />
transformou-se gradualmente em algo que é agora claramente reconhecível,<br />
30 xxvi<br />
mesmo por alguns de seus adeptos, como mais uma tradição<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 21).<br />
Como se percebe, o ponto de partida de sua reflexão é Aristóteles cuja ética<br />
“representa o primeiro nível do desenvolvimento moral, no qual a narrativa da vida individual<br />
ainda estava amarrada à de uma comunidade e suas práticas” (FORST, 2010, p. 245).<br />
Contudo, até mesmo Aristóteles pode ser visto como herdeiro de um pensamento que o<br />
precedeu, pois cada tradição pode ser devedora em certos aspectos às outras tradições. Por<br />
exemplo, no que concerne ao cristianismo, há que se mencionar uma dívida com a tradição<br />
judaica e ele lembra que “os cristãos precisam muito escutar os judeus” xxvii (MACINTYRE,<br />
1991, p. 21); além disso, não se pode esquecer que o pensamento islâmico também se faz<br />
presente na reflexão aristotélica 31 e por último, MacIntyre afirma que vai tentar “atribuir a<br />
Hume o que lhe é devido com respeito a suas visões da justiça e ao lugar do raciocínio na<br />
gênese da ação” xxviii (MACINTYRE, 1991, p. 21s). Diz ainda<br />
Se eu tivesse tentado fazer o mesmo com Kant, este livro teria se tornado<br />
inexeqüivelmente longo. Mas toda a tradição prussiana na qual a lei pública<br />
e a teologia luterana foram fundidas, uma tradição que Kant, Fichte e Hegel<br />
tentaram universalizar, mas não conseguiram 32 , é claramente da mesma<br />
xxix<br />
ordem de importância que a tradição escocesa aqui exposta<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 22).<br />
Portanto, para MacIntyre nós temos uma tradição que vai de Homero até Aristóteles e<br />
que mais tarde passando por árabes e judeus chega até São Tomás de Aquino, sendo que em<br />
São Tomás de Aquino também se encontra outra tradição que veio da Bíblia e passou por<br />
Santo Agostinho antes de chegar até ele; e temos uma terceira tradição que é a tradição moral<br />
escocesa do aristotelismo calvinista o qual vai ao encontro de Hume (MACINTYRE, 1991, p.<br />
351). A quarta e última tradição abordada por ele, é justamente aquela para a qual ele volta a<br />
sua crítica, o liberalismo.<br />
30<br />
Notemos que MacIntyre faz questão de acentuar que o liberalismo deve ser visto “como mais uma tradição”, e<br />
não como uma corrente que se sobrepõe à tradição. E isso é tão evidente que o capítulo XVII dessa obra é<br />
intitulado “O liberalismo transformado em tradição”.<br />
31<br />
É claro que aqui ele se refere ao aristotelismo tomista, visto que Aristóteles antecede cronologicamente o<br />
pensamento islâmico.<br />
32<br />
Novamente temos aqui uma alfinetada que MacIntyre dá na visão universalista da moral.
Rainer Forst lembra que “a crítica de MacIntyre às teorias deontológicas da justiça<br />
assume a posição mais consistente de crítica ao liberalismo” (FORST, 2010, p. 243). Para<br />
MacIntyre não se pode defender um conceito universalista que prescinda do contexto de uma<br />
comunidade 33 . E esse teria sido o erro dos partidários do esclarecimento ao tentar<br />
fundamentar autonomamente a moral dando acento a uma razão objetiva e descontextualizada<br />
que despojava as pessoas de suas particularidades. Para Forst<br />
[...] a teoria de MacIntyre alimenta-se de uma única fonte: a concepção de<br />
que as pessoas desenvolvem suas autocompreensões, suas concepções do<br />
bem e do justo e sua capacidade para julgarem normativamente apenas nos<br />
contextos de uma determinada comunidade, uma determinada tradição. Os<br />
conceitos de pessoa, moral e razão não podem ser separados dos horizontes<br />
substantivos de uma forma de vida, um éthos. Do mesmo modo como não<br />
existe uma pessoa “impessoal” descontextualizada, também não existe uma<br />
moral neutra ou imparcial e nenhuma razão para além do contexto (FORST,<br />
2010, p. 243).<br />
A concepção do bem e do justo se forma dentro de um contexto e é somente<br />
relacionada a um determinado contexto que a vida do ser humano adquire sentido, pois “o eu<br />
só pode realmente encontrar a si mesmo quando não está desvinculado „racionalmente‟ (como<br />
em Kant ou Rawls) ou „emotivamente‟ (como em Nietzsche ou Sartre) das tradições e<br />
comunidades éticas e suas concepções do bem” (FORST, 2010, p. 246). É graças a<br />
comunidade na qual se aprende o que venha a ser o bem e o justo que recebemos nossa<br />
identidade e os papéis que desempenhamos. Para Aristóteles essa comunidade era a pólis,<br />
para Tomás de Aquino era a Igreja e para MacIntyre talvez pudéssemos dizer que seja a<br />
comunidade política, com a ressalva de que “a comunidade política é constitutiva para um<br />
conceito de virtude imanente à práxis somente quando providencia a todos os membros uma<br />
identidade que seja aceitável para eles” (FORST, 2010, p 248). Poderíamos, portanto, afirmar<br />
que para MacIntyre não existe lugar para uma moral independente e universal.<br />
O núcleo constitutivo da tradição, mais do que o conteúdo transmitido de geração em<br />
geração, é a dinâmica interna que lhe permite ser transmitida. Sendo que, nessa dinâmica, o<br />
conflito tem um papel fundamental, pois “tradições vivas significam uma continuidade de<br />
conflitos” (CARAVALHO, 1999, p. 82). Desse modo, MacIntyre inicia o segundo capítulo de<br />
Whose justice? Wich rationality?, lembrando que para Heráclito a justiça é conflito. Contudo,<br />
MacIntyre salienta que tal conflito não é divisivo, mas antes integrador das formas de vida<br />
social e que a história de qualquer sociedade é a história de um grupo de conflitos. Entende,<br />
33 A esse respeito ver GRAHAM, 2003, p. 27ss, onde ele analisa as três versões rivais da pesquisa moral: a<br />
enciclopedista (universalizante), a genealogista (relativista) e a tradição (situada histórica e filosoficamente).
ainda, que assim como ocorre com a história também ocorre com as tradições, e nos apresenta<br />
a sua definição de tradição:<br />
Uma tradição é uma argumentação, desenvolvida ao longo do tempo, na qual<br />
certos acordos fundamentais são definidos e redefinidos em termos de dois<br />
tipos de conflito: os conflitos com críticos e inimigos externos à tradição que<br />
rejeitam todos ou pelo menos partes essenciais dos acordos fundamentais, e<br />
os debates internos, interpretativos, através dos quais o significado e a razão<br />
dos acordos fundamentais são expressos e através de cujo progresso uma<br />
tradição é constituída xxx (MACINTYRE, 1991, p. 23).<br />
Embora o debate e o conflito sejam as “características fundamentais e motores do<br />
evolver histórico das tradições” (CARVALHO, 1999, p. 82), eles podem se desenvolver de<br />
diversas maneiras, indo desde a contribuição para que duas tradições opostas cheguem a um<br />
acordo; podendo, ainda, gerar incoerência interna; ou até mesmo extinguir a tradição pela<br />
destruição do acordo fundamental comum. Por isso, MacIntyre esclarece que uma tradição de<br />
pesquisa é um movimento no qual seus adeptos têm de se tornar conscientes dele e tentar<br />
participar de seus debates, pois “uma tradição torna-se madura apenas à medida que seus<br />
adeptos enfrentam e encontram um modo racional de atravessar ou contornar os encontros<br />
com posições radicalmente diferentes e incompatíveis” xxxi (MACINTYRE, 1991, p. 352).<br />
Lembrando, ainda, que, imiscuídos no debate, os contendores não sabem como sairão dele e<br />
esse é um fator importante na caracterização do debate 34 .<br />
O que não se pode admitir é que as tradições tenham necessariamente que se adaptar<br />
às estruturas conceituais definidas pelos modernos, pois<br />
[...] o ponto de vista das tradições é necessariamente contrário a uma das<br />
características fundamentais da modernidade cosmopolita: a crença confiante<br />
de que todos os fenômenos culturais devem ser potencialmente translúcidos<br />
à compreensão, que todos os textos devem poder ser traduzidos na<br />
xxxii<br />
linguagem que os adeptos da modernidade falam entre si<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 353).<br />
Crença essa que aparece, nos modernos, sob a forma de tradutibilidade universal.<br />
Para MacIntyre indivíduo e tradição podem ter diferentes modos de relacionamento,<br />
desde “uma adesão não-problemática, passando por tentativas de corrigir ou redirecionar a<br />
tradição” xxxiii (MACINTYRE, 1991, p. 351), podendo até mesmo chegar ao ponto de opor-se<br />
amplamente a ela com alegações fundamentais. E essa última relação com a tradição pode, de<br />
fato, ser tão formadora e importante quanto qualquer outra. Como bem pondera Porter (2003,<br />
p. 53), ao afirmar que quando “conflitos entre tradições rivais forem resolvidos, as partes em<br />
34 Talvez aqui pudéssemos estabelecer analogia com a idéia de “posição original” por trás de um “véu de<br />
ignorância” desenvolvida por John Rawls na sua obra “Uma teoria da justiça”, capítulo III (Cf. RAWLS, 2000,<br />
pp. 127-208).
conflito vão encontrar-se cada vez mais convergindo para uma descrição comum do mundo<br />
observado” xxxiv .<br />
Contudo, há que se ter em conta a possibilidade dos desacordos não serem resolvidos,<br />
pois, como já assinalamos, é possível que do choque entre duas tradições, ou até mesmo, de<br />
duas compreensões diferentes dentro da mesma tradição, não se gere um acordo, mas antes a<br />
extinção de uma das partes contendoras, ou de ambas. Helder Carvalho diz que “os sistemas<br />
filosóficos podem sim ser racionalmente derrotados, ou até mesmo auto-derrotados” (1999, p.<br />
86). Ainda assim, não há como escapar dessa questão, visto que a tradição se move à custa<br />
dos conflitos internos e externos, os quais representam os conflitos presentes em nossa cultura<br />
e sociedade e marca a indissolubilidade entre ética e vida social, o que, para Aristóteles<br />
caracterizava sua concepção de política.<br />
Tendo por base que a tradição emerge de uma sociedade situada e contextualizada e<br />
que, hodiernamente presenciamos no reino da vida prática, controvérsias morais, políticas e<br />
religiosas, fica mais fácil entender porque não se pode alcançar um consenso na filosofia<br />
moral acadêmica; antes, vige na filosofia pós-iluminista uma inerradicável discordância e “a<br />
filosofia torna-se uma questão de opinião” xxxv (MACINTYRE, 1991, p. 360), que não fornece<br />
um padrão para o reto julgamento.<br />
Afirma MacIntyre que “o projeto de fundar um tipo de ordem social, no qual os<br />
indivíduos possam emancipar-se da contingência e da particularidade da tradição, através do<br />
recurso a normas [...] universais [...] não foi um projeto de filósofos” xxxvi (MACINTYRE,<br />
1991, p. 361), mas antes o projeto resultante da moderna e individualista sociedade liberal. O<br />
que não se percebe é que o liberalismo quando se opõe à tradição e apela para a racionalidade,<br />
também se transforma em tradição. Esse liberalismo que pretendia, de início, fornecer os<br />
princípios racionalmente justificáveis para se viver pacificamente em sociedade, acaba<br />
conduzindo os indivíduos a viver de acordo com a concepção de bem que lhe apraz e se<br />
mostra pouco tolerante com concepções rivais de bem (MACINTYRE, 1991, p. 361) em<br />
nome da expressão de preferências de indivíduos ou de grupos.<br />
Os bens que se apresentam à sociedade liberal são muitos, visto que os objetivos dos<br />
indivíduos também são heterogêneos, daí a importância do indivíduo saber negociar para que<br />
suas preferências possam ser implementadas, pois como salienta MacIntyre<br />
[...] é importante para todas as áreas da vida humana, e não apenas para as<br />
transações explicitamente políticas e econômicas, que haja regras aceitáveis<br />
de negociação. E o que cada indivíduo deve esperar dessas regras é que elas
devam ser tais que os tornem capazes de efetivamente implementar suas<br />
preferências. Esse tipo de eficácia, portanto, torna-se um valor fundamental<br />
na modernidade liberal xxxvii (MACINTYRE, 1991, p. 363).<br />
E porque, dentro desse esquema, a função das regras de justiça será fornecer os limites<br />
para os processos de negociação – não cabendo nenhuma relevância à questão do mérito – tal<br />
esquema conflita com as concepções aristotélicas e humeanas de justiça. Além disso, para o<br />
liberalismo, o querer individual passa a ser contado como boa razão para a ação 35 : O fato de<br />
se preferir tal coisa já pode ser considerado razão suficiente para se agir de modo a satisfazê-<br />
la 36 (MACINTYRE, 1991, p. 364). Ao passo que nem em Aristóteles e nem em Hume isso é<br />
concebível. E quando as preferências conflitam? Responde MacIntyre que nesse caso a justiça<br />
implica “um conjunto de princípios reguladores, através dos quais a cooperação na<br />
implementação das preferências possa ser alcançada, à medida do possível, e as decisões<br />
tomadas quanto a que tipos de preferência têm prioridade sobre outros” (MACINTYRE,<br />
1991, p. 368).<br />
Diante disso, MacIntyre irá afirmar que os debates liberais não têm solução, pois<br />
expressam preferências e se tornam intermináveis, o que é perceptível pelo modo como a<br />
ordem liberal lida com seus conflitos: é mais uma questão de veredictos do que de debates e<br />
nessa ordem “os advogados, e não os filósofos, são o clero do liberalismo” xxxviii<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 370). E conclui que, mesmo o liberalismo rejeitando uma teoria<br />
suprema do bem, acaba por expressar que a manutenção continuada da ordem social se<br />
constitui em seu supremo bem (MACINTYRE, 1991).<br />
Nesse panorama de conflitos entre as diversas tradições, o liberalismo deve ser visto<br />
como mais uma tradição e não como suplantando as tradições. Diz MacIntyre que<br />
[...] há um número cada vez maior de pensadores liberais que, por uma<br />
razão ou por outra, reconhecem que sua teoria e sua prática situam-se além<br />
de uma tradição fundada e baseada em dados contingentes. Essas estão, de<br />
fato, em conflito com outras tradições opostas e, como o fazem outras<br />
tradições, reivindicam o direito de adesão universal, porém são incapazes de<br />
se evadir da condição de serem, também elas, uma tradição. Até mesmo isso,<br />
entretanto, pode ser reconhecido sem qualquer inconsistência e tem sido<br />
35 MacIntyre lembra que os desejos podem ser reconhecidos como móveis para a ação, mas “a novidade foi a<br />
transformação das próprias expressões de desejo em primeira pessoa, sem maiores qualificações, em<br />
formulações de uma boa razão para a ação, em premissas para o raciocínio prático (1991, p. 364). “What was<br />
new was the transformation of first-person expressions of desire themselves without further qualification, into<br />
statements of a reason for action, into premises for practical reasoning” (WJ, p. 338).<br />
36 MacIntyre elucida esse procedimento ao lembrar que para Aristóteles o indivíduo é o cidadão; para Tomás de<br />
Aquino é aquele que pesquisa o seu bem e o bem da sua comunidade; para Hume o indivíduo é aquele que<br />
participa de uma sociedade; ao passo que para a modernidade liberal, o indivíduo é indivíduo enquanto<br />
raciocina (MACINTYRE, 1991, p. 365).
econhecido por escritores liberais como Rawls, Rorty e Stout xxxix (1991, p.<br />
371).<br />
O que o autor está procurando nos mostrar é que o liberalismo só aceita debater com<br />
quem adere às suas premissas e ele defende que o debate deve ocorrer num fórum neutro, sem<br />
regras predefinidas. Diz ele que o fato do liberalismo não fornecer uma base neutra, devendo<br />
configurar-se como mais uma tradição – inclusive com concepções contestáveis de<br />
racionalidade prática e justiça – não implica que tal base não exista (MACINTYRE, 1991, p.<br />
372). Defende MacIntyre que o liberalismo deve ser visto como qualquer outra tradição que<br />
tem sua problemática interna, seus debates internos e que deve debater externamente sem<br />
ditar as regras para tal debate, mas deve antes reconhecer que não existe nenhum padrão<br />
comum para se julgar pontos de vistas adversários, pois “não há um conjunto de padrões<br />
independentes de justificação racional através dos quais as questões entre tradições<br />
adversárias possam ser decididas” xl (MACINTYRE, 1991, p. 377).<br />
1.3 A leitura macintyreana da ética aristotélica 37<br />
A moralidade desenvolvida por MacIntyre se vale da ética das virtudes oriunda de<br />
Aristóteles, mas, segundo MacIntyre o pensamento ético aristotélico se forma a partir de uma<br />
herança bastante contextualizada. Aristóteles teria herdado grande parte do seu pensamento de<br />
diferentes contextos, não só filosófico como também mitológico, ou seja, ele é herdeiro de<br />
uma tradição. Inicialmente da tradição advinda dos mitos.<br />
É claro que Aristóteles não compartilharia com este tipo de afirmação, pois não se via<br />
como herdeiro de uma tradição, mas antes como alguém que corrige os erros que o<br />
antecederam. Sobre isto nos lembra Helder Carvalho<br />
[...] interpretar a ética aristotélica das virtudes na perspectiva de uma<br />
tradição de pesquisa racional particular, é uma abordagem claramente nãoaristotélica.<br />
Tratar Aristóteles como parte de uma tradição, mesmo como seu<br />
maior representante, é assumir uma perspectiva epistemológica que o<br />
próprio Aristóteles jamais pretendeu. Embora Aristóteles tivesse<br />
reconhecido que teve predecessores, a relação que ele traçou entre sua<br />
própria reflexão e a daqueles que o precederam é situada na perspectiva de<br />
uma substituição dos erros ou, pelo menos, das verdades parciais daqueles,<br />
pela interpretação verdadeira e completa que sua visão oferecia<br />
(CARVALHO, 1999, p. 90).<br />
Diante disso, podemos dizer que a leitura que MacIntyre faz do pensamento<br />
aristotélico se dará de modo a enquadrá-lo dentro de um horizonte mais amplo e interligado<br />
37 Esse terceiro ponto abordado encontra-se quase na sua totalidade, salvo poucas e superficiais alterações, em<br />
nossa monografia de especialização: <strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong>, 2007, pp. 13-29.
com um passado que contribui enormemente para a sua reflexão ética. Entre estas<br />
contribuições merece destaque principalmente aquela advinda da mitologia.<br />
O mito tem uma contribuição efetiva na formação do povo grego. A sociedade grega,<br />
como tantas outras sociedades antigas e até mesmo modernas, vivenciava intenso conflito<br />
entre as mais diversas camadas que a constituíam (MACINTYRE, 1991, p. 12). Atenas vivia<br />
em constante guerra com as demais cidades-estado e até mesmo com outras nações vizinhas.<br />
Grande parte destes conflitos é ilustrada por Homero em suas duas obras magnas: Ilíada e<br />
Odisséia. Elas são obras fundamentais para entendermos estes conflitos, pois preservaram<br />
uma amostra de tradições incompatíveis de justiça e de racionalidade prática.<br />
A tradução dos poemas homéricos limita aquilo que suas palavras expressavam na<br />
época. As palavras já não significam aquilo que significavam originalmente. Cada tradutor<br />
acaba fundindo os conceitos homéricos com os conceitos da época em que escreve<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 30), numa demonstração que cada ambiente cultural adapta Homero<br />
às suas necessidades culturais e, até mesmo, morais.<br />
A palavra homérica díke, por exemplo, tem sido traduzida por justiça, mas esta<br />
tradução pode ser enganosa, ou mal compreendida. Díke significava que o universo tinha uma<br />
única ordem fundamental 38 , e desta forma, uma díke seria reta se estivesse de acordo com a<br />
thémis, aquilo que é ordenado, estabelecido (MACINTYRE, 1991, p. 25). A ordem exige que<br />
o homem saiba qual é o seu lugar dentro da estrutura e que execute aquilo que o seu papel<br />
exige. O homem que cumpre bem o seu papel torna-se agathós, torna-se bom.<br />
A areté, traduzida como virtude, é a qualidade que torna o indivíduo capaz de fazer<br />
aquilo que o seu papel exige 39 (MACINTYRE, 1991, p. 26). Tanto areté quanto pensar bem,<br />
ou pensar solidamente são questões importantes nos poemas homéricos. O pensar bem pode<br />
ser traduzido como thymos que significa aquilo que move alguém para frente (MACINTYRE,<br />
38<br />
A fundamentação de toda a racionalidade antiga era a ordem presente na natureza, na physis (MACINTYRE<br />
1991, p. 25).<br />
39<br />
A moralidade antiga e medieval valorizava mais o fazer, a ação, ao contrário da moderna que valoriza a<br />
intenção (MACINTYRE, 1991, p. 31). Na antiguidade a ação individual deveria estar sempre em consonância<br />
com a ação coletiva, enquanto que na modernidade valoriza-se o interesse. Hoje nossas ações podem ser<br />
causadas por desejos particulares. Afirma MacIntyre: “Nos nossos usos modernos de tais expressões,<br />
freqüentemente pressupomos alguma visão da natureza humana na qual as ações são a expressão de desejos ou<br />
são causadas por desejos, e segundo a qual as cadeias de raciocínio prático sempre terminam em algum „eu<br />
quero‟, ou „isto me agrada‟. Deste ponto de vista, toda razão para ação é uma razão para um indivíduo<br />
particular” (MACINTYRE, 1991, p. 32). “In our modern uses of such expressions we often presuppose some<br />
account of human nature in which actions are the expression of or are caused by desires and according to<br />
which chains of practical reasoning always terminated in some „I want‟ or some „it pleases me‟. From this<br />
point of view every reason for action is a reason for some particular individual” (WJ, p. 21)
1991, p. 27), é o seu eu como um tipo de energia 40 . As paixões procuram desviar o thymos<br />
daquilo que seria apropriado fazer, contudo, faz parte do ser agathos não permitir que o<br />
thymos, inflado pelas paixões, dite suas ações (MACINTYRE, 1991, p. 30). Fazer, no<br />
presente, aquilo que os deuses ordenam, garante, no futuro, os seus favores. Depois de<br />
Homero alguns conceitos vão adquirindo outro sentido, sendo o caso, por exemplo, de areté,<br />
que, às vezes significa coragem, masculinidade e em outras situações, cautela, prudência;<br />
podendo tanto significar excelência quanto vitória.<br />
As decisões tomadas pelos personagens homéricos eram conforme as exigências da<br />
díke, da areté e do thymos; assim como a responsabilidade por tudo àquilo que o seu papel<br />
exigia (MACINTYRE, 1991, p. 34). A decisão só podia ser conforme o que a justiça<br />
determinava, pois se referia à ordem cósmica, a díke. As estruturas da vida normal são<br />
consideradas expressões da ordem do cosmos (MACINTYRE, 1991, p. 37). As comunidades<br />
gregas eram entendidas como exemplos da ordem da díke e esta compreensão está presente<br />
nos poemas homéricos 41 , constituindo o pano de fundo para o exercício das virtudes, o qual<br />
requer o conhecimento e o desempenho do papel que é próprio a cada cidadão. Exemplo disto<br />
é o enredo da Ilíada onde encontramos um conflito entre aquilo que a díke exige<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 38) e aquilo que é reivindicado pela areté.<br />
Para um grego antigo, ser bom significava desempenhar bem o seu papel<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 41). E esta forma de avaliação era uma herança homérica, o homem<br />
tinha de ser bom tanto na realização de sua atividade quanto na arte de julgar, de discernir. O<br />
homem tinha de ter bom discernimento, pois o conceito de melhor provê a cada atividade um<br />
bem em direção ao qual as pessoas se movem e não há, necessariamente, regras para este<br />
movimento. Saber aplicar as máximas é uma capacidade que não se especifica por regras, ou<br />
seja, não há regras que prescrevam o que se deve fazer para atingir os bens próprios de cada<br />
atividade.<br />
Excelência e vitória não estão necessariamente unidas. Vitória está unida à<br />
recompensas externas como: riquezas, poder, posição social, prestígio os quais são mais<br />
desejáveis que os bens de excelência. Estas recompensas externas são chamadas de bens de<br />
eficácia. As qualidades necessárias para se alcançar os bens de excelência são as mesmas que<br />
40 Ulisses trava um diálogo com seu thymos nos parágrafos 404 à 410 da Odisséia e conclui que o bom guerreiro,<br />
o guerreiro agathon deve resistir corajosamente sempre, jamais desistir.<br />
41 O exercício das virtudes heróicas requer um tipo determinado de estrutura social na qual toda moralidade está<br />
sempre amarrada ao socialmente local e particular e onde as aspirações à universalidade são uma ilusão. Não<br />
há como possuir, nestas sociedades heróicas, uma ordem unitária, ou um padrão, a não ser como parte de uma<br />
tradição herdada (MACINTYRE, 1991, pp. 44-45).
conduzem aos bens de eficácia, contudo as virtudes para se alcançar um ou outro são<br />
diferentes. A disposição para seguir certas regras da justiça, no entanto, é considerada virtude<br />
para ambas (MACINTYRE, 1991. p. 44).<br />
Quando se define justiça em termos de mérito se depara com a seguinte questão: como<br />
distribuir recompensa externa para as mais diferentes formas de realização, como por<br />
exemplo, realizações de um soldado, de um camponês e de um poeta. Não há um padrão que<br />
possibilite isto, exceto se for criada uma ordem unitária, uma estrutura de vida humana, uma<br />
comunidade e esta comunidade é a pólis. Na pólis a preocupação não é o bem particular, mas<br />
o bem humano, coletivo. A ordenação de bens na pólis visará identificar o lugar de cada um<br />
dentro dos padrões estabelecidos (MACINTYRE, 1991, p. 45).<br />
A justiça de uma pólis é expressa nas ações de seus cidadãos, à medida que eles<br />
perseguem os bens de excelência. Noutra perspectiva a justiça da pólis foi compreendida<br />
como direcionada para os bens de eficácia. Contudo, a adesão a um tipo de bem não exclui,<br />
necessariamente, o outro. Buscar e cultivar um determinado bem está diretamente ligado à<br />
busca e o cultivo do outro, muito embora, seja possível subordinar um bem ao outro. A<br />
dificuldade está quando a pólis tem de fazer a escolha por um ou outro tipo de bem<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 47).<br />
A justiça da eficácia é como se fosse resultado de um contrato que implica obrigações<br />
a todas as camadas da sociedade e o desrespeito a ela acarretará prejuízo ao outro, podendo<br />
resultar também em prejuízo próprio na medida em que se perde a cooperação dos outros;<br />
enquanto na justiça de excelência a quebra de regras terá como maior prejudicado aquele que<br />
a quebrou, de forma que a punição é uma educação para benefício próprio.<br />
Para a justiça da excelência a virtude pode ser definida antes do estabelecimento de<br />
regras ao se tratar todos conforme seus merecimentos. Para a justiça da eficácia, justo é quem<br />
obedece às regras estabelecidas e virtude será somente a disposição para obedecer as estas<br />
regras (MACINTYRE, 1991, p. 51). Em ambas as concepções a justiça é, na ordem social,<br />
uma entre outras virtudes e é amparada pelas virtudes da temperança, da coragem e da<br />
amizade. A temperança para os bens de excelência é disciplinar os desejos, para os bens de<br />
eficácia é a capacidade de alcançar eficientemente os bens desejados.<br />
A coragem será, para ambas as concepções, a capacidade de resistir e enfrentar danos<br />
e perigos para se alcançar um bem. Sendo que a definição deste bem varia de uma para outra<br />
concepção. A amizade nos bens de excelência é o respeito mútuo que emerge da adesão à um
único bem, na medida em que é característico dos amigos serem úteis uns aos outros e<br />
importar-se uns com os outros; enquanto para os bens de eficácia a amizade é uma virtude à<br />
medida que é fonte de prazer e utilidade (MACINTYRE, 1991, p. 53).<br />
A justiça, concebida como diké foi necessária, para que o bem e o melhor fossem<br />
ordenados como o telos a ser perseguido pela pólis e a constituísse como uma ordem mais<br />
elevada da condução da vida. A justiça deve ser entendida, a partir de então, como disposição<br />
que visa o bem geral da pólis (MACINTYRE, 1991, p. 55). Os atenienses concebiam sua<br />
cidade desta forma, embora na sua relação com outras cidades-estado esta concepção não<br />
prevalecesse e defendessem a idéia de que os mais fortes poderiam impor sua vontade sobre<br />
os mais fracos.<br />
Na Atenas de Péricles os bens de eficácia têm supremacia na sua relação com as<br />
demais cidades-estado. Nesta época o imaginário, presente na visão homérica começa ceder<br />
lugar ao inteligível. Podemos perceber acenos desta natureza na poesia de Sófocles, o qual se<br />
valendo de sua arte faz uma importante e pertinente crítica à estrutura política vigente.<br />
Quando Sófocles escreveu suas peças Atenas havia sido vítima de uma peste, tal qual a cidade<br />
de Tebas, de Édipo.<br />
Pesava sobre Péricles uma maldição por um assassinato sacrílego praticado por um<br />
ancestral (MACINTYRE, 1991, p. 70) e o mesmo ocorre com Édipo: Laio havia sido acusado<br />
do assassinato do suicida Crísipo, filho de Pélops, rei da Frigia e por isto foi amaldiçoado por<br />
este rei. Para derrotar Esparta os atenienses buscam apoio das demais cidades; para derrotar<br />
Tróia, os gregos buscam a ajuda de Filocteto. Em Lemnos, os atenienses haviam aprisionados<br />
os rebelados de Samos; em Lemnos, Filocteto é abandonado. Atenas constrói um templo a<br />
Asclépio; Filocteto recebe promessa de cura pelos seguidores de Asclépio. Atenas se depara<br />
com o conflito entre os bens de excelência e os bens de eficácia; Neoptólemo se depara com o<br />
conflito entre a honra e o roubo do arco de Filocteto. Péricles afirma ter consideração pelos<br />
que sofreram injustiças; Neoptólemo se arrepende de praticar injustiça à Filocteto<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 73). Há, ainda, a questão da justiça dos deuses e dos homens<br />
presente no enredo de Antígona e na Atenas de Péricles.<br />
Podemos perceber, desta forma, que o mito homérico oferece elementos motivacionais<br />
para o agir dos gregos e o agir dos gregos oferece elementos para o mito de Sófocles, ou seja,<br />
o mito, em Sófocles, possui elementos da racionalidade, ou melhor dizendo, possui uma<br />
mistura do imaginário com o racional. A etapa seguinte da reflexão grega será
prioritariamente racional, filosófica. Os conflitos presentes no mito e na pólis, pois a pólis é o<br />
cenário onde tudo acontece, ganharão a reflexão crítica da filosofia.<br />
A compreensão que Aristóteles tem de justiça, ou mesmo das virtudes, está<br />
intimamente relacionada com um locus apropriado para que ela ocorra, ou seja, requer um<br />
espaço próprio. Talvez aqui, como em outros aspectos, haja um distanciamento entre ele e<br />
Platão 42 . Contudo, é possível ver Aristóteles como alguém preocupado mais em<br />
complementar e corrigir (MACINTYRE, 1991, p. 107), do que simplesmente discordar de seu<br />
mestre.<br />
E é neste sentido que devemos entender a passagem da Ética a Nicômaco 1096a15, “...<br />
a piedade exige que honremos a verdade acima de nossos amigos” (ARISTÓTELES, 1973, p.<br />
252), a qual se tornou célebre como provérbio latino “Amicus Platon, sed magis amica<br />
veritas” (HELFERICH, 2006, p. 40). É bom lembrar que, por vezes, a preocupação excessiva<br />
em respeitar as autoridades intelectuais constituídas 43 pode nos impedir de elaborarmos, ou de<br />
nos dedicarmos à pesquisa de maneira mais original e imparcial. Por isso, Aristóteles ressalta<br />
que está mais comprometido com a verdade do que com o pensamento do seu mestre.<br />
E a verdade para Aristóteles é correspondencialista, ou seja, o que se diz do ser deve<br />
corresponder com aquilo que o ser é. E o que é a cidade? A cidade é o locus apropriado para a<br />
realização das potencialidades humanas e a condição para que a justiça se estabeleça nas<br />
relações entre os cidadãos 44 . Desta maneira, Aristóteles entendia que a verdade acerca da<br />
cidade só ocorreria caso a cidade fosse justa e possibilitasse relações justas entre iguais. E é<br />
justamente isso que leva Aristóteles a se preocupar com uma pólis mais justa, pois a justiça<br />
tem a ver com a verdade sobre a cidade; a justiça deve ser constitutiva da essência da pólis.<br />
42 Platão aceitava a possibilidade de uma justiça individual, como veremos a seguir.<br />
43 Talvez o maior exemplo disso, seja que na base do erro acerca da física de Ptolomeu estava um erro advindo<br />
da concepção de física de Aristóteles, o qual dividia o mundo em sublunar e supralunar. Esta idéia de<br />
independência em relação à autoridade intelectual constituída é encontrada também na obra de Thomas Kuhn,<br />
“Estrutura das revoluções científicas”, principalmente no capítulo IX, intitulado “As revoluções como<br />
mudanças de concepção de mundo”; e ainda podemos encontrá-la nos textos de Freud, “O futuro de uma<br />
ilusão” e “O mal-estar na civilização”. No livro “A dança do universo”, de Marcelo Gleiser, encontramos essa<br />
afirmação: “Mudança para melhor ou para pior, sempre demanda coragem. Abandonar velhas idéias (...) não é<br />
nada fácil, (...) uma das características mais importantes dos grandes cientistas é sua independência intelectual.<br />
(...) para que um cientista possa explorar novos territórios é necessário que tenha a coragem de abandonar os<br />
antigos” (GLEISER, 1998, P. 254). Também Bertrand Russel afirma categoricamente “[...] não deveríamos<br />
ter demasiado respeito por homens eminentes” ao lembrar que Leibniz incorreu em erro por não aceitar que<br />
sua tentativa de construir uma lógica matemática viesse a contradizer as conclusões do pensamento aristotélico<br />
(RUSSELL, 1974, p. 101).<br />
44 Cabe lembrar que na Grécia Antiga, somente homens adultos, gregos e proprietários de terras eram<br />
considerados cidadãos.
Para Aristóteles a pólis fornece uma espécie de substrato, de padrão normativo para o<br />
julgamento do que venha ser a justiça e as virtudes e é somente nela que o homem consegue<br />
realizar a essência de sua natureza enquanto animal gregário, ou político. É a pólis que<br />
permite ao homem atingir, de forma racional, a eudaimonia, o bem viver. O homem grego,<br />
sobretudo o ateniense, não se concebe neste mundo sem a pólis. A pólis é por excelência o<br />
local propício para a mais plena realização da vida humana, pois o homem é, por natureza, um<br />
animal político (ARISTÓTELES, 1999, p. 146). Sendo assim, a vivência na pólis deve<br />
conduzir o ser humano rumo ao télos político, qual seja, a vida boa. Mas viver na pólis é viver<br />
em constante relação com os mais diferentes tipos de cidadãos, todos gozando dos mesmos<br />
direitos.<br />
Por isso, na questão sobre o tipo de vida na pólis grega Aristóteles fornece duas<br />
argumentações, mostrando, através da primeira delas, que os vários resultados da ação<br />
humana não acontecem por acaso e que só o bom e melhor podem oferecer o télos para a ação<br />
humana (MACINTYRE, 1991, p.102). Subjaz nesta afirmação uma aprovação à concepção<br />
platônica dos bens de excelência e das virtudes e uma desaprovação ao projeto alexandrino de<br />
adotar o estilo de vida persa priorizando os bens de eficácia. E no seu segundo argumento irá<br />
propor uma correção ao pensamento de Platão. Assim como Platão, Aristóteles também vê a<br />
democracia de forma negativa, mas seu compromisso com a defesa da pólis se dá de forma<br />
diferente de Platão.<br />
Aristóteles não era utópico e para ele nenhuma pólis exemplificava o melhor tipo<br />
possível de pólis (MACINTYRE, 1991, p.103). A aplicabilidade da sua Política é bem<br />
diferente da aplicabilidade da República de Platão. À exemplo da justiça platônica exposta na<br />
República e que não fora encontrada em nenhuma pólis real, Aristóteles oferece no livro V da<br />
Ética à Nicômaco uma visão de justiça-assim-como-deve-ser-compreendida, embora na<br />
prática das póleis reais ela se apresente deficiente em vários aspectos, ainda assim os<br />
princípios implícitos nela emergem da melhor justiça para o melhor tipo de pólis.<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 104).<br />
Algumas visões apresentam Aristóteles em discordância com Platão, porém podemos<br />
vê-lo como empenhado em corrigir e completar o trabalho do seu mestre, muito mais do que<br />
em opor-se a ele. Dirá MacIntyre: “É muito fácil cair na visão, há muito estabelecida e<br />
altamente enganadora, que apresenta Platão e Aristóteles como representantes de alternativas<br />
filosóficas fundamentalmente distintas e opostas, um lugar comum durante séculos, e que
ainda encontra seguidores” xli (MACINTYRE, 1991, p. 107). Isso significa que a construção<br />
aristotélica é informada por objetivos platônicos, por materiais platônicos.<br />
Podemos entender Aristóteles como alguém em busca de respostas às questões<br />
suscitadas por Platão, tanto na questão ética quanto política. Aristóteles não está se opondo ao<br />
trabalho exposto na República, mas procurando refazê-lo. Há, de fato, uma aproximação entre<br />
o Aristóteles da Política e o Platão de Leis, pois ambos preocupam-se com uma questão<br />
prática, o excesso de injustiças. Além disso, os dois se aproximam visto que, se na República<br />
acentua-se a epistéme do governante, em Leis é a phrónesis que tem um papel fundamental<br />
(MACINTYRE, 1991, p.108); Se na República dá-se pouca importância à experiência, em<br />
Leis ela é muito importante. Isso mostra que Aristóteles tem posição pouco divergente de<br />
Platão em seus escritos tardios, pois em Leis a atitude de Platão já havia sido modificada.<br />
Contudo, não podemos cair no exagero de afirmar que Aristóteles permaneceu sempre<br />
platônico ou que Platão se tornou um aristotélico; MacIntyre diz que “os escritos de<br />
Aristóteles sobre ética e política podem ser vistos como explicitando ou resolvendo os<br />
problemas propostos na República” xlii (MACINTYRE, 1991, p. 109).<br />
Há, entretanto, um aspecto no qual Aristóteles parece estar em desacordo com Platão.<br />
A justiça proposta por Platão na República parece ser uma virtude individual independente da<br />
justiça que é ordenada na pólis. Segundo MacIntyre “Platão parece acreditar que a justiça<br />
como uma virtude, ou melhor, como o elemento-chave na virtude do ser humano individual, é<br />
independente da justiça que ordena a pólis e a antecede” xliii (MACINTYRE, 1991, p. 109).<br />
Aristóteles, à maneira de Homero e Sófocles, compreende o ser humano como intimamente<br />
ligado a um grupo social e é este grupo que lhe fornecerá a compreensão do que seja a justiça.<br />
Homero afirma, através de Nestor, que “o homem que não tem um clã, também carece de<br />
thémis” 45 (HOMERO, 2004, p. 213). O Filocteto, de Sófocles, declara que estar privado de<br />
amigos e de uma pólis tornou-o “um cadáver entre os vivos” 46 (MACINTYRE, 1991, p. 110).<br />
Desta forma, também podemos ler no livro I da Política, que um ser humano separado<br />
da pólis fica privado de alguns atributos essenciais a um ser humano, sendo o primeiro deles a<br />
dikaiosyne – a justiça, seguida pela phrónesis – a sabedoria prática. Isolado da pólis o ser<br />
humano torna-se um animal selvagem, pois “as regras da justiça não podem ser<br />
compreendidas como a expressão dos desejos daqueles que ainda não são educados na justiça<br />
45 Cf. Ilíada IX, 50. Ainda com relação à importância da comunidade podemos ler em Odisséia IX: “Afirmo-vos<br />
que não pode haver vista mais agradável para alguém que de sua própria terra. [...] Quanto é verdade que não<br />
há nada mais doce que o lar, e os parentes e a família [...]” (HOMERO, s/d, p. 93).<br />
46 SÓFOCLES, Filoctetes, 108.
da pólis” 47 xliv (MACINTYRE, 1991, p.111). Por isto deve ser rejeitada a justiça que<br />
prescreva que os desejos de todos devem ser levados em consideração 48 .<br />
Embora Platão não considere a justiça do indivíduo como dependente da justiça da<br />
pólis, é possível encontrar nos livros VI e VII da República, a idéia de que apenas uma<br />
educação dentro de uma comunidade fornecerá o conhecimento da forma da justiça sem a<br />
qual não se pode ser virtuoso. Sócrates poderia parecer um contra-exemplo desta idéia, pois<br />
sua formação ética estava acima da vivenciada na pólis. Sócrates não estaria sozinho nesta<br />
posição, pois Aristóteles reconhecia a existência de pessoas excepcionais, as quais se<br />
destacavam no esquema moral oferecido pela pólis, tais como Sólon, em Atenas e Licurgo,<br />
em Esparta. Para Aristóteles, Sócrates seria o fundador de uma comunidade filosófica<br />
institucionalizada por Platão na Academia (MACINTYRE, 1991, p.112). Na interpretação de<br />
Aristóteles é dentro de um tipo específico de contexto social que as virtudes intelectuais<br />
devem ser exercidas (MACINTYRE, 1991, p. 113).<br />
Esta argumentação aristotélica teria sua origem com Homero e fora estendida por<br />
pensadores posteriores, os quais acabaram por gerar dois tipos de tradição: uma seguida pelos<br />
sofistas e por Tucídides e outra seguida por Aristóteles, o qual percebe na pólis o esquema<br />
para desenvolver sua compreensão de justiça, de raciocínio prático e da relação entre eles 49 .<br />
O tratamento dado por Aristóteles à questão da justiça e da racionalidade prática só<br />
podem ser entendidos um à luz do outro e “ambos à luz do que ele diz sobre a pólis” xlv<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 117). Numa pólis o bom cidadão deve ter habilidade tanto para<br />
governar quanto para ser governado. “O bem na pólis [...] exige a habilidade de exercer<br />
virtudes específicas” xlvi tais como sophrosyne - prudência, e dikaiosyne – justiça<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 117). A justiça faz diferentes exigências conforme os diferentes<br />
papéis sociais exercidos pelo indivíduo na sociedade. Sendo que o cidadão não deve apenas<br />
obedecer, mas também respeitar a lei, a dikaiosyne é usada para se referir a tudo o que a lei<br />
exige: o exercício de todas as virtudes por cada cidadão nos seus relacionamentos com os<br />
demais cidadãos. E é justamente isso que diferencia a dikaiosyne de sua aplicação enquanto<br />
47<br />
A pólis é a pré-condição para a areté.<br />
48<br />
Por isto as doutrinas utilitaristas que prescrevem que os desejos de todos devem ser levados em consideração<br />
são incompatíveis com Aristóteles.<br />
49<br />
MacIntyre irá afirmar que “não é meramente a pólis, mas o próprio kósmos, a própria ordem das coisas, que<br />
fornece o contexto no qual a justiça e a racionalidade prática estão relacionadas” (MACINTYRE, 1991, p. 115).<br />
“What matters for my present argument is the claim that it is not merely the polis but the kosmos itself, the very<br />
order of things, which provides within which justice and practical rationality are related” (WJ, p. 101-102).
virtude particular. É neste sentido que a dikaiosyne pode ser entendida tanto como distributiva<br />
quanto como corretiva.<br />
A justiça distributiva deve estar de acordo com algum merecimento. Muito embora a<br />
democracia favoreça distribuições iguais entre todos os cidadãos livres, o sistema defendido<br />
por Aristóteles é o da aristocracia, o qual defende a recompensa de acordo com a areté.<br />
Segundo Aristóteles um dos erros da democracia é não ser seletiva na admissão à cidadania,<br />
assim como o erro da oligarquia é selecionar através de critérios irrelevantes em relação à<br />
virtude. Ambos os sistemas falham por não conceber que cabe à pólis “treinar seus cidadãos<br />
no exercício das virtudes” xlvii (MACINTYRE, 1991, p. 120).<br />
À medida que o homem passa pelos vários papéis sociais, tanto como governante<br />
quanto como governado terá, de forma honrosa, de aprender a exercer uma série de virtudes<br />
bem como o princípio da justa distribuição e, ainda, reconhecer que bens são devidos às<br />
pessoas nas mais diversas situações. Por isto a justiça tem importância fundamental entre as<br />
virtudes, pois apenas o homem justo, moderado, corajoso e generoso poderá fazer<br />
julgamentos justos. A justiça distributiva seria, portanto, “a aplicação de um princípio de<br />
merecimento de acordo com uma grande variedade de situações” xlviii (MACINTYRE, 1991,<br />
p. 121). Para que isto ocorra da melhor forma possível, deve haver uma visão comum de<br />
como tais distribuições devem ser medidas e estas condições são encontradas somente na<br />
pólis.<br />
Diferentes ocupações, diferentes postos públicos, nos diferentes graus de execução<br />
devem ser medidos conforme sua importância para o bem da cidade e do cidadão, tanto pela<br />
importância das honras recebidas quanto das punições e privações. Somente na pólis torna-se<br />
possível a integração e a ordenação dos bens específicos dos tipos de atividades e o<br />
reconhecimento de padrões impessoais de excelência, pois é nela que as atividades são<br />
hierarquicamente ordenadas em função de suas relações. A pólis visa alcançar todos os bens<br />
de seus cidadãos e o mais alto bem a ser alcançado é a theoria, um certo tipo de compreensão<br />
contemplativa (MACINTYRE, 1991, p. 122), numa realização intelectual interna à atividade<br />
do pensamento, cujos bens são alcançados quando a inteligência humana apreende aquilo em<br />
função do que tudo o mais no universo existe. A felicidade da atividade contemplativa eleva<br />
ao, “divino em comparação com a vida humana” (ARISTÓTELES, 1973, p. 429).<br />
Por ser a pólis uma arena de interesses rivais, cabe situar também a justiça em termos<br />
de rivalidade entre os bens de excelência e os bens de eficácia. Do ponto de vista dos bens de<br />
eficácia a concepção de eficácia, ou vantagem deve ser definível antes de qualquer estudo das
virtudes. Segundo Aristóteles ser virtuoso é pré-requisito para a racionalidade da ação<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 123), mas para os protagonistas dos bens de eficácia a ação só é<br />
racional quando baseada no cálculo de que meios, com o menor custo, se alcançará os fins<br />
propostos.<br />
Para Aristóteles esta ação não é racional, pois ser virtuoso implica controlar,<br />
disciplinar e transformar os desejos e sentimentos. Não ser educado nas virtudes significa não<br />
ser capaz de julgar corretamente o que é bom e melhor para si mesmo. A capacidade de<br />
identificar e ordenar os bens da vida boa requer a ordenação de todos os outros bens e exige<br />
treinamento de caráter para estas excelências. Dirá Aristóteles no capítulo VIII da Política<br />
(1239a29), “os que estão aprendendo não estão brincando; aprender implica dor”. Para quem<br />
não é educado nas virtudes elas parecerão sem justificação racional.<br />
A justiça é valorizada tanto por ela mesma como pelo seu télos, (MACINTYRE, 1991,<br />
p. 125) pois é ela que nos permite evitar os estados viciosos do caráter. Assim, agir<br />
virtuosamente é agir numa média entre dois extremos de vício. A dikaiosyne se situa entre os<br />
extremos de engrandecer a si mesmo sem méritos, o que Aristóteles chama de pleonexia 50 e<br />
sofrer injustiça voluntariamente. Aqueles que buscam mais e mais dinheiro são motivados<br />
pelo zelo pela vida, mas não pela vida boa, seu caráter não está dirigido para o télos da vida<br />
boa 51 .<br />
Contudo, controlar os desejos não significa ser virtuoso, pois o encrático aprendeu<br />
controlar os seus desejos e age virtuosamente apesar de seus desejos, e não por causa deles<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 127). Os virtuosos não têm prazer naquilo que é contrário à virtude<br />
e busca realizar as ações justas por elas mesmas, pelo papel que desempenham na vida boa.<br />
Ser justo é, por um lado, uma condição para se alcançar qualquer bem, mas também implica<br />
buscar a justiça indiferente de suas conseqüências, mesmo que não conduza a nenhum outro<br />
bem. Cometer injustiça é fazer um mal injustificado. Existe diferença entre ação justa<br />
realizada por um motivo justo e ação justa realizada por outros motivos, tais como medo do<br />
castigo ou do opróbrio. É porque ações justas podem ser realizadas por pessoas que ainda não<br />
50 Em EN 1129b Aristóteles afirma: “Visto que o homem injusto é ganancioso”; esse homem almeja bens<br />
relacionados à prosperidade e não aos bens absolutos (ARISTÓTELES, 1973, p. 321s). Também no capítulo XV<br />
do Leviatã, “De outras leis de natureza”, ao formular a décima lei (que ao iniciarem as condições de paz<br />
ninguém pretenda reservar para si qualquer direito que não aceite seja também reservado para qualquer dos<br />
outros) Hobbes diz que a violação dessa lei pode ser chamada de pleonexia, ou seja, “desejar mais do que sua<br />
parte” (HOBBES, 1999, p. 129s). Hoje, talvez, entendêssemos esta atitude como cobiça, ganância.<br />
51 Nas sociedades modernas valoriza-se a cobiça e a ambição como um traço de caráter indispensável para o<br />
crescimento econômico, o qual é um bem fundamental. O justo preço e o justo salário perdem o sentido em<br />
termos modernos.
são justas que a educação tem a estrutura que tem. Saber quais atos realizar exige que se<br />
aprenda com aquelas pessoas que já possuem educação moral (MACINTYRE, 1991, p. 128).<br />
Além disto, devemos aprender como passar de um julgamento de casos mais simples a<br />
um julgamento de casos mais complexos, mas o conhecimento destas premissas só pode ser<br />
adquirido através da experiência. “É por isto que jovens [...] não são capazes de empreender<br />
uma pesquisa ética 52 , mas devem cultivar os hábitos [...] e disciplinar suas paixões” xlix<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 129). Este processo pode ser ilustrado pela noção de regra: um<br />
iniciado aprende como aplicar uma regra e, assim, adquire a disposição de fazer o que a regra<br />
prescreve, somente a seguir o iniciado é capaz de aprender o lógos da justiça. Contudo, a<br />
habilidade de julgar não é um tipo de atividade governada por regras, mas consiste no<br />
desenvolvimento de duas virtudes: a dikaiosyne e a phrónesis 53 . A virtude da justiça não pode<br />
ser exercida sem a phrónesis (MACINTYRE, 1991, p. 130).<br />
MacIntyre nos lembra que “Aristóteles não considerava a capacidade phronética [...]<br />
governada por regras”, pois “não há regras para gerar este tipo de compreensão” l (1991, p.<br />
130). Os erros cometidos nos julgamentos phronéticos podem ser ocasionados por falha na<br />
identificação correta do bem em questão, uma vez que os julgamentos verdadeiros<br />
pressupõem uma explicação correta do bem e é nesta situação que uma maior habilidade<br />
exigirá uma concepção mais adequada do bom e da série de bens. Embora o phrónimos não<br />
faça uso de regras, a adequação de seus juízos pode ser avaliada, por isto ele tem de adquirir<br />
uma concepção do bom e do melhor.<br />
Para adquirir esta concepção ele tem de realizar a epagogé, a indução, desenvolvendo<br />
tanto a concepção do que é bom quanto o hábito de julgar, aprendendo a corrigir um à luz do<br />
outro e caminhando dialeticamente entre eles (MACINTYRE, 1991, p. 132). O uso da<br />
epagogé é complementado por outro recurso da dialética: a confrontação de opiniões<br />
alternativas e opostas. “A medida que desenvolve a virtude da phrónesis, seus juízos serão<br />
cada vez mais informados pelo alcance cada vez maior de considerações circunstanciais e<br />
mutáveis que não informavam sua capacidade de julgar original, que era mais simples e<br />
governada por regras” li (MACINTYRE, 1991, p.133).<br />
52 Em Ética a Nicômaco 1142a12 Aristóteles diz: “... embora os moços possam tornar-se geômetras, matemáticos<br />
e sábios em matérias que tais, não se acredita que exista um jovem dotado de sabedoria prática. O motivo é<br />
que essa espécie de sabedoria diz respeito não só aos universais mas também aos particulares, que se tornam<br />
conhecidos pela experiência” (ARISTÓTELES, 1973, p. 347). MacIntyre afirma que não só os jovens podem<br />
ser guiados por paixões não disciplinadas como também aqueles que não chegam a desenvolver “maturidade<br />
de inteligência e caráter” (MACINTYRE, 1991, p. 142). Cf. Perine, 2006, p. 19.<br />
53 Sabedoria prática; capacidade de aplicar verdades sobre o que é bom em certos tipos de situação.
Um juiz é guiado por regras, leis que devem ter sido feitas por legisladores que ao<br />
formulá-las não tinham regras para guiá-los e este juiz também enfrentará casos para os quais<br />
não há regras e terá de exercer a phrónesis (MACINTYRE, 1991, p. 134). Esta área onde o<br />
juiz transita, Aristóteles chama de epieikeia, um julgamento razoável apesar de não seguir<br />
regras. Aristóteles deixa claro que todo o domínio da vida ao qual se refere a phrónesis pode<br />
ser caracterizado como aquele no qual a epieikeia é necessária. “Ser justo exige a habilidade<br />
de distinguir o que é justo haplós 54 do que é justo relativamente [...] às constituições<br />
particulares” lii (MACINTYRE, 1991, p. 135).<br />
Aristóteles diz pouco sobre a distinção entre a justiça natural e a convencional. A<br />
justiça natural é aquela que não varia e é o padrão de justiça que atende ao melhor tipo de<br />
pólis. Contudo, ele diz que apesar de haver justiça natural, tudo na justiça é suscetível de<br />
variação (ARISTÓTELES, 1973, p. 331). Na verdade os seres humanos variam nas suas<br />
formulações das regras de justiça, de modo que não há nenhuma formulação de alguma dessas<br />
regras que seja universal. A justiça versa só entre as relações de cidadãos livres e iguais<br />
dentro de uma pólis; as relações daqueles que são mais “ligados uns aos outros pelos laços da<br />
amizade” liii (MACINTYRE, 1991, p. 136).<br />
A justiça e a amizade fundam-se numa adesão comum às virtudes. Ao exercer as<br />
virtudes, quando maduros, precisamos de nossos amigos para nos ajudar, assim como, quando<br />
imaturos, precisávamos de professores (MACINTYRE, 1991, p. 136). Diferente dos jovens<br />
que são movidos por sentimentos em suas amizades, a amizade madura exige, além dos<br />
sentimentos, o bem do amigo assim como de si próprio. A amizade é uma pólis individual,<br />
seja entre amigos, parentes ou cônjuges.<br />
A justiça não tem existência separada da pólis, ela só pode ser alcançada dentro da<br />
pólis. A pólis é uma associação que tem como télos a realização do bem como tal. Sem a<br />
pertença a uma pólis não há como se alcançar os elementos essenciais da educação para as<br />
virtudes e nem a capacidade de raciocinar praticamente e não se pode ser justo sem o<br />
raciocínio prático, pois dikaiosyne exige phrónesis e não se pode ser justo ou racional sem<br />
pertencer a alguma pólis 55 (MACINTYRE, 1991, p. 137).<br />
54 Haplós pode ser definido como: pura e simplesmente; em si; objetivamente.<br />
55 Esta idéia que a racionalidade de alguém é constituída por sua inserção e integração numa instituição social<br />
entra em conflito com visões caracteristicamente modernas. E atualmente o paradigma educacional<br />
contemporâneo tem sua origem nesta questão: como formar pessoas (cidadãos) sem o lastro de um contexto<br />
valorativo forte?
Poderíamos concluir dizendo que não é sem motivo que Aristóteles fulgura entre os<br />
maiores gênios da humanidade, pois o seu brilhante pensamento teve uma abrangência e um<br />
alcance gigantesco, conseguido apenas por pouquíssimos homens. Mas apesar de toda a sua<br />
grandeza, ou até mesmo para que ela possa ser mais bem entendida, não devemos deixar de<br />
contextualizá-lo corretamente dentro da época em que seu pensamento se desenvolveu.<br />
Alguns erros, sobretudo no campo da física, lhe são atribuídos, mas não podemos<br />
esquecer que naquele tempo não havia muitos recursos e instrumentos e o que havia se<br />
mostrava bastante frágil, o que não o impediu de elevar-se a um patamar bastante significativo<br />
até mesmo nessa área. Superando todas as limitações do mundo daquela época ele deixou uma<br />
contribuição de fundamental importância para o desenvolvimento de muitas áreas do<br />
conhecimento humano, inclusive na ética, sendo aqui o tema que nos interessou aprofundar.<br />
A visão ética de Aristóteles, tendo como fundamento as virtudes, as quais contribuem<br />
para o homem atingir a felicidade, foi e ainda é uma teoria muito profícua e eficaz. Talvez<br />
tenha sido devido a isto que seu pensamento não se perdeu no decorrer dos últimos milênios.<br />
Buscamos mostrar quais as influências que recaíram sobre o pensamento aristotélico, quais<br />
foram suas contribuições mais genuínas e como o seu pensamento encontrou seguidores e<br />
chegou até os nossos dias. Apesar das muitas mudanças ocorridas desde o século III a. C.<br />
cremos que ainda há muito que se aprender com as reflexões do Estagirita.<br />
1.4 O lugar das virtudes na moral macintyreana<br />
Na visão de MacIntyre, a ética aristotélica, fundamentada na concepção de virtude,<br />
ainda pode ser resgatada nos dias atuais, pois dentre as diversas correntes éticas, é ela que<br />
melhor cumpre com os quesitos de historicidade e tradição 56 . Ela surge e se desenvolve dentro<br />
de um tipo específico de comunidade e num tempo histórico muito peculiar e se efetiva como<br />
tradição ao longo da história do pensamento ocidental, permitindo ao homem compreender-se<br />
dentro de uma estrutura teleológica. O núcleo central e fundamento para a caracterização de<br />
uma ação ética, nessa concepção, é o papel exercido pelas virtudes, a qual tem por base a<br />
questão da teleologia, pois, para Aristóteles, na natureza não há nada em vão, e, portanto,<br />
tanto o homem quanto a sociedade devem cumprir com um papel que lhes é próprio e que lhes<br />
conduz para um determinado bem 57 . A firmeza e a excelência na compreensão e no<br />
56 Para Helder Carvalho, MacIntyre irá “encarar a filosofia moral de Aristóteles como o núcleo central de toda<br />
uma tradição de pesquisa e de prática social” (2001, p. 43). E ainda: “É a interpretação aristotélica das virtudes<br />
que constituiu decisivamente a tradição clássica como uma tradição de pensamento moral (2001, p. 49). Perine<br />
afirma: “A ética à Nicômaco pode, sem sombra de dúvida, ser contada entre as obras literárias mais<br />
extraordinárias que o gênio humano já produziu” (2006, p. 11).<br />
57 Aristóteles inicia a Ética à Nicômaco falando justamente disso ao argumentar (1049a): “Admite-se geralmente
cumprimento desse télos humano, a busca do bem, é o que constitui a virtude. Helder<br />
Carvalho nos lembra que<br />
MacIntyre faz um levantamento das concepções de virtude em cada um dos<br />
estágios da tradição clássica de pensamento e ação no intuito de fazer<br />
emergir as raízes dos elementos fundamentais que a compõem: das<br />
sociedades heróicas advém o vínculo visceral entre virtude e estrutura social;<br />
de Atenas e seus poetas e teatrólogos, a visão do conflito como central à vida<br />
humana, a compreensão da vida humana e de sua unidade como portadora de<br />
uma estrutura narrativa dramática; de Aristóteles advém o esquema<br />
teleológico das virtudes, o vínculo com a pólis, o nexo entre inteligência<br />
prática e virtude, o caráter do raciocínio prático e a superioridade da virtude<br />
sobre as regras (2004, p. 204).<br />
O vínculo com a pólis ocorre porque era inconcebível um homem desvinculado de<br />
uma comunidade, haja vista que o homem era entendido unicamente como cidadão, tendo a<br />
cidade, prioridade sobre o indivíduo e também sobre a família; ou seja, era o indivíduo que<br />
devia viver em função da cidade e não o seu contrário. Diz o Estagirita (1094b5):<br />
Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para<br />
o Estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a<br />
atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um<br />
indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as<br />
cidades-Estados (ARISTÓTELES, 1973, p. 250)<br />
Portanto, se se tiver de escolher entre o bem individual e o bem coletivo, o coletivo<br />
deve anteceder o individual. Não esquecendo, contudo, que na ordenação dos bens há um bem<br />
supremo, ou, como diz Aristóteles, um bem que se quer por ele mesmo e não em vista de<br />
outro, também chamado Bem-em-si. Esse bem não é outro senão a eudaimonia, a felicidade.<br />
Dirá ele (1095b15): “[...] procuremos determinar [...] qual é o mais alto de todos os bens que<br />
se pode alcançar pela ação. [...] tanto o vulgo como os homens de cultura dizem ser esse fim a<br />
felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz” (1973, p. 251). Entende-<br />
se, assim, que a vida tem um télos, ela é ordenada em vista de um bem supremo, o qual para<br />
ser alcançado requer a prática de outros bens, outras excelências; requer a virtude. E então,<br />
dentro do encadeamento coerente do seu pensamento, Aristóteles define a felicidade como a<br />
“atividade da alma em consonância com a virtude, e, se há mais de uma virtude, com a melhor<br />
e mais completa” (ARISTÓTELES, 1973, p. 256).<br />
Sendo a felicidade uma atividade da alma, faz-se necessário entender, ainda que<br />
superficialmente, a concepção de alma de Aristóteles, e assim, lembramos que ele divide a<br />
alma em três partes, sendo duas irracionais: a vegetativa e a sensitiva; e uma racional: a<br />
que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer; e por<br />
isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas servem” (ARISTÓTELES, 1973, p.<br />
249).
intelectiva (EN 1102a1-1103a12; ARISTÓTELES, 1973, p. 263s). E cada uma dessas partes<br />
tem o seu catálogo específico de virtudes. À alma racional, aquela que só o homem possui,<br />
cabe a virtude da phronesis, ou sabedoria prática. É essa virtude, conhecida como virtude<br />
dianoética, ou virtude racional, que nos permite ordenar todas as demais virtudes em função<br />
de um fim bom (REALE, 2002, pp.412-419). Portanto, para Aristóteles “algumas virtudes são<br />
intelectuais e outras morais; entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a<br />
sabedoria prática; e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança<br />
(ARISTÓTELES, 1973, p. 264).<br />
As virtudes éticas são entendidas como a justa medida que a razão impõe a<br />
sentimentos, ações ou atitudes que, sem o controle da razão, tenderiam para um ou outro<br />
excesso. Nas palavras de Aristóteles: “a virtude diz respeito às paixões e ações em que o<br />
excesso é uma forma de erro, assim como a carência, ao passo que o meio termo é uma forma<br />
de acerto digna de louvor” 58 (ARISTÓTELES, p. 273).<br />
Nesse esquema, a justiça merece destaque, pois, de algum modo ela está presente em<br />
todas as demais virtudes e, além disso, é a virtude indispensável para uma harmoniosa<br />
vivência comunitária. De acordo com Rainer Forst “a justiça é a virtude político-moral, mais<br />
elevada, pela qual podem ser medidas como um todo as relações jurídicas, políticas e sociais –<br />
a estrutura básica da sociedade” (2010, p. 7).<br />
Portanto, podemos dizer como Helder Carvalho que<br />
“MacIntyre pretende oferecer uma resposta na qual as virtudes passem a<br />
ocupar um papel central na configuração da moralidade, na qual as regras e<br />
princípios passem a ter sentido no interior de uma definição partilhada<br />
socialmente do bem último do homem” (2001, p. 43).<br />
Para Aristóteles tanto a pólis – leia-se comunidade, quanto o homem – leia-se cidadão,<br />
buscam a excelência, de tal modo que só o bom e melhor pode fornecer o télos da ação<br />
humana, visto que tais ações não acontecem por acaso. E, assim, de Aristóteles emerge “uma<br />
defesa dos bens de excelência, mais particularmente da justiça” liv (MACINTYRE, 1991, p.<br />
103). Portanto, “a compreensão aristotélica do bom e melhor só pode ser uma compreensão<br />
do bom e melhor como se expressa numa pólis” lv (MACINTYRE, 1991, p. 103).<br />
Com o passar do tempo nossos conceitos acerca de valores acabam mudando e para<br />
melhor compreendermos os significados originais temos de recorrer à história, embora alguns<br />
filósofos contemporâneos tenham se mostrado anti-históricos com relação à filosofia moral<br />
58 Cf. EN 1106b25.
(MACINTYRE, 2001, p. 29). Isso explicaria porque a educação moral grega se fez em muito<br />
devedora da mitologia, pois era através dos épicos que se buscava a paidéia, possibilitando ao<br />
homem grego a formação integral de sua personalidade. Também nas sociedades medievais e<br />
renascentistas os ensinamentos morais ocorriam através das narrativas de histórias dos mais<br />
diversos personagens, sobretudo, histórias bíblicas relacionadas inicialmente ao judaísmo.<br />
Esta seria uma das explicações de cada cultura ter as suas histórias (MACINTYRE, 2001, p.<br />
209).<br />
Os personagens são “representantes morais de sua cultura, [...] são as máscaras<br />
usadas pelas filosofias morais. Tais filosofias, entram [...] na vida social [...] na forma de<br />
idéias explícitas em livros, sermões ou conversas, ou como temas simbólicos em quadros,<br />
peças de teatro ou sonhos” lvi (MACINTYRE, 2001, p. 59). Deste modo, percebemos o quão<br />
fortemente a filosofia moral liga-se a sociologia, visto que compreenderemos melhor a<br />
moralidade quando a contextualizamos concretamente e acabamos por perceber que muitas<br />
vezes os valores são originados a partir de decisões humanas, de forma puramente subjetiva,<br />
pois a incorporação de “crenças, doutrinas e teorias morais [...] cada um o faz à sua própria<br />
maneira” lvii (MACINTYRE, 2001, p. 60). Ao transmitir o conceito de moralidade, aquele<br />
personagem deve estar intimamente ligado ao seu papel, mas nós quando demonstramos<br />
incorporar um determinado papel social podemos fazê-lo sem realmente incorporá-lo, apenas<br />
representando-o. É preciso lembrar ainda, que além de um papel social, o agente moral tem<br />
também um histórico social, fato que os moralistas modernos parecem negligenciar.<br />
É nessa capacidade do eu de evitar qualquer identificação necessária com<br />
quaisquer circunstâncias contingentes que alguns filósofos modernos, tanto<br />
analíticos quanto existencialistas, têm visto a essência do agir moral. Ser um<br />
agente moral é, neste caso, poder afastar-se de qualquer situação em que se<br />
esteja envolvido, de toda e qualquer característica que se possua, e emitir<br />
juízo sobre ela de uma perspectiva universal e abstrata totalmente destacada<br />
de qualquer particularidade social lviii (MACINTYRE, 2001, p. 65).<br />
Nós herdamos nosso espaço dentro de uma determinada sociedade de tal modo que<br />
sem este espaço parece que não somos ninguém e é suposto que isto faça parte da natureza<br />
humana visto que em sociedades pré-modernas muitas vezes os indivíduos buscavam se<br />
identificar através de sua associação a determinados grupos. Mas o eu moderno demonstra ter<br />
perdido sua identidade social e sua “visão da vida humana como ordenada a determinado fim”<br />
lix (MACINTYRE, 2001, p. 69). Perdemos a visão unitária e integrada de mundo, o mundo<br />
não tem mais um telos, e passa a ser perfeitamente compreensível a oposição entre o<br />
individualismo e o coletivismo. Passamos por uma transformação histórica e agora não
consideramos mais a vida humana como um todo, mas dividida em segmentos. O trabalho<br />
afastou-se do lazer e a esfera pública afastou-se da esfera privada 59 .<br />
Ilustra essa segmentação moderna o fato de o homem moderno poder ser julgado mais<br />
em função de sua intenção do que propriamente de sua ação como ocorria na antiguidade<br />
onde “um homem é o que faz” lx (MACINTYRE, 2001, p. 211) e, portanto, julgar um homem<br />
é julgar seus atos. É através de suas ações que o homem das antigas sociedades heróicas<br />
“autoriza o julgamento de suas virtudes e seus vícios; pois as virtudes são as qualidades que<br />
sustentam o homem livre em seu papel e que se manifesta nos atos que seu papel exige” lxi<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 211).<br />
A palavra virtude, aretê em grego, é utilizada para definir qualquer tipo de excelência,<br />
mas os gregos, principalmente os das sociedades heróicas, sempre explicavam a virtude<br />
vinculada ao seu contexto específico, pois para eles a moralidade e a estrutura social era a<br />
mesma coisa. A concepção de moralidade ainda não existia separada do contexto, visto que o<br />
personagem moral sempre tinha um papel a desempenhar dentro de um esquema maior e<br />
teleologicamente ordenado. E isso era de tal modo determinante que “sem tal lugar na ordem<br />
social, [...] um homem não saberia quem ele era” lxii (MACINTYRE, 2001, p. 213).<br />
Para fazer parte das sociedades heróicas o homem deve ter certas virtudes, dentre elas<br />
destacando-se a coragem, muito bem representada pelo guerreiro Aquiles e alguns<br />
companheiros; além disso, a amizade era de tão grande importância que quando os amigos<br />
eram mortos, a vida desses amigos tinha, quase que necessariamente, de ser vingada. Era<br />
como se os amigos se responsabilizassem um pela vida do outro (MACINTYRE, 2001 p.<br />
214); e cada vida se constituía num certo tipo de história. A honra era outro grande valor, a tal<br />
ponto que para um grego era melhor morrer a viver desonrado, pois “sem honra o homem não<br />
tem valor” lxiii (MACINTYRE, 2001, p. 216).<br />
Esses são apenas alguns poucos exemplos de como o exercício das virtudes nas<br />
sociedades heróicas requer um tipo determinado de estrutura social (MACINTYRE, 2001, p.<br />
218). E nesse sentido MacIntyre nos recorda que<br />
[...] talvez o que temos de aprender com as sociedades heróicas são duas<br />
coisas: primeiro, que toda moralidade está sempre, até certo grau, amarrada<br />
ao socialmente local e particular, e que as aspirações da moralidade da<br />
59 Cf. DEWEY, 2007, pp. 29-46. No capítulo II, intitulado Trabalho e lazer, da obra Democracia e educação,<br />
Dewey corrobora a visão de uma sociedade dividida e procura mostrar os reflexos que esta segmentação teve no<br />
campo educacional; afirma ele que “a segregação e o conflito de valores não são fechados em si, mas refletem<br />
uma divisão no interior da vida social” (2007, p. 29).
modernidade à universalidade liberta de toda particularidade é uma ilusão; e,<br />
em segundo lugar, que não há como possuir virtudes, a não ser como parte<br />
de uma tradição na qual as herdamos, e nosso entendimento delas, a partir de<br />
uma série de predecessores na qual as sociedades heróicas estão estruturadas<br />
em primeiro lugar na série lxiv (2001, p. 218).<br />
Mesmo não tendo a possibilidade da escolha de valores, os cidadãos têm um papel<br />
muito bem demarcado, ou muito bem definido, dentro das estruturas da sociedade em que se<br />
encontram. É preciso fazer parte da comunidade para ter o reconhecimento desse papel, daí<br />
porque “o escravo é um indivíduo que pode ser assassinado a qualquer momento; está fora da<br />
comunidade heróica” lxv (MACINTYRE, 2001, p. 220) e é dentro da comunidade heróica que<br />
se encontra uma estrutura moral. E, segundo MacIntyre, essa estrutura possui três elementos<br />
inter-relacionados<br />
[...] uma concepção do que exige o papel social que cada indivíduo<br />
representa; uma concepção das excelências ou virtudes como qualidades que<br />
capacitam o indivíduo a fazer o que o seu papel exige; e uma concepção da<br />
condição humana como frágil e vulnerável ao destino e à morte, de modo<br />
que ser virtuoso não é evitar a vulnerabilidade e a morte, mas pelo contrário,<br />
conceder-lhe o que lhe é devido lxvi (MACINTYRE, 2001, p. 221s).<br />
Esses elementos só fazem sentido se forem inter-relacionados entre si e dentro de uma<br />
estrutura maior que os integra, pois, nas sociedades heróicas, o eu só se torna o que é através<br />
do papel que desempenha, de tal maneira que não pode ser considerado uma criação<br />
individual, mas uma criação social (MACINTYRE, 2001, p. 223). Ele é herdeiro de um<br />
passado, é formado a partir do seu passado e do passado de seus ancestrais, e a sua história<br />
tem estágios do qual ele não pode desfazer-se 60 . Eis porque a ética das virtudes requer e está<br />
intimamente atrelada ao seu contexto social.<br />
Embora Aristóteles se visse como a superação da tradição que o precedeu, pois, no seu<br />
entendimento, ele a havia corrigido e superado – podendo, até mesmo, descartá-la –<br />
MacIntyre afirma que é essencial à tradição que o passado jamais seja algo meramente<br />
descartado, mesmo que tenha sido corrigido e ultrapassado por uma perspectiva mais<br />
adequada (2001, p. 250). O progresso, na tradição, se dá quando existe algum elemento<br />
cumulativo que perpassa a tradição. E nesse sentido, MacIntyre entende que não se pode<br />
negar que a tradição na qual Aristóteles se encontra, e se desenvolve, acabou por transformar<br />
“a Ética à Nicômaco no texto canônico da teoria aristotélica das virtudes” lxvii (MACINTYRE,<br />
2001, p. 251).<br />
60 Idéia muito próxima da concepção de Ortega y Gasset, que afirmava que o homem é ele e suas circunstâncias.
No entanto, a ética das virtudes não seria uma invenção de Aristóteles, mas tão<br />
somente a sistematização de um pensamento que já se encontrava presente na sociedade<br />
ateniense, sobretudo junto à camada mais instruída. Tal sociedade teria como télos a busca do<br />
bem, cuja tarefa Aristóteles se empenha em realizar, visto que o estagirita visa a elaboração de<br />
uma teoria do bem (MACINTYRE, 2001, p. 253). E esse bem tem um nome, é a eudaimonia<br />
– a felicidade, a qual se alcança através do exercício das virtudes. Contudo, nos lembra<br />
MacIntyre que<br />
[...] o exercício das virtudes não é, nesse caso, um meio para o fim do bem<br />
para o homem, pois o que constitui o bem para o homem é uma vida humana<br />
completa, vivida da melhor forma possível, e o exercício das virtudes é uma<br />
parte necessária e fundamental de tal vida, e não um mero exercício<br />
preparatório para garantir tal vida lxviii (MACINTYRE, 2001, p. 254).<br />
Isso significa dizer que não faria sentido para o homem alcançar o bem almejado sem<br />
o exercício das virtudes. Portanto, a virtude se realiza na escolha certa do ato correto e na<br />
força necessária para a realização desse ato 61 , não sendo uma disposição natural inata 62 , como<br />
se a posse da virtude fosse um dom da sorte (MACINTYRE, 2001, p. 254). Na visão de<br />
MacIntyre, o homem deve ser instruído, e não treinado, no exercício das virtudes. O<br />
treinamento gera uma ação mecânica e a ação virtuosa é a ação que se impõe de modo<br />
racional e deliberado sobre os impulsos, desejos e paixões vencendo-os e não a ação de quem<br />
não sente tais desejos, impulsos e paixões.<br />
Para MacIntyre<br />
O agente moral instruído deve, naturalmente, saber o que sucede quando<br />
julga ou age virtuosamente. Assim, ele faz o que é virtuoso porque é<br />
virtuoso. É esse fato que distingue o exercício das virtudes do exercício de<br />
certas qualidades que não são virtudes, mas, pelo contrário, simulacros de<br />
virtude. O soldado bem-treinado, por exemplo, pode fazer o que a coragem<br />
exigiria em determinada situação, mas não por ser corajoso, e sim porque foi<br />
bem-treinado ou, talvez – para ir além do exemplo de Aristóteles e recordar<br />
a máxima de Frederico, o Grande – porque tem mais medo dos próprios<br />
superiores do que do inimigo. O agente genuinamente virtuoso, porém, age<br />
com base num juízo verdadeiro e racional lxix (MACINTYRE, 2001, p. 255).<br />
Entende Helder Carvalho que esse conceito de virtude “está associado às práticas,<br />
entendidas como conjunto de atividades sistemáticas, socialmente reconhecidas, em cujo<br />
interior se desenvolvem critérios de excelência e bens internos a serem alcançados”<br />
(CARVALHO, 2007, p. 18). São as virtudes, portanto, que conferem um norte às práticas, de<br />
61 Para MacIntyre “as virtudes são disposições não só de agir de determinadas maneiras, mas também de pensar<br />
de determinadas maneiras” (MACINTYRE, 2001, p. 255). “Virtues are dispositions not only to act in<br />
particular ways, but also to feel in particular ways” (AV. p. 149).<br />
62 Nesse ponto Aristóteles e Platão divergem, pois para Platão a virtude é inata, ou seja, todos nascem virtuosos,<br />
porém ela está adormecida e caberá a cada um despertá-la (Cf. MARCONDES, 2009, p. 24).
modo que não se devotem apenas aos bens externos, como o dinheiro e o poder, entre outros.<br />
Ou seja, as virtudes possibilitam a escolha acertada dentro de uma hierarquização dos valores,<br />
sobretudo, quando estes conflitam e divergem.<br />
A phronesis é fundamental para que se faça a escolha correta, julgando e fazendo o<br />
que é certo e superando o simples e rotineiro cumprimento de normas. O homem virtuoso<br />
delibera e age consciente do papel que desempenha na sociedade, pois compreende o télos de<br />
sua ação numa dimensão mais ampla e contextualizada. Entende MacIntyre que até mesmo a<br />
aplicação das leis e normas requer a prática das virtudes, pois tal aplicação só é possível a<br />
quem possui a virtude da justiça (2001, p. 259). Além disso, existem situações em que não se<br />
pode recorrer a fórmulas prontas e tudo o que se tem para caracterizar a ação é a reta razão.<br />
Aristóteles (EN 1138b25) diz que “há um padrão que determina os estados medianos que<br />
dizemos serem os meios-termos entre o excesso e a falta, e que estão em consonância com a<br />
reta razão” 63 (1973, p. 341).<br />
Portanto, a sabedoria prática, é indispensável ao homem virtuoso, se constituindo na<br />
virtude intelectual, própria da alma racional, “sem a qual não se pode exercer nenhuma das<br />
virtudes de caráter” lxx (MACINTYRE, 2001, p. 262). Cabendo lembrar que as virtudes de<br />
caráter e as virtudes intelectuais diferem quanto ao meio de aquisição, pois enquanto as<br />
virtudes de caráter são adquiridas por meio do exercício habitual, as virtudes intelectuais são<br />
adquiridas somente por intermédio da instrução. Mesmo assim ambas estão intimamente<br />
relacionadas e o exercício de uma requer a presença da outra, visto que a excelência de caráter<br />
não se separa da inteligência. Lembra MacIntyre que para Aristóteles “a genuína inteligência<br />
prática, por sua vez, requer conhecimento do bem, de fato requer algum tipo de bondade em<br />
seu possuidor” lxxi (2001, p. 263). O fundamento desse seu pensamento está em Aristóteles<br />
(1144a37) que afirma “está claro que não é possível possuir sabedoria prática quem não seja<br />
bom” (ARISTÓTELES, 1973, p. 352).<br />
Nesse sentido, também o objetivo comum de uma comunidade virtuosa, na visão<br />
antiga, deveria ser a busca e a realização do bem, idéia, por sua vez, estranha ao moderno<br />
mundo individualista liberal. MacIntyre lembra que<br />
De fato, do ponto de vista aristotélico, a sociedade política liberal moderna<br />
só pode surgir como um conjunto de cidadãos de lugar nenhum que se<br />
agruparam em troca de proteção em comum. Possuem, na melhor das<br />
hipóteses, aquela forma inferior de amizade que se fundamenta na vantagem<br />
mútua. O fato de lhes faltar o laço da amizade vincula-se ao pluralismo<br />
63 MacIntyre lembra que W.D. Ross não traduziu orthon logon, como “reta razão”, mas como “regra certa” e,<br />
segundo ele, essa má interpretação “expressa a grande preocupação, anti-aristotélica, dos filósofos morais<br />
modernos com as regras” (2001, p. 260).
moral autodeclarado de tais sociedades liberais. Elas abandonaram a unidade<br />
moral do aristotelismo, seja em sua forma antiga ou na medieval lxxii (2001,<br />
p. 266).<br />
E, no pensamento de MacIntyre, essa seria, portanto, uma das razões do conflito que<br />
percebemos atualmente, tanto quando se alude às falhas de caráter, quanto aos acordos<br />
políticos irracionais.<br />
Com relação à amizade, entende Aristóteles que existem três tipos de amizade: uma<br />
que visa a utilidade mútua e outra advinda do prazer mútuo. Vale lembrar que a<br />
caracterização aristotélica do prazer tem aqui o sentido de satisfação advinda da atividade<br />
bem sucedida, ou da aquisição da excelência nas atividades, pois, o prazer em si não seria<br />
uma boa razão para a realização de um tipo de atividade e não outro. Ou seja, não se pode<br />
definir a virtude segundo o prazer ou a utilidade (MACINTYRE, 2001, p. 273). E o terceiro<br />
tipo de amizade é aquele que tem por base os interesses comuns nos bens que são bens para<br />
ambos. Esse último tipo é a amizade genuína, aquela que deve existir tanto entre cônjuges<br />
quanto entre cidadãos.<br />
Portanto, podemos perceber que o conceito de virtude em Aristóteles está intimamente<br />
vinculado ao conceito de tradição, de excelência, de télos e de mérito e como afirma Helder<br />
Carvalho<br />
[...] só a recuperação da tradição aristotélica das virtudes, mas em bases<br />
teóricas contemporâneas, é que poderá devolver consistência à vida moral e,<br />
por conseguinte, afirmar a historicidade do agir humano sem implicar na<br />
afirmação de verdades atemporais e válidas absolutamente ou cair na seara<br />
imprevisível do relativismo. Por conseguinte, pensar a moralidade<br />
contemporânea em sua fragmentação factual exige um modelo de<br />
racionalidade prática que contemple a validade epistemológica das tradições<br />
morais, recusando o veto iluminista de seu conteúdo racional, mas sem<br />
deslizar para o relativismo histórico que abandona a pretensão de haver<br />
superioridade racional de alguma tradição particular, sem reduzi-la à mera<br />
expressão de uma comunidade particular. (2007, p. 19).<br />
Com o passar do tempo e com os impactos históricos que o conceito e o elenco de<br />
virtudes sofreram, foram surgindo alterações tanto na composição dessa lista quanto na sua<br />
hierarquia. Já é possível perceber tais alterações quando se compara, por exemplo, a<br />
concepção aristotélica e a homérica, pois enquanto para Homero a excelência humana se<br />
reflete, sobretudo, na arte do guerreiro, para Aristóteles a virtude seria mais perceptível no<br />
ideal de cavalheiro ateniense. Além disso, Aristóteles deixa entender que o catálogo de<br />
virtudes estaria mais disponível aos ricos do que aos pobres 64 . Mas a grande diferença talvez<br />
64 Cf. EN 1099a32- 1099b8, onde Aristóteles fala da necessidade de bens exteriores dizendo que algumas<br />
ausências, tais como nobreza, beleza e amigos podem empanar a felicidade e conclui que o homem feliz<br />
parece necessitar dessa espécie de prosperidade.
esteja na comparação entre as virtudes aristotélicas e as do Novo Testamento (MACINTYRE,<br />
2001, p. 307).<br />
É bastante nítida essa diferença, a tal ponto que podemos afirmar que Aristóteles nem<br />
sequer faz referências às virtudes neotestamentárias mais importantes: a fé, a esperança e a<br />
caridade. Assim como o Novo Testamento deixa de fora qualquer referência à phronesis. E a<br />
diferença aumenta ainda mais quando se trata da questão da humildade, pois enquanto ela<br />
surge como virtude bíblica, para Aristóteles talvez ela estivesse mais próxima do vício. Além<br />
disso, o rico que em Aristóteles está mais propenso à virtude, no Novo Testamento tem<br />
grande possibilidade de arder no inferno (MACINTYRE, 2001, p. 307). Parece que as<br />
virtudes propostas na Bíblia, estariam, na visão de Aristóteles, naturalmente destinadas aos<br />
escravos.<br />
Desse modo podemos dizer que embora MacIntyre seja um ardoroso defensor da ética<br />
das virtudes, ele tem consciência de que esse conceito sofreu e sofre alterações conceituais<br />
bastante significativas, sobretudo quando comparadas aos nossos dias. Diante disso, ele busca<br />
traçar um paralelo entre os conceitos de virtude em Homero, Aristóteles, o Novo Testamento,<br />
Benjamin Franklin e Jane Austen; e lembra que Austen atribui grande importância à virtude<br />
da constância, a qual muito se assemelha ao conceito aristotélico de phronesis, por tratar-se<br />
de um pré-requisito para a posse de outras virtudes (MACINTYRE, 2001, p. 308).<br />
Em Benjamin Franklin, MacIntyre vê o surgimento de novas virtudes tais como a<br />
limpeza, o silêncio e a diligência e, além disso, sustenta que para Franklin o esforço<br />
empreendido na conquista das virtudes já pode ser considerado como parte das mesmas,<br />
distanciando-se dos gregos que viam essa atitude caracterizada como o vício da pleonexia.<br />
Como se não bastasse Franklin explica cada virtude citando uma máxima e defende que a<br />
obediência a tal máxima já pode ser considerada a virtude em questão (MACINTYRE, 2001,<br />
p. 309).<br />
Para Homero o que mais caracteriza a virtude é a qualidade que permite o<br />
cumprimento do papel social; ou seja, o conceito de virtude é precedido pelo conceito de<br />
papel social. Aristóteles, por sua vez, entendia que as virtudes se ligavam ao homem como tal<br />
e era o télos da vida humana que determinaria quais qualidades seriam virtudes, sendo o<br />
exercício das virtudes um componente fundamental da vida boa (MACINTYRE, 2001, p.<br />
310).
Embora a explicação das virtudes do Novo Testamento difira da aristotélica, entende<br />
MacIntyre que elas possuem a mesma estrutura lógico-conceitual, pois ambas visam conduzir<br />
o homem ao seu télos: o bem; além disso, as virtudes são vistas como meios para um<br />
determinado fim. Aqui, também, parece que o conceito de virtude é precedido por outro: pelo<br />
conceito de vida boa, em Aristóteles e, no cristianismo, pelo conceito escatológico do reino<br />
dos céus. Diante disso, MacIntyre lembra que não se pode dizer que haja um conceito único e<br />
fundamental das virtudes, o qual possa reivindicar adesão universal, visto que tais conceitos<br />
expressam a história da qual são conseqüências.<br />
E assim fica claro, segundo MacIntyre, que o conceito de virtude tem três estágios:<br />
O primeiro estágio requer uma explicação contextualizadora do que<br />
chamarei prática, o segundo, uma explicação do que já caracterizei como<br />
ordem narrativa de uma vida humana singular, e o terceiro, uma explicação<br />
muito mais completa do que a que elaborei até agora do que constitui uma<br />
tradição moral. Cada estágio posterior pressupõe o anterior, mas não o<br />
contrário. Cada estágio anterior é modificado e reinterpretado à luz de cada<br />
estágio posterior, mas também oferece um constituinte essencial de cada<br />
estágio posterior lxxiii (2001, p. 314s).<br />
O desenvolvimento do conceito de virtude está atrelado à história da tradição em que<br />
se acha inserido. Assim enquanto Homero destaca a excelência tanto na guerra quanto nos<br />
jogos, Aristóteles via as virtudes como a excelência da atividade humana em algum tipo bem<br />
determinado de prática. A excelência nessas práticas pode visar os bens internos – a<br />
excelência no desempenho daquele tipo de atividade, ou os bens externos – uma motivação<br />
que não se encontra na atividade em si, mas naquilo que ela pode proporcionar. Enquanto os<br />
bens externos são sempre propriedade de alguém (MACINTYRE, 2001, p. 320) e demandam<br />
concorrência, vencedores e vencidos; os bens internos podem significar conquista para toda a<br />
comunidade que participa de tal prática (MACINTYRE, 2001, p. 321).<br />
Dessa maneira MacIntyre chega à sua primeira definição de virtude, descrevendo-a<br />
como “qualidade humana adquirida, cuja posse e exercício costuma nos capacitar a alcançar<br />
aqueles bens internos às práticas e cuja ausência nos impede, para todos os efeitos, de<br />
alcançar tais bens” lxxiv (2001, p. 321). Portanto, sem as virtudes não se pode chegar aos bens<br />
internos das práticas, e na prática da convivência com nossos semelhantes, as virtudes da<br />
justiça, da coragem e da honestidade estão entre as mais importantes, bem como a lealdade, a<br />
sinceridade e a confiança (MACINTYRE, 2001, p. 323). Essas são as virtudes fundamentais<br />
para caracterizar as nossas ações e as ações de nossos concidadãos.
Na visão antiga e medieval a comunidade tinha como função a educação de seus<br />
membros, principalmente dos filhos, para que se tornassem pessoas virtuosas, pois é sempre<br />
dentro de comunidades bem determinadas que ocorre o exercício das virtudes 65 . Contrariando<br />
essa visão, o individualismo liberal vê a comunidade como o local onde o indivíduo busca sua<br />
própria concepção de bem, não sendo função do governo inculcar perspectiva moral alguma,<br />
pois o Estado é tido como incapaz de funcionar como educador moral (MACINTYRE, 2001,<br />
p. 328).<br />
Para MacIntyre as virtudes são indispensáveis para se alcançar os bens internos, mas<br />
são os bens externos, que na sociedade atual, são objetos do desejo humano e, desse modo, as<br />
virtudes se tornaram um obstáculo à ambição. Se a ambição prevalecesse completamente<br />
numa sociedade, isso poderia provocar o esgotamento, ou até mesmo a extinção total, das<br />
virtudes (MACINTYRE, 2001, p. 330). Portanto, o cultivo das virtudes pode impedir a<br />
conquista dos bens externos característicos do êxito mundano, visto que o desejo de se<br />
destacar e vencer pode corromper.<br />
Assim, podemos concluir que, o conteúdo das virtudes depende de como classificamos<br />
os diversos bens, sem esquecer que devemos ter sempre em mente que é a totalidade da vida<br />
que deve ser considerada boa, daí a importância da integridade e da constância. Nesse sentido<br />
a virtude deve ter como função capacitar o indivíduo a fazer de sua vida uma espécie de<br />
unidade que visa um único propósito durante toda a vida, a busca do bem.<br />
Finalizamos esse primeiro momento esperando ter sinalizado de modo claro a<br />
importância que cada esfera aqui desenvolvida tem para o pensamento ético de Alasdair<br />
MacIntyre. Procuramos, inicialmente, mostrar que ele concebe a racionalidade a partir das<br />
tradições e dentro das tradições, ou seja, a racionalidade, para ele, acontece<br />
contextualizadamente e não universalmente. Não se pode entender coerentemente<br />
determinada racionalidade a não ser compreendendo a história que a origina. E isso vale desde<br />
a compreensão do pensamento de Aristóteles até a compreensão do pensamento do próprio<br />
MacIntyre; e foi isso que buscamos apresentar aqui: o itinerário percorrido, ou formador, do<br />
pensamento ético macintyreano.<br />
A partir do momento em que essas racionalidades, oriundas das tradições, se<br />
estabelecem, passarão a expressar os conceitos assumidos pelas comunidades em que se<br />
acham inseridas e é por isso que MacIntyre entende que a história da moralidade e a história<br />
65 Nessas comunidades, além das pessoas também existem as instituições, as quais se ocupam dos bens externos.
da filosofia moral devem formar uma única história, com glórias e fracassos, obstáculos e<br />
superações, a exemplo do que ocorre com a ciência e a história da ciência, visto que tanto<br />
ciência quanto moral são encontradas dentro da vida humana historicamente situada. Além<br />
disso, tanto as visões morais quanto as científicas possuem seus representantes. Esses<br />
representantes são os herdeiros das tradições que os antecederam e elo fundamental na<br />
compreensão da história dessa tradição.<br />
Porém, devemos lembrar que embora MacIntyre frise veementemente a importância<br />
da contextualização histórica, ele também admite que não podemos incorrer no erro de<br />
entender que o pensamento dependa exclusivamente dos papéis sociais e dos interesses<br />
sociais ou políticos das diversas classes. Se a pesquisa não é inteligível fora da história<br />
também não é somente uma variável dependente da história. A história é constitutiva do<br />
pensamento e serve para dar significado aos problemas vivenciados moralmente, conferindo o<br />
pano de fundo necessário para a phronesis e a vivência das virtudes.<br />
Contudo, por sermos herdeiros de um amálgama de fragmentos de diversas tradições<br />
éticas, não conseguimos reconhecer os elementos de uma e de outra tradição e, por vezes,<br />
mesmo sendo adeptos de determinada tradição nos valemos de recursos de tradições rivais o<br />
que pode nos ocasionar uma incoerência refletida em atitudes morais duais e princípios<br />
inconsistentes. Qual a saída para essa situação em que nos encontramos? Entende MacIntyre<br />
que não seria a proposta universalista que acentua a razão objetiva prescindindo do contexto,<br />
mas uma tradição de pesquisa que permita a maior consciência possível e a participação nos<br />
debates morais visando um acordo fundamental racionalmente defensável que supere, ou<br />
resolva, os embates incompatíveis e radicalmente diferentes. Nesse tramite a virtude<br />
dianoética e as virtudes éticas são imprescindíveis, segundo a sua compreensão.<br />
Tem-se a impressão, por vezes, que o pensamento de MacIntyre pode ser comparado<br />
ao movimento pendular em relação à ética moderna. Ou seja, por algum tempo prevaleceu a<br />
visão ética do iluminismo moderno, acrescido de uma visão analítica, com poucas críticas<br />
contundentes a esse modo de conceber a ética 66 . No entanto, a partir da década de 70, do<br />
século passado, e mais fortemente na década de 80, se percebe uma reação a esse tipo de<br />
concepção, e daí a idéia de movimento pendular, o qual vai de um extremo ao outro, na maior<br />
distância possível, para então, aos poucos, buscar o repouso, ou, no nosso caso, uma visão<br />
consensual, a qual ainda estaria em processo de construção. Assim sendo, depois de<br />
apresentar os pontos que julgamos mais relevantes para a compreensão do pensamento ético<br />
66 Talvez uma das poucas exceções seja o pensamento nietzscheano.
de MacIntyre, pretendemos agora mostrar quais a principais críticas que ele tece aos<br />
modernos, liberais e iluministas, bem como ao emotivismo.
CAPÍTULO II<br />
AS CRÍTICAS DE MACINTYRE À ÉTICA MODERNA<br />
N<br />
esse segundo momento queremos apresentar as principais críticas<br />
formuladas por MacIntyre à moralidade liberal que se fundamenta na<br />
razão e tem pretensões universalizantes. Conforme já assinalamos<br />
anteriormente, ele entende que o conflito tem um papel fundamental no estabelecimento das<br />
normas da moralidade, ou, quem sabe possamos dizer, das várias outras esferas da vida<br />
também. Sendo coerente com esse pensamento MacIntyre tem uma postura crítica com<br />
relação a ética vigente, mas também recebe críticas, pois ele entende que é dessa forma que o<br />
pensamento vai sendo processado. Agora interessa-nos expor as críticas feitas por ele,<br />
principalmente, aos modernos e aos emotivistas.<br />
Para a realização desse hercúleo trabalho, MacIntyre se vale, a princípio, do trabalho<br />
realizado por Nietzsche, e apresenta-o como um grande crítico da ética moderna – se bem<br />
que, justiça seja feita, Nietzsche critica praticamente o mundo todo conforme se encontrava<br />
constituído em sua época. Em conformidade com o pensamento de Bernardo de Chartres 67 ,<br />
parece que MacIntyre percebe a importância de nos ampararmos em gigantes para<br />
fundamentar nossos pensamentos e críticas e desse modo aponta que diante do estado em que<br />
o pensamento ético se encontra resta-nos duas alternativas: recorrer ao pensamento de<br />
Aristóteles ou ao de Nietzsche. É claro que, embora ele se utilize das criticas de Nietzsche, a<br />
sua fundamentação ética se dará numa base aristotélica.<br />
Num segundo momento vamos analisar aquilo que talvez seja o ponto mais polêmico<br />
na ética de MacIntyre: sua critica aos modernos. Parece claro que somos herdeiros daqueles<br />
que nos precederam e devemos muito a eles e, ainda, que temos pensadores brilhantes e de<br />
importância inigualável na idade moderna, mas o avanço na reflexão pode significar discordar<br />
de alguns pontos elaborados por tais pensadores. E é isso que MacIntyre procura mostrar<br />
através de sua análise e sua crítica aos modernos. A análise de MacIntyre parte dos<br />
pensadores modernos mais recentes em direção aos primeiros, mas preferimos seguir a ordem<br />
cronológica e, assim, mostrar como um pensamento sobrevive no seguinte. Buscaremos, de<br />
67 Bernardo de Chartres teria afirmado: "Somos anões carregados nos ombros de gigantes. Assim vemos mais, e<br />
vemos mais longe do que eles, não porque nossa visão seja mais aguda ou nossa estatura mais elevada, mas<br />
porque eles nos carregam no alto e nos levantam acima de sua altura gigantesca" (LE GOFF, 2003, p. 36).
forma sucinta, deixar claro porque, segundo MacIntyre, cada pensador por ele analisado,<br />
acaba fracassando e, por fim, porque todo o projeto iluminista fracassa.<br />
Como MacIntyre não se limita a criticar somente a ética dos modernos iluministas<br />
liberais, mas também uma das formas de expressão ética contemporânea, apresentaremos a<br />
crítica feita por ele ao emotivismo. Buscaremos contextualizar rapidamente o emotivismo<br />
através de sua relação com o intuicionismo e os motivos porque ambos não se sustentam,<br />
segundo a interpretação de Alasdair MacIntyre.<br />
2.1 A crítica de Nietzsche à ética dos modernos, segundo MacIntyre<br />
No capítulo XVIII da obra Depois da virtude, MacIntyre trata da crítica nietzscheana à<br />
moral moderna e dá a esse capítulo o curioso título de À procura da virtude: Nietzsche ou<br />
Aristóteles, Trotsky e São Bento. Entendemos que esse tratamento acena para a importância da<br />
reflexão de Nietzsche nas questões morais do pós-iluminismo. Seguramente Nietzsche é um<br />
filósofo bastante original e polêmico e instaurador de um modo diferente de fazer filosofia,<br />
valendo-se da busca da criação de uma nova imagem para o filósofo, pois para ele o filósofo<br />
do futuro deve abandonar a “perspectiva de rã” 68 e ser o filósofo do “perigoso talvez” 69 ,<br />
interiorizando a verdade até ao ponto de incorporá-la e torná-la parte constitutiva de si. Mas<br />
ainda que o homem consiga tal feito não poderá se empenhar em ditar a verdade aos demais,<br />
apenas poderá descrevê-la, visto que, para Nietzsche na haveria a verdade absoluta, somente a<br />
verdade plausível.<br />
Essa verdade seria de tal forma incorporada – sua assimilação seria tão perfeita, que a<br />
interiorização se faria sob a forma de esquecimento. Somente o filósofo que adquirisse essa<br />
postura teria acesso a uma nova tábua de valores que lhe permitiria viver a vida como ela deve<br />
verdadeiramente ser vivida em sua forma mais plena e não de modo servil. Afirma MacIntyre<br />
que “o homem nietzscheano, o Übermensch, o homem que transcende, até hoje não encontrou<br />
seu bem em lugar nenhum do mundo social, mas somente naquilo que dentro de si mesmo,<br />
dita sua própria nova lei e sua própria nova tabela das virtudes” lxxv (MACINTYRE, 2001, p.<br />
431)<br />
68 Termo encontrado em Para além de bem e mal, cap. I, parágrafo 2.<br />
69 Cf. NIETZSCHE, 1999, p. 303s. No parágrafo, intitulado Dos preconceitos dos filósofos (alguns<br />
comentadores e tradutores preferem o termo “pré-juízo” ao invés de preconceito), Nietzsche afirma que<br />
“crenças” batizadas de “verdades” acabaram desvirtuando os filósofos na busca da fundamentação dos valores<br />
e conclui que para essa busca voltar a ocorrer será “preciso esperar pela chegada de uma nova espécie de<br />
filósofos, os filósofos do perigoso talvez”. Desse modo, a filosofia deve ser vista apenas como tentativa e não<br />
como busca de finalização e fundamentação.
O servilismo ocorre porque a moral cristã-aristotélica, segundo Nietzsche, fez uma<br />
leitura errada do texto da realidade e, ao apresentar conjecturas como se fossem dogmas,<br />
construiu uma moral que privilegia o fraco e o submisso. Esse fato demonstra claramente que<br />
a questão ética estaria, portanto, intrinsecamente ligada à leitura de mundo, e demonstra<br />
também que somente a partir dessa leitura é que podemos determinar os valores atribuídos a<br />
essa realidade. Visto que é a leitura da realidade que nos fornece a base para as virtudes, essa<br />
leitura deverá, portanto, ser primeiramente científica, conforme ele afirma no final do<br />
parágrafo 335 da Gaia Ciência, intitulado “Viva a física!”:<br />
Nós, porém, queremos tornar-nos aqueles que somos – os novos, os únicos,<br />
os incomparáveis, os legisladores de si mesmos, os criadores de si mesmos!<br />
E para isso temos de tornar-nos os melhores aprendizes e descobridores de<br />
tudo o que é legal e necessário no mundo: “temos de ser físicos, para<br />
podermos ser, nesse sentido, criadores – enquanto até agora todas as<br />
estimativas de valor e ideais foram edificados sobre o desconhecimento da<br />
física ou em contradição com ela. E, por isso: viva a física! (NIETZSCHE,<br />
1999, p. 192).<br />
As virtudes que permitem ao homem elevar-se são as virtudes dos fortes e<br />
determinados, os quais buscam a transcendência sem recorrer ao divino, mas tão somente<br />
através da vivência plena de suas potencialidades. É através dessa noção, que<br />
fundamentalmente se apresenta sob a concepção de cultura, que o homem poderá se tornar no<br />
grande homem. Trata-se de uma concepção de cultura que passando pela arte, pela metafísica,<br />
pela filosofia, pela religião e pela ciência, entre outros, se constituirá no substrato que plasma<br />
o ser humano e no expediente maior que permitirá que se pense o homem nietzscheano.<br />
A profundidade do pensamento nietzscheano no que tange a moralidade pode ser<br />
analisada sob os mais diversos prismas, mas o que mais chamou a atenção de MacIntyre foi a<br />
crítica que Nietzsche formulou à moralidade dos iluministas modernos colocando-se como<br />
contraponto negativo do iluminismo, embora afirme MacIntyre que os pós-iluministas devam<br />
ser vistos mais como herdeiros do que como inimigos do iluminismo. E é justamente esta<br />
compreensão macintyreana do pensamento de Nietzsche que buscaremos mostrar.<br />
Ao se descartar a moral teleológica aristotélica, muitos filósofos morais tiveram de se<br />
embrenhar na busca de alternativas racionais convincentes acerca da natureza da moralidade,<br />
porém, tal empreendimento não logrou o sucesso almejado. E a percepção desta malograda<br />
empreitada foi, de tal modo, entendida por Nietzsche que o levou a buscar “demolir as<br />
estruturas das crenças e das argumentações morais herdadas” lxxvi (MACINTYRE, 2001, p.<br />
429). Ao propor a “transvaloração dos valores”, ele sentencia toda a moralidade até então<br />
constituída como a moral de escravos e fracos, que, por força do hábito e principalmente dos
ensinamentos cristãos, privilegia valores que servem apenas para manter o rebanho em seu<br />
estado servil. Em Para além de bem e mal Nietzsche diz “[...] „bom‟ deve ser precisamente o<br />
indivíduo „inócuo‟; é bonachão, pode ser facilmente enganado, talvez um pouco tolo... em<br />
suma um „bon homme. Onde quer que a moral servil se erga, a língua se mostra inclinada a<br />
fazer da palavra „bom‟ um sinônimo de „tolo‟” 70 (NIETZSCHE, 2001, p. 199).<br />
O filósofo de Sils Maria parece entender que tanto nos costumes como nas condições<br />
da existência humana, encontram-se marcas de um feroz adestramento que visa domar as<br />
feras humanas (Cf. HUISMAN, 2001, p. 728). Por isso ele<br />
[...] atacou a compaixão, a repressão dos verdadeiros sentimentos e a<br />
sublimação do desejo implícitos no cristianismo – em prol de uma ética mais<br />
forte e mais próxima das origens instintivas de nossos sentimentos. Deus<br />
estava morto, a era cristã terminara. No que exibiu de pior, o século XX<br />
provou que estava certo (STRATHERN, 1997, p. 27).<br />
Nietzsche não poupa críticas ao cristianismo que, segundo ele, defende o que é nocivo<br />
ao homem, pois considera pecado tudo o que é valor e prazer na terra, estabelecendo assim,<br />
um ideal de contradição que busca fazer o homem sufocar seus instintos por não passarem de<br />
tentações. “Condenando o cristianismo, Nietzsche também submete a moral à cerrada crítica.<br />
Essa é a „grande guerra‟ que Nietzsche trava em nome da „transformação dos valores que<br />
dominaram até hoje‟” (REALE, 1991, p. 433).<br />
A proposta da “transvaloração dos valores” sintetiza a filosofia moral nietzscheana e<br />
“[...] consiste em substituir a tábua tradicional dos valores, que se baseia na renúncia à vida,<br />
pelos novos valores oriundos da aceitação entusiástica (dionisíaca) da vida...”<br />
(ABBAGNANO, 2003, p. 974). No parágrafo 10 da Primeira dissertação da Genealogia da<br />
moral ele critica a moral tradicional afirmando que<br />
Essa mudança total do ponto de vista dos valores – essa orientação<br />
necessária para o exterior em lugar do retorno para si mesmo – evidencia<br />
precisamente o ressentimento: a moral dos escravos necessitou sempre, em<br />
primeiro lugar, para emergir de um mundo oposto e exterior, em termos<br />
fisiológicos, de estimulantes externos para simplesmente agir – sua ação é<br />
fundamentalmente reação (NIETZSCHE, 2007, p. 35).<br />
Podemos perceber que a moral nietzscheana defende que a linguagem da moralidade<br />
se funda em pseudoconceitos e para se chegar a uma moralidade verdadeira é preciso fugir<br />
desses pseudoconceitos morais ditando a si mesmo as normas de conduta, mas ao fazer isto,<br />
70 Para ele, a humildade, a caridade, a resignação, a piedade são valores dos fracos e vencidos, próprios de uma<br />
“moral de escravos”, intimamente ligada às necessidades dos que vivem em rebanho. Diferentemente, a<br />
“moral dos senhores” é positiva, porque baseada no sim à vida, e configurada sob o signo da plenitude, do<br />
acréscimo.
nos dirá MacIntyre, Nietzsche também acaba criando algo que poderia ser visto como um<br />
pseudoconceito, quando se refere ao “grande homem”. Contudo, isso não tira o mérito de<br />
Nietzsche que foi quem teve “a coragem de radicalizar conscientemente o fracasso do projeto<br />
iluminista de uma moralidade universal racional” (CARVALHO, 2000, p. 41). Huisman<br />
(2001, p. 729) afirma que “Nietzsche está tão longe do utilitarismo inglês quanto da<br />
universalidade kantiana”.<br />
Para MacIntyre a visão de Nietzsche é que a nossa moralidade não passa de disfarce<br />
da vontade de poder (Cf. MACINTYRE, 2001, p. 432). Na sua obra de 1873 – Sobre verdade<br />
e mentira no sentido extra-moral – Nietzsche diz: “O intelecto [...] desdobra suas forças<br />
mestras no disfarce; [...] é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos [...] se conservam [...].<br />
No homem essa arte do disfarce chega a seu ápice;” (NIETZSCHE, 1999, pp. 53-54).<br />
O disfarce apontado por Nietzsche teria se originado já na Grécia antiga e viria<br />
servindo como base para toda a moralidade européia, porém não há como fundamentar<br />
racionalmente a objetividade dessa moralidade. Em Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche diz que<br />
“Sócrates foi um mal-entendido; a inteira moral-da-melhoria, também a cristã, foi um mal<br />
entendido... [...] Ter de combater os instintos – eis a fórmula para a décadence: enquanto a<br />
vida se intensifica, felicidade é igual a instinto” (NIETZSCHE, 1999 p. 374s). Para ele a razão<br />
não deve sufocar os instintos oferecendo-lhe resistência, pois também a razão seria apenas<br />
uma doença e não um retorno à virtude e à saúde.<br />
Podemos ler no capítulo V, parágrafo 186, de Para Além de bem e mal:<br />
Aquilo que os filósofos chamam "fundamento da moral" e aquilo que<br />
pretendiam, não era, visto em verdadeira grandeza, mais que uma forma<br />
sapiente da boa fé na moral dominante, um novo meio de exprimir esta<br />
moral, portanto um estado de fato nos limites de uma moralidade<br />
determinada ou ainda, em última análise, uma espécie de negação, que uma<br />
tal moral pudesse ser concebida como problema; e em cada caso o contrário<br />
de um desânimo, de uma análise, de uma contestação, de uma vivissecção<br />
desta boa fé (NIETZSCHE, 2001, p. 99).<br />
Este fato impediria o homem nietzscheano de estabelecer relacionamentos que<br />
tivessem mediações assentadas em apelações “a modelos, virtudes ou bens compartilhados;<br />
ele é sua própria autoridade” lxxvii (MACINTYRE, 2001, p. 432). Em A vontade poder (962)<br />
Nietzsche dirá:<br />
O grande homem – o homem que a natureza construiu e inventou em grande<br />
estilo – o que ele é?... Se não puder liderar, prossegue sozinho; pode, então<br />
acontecer que ele rosne para algumas coisas que encontre pelo caminho...<br />
Ele não quer corações “solidários”, mas servos, ferramentas; em seu<br />
intercâmbio com os homens, sua intenção é sempre fazer deles alguma coisa.
Ele sabe que é incomunicável: acha falta de gosto ser conhecido; e quando<br />
alguém pensa que ele é, geralmente não é. Quando não está falando consigo<br />
mesmo, ele usa uma máscara. Prefere mentir a falar a verdade: requer mais<br />
disposição e vontade. Existe uma solidão dentro dele que é inacessível aos<br />
elogios ou às acusações, sua própria justiça que é inapelável lxxviii<br />
(NIETZSCHE, 1901, apud MACINTYRE, 2001, p. 432).<br />
Esse isolamento custaria ao homem o preço de carregar o fardo de sua própria e<br />
suficiente autoridade 71 , porém somente se poderia descobrir os bens que alicerçariam suas leis<br />
e suas virtudes dentro de comunidades onde seus membros se vinculassem por uma visão<br />
compartilhada dos bens. No parágrafo 9, livro I, de Aurora, Nietzsche afirma que “Em coisas<br />
onde nenhuma tradição manda não há nenhuma eticidade; [...] o homem livre é não-ético,<br />
porque em tudo quer depender de si e não de uma tradição” (NIETZSCHE, 1999, p. 141).<br />
Segundo MacIntyre, o feito histórico de Nietzsche, no campo moral, foi compreender<br />
que os apelos à objetividade não passavam de expressões da subjetividade e, por isso, ele<br />
“zomba da idéia de fundamentar a moralidade em sentimentos morais íntimos, na consciência,<br />
por um lado, ou no imperativo categórico kantiano, na possibilidade de universalização, por<br />
outro” lxxix (MACINTYRE, 2001, p. 196). Talvez pudéssemos ver acenos dessa crítica de<br />
Nietzsche à universalização quando diz que “estamos inclinados por princípio a afirmar que<br />
os mais falsos dos juízos (entre os quais estão os juízos sintéticos a priori) são para nós os<br />
mais indispensáveis” (NIETZSCHE, 1999, p. 304). E mais adiante ele afirma<br />
[...] juízos sintéticos a priori não deveriam, de modo algum, “ser possíveis”:<br />
não temos nenhum direito a eles, em nossa boca são puros juízos falsos. Só<br />
que, certamente, a crença em sua verdade é necessária, como uma crença de<br />
fachada e uma aparência que faz parte da ótica-de-perspectivas da vida<br />
(1999, p. 304s).<br />
A ótica-de-perspectivas remete à idéia de subjetividade e é isso que Nietzsche quer<br />
evidenciar, pois para ele o projeto iluminista de descobrir os fundamentos racionais para uma<br />
moralidade objetiva fracassou. O sujeito moral autônomo, pautado na razão, é uma ficção,<br />
uma ilusão que deve ser descartada, a menos que a razão seja substituída pela vontade. O<br />
homem aristocrático possuía uma gigantesca e heróica vontade, mas essa qualidade foi<br />
perdida e agora o desafio é, pegar o martelo e, construir uma nova tabela do bem e uma nova<br />
lei (MACINTYRE, 2001, p. 197).<br />
Na compreensão de MacIntyre essa seria a tarefa moral que Nietzsche reclama para si.<br />
O autor afirma que:<br />
71 Assim também, somente ele, poderia “suportar plenamente o pensamento do eterno retorno” (HUISMAN,<br />
2001, p. 732).
Esse problema constituiria o núcleo de uma filosofia moral nietzscheana,<br />
porque é na sua incessante pesquisa do problema, e não em suas soluções<br />
frívolas, que está a grandeza de Nietzsche, a grandeza que faz dele o grande<br />
filósofo moral se as únicas alternativas à filosofia moral de Nietzsche forem<br />
aquelas formuladas pelos filósofos do iluminismo e seus sucessores lxxx<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 197).<br />
Outro aspecto que distancia Nietzsche da moralidade iluminista é que esses últimos<br />
não conseguem lidar com a questão “que tipo de pessoa devo tornar-me?”, e acabam se<br />
comprometendo somente com a questão “que normas devo obedecer?”; pois, na modernidade<br />
as normas acabaram se tornando o conceito principal da vida moral e só se prezam as<br />
qualidades que levam a obedecer as normas. Virtude, nesse contexto, passa a ser o “desejo de<br />
agir com base nos princípios morais correspondentes” lxxxi (MACINTYRE, 2001, p. 205).<br />
John Rawls, entendendo que as virtudes morais fundamentais são os desejos de agir segundo<br />
os princípios fundamentais do direito, dirá que “a moralidade de autodomínio [...] se<br />
manifesta em sua forma mais simples na atitude de cumprir sem nenhuma dificuldade as<br />
exigências do justo e da justiça” (RAWLS, 2000, p. 531).<br />
Alguns nietzschianos atestam que as críticas de Nietzsche visam recuperar os valores<br />
afirmativos da vida 72 , incentivando a vontade, a sensibilidade e a criatividade. Dentro dessa<br />
visão, Para além de bem e mal deve ser visto como um alerta à moral tradicional, assentada<br />
essencialmente na dicotomia entre esses dois conceitos 73 , de que há algo mais profundo do<br />
que isso, ou como indica o título algo para além das questões concernentes ao bem e ao mal 74 .<br />
Podemos ver nessa idéia um ponto convergente entre Nietzsche e MacIntyre, pois<br />
ambos defendem que não se pode pensar a moralidade prescindindo da história. Para<br />
MacIntyre a história da moralidade é tão importante para o estudo moral quanto a história da<br />
ciência o é para o estudo da racionalidade cientifica, conforme já assinalamos anteriormente.<br />
Por isso, a moralidade reclama uma sociologia, uma antropologia e o estudo da cultura que<br />
plasma o ato moral, ou seja, a moral tem de ser contextualizada. E Nietzsche, criticando a<br />
perspectiva a-histórica da moral iluminista afirma:<br />
72 Segundo Danilo Marcondes “esses conceitos que são tratados como objetivos e derivados da razão universal<br />
nada mais são do que fruto dos sentimentos e instintos humanos, resultados da história, da cultura e da<br />
educação. Cabe então libertar o homem desses preconceitos e dos valores tradicionais e fazê-lo redescobrir os<br />
valores afirmativos da vida, que permitem o desenvolvimento do que há de mais nobre em sua natureza e<br />
possibilitam que cada um seja capaz de superar a sim mesmo em direção ao „homem do futuro‟”<br />
(MARCONDES, 2009, p. 102).<br />
73 A moral tradicional se assenta sobre esses dois conceitos do mesmo modo que a ciência se assenta na<br />
dicotomia entre os conceitos de verdadeiro e falso (Cf. MARCONDES, 2009, p. 102).<br />
74 Diz Nietzsche: “Admitir a inverdade como condição de vida: isto significa, sem dúvida, opor resistência, de<br />
uma maneira perigosa, aos sentimentos de valor habituais; e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca,<br />
simplesmente com isso, para além de bem e mal” (NIETZCHE, 1999, p. 304)
Alerta, portanto, diante desses espíritos benevolentes que governam<br />
talvez esses historiadores da moral! Mas falta-lhes infelizmente o<br />
espírito histórico, porque foram abandonados à sua sorte por todos os<br />
espíritos benevolentes da história! Pensam, segundo é velha tradição<br />
nos filósofos do passado, de uma maneira essencialmente antihistórica<br />
(NIETZSCHE, 2007, p. 24).<br />
Nietzsche propõe, portanto, a adoção de uma visão histórica acerca da moral de modo<br />
a compará-la com visões morais de outras culturas. E nesse ponto – a relevância da cultura e<br />
do contexto – também mostra a proximidade existente entre o pensamento dos dois autores.<br />
Nietzsche afirma no parágrafo 186 de Para além de bem e mal que:<br />
Os filósofos sem exceção encaram-se sempre com uma seriedade ridícula,<br />
algo de muito elevado, de muito solene, não apenas deviam ocupar-se da<br />
moral, como ciência, mas desejavam estabelecer os fundamentos da moral, e<br />
todos acreditaram firmemente tê-lo conseguido, mas a moral era encarada<br />
por eles como coisa "dada" (NIETZSCHE, 2001, p. 98).<br />
Acreditamos que cabe aqui uma indicação de que os filósofos morais modernos<br />
conheciam a moral apenas grotescamente e desprovida de sua história, seu contexto e sua<br />
cultura, num excerto arbitrário ou compêndio fortuito, ou seja, a moral que eles conheciam<br />
estava intimamente vinculada à sua classe, à sua Igreja e ao espírito da época; de seu clima e<br />
seu lugar, pois não eram bem informados e nem curiosos a respeito da história dos povos e<br />
assim não conseguiam – e nem conseguiriam devido à sua visão etnocêntrica – comparar as<br />
muitas morais existentes (Cf. NIETZSCHE, 2001, p. 98s).<br />
Podermos ver em Nietzsche a preocupação para que o homem se torne o que ele é<br />
como criador de valores, através da criação e das lutas que em si se processam demonstrando<br />
intensa vontade de potência. Para Giacóia<br />
Nietzsche se encontrava no limiar de uma experiência do mundo em que,<br />
como conseqüência dos progressos do conhecimento, noções como Verdade,<br />
Falsidade, Justiça, Bem, Mal, Virtude tinham sido relativizadas, não<br />
podendo mais responder a nossa eterna pergunta pelo sentido da existência.<br />
Para ele, não cabia ao filósofo justificar ou condenar esse estado de coisas,<br />
mas constatá-lo; essa constatação seria, então, o único caminho que permite<br />
vislumbrar uma saída. Toda tentativa de negar essa condição representa não<br />
apenas uma desonestidade intelectual e moral, mas sobretudo o risco da<br />
catástrofe; ou seja, a possibilidade de que o esvaziamento de valores<br />
autênticos nos conduza de volta à barbárie, à destruição daquilo que de mais<br />
precioso a humanidade conquistou ao longo da história: a dignidade da<br />
pessoa humana (GIACOIA JÚNIOR, 2000, p. 15).<br />
Mas apesar de todas as críticas feitas por Nietzsche à moralidade de sua época,<br />
MacIntyre conclui que nem ele mesmo conseguiu suplantar o “esquema conceitual da<br />
modernidade individualista liberal” lxxxii (MACINTYRE, 2001, p. 434), e a sua postura<br />
fulgura como mais uma das muitas facetas daquela cultura moral que Nietzsche
implacavelmente criticou e deste modo ele pode ser considerado o último representante do<br />
individualismo que tenta escapar das conseqüências de sua postura moral. De maneira, que o<br />
embate que prossegue ainda será entre liberais e aristotélicos, sendo que estes últimos<br />
entendem que ainda nos falta um enunciado racionalmente defensável da ética individualista<br />
liberal. E, como representante desta última vertente, defende MacIntyre que somente a ética<br />
advinda de Aristóteles poderá restabelecer a racionalidade a nossas atitudes morais e sociais<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 435). Somente o retorno à ética aristotélica das virtudes pode<br />
“devolver coerência e racionalidade ao desacordo moral que reina na cultura moderna”<br />
(CARVALHO, 2000, p. 41).<br />
E, por fim, entende MacIntyre que essa refutação por parte de Nietzsche da moderna<br />
moral das normas, não atinge a tradição aristotélica e é justamente isso que permitirá<br />
MacIntyre alegar “[…] ter mostrado que, na filosofia moral, apenas é defensável a visão que<br />
retorna a uma ampla concepção aristotélica de ética ou a uma visão nietzscheana”<br />
(SOLOMON, 2003, p. 136).<br />
2.2 O fracasso da fundamentação ética iluminista<br />
Talvez, ao lado da defesa do comunitarismo ético – não se esquecendo, obviamente,<br />
do resgate da ética aristotélica, como já vimos anteriormente – a idéia que mais se associe à<br />
figura de MacIntyre seja a sua crítica à moral iluminista, pois ele surge como um dos mais<br />
severos críticos 75 da moral liberal a qual, segundo ele, prescindindo dos contextos sociais<br />
concretos, acentua a prioridade das liberdades individuais. Concepção essa que MacIntyre<br />
rejeita ao destacar “o enraizamento da justiça nas compreensões e tradições constitutivas da<br />
comunidade” (FORST, 2010, p. 10). Essa é a idéia base do livro After Virtue, onde ele<br />
apresenta um diagnóstico da ética atual “centrado sobre a tese do fracasso do projeto<br />
iluminista de uma ética autônoma” (CR<strong>EM</strong>ASCHI, 2001, p. 21) e ressalta que as dificuldades<br />
que a filosofia moral enfrenta atualmente têm sua origem nesse fracasso.<br />
E é no capítulo IV do After Virtue, intitulado “A cultura predecessora e o projeto<br />
iluminista de justificar a moralidade” lxxxiii (MACINTYRE, 2001, p. 73), que MacIntyre<br />
procura mostrar que houve uma transformação nas modalidades da fé e a partir daí um novo<br />
fundamento para a moral passa a ser buscado pelos modernos, com destaque, segundo<br />
MacIntyre, para a busca feita por Diderot, Hume, Kant e Kierkegaard.<br />
75 Ao lado dos americanos Michael Sandel e Michael Walzer – ambos de ascendência judaica, do canadense<br />
Charles Taylor e do Israelense Gad Barzilai, entre outros.
Ou seja, esse mundo que já teve a natureza por garantia, ou princípio, da lei moral e<br />
substituiu-a pela fé, agora se vê à procura de um novo fundamento, pois dessa vez é a própria<br />
idéia de Deus que cada vez mais cede lugar à razão. “Num mundo de racionalidade secular, a<br />
religião não poderia mais servir de pano de fundo [...] para o discurso e a ação moral” lxxxiv<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 96).<br />
E assim,<br />
A tese de MacIntyre é que tanto nossa cultura geral como nossa filosofia<br />
acadêmica são filhas de uma cultura que não conseguiu resolver seus<br />
problemas práticos e filosóficos, cujo fracasso determinou a forma dos<br />
nossos atuais problemas filosóficos e sociais. Mais precisamente, somos os<br />
herdeiros da cultura iluminista, forjada no nordeste da Europa no século<br />
XVIII, e do seu fracassado projeto de justificar a moralidade (CARVALHO,<br />
1999, p. 36).<br />
Referindo-se ao fracasso do iluminismo MacIntyre afirma:<br />
Para justificar essa tese, é preciso relatar, com certa minúcia, a história desse<br />
projeto e de seu fracasso; e a maneira mais esclarecedora de contar essa<br />
história é fazê-lo de trás para a frente, começando do ponto em que surge,<br />
pela primeira vez, a perspectiva distintamente moderna em forma<br />
amadurecida (MACINTYRE, 2001, p. 78).<br />
Isso significa dizer que em sua abordagem, MacIntyre faz um caminho às avessas: de<br />
Kierkegaard à Kant e de Kant à Hume e Diderot. No entanto, preferimos aqui seguir a ordem<br />
cronológica.<br />
Lembra MacIntyre que a palavra “moral” teria sido criada por Cícero para traduzir a<br />
palavra grega êthikos, cujo significado era “pertencente ao caráter”, ou seja, as disposições<br />
para comportar-se de determinada maneira. Aos poucos aparecem as primeiras traduções da<br />
“moralis” latina de Cícero para o inglês, as quais vão evoluindo até o seu uso como<br />
substantivo, por exemplo, quando referidas a um texto literário, é compreendida como as<br />
lições que se poderia tirar desse determinado texto. Foi só nos séculos XVI e XVII que essa<br />
palavra adquiriu o significado usado pelos modernos, e só nos fins do século XVII foi<br />
utilizada pela primeira vez em sentido de comportamento sexual. E foi assim que “ser imoral”<br />
transformou numa expressão idiomática: “ser sexualmente indulgente” (MACINTYRE, 2001,<br />
p. 77).<br />
E então, entre 1630 e 1850 a moralidade passou a ser entendida mais no sentido de<br />
normas de conduta, desvinculando-se de qualquer caráter teológico, legalista ou estético.<br />
Lembra MacIntyre que
Foi somente em fins do século XVII e no século XVIII, quando essa<br />
diferenciação da moral do teológico, do jurídico e do estético tornou-se<br />
doutrina aceita, que o projeto de uma justificação racional<br />
independentemente da moralidade tornou-se, não mera preocupação de<br />
pensadores, mas fundamental para a cultura do norte europeu lxxxv<br />
(MACINYRE, 2001, p. 78).<br />
Começando por Diderot – e, sobretudo, pela análise de sua obra O sobrinho de<br />
Rameau – MacIntyre entende que para esse autor a essência da natureza humana se revela e se<br />
satisfaz ao ceder lugar aos desejos, fato claramente perceptível naquilo que Diderot apresenta<br />
como a sexualidade promíscua dos polinésios (MACINTYRE, 2001, p. 91); mas apesar dessa<br />
afirmação o próprio Diderot afirma que Paris não é a Polinésia e acaba optando pela moral<br />
convencional burguesa para a educação moral de sua filha. Não obstante esse fato, MacIntyre<br />
acredita que<br />
Na persona do philosophe, a tese que ele propõe é de que se na França<br />
moderna todos buscassem realizar seus desejos com um olhar esclarecido<br />
para um futuro distante, veriam que as normas morais conservadoras são<br />
predominantemente as normas cujo apelo a suas bases na paixão e no desejo<br />
permanecerão lxxxvi (MACINTYRE, 2001, p. 92).<br />
O que Diderot estaria indicando é que, assim como existem desejos que podem ser<br />
reconhecidos como orientações legítimas para a ação, também existem desejos que devem ser<br />
reprimidos ou reeducados. A questão, portanto, é saber reconhecer um e outro, pois todos<br />
temos inúmeros desejos, muitos deles conflitantes, e precisamos decidir em qual direção<br />
educá-los (MACINTYRE, 2001, p. 92s). Desse modo, Diderot buscou distinguir entre os<br />
desejos naturais do homem e os desejos artificiais e corrompidos, ou seja, aqueles que nos são<br />
instilados pela civilização. O fracasso da fundamentação de Diderot estaria, então, no fato de,<br />
ao tentar fazer tal distinção, destruir “a base da moralidade na natureza fisiológica do homem,<br />
pois ele mesmo é obrigado a procurar outros fundamentos para discriminar os desejos” lxxxvii<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 93).<br />
Quanto à tentativa de fundamentação humeana, na interpretação de MacIntyre, o<br />
Hume do Tratado, nega que alguma fonte inata de altruísmo ou simpatia pelos outros possa<br />
superar um argumento voltado para o interesse e a utilidade, mas nas Investigações ele se vê<br />
obrigado a admitir essa idéia deixando transparecer que<br />
[...] o apelo à solidariedade é uma invenção que pretende preencher a lacuna<br />
entre quaisquer grupos de razões que pudessem dar apoio à adesão<br />
incondicional a normas gerais e incondicionais e quaisquer grupos de razões<br />
para ação ou juízo que se pudesse deduzir de nossos desejos particulares,<br />
lxxxviii<br />
flutuantes e regidos pelas circunstâncias, emoções e interesses<br />
(MACINTYRE, 2001, pp. 94-95).
Na encruzilhada onde filosofia humeana se encontra há que se fazer a escolha entre<br />
justificar a moralidade por meio da menção ao lugar das paixões ou recorrendo à razão. E,<br />
então, Hume se vê forçosamente propenso a defender o vínculo da moralidade com as paixões<br />
visto que seus argumentos excluem a possibilidade de qualquer forma de conhecimento<br />
fundamentado na razão, embora sua hipótese inicial fosse de que a moralidade pudesse ser<br />
obra tanto das paixões quanto da razão (MACINTYRE, 2001, p. 95).<br />
Desse modo, apesar de Hume entender que os juízos morais são expressões da emoção<br />
e das paixões o próprio Hume trata as paixões dos entusiastas nos partidos da igualdade social<br />
e as paixões dos ascetas católicos como aberrações absurdas e, no primeiro caso, até<br />
criminosas. “As paixões normais são as dos herdeiros complacentes da revolução de 1688”<br />
lxxxix (MACINTYRE, 2001, p. 94). Disso decorre, portanto, que Hume discrimina entre um<br />
tipo e outro de paixão e parece recorrer “de maneira oculta a um modelo normativo – de fato,<br />
um modelo normativo bem conservador – para discriminar entre os desejos e as emoções” xc<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 94), dando sinais de que seu projeto de fundamentação da moral nas<br />
paixões parece recorrer às normas, o que aponta para um projeto fracassado.<br />
MacIntyre, sem dúvida, reconhece a grandeza de Kant para a história da filosofia<br />
moral e afirma que “Kant representa um grande ponto divisor na história da ética. Para a<br />
maioria dos filósofos posteriores e até mesmo para os que se dizem conscientemente anti-<br />
kantianos, a ética é definida como um assunto em termos kantianos” xci (MACINTYRE, 1966,<br />
p. 190). Mas mesmo assim o pensamento kantiano deve ser reexaminado em suas minúcias e<br />
é isso que MacIntyre se propõe.<br />
MacIntyre alega que se Hume inicialmente sustenta que a fundamentação da<br />
moralidade poderia dar-se tanto na razão quanto nas paixões e, ao optar pela última, fracassa;<br />
Kant, como numa espécie de reação a esse episódio filosófico, opta justamente pela primeira.<br />
E ao apelar para a razão, Kant torna-se o herdeiro e sucessor histórico de Diderot e Hume<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 91), enquanto se empenha na tentativa de dar uma resposta histórica<br />
ao fracasso deles.<br />
de Kant:<br />
Segundo MacIntyre, duas teses são importantes para se entender o pensamento moral<br />
[...] se as normas da moralidade são racionais, devem ser iguais para todos os<br />
seres racionais, da mesma forma que o são as leis da aritmética; e se as<br />
normas da moralidade são obrigatórias para todos os seres racionais, então a<br />
capacidade contingente de tais seres as obedecerem deve ser irrelevante – o<br />
importante é sua vontade de obedecê-las xcii (MACINTYRE, 2001, p. 85s).
Disso se pode inferir que justificar racionalmente a moral seria o mesmo que descobrir<br />
um exame racional que nos permitisse discriminar quais máximas são expressões autênticas<br />
da lei moral quando determinam nossa vontade. O que Kant talvez não tenha percebido é que<br />
quem discrimina corretamente tais máximas é o homem virtuoso e disso o próprio Kant deu<br />
exemplo, pois<br />
Kant não fica devendo, naturalmente, acerca de quais máximas sejam de fato<br />
a expressão da lei moral; os homens e as mulheres virtuosos comuns não<br />
precisaram esperar que a Filosofia lhes dissesse em que consistia a boa<br />
vontade, e Kant não duvidou nem por um momento que as máximas que<br />
aprendeu com os próprios pais virtuosos fossem as que deviam ser<br />
justificadas por um exame racional xciii (MACINTYRE, 2001, p. 86).<br />
Para MacIntyre, isso mostra que o conteúdo kantiano da moralidade era conservador e<br />
herdado de um contexto muito próprio: a sociedade luterana de Königsberg, do século XVIII.<br />
E será com base nessa concepção que Kant rejeitará a proposta de que a moralidade deva nos<br />
conduzir à felicidade, pois ainda que todos desejem a felicidade e que ela seja o coroamento<br />
da perfeição moral, o seu conceito é muito vago. Parece que para Kant “qualquer preceito que<br />
se destine a garantir nossa felicidade seria a expressão de uma lei com valor apenas<br />
condicional” xciv (MACINTYRE, 2001, p. 87); e para Kant a lei moral não pode ser<br />
condicional, antes categórica, impositiva. E esse seria o motivo da lei moral não poder<br />
amparar-se nos desejos e tampouco numa fé religiosa, pois a razão prática não pode se utilizar<br />
de critério externo a si mesma.<br />
Na visão de MacIntyre, Kant tem muito claro que<br />
Pertence à essência da razão estabelecer princípios universais, categóricos e<br />
internamente compatíveis. Por conseguinte, a moralidade racional<br />
estabelecerá os princípios que podem e devem ser seguidos por todos os<br />
seres humanos, seja qual for a circunstância e as condições, e que podem ser<br />
sempre obedecidos por todo agente racional em qualquer ocasião xcv<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 88).<br />
Resta, então, decidir quais máximas morais passam nesse teste proposto por Kant. E,<br />
para MacIntyre, Kant demonstra que “dizer sempre a verdade”, “cumprir sempre as<br />
promessas”, “ser bondoso com os necessitados” e “não cometer suicídio”, são aprovadas; ao<br />
passo que “só cumpra as promessas quanto for conveniente para você”, é reprovada. No<br />
entanto, MacIntyre alega que os argumentos kantianos, por conter erros, permitem que, não só<br />
máximas morais, mas também máximas imorais e até amorais possam ser justificadas, tais<br />
como: “persiga todos aqueles que professam falsas religiões” ou “cumpra todas as promessas<br />
durante a vida inteira menos uma” (MACINTYRE, 2001, p. 89).
MacIntyre admite que alguém poderia objetar que sua interpretação de Kant está<br />
deduzindo coisas que Kant não quis dizer e que Kant deve ser sempre interpretado tendo-se<br />
em mente que para ele “todos os seres racionais estão, pois submetidos a essa lei que ordena<br />
que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, mas<br />
sempre simultaneamente como fins em si” (KANT, 2005, p. 64). Ocorre que MacIntyre,<br />
embora admita que essa formulação tenha um conteúdo moral, afirma que ela não é tão clara<br />
e, por isso, necessita vir sempre acompanhada de elucidações posteriores. Mesmo que se<br />
ofereça a alguém boas razões para se agir de determinada maneira, enquanto o agente “não<br />
decidir por conta própria se a razão é boa ou não, o agente não tem razão para agir” xcvi<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 90); e conclui<br />
Eu posso, sem incoerência nenhuma, desobedecê-la; “que todos, menos eu,<br />
sejam tratados como meios” pode ser imoral, mas não é incoerente e não<br />
existe incoerência nenhuma em desejar um universo de egoístas, todos<br />
vivendo segundo essa máxima xcvii (MACINTYRE, 2001, p. 90).<br />
As conseqüências da doutrina kantiana sugerem que a tentativa de encontrar um ponto<br />
de vista moral, independente do contexto, ou da ordem social, pode ser ilusória. E essa busca<br />
o torna um servidor conformista da ordem social que expressa sempre os desejos e as<br />
necessidades dos homens, em circunstancias sociais específicas xcviii (MACINTYRE, 1966, p.<br />
198).<br />
Kierkegaard parte de onde Kant parou; ou, segundo MacIntyre, ele percebe que Kant<br />
falhou e busca “convocar o ato da escolha para realizar a tarefa que a razão não conseguiu<br />
realizar” xcix (MACINTYRE, 2001, p. 91). Ou seja, assim como Kant buscou corrigir os erros<br />
de Diderot e Hume, Kierkegaard procurará corrigir Kant. Desse modo, o projeto de<br />
Kierkegaard será uma resposta histórica ao projeto de Kant.<br />
Kierkegaard, através do seu livro Ou, ou choca os participantes do discurso moral,<br />
pois nessa obra ele busca estabelecer a moralidade com base em uma escolha desprovida de<br />
critérios; uma escolha para a qual não se pode dar justificativa moral. (MACINTYRE, 2001,<br />
p. 78). Essa obra tem três características: a primeira é a maneira como é apresentada, pois<br />
nela, Kierkegaard, disfarçadamente, fala através dos personagens, o que, na interpretação de<br />
MacIntyre, trata-se do uso de máscaras 76 , através da qual o autor se faz presente e ao mesmo<br />
tempo se esconde. Em Ou, ou Kierkegaard apresenta a opção entre a vida estética e a vida<br />
ética e não faz nenhuma recomendação, pois a escolha não é entre bem e mal, mas entre<br />
76 MacIntyre diz que Kierkegaard divide o eu, mas não é o primeiro a se utilizar desse recurso, pois fora<br />
precedido por Diderot, em O sobrinho de Rameau; e ambos foram precedidos pelo Pascal, de Pensamentos<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 79).
escolher ou não em termos de bem e mal e ninguém deve oferecer razões para se preferir um<br />
ou outro (MACINTYRE, 2001, p. 80).<br />
A segunda característica de Ou, ou é, para MacIntyre, a incompatibilidade entre o seu<br />
conceito de escolha radical e o seu conceito de ético, e lembra que “o ético é apresentado<br />
como domínio onde os princípios têm autoridade sobre nós, sejam quais forem nossas<br />
atitudes, preferências e sentimentos. Como me sinto em um dado momento é irrelevante para<br />
a questão acerca de como devo viver” c (MACINTYRE, 2001, p. 82). Mas, pergunta<br />
MacIntyre, de onde vem a autoridade do ético? Se uma religião me propõe, por exemplo, um<br />
jejum e eu o observo externamente, mas internamente tenho por fim apenas emagrecer, só<br />
quem poderá conhecer os motivos últimos da minha ação, serei eu mesmo. Portanto, a<br />
autoridade que um princípio possa possuir, provém das razões da minha escolha<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 83).<br />
Parece que tendemos a apelar para a autoridade quando a razão fracassa, pois a idéia<br />
de razão e de autoridade não estão ligadas, antes são excludentes 77 , haja vista que a idéia de<br />
autoridade parece ser irracional. MacIntyre entende que “contanto que sejam boas razões, os<br />
princípios têm autoridade correspondente; se não forem boas razões, os princípios, no mesmo<br />
grau, carecem de autoridade. Seguir-se-ia que o princípio para cuja escolha não se pudesse<br />
oferecer boas razões seria um princípio destituído de autoridade” ci (MACINTYRE, 2001, p.<br />
83). Mas para o Kierkegaard de Ou, ou seria bem o contrário: seguir um princípio por<br />
capricho, ou arbitrariamente, pertence ao domínio estético, no domínio ético os princípios<br />
devem ser adotados sem razão alguma, baseados em alguma opção que se encontre para além<br />
da razão, desde que conte para nós.<br />
A terceira característica dessa obra é o seu caráter conservador e tradicional da<br />
definição de ético. Para MacIntyre, Kierkegaard combina escolha radical com a sua<br />
concepção do ético e, segundo MacIntyre, há nessa combinação uma incoerência profunda<br />
entre o novo e o herdado 78 , de modo que se o ético tem algum fundamento, esse não pode ser<br />
proporcionado pela idéia de escolha radical.<br />
77 MacIntyre afirma que “não é de surpreender que assim como foi Kierkegaard que descobriu o conceito de<br />
escolha radical, também foi nos escritos de Kierkegaard que os elos entre razão e autoridade se partiram”<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 84). “It is not surprising that just as it was Kierkegaard who first discovered the<br />
concept of radical choice, so it is in Kierkegaard‟s writings that the links between reason and authority are<br />
broken too” (AV, p. 43).<br />
78 Afirma MacIntyre que, combinando novidade e tradição “Kierkegaard oferece um novo alicerce prático e<br />
filosófico para um modo de vida antigo e herdado” (MACINTYRE, 2001, p. 84). “[...] Kierkegaard is<br />
providing a new practical and philosophical underpinning for an older and inherited way of life” (AV, p. 43).
Na interpretação de MacIntyre todos os fracassos acima relacionados, são devidos “a<br />
certas características em comum oriundas de suas circunstâncias históricas”<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 97). Todos os autores acreditavam que já estaria implícito na<br />
natureza do ser humano seguir as regras e normas da moralidade por eles explicadas e<br />
justificadas. O diferencial entre eles é que uns acreditam que a natureza humana se caracteriza<br />
pelas paixões, outro pela razão e outro pela capacidade de tomar decisões; mas todos “têm em<br />
comum o projeto de construir argumentos válidos que passem das premissas relativas à<br />
natureza humana, conforme as entendem, às conclusões sobre a autoridade das normas e dos<br />
preceitos morais” ciii (MACINTYRE, 2001, p. 99). Contudo, MacIntyre salienta que tanto o<br />
conceito de natureza humana, como o de autoridade moral tem cada um a sua história e a<br />
relação entre eles só será inteligível à luz dessa história.<br />
Os modernos foram precedidos por um esquema moral que dominou a idade média e o<br />
qual, fundamentalmente, se encontra na Ética à Nicômaco. Essa obra requer a compreensão<br />
dos conceitos acerca da essência humana, do télos humano, da passagem de ato e potência e<br />
da questão dos vícios e virtudes. O seu pano de fundo é a visão de que a nossa natureza tende<br />
para um determinado fim; que devemos educar os nossos desejos; e que a nossa natureza<br />
precisa ser transformada através da razão prática e da experiência 79 (MACINTYRE, 2001, p.<br />
100). Trata-se de um esquema que se assenta numa tríade: a natureza humana como ela é, os<br />
preceitos morais polidores do caráter humano e a natureza humana como ela deveria ser.<br />
Mas nos fins da idade média, com o protestantismo e o jansenismo, começa a surgir<br />
um novo conceito de razão a qual agora passa a ser vista como impotente para corrigir nossas<br />
paixões. E Pascal, antecipando-se notavelmente a Hume, dirá que a razão é apenas<br />
calculadora, cabendo-lhe tão somente avaliar verdades de fato e relações matemáticas, não<br />
compreendendo essências ou o movimento de ato e potência “e, por conseguinte, uma grande<br />
realização da razão, segundo Pascal, é reconhecer que nossas crenças se fundamentam,<br />
principalmente, na natureza, nos costumes e nos hábitos” civ (MACINTYRE, 2001, p. 102).<br />
Ao se tirar da razão a capacidade de antever um fim para a natureza humana, perdeu-<br />
se um dos elementos que compunham o esquema moral formador do contexto histórico que<br />
possibilitou o surgimento do pensamento moral moderno. A tríade se desfez e os preceitos<br />
morais vão ao poucos deixando de ter o propósito de corrigir a natureza humana, restando<br />
79 Posteriormente esses conceitos se tornaram expressão da lei divina e a tabela das virtudes e vícios foi ampliada<br />
amparada na idéia de que o nosso télos se encontra noutro mundo.<br />
cii
apenas os conteúdos morais privados de um contexto teleológico e a visão da natureza<br />
humana como ela é sem instrução.<br />
Ao perceber a iminência de um possível colapso moral, os modernos se empenharam<br />
na tentativa de descobrir uma base racional para a moralidade na natureza humana e<br />
buscaram, sobretudo, “um alicerce para a moralidade nas prescrições universalizáveis da<br />
razão” cv (MACINTYRE, 2001, p. 104s). Para Kant, ao nos voltarmos para a natureza humana<br />
encontraremos sua base justamente na racionalidade e isso vai conduzi-lo, quase<br />
forçosamente, a reconhecer que sem uma estrutura teleológica todo o projeto da moralidade se<br />
tornará ininteligível (MACINTYRE, 2001, p. 105). Sem o teleológico, o moral se reduz às<br />
normas, aos preceitos que, para os modernos, ainda assim estariam atrelados à natureza<br />
humana. Era o teleológico que conferia coerência racional à moralidade.<br />
Para Hélder Carvalho<br />
Ao não perceberem essa transformação de natureza histórica sofrida pela<br />
moralidade e pela linguagem moral, os pensadores iluministas não<br />
conseguiram visualizar plenamente a natureza de suas dificuldades em<br />
fundar a moralidade sobre bases racionais independentes. E a nossa cultura,<br />
como herdeira direta do fracasso do projeto ético iluminista, também sofre<br />
da mesma cegueira histórica desse fracasso (CARVALHO, 1999, p. 45).<br />
Mas não foram apenas os conceitos morais ou a sua linguagem que sofreu algum tipo<br />
de mudança, também o significado dos juízos morais mudaram substancialmente, passando<br />
do viés teleológico para o funcional. Nos conceitos funcionais é permitido que se passe de<br />
uma premissa factual para uma conclusão normativa, fugindo, assim, do engessamento<br />
provocado até então pela lógica medieval, a qual não permitia que aparecesse na conclusão<br />
elementos ausente nas premissas. O conceito funcional aliado ao individualismo oriundo da<br />
modernidade permite o surgimento emotivismo, ponto que pretendemos desenvolver na<br />
seqüência.<br />
2.3 A crítica ao emotivismo<br />
Assim como a modernidade iluminista e liberal ao acentuar, inicialmente, a razão<br />
como chave de compreensão do mundo, busca submeter os juízos morais às categorias da<br />
racionalidade, posteriormente quando a ênfase recai na questão da linguagem, os juízos<br />
morais não escapam do crivo de uma análise lingüística de suas proposições. Se a<br />
racionalidade só foi possível via transmissão e compreensão de seus conteúdos, também a<br />
moralidade, nesses moldes, não podendo ser uma questão de verdade e falsidade, será
colocada em termos de aprovação e desaprovação, muitas vezes assente no gosto subjetivo de<br />
cada indivíduo, onde o “aprovo isso” é lido como “isso é bom, aprove-o também”. Notemos<br />
que nessa concepção, os enunciados morais não expressam crenças e sim sentimentos,<br />
preferências ou desejos e por isso ela é chamada de emotivismo (APPIAH, 2006, p. 170).<br />
O emotivismo defende, portanto, que, pela linguagem da moral, expressamos somente<br />
emoções e buscamos, assim, levar outras pessoas a agir de acordo com o que sentimos 80 .<br />
Nessa concepção os juízos morais são vistos apenas como relatos de qualquer tipo de fato,<br />
sem submeter-se ao critério de certo ou errado. Para os emotivistas, um juízo moral como<br />
“respeitar os outros é bom”, por exemplo, é o mesmo que dizer “viva o respeito!” E afirmar<br />
que o infanticídio é errado é o mesmo que dizer “abaixo o infanticídio!”. Podemos perceber<br />
que essas proposições são apenas exclamações emocionais que não possuem qualquer valor<br />
de verdade, pois para o emotivismo não existem crenças morais, conhecimentos morais e<br />
nem, tampouco, verdades morais. Por isso o emotivismo é considerado como uma teoria<br />
meta-ética, pois para ele, cabe à filosofia apenas estudar as estruturas lógico-lingüísticas da<br />
moral (ABBAGNANO, 2003, p. 668), não discorrendo sobre bem e mal, ou certo e errado.<br />
Para MacIntyre o emotivismo representa o terceiro estágio de um esquema moral que<br />
se iniciou com a tese de que a teoria e a prática normativas, sobretudo morais, têm padrões<br />
objetivos e impessoais que justificam e fundamentam normas, atos e juízos particulares;<br />
passando em seguida, para um estágio de mal-sucedidas tentativas de garantia da objetividade<br />
aos juízos morais, chegando-se, então, ao terceiro estágio onde o emotivismo surge<br />
defendendo que não é possível atingir essa pretensa garantia de objetividade 81<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 42s).<br />
O emotivismo se apresenta, segundo MacIntyre, como a doutrina segundo a qual todos<br />
os juízos morais não passam de expressões de preferência, de sentimentos ou de atitudes cvi<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 30), ou seja, são juízos subjetivos. Ocorre, no entanto, que apesar<br />
dos juízos particulares poderem unir-se a elementos morais e factuais, esses devem ser<br />
nitidamente distintos uns dos outros, pois enquanto os juízos factuais podem ser<br />
compreendidos como verdadeiros ou falsos, visto que existem critérios para se chegar a essa<br />
constatação; nos juízos morais, defende o emotivismo – conforme a leitura de MacIntyre –<br />
80<br />
Nesse espaço ele se aproxima bastante do subjetivismo, para quem não existe verdade moral independente do<br />
sujeito.<br />
81<br />
Seria possível entender que, nesse aspecto, o emotivismo e o comunitarismo comungam de uma visão<br />
parecida. Não devemos esquecer, porém, que enquanto o emotivismo nega qualquer tipo de justificação<br />
racional, o comunitarismo, proposto por MacIntyre, considera que, desde que contextualizada histórica e<br />
socialmente, tal justificativa seria possível.
que não se pode chegar a um acordo que se fundamente na razão, pois empregamos os nossos<br />
juízos morais para expressar nossos sentimentos e atitudes e, ainda, para tentar fazer com que<br />
outras pessoas ajam de acordo com tais sentimentos e atitudes.<br />
MacIntyre considera o filósofo analítico americano Charles Leslie Stevenson, o maior<br />
expoente do emotivismo, e afirma que Stevenson, em sua obra Ethics and Language (1945),<br />
apresenta o emotivismo “como uma teoria acerca dos significados dos enunciados utilizados<br />
para emitir juízos morais” cvii (MACINTYRE, 2001, p. 31). Para MacIntyre, em virtude de o<br />
emotivismo preocupar-se apenas com a linguagem e os conceitos morais, ele acaba se<br />
mostrando fruto de uma mentalidade circunstanciada que “não se dá conta de que o desacordo<br />
moral contemporâneo é o resultado de um longo processo histórico, e que em outros tempos e<br />
lugares o uso da linguagem moral e o papel dos conceitos morais eram inteiramente<br />
diferentes” (CARVALHO, 2001, p. 150). Em função disso, para MacIntyre, a reivindicação<br />
de universalidade de abrangência das teses emotivistas também fracassa. E ele destaca três<br />
razões que demonstram esse fracasso.<br />
A primeira razão é porque ela não identifica e nem caracteriza os sentimentos e<br />
atitudes envolvidos nos enunciados morais, o que significa dizer que não elucida o significado<br />
daquilo a que se propõe. E quando essa empreitada foi tentada caiu-se numa circularidade<br />
vazia. As afirmações seriam de que os juízos morais expressam sentimentos e atitudes, mas se<br />
perguntado que tipo de sentimentos e atitudes se obteria a resposta que são de aprovação. Ao<br />
questionar-se que tipo de aprovação, os emotivistas se calam, pois existem diversos tipos de<br />
aprovação (CARVALHO, 2001, p. 32).<br />
A segunda razão é que o emotivismo busca caracterizar como equivalente, em<br />
significado, as expressões de preferência pessoal e as expressões valorativas, as quais têm<br />
como característica, justamente, a contradição. A primeira depende de quem a emite e de seu<br />
poder justificativo e a segunda independe do contexto da alocução (MACINTYRE, 2001, p.<br />
33).<br />
E a terceira razão é que “a expressão de sentimentos e atitudes não é, tipicamente,<br />
função do significado dos enunciados, mas de seu uso em determinadas ocasiões” cviii<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 33). Ela deveria ser proposta como uma teoria acerca do uso e não<br />
acerca de seu significado. Ao usar os “enunciados para dizer o que queiram dizer, o agente<br />
estaria, de fato, fazendo nada mais que expressar seus sentimentos e atitudes, e tentando
influenciar os sentimentos e atitudes de outrem” cix (MACINTYE, 2001, p. 34). Essa idéia<br />
remete ao uso dos sentimentos e atitudes de maneira manipuladora 82 .<br />
Ao se analisar o emotivismo historicamente percebe-se que Hume já se utilizava de<br />
elementos emotivistas em suas teses morais, mas foi só no século XX, entre 1903 e 1939, que<br />
o emotivismo floresceu, como reação ao intuicionismo proposto por George Edward Moore.<br />
E MacIntyre lembra que para os acadêmicos 83 do começo do século XX parecia que Moore<br />
havia instaurado um novo paraíso na terra, pois tinha-se a impressão que ele resolvera os<br />
seculares problemas da ética. Segundo Hélder Carvalho<br />
Para MacIntyre, essa era precisamente a condição da linguagem moral na<br />
Inglaterra entre 1903 e 1939, quando floresceu um corpo de teoria moral que<br />
tomou emprestado do século XIX o nome de “intuicionismo”, capitaneado<br />
por G. E. Moore e seu Principia Ethica, contra o qual o emotivismo<br />
construiu-se como teoria do significado (CARVALHO, 2004, p. 152).<br />
Na visão de MacIntyre 84 , Moore acreditava que ao atentar para a natureza exata das<br />
questões morais fizera três descobertas. A primeira era que o “bom”, não-natural 85 , é diferente<br />
do “agradável”, pois para ele o “bom” era tido como uma intuição não passível de prova ou<br />
refutação (MACINTYRE, 2001, p. 36). A segunda era que dizer que um ato é certo é o<br />
mesmo que dizer que tal ato produziu um grande bem, do que decorre que nenhum ato possa<br />
ser considerado sempre como certo ou errado em si. E a terceira descoberta é que afeições<br />
pessoais e prazeres estéticos abrangem os maiores bens que se pode imaginar, tornando-se<br />
quase o único fim justificável de toda ação humana (MACINTYRE, 2001, p. 37).<br />
Argumenta MacIntyre, que essas três posições são logicamente independentes, ou seja,<br />
dá para sustentar qualquer uma delas e negar as outras duas, ou sustentar duas e negar uma,<br />
sem cair em incoerência. Além disso, para MacIntyre, a primeira afirmação é falsa e as outras<br />
82<br />
Hoje essa atitude é concebida por muitos pensadores como o uso instrumental da razão, a qual<br />
fundamentalmente se refere à questão de tratar o outro como um meio e não como um fim em si, como<br />
defendia Kant.<br />
83<br />
Os citados por MacIntyre são: John Maynard Keynes, Lytton Strachey, Desmond McCarthy e Virgínia Woolf<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 35).<br />
84<br />
Darlei Dall‟Agnol defende que MacIntyre lera apenas partes do Principia de Moore e por isto sua<br />
interpretação ficou prejudicada. Para Dall‟Agnol as virtudes têm valor intrínseco, ou seja, são dignas de<br />
escolha por si mesmas (DALL‟AGNOL, 2005, p. 381). No entanto defende este autor que Moore também<br />
fizera uma leitura equivocada de Aristóteles e mantém que virtude é um mero hábito (Ibidem, p. 385). Por fim,<br />
sustenta Dall‟agnol que “parece ser possível reconstruir a filosofia moral de Moore em termos de uma ética<br />
das virtudes” (Ibidem, p. 390).<br />
85<br />
Afirma MacIntyre (2001, p. 37) que “a maioria dos intuicionistas ingleses chegaram a dar apoio à teoria de<br />
que existia uma propriedade não-natural de „certo‟, bem como de „bom‟, e afirmavam que perceber que<br />
determinado tipo de ato era „certo‟ era ver que se tinha, pelo menos à primeira vista, a obrigação de realizar<br />
esse tipo de ato, fossem quais fossem suas conseqüências”. [...] most English intuitionists came to hold the<br />
view that there was a non-natural property of „right‟ as well as of „good‟ and held that to perceive that a certain<br />
type of action was „right‟ was to see that one had at least a prima facie obligation to perform that type of<br />
action, independently of its consequences” (AV, p. 15).
duas estão em conflito. Ele sustenta que “os argumentos de Moore às vezes são, agora deve<br />
nos parecer, obviamente falhos – ele tenta provar que „bom‟ é indefinível, por exemplo,<br />
confiando num dicionário que define mal a palavra „definição‟ – e grande parte deles são<br />
afirmados, e não argüidos” cx (MACINTYRE, 2001, p. 37).<br />
Contudo, os seguidores de Moore se regozijavam nessa teoria e viam nela a rejeição<br />
do utilitarismo e do cristianismo chegando até a afirmar que ela era a “substituta dos<br />
pesadelos, das ilusões e das alucinações religiosas e filosóficas nas quais Jeová, Cristo e São<br />
Paulo, Platão, Kant e Hegel nos enredaram” cxi (MACINTYRE, 2001, p. 38). Referindo-se a<br />
esses discípulos, MacIntyre afirma que<br />
Não é implausível supor que de fato confundiram a elocução moral em<br />
Cambridge (e em outros lugares com patrimônio cultural semelhante) depois<br />
de 1903 com a elocução moral em geral, e que, por conseguinte,<br />
apresentaram o que era em essência uma explicação correta da primeira<br />
como se fosse uma explicação da segunda cxii (MACINTYRE, 2001, p. 40).<br />
O emotivismo estaria, portanto, modelado pela moralidade contemporânea tão<br />
somente, sem perceber que em outros tempos e lugares a linguagem da moral era<br />
completamente diferente e, segundo Hélder Carvalho, “essa cegueira é ainda mais agravada<br />
quando tenta ser uma filosofia moral de natureza valorativamente neutra, se esquecendo de<br />
que a própria pesquisa filosófica, ao investigar sobre determinados conceitos morais interfere<br />
e contribui para sua alteração” 86 (CARVALHO, 2001, p. 35). Ou seja, o emotivismo não<br />
deve ser visto como uma teoria acerca da moralidade em si, mas como uma teoria construída<br />
devido às condições históricas específicas enquanto reação ao pensamento moral de Moore 87 .<br />
Segundo MacIntyre, os emotivistas confundiram sua própria teoria com uma teoria do<br />
significado e foi por isso que eles não prevaleceram dentro da filosofia moral analítica, pois<br />
diante disso, os filósofos analíticos acabaram por rejeitar o emotivismo. Contudo, o<br />
emotivismo não morreu e ainda é possível perceber que “a preferência pessoal se repete<br />
continuamente nos escritos dos que não se consideram emotivistas” cxiii (MACINTYRE, 2001,<br />
p. 45). Diante disso, MacIntyre chega admitir que o emotivismo acabou se incorporando à<br />
nossa cultura e isso é perceptível não só nos debates e juízos, mas também nos conceitos e<br />
86<br />
Algo nessa afirmação parece nos remeter à idéia de que o princípio da incerteza de Heisenberg tem seus<br />
reflexos no campo da filosofia. Segundo esse princípio não é possível medir com absoluta precisão a posição e<br />
a velocidade de uma partícula, pois o ato de medir já afeta o que está sendo medido (GLEISER, 1997, p. 303),<br />
de modo que quanto mais precisão se obtém em um desses componentes, mais imprecisão se terá no outro<br />
(HUISMAN, 2004, p. 479).<br />
87<br />
Acerca do pensamento moral de Moore, pode-se aprofundar mais na obra de MacIntyre, A short history of<br />
ethics, cap. XVIII – Moral modern philosophy.
comportamentos cotidianos. Mas vale lembrar mais uma vez que para MacIntyre isso nem<br />
sempre foi assim.<br />
Embora, depois de Moore, muitos filósofos tenham passado a ignorar a importância do<br />
contexto histórico-sócio-cultural, a tese de MacIntyre é de que somente podemos<br />
compreender uma filosofia moral se compreendermos sua concreta expressão social, e a<br />
filosofia moral emotivista não deve ser exceção à regra (MACINTYRE, 2001, p. 51). Nesse<br />
intento, MacIntyre procura mostrar que a compreensão do emotivismo requer a destruição da<br />
distinção entre as relações sociais manipuladoras e não-manipuladoras, ou na linguagem<br />
kantiana, entre tratar o outro como um fim ou como um meio. Tratar o outro como um fim é<br />
não influenciá-lo com razões para agir de um modo ou de outro e deixá-lo que avalie por si as<br />
razões para a ação. Tratar o outro como um meio é fazer com que sirva às minhas finalidades.<br />
Para melhor compreender como isso acontece é preciso, segundo MacIntyre, que nos<br />
amparemos nas descobertas da sociologia e da psicologia e procuremos ver o mundo como<br />
uma arena onde desejos individuais e interesses rivais se entrechocam, numa clara<br />
demonstração de que até mesmo o emotivismo reclama uma compreensão do contexto social.<br />
Afirma MacIntyre que essa compreensão pode ser obtida através das idéias de Max Weber a<br />
qual<br />
[...] contém exatamente aquelas dicotomias contidas no emotivismo, e<br />
oblitera exatamente aquela distinção para a qual o emotivismo tem de estar<br />
cego. Questões de fins são questões de valores e, no tocante aos valores, a<br />
razão se cala; não se consegue revolver de forma racional o conflito entre<br />
valores rivais cxiv (MACINTYRE, 2001, p. 55).<br />
Ao assegurar, portanto, que os juízos de valores não são racionais, antes são instruções<br />
subjetivas dadas aos sentimentos e às emoções, Weber acaba se colocando, segundo a<br />
compreensão de MacIntyre, nas fileiras do emotivismo. MacIntyre acredita que essa adesão<br />
ao emotivismo fica clara quando Weber busca distinguir entre poder e autoridade e acaba por<br />
eliminar a diferença entre ambos. Weber defende que a única autoridade que pode validar a si<br />
mesma racionalmente é a autoridade burocrática ao apelar à sua própria eficiência, mas,<br />
entende MacIntyre, que o apelo à eficiência apenas “revela que a autoridade burocrática nada<br />
mais é que o poder bem sucedido” cxv (MACINTYRE, 2001, p. 57).<br />
Ao tentar influenciar, ou motivar, os subalternos, as autoridades acabam por<br />
incorporar “a função de controlar o comportamento e reprimir conflitos” cxvi (MACINTYRE,<br />
2001, p. 57) e, desse modo, corroboram a verdade estabelecida pelo emotivismo. O<br />
administrador burocrático acaba por assumir um personagem, com todas as exigências que
isso implica, através da fusão entre o papel desempenhado e a personalidade requerida pela<br />
função desenvolvida. Os papéis acabam se tornando personagens e, para MacIntyre, os<br />
personagens são os representantes morais da cultura em que se encontram. Afirma MacIntyre<br />
que<br />
[...] os personagens fundem o que em geral se acredita pertencer ao<br />
indivíduo e o que normalmente se pensa pertencer a papéis sociais. Tanto os<br />
indivíduos quanto os papéis, como os personagens, podem incorporar, e<br />
incorporam, crenças, doutrinas e teorias morais, mas cada um o faz à própria<br />
maneira cxvii (MACINTYRE, 2001, p. 59s).<br />
Entre os papéis sociais desempenhados nos diferentes contextos sociais dos nossos<br />
dias pode-se citar, segundo a concepção de MacIntyre, o padre católico que, porventura, possa<br />
ter perdido a fé – e nós incluiríamos aqui o padre que esteja em crise de fé, pois parece que<br />
essa realidade é mais recorrente que a citada por MacIntyre – e ainda assim tem de<br />
desempenhar um papel como se acreditasse profundamente naquilo que prega e faz<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 61). Outro exemplo que MacIntyre apresenta é o líder sindical que,<br />
deixando de acreditar numa revolução da classe trabalhadora, ainda assim se compromete em<br />
negociar melhorias para essa classe. Diz MacIntyre: “as convicções que ele tem na alma são<br />
uma coisa; as convicções que seu papel expressa e pressupõe são bem outras” cxviii<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 61). Nesses casos, afirma MacIntyre, há uma distância entre o<br />
indivíduo e o papel por ele representado.<br />
No caso dos personagens, MacIntyre entende que isso não ocorre, pois eles sofrem<br />
uma imposição externa, visto que “o personagem é alvo de atenção dos membros da cultura<br />
em geral, ou de algum setor significativo da cultura. Ele lhes proporciona um ideal cultural e<br />
moral. Donde se exige que nesse caso o papel e a personalidade se fundem (sic)” cxix<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 62). Trata-se de um processo onde a cultura plasma o personagem e<br />
o personagem legitima moralmente um modo de existência social. São os personagens que<br />
conferem personalidade à teoria emotivista ao compartilhar a distinção entre o discurso<br />
racional e o não-racional.<br />
Entre os personagens que melhor evidenciam hoje a teoria emotivista estão, segundo<br />
MacIntyre, o esteta rico, o administrador e o terapeuta; e afirma que “o administrador<br />
representa em seu personagem a obliteração da diferença entre relações sociais manipuladoras<br />
e não-manipuladoras; o terapeuta representa a mesma obliteração no âmbito da vida pessoal”<br />
cxx (MACINTYRE, 2001, p. 63). Embora nem o administrador e nem o terapeuta estejam<br />
envolvidos diretamente em um debate moral, eles se posicionam como figuras incontestáveis
no domínio dos fatos, dos meios e da eficiência mensurável 88 , segundo a perspectiva deles<br />
próprios. A terapia tem invadido, declara MacIntyre (2001, p. 64), as esferas da educação e da<br />
religião.<br />
Contudo, ainda que os personagens possam ser os representantes, ou a expressão, de<br />
uma cultura, isso não significa que eles tenham aprovação universal dentro dessa cultura. O<br />
que ocorre é bem o contrário, pois normalmente existem teóricos atacando o papel por eles<br />
desempenhado. Mas, MacIntyre lembra que, “é quase sempre (...) por meio do conflito que o<br />
eu recebe sua definição social. Isso não significa (...) que o eu não é ou não se torna nada além<br />
dos papéis sociais que herda. O eu, ao contrário de seus papéis, tem um (...) histórico social”<br />
cxxi (MACINTYRE, 2001, p. 64). Lembremos que o eu, o personagem e o papel são<br />
realidades distintas, muito embora, por vezes sejam compelidos a uma identificação.<br />
Na compreensão de MacIntyre o julgamento feito pelo eu emotivista não tem limites,<br />
pois “tudo pode ser criticado de qualquer perspectiva que o eu adotar, inclusive a própria<br />
escolha” cxxii (2001, p. 65). E diante disso ele conclui que “qualquer pessoa pode, então, ser<br />
um agente moral, porque é no eu, e não nos papéis ou nos costumes sociais que deve residir o<br />
agir moral” cxxiii (MACINTYRE, 2001, p. 65). Isso não significa dizer que não exista uma<br />
hierarquia nos domínios do agir moral, na qual os terapeutas e os administradores gozem, na<br />
visão de MacIntyre, de um destaque em função de suas supostas experiências e<br />
conhecimentos. A concepção de Sartre, por exemplo, de que o eu não é uma substância, mas<br />
tão somente um conjunto de possibilidades – onde, qualquer que seja o espaço social por ele<br />
ocupado, esse espaço será meramente acidental – vem corroborar a visão emotivista, pois para<br />
ambos o eu não deve levar em conta o mundo social. Temos aqui uma clara demonstração de<br />
que sejam quais forem os critérios que o eu emotivista professe, esses serão apenas expressões<br />
de atitudes que subjazem e são anteriores a critérios princípios e valores (MACINTYRE,<br />
2001, p. 67).<br />
Esse eu distante das expressões sociais e sem histórico racional, parece ganhar um<br />
caráter abstrato se comparado com seus antecessores históricos; ou seja, parece que hoje ele<br />
está privado das qualidades que um dia se acreditou fazer parte de sua essência<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 68). O eu já não tem mais uma identidade social e nem mesmo um<br />
telos que lhe permita identificar-se com uma comunidade. E há que se considerar que isso<br />
88 Em O triunfo da terapêutica, Philip Rieff procura mostrar como a verdade tem sido substituída pela eficácia<br />
psicológica. O subtítulo dessa obra é Usos da fé depois de Freud e nela Rieff se pergunta se é possível homens<br />
que não crêem se tornarem civilizados, invertendo o posicionamento de Dostoievski que se perguntava se era<br />
possível que homens civilizados cressem.
que, um dia, foi parte substancial da identidade dos seres humanos, foi subtraído pela<br />
modernidade e agora já não se percebe mais que essa visão é fruto apenas e tão somente da<br />
modernidade, a qual celebrava como progresso a objetividade e impessoalidade alcançada nas<br />
avaliações acerca da vida humana. A modernidade acreditou estar libertando o indivíduo das<br />
superstições e da teleologia e, com isso, subtraiu-lhe a identidade social e a visão da vida<br />
como algo ordenado para um determinado fim.<br />
MacIntyre tem uma longa reflexão sobre o emotivismo e podemos perceber o valor<br />
que ele atribui a essa reflexão se levarmos em conta que desde a sua dissertação de mestrado<br />
ele vem abordando esse assunto e, praticamente, em todas as suas obras há alguma abordagem<br />
acerca desse tema. Quase a metade de sua dissertação é ocupada com esse tema, conforme nos<br />
lembra David Solomon:<br />
O primeiro trabalho importante de MacIntyre em ética, a sua dissertação<br />
(1951), foi escrita muito mais no espírito da metaética clássica e nela ele<br />
procurou superar o já iniciado impasse entre cognitivistas e não-cognitivistas<br />
na discussão metaética. Em sua dissertação, O significado dos juízos morais,<br />
ele aborda alguns temas que figurarão na sua discussão metaética nas<br />
décadas seguintes. Quase metade de sua dissertação se ocupa com um<br />
criticismo acirrado ao intuicionismo de Moore e ao emotivismo de<br />
Stevenson cxxiv (SOLOMON, p. 118).<br />
Esperamos, assim, ter mostrado a importância desse tema para o pensamento ético de<br />
MacIntyre, bem como a maneira como ele concebe e critica o emotivismo, pois acreditamos<br />
ser importante conhecer a maneira como MacIntyre se relaciona com o pensamento ético<br />
contemporâneo e, sobretudo, perceber os pontos convergentes e divergentes nesse<br />
relacionamento. O emotivismo e o comunitarismo macintyreano têm pontos comuns e<br />
antagônicos e isso deve ficar suficientemente claro.<br />
Concluímos mais essa etapa lembrando que a interpretação, ou a compreensão, do<br />
objeto contemplado também depende da visão daquele que o contempla e requer, inclusive,<br />
uma distância apropriada para tal feito; por isso a interpretação aqui apresentada do<br />
pensamento moral de MacIntyre, se faz sob a forma de um recorte bastante particular e, quem<br />
sabe, quase um reducionismo da grande visão desse autor. O nosso intuito foi mais no sentido<br />
de apresentar alguns elementos importantes e pertinentes à compreensão do seu pensamento e<br />
fazê-lo de forma simples, clara e objetiva.
CAPÍTULO III<br />
A <strong>DINÂMICA</strong> DO CONFLITO E A QUESTÃO DO RELATIVISMO <strong>MORAL</strong><br />
C<br />
onforme buscamos apresentar no tópico anterior, MacIntyre tem se mostrado<br />
uma das figuras mais críticas da situação moral na sociedade contemporânea<br />
e credita grande parte desta confusão à moralidade advinda dos modernos.<br />
Mas ao expor as suas críticas ele fica vulnerável a receber críticas e, parece ser esta a lei que,<br />
nos moldes de Vico, Hegel e Collingwood, conduz o pensamento rumo ao seu progresso.<br />
Além disto, MacIntyre tem-se mostrado favorável ao conflito, ao debate e ao questionamento,<br />
porém poderíamos nos perguntar se ele manteria esta mesma postura caso fosse o alvo das<br />
críticas ao invés de tecê-las. Parece que ele mantém a mesma postura ainda que esteja em<br />
campo de batalha oposto. Apesar do pensamento de MacIntyre ser exposto com muita clareza<br />
e uma riqueza de exemplos, bem como de idéias dos mais diversos pensadores e escritores,<br />
algumas vezes parece recortar a idéia de modo que sirva ao seu propósito e, outras vezes,<br />
parece que ele termina laconicamente o debate, meio ao estilo platônico.<br />
Iniciaremos, portanto, esta última parte de nosso trabalho apresentando primeiramente<br />
as críticas feitas ao After Virtue e as quais MacIntyre buscou refutar no posfácio de sua<br />
segunda edição. No momento seguinte, buscamos resgatar as críticas feitas por Tugendhat em<br />
sua obra Lições sobre ética, visto que ele dispensa uma considerável parte deste livro às idéias<br />
de MacIntyre, ou mais precisamente, buscando mostrar as suas falhas. No terceiro ponto<br />
tentamos apresentar o modo como MacIntyre entende a superioridade da Tradição frente às<br />
teorias morais dos enciclopedistas e dos genealogistas. E, por último, buscamos fazer um<br />
resgate da questão do relativismo moral, não somente aplicado ao âmbito da discussão que<br />
nos encontramos, mas de modo mais abrangente abordando também outras esferas, numa<br />
tentativa de mostrar que esta questão não se limita à moralidade, mas parece ser uma<br />
tendência geral.<br />
A nossa primeira tendência foi fazer da questão do relativismo moral o debate central<br />
deste trabalho, no entanto, percebemos de início que esta questão é bastante melindrosa e<br />
requer um profundo conhecimento das mais diversas teorias morais existentes, além de<br />
profundas noções de história, de sociologia e das mais diversas culturas. A partir daí,<br />
entendemos que seria razoável apresentar o modo como MacIntyre consegue tratar os seus
críticos, pois é nestes momentos que percebemos as lacunas, sobre as quais as críticas se<br />
configuram, e a tenacidade da teoria, ao conseguir dialogar com pontos de vistas rivais.<br />
3.1 O posfácio à segunda edição do After Virtue<br />
No posfácio à segunda edição do After Virtue MacIntyre trata das críticas recebidas de<br />
seus leitores e agradece tal feito visto que tem pelo embate de idéias, ou pelo confronto de<br />
posições rivais, um apreço considerável, pois sua postura parece indicar que as discordâncias<br />
podem nos impulsionar rumo a melhorias, e os conflitos são salutares para essa realização.<br />
Ele entende que algumas críticas recebidas são superficiais e se limitam a corrigir nomes<br />
equivocados ou indicar “impropriedades na narrativa histórica” cxxv (MACINTYRE, 2001, p.<br />
443). Na verdade se trata mais de correções do que críticas e, MacIntyre reconhece que essas<br />
são de fácil solução. Mas além dessas, existem críticas mais profundas as quais ele se<br />
empenha em esclarecer. Algumas, no entanto, são tão profundas que ele promete responder<br />
através do novo projeto ao qual está empenhado em realizar 89 . Ele afirma:<br />
Espero que alguma parte, pelo menos, do que ficou faltando brote dos meus<br />
futuros intercâmbios com uma série de críticos nas publicações Inquiry,<br />
Analyse and kritik e Soundings e que muito mais venha a ser remediado na<br />
seqüência de Depois da virtude, na qual estou agora trabalhando, sobre<br />
Justiça e Raciocínio Prático cxxvi (MACINTYRE, 2001, p. 444).<br />
Percebemos, portanto, que MacIntyre entende ter sido alvo de três tipos de críticas: as<br />
superficiais, as quais já estão resolvidas; as profundas, que deverão ser resolvidas em obra<br />
futura; e as pertinentes, com as quais ele se ocupa em responder já no posfácio 90 . Antes,<br />
porém, ele lembra que eram duas as preocupações prioritárias que o levaram a escrever o<br />
After Virtue: “elaborar a estrutura geral de uma única tese complexa sobre o lugar das virtudes<br />
na vida humana 91 ” cxxvii (MACINTYRE, 2001, p. 443); e a segunda preocupação seria deixar<br />
bem claro que sua tese não é compatível com as disciplinas acadêmicas convencionais, pois,<br />
segundo ele, essas disciplinas compartimentalizam o pensamento, obscurecem e distorcem as<br />
relações interdisciplinares.<br />
Assim, depois de uma aparente triagem restaram três críticas que MacIntyre julga ser<br />
conveniente tratá-las já no posfácio, como indicamos acima. A primeira delas será a relação<br />
89<br />
Hoje sabemos que o projeto por ele indicado é a sua obra “Whose justice? Which rationality?”.<br />
90<br />
As nomenclaturas atribuídas a essas críticas não é de MacIntyre, nós as criamos tão somente como tentativa de<br />
facilitar a compreensão.<br />
91<br />
Ele reconhece que não esgotará o assunto, pois complementa “mesmo que fazê-lo resultasse num esboço, e<br />
não no enunciado total dos argumentos” (MACINTYRE, 2001, p. 443-444). “[...] even if to do so resulted in<br />
sketching rather than stating fully the subordinate arguments within that thesis” (AV, p. 264).
da filosofia com a história; a segunda será uma abordagem acerca das virtudes e a questão do<br />
relativismo; e na terceira, a mais breve delas, ele trata da relação da filosofia moral com a<br />
teologia. Mas além dessas críticas tratadas no posfácio, entendemos que a contribuição de<br />
Ernst Tugendhat formulada principalmente na décima e décima primeira lições de sua obra<br />
Lições sobre ética, seja relevante para o tema em questão e buscamos apresentá-la, muito<br />
embora a obra de Tugendhat seja bem posterior à edição do After Virtue.<br />
A crítica sobre a relação da filosofia com a história apareceu na revista Ethics, da<br />
Universidade de Chicago, formulada pelo filósofo moral norte-americano Wiliam Klaas<br />
Frankena 92 o qual declarou incomodar-se com o fato de MacIntyre não fazer distinção entre<br />
história e filosofia 93 . Frankena diz: “eu distingo teses e afirmações históricas e filosóficas,<br />
explícita ou implicitamente. MacIntyre, no entanto, parece que não” cxxviii (FRANKENA,<br />
1983, p. 579). Frankena refere-se ao fato de MacIntyre ter afirmado que as filosofias analítica<br />
e fenomenológica eram impotentes 94 para perceber as desordens do pensamento moral e que,<br />
talvez fosse possível encontrar respostas para questões acerca da moralidade no tipo de<br />
filosofia proposto por Hegel e Collingwood.<br />
Entende MacIntyre que o estabelecimento da história, e, conseqüentemente, a sua<br />
leitura num viés filosófico, não se faz ao mero acaso, longe disso,<br />
[...] essa história, por ser uma história de declínio e queda, obedece a um<br />
modelo. Não é um relato neutro em termos valorativos. A forma da<br />
narrativa, sua divisão em estágios, pressupõe modelos de realização e<br />
fracasso, de ordem e desordem. É o que Hegel chamava história filosófica e<br />
aquilo que Collingwood considerou existir em todos os relatos históricos<br />
bem sucedidos. Portanto, se procurarmos recursos para investigar a hipótese<br />
que expus acerca da moralidade (...) devemos procurar saber se é possível<br />
encontrar no tipo de filosofia e de história proposto por (...) Hegel e<br />
Collingwood (...) recursos que não podemos encontrar na filosofia analítica<br />
ou fenomenológica cxxix (MACINTYRE, 2001, p. 16s).<br />
Na seqüência MacIntyre afirmará que o anti-historicismo dos filósofos<br />
contemporâneos se constitui sim num obstáculo tanto para escrever quanto para se ensinar<br />
filosofia moral, pois prescindindo da história, os contemporâneos dão sinais de existir um<br />
92<br />
Tal crítica foi veiculada através de um artigo publicado, na sessão Review Essays, da revista Ethics, Vol. 93,<br />
Nº 3, Apr., 1983, com o título “MacIntyre and Modern Morality”.<br />
93<br />
Para Frankena, MacIntyre teria passado a impressão de que uma pesquisa histórica, pode estabelecer uma<br />
questão filosófica.<br />
94<br />
“No mundo real, as filosofias predominantes na atualidade, analítica ou fenomenológica, serão impotentes<br />
para detectar as desordens do pensamento e da prática da moral [...]” (MACINTYRE, 2001, p. 16). “In the<br />
world the dominant philosophies of the present, analytical or phenomenological, will be as powerless to detect<br />
the disorders of moral thought and practice [...]” (AV, p. 2).
único debate moral e, para eles, os filósofos morais do passado devem ser compreendidos<br />
dentro desse único debate.<br />
É bom lembrar que MacIntyre já esclareceu que sua tese não se enquadra num sistema<br />
convencional de disciplinas acadêmicas, e assim podemos compreender o motivo dele alegar<br />
que Frankena ainda está falando em nome de uma ortodoxia, a qual dá, segundo MacIntyre,<br />
claros sinais de esgotamento. Para essa ortodoxia realmente filosofia é uma coisa e história é<br />
outra bem diferente. Além disso, MacIntyre entende que até mesmo as afirmações da filosofia<br />
analítica acerca da racionalidade e da verdade, só têm força dentro de um determinado<br />
contexto histórico e social.<br />
Para MacIntyre, Frankena tem razão quando afirma que o seu pensamento não é<br />
original nesse aspecto e que tem por base a contribuição de Hegel e Collingwood, e<br />
complementa que Frankena se esquece de incluir Vico também, pois esse teria sido o primeiro<br />
pensador a salientar que os assuntos da filosofia moral só podem ser encontrados dentro da<br />
vida histórica de determinados grupos sociais. MacIntyre sustenta que a moralidade como tal<br />
não existe e que “a moralidade que não for moralidade de determinada sociedade não se<br />
encontra em lugar nenhum” cxxx (MACINTYRE, 2001, p. 446).<br />
Certamente essa não era a idéia de Kant que defendia existirem princípios e conceitos<br />
com os quais qualquer ser humano, em função da própria natureza da razão humana,<br />
concordaria. Sustenta MacIntyre que essa afirmação kantiana foi alvo da objeção de Hegel e<br />
os historicistas, os quais discordaram de Kant alegando que os princípios universais<br />
apresentados por ele não passavam de princípios de determinadas épocas; e que no caso da<br />
moralidade kantiana tais princípios seriam os do protestantismo (MACINTYRE, 2001, p.<br />
447).<br />
A filosofia analítica também sustenta que não há base para se acreditar em princípios<br />
universais necessários, o que demonstra, segundo MacIntyre, que essa filosofia se restringe ao<br />
estudo das inferências. Lembremos que Richard Rorty já havia declarado que “o ideal da<br />
capacidade filosófica é ver todo o universo de afirmações possíveis em todas as suas relações<br />
de inferência uns com os outros e, portanto, ser capaz de construir, ou criticar, qualquer<br />
argumento” cxxxi (RORTY, 1982, p. 219). Disso decorre, para MacIntyre, que a filosofia<br />
analítica “não consegue nunca estabelecer a aceitabilidade racional de nenhuma posição<br />
particular” cxxxii (MACINTYRE, 2001, p. 448), apenas demonstra que pode haver excessos de<br />
incoerência e inconsistência.
Nessas circunstâncias o historicista entenderá que os filósofos analíticos parecem<br />
analisar argumentações desprovidas de seus contextos sociais e históricos, aos quais<br />
pertencem e de onde vem a sua particular importância. Além disso, ao se abstrair uma<br />
pesquisa de seu contexto depara-se com o problema da incomensurabilidade, pois assim como<br />
acontece com a filosofia da ciência que necessita da história das ciências para fornecer-lhe um<br />
referencial, o mesmo ocorre com a moralidade e é bom lembrar que moralidades rivais fazem<br />
declarações incompatíveis e têm pretensões de superioridade racional umas em relação às<br />
outras (MACINTYRE, 2001, p. 450).<br />
Ocorre que a história filosófica, ou seja, a narrativa das vitórias e derrotas de umas<br />
teorias em relação às outras pressupõe um padrão de julgamento que determine quem tem ou<br />
não a superioridade racional, e esse padrão, por sua vez, requer uma justificativa. O problema<br />
é que o historicista não pode recorrer a uma justificativa histórica antes de escrever a história<br />
e, assim, tem de recorrer a um padrão não-histórico, possivelmente analítico ou transcendental<br />
e isso MacIntyre rejeita (MACINTYRE, 2001, p. 453). A sua tese, portanto, é de que o<br />
historicismo não deve pretender ser conhecimento absoluto, mas deve, antes, estar aberto à<br />
possibilidade do surgimento de um novo desafio à melhor teoria aceita até o momento.<br />
Somente quando determinado esquema moral transcende as limitações de seus antecessores,<br />
então esse esquema dá indícios de que poderá enfrentar futuros desafios, com maior<br />
possibilidade de êxito. Para MacIntyre a ética aristotélica, oriunda de confrontos históricos<br />
específicos, fornece os fundamentos necessários para perceber o fracasso da ética iluminista.<br />
A discordância entre Frankena e MacIntyre, portanto, está no fato do primeiro<br />
acreditar que a filosofia analítica pode suficientemente, graças aos seus métodos, definir o que<br />
é verdadeiro e o que é falso e ver a investigação histórica como irrelevante, enquanto o<br />
segundo defende que essa investigação é necessária e que será através do confronto histórico<br />
que poderá ficar definido quem tem ou não superioridade racional 95 .<br />
Embora MacIntyre tenha se dedicado com maior empenho em responder à crítica feita<br />
por Frankena, ele lembra, ainda que superficialmente, que foi repreendido por Annette Baier 96<br />
por não ter entendido os pontos fortes da posição de Hume (MACINTYRE, 2001, p. 454), e<br />
95 Forst afirma (2010, p. 250) que o argumento histórico de MacIntyre não é suficiente, pois se as divergências<br />
aos princípios kantianos provam o seu fracasso, muito mais se deveria dizer da tradição tomista a qual perdeu<br />
seu significado cultural e ainda assim tem a adesão de MacIntyre o que reforçaria o relativismo e o emotivismo<br />
criticados por esse autor.<br />
96 O artigo de Annette Baier se encontra na revista Analyse & Kritik, v. 6, 1984, p. 61-77 e tem o título<br />
“Civilizing Practices”.
também por Onora O‟neill 97 que alegou que ele fez uma explicação seletiva e simplificada do<br />
pensamento de Kant. Ele responde as duas objeções de modo muito direto e resumido: “eu me<br />
identifico muito com ambas as reclamações porque são, de fato, as duas explicações bem<br />
diferentes do raciocínio prático elaboradas por Hume e Kant que apresentam o principal<br />
desafio ao esquema aristotélico e à explicação do raciocínio prático nele contida” cxxxiii<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 455).<br />
E por último, com relação a esse tipo de crítica, ele lembra que, contrariando Frankena<br />
que o havia classificado com muito historicista e insuficientemente grato à filosofia analítica,<br />
Abraham Edel 98 entende que MacIntyre é excessivamente analítico. Para Edel, MacIntyre<br />
teria ficado muito preso à teorização de conceitos e histórias de diversos povos sem dar a<br />
devida atenção à vida social e institucional desses povos; e teria, ainda, distorcido a história<br />
da moralidade para favorecer a visão moral aristotélica. MacIntyre admite querer criar uma<br />
história filosófica que rompa com a visão da história social acadêmica enfatizando mais os<br />
êxitos e fracassos em virtude de suas influências causais (MACINTYRE, 2001, p. 456). E<br />
para esse propósito as universidades e faculdades são relevantes por serem as portadoras das<br />
idéias. Por fim, MacIntyre encerra essa abordagem lembrando que tanto Frankena quanto<br />
Edel fizeram críticas salutares sobre os quais ele mesmo não tinha dado a devida atenção e<br />
agradece-os por tal feito.<br />
MacIntyre acredita ter apresentado as virtudes dentro de três estágios: como<br />
qualidades necessárias à obtenção dos bens internos às práticas, como qualidades que<br />
contribuem para o bem de uma vida toda, e como a procura de um bem dentro de uma<br />
tradição social (MACINTYRE, 2001, p. 458). Parece, portanto, que essa idéia condiz com a<br />
concepção de que as atividades humanas são realizadas rumo a um fim já decidido. E isso dá<br />
indícios de que o exercício das virtudes não vale por si só, mas tem um sentido mais<br />
profundo. Desse modo se faz necessária a compreensão desse sentido para que as virtudes<br />
possam ser valorizadas já de início, lembrando sempre que os bens internos às práticas que se<br />
pode adquirir são as excelências específicas a esses tipos de práticas (MACINTYRE, 2001, p.<br />
459).<br />
97 O artigo de Onora O'Neill tem o título “Kant after Virtue” e pode ser encontrado na revista Inquiry: An<br />
Interdisciplinary Journal of Philosophy, v. 26, 1983, p. 387–405, da Universidade de Essex.<br />
98 O trabalho de Abraham Edel encontra-se na sessão de livros revisados, da revista Zygon®, n. 18, v. 3,<br />
September 1983, p. 336–349.
Samuel Scheffler 99 tece uma crítica ao pensamento apresentado no After Virtue,<br />
alegando que é possível deduzir daquilo que é ali exposto, que alguém pode alcançar os bens<br />
internos a determinadas práticas sem ser verdadeiramente virtuoso. E para essa afirmação ele<br />
se utiliza de um exemplo citado por MacIntyre, o exemplo do jogador de xadrez. Afirma<br />
Scheffler que é possível um jogador mal-intencionado alcançar os bens internos do xadrez<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 459). A resposta de MacIntyre é que há divergência entre eles<br />
acerca do que possa ser entendido como bens internos.<br />
Explica MacIntyre que um grande jogador de xadrez que esteja obcecado pela vitória,<br />
poderá realmente consegui-la, e ainda assim deixar de desfrutar do verdadeiro bem interno a<br />
essa prática caso foque a fama, o prestígio e o dinheiro angariados por intermédio da vitória.<br />
A vitória seria, portanto, um meio para se conseguir esses bens contingentes, enquanto o<br />
prazer advindo da excelência que possibilita a vitória é o bem interno à prática do jogo de<br />
xadrez (MACINTYRE, 2001, p. 460). Com relação a essa crítica, conclui MacIntyre que “a<br />
relação das virtudes com as práticas, depois de mais claramente diferenciadas da relação das<br />
habilidades com as práticas do que consegui fazer em minha explicação anterior, não implica<br />
as conseqüências infelizes que Scheffler está inclinado a lhe atribuir” cxxxiv (MACINTYRE,<br />
2001, p. 460).<br />
Uma segunda objeção de Scheffler é que MacIntyre caracteriza as virtudes pela sua<br />
relação com a noção de prática e que, posteriormente, essa concepção sofre uma alteração e<br />
uma complementação. Em sua resposta, MacIntyre admite que possa ter faltado clareza de sua<br />
parte por não ter expressamente salientado que a sua concepção inicial de virtude será de fato<br />
enriquecida e complementada ao vincular-se à noção do bem de toda uma vida. E<br />
complementa que “não se deve considerar virtude nenhuma qualidade humana, a não ser que<br />
satisfaça as condições especificadas em cada um dos três estágios” cxxxv (MACINTYRE,<br />
2001, p. 461). Pode ocorrer, de fato, que aquilo que parece ser virtude num determinado<br />
contexto, seja visto como vício em outro contexto, porém, há que se deixar claro que, nesses<br />
casos, não se trata de virtude, mas de qualidade. Somente poderá ser considerada virtude caso<br />
essa qualidade satisfaça essas três condições: 1) contribua para o bem da vida humana<br />
integral; 2) que os bens de determinadas práticas se integrem a um padrão geral; e 3) que os<br />
bens de vidas particulares se integrem aos padrões gerais de uma tradição que procura o bom<br />
e o melhor (MACINTYRE, 2001, p. 462).<br />
99 Essa crítica encontra-se na revista The Philosophical Review, v. 92, n. 3, jul. 1983, p. 443-447.
MacIntyre acredita que pode ter sido pelo modo como caracterizou esse último estágio<br />
que lhe tenha gerado as acusações de relativismo moral, e lembra que Robert Wachbroit 100<br />
argumentou que sua caracterização da busca do bem humano “é compatível com o<br />
reconhecimento da existência de tradições das virtudes distintas, incompatíveis e rivais” cxxxvi<br />
(MACINTYRE, 2001, p. 462). Nisso MacIntyre concorda com Wachbroit afirmando que ele<br />
está correto em seu argumento, mas em seguida Wachbroit questiona acerca do que pode<br />
acontecer quando duas tradições morais rivais se confrontam numa situação histórica<br />
específica e deduz que a saída seria apelar para princípios fundamentados racionalmente e<br />
independentes das particularidades sociais das tradições ou não será possível nenhuma<br />
solução racional.<br />
Entende Wachbroit que a recusa ao projeto iluminista deixa-nos apenas a segunda<br />
opção a qual pressupõe uma racionalidade moral interna e relativa à determinada tradição.<br />
Mas, segundo MacIntyre, quando duas tradições apresentam discordâncias também sinalizam<br />
que se reconhecem reciprocamente podendo compartilhar algumas características comuns e,<br />
por vezes, desse confronto pode se chegar à descoberta de incoerências dentro da própria<br />
tradição 101 . Assim sendo, o confronto pode ocasionar razões para a afirmação radical ou para<br />
o abandono dessa tradição, tendo sempre por base que tal tradição deve ser expressão da<br />
melhor teoria até o momento. MacIntyre admite que Wachbroit possa replicar que não teve<br />
sua objeção respondida e diante disso, ele reafirma que sua posição no After Virtue é de que<br />
não existem argumentos bem sucedidos a priori 102 .<br />
Alguns críticos entenderam que, no After Virtue, MacIntyre falhou por não tratar<br />
adequadamente a relação entre a tradição aristotélica das virtudes e a religião bíblica. Temos<br />
100 Cf. na sessão Book Reviews, WACHBROIT, Robert. A Genealogy of Virtues. MacIntyre: After Virtue: A<br />
Study in Moral Theory. In: Yale Law Journal, v. 92, n. 3, January 1983, p. 564, 577.<br />
101 Notemos que alcançar a imparcialidade num determinado processo é uma tarefa árdua quando se está imerso<br />
nele, mas a certa distância, espacial ou temporal, isso já se torna mais factível.<br />
102 O diálogo travado entre MacIntyre e Wachbroit foi de alto grau de respeito como se percebe na seqüência dos<br />
acontecimentos. O After Virtue foi publicado em 1981, a crítica de Wachbroit é de 1983, a réplica de<br />
MacIntyre é de 1984; e em maio de 1985 Wachbroit diz “uma das respostas mais gratificante que uma revisão<br />
pode receber é ser levado a sério pelo autor do livro resenhado, especialmente quando se trata de uma revisão<br />
crítica de um livro profundo. É muito provável que uma revisão crítica possa parecer uma afronta, levando o<br />
autor a ser indiferente ou combativamente defensivo. Por isso, fiquei realmente feliz ao descobrir que,<br />
recentemente, na segunda edição de After Virtue, MacIntyre generosamente tratou, reconheceu e corrigiu, ou<br />
discutiu, vários pontos críticos que fiz em minha resenha da primeira edição”. One of the more gratifying<br />
responses a review can receive is to be taken seriously by the author of the book reviewed, especially when it<br />
is a critical review of a thoughtful book. A critical review is always likely to appear to be an affront, moving<br />
the author to be either aloofly silent or pugnaciously defensive. Hence, I was indeed pleased to discover that a<br />
second edition of MacIntyre's After Virtue has recently appeared in which various critical points that I made in<br />
my review of the first edition are generously acknowledged and corrected or discussed. (WACHBROIT,<br />
1985, p. 1559).
duas visões éticas nitidamente distintas que, inicialmente, se chocaram e, posteriormente,<br />
parece que se coadunaram. Desde que a ética aristotélica, a qual afirma a questão das virtudes<br />
humanas se choca com a religião bíblica, que afirma a obediência à lei divina, surge a<br />
necessidade de uma tese que sustente que só a vida constituída em conformidade com a lei<br />
divina poderá ser considerada virtuosa e conseguirá alcançar o seu telos (MACINTYRE,<br />
2001, p. 466). Essa reconciliação tem sua expressão no pensamento de Tomás de Aquino.<br />
Apesar de MacIntyre entender que Tomás de Aquino combina fidelidade teológica à<br />
Torá com fidelidade filosófica a Aristóteles, ele reconhece que acabou por obscurecer e<br />
distorcer a reação protestante e jansenista à tradição aristotélica, bem como a tentativa<br />
kantiana de fundar racionalmente uma moralidade da lei que pressuponha a existência de<br />
Deus, mas que rejeita o aristotelismo. E, assim, novamente MacIntyre reconhece que sua<br />
narrativa necessita de alguns acréscimos e emendas para que se sustente sua pretensão de<br />
justificação racional, e complementa que essa sua obra deve ser lida como uma obra em<br />
andamento a qual, inclusive, poderá ser levada adiante graças à generosa contribuição<br />
daqueles que o criticaram.<br />
3.2 A crítica de Tugendhat<br />
Tugendhat inicia a décima lição 103 da obra Lições sobre ética afirmando que o After<br />
Virtue talvez seja o livro que mais rigorosamente rejeita o programa kantiano e a moral<br />
iluminista (TUGENDHAT, 2003, p. 197). E também declara que a sua pretensão é, através da<br />
discussão com MacIntyre, chegar ao pensamento de Aristóteles. Em sua análise sustenta que a<br />
ética iluminista resultou da implausibilidade das éticas tradicionais e da busca de novas<br />
alternativas de justificação moral, o que acabou gerando, num momento posterior, uma<br />
literatura ética que aponta as falhas das éticas iluministas e as vantagens das éticas<br />
tradicionais (TUGENDHAT, 2003, 198).<br />
Uma crítica bastante abrangente à ética iluminista, bem como uma tentativa de se<br />
chegar a uma alternativa por meio da reflexão histórica, foi formulada, na visão de Tugendhat,<br />
por MacIntyre na obra After Virtue. E sobre essa obra ele diz:<br />
Este livro merece uma discussão minuciosa. A discussão com MacIntyre<br />
conduzirá historicamente a Aristóteles e sistematicamente ao conceito de<br />
virtude. Finalmente veremos que a ética iluminista mesma deve ser ampliada<br />
com o recurso ao conceito de virtude, de um modo como já foi aprofundada<br />
por Adam Smith (TUGENDHAT, 2003, p. 208).<br />
103 Essa lição tem por título “O antiiluminismo ético: Hegel e a escola de Ritter; After Virtue, de Alasdair<br />
MacIntyre”.
Para Tugendhat, metodologicamente MacIntyre se aproxima mais da tradição alemã<br />
do que da ética anglo-saxônica, pois ele defende que toda moral deve ser entendida<br />
historicamente e que, sociologicamente, deve ser vista como a moral do seu tempo.<br />
Interpretação essa compartilhada por Tugendhat, porém com a ressalva de que Tugendhat<br />
avalia positivamente a questão da autonomia individual, enquanto MacIntyre a avalia<br />
negativamente por defender que um conceito do bom moral não existe independente das<br />
tradições (TUGENDHAT, 2003, p. 209).<br />
Teria MacIntyre, na interpretação de Tugendhat, uma visão decadente da ética, vendo<br />
a ética atual e a iluminista como se constituindo a partir de restos de posições anteriores que<br />
conduziriam, em última análise, à ética aristotélica. Ainda que defenda uma visão histórica,<br />
Tugendhat interpreta a nossa situação atual dentro de uma especificidade que permite pensar o<br />
problema moral de forma a-histórica, contrariando MacIntyre para quem só se pode pensar<br />
moral dentro de determinadas tradições (TUGENDHAT, 2003, p. 209). Além disso,<br />
Tugendhat acredita que existe um núcleo essencial da moral que é incontroverso e evidente: o<br />
contratualismo; e salienta que MacIntyre se esquivou de tratar desse tema em seu livro, assim<br />
como deixou de referir-se à questão dos direitos humanos (TUGENDHAT, 2003, p. 211).<br />
Sustenta Tugendhat que MacIntyre usa de medidas diferentes ao comparar a moral<br />
moderna com a tradicional e que, após ter desenvolvido seu programa, com base no<br />
aristotelismo, não mostra como esse programa pode resolver os problemas da modernidade;<br />
nem sequer demonstrando que na burocrática e capitalista vida moderna predominou o agir<br />
instrumental e manipulativo (TUGENDHAT, 2003, p. 212).<br />
Quanto à crítica de MacIntyre ao emotivismo, entende Tugendhat que MacIntyre tem<br />
razão em sua primeira crítica, quando sustenta “que na aprovação é colocada uma pretensão<br />
objetiva de ser justificada e que aquele que julga moralmente nunca se compreende como<br />
estando a expressar uma preferência subjetiva” (TUGENDHAT, 2003, p. 213); mas na crítica<br />
seguinte, quando afirma que o emotivismo nega “o fato de argumentações e justificações<br />
morais” (TUGENDHAT, 2003, p. 213), MacIntyre teria sido injusto, dado que as morais<br />
tradicionais nem sequer se colocam o problema de como argumentar entre os princípios dos<br />
diversos programas morais, ou seja, os programas morais antigos pressupunham a pretensão<br />
parcial de justificação de seus princípios sem fundamentação alguma. E, desse modo, parece<br />
que o emotivismo teria atingido até o próprio MacIntyre (TUGENDHAT, 2003, p. 214).<br />
Quanto à fórmula kantiana do fim em si do imperativo categórico, teria MacIntyre<br />
compreendido que Kant deixa de fornecer boas razões para este princípio e também que não
se pode justificar a moral a partir da razão. Tugendhat concorda com essa tese, mas não<br />
concorda que devido a isso se deva rejeitar todo o programa kantiano e defende que esse<br />
programa é decisivo em termos de conteúdo, independente da justificação. Afirma, ainda, que<br />
deixar de discutir o conteúdo do programa kantiano foi uma das grandes fraquezas da obra de<br />
MacIntyre (TUGENDHAT, 2003, p. 215).<br />
Crente de ter deixado claro que as éticas iluministas irrefletidamente retiram seu<br />
conteúdo de restos da tradição aristotélica somada à visão cristã, MacIntyre se contradiz<br />
quando num momento seguinte admite que os iluministas recorreram principalmente ao<br />
estoicismo. Além disso, sustenta Tugendhat que MacIntyre não teria percebido que Kant<br />
buscou fundamentar o seu conteúdo com bases contratualistas e não com bases históricas<br />
(TUGENDHAT, 2001, p. 216).<br />
Tugendhat também questiona o resgate feito por MacIntyre da crítica nietzschiana à<br />
ética iluminista, dizendo que “MacIntyre pensa que só Nietzsche esteve disposto a alterar a<br />
linguagem moral” (2003, p. 217) e afirma que o emotivismo é mais cético que Nietzsche, pois<br />
“Nietzsche manteve o discurso sobre os valores e quis apenas então realizar uma „inversão de<br />
todos os valores‟” (TUGENDHAT, 2003, p. 217). De acordo com Nietzsche a fonte das novas<br />
valorações deveria ser a vontade de poder, ou seja, a vontade orientada por sua potenciação;<br />
não seria possível uma justificação racional da moral, pois somos remetidos ao nosso querer.<br />
Tugendhat conclui que não se deveria colocar a alternativa: “Nietzsche ou Aristóteles”, mas<br />
“poder ou moral” e declara expressamente que MacIntyre não deve ter recorrido à Nietzsche<br />
por simpatia ao seu pensamento, mas apenas para tentar mostrar que o iluminismo fracassou,<br />
pois a posição de Nietzsche é precursora do fascismo (TUGENDHAT, 2001, p. 218).<br />
Para Tugendhat o objetivo de MacIntyre seria apenas ver a ética aristotélica como<br />
entroncamento central de uma tradição das virtudes que começa no período homérico, passa<br />
pela moral de Atenas e pela Idade Média chegando até o iluminismo; ou seja, para esse autor<br />
existem historicamente pelo menos cinco éticas das virtudes sobrepostas e contraditórias<br />
(TUGENDHAT, 2003, p. 219). Mas para Tugendhat,<br />
MacIntyre não define as virtudes, tal qual Aristóteles e toda a tradição<br />
posterior, como aquelas disposições que nos tornam aptos a bem realizar o<br />
ser homem como tal no convívio uns com os outros, mas como as<br />
disposições que nos tornam aptos a bem realizar determinadas atividades,<br />
que ele chama de practices. Por practices ele entende uma atividade<br />
cooperativa, não voltada instrumentalmente para um bem exterior a ela, mas<br />
realizada por causa dela mesma (TUGENDHAT, 2003, p. 219).
Às practices MacIntyre acrescenta duas outras dimensões: a inserção no todo de uma<br />
vida e que as instituições que exercem as practices sejam portadoras de tradições. Tugendhat<br />
também partilha dessa crítica às teorias atomísticas da ação, mas alerta que “a orientação pela<br />
vida individual novamente conduz para fora do contexto do uns com os outros – da „política<br />
no sentido aristotélico‟” (TUGENDHAT, 2003, p. 220). Sustenta Tugendhat que o fato da<br />
virtude não ser mais definida como atrelada à função que o homem exerce na sociedade deve<br />
ser visto como um progresso e, embora o homem moderno não se defina mais a partir de<br />
funções ele pode ser compreendido a partir de funções. MacIntyre dá a entender que a vida<br />
moral não pode ser realizada numa sociedade moderna, mas apenas em pequenas<br />
comunidades.<br />
E conclui Tugendhat que a contraposição macintyreana deve ser rejeitada visto que “a<br />
moral tem a ver com a objetiva excelência do homem enquanto ser cooperativo em geral, não<br />
com a excelência de determinadas funções ou papéis” (2003, p. 224) e que se deve recusar a<br />
idéia “de que diferentes seres humanos podem ter, de acordo com sua posição neste todo, um<br />
valor moral diferente” (TUGENDHAT, 2003, p. 224).<br />
Acreditamos ter exposto aqui as principais críticas elaboradas por Tugendhat à<br />
MacIntyre, bem como alguns pontos onde há alguma semelhança entre os seus pensamentos,<br />
e agora passamos a uma pequena análise da estruturação dessas críticas 104 . Logo no início do<br />
capítulo tem-se a impressão que Tugendhat se utiliza de um discurso um tanto falacioso<br />
quando situa MacIntyre na posição antimoderna, e apresenta-o praticamente como um<br />
reacionário se contrapondo às teorias modernas e, sobretudo, à kantiana, as quais, ele acredita,<br />
que representam progresso.<br />
Para Tugendhat, MacIntyre se enquadra na posição “conservadora”, ou seja, aquela<br />
que, embora se situe em nossa época se propõe a conservar a tradição antiga e contrapô-la à<br />
modernidade. A posição conservadora não é pré-iluminista, mas antiiluminista; muito embora,<br />
assim como os iluministas, ela também não acredite na autoridade moral como se fazia na<br />
tradição, mas apenas se utilize das vantagens do autoritário, de modo que acaba se<br />
apresentando como instrumentalista ou nostálgica (TUGENDHAT, 2003, p. 200). Poderíamos<br />
alegar que Tugendhat não mostra como acontece a separação entre razão e autoridade, apenas<br />
considera que pode ser irracional seguir uma autoridade, esquecendo-se que também o<br />
104 É possível encontrar um texto que versa sobre esse assunto, intitulado “Uma resposta crítica à interpretação<br />
de Ernst Tugendhat sobre Alasdair MacIntyre”, na revista Seara Filosófica – ISSN 2177-8698, da Universidade<br />
Federal de Pelotas. Trata-se de um artigo do mestrando em Ética e Epistemologia, da Universidade Federal do<br />
Piauí, João Caetano Linhares. Disponível em http://www.ufpel.tche.br/isp/searafilosofica/.
iluminismo deve ser visto como uma tradição e enquanto tal recorre a autoridade da razão em<br />
sua tentativa de universalização da moral.<br />
Para MacIntyre cada tradição tem o seu padrão de moralidade, não podendo haver um<br />
padrão neutro ou universal e isso é aplicável também ao projeto iluminista como tal, o qual<br />
estaria, assim, impossibilitado de estabelecer um padrão neutro ou universal e poderia tão<br />
somente fornecer o seu próprio padrão de moralidade, ou seja, o padrão iluminista, do qual<br />
Kant é um dos maiores expoentes, mas, talvez sem perceber, reproduza os conceitos éticos do<br />
pietismo protestante, ou do individualismo liberal (MACINTYRE, 2001, p. 450). Como já<br />
assinalamos, para MacIntyre uma tradição se firma pelo embate com tradições rivais e pela<br />
maneira que supera impasses que outras tradições não conseguem superar.<br />
Outra questão, que talvez seja bom que tenhamos em conta, é que Ernst Tugendhat e<br />
Alasdair MacIntyre diferem na classificação da pesquisa moral, pois enquanto o primeiro<br />
afirma haver as éticas tradicionais, iluministas e conservadoras (TUGENDHAT, 2003, pp.<br />
198-200), para o segundo, todas as éticas devem ser vistas como tradicionais, pois a<br />
racionalidade sempre se liga a uma tradição e apenas o confronto histórico definirá a<br />
superioridade racional de uma ou outra tradição. Notamos, portanto, que eles partem de<br />
premissas diferentes. Isso não significa que não se deve tecer críticas àqueles que têm pontos<br />
de vistas diferentes, mas ocorre que primeiramente tem-se que delimitar o plano de fundo, o<br />
substrato comum que permitirá esse diálogo crítico.<br />
Ainda que MacIntyre concordasse com essa classificação feita por Tugendhat – o que<br />
parece contradizer sua visão, pois ele afirma que sua tese é incompatível com as fronteiras<br />
disciplinares acadêmicas convencionais que compartimentalizam o pensamento<br />
(MACINTYRE, 2003, p. 444) – o rótulo de conservador atribuído aos comunitaristas, não<br />
caberia também ao pensamento de Tugendhat? Pois o que nos impede de afirmar que assim<br />
como MacIntyre busca conservar a tradição, Tugendhat também busca conservar o<br />
iluminismo? Porém, devemos lembrar que o mundo atual não tem mais as características do<br />
mundo iluminista e, portanto, não devemos tentar conservar a ética iluminista, ainda que seja<br />
com variantes e releituras, para responder os problemas que hoje nos desafiam. Podemos e<br />
devemos sim, buscar respostas tendo em consideração as alternativas daqueles que nos<br />
precederam, e aí tanto podemos recorrer a Kant como a Aristóteles, mas é claro que as suas<br />
contribuições devem ser compreendidas dentro da tradição à qual pertenceram.<br />
Com relação ao emotivismo Tugendhat acredita que, nos moldes exposto por<br />
MacIntyre, pode-se até inferir que o emotivismo acaba nos remetendo, em última análise, ao
programa aristotélico. Diz Tugendhat: “A questão „o que eu quero, como quero viver?‟ leva<br />
de volta à velha questão de fato aristotélica: „o que pode me fazer feliz?‟ Esta é a questão que<br />
precisamente pode nos remeter à moral.” (2003, p. 217s). Mas notemos que ao admitir essa<br />
possibilidade Tugendhat se distancia do programa kantiano, visto que esse programa não<br />
aceita que elementos heterônimos justifiquem as ações morais. Para Kant a ação moral tem de<br />
ser praticada por si mesma, em consonância com a idéia de dever. Ou seja, uma ação não<br />
pode ser considerada moral, segundo Kant, caso se justifique por algo fora da razão, como é o<br />
caso da felicidade.<br />
Ainda que se critique MacIntyre por tentar resgatar a moral aristotélica é preciso ter<br />
em conta que o seu intuito foi “elaborar a estrutura geral de uma única tese complexa sobre o<br />
lugar das virtudes na vida humana” cxxxvii (MACINTYRE, 2003, p. 443). Sua proposta é que a<br />
ética das virtudes possa fazer parte do debate moral atual, assim como o esquema moral<br />
aristotélico participou do debate em culturas muito diferentes tais como a cultura grega, a<br />
judaica, a cristã e a islâmica. O que significa dizer que esse esquema pode ter alguma<br />
contribuição para os nossos dias também, visto que já demonstrou grande capacidade de<br />
adaptação em culturas bastante diversificadas.<br />
Quanto à crítica de Tugendhat à questão das practices, seria conveniente lembrar que<br />
MacIntyre busca se valer desse conceito visando um telos, ou seja, alcançar algum tipo de<br />
bem, entendendo que as practices nos permitem, ou nos conduzem, à percepção da qualidade<br />
virtuosa ou não do caráter do agente moral 105 . No entanto, o conceito de practices deve ser<br />
contextualizado de modo mais amplo como fazendo parte de uma vida inteira e não tomado<br />
isoladamente.<br />
Entendemos que é bastante delicado refletir sobre o pensamento de autores que ainda<br />
continuam produzindo e, principalmente, que é arriscado tentar defender um ou outro autor,<br />
das críticas recebidas, até mesmo porque, o criticado pode concordar com tais críticas ou parte<br />
delas e a partir disso fazer alterações em seu pensamento. MacIntyre se mostra muito<br />
receptivo as críticas e, com certeza, alguém da envergadura de Tugendhat pode contribuir<br />
substancialmente para a lapidação das idéias de MacIntyre. Acreditamos não ser impossível<br />
que algumas críticas feitas por Tugendhat, as quais buscamos mostrar serem incabíveis,<br />
possam vir a ser aceitas de bom grado por MacIntyre. Porém, dentro da nossa limitada visão,<br />
julgamos ter aqui apresentado as críticas mais pertinentes e algumas possibilidades de diálogo<br />
105 Muito embora, MacIntyre demonstre ter consciência que uma ação virtuosa em uma determinada cultura<br />
possa não ser considerada do mesmo modo em outra cultura.
que poderiam ocorrer entre essas duas grandes figuras do pensamento acerca da moralidade<br />
nos dias atuais.<br />
3.3 Tradição, enciclopedismo e genealogia<br />
O embate entre o aristotelismo, a moderna visão enciclopedista de moralidade, e a<br />
genealogia nietzscheana é o tema dos capítulos VIII e IX da obra Three rival versions of<br />
moral enquiry – Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition 106 e é com base neles que agora<br />
apresentamos o tratamento dado por MacIntyre a esta questão 107 . Segundo ele o desacordo<br />
entre os adeptos da pesquisa moral enciclopedista, genealógica e da tradição é um pressuposto<br />
da Nona Edição da Encyclopaedia Britannica, haja vista que os seus colaboradores entendem<br />
que todas as pessoas racionais podem resolver seus desacordos acerca de critérios, padrões e<br />
métodos de pesquisa, porém não é o que pensam os herdeiros de Nietzsche, os quais são<br />
totalmente contrários a esta visão. Para MacIntyre apesar de muitos adeptos do<br />
enciclopedismo terem abandonado tal visão, deixando empreendimentos inacabados e tendo<br />
uma postura crítica parcial e incompleta, algumas instituições acadêmicas ainda têm sua<br />
pesquisa e ensino conduzidos por este método e defendem a existência de acordos subjacentes<br />
sobre o projeto acadêmico e coerência global, demonstrando que “o fantasma da Nona Edição<br />
assombra a academia contemporânea. Eles precisam ser exorcizados” cxxxviii (MACINTYRE,<br />
2008c, p. 171). A prática acadêmica ainda entende, em moldes enciclopedistas, que todos os<br />
pontos de vistas podem ser ligados uns aos outros, negligenciando qualquer<br />
incomensurabilidade e tendo a tradutibilidade universal como um dado adquirido.<br />
Existem alguns filósofos contemporâneos, entre eles os que se baseiam nos trabalhos<br />
de Donald Davidson, que merecem respeito pelos que, como MacIntyre, rejeitam suas<br />
conclusões. E, embora, as crenças da cultura acadêmica contemporânea na tradutibilidade e na<br />
inteligibilidade sejam resíduos de pressupostos herdados do iluminismo e da Nona Edição,<br />
suas visões possuem uma crucial diferenciação. Para os iluministas os pontos de vistas<br />
trazidos para o debate teriam sempre resultado conclusivo, cujo propósito seria estabelecer<br />
verdades, mas hoje, na prática acadêmica, raramente o debate racional é conclusivo, pois os<br />
padrões de racionalidade aceitos se assentam numa fraca concepção incapaz de garantir<br />
refutações conclusivas a concepções rivais. Para uma conclusão definitiva seria necessário<br />
106 O capítulo VIII tem por título Tradition against Encyclopaedia: Enlightened Morality as the Superstition of<br />
Modernity; e o capítulo IX Tradition against Genealogy: Who Speaks to Whom?<br />
107 Basicamente apresentamos aqui uma síntese das principais idéias desenvolvidas por MacIntyre nestes dois<br />
capítulos.
apelar a um padrão, ou conjunto de normas, que fornecesse aceitabilidade a um esquema<br />
teórico, formulável e defensável independente de tal esquema, mas tal padrão não existe, visto<br />
que “cada ponto de vista rival está preocupado em fornecer para si mesmo e nos seus próprios<br />
termos, os padrões pelos quais seus adeptos pedem que seja avaliada a rivalidade [...]. Não<br />
existindo o teoricamente neutro [...]” cxxxix (MACINTYRE, 2008c, p. 173).<br />
Foi por acreditar que quando uma concepção estiver em desacordo com outra não<br />
poderá haver forma racional de resolver suas diferenças que os nietzscheanos chegaram às<br />
conclusões que chegaram, porém quando, no século XIII, aristotélicos e agostinianos se<br />
enfrentaram ao ponto de poder-se encontrar entre eles aspectos não racionais, Tomás de<br />
Aquino mostrou que essa conclusão poderia ser falsa. A estratégia de Tomás foi sustentar que<br />
enquanto o sistema permanecer dentro dos seus próprios limites lhe faltará recursos para<br />
enfrentar o problema colocado. E assim, MacIntyre compreende que é preciso levantar<br />
críticas aos enciclopedistas e aos genealogistas não nos termos da tradição, mas nos termos<br />
deles mesmos. Talvez seja por fazer uso de conceitos enciclopedistas abstraídos da estrutura<br />
dentro da qual eles eram conhecidos que o debate moral contemporâneo pareça interminável.<br />
Para a exata compreensão desta questão é preciso entender o que os moralistas dos séculos<br />
XVIII e XIX entendiam por moralidade.<br />
3.3.1 O embate da tradição com o enciclopedismo<br />
A mentalidade que orientou o plano geral enciclopedista foi de que “moralidade”<br />
nomeia uma matéria a ser estudada em suas relações com as experiências humanas, assim<br />
como direito e religião. É o que expressa, segundo MacIntyre, o artigo “Encyclopédie”, de<br />
Diderot, no volume IV, ao sustentar que o objetivo dos editores seria “inspirar o gosto pelo<br />
conhecimento, o horror à falsidade e ao vício, e o amor à virtude; porque tudo o que não tem<br />
como objetivo final a felicidade e a virtude não é nada” cxl (MACINTYRE, 2008c, p. 174).<br />
Estas duas idéias – a virtude produz a felicidade e sustenta a ordem social – foram pensadas<br />
como harmônicas.<br />
Concordando com Diderot, Jaucourt, autor dos artigos sobre “moral” e “moralidade”<br />
apresenta quatro teses acerca do tema. A primeira sustenta que uma ação pode ser considerada<br />
boa ou justa se estiver em conformidade com uma lei que impõe uma obrigação. “Moralidade<br />
é, portanto, uma questão de regras e ser uma pessoa boa ou justa, ter virtudes de caráter, é<br />
estar disposto a fazer o que as regras exigem” cxli (MACINTYRE, 2008c, p. 174). A segunda<br />
entende que o conteúdo que a moralidade exige em todos os tempos e lugares são “idéias<br />
gerais” de direitos sem os quais a sociedade não se sustentaria e que as dificuldades que
surgem são apenas acerca de suas aplicações em circunstâncias particulares. A terceira trata a<br />
moralidade como um fenômeno distinto e independente de fé religiosa, pois esta nada<br />
acrescenta à moralidade. E, por último, que as pessoas comuns não precisam das teorias<br />
morais, exceto quando interesses políticos ou religiosos ofuscam e distorcem a verdadeira<br />
moralidade com falsas teorias morais. Seria, portanto, um dos objetivos da teoria moral<br />
iluminista combater a influência de uma teoria moral ruim.<br />
Grande parte dos iluministas concorda com Jaucourt de que pessoas comuns também<br />
são conscientes de seus deveres e suas obrigações e sabem o que a moralidade exige delas,<br />
porém dão mais importância às premissas do que às conclusões, não buscando a interiorização<br />
da norma 108 . Além disto, estes pensadores entendem que o papel da teoria é o esclarecimento<br />
dos juízos morais e a proteção contra falsas teorias 109 , sendo a tradição aristotélica<br />
considerada uma das mais perigosas. Kant condena as doutrinas centrais de Aristóteles e<br />
Jaucourt diz que a Escolástica é uma miscelânea de diversas fontes sem normas ou princípios.<br />
Na visão de MacIntyre, quando os escritores do século XVIII proclamaram a<br />
fundamentação universal da moral não estavam cientes das diferenças entre a cultura da<br />
Europa moderna e as de outras épocas e lugares e, assim, para a maioria dos teóricos<br />
iluministas a fundamentação da moral não é histórica. Para os editores da Nona Edição a<br />
moralidade apareceu como algo emergente, como um fenômeno através do qual as normas<br />
morais foram desencaixadas de uma variedade não racional, normalmente advinda de regras<br />
sobre poluição e contaminação. No entanto, o seu desenvolvimento foi desigual até mesmo<br />
entre os civilizados.<br />
Lembra MacIntyre que Sidgwick, ao escrever para a Nona Edição um artigo sobre<br />
ética, afirmou que a moralidade vigente era uma etapa de um longo processo de<br />
desenvolvimento e concebeu suas conclusões acerca da moralidade como resultado de uma<br />
longa história de investigação na qual se tem progredido (MACINTYRE, 2008c, p. 177).<br />
Teria, então, Sidgwick revelado que o “dever” moral da responsabilidade e da obrigação não<br />
se reduz a uma noção elementar e, sendo que, o progresso da filosofia moral, neste aspecto,<br />
coincide com o da própria moralidade. Com base nisto, entende MacIntyre, que não haveria<br />
108 Aqui, segundo MacIntyre, os iluministas contrariam Aristóteles e Tomás de Aquino, os quais viam no estudo<br />
da ética não apenas objetivos teóricos, mas a possibilidade de nos tornamos melhores.<br />
109 Apesar da teoria moral, na visão iluminista, ter de proteger os julgamentos morais das pessoas simples,<br />
observa-se desacordos entre os protetores e intérpretes da moralidade de tais pessoas e as próprias pessoas<br />
comuns se mostram em desacordo. Diante disto, conclui MacIntyre, que os filósofos morais se empenharam<br />
em organizar e harmonizar crenças morais de modo a assegurar o consenso racional (MACINTYRE, 2008c, p.<br />
176s).
nenhuma razão especial para dar um lugar central ao “dever”, o qual seria fruto de um<br />
consenso racional do mesmo modo que justiça, prudência e benevolência o são com bases em<br />
princípios que não podem ser negados por nenhuma pessoa racional. Mas não era assim que<br />
pensava Sidgwick e seus contemporâneos, os quais defendiam que um lugar especial deveria<br />
ser dado à idéia de “dever” com base em proposições advindas de teses racionais que<br />
contrastavam com proposições e práticas legadas de primitivos e selvagens, caracterizadas por<br />
James G. Frazer em seu artigo sobre “tabu”.<br />
Para os enciclopedistas as suas concepções de deveres e obrigações eram, tanto moral<br />
quanto racionalmente, superiores àquela que constituía o “tabu” das culturas primitivas e<br />
selvagens. O que se observa, no entanto, é que “tabu” foi definido como “um sistema de<br />
proibições religiosas” e, nesta caracterização, os vários costumes foram estudados abstraídos e<br />
isolados do sistema de pensamento e prática no qual estavam inseridos. E assim, as<br />
irracionalidades percebidas poderiam ser provenientes do fato dos antropologistas terem<br />
interpretado de modo distorcido a vivência dos polinésios, não situando as normas do tabu em<br />
um contexto no qual a vida social real estava inseparavelmente ligada (MACINTYRE, 2008c,<br />
p. 179).<br />
Nos artigos “Anjo”, “Bíblia” e “Língua e Literatura Hebraicas”, William Robertson<br />
Smith usou este mesmo conceito de “tabu” – a mais baixa forma de superstição – para<br />
apresentar os elementos bíblicos como precursores de atitudes morais e teológicas civilizadas<br />
esclarecidas. Smith afirma que normas se apoiando na vontade dos deuses parecem arbitrárias<br />
e sem sentido e por isto imposições acerca, por exemplo, de impureza e poluição são as<br />
respostas dos selvagens para as fontes de misterioso perigo. Para MacIntyre é possível<br />
destacar aqui dois equívocos: primeiro, tratar e classificar os escritores bíblicos em termos<br />
iluministas e não nos termos deles mesmos, julgando a Bíblia pelos padrões modernos; e,<br />
segundo, a cegueira para com as relações sociais contidas nestas normas as quais visam<br />
proteger o homem através da sua relação com o divino e com o seu semelhante. Colocando<br />
regras em uma categoria e santidade e discernimento moral em outra, Smith refletiu as<br />
atitudes de fins do século XIX. Algo projetado e não resultante do objeto de suas pesquisas.<br />
Disto resultou uma inadequada compreensão 110 dos aspectos negativos e positivos das normas<br />
no tabu.<br />
110 Inadequação comum nas representações européias e norte-americanas de culturas estrangeiras. “[...]<br />
observação e explicação são estruturadas em termos das crenças morais dos que observam e explicam (“[...]<br />
observation and explanation were structured in terms of the moral beliefs of those who observed and<br />
explained”) (MACINTYRE, 2008c, p. 180).
Segundo a tradição aristotélica-tomista “[...] a superioridade racional de uma tradição<br />
ante uma tradição rival, não se dá apenas por sua capacidade de identificar e caracterizar as<br />
limitações e fracassos daquela tradição rival [...] mas também por explicar e entender aquelas<br />
limitações e fracassos de maneira razoavelmente correta” cxlii (MACINTYRE, 2008c, p. 180).<br />
Somos inclinados a interpretar esta afirmação como se o adepto da Tradição dissesse ao<br />
enciclopedista “eu compreendo a minha e a sua teoria moral, mas você só compreende a sua”.<br />
Ou talvez fosse mais longe ainda e dissesse: “você só compreende a sua e quer discutir<br />
comigo, porém se recusa a compreender a minha teoria moral, pressuposto básico para<br />
iniciarmos a nossa discussão”.<br />
Afirma MacIntyre que dois fatores desta concepção de superioridade racional são<br />
diferentes do que apresentaram os colaboradores da Nona Edição. Primeiro, ela só deveria ser<br />
aplicável se cada uma das partes rivais tivesse sido antes caracterizada em seus próprios<br />
termos e os seus fracassos e limitações identificados à luz de seus padrões de racionalidade.<br />
No entanto, é por invocar seus próprios padrões que Smith, Frazer, Tylor e Sidgwick afirmam<br />
a superioridade enciclopedista sobre o “primitivo” e “selvagem”. Segundo, nenhuma<br />
pretensão de superioridade pode ser bem feita exceto se suportar a explicação das limitações<br />
que o próprio ponto de vista fornece e, indo além, resistir às rejeições dos pontos de vista<br />
opostos, se submetendo aos argumentos mais fortes que as outras visões possam sustentar<br />
contra ela. Este foi o procedimento adotado por Tomás de Aquino ao argumentar contra os<br />
seus rivais.<br />
Aos colaboradores da Nona Edição parece nunca ter ocorrido adentrar no ponto de<br />
vista dos primitivos e selvagens e, a partir dele, estudar como suas teorias morais eram<br />
entendidas do ponto de vista das culturas estrangeiras. Estavam fechados para uma visão<br />
polinésia da Europa à semelhança dos exploradores, comerciantes e missionários. Palavras de<br />
Tonga, Haiti e Havaí eram tidas como tendo significado misterioso aos europeus, por serem<br />
incapazes de situar os usos e costumes destes povos dentro de estruturas gerais polinésias. As<br />
melhores informações são de um período em que o sistema de práticas rituais já estava<br />
enfraquecido o que acabou gerando dificuldades para se ter noção da inteligibilidade do tabu.<br />
A palavra havaiana para tabu, “kapu” foi sofrendo uma mudança gradual até chegar ao<br />
sentido de “fora dos limites”. Um nativo havaiano, educado nas crenças morais de sua própria<br />
cultura, percebeu que foi através da participação em algumas décadas da história daquela<br />
cultura apenas, que os colaboradores da nona edição formularam suas crenças sobre o tabu e<br />
parece que alguns pensadores fazem o mesmo com as crenças morais européias.
Dentro da velha tradição cultural havaiana kapu está intimamente relacionado com o<br />
divino e fazer algo kapu é uma obrigação, assim como liberá-lo de ser kapu é desobrigá-lo,<br />
contudo é só em contextos muito específicos que a regras do kapu têm sua força. É só dentro<br />
de uma determinada estrutura que o que é bom, para quem, quando, onde e como, recebe sua<br />
definição. O que é o bem será derivado daquilo que as regras são e não vice-versa; e quais são<br />
as regras será definido pela participação deles na representação total. Porém, com a<br />
descoberta européia dos havaianos o significado das regras do kapu foi se separando das suas<br />
funções antigas e originais. Primeiramente, as proibições começaram a adquirir a aparência de<br />
um fenômeno distinto disponível como um objeto de estudo e o conceito de kapu foi se<br />
tornando cada vez menos inteligível e deixando de ser visto como parte de um todo. Num<br />
segundo momento, os chefes começaram a usar tabus para fins práticos e para servir aos<br />
interesses particulares da aristocracia, substituindo a relação com Deus pela relação com uma<br />
classe econômica emergente. E, terceiro, kapu passou a ser usado para reivindicar direitos aos<br />
excluídos de posições e status. Para MacIntyre o surgimento do conceito de direitos sinaliza a<br />
perda da unidade social, pois direitos são invocados quando os outros aparecem como<br />
ameaças.<br />
Segundo MacIntyre, a facilidade com que as regras do kapu foram abolidas, em 1819,<br />
reflete a degradação crescente em direção a uma irracionalidade deste sistema. No entanto, o<br />
que um havaiano viria como uma degradação, os colaboradores da Nona Edição aceitariam<br />
como progresso. Esta separação ocorrida com o tabu ilustra a separação ocorrida com as<br />
normas morais européias de dentro da teologia moral (MACINTYRE, 2008c, p. 185). O<br />
surgimento de kapu como “noção elementar” pode ser parecido com a identificação européia<br />
do “dever” moral, onde questões relacionadas aos deveres e obrigações se tornaram centrais<br />
num contexto em que concepções de direitos adquiriram um novo significado, e assim, as<br />
normas morais não seriam nem mais e nem menos que as normas do tabu daquela cultura<br />
particular. Os tabus foram vistos como diferentes devido a incapacidade de autoconhecimento<br />
e auto-reconhecimento cultural, de modo semelhante, os autores enciclopedistas, por insistir<br />
em ver e julgar tudo a partir dos seus pontos de vistas acabaram por não conseguir se auto-<br />
perceber. Parafraseando Sócrates e colocando-se no lugar dos que se encontram fora da<br />
cultura européia, poder-se-ia dizer: “um pouquinho mais do que você eu sei, sei que existem<br />
outras culturas”.<br />
Para MacIntyre, este paralelismo entre a cultura vitoriana e a polinésia mostra um<br />
momento de degradação e irracionalidade em ambas as culturas, o que se distancia da visão
de Sidgwick ao declarar que um dos objetivos centrais do filósofo moral é estabelecer um<br />
consenso moral racional. Mas quais seriam, de acordo com Sidgwick, as relevantes chaves<br />
para um entendimento da moralidade? (MACINTYRE, 2008c, p. 186). Para ele o único bem<br />
último deve ser conciliar as exigências impostas por dois fins últimos: o da Felicidade<br />
Universal e o da Felicidade Egoísta. Quando os dois fins conflitam não há como decidir<br />
racionalmente e a nossa razão prática fica dividida contra ela mesma. Uma das intuições de<br />
Kant foi que as determinações morais não permitem exceções, com o que Sidgwick concorda,<br />
porém, Sidgwick assegura que todas as vezes que as exigências da Felicidade Universal<br />
conflita com as da Felicidade Egoísta a escolha é arbitrária, fato que demonstra, portanto, que<br />
a regra é vulnerável à exceções.<br />
Seriam raros os casos, segundo Sidgwick, em que surgiria o conflito entre dever e<br />
interesse próprio, fato que parece pressupor homogeneidade social e moral os quais, na visão<br />
de MacIntyre talvez nunca tenha sido o caso nas recentes sociedades modernas<br />
(MACINTYRE, 2008c, p. 188), onde se compartilha um alto grau de indeterminação,<br />
permitindo acerca da verdade, por exemplo, que se encontre o “nunca se deve...”, ao lado do<br />
“exceto quando...”. Percebe-se, portanto, que a distinta moral do “dever” mudou o seu uso e o<br />
seu significado por causa de interesses próprios de modo análogo às mudanças ocorridas com<br />
“kapu” ao afastar-se de seus contextos.<br />
Além disto, Sidgwick e os demais colaboradores da Nona Edição aspiravam ser a voz<br />
do consenso, mas retrospectivamente se percebe que a história da filosofia moral tem sido<br />
uma história de desacordos e as tentativas de reconciliar os pontos de vistas rivais acarretam<br />
novos desacordos. Teóricos discordam não apenas de seus rivais, mas até mesmo entre si,<br />
mostrando que a filosofia moral se tornou uma espécie de atividade suspeita do mesmo modo<br />
que a teologia estava desacreditada para Sidgwick. E assim, o contraste entre o civilizado e o<br />
supersticioso, entre o moderno e o selvagem e primitivo não pode ser sustentado, o que<br />
significa dizer que, julgado pelos seus próprios padrões e nos seus próprios termos, o projeto<br />
dos maiores colaboradores da Nona Edição falhou.<br />
Os adeptos da tradição aristotélica-tomista e os genealogistas posnietzscheanos<br />
buscaram entender como e porque aconteceram as falhas enciclopedistas e apresentaram<br />
respostas diferentes. A crítica dos genealogistas tem dois aspectos: o primeiro é a elevação do<br />
que é cultural e moralmente particular ao status de racionalmente universal (MACINTYRE,<br />
2008c, p. 190), confundindo um artefato cultural, “o indivíduo”, com a natureza humana<br />
enquanto tal. Em Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche escreveu “o homem não busca a
felicidade, apenas o Inglês faz isto”. Além disto, os genealogistas enfatizam que tanto na<br />
moralidade dos esclarecidos como na dos não esclarecidos se encontra o mesmo<br />
empreendimento moral: a vontade de poder, ou seja, o domínio e a domesticação.<br />
Tanto para Sidgwick quanto para Nietzsche a história da ética começa com Sócrates e<br />
tem um tema único e uma verdadeira continuidade, mas para a tradição aristotélica-tomista<br />
esta história foi interrompida e é por intermédio desta interrupção e ruptura que a moralidade<br />
foi gerada. Sustenta MacIntyre que “se nós entendermos por „moralidade‟ e por „ética‟, mais<br />
ou menos, o que Sidgwick e outros colaboradores da Nona Edição entenderam, então<br />
„moralidade‟ é, na visão aristotélica e tomista, um fenômeno distintivamente moderno” cxliii<br />
(MACINTYRE, 2008c, p. 191). Não há palavra antiga ou medieval que traduza a moderna<br />
palavra “moralidade”.<br />
Quando historiadores de ética extraem aquilo que, de acordo com a concepção<br />
moderna, pertence à ética eles projetam um retorno ao passado, porém com um duplo engano:<br />
primeiro destacando com arbitrariedade parte das totalidades onde a ética fazia parte da<br />
política e as virtudes faziam parte da teologia; e, segundo, a natureza da ruptura é obscurecida<br />
por uma idéia de emancipação. Afirma MacIntyre que os genealogistas criticam os<br />
enciclopedistas ao afirmar que eles exageraram na importância desta ruptura e que os tomistas<br />
os criticam alegando que a inteligibilidade só pode derivar de suas relações com as totalidades<br />
das quais os conceitos foram abstraídos. Para um tomista o conceito moderno de moralidade é<br />
um conjunto de fragmentos que colocam problemas insolúveis se não forem restaurados aos<br />
seus contextos.<br />
Exemplifica esta tese o fato de um dos problemas fundamentais para a filosofia moral<br />
moderna ser a conciliação das exigências impessoais das regras morais com os apegos e<br />
interesses do eu, freqüentemente incompatíveis, pois, para MacIntyre a concepção do eu já é<br />
enganosa e distorcidamente abstraída do seu lugar como membro de uma comunidade no<br />
interior da qual “os bens são ordenados e entendidos de modo que o eu não pode alcançar seu<br />
próprio bem, exceto se alcançar o bem dos outros e vice-versa” cxliv (MACINTYRE, 2008c, p.<br />
192). Dentro de tais comunidades as normas morais são apreendidas como leis da comunidade<br />
enquanto tal, constitutivas e outorgantes em suas funções mais do que os proibitivos tabus.<br />
Outro exemplo seria quanto à gênese do “dever” moral, pois nenhuma das palavras<br />
traduzidas por “dever” em linguagem antiga e medieval tem a força de obrigatoriedade<br />
independentemente das razões, tem apenas força categórica em declarações do tipo “se fazer
isto for o melhor para um tipo de pessoa e se você for este tipo de pessoa, então deve fazê-lo”.<br />
Este tipo de “dever” depende<br />
[...] de uma série de crenças compartilhadas sobre o que seja o bem e o<br />
melhor para diferentes tipos de seres humanos. É exatamente esse tipo de<br />
crença compartilhada, que caracteriza essas comunidades de pesquisa e<br />
prática moral e apenas no interior delas, na visão tomista, os bens humanos<br />
podem ser adequadamente identificados e procurados cxlv (MACINTYRE,<br />
2008c, p. 193).<br />
Substituir comunidades pelo individualismo, crenças compartilhadas pelo pluralismo<br />
do desacordo sobre o que são os bens e guardar os preceitos e normas morais herdadas são<br />
regras privadas do seu antecedente “se e desde que” e vão assumir uma forma impessoal e<br />
incondicional, “um dever de fazer isto ou aquilo” e é assim que é criado o “dever” tipicamente<br />
moral, noção elementar de Sidgwick, e o problema de como as regras morais devem ser<br />
relacionadas com os interesses do eu, terá sido, na leitura de MacIntyre, suprido por uma<br />
linguagem necessária para a sua declaração.<br />
O tomista concorda com o imaginário havaiano em ver as normas morais da<br />
modernidade como a “sobrevivência” de um passado perdido, porém ele também percebe na<br />
reapropriação das normas evidências dos trabalhos de synderesis, essa compreensão<br />
fundamental dos primeiros preceitos da lei natural, que a degradação cultural nunca poderá<br />
apagar. O tomista se vê comprometido com a escrita de uma história que resultou da ruptura<br />
na qual a moralidade se tornou vulnerável às críticas dos genealogistas, porém entende que<br />
aquilo que os genealogistas contestam pertence à prática dos próprios genealogistas. Para o<br />
tomista a crítica genealógica contra Kant e os utilitaristas, não pode ser aplicada a Sócrates,<br />
Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino. Genealogista e tomista procuram deslocar<br />
a narrativa enciclopedista, por um tipo diferente de história, mas estão em conflito sobre<br />
através de qual tipo de narrativa os erros enciclopedistas pode ser divulgados.<br />
3.3.2 O embate da tradição com a genealogia<br />
É através dos textos que o debate entre enciclopedistas, genealogistas e os adeptos da<br />
tradição se realiza, e um dos pontos cruciais neste debate é o modo como eles compreendem a<br />
identidade e a continuidade daqueles com quem debatem. Na visão aristotélica e agostiniana,<br />
o conceito de identidade pessoal tem três dimensões: o eu sou indica ser a mesma pessoa<br />
durante toda a vida; o envolvimento com outras pessoas imputa responsabilidade por minhas<br />
ações e a identidade me obriga a responder pelo que fiz reavaliando minhas ações à luz do<br />
julgamento proposto pelos outros dentro de minhas comunidades; e, a vida deve ser entendida<br />
como um todo, tendo unidade e continuidade e buscando descobrir a verdade acerca desta
totalidade. A responsabilidade pelas ações não pode ser independente da responsabilidade<br />
para com o todo.<br />
Alguns pontos precisam ser destacados acerca da identidade e continuidade: primeiro,<br />
não é um relato inventado pelos filósofos, pois foram entendidas por todas as sociedades<br />
tradicionais – indígenas americanos, antigos e medievais, os de língua celta, as tribos<br />
africanas, a polis grega, os califados islâmicos, o império maia, enfim, para todos eles<br />
identidade e continuidade foram incorporadas na prática antes que fossem enunciadas como<br />
teorias. Segundo, aquela unidade depende de uma variedade de aspectos: corpos, memória,<br />
estabilidade de caráter, habilidades de reconhecimento, entendimentos e crenças<br />
compartilhadas comunitariamente. Crenças não são sobre palavras, mas sobre nós mesmos;<br />
crenças se expandem pelo universo de um tipo particular de cultura ou subcultura. Terceiro,<br />
este conceito metafísico não é proposto como solução para “o problema da identidade<br />
pessoal”. Este problema só foi gerado quando as crenças compartilhadas não podiam mais ser<br />
sustentadas, mas ainda permanecia um fundo comum como resíduo da concepção de<br />
identidade pessoal, o que é bem diferente de continuidade corporal ou psíquica como as da<br />
memória.<br />
O conceito de mesma pessoa originou soluções conflitantes: aquelas marcadas pelo<br />
fracasso em reduzir identidade pessoal à continuidade física ou psicológica, para as quais<br />
deve haver fato ulterior; e aquelas para as quais não há fato ulterior e concluem que<br />
identidade pessoal não é o que importa, o importante é a conexão psicológica entre estágios<br />
episódios e acontecimentos relacionados com a vida da pessoa. A partir deste ponto de vista a<br />
separação do todo em partes deve ser esperado e a crença que possibilita identificar e entender<br />
o todo, não pode mais ser compartilhada. Mas o que deve abranger a crença na unidade<br />
metafísica e o que deve ser compartilhado por meio dela?<br />
Ao fazer da busca do bem o meu objetivo pressuponho que há uma verdade sobre esta<br />
vida e o seu bem e que tal verdade pode ficar sem ser descoberta. Segundo Sócrates os erros<br />
que obstruem esta verdade podem ser trazidos à luz através das refutações dialéticas, as quais<br />
nos possibilitam saber se conhecemos e o que conhecemos. E assim, podemos começar a<br />
aprender a verdade, desde que pertencentes a uma comunidade empenhada em um<br />
empreendimento dialético. A responsabilidade por uma vida toda vai adquirindo formas<br />
institucionalizadas com Platão, Agostinho e Tomás de Aquino, os quais têm em comum<br />
quatro pontos: uma concepção de verdade que supera e ordena verdades particulares; uma<br />
concepção de razão que julga as verdadeiras e as falsas declarações; uma concepção de
gêneros de expressão as quais podem classificar as declarações; e um contraste entre os usos<br />
do gênero enquanto verdade ou enquanto padrões de eficiência retórica. É somente dentro de<br />
uma comunidade que incorpora o esquema destes quatro pontos que o conceito de<br />
responsabilidade pode instruir a vida compartilhada em tal comunidade.<br />
Ser responsável por uma pesquisa é “ampliar, divulgar, defender e, se necessário<br />
modificar-se ou abandonar aquela causa” cxlvi (MACINTYRE, 2008c, p. 201). Tal qual ocorre<br />
conosco, também nossas teses, argumentos e doutrinas vivem ou morrem, florescem ou<br />
murcham, mas a “verdade como medida de nossas garantias não pode desmoronar dentro da<br />
warranted assertibility 111 ” cxlvii (MACINTYRE, 2008c, p. 201), a assertibilidade garantida.<br />
Nas comunidades que têm esta concepção de responsabilidade na pesquisa, a educação é vista<br />
como iniciação nas práticas e questionamentos dialéticos e confessionais institucionalizados,<br />
além do auto-questionamento. O iniciado tem de aprender quais são as melhores doutrinas,<br />
bem como reexaminá-las, ou, até mesmo, ampliá-las. Embora haja o reconhecimento de uma<br />
verdade que almeja medir-se pela verdade, independente da tradição, não há nenhuma tese<br />
que não se apresente como tese historicamente ordenada pela tradição na qual vive um<br />
conjunto de indivíduos (MACINTYRE, 2008c, p. 202).<br />
Conforme MacIntyre a posse do conhecimento só se dá pela participação na história<br />
dos encontros dialéticos e tais encontros exigem compreensões compartilhadas onde<br />
afirmações e negações são possíveis apenas pela distinção dos sentidos entre diferentes razões<br />
que reconhecem e julgam. Condição necessária para esta distinção é a identificação e<br />
compreensão dos gêneros 112 . Por isto, para o tomista toda declaração tem de ser compreendida<br />
em seu contexto, não afirmando, mas pressupondo saber o que foi dito, por quem, para quem<br />
e dentro de qual comunidade.<br />
No entanto, para o enciclopedista, verdade e racionalidade são independentes das<br />
particularidades pessoais e, até mesmo, o estilo da enciclopédia é o de um estudo impessoal,<br />
pois nas publicações iniciais da Nona Edição nenhum nome aparecia no final dos artigos. Para<br />
MacIntyre as figuras do passado são medidas naturalmente pelo tanto de bem ou de mal que<br />
fizeram para que o presente seja como é. Alguns genealogistas ridicularizam a auto-<br />
111 Warrant assertibility, é um termo introduzido por John Dewey para indicar a propriedade de um enunciado,<br />
cuja afirmação tem o máximo de garantias possíveis, embora se possa sustentar que toda garantia somente seja<br />
válida temporal e localmente.<br />
112 Na República, de Platão, por exemplo, encontramos compreensões dos gêneros épico, drama, mito e pesquisa<br />
dialética (MACINTYRE, 2008c, p. 202).
apresentação da enciclopédia como autoridade impessoal, e Gustave Flaubert, por exemplo,<br />
chega a descrevê-la como um tipo de enciclopédia transformada em paródia.<br />
Foucault viu a origem desta impessoalidade da enciclopédia como originária do século<br />
XVII ou XVIII quando os discursos científicos começaram a ser recebidos por eles mesmos<br />
aos moldes de verdades estabelecidas por sua pertença a um conjunto sistemático e não por<br />
fazerem referência ao indivíduo que os tivesse produzido, contrastando com os “discursos<br />
literários” que eram aceitos somente quando dotados de autor. A impessoalidade da<br />
enciclopédia traz à tona o seu antagonismo com a tradição aristotélica-tomista e desta com a<br />
genealogia, pois<br />
onde o tomista levanta a questão da relação dos que afirmam ou negam a<br />
verdade pela qual eles são medidos, e por referência à qual eles devem ser<br />
responsabilizados, o genealogista, seguindo Nietzsche, repudia qualquer<br />
noção da verdade e, conseqüentemente, qualquer concepção do que ela é,<br />
como tal e invariavelmente, em contraste com, o que parece ser o caso, uma<br />
variedade de perspectivas diferentes cxlviii (MACINTYRE, 2008c, p. 205).<br />
Enquanto o tomista entende que o apelo a critérios definitivos poderá nos libertar das<br />
relações de poder, o genealogista entende que a dialética socrática e a confissão agostiniana<br />
são expressões deformadoras e repressivas daquela impessoal vontade de poder. E assim, ao<br />
abandonar o modo tomista o genealogista se vê diante de um problema: talvez lhe seja<br />
impossível perceber a identidade e continuidade que a responsabilidade requer, mas continua<br />
usando uma linguagem que pressupõe identidade e continuidade. A partir disto, parece que o<br />
genealogista fica devendo uma explicação do que deva ser entendido por identidade e<br />
continuidade para que lhe seja garantido não estar ocultamente pressupondo teses metafísicas,<br />
cujo descrédito seria um dos seus objetivos.<br />
Mas compromisso com objetivos já é expressão daquilo que não cabe ao genealogista<br />
e pode até nos deixar perplexos quanto à maneira de convidar o genealogista para se<br />
posicionar. E assim, parece tornar-se problemático para o genealogista rejeitar o que o teólogo<br />
e o metafísico afirmam sem recair no modo que ele aspira desacreditar. A solução para o<br />
genealogista seria adotar uma postura temporária e provisória, uma máscara que pudesse ser<br />
descartada. Porém, ao usar esta metáfora da máscara dois aspectos da identidade e<br />
continuidade precisam ser considerados, um deles é formulado nos termos dos trabalhos de<br />
Foucault e outro de Foucault e Deleuze.<br />
Lembra-nos MacIntyre que em A arqueologia do saber a análise dos discursos torna o<br />
sujeito que profere julgamentos uma função da natureza do discurso e não vice versa, ou seja,<br />
as intenções da pessoa não são fontes independentes do discurso no qual o sujeito participa.
Foi justamente este o aspecto contrastado por Foucault ao tratar da impessoalidade do<br />
discurso científico e da personalização do discurso literário e que parece ter ficado sem<br />
resposta. Paul de Man diz que o modo pelo qual tentamos significar depende das propriedades<br />
lingüísticas, as quais não foram feitas por nós e sem as quais não nos fazemos como seres<br />
históricos. De Man torna problemática a relação do intencional com o não intencional e a<br />
relação das pessoas que atuam com convenções lingüísticas através das quais julgam e atuam.<br />
Percebe-se que a dificuldade no confronto com os genealogistas está na escassez de seus<br />
recursos conceituais (MACINTYRE, 2008c, p. 207). Esta falta de recursos se liga ao segundo<br />
aspecto do problema. Foucault elogia a concepção de pessoa, como múltipla e fragmentada,<br />
de Deleuze e a sua rejeição de pensamento categorial, aos moldes de Duns Scotus e Spinoza,<br />
os quais haviam compreendido o ser como unívoco. Porém, Deleuze é mais radical e entende<br />
que este ser não é, e não pode ser, nada mais do que “a repetição da diferença”.<br />
Foucault sugere, a partir das analises do discurso, a desintegração do sujeito, pois o eu<br />
que pode pensar a différence pode não ser unitário, pode ser uma cisão intransponível, a<br />
divisão do eu. Disto conclui-se que, dentro da estrutura genealógica, não há nenhuma<br />
possibilidade de serem colocadas questões acerca da responsabilidade, ou da identidade,<br />
unidade e continuidade (MACINTYRE, 2008c, p. 208) e nem se pode reconhecer alguma<br />
medida comum com este pensamento. Seria possível, no entanto, conversar sobre identidade<br />
pessoal, visto que a incomensurabilidade com o pensamento clássico é um pré-requisito<br />
genealógico?<br />
A resposta a esta pergunta depende de outra. Ao escrever uma narrativa destinada a<br />
minar a metafísica do ser e do bem e do mal, o genealogista traz uma série de contrastes entre<br />
como pensam Sócrates, Platão, Agostinho, ou qualquer outro, e como pensa o genealogista. É<br />
uma sombria narrativa de estórias de façanhas declaradas, não façanhas das máscaras, mas<br />
dos seus usuários, que contém uma tendência a rejeitar qualquer tábua de virtudes e requer<br />
uma contínua e estável referência ao “Eu” – o “Eu” que está no título de “Porque eu sou tão<br />
sábio”, “Porque eu sou tão inteligente”, “Porque eu escrevo livros tão bons”, “Porque eu sou<br />
um destino”. Nietzsche insistiu em não descartar estas afirmações ao escrever “suponho que<br />
se uma é a pessoa, necessariamente uma será também a filosofia que pertence a esta pessoa”<br />
(A gaia ciência, prefácio da segunda edição, § 2).<br />
Diante disto MacIntyre questiona se ao narrar o modo como avança na pesquisa, o<br />
genealogista não estaria dando um passo atrás e se expressando na concepção de<br />
responsabilidade dos metafísicos, a qual renega. Será que o genealogista pode legitimamente
deixar de fora o eu que fala ao explicar-se dentro da estrutura genealógica? Não seria<br />
autoindulgente ao envolver-se em declarações e isentar-se do tratamento ao qual todos os<br />
outros estão sujeitos? Não cabe ao genealogista fornecer a alguém como eu, as respostas<br />
aceitáveis para ele, antes, ele deveria envolver-se com afirmações que ele não aceita<br />
(MACINTYRE, 2008c, p. 210). Parece ser apenas na medida em que ele consegue explicar a<br />
genealogia àqueles a quem ele já escolheu como suas vítimas que ele os faz suas vítimas.<br />
A questão da memória é um tema crucial no caso genealógico contra a<br />
responsabilidade e, segundo Nietzsche, os poderes da memória podem se desenvolver de<br />
modos diferentes se tornando instrumento tanto para o bem quanto para o mal. O que a<br />
memória será vai depender daquilo do qual nos orgulhamos. Memória e orgulho, aplicados a<br />
Paul de Man, acabaram por surpreender e chocar muitos que, no final de 1987, descobriram<br />
que entre 1940 e 1941 ele havia publicado artigos de apoio às ideologias nazista e anti-semita.<br />
Segundo MacIntyre eles não deveriam ficar tão chocados, pois nesta época muitos perderam o<br />
rumo moral e político. Para de Man a relação entre passado e presente não possui identidade e<br />
a ironia divide o passado e o futuro, o que torna implausível que de Man pudesse ter afirmado<br />
algum tipo de identidade com o seu eu anterior. Diante disto a sugestão de MacIntyre é que o<br />
genealogista enfrenta dificuldades na construção de uma narrativa do seu passado que lhe<br />
permita reconhecer uma falha passada.<br />
Parece haver uma cisão tanto no pensamento de Paul de Man, quanto no pensamento<br />
de Foucault quando sucumbiu à tentação de ser docente num modelo enciclopédico. Estas<br />
cisões estariam confirmando as dificuldades que surgem quando não se professa a concepção<br />
de pessoa da tradição tomista. As dificuldades surgidas para o genealogista não é apenas a<br />
partir da crítica adversária, mas da própria compreensão que ele tem de sua posição, pois a<br />
genealogia produz uma suspeita do conceito de ato autenticamente originador – baseado em<br />
que o seu caráter originador não lhe pertence quando ocorre – e faz referência a atos tanto<br />
originadores quanto continuadores. Tais atos são atos de recusa através dos quais o<br />
genealogista inicia e continua a sua separação daquilo contra o qual está disputando. Ao<br />
revelar e considerar o cristianismo, o judaísmo, a dialética socrática, a metafísica platônica e a<br />
ética de Kant falsas e mutiladas representações.<br />
Notam-se tais rupturas com o estilo de pensamento e de vida acadêmico e<br />
convencional, através da saída de Nietzsche da cátedra da Basiléia, de Foucault em Vincennes<br />
e da apresentação de uma nômade história da filosofia por parte de Deleuze. Mesmo o<br />
genealogista recusando parte do seu passado a sua narrativa implica unidade, continuidade e
identidade que possibilitem tal recusa. Ser capaz de encontrar apenas palavras incompatíveis<br />
com o projeto que se quer recusar, é ser incapaz de encontrar um lugar para si mesmo e<br />
isentar-se desta verificação se fazendo uma grande exceção, sendo autoindulgente. Por isto,<br />
como já foi afirmado, o problema da identidade e continuidade não é apenas externo, mas<br />
internos e merecem atenção.<br />
O genealogista até agora escreve contra, expõe, subverte, interrompe e atrapalha, mas,<br />
na concepção de MacIntyre, raramente ele percebe que a sua postura, tese e estilo são<br />
dependentes dos seus conceitos, ou seja, ele vem tirando o seu necessário sustento daquilo<br />
que professa ter descartado. É possível que a genealogia descubra dentro de si uma solução<br />
para estes problemas, algo que seja adequado aos seus próprios termos, o que, por enquanto,<br />
ainda não conseguiu. E MacIntyre encerra sua abordagem acerca deste tema lembrando que<br />
“é o caso que nas hostilidades partilhadas entre os herdeiros da enciclopédia, os da genealogia<br />
pós-nietzscheana e os da tradição tomista, nem a argumentação e nem o conflito se encontram<br />
concluídos. Estas são lutas em andamento, definindo, em parte, a chave do meio cultural<br />
contemporâneo pelo progresso de suas dissensões” cxlix (MACINTYRE, 2008c, p. 215).<br />
3.4 O relativismo moral<br />
Possivelmente a crítica mais contundente que, por vezes, se busca aplicar à ética de<br />
MacIntyre, ou ao comunitarismo em geral, seja a de relativismo moral. E, acreditamos que<br />
essa deva ser também a mais difícil de ser respondida, pois aparentemente somos tentados a<br />
entender que se a fundamentação ética não tem bases universalizantes então ela se<br />
circunscreve relativamente ao âmbito em que se encontra aplicável, temporal, geográfica e<br />
culturalmente 113 , e como isso não foi bem visto desde o tempo dos sofistas, parece que<br />
também nos dias atuais continua com um conceito negativo 114 .<br />
Nosso primeiro intuito é apresentar sucintamente uma reflexão acerca da questão do<br />
relativismo a partir do pensamento de Oswald Spengler em sua obra O declínio do ocidente,<br />
pois entendemos que essa obra é importante para uma abordagem dessa natureza. Em seguida<br />
buscaremos expor o relativismo moral e o comunitarismo numa visão das relações<br />
113 Talvez até coubesse aqui a indagação se isto é defeito ou qualidade, pois respeitar os valores culturais e<br />
morais diferentes dos nossos, parece positivo. Será que não acontecerá com a questão do relativismo moral o<br />
mesmo que aconteceu com o existencialismo, o qual a princípio era carregado de conotação negativa, até que<br />
Sartre se assumiu como existencialista e a partir de então as acusações perderam sua razão de ser?<br />
114 Ressaltamos que, embora a sofística antiga e o ceticismo sejam considerados manifestações relativistas, o<br />
relativismo enquanto fenômeno moderno se liga à cultura do século XIX e se constitui numa espécie de<br />
subversão da filosofia dogmática.
internacionais nos dias de hoje. Depois buscaremos ilustrar o panorama acerca do relativismo<br />
com uma questão apresentada em Turim por Richard Rorty e, por último, verificar como essa<br />
crítica tenta se estabelecer com relação ao comunitarismo ético de MacIntyre, quais os<br />
elementos que a constituem e como ela está formulada, bem como a tentativa de superação<br />
dessa questão, por parte de nosso autor, sobretudo a partir da obra Tree rival versions of<br />
moral enquiry.<br />
Iniciaremos, então, lembrando que o relativismo se manifesta de forma extrema ao<br />
longo da história e afirma não só a relatividade do conhecimento, mas também de todos os<br />
valores fundamentais da vida humana nas épocas da história consideradas como entidades<br />
orgânicas, cada uma das quais cresce, desenvolve-se e morre sem relação com a outra. Sendo<br />
assim o relativismo pode atingir não só a verdade religiosa, mas também a filosófica, moral e<br />
científica.<br />
No contexto da obra de Spengler se descortina uma Europa em crise sinalizando o fim<br />
de uma cultura e o levante de uma civilização marcada pelo avanço da técnica. Essa era a<br />
realidade que devia ser enfrentada, ao modo já assinalado por Nietzsche ao confrontar a<br />
realidade apolínea e a dionisíaca, e que remetem, em Spengler, à cultura do passado e à do<br />
futuro cada qual com sua verdade. No pensamento de Spengler é possível perceber uma<br />
antevisão das futuras ditaduras e das manobras de manipulação das massas. Daí suas críticas<br />
ao nacional-socialismo, embora esse se tenha valido de algumas idéias suas.<br />
Refletindo acerca da história, da cultura e da ciência e comparando-as aos valores<br />
morais, Spengler nos dá a entender que assim como ocorre com a ciência, sobretudo a partir<br />
de Newton, também a moral, seguindo uma mentalidade marcadamente moderna e iluminista,<br />
parece sentir a necessidade de assentar-se sobre bases universalizantes. Mas ainda que a<br />
universalização da ciência seja realmente um pressuposto que não possa admitir outra<br />
possibilidade, poderíamos nos perguntar por que com a moral teria de ser necessariamente<br />
assim? Spengler nos lembra que<br />
O historiador tem se conduzido como se houvesse uma cultura humana,<br />
única, universal, semelhante à eletricidade ou à gravitação e com iguais<br />
possibilidades de análises no essencial; tem-se sentido a ambição de copiar<br />
os hábitos do físico, indagando, por exemplo, o que seja o lógico, o Islã, a<br />
antiga polis, e não se tem pensado em averiguar por que esses símbolos de<br />
um ser vivente tiveram que aparecer justamente ali, dessa forma e com essa<br />
duração. (SPENGLER, Introd., 16 115 ).<br />
115 A citação difere das demais adotadas até aqui – autor, data e página – por tratar-se de obra sem paginação.
Isso acena para a condição de diferenciação entre a ciência humana e a ciência física,<br />
natural e positiva. Para Spengler a necessidade mecânica domina apenas a natureza e não a<br />
história; essa, por sua vez, é dominada pela necessidade orgânica, o que a torna compreensível<br />
a partir da experiência vivida. Por isso, após indicar que o historiador, equivocadamente, é<br />
tentado a buscar a objetividade alcançada pelas ciências positivas, Spengler, referindo-se aos<br />
valores morais, salienta que “existem tantas morais como culturas, nem mais nem menos<br />
(SPENGLER, parte I, cap. V, II, 11). O que nos indica que mesmo a racionalidade sendo o<br />
substrato que perpassa, ou ao menos deveria perpassar, todas as culturas, as suas<br />
manifestações são diferentes; e assim como ocorre com a história e a cultura, ocorre também<br />
com a moral.<br />
A moral, a ciência, a filosofia e o direito só têm sentido absoluto, ou universal, dentro<br />
de determinada civilização e podem não possuir sentido algum fora dela, pois toda civilização<br />
tem um sentido fechado em si mesmo. Afirma Spengler:<br />
Todas as morais têm manifestado sempre a pretensão de valer para todos os<br />
tempos e todos os lugares. Esta pretensão é a que tem mantido oculto o feito<br />
de que, sendo as culturas individualidades de ordem superior, cada uma<br />
delas possua sua própria, concepção moral. Há tantas morais como culturas.<br />
Nietzsche foi o primeiro a perceber isso. (SPENGLER, parte I, cap. V, I, 4).<br />
Já falamos sobre a relevância da crítica nietzschiana à moral dos modernos e<br />
MacIntyre também se vale do pensamento desse autor para tecer suas críticas aos iluministas,<br />
mas o que merece destaque aqui é a afirmação de Spengler de que a moral está intimamente<br />
atrelada à questão cultural 116 . E a cultura do mundo de hoje é a cultura tecnológica a qual nos<br />
oportuniza, por um lado, o bem-estar, e por outro, a preocupação com o futuro 117 . Para<br />
Spengler, aquilo que distingue o homem do animal é a preocupação, ou seja, o animal vive o<br />
momento e o homem se projeta no futuro. E no futuro, possivelmente, teremos a<br />
preponderância das máquinas, numa demonstração de que “o último ato da tragédia ocidental<br />
situa-se na época do advento e da dissolução próxima da cultura das máquinas” (HUISMAN,<br />
2004, p. 944).<br />
Dentro dessa concepção apresentada por Spengler podemos entender que a moral,<br />
enquanto manifestação do costume dos povos se restringe às comunidades, o que não<br />
significa negar que hajam direitos inerentes à raça humana que foram, são e, talvez sejam<br />
sempre, buscados e conservados demonstrando que têm uma intrínseca necessidade. Esses<br />
116<br />
A isso Spengler chama de “absolutismo relativo” dos valores: os valores são absolutos para aquela civilização<br />
tão somente.<br />
117<br />
Esse tema foi amplamente analisado em O princípio responsabilidade, por Hans Jonas, obra imprescindível<br />
para o debate acerca de uma moral tecnológica e da bioética.
direitos naturais se aproximam mais das leis que regem as ciências naturais; mas os costumes,<br />
manifestados na cultura e na história, seguem as leis das ciências humanas. Ainda que exista<br />
um substrato comum entre ambos – a racionalidade, a preservação da vida, a busca do bem e a<br />
supressão do mal, entre outros – a questão adquire outros contornos quando se trata de decidir<br />
entre priorizar o coletivo ou o individual.<br />
A contribuição de Spengler para esse tema é bastante extensa e profunda, mas fizemos<br />
um rápido recorte aqui apenas para tentar demonstrar como ele descreve aquilo que ocorre<br />
com a civilização, a sociedade, a história e a cultura. E, ao menos nos moldes em que<br />
recortamos, buscamos não defender o universalismo, e nem tampouco o comunitarismo, mas<br />
apenas apresentar a concepção de história e cultura como organismos vivos, interligados ao<br />
seu contexto específico, sendo que o mesmo, como já dissemos, também pode ser aplicado à<br />
moral. Pretendemos agora apresentar algumas considerações feitas ao comunitarismo em sua<br />
relação com o relativismo moral.<br />
A tecnologia diminuiu distâncias e as culturas se entrechocam cada vez mais, sem<br />
contar que além dos costumes temos de ter em conta a questão dos direitos naturais do ser<br />
humano. Por isso, lidar com o relativismo, sobretudo nesse mundo cada vez mais globalizado,<br />
o qual reclama objetividade nas relações internacionais 118 , não é tarefa fácil e pode ser que<br />
ainda estejamos muito distantes de uma solução para essa questão – ou até mesmo que ela<br />
nunca chegue – como também pode ser que estejamos bem próximos dela, pois os debates em<br />
torno dessa questão cresceram bastante nas últimas três décadas. Podemos dizer que a questão<br />
gravita entre a moral fundamentada sobre regras universais preexistentes para a ação<br />
individual e a que se funda na natureza humana condicionada e contextualizada pelas<br />
circunstâncias comunais dos indivíduos (GUIMARÃES, 2008, p. 573).<br />
Talvez devêssemos refletir se não seria o caso de diferenciar entre costumes e<br />
direitos 119 – a exemplo da distinção feita entre jus e lex – quando se trata de universalismo e<br />
comunitarismo. Como posso defender o valor das culturas e seus costumes e ainda assim<br />
afirmar que os valores não são relativos às culturas? Mas por outro lado, se defendo, por<br />
exemplo, a tolerância para todas as culturas, defendo a tolerância até para aquela que não é<br />
118 Embora o teor do debate na área de relações internacionais não tenha as mesmas pretensões da reflexão ética<br />
filosófica que até agora buscamos apresentar, achamos conveniente abordar rapidamente essa questão para se<br />
ter noção de que o debate vem ocorrendo também em outros segmentos, bem como o modo como ele se<br />
constitui.<br />
119 Entendemos que os direitos estariam mais próximos das leis naturais e os costumes mais próximos do direito<br />
positivado. Os direitos, portanto, tendendo à uma abrangência mais universal e os costumes para uma<br />
abrangência comunitária.
tolerante e que, portanto, poderá defender a extinção dessa minha cultura tolerante e todos os<br />
seus valores morais.<br />
David Morrice argumenta que os comunitaristas têm um excessivo relativismo, pois<br />
dão prevalência moral à comunidade ao invés da humanidade (MORRICE, 2000, p. 245); e<br />
sustenta que para os cosmopolitas 120 , os indivíduos devem ter sua identidade e seu valor<br />
anterior e independente da sociedade (GUIMARÃES, 2008, p. 581). Isso nos permite<br />
compreender a raça humana, nesse caso, como sendo estratificada em três segmentos<br />
distintos: indivíduos, comunidades e a humanidade como um todo. O cosmopolitismo defende<br />
que os indivíduos devem ter prioridade sobre a comunidade, e Morrice diz que também a<br />
humanidade deve ter prioridade sobre a comunidade. Podemos então questionar por que o<br />
individual pode ter mais valor que o coletivo e o coletivo não pode ter mais valor que o<br />
global? Ou seja, o coletivo se acha preso entre o individual e o global tendo de se submeter a<br />
ambos.<br />
Segundo Morrice, os comunitaristas defendem que os indivíduos são constituídos a<br />
partir das comunidades em que se encontram, sendo que os valores que influenciam seus<br />
comportamentos e dão sentido às suas vidas derivam dessas comunidades (MORRICE, 2000,<br />
p. 236). Entende ele que os comunitaristas negariam os direitos naturais alegando que os<br />
indivíduos devem usufruir apenas daqueles direitos civis propiciados pela comunidade<br />
(MORRICE, 2000, p. 244). Volto ressaltar que talvez devêssemos estabelecer uma distinção<br />
entre direitos e costumes, sendo os primeiros de caráter mais universal e os últimos mais<br />
comunitários.<br />
Se de um lado, Morrice faz críticas veementes ao comunitarismo, por outro lado,<br />
Adler argumenta que só o comunitarismo poderia solucionar os problemas internacionais, por<br />
ser o único capaz de incorporar a questão da identidade e do conhecimento nos moldes<br />
construtivistas (GUIMARÃES, 2008, p. 594). Entende, ele, que a moralidade tem sentido<br />
apenas no interior de uma comunidade onde os indivíduos tomam decisões racionais visando<br />
princípios universais de justiça, de maneira que os Estados seriam livres para perseguirem<br />
seus interesses desde que se sujeitem a tais princípios (ADLER, 2005, p. 7).<br />
Para Adler o comunitarismo busca fazer do conhecimento um fator ontológico central<br />
nas relações internacionais, não significando apenas que as comunidades políticas e suas<br />
120 Mantemos o termo “cosmopolitas”, o qual parece ser mais utilizado na discussão feita em Relações<br />
Internacionais, a fim de deixar bem caracterizado o âmbito da discussão que agora adentramos e o<br />
empregamos como um equivalente do termo “universalistas”.
transformações potenciais podem ser compreendidas e estudadas a partir de uma perspectiva<br />
mais global, mas que é necessário enfatizar as compreensões básicas da comunidade, bem<br />
como as predisposições práticas dessas comunidades, “sem as quais seria impossível<br />
interpretar a ação, entender os significados, legitimar as práticas e dar poder aos agentes”<br />
(GUIMARÃES, 2008. p. 592).<br />
Os cosmopolitas criticam o comunitarismo alegando que eles responsabilizam<br />
exclusivamente os Estados nacionais pelas causas da pobreza e impossibilitam a discussão de<br />
responsabilidades que digam respeito à humanidade. Alguns sustentam que se os<br />
comunitaristas estiverem corretos, a justiça distributiva global não é factível, pois os<br />
compatriotas sempre terão prioridade legítima dos recursos. Os cosmopolitas centralizam seu<br />
foco sobre o indivíduo que, em tese, escolhe entre princípios neutros e universais de justiça e,<br />
a partir disso, tentam universalizar princípios para todas as comunidades, fundamentados em<br />
um indivíduo universal. Para Guimarães “fica claro também que tal corrente representa um<br />
tipo de individualismo moral que, ao contrário do pensamento realista, defende os indivíduos<br />
e não os Estados como aqueles que devem ser reconhecidos como os objetos primários das<br />
relações internacionais (GUIMARÃES, 2008, p. 580).<br />
Apresentando o modo como a discussão entre cosmopolitas e comunitaristas se<br />
estabelece no âmbito das relações internacionais, quisemos apenas mostrar que esse embate se<br />
faz presente também em outras áreas que não as do pensamento ético filosófico, o que<br />
corrobora a idéia de que esse confronto deverá render muitas discussões ainda, e nas mais<br />
diversas áreas.<br />
Entendemos que o debate estabelecido por Rorty com a teologia católica,<br />
principalmente acerca de questões colocadas pelo papa Bento XVI, também serve para ilustrar<br />
o modo como a teologia se posiciona diante desta questão. O Cardeal Ratzinger assumiu o<br />
pontificado em abril de 2005 e em seus primeiros discursos aborda a questão do relativismo<br />
político e, sobretudo, moral. Em setembro desse mesmo ano Rorty foi a Turim participar de<br />
um evento e abordou o tema “Espiritualidade e secularismo”, o qual posteriormente foi<br />
publicado sob o título “Uma ética laica”. Nessa obra o autor lembra que<br />
Numa homilia pronunciada antes de ascender ao trono pontifício, o cardeal<br />
Ratzinger disse que, hoje, ter uma fé clara, baseada na crença de Cristo, na<br />
crença da Igreja, não raro é rotulado como fundamentalismo, ao passo que o<br />
relativismo, ou seja, o deixar-se levar de um lado para outro como que pelo<br />
vento, parece ser a única atitude capaz de enfrentar os tempos modernos.<br />
Ratzinger afirma que estamos construindo uma ditadura do relativismo que
não reconhece nada como definitivo e cujo objetivo final consiste<br />
unicamente no próprio ego e em seus desejos (RORTY, 2010, p. 17).<br />
Rorty entende que a postura relativista criticada pelo futuro papa, ou seja, deixar-se<br />
levar de uma a outra posição, pode ser visto como abertura para novas possibilidades levando<br />
em conta as sugestões que podem aumentar a felicidade humana. Nesse sentido Rorty se<br />
inclui entre os relativistas e afirma que “a única maneira de evitar os males do passado é estar<br />
abertos para a mudança doutrinal” (RORTY, 2010, p. 18). Diz, ainda, podermos também<br />
entender que o Cardeal Ratzinger utiliza o termo relativismo como a tese absurda segundo a<br />
qual toda convicção moral é tão boa quanto qualquer outra e, diante dessa interpretação, Rorty<br />
lembra que essa tese jamais foi defendida por filósofo algum.<br />
Rorty afirma que, diante do relativismo, Bento XVI defende o fundamentalismo e<br />
apresenta-o como a defesa de que “os ideais são válidos apenas se alicerçados na realidade”<br />
(RORTY, 2010, p. 19). Conceito que o filósofo norte americano considera útil e respeitável.<br />
O pontífice sustenta, ainda, que o relativismo vinculou-se à idéia de democracia servindo-lhe<br />
de fundamento filosófico via conceitos como tolerância, epistemologia dialética e<br />
liberdade 121 . Segundo Rorty essa atitude é compartilhada por Mill, Dewey e Habermas para<br />
quem, em nas sociedades democráticas, tudo pode ser discutido e nada deve ser apresentado<br />
como sagrado.<br />
Embora chegue admitir que no campo da política a visão relativista possa ser, em<br />
parte, verdadeira, o cardeal advoga que “o relativismo absoluto não pode ser a única saída. Há<br />
coisas erradas que nunca poderão tornar-se corretas, como, por exemplo, matar pessoas<br />
inocentes e [...] há coisas certas que nunca poderão tornar-se erradas” (RORTY, 2010, p. 21).<br />
O problema, portanto, se encontra no relativismo absoluto, ilimitado.<br />
Nesse momento, Rorty, mais uma vez incluindo-se aos relativistas afirma que “é<br />
preciso tornar os homens mais felizes, e não redimi-los, porque eles não são seres degradados,<br />
[...] os homens são, como afirmava Friedrich Nietzsche, animais inteligentes” (RORTY, 2010,<br />
p. 22). Os homens são capazes de realizar os seus sonhos do melhor modo possível e<br />
aprenderam a colaborar uns com os outros e, nesse processo a redenção ocorre quando a razão<br />
vence a paixão. Nesses termos, a espiritualidade deve ser entendida como a esperança de “que<br />
os seres humanos tenham vidas muito mais felizes do que as que vivem atualmente (RORTY,<br />
2010, p. 25).<br />
121 Nessa sociedade democrática haveriam diversos conceitos de verdade e a liberdade seria poder transitar entre<br />
eles.
Rorty conclui dizendo que de acordo com as palavras do Sumo Pontífice os seres<br />
humanos devem buscar ser fiéis a uma verdade que é maior que o próprio homem, mas de<br />
acordo com os relativistas não existe essa verdade maior e, portanto,<br />
[...] a luta entre o relativismo e o fundamentalismo é a luta entre dois<br />
grandes produtos da imaginação humana. [...] um oferece uma visão de<br />
ascensão vertical para algo maior que o meramente humano, o outro traz<br />
uma visão de progresso horizontal para um amor colaborativo comum em<br />
nível planetário (RORTY, 2010, p. 30).<br />
Depois desse sucinto panorama acerca das questões concernentes ao modo como o<br />
relativismo tem se manifestado em nossos dias, vamos apreciar se caberá ou não esse<br />
enquadramento ao comunitarismo macintyreano. Ao tratar das virtudes nas sociedades<br />
heróicas, o After Virtue enfatiza a conexão da moralidade com a institucionalidade própria de<br />
cada sociedade, e percebe-se que o homem homérico tem sua identidade definida pelo papel,<br />
ou o lugar, que ocupa na ordem social. Isabel Oliveira, salienta que, para MacIntyre, esse é<br />
um “ponto relevante para basear sua crítica tanto à pretensão moderna de construir uma ética<br />
universal quanto ao ceticismo relativista” (OLIVEIRA, 2005, p. 121). Ou seja, a moralidade<br />
tem um lócus e requer um enquadramento sócio-cultural e político muito próprio, de modo<br />
que até o destino é visto como uma realidade social, onde as escolhas podem ser feitas, porém<br />
dentro de uma estrutura que não pode ser escolhida (MACINYRE, 2001, p. 217).<br />
Nesse sentido Isabel Oliveira lembra que “o contexto fornece também os critérios a<br />
serem acionados para julgar o desempenho individual e [...] o julgamento de valor passa a ser<br />
compreendido como um julgamento de fato, isento da arbitrariedade que lhe é atribuída pelo<br />
enfoque relativista” (OLIVEIRA, 2005, p. 123). Na sociedade heróica o homem desapareceria<br />
à medida que se afastasse do seu papel na sociedade.<br />
Contudo, Mark Murphy alerta que caracteristicamente os apelos à história trazem em<br />
si uma preocupação de que tal visão caia realmente num relativismo cl . E como diz MacIntyre,<br />
não há um foro neutro que possa julgar tais situações (MACINTYRE, 1991, 372; 394; 421),<br />
mas cada tradição deve oferecer a sua melhor concepção de racionalidade prática para o<br />
debate em questão. O que não significa dizer que as tradições não compartilhem de padrões,<br />
crenças e assuntos comuns, porém não é o fato de partilharem questões comuns que lhes<br />
fornecerá autoridade para que uma possa julgar a outra 122 .<br />
122 Embora cada tradição tenha seu próprio padrão de raciocínio é comum atribuir autoridade à lógica, por<br />
exemplo, a qual passa a ser necessária, inclusive, para que as discordâncias ocorram (MACINTYRE, 1991, p.<br />
378).
A objeção relativista, segundo MacIntyre, se baseia na negação da possibilidade do<br />
debate e da escolha racional entre tradições adversárias. E a objeção perspectivista questiona a<br />
possibilidade de se reivindicar a verdade a partir de qualquer tradição, visto que uma tradição<br />
não pode oferecer, a quem não seja seu membro, boas razões para excluir as teses de seus<br />
adversários. O perspectivismo sugere que se retire a atribuição de verdade e falsidade das<br />
teses individuais e se entenda as tradições apenas como fornecedoras de diferentes<br />
perspectivas de compreensão do mundo (MACINTYRE, 1991, p. 379). Nenhuma tradição<br />
pode, portanto, reivindicar exclusividade para si e negar legitimidade a suas adversárias.<br />
O perspectivismo e o relativismo, no entendimento de MacIntyre, são inversões do<br />
iluminismo no que tange à verdade e à racionalidade, pois pensadores iluministas viam essa<br />
questão garantida pelo método racional com base em princípios inegáveis. Mas, afirma nosso<br />
autor que aquilo que era invisível ao iluminismo continua sendo invisível aos perspectivistas e<br />
aos relativistas pós-iluministas, pois estes últimos, como herdeiros daqueles, não conseguem<br />
reconhecer a racionalidade das tradições (MACINTYRE, 1991, p. 379).<br />
As bases para uma superação do relativismo e do perspectivismo não podem ser<br />
encontradas numa ou mais tradições, “mas numa teoria expressa nas suas práticas de<br />
pesquisa” (MACINTYRE, 1991, p. 380). Pode-se constatar que as tradições se desenvolvem<br />
em três estágios, sendo que no primeiro deles, crenças, textos e tradições ainda não são<br />
questionados; no segundo, são identificadas as inadequações e, no terceiro, das inadequações<br />
resultam reformulações e reavaliações visando superar as limitações percebidas<br />
(MACINTYRE, 1991, 382). Nesse terceiro estágio é possível traçar um paralelo entre as<br />
novas e as antigas crenças e ver se há correspondência entre aquilo que a mente acreditava e a<br />
realidade percebida.<br />
O fator determinante aqui recai sobre o tipo de teoria da verdade a ser utilizada. Pelo<br />
modo como a questão foi colocada, trata-se de uma aplicação retrospectiva da teoria<br />
correspondencial da verdade 123 , onde a mente se adéqua aos seus objetos à medida que as<br />
123 A teoria correspondencial diz, basicamente, que uma proposição é verdadeira, caso tenha um correspondente<br />
no mundo exterior, ou seja, a forma lógica da linguagem tem de corresponder à forma lógica dos fatos (estados<br />
de coisas). A verdade seria, portanto, uma relação entre dois tipos de entidades: a que porta a verdade e a que<br />
gera a verdade, o fato. Existem dois tipos de correspondência: por congruência (exige que o portador e o<br />
gerador estejam estruturados de maneira análoga) e por correlação (não exige tal isomorfismo). É uma das<br />
teorias mais antigas e teria sido Platão quem primeiro a formulou explicitamente: “Verdadeiro é o discurso que<br />
diz as coisas como elas são; falso é aquele que as diz como não são” (Crátilo, 385b). Também para Aristóteles<br />
(aletheia, verdade, em grego) era correspondencial: “Dizer do que é que é e do que não é que<br />
não é, é verdade; dizer do que é que não é e do que não é que é, é falso” (Metafísica, IV, 7, 1011b). Esta<br />
definição mostra que para ele a verdade está no pensamento ou na linguagem e não no ser. O conceito<br />
correspondencial de verdade é amplamente empregado.
expectativas criadas não se frustram (MACINTYRE, 1991, p. 383). Mas MacIntyre<br />
argumenta que, nesse caso, a correspondência expressa em juízos será entre a mente e o<br />
objeto e não se os próprios juízos correspondem ou não à verdade.<br />
Nas teorias da verdade como adequação, se entende que, aquilo que corresponde a um<br />
juízo seja um fato. Mas o que seria um fato? A palavra latina factum indica um feito, uma<br />
ação, mas filósofos como Russell e Wittgenstein utilizam esse termo para se referir àquilo que<br />
um juízo afirma. Para Bertrand Russel (1974, p. 95) não podemos dizer que acreditamos em<br />
fatos, podemos dizer que percebemos os fatos e que acreditamos nas proposições. MacIntyre<br />
sustenta que é enganador conceber um domínio dos fatos independente do juízo, de modo que<br />
verdade ou falsidade consistisse na suposta relação entre esses itens contrapostos, na<br />
adequação da mente à coisa, e conclui que é um erro reconhecer a teoria da verdade como<br />
adequação. Reivindicar a verdade para um esquema mental atual é afirmar que nenhuma<br />
discrepância aparecerá numa situação futura.<br />
Mas então onde buscar a verdade? Segundo MacIntyre<br />
O teste da verdade no presente, portanto, é sempre reunir tantas questões e<br />
tantas objeções fortes, quantas for possível; o que pode ser justificadamente<br />
considerado verdadeiro é aquilo que resiste suficientemente a tais questões e<br />
objeções dialeticamente postas. No que consiste tal suficiência? Isso também<br />
é uma questão para qual devem-se produzir respostas e para a qual respostas<br />
rivais e conflitantes podem muito bem aparecer. E essas competirão<br />
racionalmente entre si, apenas à medida que forem dialeticamente testadas, a<br />
fim de se descobrir qual é a melhor resposta a ser proposta até então cli<br />
(MACINTYRE, 1991, p. 385).<br />
Quando a tradição atinge esse ponto, então, ela se tornou uma forma de pesquisa com<br />
método próprio, devendo reconhecer virtudes intelectuais por vezes até conflitantes com<br />
virtudes de caráter às quais poderão suscitar respostas também conflitantes ou até mesmo<br />
ficarem sem respostas. Notemos que MacIntyre termina a afirmação acima salientando mais<br />
uma vez “a melhor resposta” até o momento. O que significa que respostas conflitantes serão<br />
propostas e aceitas ou rejeitadas.<br />
Cada tradição enfrentará a multiplicidade de usos do termo “verdadeiro”, de acordo<br />
com a teoria própria desenvolvida, os quais, assim como outros elementos, também poderão<br />
variar, o que poderá ocasionar conclusões distintas, embora possam compartilhar alguns<br />
padrões comuns. Possivelmente prevalecerá a argumentação que estiver em consonância com<br />
a autoridade da crença estabelecida, tão somente por ser a crença estabelecida. Porém, a<br />
percepção de incoerência no interior dessa crença poderá conduzir à investigação, sem,<br />
contudo, significar necessariamente a rejeição de tal crença. Os princípios deverão ser sempre
justificados num processo histórico de justificação dialética (MACINTYRE, 1991, p. 386),<br />
mostrando-se superiores aos seus antecessores, o que significa dizer que não são auto-<br />
suficientes, pois ninguém poderá excluir a possibilidade da sua crença ser, no futuro,<br />
mostrada como inadequada.<br />
As tradições de pesquisas são locais, nascem a partir de pontos contingentes, são<br />
formadas por particularidades tendo diferentes linguagens e ambientes naturais e sociais.<br />
Além disso, é possível que a qualquer momento uma pesquisa deixe de progredir e veja seus<br />
métodos se tornarem estéreis, demonstrando cada vez mais inadequações. Esse movimento de<br />
dissolução de certezas historicamente fundadas é a marca de uma crise epistemológica, cuja<br />
solução requer a descoberta de novos conceitos. Para MacIntyre esses novos conceitos devem<br />
satisfazer três exigências: primeiro, fornecer soluções sistemáticas e coerentes; segundo,<br />
explicar aquilo que tornou a tradição estéril ou incoerente; e, terceiro, apresentar continuidade<br />
entre as estruturas conceituais definidas até então e as crenças comuns (MACINTYRE, 1991,<br />
p. 389).<br />
Segundo MacIntyre todas as tradições entram ou entrarão numa crise epistemológica,<br />
a qual só pode ser reconhecida retrospectivamente, além disso ele afirma que “ter passado por<br />
uma crise epistemológica, com sucesso, capacita os adeptos de uma tradição de pesquisa a<br />
reescrever sua história de um modo mais profundo” clii (MACINTYRE, 1991, p. 390). A<br />
estrutura dessa afirmação sugere uma contextualização temporal e geográfica, mas como<br />
conciliar essa concepção com o conceito atemporal de verdade? Há que se admitir que a<br />
reivindicação de verdade de uma tradição particular poderá não mais se sustentar em algum<br />
determinado momento. Se ela não se sustenta nem mesmo referindo-se aos padrões por ela<br />
estabelecidos, então a tese relativista está errada (MACINTYRE, 1991, 391).<br />
Os adeptos de uma tradição em crise epistemológica radical podem ver tradições rivais<br />
de um modo novo e diferente e podem até passar a compreender a língua, as crenças e o modo<br />
de vida dessa outra tradição, percebendo, inclusive porque sua antiga tradição não foi capaz<br />
de lidar com certos problemas. Em tais condições pode ser que acabe a continuidade histórica<br />
da tradição em crise, situação que poderá exigir por parte dos adeptos dessa tradição que<br />
reconheçam a superioridade da tradição rival. É assim que uma tradição mostra à outra a falta<br />
de correspondência entre suas crenças e a realidade revelada pela explicação mais bem<br />
sucedida (MACINTYRE, 1991, p. 392).<br />
Contudo, nem todas as crises epistemológicas são resolvidas de modo satisfatório,<br />
podendo, algumas delas, não encontrar solução nem mesmo nas propostas de suas rivais, se
tornando desacreditadas até por seus próprios padrões de racionalidade. E, segundo<br />
MacIntyre, o relativismo não consegue perceber essa possibilidade. Não percebe que “é com<br />
relação à sua adequação ou inadequação, nas reações às crises epistemológicas, que as<br />
tradições são justificadas ou não” cliii (MACINTYRE, 1991, p. 393). Isso não implica dizer<br />
que tradições muito diferentes não possam coexistir mesmo não conseguindo solucionar os<br />
seus conflitos.<br />
Entende MacIntyre que quem está em condições de aderir ao relativismo ou encontra-<br />
se em uma das tradições rivais ou então não pertence a nenhuma delas. E, para ele, quem se<br />
encontra na primeira alternativa nega já de antemão a possibilidade de relativismo e se estiver<br />
enquadrado na segunda alternativa fica a pergunta se a objeção relativista pode ser formulada<br />
de fora de uma tradição, pois é ilusório acreditar que exista uma posição neutra da<br />
racionalidade em si, independente das tradições. Ou seja, “estar fora de todas as tradições<br />
significa ser estranho à pesquisa; significa estar num estado de destituição moral e intelectual,<br />
uma condição a partir da qual é impossível formular a objeção relativista” cliv (MACINTYRE,<br />
1991, p. 394)<br />
Tal qual o relativista também o perspectivista fracassa ao sustentar que nenhuma<br />
verdade de qualquer tradição determinada poderia derrotar as reivindicações feitas pelas<br />
oponentes, pois as concepções de verdade desses opositores, via de regra, são diferentes entre<br />
si. Ou então por não reconhecer a concepção de verdade da opositora, o perspectivista supõe<br />
que alguém poderia adotar o ponto de vista de uma tradição e trocá-lo por outro, não<br />
percebendo que a adoção desse ponto de vista significa comprometer-se com a visão de<br />
mundo dessa tradição e não com a visão da adversária. Não se pode fingir que se assume um<br />
ponto de vista sem fazê-lo de fato. E assim, afirma MacIntyre, que o perspectivismo só é<br />
possível para aqueles que se consideram de fora da tradição e encarnam papéis temporários.<br />
Os perspectivistas não adotam uma concepção de verdade ou uma conclusão acerca da<br />
verdade, mas se aproximam mais da exclusão da verdade (MACINTYRE, 1991, p. 394).<br />
Diante disso, conclui MacIntyre que não podemos formular e responder questões de um ponto<br />
de vista exterior a todas as tradições, pois o modo como responderemos as questões que nos<br />
são postas dependerá da linguagem compartilhada com a nossa própria comunidade<br />
lingüística (MACINTYRE, 1991, p. 396).<br />
Michael Walzer afirma categoricamente que “a justiça é relativa aos seus significados<br />
sociais” (2003, p. 429), pois “não pode existir uma sociedade justa enquanto não houver uma<br />
sociedade” (WALZER, 2003, p. 430). E conclui salientando que “existe um número infinito
de vidas possíveis, moldadas por um número infinito de possíveis culturas, religiões, acordos<br />
políticos, situações geográficas, etc.” (WALZER, 2003, p. 430). Ou seja, não existem<br />
princípios universais o que, por sua vez, faz com que a teoria substancial da justiça seja uma<br />
teoria local. Para Walzer agimos de modo injusto caso não levemos em conta que a justiça se<br />
vincula as interpretações locais que constituem um modo de vida comum. E Rainer Forst,<br />
referindo-se ao pensamento de Walzer, lembra que o “importante é achar uma forma de<br />
pensamento político que evite tanto o fundamentalismo das teorias morais realistas quanto o<br />
abandono de uma teoria crítica da comunidade” (FORST, 2010, p. 195).<br />
Diante do que foi aqui exposto surge-nos o seguinte questionamento: se a história da<br />
humanidade e, porque não dizer, também do pensamento, se operacionaliza de modo cíclico-<br />
ascendente tendo momentos de esvaziamento próprios da concepção de kenosis e,<br />
percebendo-se que em diversas ocasiões nos deparamos com a dúvida cética e formas<br />
variadas de relativismo, não seria esse um momento e um movimento necessário ao<br />
funcionamento histórico e filosófico? Não é esse um dos fatores que impulsiona e desafia o<br />
pensamento crítico-reflexivo? Além do mais, será que os relativistas na percorrerão o mesmo<br />
itinerário dos existencialistas, os quais já estiveram sob um jugo pejorativo do termo?<br />
Finalmente, para aqueles que rejeitam o relativismo, fica a questão de saber<br />
se o relativismo não terá também alguma coisa ensinar-nos. A complexidade<br />
de muitas situações morais, não tornará muito difícil defender que há uma<br />
única resposta correta? Não será o relativismo a afirmação da necessidade de<br />
um espaço moral, onde possamos aprender com os nossos erros? Não será o<br />
relativismo a defesa de um espírito livre, eticamente mais flexível, e que nos<br />
recorda que a verdade não é facilmente alcançável? Não será necessário<br />
olhar para as coisas de outros pontos de vista? (WESTON, 2001, p. 19)<br />
Por fim, se uma crise epistemológica só pode ser reconhecida retrospectivamente,<br />
talvez um juízo mais imparcial acerca da questão do relativismo também só deva ser<br />
formulado retrospectivamente.
CONCLUSÃO<br />
A<br />
o nos encaminharmos para o término deste trabalho, ficamos ainda mais<br />
convencidos que os projetos, parecendo até seguir uma regra, se<br />
distanciam substancialmente do seu foco original. Ao menos é o que tem<br />
ocorrido até hoje com praticamente todos aqueles que nos empenhamos<br />
em realizar. A elaboração de um trabalho, de certo modo, se assemelha a formação de nossos<br />
filhos e alunos, vamos transmitindo tudo o que julgamos importante, mas nem tudo é<br />
assimilado; muitas coisas são contestadas; outras são esquecidas; e, por vezes, o que não<br />
vemos como muito importante, é o que acaba ficando. Assim como educamos muito mais por<br />
exemplos do que por palavras, também os nossos trabalhos, parecem ter muito mais reflexos<br />
da nossa vida, do que da nossa formação acadêmica. Neste sentido encontramos no<br />
pensamento de MacIntyre a possibilidade de acentuar o respeito pelo diferente e seu contexto,<br />
o neotomismo diante de um mundo secularizado e o reconhecimento da importância das<br />
comunidades para a realização do bem. Um dos elementos que mais nos atraiu à busca de<br />
compreensão e exposição do pensamento de MacIntyre foi a sua tendência neotomista, pois<br />
ele tenta reavivar uma tradição que parecia não ter mais espaço na reflexão filosófica dos<br />
nossos dias e a qual, em nossa concepção, ainda pode colaborar na configuração de um<br />
mundo melhor.<br />
Foi por isto que buscamos apresentar os pontos mais relevantes e pertinentes ao seu<br />
pensamento e o itinerário subjacente à sua moralidade. Parece curioso que ele tenha<br />
começado a estudar o pensamento de Tomás de Aquino, a fim de mostrar onde este se<br />
mostrava frágil. Frágil também poderia ser o pensamento de MacIntyre e por isto não<br />
poderíamos deixar de falar das possíveis lacunas que ainda podem ser apontadas em seu<br />
pensamento e nem deixar de trazer a maneira como ele se empenha em debater com os seus<br />
críticos. Percebe-se claramente que ele é herdeiro não somente de Aristóteles, mas também de<br />
Heráclito no que tange ao devir próprio das teorias morais. E ainda seria possível apontar<br />
influências de Vico, Hegel e Collingwood, na importância atribuída à história, ao contexto, à<br />
sociedade, enfim, de uma série de aspectos que procuramos apontar ao longo desta exposição.<br />
Por último, acreditamos ser possível percebermos a presença das idéias de Thomas Kuhn<br />
quanto à forma como a moralidade se desenvolve, muito próximo daquilo que ocorre com as<br />
esferas científicas.<br />
Certamente o debate entre universalistas e comunitaristas ainda deve se estender por<br />
alguns anos e muitas contribuições ainda estão em processo de gestação, pois se percebe que
existem alguns pontos que parecem ter ficado inconclusos, meio ao estilo socrático e<br />
platônico. E talvez isto seja perceptível também ao longo deste trabalho, onde não se<br />
sobressaem afirmações categóricas. Algumas vezes isto é voluntário, pois um posicionamento<br />
neste sentido pode não ser tão prudente, visto, inclusive, que o debate ainda está acontecendo.<br />
E, além disto, uma tomada de postura neste terreno requer muito mais conhecimento do que<br />
julgamos ter, apesar de nossas leituras e pesquisas. Talvez este seja um pecado grave contra o<br />
debate filosófico, mas cremos ser bastante importante ouvir e refletir e só se posicionar, caso<br />
isto seja realmente necessário, ao cair do crepúsculo, conforme nos sugere a coruja de<br />
Minerva.<br />
Certamente alguém poderia objetar que o crepúsculo já está caindo, pois o nosso<br />
trabalho se aproxima do seu final. Cremos que entre os problemas que merecem atenção<br />
especial neste debate esteja a questão de se basear em pensadores universalistas para<br />
fundamentar uma visão comunitarista da ética. Ao que poderíamos lembrar que, primeiro,<br />
sabemos o quanto Aristóteles valorizava a comunidade, a polis, como local privilegiado para a<br />
realização do bem humano, – semelhantemente Tomás de Aquino valoriza a comunidade<br />
eclesial – um homem sem polis nunca será um cidadão e nunca saberá que papel deveria<br />
desempenhar no mundo, pois lhe falta a referência. Segundo, não se pode ler Aristóteles ou<br />
Tomás de Aquino com a visão de hoje. Nenhum dos dois poderia ler o rótulo estando dentro<br />
da garrafa, ou seja, eles não têm a visão da pluralidade cultural como temos hoje. O único<br />
mundo civilizado, ou escolhido por Deus, era o deles e hoje, certamente, é inconcebível que<br />
se pense assim. Com certeza há valores universais, mas o homem vive conforme os valores<br />
herdados localmente. E, por último, quer me parecer que aquilo que MacIntyre toma de<br />
Aristóteles, com muita propriedade, é a sua ética das virtudes, com a finalidade de contrapô-la<br />
à ética das normas, ou à ética deontológica 124 . O homem ético é aquele que age virtuosamente<br />
e não conforme aquilo que as normas exigem dele, embora quem esteja agindo conforme as<br />
normas também possa ser virtuoso. Não se pode jogar a água da banheira com a criança<br />
dentro e por isto, mesmo descartando o suposto, ou reconhecido, universalismo aristotélico e<br />
tomista, MacIntyre resgata a ética das virtudes.<br />
Devido ao fato de muitos ainda construírem suas teorias acerca da moralidade sobre<br />
bases modernas, iluminista, e, sobretudo, kantiana – e MacIntyre defender que a moralidade<br />
dos modernos não se sustenta – vemos surgir outro ponto que possivelmente venha ser objeto<br />
124 Talvez pudéssemos dizer que a virtude tem valor intrínseco, enquanto aquilo que a norma visa pode não ter<br />
este valor, embora a existência da norma possa tê-lo. E, além disso, poderíamos sustentar também que só tem a<br />
idéia correta do dever aquele que é virtuoso, embora a virtude reclame o hábito.
de discussão. A este respeito, cabe lembrar que muitos teóricos já direcionaram suas críticas<br />
aos modernos e que isto é muito positivo à medida que possibilita que as idéias se purifiquem<br />
cada vez mais. MacIntyre busca mostrar o quanto Nietzsche foi impiedoso com os modernos<br />
e, certamente, toda a corrente pós-nietzschiana segue esta tendência. Ou seja, Nietzsche se<br />
apercebeu do quanto esta moralidade necessitava de ajustes, ou, mais radicalmente ainda, ser<br />
totalmente superada. O que MacIntyre rejeita é a solução apresentada por cada um deles, e por<br />
ter o direito de leituras e posicionamentos diferentes, ele o faz.<br />
Por outro lado, talvez nem a ética dos modernos, ou o emotivismo ou, ainda, a<br />
genealogia devam ser objetos de críticas em sua totalidade, pois sempre haverá pontos<br />
convergentes a serem lembrados e destacados nestas concepções, contudo, essa postura crítica<br />
de MacIntyre é de grande importância para que a dinâmica das teorias morais vá progredindo,<br />
se sustentando e se estabelecendo. Poderia acontecer que uma leitura a partir de outro viés<br />
apontasse para os elementos comuns entre essas visões, como por exemplo, a valorização<br />
emotivista do sujeito enquanto produto de um contexto muito específico e próprio; ou o papel<br />
da razão e não dos apetites e instintos como realçam os modernos; mas o recorte de<br />
MacIntyre, ao menos como entendemos, parece nos remeter às críticas que buscamos<br />
apresentar.<br />
Mas entre todas as questões pertinentes a este conflito de pontos de vistas acerca da<br />
moralidade em nossos dias, talvez a principal seja a questão do relativismo moral, pois a idéia<br />
de relativismo nos remete as incertezas com as quais temos dificuldades de conviver e às<br />
quais se busca, desde o tempo dos sofistas, reprovar com veemência. Contudo, é bom lembrar<br />
que se devemos ter o cuidado de não cairmos no relativismo, tampouco devemos permitir o<br />
extremo oposto, o totalitarismo ético, como já acenamos anteriormente. Mas, principalmente,<br />
devemos estar atentos ao fato de totalitarismos se revestirem de etnocentrismos, ou de<br />
religiosidade, ou servirem aos interesses políticos e econômicos. Bem sabemos que são áreas<br />
diferentes, mas quando Alberto Einstein propôs a sua teoria da relatividade, possivelmente<br />
também deva ter encontrado obstáculos para a aceitação da mesma. Como seria possível o<br />
conhecimento dogmático admitir a possibilidade de espaço e tempos relativos? Lembremos<br />
também que quando a corrente existencialista começou a difundir-se era pejorativo ser<br />
apontado como adepto da mesma, até que Sartre se assume como um existencialista e a partir<br />
de então a visão acerca desta corrente começou a superar a discriminação sofrida. Será que o<br />
relativismo é inteiramente mal? Não haveria nada nele que pudesse ser aproveitado?
Talvez pudéssemos ver algo como relativo em determinado contexto e como universal<br />
e necessário em outro, de modo análogo ao que acontece com a linguagem dos conjuntos,<br />
estudada em lógica, onde se diz, previamente, o universo ao qual aquele conjunto se referirá e<br />
qual será a sua linguagem. A partir desta delimitação poderia ocorrer de alguns elementos não<br />
pertencerem àquela linguagem e não poderem ser considerados enquanto tal. Também na<br />
moralidade o que vemos pragmaticamente é que cada comunidade diz a linguagem dos<br />
valores pertinentes às suas práticas e o universo em que estas devem ser significadas. Dentro<br />
desta delimitação não existe relativismo, ou o elemento pertence àquele conjunto, no caso<br />
àquela moralidade, ou não. MacIntyre parece mostrar como a moralidade aconteceu e<br />
acontece, mais do que como ela deveria acontecer.<br />
E ainda mais, poderíamos fazer uma leitura alegando que não temos apenas duas<br />
esferas da racionalidade moral em choque, universalismo e comunitarismo, mas três, pois a<br />
estas duas também se junta o individualismo. E aquilo que se defende como universalismo<br />
passa a ser, na prática, uma referência ao indivíduo, de tal modo, que indivíduo adquire<br />
direitos que se sobrepõem ao da comunidade. Contudo, o indivíduo não vive sozinho e<br />
também não vive com a humanidade toda, mas com fragmentos dela em comunidades<br />
específicas. O valor, o direito, o bem e a conservação da comunidade devem ter, com certeza,<br />
prioridade sobre o indivíduo.<br />
Acreditamos, ainda, que seja recomendável que se tenha conhecimento das críticas<br />
elaboradas contra MacIntyre para que se verifique, posteriormente, com maior precisão se<br />
estas críticas realmente são genuínas e procedentes ou talvez se enquadrem mais numa defesa<br />
às críticas feitas por ele, pois como se diz no futebol – esporte, inclusive, valorizado por<br />
MacIntyre 125 , “a melhor defesa é o ataque”. E, talvez, o que possa ser mais importante, nesse<br />
aspecto, seja buscar notar se cabe ou não um enquadramento do pensamento de MacIntyre<br />
num suposto relativismo moral, uma vez que, embora não seja a única e nem a maior, essa foi<br />
uma das preocupações deste trabalho e nisto buscamos nos empenhar. Contudo, devemos<br />
reconhecer claramente que neste terreno ainda não há nada concluído, tudo está em<br />
construção. Dá-nos certo alento saber que se o próprio MacIntyre deixa, por vezes, o debate<br />
em aberto, seria muito pretensioso de nossa parte querer concluí-lo e, portanto, estes são<br />
apenas alguns posicionamentos.<br />
125 Cf. MacIntyre, 2001, p. 316.
Referências bibliográficas<br />
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4 ed. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 2003. 1014 p.<br />
ADLER, Emanuel. Communitarian International Relations: the epistemic foundations of<br />
International Relations. Oxford: Routledge, 2005.<br />
APPIAH, Kwame Anthony. Introdução à filosofia contemporânea. Trad. Vera Lúcia Mello<br />
Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 2006. 360 p.<br />
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo:<br />
Abril Cultural, 1973. (Coleção Os pensadores).<br />
_____. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch e Baby Abrão. São Paulo: Nova<br />
Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).<br />
BAIER, Annette. Civilizing Practices. In: Analyse & Kritik. Düsseldorf, Universität<br />
Düsseldorf. Westdeutscher Verlag. v. 6, 1984, p. 61-77.<br />
CARVALHO, Helder Buenos Aires de. Tradição e racionalidade na filosofia moral de<br />
Alasdair MacIntyre. São Paulo: Unimarco, 1999.<br />
______. Alasdair MacIntyre e o retorno às tradições morais de pesquisa racional. In:<br />
OLIVEIRA, Manfredo Araújo (Org). Correntes fundamentais da ética contemporânea. 2 ed.<br />
Petrópolis: Vozes, 2001. p. 31-64.<br />
______. Hermenêutica e Filosofia Moral em Alasdair MacIntyre. 2004. Tese (doutorado) –<br />
Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Filosofia. 534 p.<br />
______. Comunidade Moral e Política na ética das virtudes de Alasdair MacIntyre. In:<br />
Ethic@. Florianópolis, v. 6, n. 4, Ago 2007, p. 17-30.<br />
CR<strong>EM</strong>ASCHI, Sérgio. Tendências neo-aristotélicas na ética atual. In: OLIVEIRA, Manfredo<br />
Araújo (Org). Correntes fundamentais da ética contemporânea. 2 ed. Petrópolis: Vozes,<br />
2001. pp. 9-30.<br />
DALL‟AGNOL, Darlei. Antes ou Depois da Virtude? In: Ciência & Ambiente. n. 12,<br />
jan./jun.1996, p. 27-42.<br />
______. Valor intrínseco – metaética, ética normativa e ética prática em G. E. Moore.<br />
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005. 430 p.<br />
DEWEY, John. Democracia e Educação – Capítulos Essenciais. Trad. Roberto Cavallari<br />
Filho. São Paulo: Ática, 2007.<br />
EDEL, Abraham. After Virtue, a study an moral theory. By Alasdair MacIntyre. In: Zygon®,<br />
v. 3, n. 18, 1983, p. 336-349.<br />
FORST, Rainer. Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e<br />
comunitarismo. Trad. Denílson Luís Werle. São Paulo: Boitempo, 2010.<br />
FRANKENA, William Kaas. MacIntyre and Modern Morality. In: Ethics. Chicago,<br />
University of Chicago Press, v. 93, n. 3, 1983. p. 579-587.<br />
GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo: Publifolha, 2000. (Folha explica).<br />
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: O cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido<br />
pela inquisição. Trad. Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das letras, 2011.
GLEISER, Marcelo. A dança do universo: dos mitos de criação ao big-bang. 2. ed. São Paulo:<br />
Companhia das letras, 1998.<br />
GRAHAM, Gordon. MacIntyre on history and philosophy. In: MURPHY, Mark C. Alasdair<br />
MacIntyre: contemporary philosophy in focus. Cambridge, Cambridge University Press,<br />
2003. pp. 10-37.<br />
GUIMARÃES, Feliciano de Sá. O debate entre comunitaristas e cosmopolitas e as teorias de<br />
relações internacionais: Rawls como uma via média. In: Contexto Internacional. Rio de<br />
Janeiro, vol. 30, n. 3, set/dez 2008, p. 571-614.<br />
HELFERICH, Christoph. História da filosofia. Trad. Luiz Sérgio Repa, Maria Estela Heider<br />
Cavalheiro, Rodnei do Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2006.<br />
HOBBES, Thomas. Leviatã. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São<br />
Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).<br />
HOMERO. Ilíada. Trad. Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Marins Claret, 2004. (Coleção<br />
A Obra-Prima de Cada Autor – Série Ouro; 18).<br />
_____. A Odisséia. Trad. Fernando C. de Araújo Gomes. São Paulo: Escala, s/d. (Coleção<br />
Mestres Pensadores).<br />
HUISMAN, Denis. Dicionário dos filósofos. Trad. Claudia Berliner, Eduardo Brandão, Ivone<br />
Castilho Benedetti, Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2004.<br />
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização<br />
tecnológica. Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto,<br />
2006. 354 p.<br />
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad.<br />
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2005.<br />
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 7.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.<br />
LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2003.<br />
LINHARES, João Caetano. Uma resposta crítica à interpretação de Ernst Tugendhat sobre<br />
Alasdair MacIntyre. In: Seara Filosófica. Pelotas, n. 2, verão de 2010, p. 71-84.<br />
<strong>LINS</strong> <strong>MACHADO</strong>, José Adir. Breve itinerário da ética das virtudes. 2009. Monografia<br />
(Especialização em Filosofia Moderna e Contemporânea - aspectos éticos e políticos) <br />
Universidade Estadual de Londrina. 47 p.<br />
MACINTYRE, Alasdair. A short history of ethics. New York: MacMillan Publishers<br />
Company, 1966.<br />
______. Justiça de Quem? Qual Racionalidade? Trad. Marcelo P. Marques. São Paulo:<br />
Loyola, 1991.<br />
______. Depois da virtude. Trad. Jussara Simões. Rev. Helder B. A. Carvalho. Bauru: Edusc,<br />
2001. 478 p. (Coleção Filosofia e Política).<br />
______. After Virtue. A Study in Moral Theory. 3 rd ed. South Bend: University of Notre<br />
Dame Press, 2008a.<br />
______. Whose Justice? Which Rationality? South Bend: University of Notre Dame Press,<br />
2008b.
______. Three rival versions of moral enquiry: Enciclopaedia, Genealogy, and Tradition:<br />
being Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh. South Bend: University of<br />
Notre Dame Press, 2008c. 241 p<br />
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. 4 ed. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar Ed., 2009.<br />
MOORE, Georg Edward. Principia ethica. Cambridge: Cambridge University Press, 1903.<br />
MORRICE, David. The liberal-communitarian debate in contemporary political philosophy<br />
and its significance for international relations. In: Review of International Studies, Cambridge,<br />
v. 26, n.2, apr. 2000, p. 233-251.<br />
MURPHY, Mark C. Alasdair MacIntyre: contemporary philosophy in focus. Cambridge:<br />
Cambridge University Press, 2003. 224 p.<br />
NIETZSCHE, Friedrich. Obras incompletas. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho.<br />
São Paulo: Nova Cultural, 1999. 464 p. (Coleção Os Pensadores).<br />
______. Para além de bem e mal. Tradução Márcio Pugliesi. Curitiba: Hemus, 2001.<br />
______. Genealogia da moral. 2 ed. Tradução Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala,<br />
2007. 154 p. (Coleção Grandes obras do pensamento universal – 20).<br />
NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar Editor, 1991.<br />
OLIVEIRA, Isabel Ribeiro de. Notas sobre dois livros de MacIntyre. In: Lua Nova. São<br />
Paulo, n. 64, 2005, p. 117-128.<br />
OLIVEIRA, Manfredo Araújo (Org). Correntes fundamentais da ética contemporânea. 2 ed.<br />
Petrópolis: Vozes, 2001.<br />
O'NEILL, Onora. Kant after Virtue. In: Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.<br />
University of Essex. v. 26, 1983, p. 387–405.<br />
PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a ética de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 2006.<br />
(Coleção Leituras filosóficas).<br />
PLATÃO. A República. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção<br />
Os Pensadores).<br />
_____. Leis. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Editora da Universidade Federal do Pará,<br />
1980.<br />
PORTER, Jean. Tradition in the Recent Work of Alasdair MacIntyre. In: MURPHY, Mark C.<br />
Alasdair MacIntyre: contemporary philosophy in focus. Cambridge, Cambridge University<br />
Press, 2003. pp. 38-69.<br />
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São<br />
Paulo: Martins Fontes, 2000.<br />
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Do romantismo até nossos dias.<br />
Volume III. 3 ed. São Paulo: Paulus, 1991. 1143 p.<br />
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Volume II. 2 ed. Tradução de Cláudio<br />
Henrique de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002.<br />
RIEFF, Philip. O Triunfo da Terapêutica. Trad. Raul Fiker e Ricardo Pinheiro Lopes. São<br />
Paulo: Brasiliense, 1990. 268p.
RORTY, Richard. Consequences of pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota<br />
Press, 1982. 237p.<br />
______. Uma ética laica. Trad. Mirella Traversin Martino. São Paulo: Martins Fontes, 2010.<br />
44 p.<br />
RUSSELL, Bertrand. A filosofia do atomismo lógico. In: Lógica e conhecimento. Trad. Pablo<br />
Ruben Mariconda. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 415 p. (Coleção Os Pensadores).<br />
SHAKESPEARE, William. A tempestade. Trad. Beatriz Viegas-Faria. Porto Alegre: L&PM<br />
Editores, 2002.<br />
SCHEFFLER, Samuel. After Virtue, a study an moral theory. By Alasdair MacIntyre. In: The<br />
Philosophical Review, Duke University Press, v. 92, n. 3, jul. 1983. p. 443-447.<br />
SÓFOCLES. Filoctetes. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2009.<br />
SOLOMON, David. MacIntyre and Contemporary Moral Philosophy. In: MURPHY, Mark C.<br />
Alasdair MacIntyre - Contemporary philosophy in focus. Cambridge: Cambridge University<br />
Press, 2003. 224 p.<br />
SPENGLER, Oswald. La decadência de occidente: Bosquejo de uma morfologia de la<br />
historia universal de occidente. Trad. Manuel G. Morente. Transcrição para formato web por<br />
David Carpio. Madrid: Espasa – Calpe, 1966.<br />
STEVENSON, Charles L. Ética y Lenguaje. Buenos Aires: Paidos, 1971.<br />
STRATHERN, Paul. Nietzsche em 90 minutos. Tradução Maria Helena Geordane. Rio de<br />
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. (Filósofos em 90 minutos).<br />
THOMPSON, Edward Palmer. A formação da Classe Operária Inglesa –A árvore da<br />
liberdade. Vol. 1. Trad. Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.<br />
______. A formação da Classe Operária Inglesa – A maldição de Adão. Vol. II. Trad. Denise<br />
Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.<br />
______. A formação da Classe Operária Inglesa – A força dos trabalhadores. Vol. III. Trad.<br />
Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.<br />
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.<br />
WACHOBRIT, Robert. A Genealogy of Virtues. MacIntyre: After Virtue: A Study in Moral<br />
Theory. In: Yale Law Journal, v. 92, n. 3, January 1983, p. 564, 577.<br />
______. Relativism and Virtue. In: Yale Law Journal , v. 94, n. 6, may 1985. p. 1559-1565.<br />
WALZER, Michael. Esferas da justiça: Uma defesa do pluralismo e da igualdade. Trad.<br />
Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 476 p. (Coleção justiça e direito).<br />
WESTON, Anthony. A 21 st Century Ethical Toolbox. Oxford: Oxford University Press, 2001.<br />
406 p.<br />
i<br />
“[...] but one constructed out of an amalgam of social and cultural fragments inherited both from different<br />
traditions from which our culture was originally derived […]” (WJ, p. 2)<br />
ii<br />
“To know what justice is, so it may seem, we must first learn what rationality in practice requires of us” (WJ,<br />
p. 2)<br />
iii<br />
“Doctrines, theses, and arguments all have to be understood in terms of historical context” (WJ, p. 9)
iv “A central theme of much of that earlier work was that we have to learn from history and anthropology of the<br />
variety of moral practices “AV, p. xvii).<br />
v “We have not yet fully understood the claims of any moral philosophy until we have spelled out what its social<br />
embodiment would be” (AV, p. 23).<br />
vi “We ought to be able to construct a true historical narrative” (AV, p. 11).<br />
vii “In the transition from the variety of contexts in which they were originally at home to our own contemporary<br />
culture „virtue‟ and „justice‟ and „piety‟ and „duty‟ and even „ought‟ have become other than they once were”<br />
(AV, p. 10).<br />
viii “[...] the persistently unhistorical treatment of moral philosophy by contemporary philosophers in both the<br />
writing about and the teaching of the subject. We all too often still treat the moral philosophers of the past as<br />
contributors to a single debate with a relatively unvarying subject-matter, treating Plato and Hume and Mill as<br />
contemporaries both of ourselves and of each other. This leads to an abstraction of these writers from the cultural<br />
and social milieus in which they lived and thought and so the history of their thought acquires a false<br />
independence from the rest of the culture” (AV, p. 11).<br />
ix “Individuals inherit a particular space within an interlocking set of social relationships; lacking that space, they<br />
are nobody” (AV, pp. 33-34).<br />
x “It is only in the light of that history that we can understand how the idiosyncrasies of everyday contemporary<br />
moral discourse” (AV, p. 36).<br />
xi “The history of morality-and-moral-philosophy is the history of successive challenges to some pre-existing<br />
moral order” (AV, p. 269).<br />
xii “So we ought to aspire to provide the best theory so far as to what type of theory the best theory so far must<br />
be: no more, but no less” (AV, p. 270).<br />
xiii “It is a kind of historicism which excludes all claims to absolute knowledge” (AV, p. 271).<br />
xiv “[...] a just distribution of goods in any social order in terms of two principles and a rule for allocating<br />
priorities when the two principles conflict” (AV, p. 247)<br />
xv “[...] would be those Who had justly acquired what they held by some just act” (AV, p. 247).<br />
xvi “I shall want to stress instead that it is only from some such premises that such principles could be rationally<br />
derived” (AV, p. 248).<br />
xvii “[...] argues first we do not know what anyone deserves útil we have already formulated the rules of justice<br />
(AV, p. 249)<br />
xviii “[...] come together and formulate common rules of life” (AV, p. 250).<br />
xix “[...] the notion of desert is at home only in the context of a community whose primary bond is a shared<br />
understanding both of the good for man and of the good of that community” (AV, p. 250).<br />
xx “[...] a collection of strangers, each pursuing his or her own interests” (AV, p. 251).<br />
xxi “[...] who will recognize in the tradition of the virtues a key part of their own cultural inheritance” (AV, p.<br />
252).<br />
xxii „[...] in divided moral attitudes expressed in inconsistent moral and political principles” (WJ, 397).<br />
xxiii “[...] a conception of enquiry as embodied in a tradition (WJ, p. 7).<br />
xxiv “So rationality itself, whether theoretical or practical, is a concept with a history” (WJ, p. 9).<br />
xxv “Each is part of the background history of our own culture” (WJ, p. 10)<br />
xxvi “[...] the Aristotelian account of justice and of practical rationality emerges from the conflicts of the ancient<br />
polis, but is then developed by Aquinas in a way which escapes the limitations of the polis. So the Augustinian<br />
version of Christianity entered in the medieval period into complex relationships of antagonism to<br />
Aristotelianism. So in a quite different later cultural context Augustinian Christianity, now in a Calvinist form,<br />
and Aristotelianism, now in Renaissance version, entered into a new symbiosis in seventeenth-century Scotland,<br />
so engendering a tradition which at its climax of achievement was subverted from within by Hume. And so<br />
finally modern liberalism, born of antagonism to all tradition, has transformed itself gradually into what is now<br />
clearly recognizable even by some of its adherents as one more tradition” (WJ, p. 10).<br />
xxvii “Christians need badly to listen to Jews” (WJ, p. 11).<br />
xxviii “[...] I have tried to give Hume his due in respect of his accounts of justice and of the place of reasoning in<br />
the genesis of action” (WJ, p. 11).<br />
xxix “Had I tried to do the same for Kant, this book would have become impossibly long. But the whole Prussian<br />
tradition in which public law and Lutheran theology were blended, a tradition which Kant, Fichte, and Hegel<br />
tried but failed to universalize, is clearly of the same order of importance as the Scottish tradition of which I have<br />
given an account” (WJ, p.11).<br />
xxx “A tradition is an argument extended through time in which certain fundamental agreements are defined in<br />
terms of two kinds of conflict: those with critics and enemies external to the tradition who reject all or at least<br />
key parts of those fundamental agreements, and rationale of the fundamental agreements come to be expressed<br />
and by whose progress a tradition is constituted” (WJ, p. 12).
xxxi “A tradition becomes mature just insofar as its adherents confront and find a rational way through or around<br />
those encounters with radically different and incompatible positions” (WJ, p. 327).<br />
xxxii “[…] the standpoint of traditions is necessarily at odds with one of the central characteristics of<br />
cosmopolitan modernity: the confident belief that all cultural phenomena must be potentially translucent to<br />
understanding, that all texts must be capable of being translated into the language which the adherents of<br />
modernity speak to each other” (WJ, p. 327).<br />
xxxiii “The relationships which can hold between individuals and a tradition are very various, ranging from<br />
unproblematic allegiance through attempts to amend or redirect the tradition to large opposition to what have<br />
hitherto been its central contentions. But this last may indeed be as formative and important a relation to a<br />
tradition as any other.” (WJ, p. 326).<br />
xxxiv Correlatively, as conflicts between rival traditions are resolved, the parties to the conflict will find<br />
themselves increasingly converging on a shared description of the observed world (PORTER, 2003, p. 53).<br />
xxxv “Our „intuitions‟ are simply opinions, our philosophical theories are the same… Once the menu of wellworked<br />
out theories is before us, philosophy is a matter of opinion” (WJ, p. 335)<br />
xxxvi “[...] the Project of founding a form of social order in which individuals could emancipate themselves from<br />
the contingency and particularity of tradition by appealing to genuinely universal, tradition-independent norms<br />
was and is not only, and not principally, a project philosopher”s (WJ, p. 335).<br />
xxxvii “So it is important for all areas of human life and not only for explicitly political an economic transactions<br />
that there should be acceptable rules of bargaining. And what each individual and each group has to hope for<br />
from these rules is that they should be such as to enable that individual or that to be as effective as possible in<br />
implementing his, her, or their preferences. This kind of effectiveness thus becomes a central value of liberal<br />
modernity” (WJ, p. 337).<br />
xxxviii “The lawyers, not the philosophers, are the clergy of liberalism” (WJ, p. 344).<br />
xxxix “Yet increasingly there have been liberal thinkers who, for one reason or another, have acknowledged that<br />
their theory and practice are after all that of one more contingently grounded and founded tradition, in conflict<br />
with other rival traditions as such and like certain other traditions in claiming a right to universal allegiance, but<br />
unable to escape from the condition of a tradition. Even this, however, can be recognized by liberal writers such<br />
as Rawls, Rorty, and Stout” (WJ, p. 346).<br />
xl “[...] but there is no set of independent standards of rational justification by appeal to which the issues between<br />
contending traditions can be decided” (WJ, p. 351).<br />
xli It is all too easy to relapse into the long-established and highly misleading view of Plato and Aristotle as<br />
representing fundamentally distinct and opposed philosophical alternatives, a commonplace for centuries , and<br />
still not without adherents” (WJ, p. 94).<br />
xlii “Aristotle‟s writings on ethics and politics ought to be read as solving or resolving the problems posed by the<br />
Republic” (WJ, p. 96).<br />
xliii “So Plato appears to believe that justice as a virtue, or rather as the key element in the virtue of the individual<br />
human being, is independent of and antecedent to the justice that is the ordering o the polis” (WJ, p. 96).<br />
xliv “The rules of justice cannot be understood as the expression of, nor will they serve to fulfill, the desires of<br />
those not yet educated into the justice of the polis” (WJ, p. 98).<br />
xlv “Aristotle‟s thought on each of these topics is intelligible only in the light of what he says about the order, and<br />
both only in the light of what he says about the polis” (WJ, p. 103).<br />
xlvi “Therefore goodness in the polis (...) requires the ability to exercise specific virtues” (WJ, p. 103).<br />
xlvii “This is because is has to school its citizen in the exercise of the virtues” (WJ, p. 105s).<br />
xlviii “Distributive justice then consists of the application of a principle of desert variety of types of situation”<br />
(WJ, p. 106).<br />
xlix “This is why the young […] are not yet capable of embarking upon ethical enquiry, but must rather first<br />
cultivate those habits […] also to discipline their passions” (WJ, p. 114s).<br />
l “[…] Aristotle did not considerer phronétic activity itself to be rule-governed […] there are no rules for<br />
generating this kind of practically effective understanding of particulars” (WJ, p. 116).<br />
li “[…] that as he develops the virtue of phronésis, his judgments will increasingly be informed by a grasp of<br />
modifying and circumstantial considerations which did not inform his original simpler rule-governed judging”<br />
(WJ, p. 119).<br />
lii “[…] being just requires an ability to distinguish what is just haplós from what is just relative to the provisions<br />
of a particular constitution” (WJ, p. 120).<br />
liii “[…] bound to each other by ties of friendship” (WJ, p. 122).<br />
liv “[…] a defense of the goods of excellence and of the virtues, more particularly of justice” (WJ, p. 89).<br />
lv “[…] Aristotle‟s account of the good and the best cannot but be an account of the good and the best as it is<br />
embodied in a polis” (WJ, p. 90).
lvi “Characters are the masks worn by moral philosophies. Such theories, such philosophies, do of course enter<br />
into social life in numerous ways: most obviously perhaps as explicit ideas in books or sermons or conversations,<br />
or as symbolic themes in paintings or plays or dreams” (AV, p. 28).<br />
lvii “[...] embody moral beliefs, doctrines and theories, but each does so in its own way” (Idem).<br />
lviii “It is in this capacity of the self to evade any necessary identification with any particular contingent state of<br />
affairs that some modern philosophers, both analytical and existentialist, have seen the essence of moral agency.<br />
To be a moral agent is, on this view, precisely to be able to stand back from any and every situation in which one<br />
is involved, from any and every characteristic that one may possess, and to pass judgment on it from a purely<br />
universal and abstract point of view that is totally detached from all social particularity” (AV, pp. 31-32).<br />
lix “[...] view of human life as ordered to a given end” (AV, p. 34).<br />
lx “A man in heroic society is what He does (AV, p. 122).<br />
lxi “[...] a man gives warrant for judgment upon his virtues and vices; for the virtues just are those qualities which<br />
sustain a free man in his role and which manifest themselves in those actions which his role requires” (AV, p.<br />
122)<br />
lxii “Without such a place in the social order [...] he would not himself know who he was (AV, p. 123s).<br />
lxiii “[...] without honor a man is without worth” (AV, p. 125).<br />
lxiv “[...] perhaps what we have to learn from heroic societies is twofold: first that all morality is always to some<br />
degree tied to the socially local and particular and that the aspirations of the morality of modernity to a<br />
universality freed from all particularity is an illusion; and secondly that there is no way to possess the virtues<br />
except as part of a tradition in which we inherit them and our understanding of them from a series of<br />
predecessors in which series heroic societies hold first place” (AV, p. 126s).<br />
lxv “The slave is someone who may be killed at any minute; he is outside the heroic community” (AV, p. 127).<br />
lxvi “ [...] a conception of what is required by the social role which each individual inhabits; a conception of<br />
excellences or virtues as those qualities which enable an individual to do what his or her role requires; and a<br />
conception of the human condition as fragile and vulnerable to destiny and to death, such that to be virtuous is<br />
not to avoid vulnerability and death, but rather to accord them their due” (AV, p. 128s).<br />
lxvii “[...] the Nicomachean Ethics the canonical text for Aristotle‟s account of the virtues” (AV, p. 147).<br />
lxviii “[...] the exercise of the virtues is not in this sense a means to the end of the good for man. For what<br />
constitutes the good for man is a complete human life lived at its best, and the exercise of the virtues is a<br />
necessary and central part of such a life, not a mere preparatory exercise to secure such a life” (AV, p. 149).<br />
lxix “The educated moral agent must of course know what he is doing when he judges or acts virtuously. Thus he<br />
does what is virtuous because it is virtuous. It is this fact that distinguishes the exercise of the virtues from the<br />
exercise of certain qualities which are not virtues, but rather simulacra of virtues. The well-trained soldier, for<br />
instance, may do what courage would have demanded in a particular situation, but not because he is courageous<br />
but because he is well-trained or perhaps – to go beyond Aristotle‟s example by remembering Frederick the<br />
Great‟s maxim – because he is more frightened of his own officers than he is of the enemy. The genuinely<br />
virtuous agent however acts on the basis of a true and rational judgment” (AV, p. 149s).<br />
lxx “[...] it is that intellectual virtue without which none of the virtues of character can be exercised” (AV, p.<br />
154).<br />
lxxi “[...] genuine practical intelligence in turn requires knowledge of the good, indeed it self requires goodness<br />
of a kind in its possessor” (AV, p. 155).<br />
lxxii “Indeed from an Aristotelian point of view a modern liberal political society can appear only as a collection<br />
of citizens of nowhere who have banded together for their common protection. They posses at best that inferior<br />
form of friendship which is founded on mutual advantage, That they lack the bond of friendship is of course<br />
bound up with the self-avowed moral pluralism of such liberal societies. They have abandoned the moral unity<br />
of Aristotelianism, whether in its ancient or medieval forms” (AV, p. 156).<br />
lxxiii “The first stage requires a background account of what I shall call a practice, the second an account of what I<br />
have already characterized as the narrative order of a single human life and the third an account a good deal<br />
fuller than I have given up to now of what constitutes a moral tradition. Each later stage presupposes the earlier,<br />
but not vice versa. Each earlier stage is both modified by and reinterpreted in the light of, but also provides an<br />
essential constituent of each later stage” (AV, p. 186s).<br />
lxxiv “A virtue is an acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable us to achieve<br />
those goods which are internal to practices and the lack of which effectively prevents us from achieving any such<br />
goods” (AV, p. 191).<br />
lxxv “Nietzschean man, the Übermensch, the man who transcends, finds his good nowhere in the social world to<br />
date, but only in that in himself which dictates his own new law and his own new table of the virtues” (AV, p.<br />
257).<br />
lxxvi “[...] to raze to the ground the structures of inherited moral” (AV, p. 256).<br />
lxxvii “[...] to shared standards of virtues or goods; he is his own only authority (AV, p. 258).
lxxviii “A great man – a man whom nature has constructed and invented in the grand style – what is He?... If he<br />
cannot lead, he goes alone; then it can happen that he may snarl at some things he meets on the way… he wants<br />
no „sympathetic” heart , but servants tools; in his intercourse with men he is always intent on making something<br />
out of them. He knows he is incommunicable: he finds it tasteless to be familiar; and then one thinks he is, he<br />
usually is not. When not speaking to himself, he wears a mask. He rather lies than tells the truth: it requires more<br />
spirit and will. There is a solitude within him that is inaccessible to praise or blame, his own justice that is<br />
beyond appeal” (AV, p. 257s).<br />
lxxix “[…] jeers at the notion of basing morality on inner moral sentiments, on conscience, on the one hand, or on<br />
the Kantian categorical imperative, on universalizability, on the other” (AV, p. 113).<br />
lxxx “This problem would constitute the core of a Nietzschean moral philosophy. For it is in his relentlessly<br />
serious pursuit of the problem, not in his frivolous solutions that Nietzsche‟s greatness lies, the greatness that<br />
makes him the moral philosopher if the only alternatives to Nietzsche‟s moral philosophy turn out to be those<br />
formulated by the philosophers of the Enlightenment and their successors” (AV, p. 114).<br />
lxxxi “[…] a desire to act from the corresponding moral principles” (AV, p. 119).<br />
lxxxii “[…] the conceptual scheme of liberal individualist modernity” (AV, p. 259).<br />
lxxxiii “The predecessor culture and the enlightenment project of justifying morality” (AV, p. 36).<br />
lxxxiv “In a world of secular rationality religion could no longer provide such a shared background and foundation<br />
for moral discourse and action” (AV, p. 50).<br />
lxxxv “It is only in the later seventeenth century and the eighteenth century, when this distinguishing of the moral<br />
from the theological, the legal and the aesthetic has become a received doctrine that the project of an<br />
independent rational justification of morality becomes not merely the concern of individual thinkers, but central<br />
to Northern European culture” (AV, p. 39).<br />
lxxxvi “In the persona of the philosophe the view which he propounds is that if in modern France we all pursue our<br />
desires with an enlightened eye to the long-rum we shall see that the conservative moral rules are by and large<br />
the rules which the appeal to their basis in desire and passion will vindicate” (AV, p. 47).<br />
lxxxvii “But in the very act of making this distinction he undermines his own attempt to find a basis for morality in<br />
human physiological nature. For he himself is forced to find grounds for discriminating between desires” (AV, p.<br />
48).<br />
lxxxviii “it is clear that Hume‟s invocation of sympathy is an invention intended to bridge the gap between any set<br />
of reasons which could support unconditional adherence to general and unconditional rules and any set of<br />
reasons for action or judgment which could derive from our particular, fluctuating, circumstance-governed<br />
desires, emotions and interests” (AV, p. 49).<br />
lxxxix “The normal passions are those of a complacent heir of the revolution of 1688” (AV, p. 49).<br />
xc “[...] covertly using some normative standard – in fact a highly conservative normative standard – to<br />
discriminate among desires and feelings” (AV, p. 49).<br />
xci “Kant stands at one of the great dividing points in the history of ethics. For perhaps the majority of later<br />
philosophical writers, including many who are self-consciously anti-Kantian, ethics is defined as a subject in<br />
Kantian terms” (SH, p. 190).<br />
xcii “[...] if the rules of morality are rational , they must be the same for all rational beings, in just in the way that<br />
the rules of arithmetic are; and if the rules of morality are binding on all rational beings, then the contingent<br />
ability of such beings to carry them out must be unimportant – what is important is their will to carry them out”<br />
(AV, pp. 43-44).<br />
xciii “Kant is not of course himself in any doubt as to which maxims are in fact the expression of the moral law;<br />
virtuous plain men and women did not have to wait for philosophy to tell them is what a good will consisted and<br />
Kant never doubted for a moment that the maxims which he had learnt from his own virtuous parents were those<br />
which had to be vindicated by a rational test” (AV, p. 44).<br />
xciv “[...] any precept designed to secure our happiness would be an expression of a rule holding only<br />
conditionally” (AV, p. 44).<br />
xcv “It is of the essence of reason that it lays down principles which are universal, categorical and internally<br />
consistent. Hence a rational morality will lay down principles which both can and ought to be held by all men,<br />
independent of circumstances and conditions, and which could consistently be obeyed by every rational agent on<br />
every occasion” (AV, p. 45)<br />
xcvi “[...] and until an agent has decided for himself whether a reason is a good reason or not, He has no reason to<br />
act” (AV, p. 46).<br />
xcvii “I can without any inconsistency whatsoever flout it; „Let everyone except me be treated as a means‟ may be<br />
immoral, but it is not inconsistent and there is not even any inconsistency in willing a universe of egotists all of<br />
whom live by this maxim” (AV, p. 46).<br />
xcviii “But the consequences of his doctrines, in German history at least, suggest that the attempt to find a moral<br />
standpoint completely independent of the social order may be a quest for an illusion, a quest that renders one a
mere conformist servant of the social order much more than does the morality of those who recognize the<br />
impossibility of a code which does not to some extent as least express the wants and needs of men in particular<br />
social circumstances” (SH, p. 198).<br />
xcix “Kant‟s failure provided Kierkegaard with his starting-point: the act of choice had to be called in to do the<br />
work that reason could not do” (AV, p. 47).<br />
c “The ethical is presented as that realm in which principles have authority over us independently of our<br />
attitudes, preferences and feelings. How I feel at any given moment is irrelevant to the question of how I must<br />
live” (AV, p. 41).<br />
ci “Insofar as they are good reasons, the principles have corresponding authority; insofar as they are not, the<br />
principles are to that same extent deprived of authority. It would follow that a principle for the choice of which<br />
no reasons could be given would be principle devoid of authority” (AV, p. 42)<br />
cii “[...] certain shared characteristics deriving from their highly specific shared historical background” (AV, p.<br />
51).<br />
ciii “Thus all these writers share in the project of constructing valid arguments which will move from premises<br />
concerning human nature as they understand it to be to conclusions about the authority of moral rules and<br />
precepts” (AV, p. 52).<br />
civ “And hence a central achievement of reason according to Pascal, is to recognize that our beliefs are ultimately<br />
founded on nature, custom and habit” (AV, p. 54).<br />
cv “He does indeed look for a foundation of morality in the universalizable prescriptions of that reason” (AV, p.<br />
55).<br />
cvi “Emotivism is the doctrine that all evaluative judgments and more specifically all moral judgments are<br />
nothing but expressions of preference, expressions of attitude or feeling” (AV, p. 12).<br />
cvii “Emotivism has been presented by its most sophisticated protagonists hitherto as a theory about the meaning<br />
of the sentences which are used to make moral judgments” (AV, p. 12).<br />
cviii “[...] the expression of feeling or attitude is characteristically a function not of the meaning of sentences, but<br />
of their use on particular occasions” (AV, p. 13).<br />
cix “[...] that in using such sentences to say whatever they mean, the agent was in fact doing nothing other than<br />
expressing his feelings or attitudes and attempting to influence the feelings and attitudes of others” (AV, p. 14)<br />
cx “Moore‟s arguments at times are, it must seem now, obviously defective – he tries to show that „good‟ is<br />
indefinable, for example, by relying on a bad dictionary definition of „definition‟ – and a great deal is asserted<br />
rather than argued” (AV, p. 16).<br />
cxi “[...] substituting for the religious and philosophical nightmares, delusions, hallucinations in which Jehovah,<br />
Christ and St. Paul, Plato, Kant and Hegel had entangled us” (AV, p. 16).<br />
cxii “It is not implausible to suppose that they did in fact confuse moral utterance at Cambridge (and in other<br />
places with a similar inheritance) after 1903 with moral utterance as such, and that they therefore presented what<br />
was in essentials a correct account of the former as though it were an account of the latter” (AV, p. 17).<br />
cxiii “Yet emotivism did not died and it is important to note how often in widely different modern philosophical<br />
contexts something very like emotivism‟s attempted reduction of morality to personal preference continually<br />
recurs in the writings of those who do not think of themselves as emotivists” (AV, p. 20).<br />
cxiv “[...] Weber‟s thought embodies just those dichotomies which emotivism embodies, and obliterates just<br />
those distinctions to which emotivism has to be blind. Questions of ends are questions of values, and on values<br />
reason is silent; conflict between rival values cannot be rationally settled” (AV, p. 26).<br />
cxv “And what this appeal reveals is that bureaucratic authority is nothing other than successful power” (AV, p.<br />
26).<br />
cxvi “[...] have still seen the manager‟s function as that of controlling behavior and suppressing conflict” (AV, p.<br />
27).<br />
cxvii “Characters merge what usually is thought to belong to social roles. Both individuals and roles can, and do,<br />
like characters, embody moral beliefs, doctrines and theories, but each does so in its own way” (AV, p. 28).<br />
cxviii “The beliefs that he has in his mind and heart are one thing; the beliefs that his role expresses and<br />
presupposes are quite another” (AV, p. 29).<br />
cxix “A character is an object of regard by the members of the culture generally or by some significant segment<br />
of them. He furnishes them with a cultural and moral ideal. Hence the demand is that in this type of case role and<br />
personality be fused” (AV, p. 29).<br />
cxx “The manager represents in his character the obliteration of the distinction between manipulative and<br />
nonmanipulative social relations; the therapist represents the same obliteration in the sphere on personal life”<br />
(AV, p. 30).<br />
cxxi “It is often (...) through conflict that the self receives its social definition. This does not mean (…) that the<br />
self is or becomes nothing but the social roles which it inherits. The self, as distinct from its roles, has a (…)<br />
social history” (AV, p. 31).
cxxii “Everything may be criticized from whatever standpoint the self has adopted, including the self‟s choice”<br />
(AV, p. 31).<br />
cxxiii “Anyone and everyone can thus be a moral agent, since it is in the self and not in social roles or practices<br />
that moral agency has to be located” (AV, p. 32).<br />
cxxiv “.MacIntyre‟s first important work in ethics, his master‟s thesis (1951), was written very much in the spirit of<br />
classical metaethics and attempted to move beyond what was already being called an impasse between<br />
cognitivists and noncognitivists in this metaethical discussion. In this thesis, The Significance of Moral<br />
Judgments, he develops a number of themes that figure in his discussion of metaethics in the decades to follow.<br />
Almost half of the thesis is taken up with close criticism of Moore‟s intuitionism and Stevenson‟s emotivismo<br />
(SOLOMON, 2001, p. 118).<br />
cxxv “Some have identified blunders – ranging from confusions over names to a factual error about Giotto; some<br />
have pointed out inadequacies in the historical narrative…” (AV, p. 264).<br />
cxxvi “I hope that some part at least of what is wanting will be supplied in my forthcoming interchanges with a<br />
variety of critics in the journals inquiry, Analyse und Kritik and Soundings and that much more will be remedied<br />
in the sequel to After Virtue, on which I am now at work, on Justice and Practical Reasoning” (AV, p. 264).<br />
cxxvii “[…] in writing it I had two overriding preoccupations: both to set out the overall structure of a single<br />
complex thesis about the place of the virtues in human life” (AV, p. 263).<br />
cxxviii “I shall be distinguishing historical and philosophical statements and theses, explicitly or implicitly.<br />
MacIntyre, however, seems not to” (FRANKENA, 1983, p. 579).<br />
cxxix “[…] this history, being one of decline and fall, is informed by standards. It is not an evaluatively neutral<br />
chronicle. The form of the narrative, the division into stages, presuppose standards of achievement and failure, of<br />
order and disorder. It is what Hegel called philosophical history and what Collingwood took all successful<br />
historical writing to be. So that if we are to look for resources to investigate the hypothesis about morality which<br />
I have suggested (…) we shall have to ask whether we can find in the type of philosophy and history propounded<br />
by (…) Hegel and Collingwood (…) resources which we cannot find in analytical or phenomenological<br />
philosophy” (AV, p. 03).<br />
cxxx “Morality which is no particular society‟s is to be found nowhere” (AV, p. 265s).<br />
cxxxi “The ideal of philosophical ability is to see the entire universe of possible assertions in all their inferential<br />
relationships to one another, and thus to be able to construct, or criticize, any argument” (RORTY, 1982, p. 219).<br />
cxxxii “[...] can never establish the rational acceptability of any particular position” (AV, p. 267)<br />
cxxxiii “I have a good deal of sympathy with both complaints for it is indeed the two very different accounts of<br />
practical reasoning advanced by Hume and Kant which present the central challenge to the Aristotelian scheme<br />
and to the account of practical reasoning embodied within it” (AV, p. 271).<br />
cxxxiv “[...] the relationship of virtues to practices, once it has been more clearly distinguished from the<br />
relationship of skills to practices than I succeeded in doing in my earlier account, does not entail the unfortunate<br />
consequences that Scheffler is inclined to impute to it” (AV, p. 274).<br />
cxxxv “[…] no human quality is to be accounted a virtue unless it satisfies the conditions specified at each of the<br />
three stages” (AV, p. 275).<br />
cxxxvi “[...] is compatible with acknowledging the existence of distinct, incompatible and rival traditions of the<br />
virtues” (AV, p. 276).<br />
cxxxvii “[…] to set out the overall structure of a single complex thesis about the place of the virtues in human<br />
life…” (AV, p. 264).<br />
cxxxviii “The ghosts of the Ninth Edition haunt the contemporary academy. They need to be exorcized” (TRV, p.<br />
171)<br />
cxxxix “[...] each rival theoretical standpoint provides from within itself and in its own terms the standards by<br />
which, so its adherents claim, it should be evaluated, rivalry between such contending standpoints includes<br />
rivalry over standards. There is no theoretically neutral […]” (TRV, p. 173).<br />
cxl “Inspire a taste for science, a horror of falsehood and vice, and a love of virtue; because everything which<br />
does not aim ultimately at happiness and virtue is nothing” (TRV, p. 174)<br />
cxli “Morality is thus primarily a matter of rules, and to be a good or just person, to be virtuous in character, is to<br />
be disposed to do what the rules require” (TRV, p. 174).<br />
cxlii “[...] the rational superiority of tradition to rival traditions is held to reside in its capacity not only for<br />
identifying and characterizing the limitations and failures of that rival tradition […] but also for explaining and<br />
understanding those limitations and failures in some tolerably precise way” (TRV, p. 181)<br />
cxliii “If by „morality‟ and by „ethics‟ we mean roughly what Sidgwick and the other contributors to the Ninth<br />
Edition meant, then „morality‟ is, on this Aristotelian and Thomistic view, a distinctively modern phenomenon”<br />
(TRV, p. 191).
cxliv “[...] from its place as a member of a set of hierarchically ordered communities within which goods are so<br />
ordered and understood that the self cannot achieve its own good except in and through achieving the good of<br />
others and vice versa” (TRV, p. 192).<br />
cxlv “[...] depend therefore for their authority upon there being a set of shared beliefs as to what is good and best<br />
for different types of human beings, just that kind of shared belief which is the mark of those communities of<br />
moral enquiry and practice within which alone, on the Thomistic view, human goods can be adequately<br />
identified and pursued” (TRV, p. 193).<br />
cxlvi “To be accountable in and for enquiry is [...] to amplify, explain, defend, and, if necessary, either modify or<br />
abandon that account…” (TRV, p. 201).<br />
cxlvii “Truth as the measure o four warrants cannot be collapsed into warranted assertibility” (TRV 201).<br />
cxlviii “Where the Thomist raises the question f the relationship of those who affirm and deny to the truth by<br />
which they are measured and bye reference to which they are to be held accountable, the genealogist follows<br />
Nietzsche in dismissing any notion of the truth and correspondingly any conception of what is as such and<br />
timelessly as contrasted with what seems to be the case from a variety of different perspectives” (TRV, p. 205).<br />
cxlix “It is therefore the case that in the tripartite hostilities between the heirs of encyclopaedia, post-Nietzschean<br />
genealogy, and Thomistic tradition neither argument nor conflict is yet terminated. These are struggles in<br />
progress, defining in key part the contemporary cultural milieu by the progress of their dissension” (TRV, p.<br />
215).<br />
cl “Such appeals to history characteristically bring with them worries that such a view will fall into a soggy<br />
relativism” (MURPHY, 2003,p. 7).<br />
cli “The test for truth in the present, therefore, is always to summon up as many questions and as many objections<br />
of the greatest strength possible; what can be justifiably claimed as true is what has sufficiently withstood such<br />
dialectical questioning and framing of objections. In what does such sufficiency consist? That too is question to<br />
which answers have to be produced and to which rival and competing answers may well appear. And those<br />
answers will compete rationally, just insofar as they are tested dialectically, in order to discover which is the best<br />
answer to be proposed so far” (WJ, p. 358).<br />
clii “To have passed through an epistemological crisis successfully enables the adherents of a tradition of enquiry<br />
to rewrite its history in a more insightful way” (WJ, p. 363).<br />
cliii “It is in respect of their adequacy or inadequacy in their responses to epistemological crises that traditions are<br />
vindicated or fail to be vindicated” (WJ, 366).<br />
cliv “To be outside all traditions is to be a stranger to enquiry; it is to be in a state of intellectual and moral<br />
destitution, a condition from which it is impossible to issue the relativist challenge” (WJ, 367).