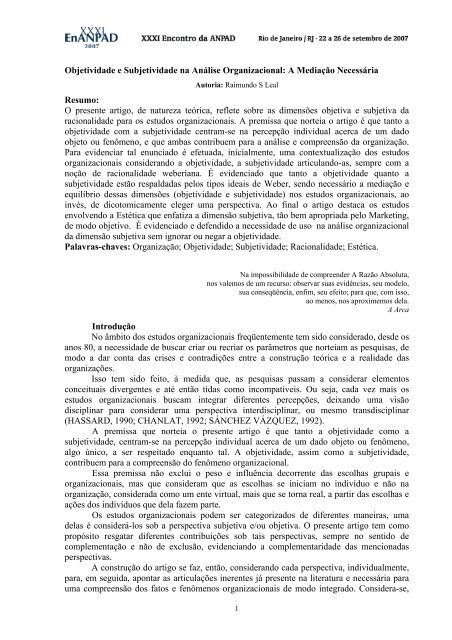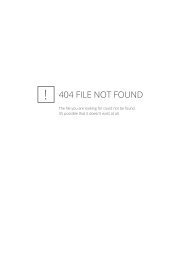Objetividade e Subjetividade na Análise Organizacional: A ... - Anpad
Objetividade e Subjetividade na Análise Organizacional: A ... - Anpad
Objetividade e Subjetividade na Análise Organizacional: A ... - Anpad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Objetividade</strong> e <strong>Subjetividade</strong> <strong>na</strong> <strong>Análise</strong> Organizacio<strong>na</strong>l: A Mediação Necessária<br />
Autoria: Raimundo S Leal<br />
Resumo:<br />
O presente artigo, de <strong>na</strong>tureza teórica, reflete sobre as dimensões objetiva e subjetiva da<br />
racio<strong>na</strong>lidade para os estudos organizacio<strong>na</strong>is. A premissa que norteia o artigo é que tanto a<br />
objetividade com a subjetividade centram-se <strong>na</strong> percepção individual acerca de um dado<br />
objeto ou fenômeno, e que ambas contribuem para a análise e compreensão da organização.<br />
Para evidenciar tal enunciado é efetuada, inicialmente, uma contextualização dos estudos<br />
organizacio<strong>na</strong>is considerando a objetividade, a subjetividade articulando-as, sempre com a<br />
noção de racio<strong>na</strong>lidade weberia<strong>na</strong>. É evidenciado que tanto a objetividade quanto a<br />
subjetividade estão respaldadas pelos tipos ideais de Weber, sendo necessário a mediação e<br />
equilíbrio dessas dimensões (objetividade e subjetividade) nos estudos organizacio<strong>na</strong>is, ao<br />
invés, de dicotomicamente eleger uma perspectiva. Ao fi<strong>na</strong>l o artigo destaca os estudos<br />
envolvendo a Estética que enfatiza a dimensão subjetiva, tão bem apropriada pelo Marketing,<br />
de modo objetivo. É evidenciado e defendido a necessidade de uso <strong>na</strong> análise organizacio<strong>na</strong>l<br />
da dimensão subjetiva sem ignorar ou negar a objetividade.<br />
Palavras-chaves: Organização; <strong>Objetividade</strong>; <strong>Subjetividade</strong>; Racio<strong>na</strong>lidade; Estética.<br />
Na impossibilidade de compreender A Razão Absoluta,<br />
nos valemos de um recurso: observar suas evidências, seu modelo,<br />
sua conseqüência, enfim, seu efeito; para que, com isso,<br />
ao menos, nos aproximemos dela.<br />
A Arca<br />
Introdução<br />
No âmbito dos estudos organizacio<strong>na</strong>is freqüentemente tem sido considerado, desde os<br />
anos 80, a necessidade de buscar criar ou recriar os parâmetros que norteiam as pesquisas, de<br />
modo a dar conta das crises e contradições entre a construção teórica e a realidade das<br />
organizações.<br />
Isso tem sido feito, à medida que, as pesquisas passam a considerar elementos<br />
conceituais divergentes e até então tidas como incompatíveis. Ou seja, cada vez mais os<br />
estudos organizacio<strong>na</strong>is buscam integrar diferentes percepções, deixando uma visão<br />
discipli<strong>na</strong>r para considerar uma perspectiva interdiscipli<strong>na</strong>r, ou mesmo transdiscipli<strong>na</strong>r<br />
(HASSARD, 1990; CHANLAT, 1992; SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1992).<br />
A premissa que norteia o presente artigo é que tanto a objetividade como a<br />
subjetividade, centram-se <strong>na</strong> percepção individual acerca de um dado objeto ou fenômeno,<br />
algo único, a ser respeitado enquanto tal. A objetividade, assim como a subjetividade,<br />
contribuem para a compreensão do fenômeno organizacio<strong>na</strong>l.<br />
Essa premissa não exclui o peso e influência decorrente das escolhas grupais e<br />
organizacio<strong>na</strong>is, mas que consideram que as escolhas se iniciam no indivíduo e não <strong>na</strong><br />
organização, considerada como um ente virtual, mais que se tor<strong>na</strong> real, a partir das escolhas e<br />
ações dos indivíduos que dela fazem parte.<br />
Os estudos organizacio<strong>na</strong>is podem ser categorizados de diferentes maneiras, uma<br />
delas é considerá-los sob a perspectiva subjetiva e/ou objetiva. O presente artigo tem como<br />
propósito resgatar diferentes contribuições sob tais perspectivas, sempre no sentido de<br />
complementação e não de exclusão, evidenciando a complementaridade das mencio<strong>na</strong>das<br />
perspectivas.<br />
A construção do artigo se faz, então, considerando cada perspectiva, individualmente,<br />
para, em seguida, apontar as articulações inerentes já presente <strong>na</strong> literatura e necessária para<br />
uma compreensão dos fatos e fenômenos organizacio<strong>na</strong>is de modo integrado. Considera-se,<br />
1
ainda, que o propósito dos estudos organizacio<strong>na</strong>is é favorecer a compreensão das ações e<br />
escolhas organizacio<strong>na</strong>is enquanto fenômeno e fato social.<br />
No primeiro momento, é apresentada a associação entre racio<strong>na</strong>lidade e objetividade<br />
resgatando elementos de <strong>na</strong>tureza histórica especialmente os fundamentos da racio<strong>na</strong>lidade<br />
segundo Weber. No segundo momento é efetuada similar associação entre subjetividade e<br />
racio<strong>na</strong>lidade, também considerando Weber e as tipologias ideais que podem ser associadas à<br />
subjetividade. No terceiro momento discorre-se sobre objetividade e subjetividade <strong>na</strong> análise<br />
organizacio<strong>na</strong>l procurando demonstrar a presença e contribuição de ambas, à medida que, são<br />
“faces” de uma mesma moeda. As considerações fi<strong>na</strong>is apontam e estimulam o<br />
desdobramento das possibilidades de integração entre a perspectiva objetiva e a perspectiva<br />
subjetiva, enfatizando a necessidade de mediação e equilíbrio entre tais dimensões ambas<br />
presentes <strong>na</strong> racio<strong>na</strong>lidade, e fundamentadas pelos tipos ideais de Weber, autor clássico e a<br />
base para referência <strong>na</strong> análise organizacio<strong>na</strong>l.<br />
1. O Ponto de Partida dos Estudos Organizacio<strong>na</strong>is<br />
A época em que vivemos mostra-se marcada pela confusão de conceitos, não sendo<br />
diferente no âmbito dos estudos organizacio<strong>na</strong>is. Podemos observar, por exemplo, como<br />
diferentes terminologias têm sido utilizadas para descrever contextos semelhantes, como:<br />
autonomia dos trabalhadores, flexibilidade, estrutura horizontais, etc., ainda que estes<br />
pareçam ter diferentes sentidos e significados. Ou seja, o relativismo, onde tudo pode e tudo é<br />
bem-vindo, é traço marcante, com a conseqüente perda ou abandono de referenciais teóricos<br />
que possibilitem o aprofundamento da reflexão sobre os problemas.<br />
Dentre as muitas conseqüências, verifica-se a busca da mediação, do entendimento, do<br />
compartilhamento entre ditas perspecticas distintas e dicotômicas. Uma das maneiras de<br />
contribuir é a busca de pontos comuns que possam possibilitar uma ponte entre os autores e<br />
seus, aparentes conceitos distintos.<br />
Hassard (1990), considera o problema do entendimento, no âmbito dos estudos<br />
organizacio<strong>na</strong>is, como algo crucial, apontando as influências da epistemologia pós-moder<strong>na</strong><br />
ao evidenciar que o todo social é constituído por nossas linguagens compartilhadas e que só<br />
podemos conhecê-lo através de formas particulares de discursos que nossa linguagem cria,<br />
mas que necessitam de aceitação por parte dos estudiosos da área.<br />
Clegg (1990), por sua vez, afirma que em um mundo pós-moderno as organizações<br />
moder<strong>na</strong>s, ou seja, as organizações “burocráticas” e tayloristas perderam espaço. Aparecem as<br />
organizações pós-moder<strong>na</strong>s. Nessas organizações, os trabalhadores seriam acompanhados de<br />
maneira não tão autoritária ou explícita, os grupos se autocontrolariam, influenciado pelo fato<br />
do trabalho exigiria múltiplas habilidades dos funcionários.<br />
Considera-se que para essas “novas” organizações, o elemento simbólico, a estrutura<br />
organizacio<strong>na</strong>l seria mais orgânica e flexível, tirando proveito da tecnologia. Parece-nos<br />
muito pouco tal distinção, ou melhor, o padrão predomi<strong>na</strong>nte continua o mesmo, o qual, sim,<br />
adapta-se aos novos contextos.<br />
Cooper & Burrell, (1988) efetuam críticas voláteis da orientação sistêmica presente<br />
nos estudos organizacio<strong>na</strong>is modernos, numa tentativa de engendrar convicções que<br />
interessam à dita ciência organizacio<strong>na</strong>l enquanto campo de conhecimento gerador de práticas<br />
organizacio<strong>na</strong>is homogeneizadas, ou seja, as premissas teóricas não são colocadas em<br />
questão, ou sua discussão não é aprofundada.<br />
Verifica-se que boa parte dos arcabouços decorrentes dos estudos acaba por ser de<br />
caráter prescritivo e visam propor modelos que sugerem um modo melhor de organizá-las,<br />
traduzidos em instrumentos “úteis” para a prática organizacio<strong>na</strong>l. Na outra ponta, têm-se<br />
contribuições que negam o valor e mesmo qualquer contribuição advinda dos modelos e<br />
técnicas.<br />
2
Um dos principais problemas, portanto, nos estudos organizacio<strong>na</strong>is é a dificuldade de<br />
separar a interpretação da prescrição, sem negar uma ou outra, antevendo a separação ape<strong>na</strong>s<br />
de ordem a<strong>na</strong>lítica. Em razão disso, tem sido árduo para os pesquisadores e interessados <strong>na</strong><br />
análise organização, chegar a pontos consensuais acerca da distinção entre “o que é a<br />
organização” é “do que a organização deve ser”. Pode até parecer simples, mas<br />
academicamente tem sido objeto de querelas.<br />
As contribuições interpretativas dos estudos organizacio<strong>na</strong>is exami<strong>na</strong>m as dinâmicas<br />
sociais observáveis <strong>na</strong>s organizações, enquanto que a corrente prescritiva, como dito<br />
prevalecente <strong>na</strong>s teorias organizacio<strong>na</strong>is e aplicações gerenciais e no âmbito das organizações<br />
privadas. As contribuições interpretativas estão mais presentes <strong>na</strong> sociologia organizacio<strong>na</strong>l, e<br />
nos interessados pelas organizações públicas e organizações sociais ou de caráter não<br />
lucrativo.<br />
Classicamente, a referência central, para os estudos organizacio<strong>na</strong>is é o modelo<br />
burocrático, onde a organização é vista como um instrumento para alcançar objetivos<br />
predefinidos à base de critérios de racio<strong>na</strong>lidade instrumental. Weber (1991) considera outras<br />
dimensões da racio<strong>na</strong>lidade, mas o que foi enfatizado é a instrumentalidade, em razão a busca<br />
de resultados operacio<strong>na</strong>is. A conseqüência é a prevalência <strong>na</strong> análise e intervenção<br />
organizacio<strong>na</strong>l da observância das estruturas legalmente prescritas e, em conseqüência a<br />
conformidade do comportamento individual a tais estruturas.<br />
Outra referência é Taylor (1987), que baseado numa concepção purita<strong>na</strong> do trabalho<br />
humano, lança suas idéias de administração científica no fim do século XIX, partindo de<br />
algumas importantes premissas: individualismo exacerbado, métodos organizacio<strong>na</strong>is<br />
i<strong>na</strong>dequados, com desperdício da energia huma<strong>na</strong> <strong>na</strong>s organizações, e a valorização da ciência<br />
positivista com saída para superação de tais dificuldades. Para qualquer problema existe<br />
sempre o melhor modelo de se organizar e tal modelo pode ser alcançado por meio da<br />
aplicação de métodos científicos, métodos esses eminentemente positivistas.<br />
Os quatro princípios propug<strong>na</strong>dos por Taylor (1987) para que a organização alcance<br />
um patamar de maximização da eficiência no uso dos recursos podem ser sintetizados como:<br />
estudo científico de métodos de trabalho; seleção e adestramento científico de mão de obra;<br />
relações de estima e colaboração cordial entre os dirigentes e a mão de obra; e, distribuição<br />
uniforme de trabalho e das responsabilidades entre a administração e a mão de obra.<br />
Weber (1963) contribuiu para o estudo da burocracia administrativa enquanto aparelho<br />
típico do poder legal. Os fundamentos de tal ação - enquanto tipos ideais - são: ação racio<strong>na</strong>l<br />
com respeito ao fim: o sujeito atua racio<strong>na</strong>lmente visando conseguir um determi<strong>na</strong>do objetivo<br />
no mundo externo avaliam os meios em relação aos fins, os fins em relação às conseqüências<br />
e, eventualmente, os diversos tipos de fins entre si. As decisões são tomadas com base em<br />
cálculos de custos e benefícios.<br />
Tal tipo de racio<strong>na</strong>lidade, <strong>na</strong> opinião do Weber, é uma das características principais do<br />
mundo moderno, a base da ação capitalista, entendida como acumulação metódica, contínua e<br />
ilimitada de capital que visa à criação de outro capital. Com base no tipo ideal – um<br />
procedimento de abstração, conceito qualitativo construído por meio de seleções e<br />
acentuações unilaterais, que serve para comprar fenômenos – Weber (1963) exami<strong>na</strong> a<br />
burocracia. Este tipo ideal é concebido como um aparelho ótimo dotado de racio<strong>na</strong>lidade com<br />
relação aos fins.<br />
A partir de Weber, um pressuposto predominou no estudo das organizações: a<br />
burocracia como a única forma das organizações racio<strong>na</strong>is. Considere que, somente a partir<br />
dos anos 60, a pesquisa organizacio<strong>na</strong>l começou a questio<strong>na</strong>r este pressuposto weberiano e<br />
reconhecer que outras formas organizacio<strong>na</strong>is mais flexíveis podem existir ao lado das<br />
burocracias.<br />
3
2. Racio<strong>na</strong>lidade e <strong>Objetividade</strong><br />
Não há como introduzir a questão da objetividade e subjetividade <strong>na</strong>s organizações<br />
sem fazer referência a Weber segundo Habermas (1987), para quem o sociólogo alemão Max<br />
Weber, embora pretendesse, inicialmente, afastar-se das premissas da filosofia da história e<br />
dos pressupostos fundamentais do evolucionismo, acabou ainda descrevendo acerca da<br />
modernização da sociedade ocidental como resultado de um processo universal.<br />
Como afirma Mouzelis (1969) é a racio<strong>na</strong>lidade que liga todas as características<br />
descritas no modelo ideal weberiano e é ela que dá a lógica e a consistência a todo o<br />
constructo. Na verdade, o conceito de racio<strong>na</strong>lidade tem sido reconhecido como o<br />
componente mais importante do pensamento weberiano. Estando intimamente relacio<strong>na</strong>do a<br />
toda discussão sobre a desmagificação do mundo, a burocratização e a crescente perda de<br />
liberdade <strong>na</strong> sociedade moder<strong>na</strong>.<br />
A diferenciação dos tipos de racio<strong>na</strong>lidade refere-se aos processos mentais e às<br />
referências utilizadas neles, que orientam as ações dos indivíduos no contexto social. Assim,<br />
de acordo com Weber (1991), as diferentes formas organizacio<strong>na</strong>is encontradas <strong>na</strong> realidade<br />
social podem ser explicadas pela predominância do uso de tipos específicos de racio<strong>na</strong>lidade.<br />
Para Habermas (1987), a novidade que Weber trouxe foi o projeto de descrever e<br />
explicar as transformações da sociedade moder<strong>na</strong> mediante o critério da “racio<strong>na</strong>lidade”.<br />
Diante de tal critério, Weber recorta a racio<strong>na</strong>lidade, no processo geral de desencantamento<br />
que ocorre <strong>na</strong> história das grandes religiões e que satisfaz as condições inter<strong>na</strong>s necessárias,<br />
para que surgisse o racio<strong>na</strong>lismo ocidental. Para desenvolver essa análise, segundo Habermas<br />
Weber se vale de um conceito complexo, embora nem um pouco confuso, de racio<strong>na</strong>lidade<br />
associado a ação social, afirma Weber (1991, p. 5):<br />
... por ‘ação’ deve entender-se uma conduta huma<strong>na</strong> (quer ela consista em um fazer<br />
exterior ou interior, quer consista em omitir ou permitir) sempre que o sujeito – ou<br />
os sujeitos – da ação atribui a ela um sentido subjetivo. A ação social, portanto, é<br />
uma ação <strong>na</strong> qual o sentido atribuído pelo seu sujeito – ou sujeitos – se refere à<br />
conduta de outros, orientado-se por essa para o seu desenvolvimento.<br />
Uma vez que possui “sentido subjetivo”, a motivação da ação social depende do<br />
próprio sujeito. A ação social, para Weber (1991, p. 20), sempre poderá ser classificada em<br />
algum dos seguintes tipos, recortada a partir da racio<strong>na</strong>lidade que a motive:<br />
• racio<strong>na</strong>l motivada pelos fins (racio<strong>na</strong>lidade instrumental): determi<strong>na</strong>da por<br />
comportamentos esperados tanto dos objetos do mundo exterior quanto dos<br />
outros homens. Esses comportamentos esperados são “as condições” ou “os<br />
meios” com que se pode contar para atingir fins próprios racio<strong>na</strong>lmente<br />
ponderados e perseguidos; nesse caso se fala em ação social motivada pela<br />
racio<strong>na</strong>lidade instrumental;<br />
• racio<strong>na</strong>l motivada pelos valores (que mais tarde será chamada por Ramos<br />
(1981) de “racio<strong>na</strong>lidade substantiva”): determi<strong>na</strong>da pela crença consciente em<br />
valores – éticos, estéticos, religiosos ou sob qualquer outra forma que se<br />
manifestem – próprios e absolutos de uma conduta, sem relação alguma com o<br />
resultado; nesse caso, se pode falar em ação social valorativa, motivada pela<br />
racio<strong>na</strong>lidade valorativa;<br />
• afetiva: especialmente emotiva, determi<strong>na</strong>da por afetos e estados sentimentais<br />
do momento; nesse caso se fala em ação social afetiva, motivada pela<br />
racio<strong>na</strong>lidade afetiva;<br />
• tradicio<strong>na</strong>l: determi<strong>na</strong>da por um costume arraigado; nesse caso se fala em ação<br />
social tradicio<strong>na</strong>l, motivada pela racio<strong>na</strong>lidade tradicio<strong>na</strong>l.<br />
Cada um desses tipos de ação social – ao qual corresponde um tipo de racio<strong>na</strong>lidade –<br />
tem suas peculiaridades, ensejando um grau de objetivo e/ou de subjetividade. A ação social<br />
4
puramente tradicio<strong>na</strong>l é uma resposta esperada e padronizada a estímulos habituais e comuns;<br />
quanto maior o grau de institucio<strong>na</strong>lização do contexto em que for gerada, mais acentuado<br />
será o caráter tradicio<strong>na</strong>l da ação social. Na ação social tradicio<strong>na</strong>l não há espaço para a<br />
reflexão: a ação social ocorre porque tem de ocorrer, porque é daquela forma que se faz desde<br />
os tempos mais remotos (pelo menos para aquele grupo social).<br />
Freqüentemente confundem-se a ação afetiva e ação motivada por valores. As duas<br />
formas de ação são semelhantes porque, nos dois casos, a ação social não visa o resultado,<br />
mas o conteúdo da própria ação. Os dois tipos distinguem-se, contudo, porque a ação social<br />
afetiva é motivada por emoção momentânea, sem qualquer reflexão; no caso de ação social<br />
motivada por valores, os propósitos e o planejamento da ação social são resultado de<br />
elaboração consciente que jamais perde de vista a “causa” à qual serve o ator social. Em<br />
muitos casos, a racio<strong>na</strong>lidade afetiva pode ser sacrificada à racio<strong>na</strong>lidade motivada pelos<br />
valores.<br />
Na ação social regida pela razão instrumental, o agente se orienta pelos fins, meios e<br />
conseqüências de sua ação social. Ele pondera racio<strong>na</strong>lmente os meios e os fins, os fins e as<br />
conseqüências da ação social, umas em relação às demais, e as conseqüências possíveis de sua<br />
ação social. Nesse tipo de ação social, o agente toma decisões sobre a ação, baseado no<br />
cálculo, <strong>na</strong> relação custo/benefício entre fins, meios e conseqüências da ação social que<br />
decida empreender (WEBER, 1991).<br />
Na ação social em que a racio<strong>na</strong>lidade é motivada pelos fins que visa os agentes não<br />
agem nem exclusivamente movidos pelos afetos nem movidos exclusivamente pela tradição.<br />
Por sua parte, a decisão entre os diferentes fins e conseqüências concorrentes e em conflito<br />
pode ser racio<strong>na</strong>lmente motivada a valores; nesse caso, a ação é racio<strong>na</strong>lmente motivada aos<br />
fins somente nos meios.<br />
Em outras palavras, pode acontecer do agente de uma ação social motivada pelos<br />
valores considerar ape<strong>na</strong>s os valores, até definir seus objetivos e, em seguida, passar a usar<br />
critérios da racio<strong>na</strong>lidade instrumental para hierarquizar os objetivos de sua ação social; por<br />
exemplo, para verificar a utilidade margi<strong>na</strong>l daqueles objetivos.<br />
Considerada pela racio<strong>na</strong>lidade instrumental, a ação social motivada unicamente por<br />
valores é sempre uma ação irracio<strong>na</strong>l (Weber, 1991 p. 21), posto que, nesse tipo de ação<br />
social não se aferem quaisquer possíveis conseqüências ou, quando há alguma aferição, a<br />
medição é sempre “... tanto menor quanto maior seja a atenção concedida ao valor próprio do<br />
ato em seu caráter absoluto. Absoluta racio<strong>na</strong>lidade instrumental, contudo, em ação social<br />
motivada pelos fins é caso-limite”.<br />
Só raramente a ação social é orientada por um único tipo de motivação (racio<strong>na</strong>l<br />
motivada por fins, racio<strong>na</strong>l motivada por valores, afetiva ou tradicio<strong>na</strong>l). Todas essas<br />
motivações, às quais corresponde um tipo de racio<strong>na</strong>lidade, são tipos conceituais puros,<br />
construídos para efeitos didáticos ou para orientar os métodos a serem selecio<strong>na</strong>dos para cada<br />
tipo de pesquisa social. Freqüentemente encontram-se ações sociais motivadas por tipos<br />
híbridos de racio<strong>na</strong>lidade.<br />
Apesar de admitir quase todos os tipos de ‘mescla’ <strong>na</strong> motivação – e, portanto, no tipo<br />
de racio<strong>na</strong>lidade – que faz agir os agentes de ação social, Weber (1991), ainda assim,<br />
chocava-se de ver que todas as ações sociais em sociedades capitalistas – <strong>na</strong>s quais se<br />
esperava que o mercado estabelecesse o equilíbrio – são motivadas sempre pela racio<strong>na</strong>lidade<br />
funcio<strong>na</strong>l, vale dizer, pela racio<strong>na</strong>lidade instrumental.<br />
Como salienta Ramos (1981, p. 5):<br />
... muito embora Weber se tenha recusado a basear sua análise sobre a indig<strong>na</strong>ção<br />
moral, como fizeram outros teóricos, de forma notável, é um erro atribuir-lhe<br />
qualquer compromisso dogmático com a racio<strong>na</strong>lidade gerada pelo sistema<br />
capitalista.<br />
5
De acordo com Ramos (1981), Weber é um dos primeiros pensadores a interpretar a<br />
lógica de mercado como um requisito funcio<strong>na</strong>l próprio de um sistema social episódico, sendo<br />
somente um tipo de racio<strong>na</strong>lidade, a formal, característica dessa lógica. Na verdade, observase<br />
que a racio<strong>na</strong>lidade substantiva se transforma em um meio para a realização de padrões de<br />
ação da racio<strong>na</strong>lidade formal. Ou seja, a calculabilidade das ações sociais tornou-se um novo<br />
valor para a sociedade moder<strong>na</strong>. Assim, o tempo, o cálculo de conseqüências, os interesses<br />
tor<strong>na</strong>m-se os valores predomi<strong>na</strong>ntes, norteando as ações ou o comportamento dos indivíduos.<br />
Esta discussão da racio<strong>na</strong>lização é intensamente feita por Ramos (1981) entre outros<br />
autores. Ele resume suas idéias, salientando que <strong>na</strong> sociedade moder<strong>na</strong> a racio<strong>na</strong>lidade passou<br />
a ser uma categoria sócio-mórfica, interpretada como atributo de um processo histórico e<br />
social e não mais como uma força ativa da psique huma<strong>na</strong>, como em tempos passados. Como<br />
esclarece o autor, a razão é um conceito fundamental para o desenvolvimento de qualquer<br />
ciência da sociedade e das organizações.<br />
Serva (1997a, 1997b) utiliza-se das idéias críticas de Ramos (1981) sobre o domínio<br />
da racio<strong>na</strong>lidade <strong>na</strong> vida social moder<strong>na</strong> para desenvolver estudos em organizações concretas.<br />
Muito próximo das discussões e da abordagem metodológica oferecida por Clegg (1990),<br />
Serva apresenta os dois tipos de racio<strong>na</strong>lidade (a formal e a substantiva) e os processos<br />
organizacio<strong>na</strong>is a serem a<strong>na</strong>lisados em sua pesquisa. Apoiando-se <strong>na</strong>s idéias de Ramos (1981)<br />
e de Habermas (1987) sobre a teoria da ação comunicativa, considerada fundamental para a<br />
operacio<strong>na</strong>lização do conceito de racio<strong>na</strong>lidade substantiva, Serva parte de algumas<br />
definições. Segundo ele, a ação racio<strong>na</strong>l substantiva é considerada um tipo de ação orientada<br />
para a dimensão individual e grupal.<br />
Na dimensão individual, ele se refere à auto-realização, compreendida como<br />
concretização de potencialidades e de satisfação; e <strong>na</strong> dimensão grupal, ao entendimento <strong>na</strong>s<br />
direções da responsabilidade e de satisfação social. Já a ação racio<strong>na</strong>l formal foi definida pelo<br />
autor como aquela ação baseada no cálculo, orientada para o alcance de metas técnicas ou de<br />
fi<strong>na</strong>lidades ligadas a interesses econômicos ou de poder social, por meio da maximização dos<br />
recursos disponíveis.<br />
Conforme as análises apresentadas em seu estudo, às ações de entendimento se<br />
mostraram indispensáveis para dar o tom da razão substantiva nos processos da prática<br />
administrativa das organizações estudadas, estando diretamente ligados à questão do poder,<br />
tais como a hierarquia, o estabelecimento de normas, a tomada de decisões e o controle.<br />
A autonomia revelou-se importante no processo de divisão do trabalho, só que o<br />
comprometimento efetivo dos seus membros com valores de <strong>na</strong>tureza emancipatória foi<br />
considerado uma condição básica para a caracterização da predominância da racio<strong>na</strong>lidade<br />
substantiva <strong>na</strong>s organizações pesquisadas. Salienta Serva (1997a, 1997b) que outras formas<br />
de orde<strong>na</strong>ção social e de produção podem ser encontradas atualmente, e exigem, para sua<br />
análise, outros instrumentos de interpretação e também referenciais alter<strong>na</strong>tivos à lógica<br />
utilitarista.<br />
Em sua análise sobre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo, Weber<br />
argumenta que o asceticismo da ética protestante no trabalho criou as condições para que se<br />
dissemi<strong>na</strong>ssem a racio<strong>na</strong>l-instrumentalização da ação social e a burocratização (fruto da<br />
racio<strong>na</strong>l-instrumentalização). Essas, com o tempo acabariam por criar uma “gaiola de ferro”<br />
que tolheria a liberdade huma<strong>na</strong> (Weber, 1991) e que aconteceria sempre que prevalecesse a<br />
racio<strong>na</strong>lidade instrumental como única ou principal motivação de todas as ações sociais.<br />
As referências para a ação huma<strong>na</strong> são tomadas em valores, independentemente dos<br />
resultados a serem obtidos. A quarta racio<strong>na</strong>lidade, a racio<strong>na</strong>lidade formal, oferece, como<br />
referência à ação huma<strong>na</strong>, a aplicação de regras, leis e regulamentos tor<strong>na</strong>dos<br />
institucio<strong>na</strong>lizados em determi<strong>na</strong>do contexto, referenciado no cálculo utilitário de<br />
conseqüências no estabelecimento de relações meio-fim. Fica evidente que o modelo<br />
6
urocrático formalmente racio<strong>na</strong>l, com predomínio da ação orientada para normas, regras,<br />
regimentos e estatutos considerados como os meios mais adequados para o contínuo<br />
funcio<strong>na</strong>mento e alcance dos objetivos.<br />
Os demais tipos de racio<strong>na</strong>lidade são ignorados ou desconsiderados enquanto<br />
possibilidade de entendimento da realidade; quando muito, a racio<strong>na</strong>l formal é utilizada de<br />
modo subalterno. Tendo com exemplo, é facilmente observável como a racio<strong>na</strong>lidade<br />
substantiva vem sendo utilizada enquanto um meio para a prevalência de atitudes e ações<br />
sociais e organizacio<strong>na</strong>is centrados no padrão referenciado pela racio<strong>na</strong>lidade formal.<br />
Tendo considerado as quatro racio<strong>na</strong>lidades apontadas por Weber (1991), permite-se<br />
considerar e desmistificar o caráter predomi<strong>na</strong>nte da racio<strong>na</strong>lidade formal, evidenciando a<br />
necessidade de considerar as demais tipologias de racio<strong>na</strong>lidade, sob pe<strong>na</strong> de estar sendo<br />
parcial, ao utilizar a tipologia weberia<strong>na</strong> da racio<strong>na</strong>lidade para explicar e legitimar as escolhas<br />
<strong>na</strong>s organizações.<br />
A Figura 1 possibilita ter as quatro dimensões de racio<strong>na</strong>lidade proposta por Weber.<br />
Na verdade, a racio<strong>na</strong>lidade é u<strong>na</strong>, desdobrada pelo autor enquanto recurso de construção,<br />
permitindo maior clareza e entendimento da construção do esquema conceitual.<br />
Esse modelo permite apontar como uma das possibilidades de compreensão das crises,<br />
contradições e conflitos organizacio<strong>na</strong>is, ou mesmo, a própria limitação e indução ao erro<br />
presente <strong>na</strong>s escolhas de formatos ou modelo organizacio<strong>na</strong>is, a essa percepção da<br />
racio<strong>na</strong>lidade de maneira limitada. E quando outros formatos organizacio<strong>na</strong>is surgem e<br />
consegue ter perenidade falta fundamentação teórica que permita compreender tal fato.<br />
Prática<br />
Substantiva<br />
7<br />
Teorética<br />
Formal<br />
Figura 1 - Dimensões de Racio<strong>na</strong>lidade em Weber<br />
Fonte: autoria própria<br />
É facilmente observável que o elemento estrutura encontra-se presente em toda parte,<br />
seja racio<strong>na</strong>lmente definida ou não, seja claramente identificada e entendida ou não, à medida<br />
que, a organização cresce de tamanho, que passa a atuar em uma área geográfica maior, que<br />
diversifica o número de produtos e serviços ofertados, passa a <strong>na</strong>turalmente necessitar de um<br />
grau de organicidade mais elevado.<br />
Na verdade, a racio<strong>na</strong>lidade é u<strong>na</strong>, desdobrada pelo autor enquanto recurso de<br />
construção, permitindo maior clareza e entendimento da construção do esquema conceitual.<br />
Esse modelo permite apontar como uma das possibilidades de compreensão das crises,<br />
contradições e conflitos organizacio<strong>na</strong>is, ou mesmo, como a própria limitação e indução ao<br />
erro, presente <strong>na</strong>s escolhas de formatos ou modelo organizacio<strong>na</strong>is, essa percepção da<br />
racio<strong>na</strong>lidade de maneira limitada. E quando outros formatos organizacio<strong>na</strong>is surgem e<br />
consegue ter perenidade, falta fundamentação teórica que permita compreender tal fato.<br />
Observa-se que a construção do conhecimento organizacio<strong>na</strong>l, especialmente daquele<br />
propug<strong>na</strong>dor de ações, se faz predomi<strong>na</strong>ntemente norteado por uma perspectiva<br />
eminentemente formal, ignorando as demais dimensões presentes e inerentes à própria<br />
compreensão e análise organizacio<strong>na</strong>l.<br />
O presente tópico resgatou as bases norteadoras do agir e entender a organização<br />
dentro da perspectiva da racio<strong>na</strong>lidade instrumental, sendo essa a prevalecente nos estudos<br />
organizacio<strong>na</strong>is, ainda que ganhem corpo considerações que apontem os limites dessa
perspectiva de análise. E sobre essas outras possibilidades, de <strong>na</strong>tureza subjetiva é que o<br />
próximo tratará.<br />
3. Racio<strong>na</strong>lidade e <strong>Subjetividade</strong><br />
Ao desdobrar a articulação entre a racio<strong>na</strong>lidade e a objetividade evidenciou-se uma<br />
outra perspectiva de análise e consideração, ao discorrer sobre as dimensões de racio<strong>na</strong>lidade<br />
presentes em WEBER (1991).<br />
Com o presente tópico pretende-se identificar a perspectiva de análise organizacio<strong>na</strong>l a<br />
partir de elementos eminentemente subjetivos. O propósito é, portanto, demonstrar que<br />
subjetividade e racio<strong>na</strong>lidade não são elementos incongruentes e que, portanto, podem<br />
auxiliar a compreensão e análise dos fenômenos organizacio<strong>na</strong>is.<br />
O termo subjetividade tem suas origens no desenvolvimento da consciência individual<br />
do pensamento humano e busca desig<strong>na</strong>r a essência ou fundamento que caracteriza e<br />
diferencia as pessoas umas das outras. Moder<strong>na</strong>mente o subjetivismo é uma doutri<strong>na</strong> que<br />
reduz a realidade ou os valores a estados do sujeito (universal ou individual). Fala-se de<br />
subjetivismo moral e o subjetivismo estético quando o bem, o mal, o belo ou o feio são<br />
reduzidos às preferências individuais (ABBAGNANO, 1970).<br />
A subjetividade huma<strong>na</strong> apresenta componentes de individualização do sujeito que<br />
estão determi<strong>na</strong>dos pelos caracteres de autonomia e de auto-organização e que segundo Morin<br />
(1995) se dá a partir de três princípios, que podem ser sintetizados em:<br />
• o do computo que se constitui <strong>na</strong> construção identitária do indivíduo a partir de<br />
aspectos de referência exter<strong>na</strong> e inter<strong>na</strong> intercomunicáveis;<br />
• o informático da realidade que se constitui segundo as percepções e<br />
interpretações do indivíduo da realidade; e<br />
• o do eu que se constitui das mudanças e transformações do si.<br />
Tal conceito determi<strong>na</strong> uma construção ímpar e particularizada da subjetividade que a<br />
tor<strong>na</strong> apropriação única, onde o indivíduo considera-se a partir da auto-subsistência e autosustentação<br />
frente a padrões pessoais de interpretação da realidade social. A construção de<br />
parâmetros definidores da individualidade e subjetividade huma<strong>na</strong>s concentrou-se em fatores<br />
externos e garantiu uma maior tendência exóge<strong>na</strong> em considerar alguns objetos como<br />
relevantes.<br />
Este posicio<strong>na</strong>mento humano, segundo Morin (1998) desconstruiu alguns pilares da<br />
própria estruturação do eu, dentre eles:<br />
a) a diferenciação do EU (ato de ocupação do lugar central no próprio mundo) do<br />
NÃO-EU (em que há um questio<strong>na</strong>mento de si próprio e se cria uma imagem –<br />
do outro – exter<strong>na</strong> como responsável pela definição de si próprio);<br />
b) a percepção da continuidade dos atos e a permanência de determi<strong>na</strong>das<br />
concepções – a continuidade histórica do eu passa a ser fator secundário em<br />
relação àquilo que se deseja no agora, no presente, sem haver uma preocupação<br />
direta com passado e futuro e nenhuma interligação entre as fases temporais do<br />
homem;<br />
c) a possibilidade de exclusão centrada em si próprio e responsável pelas próprias<br />
realizações apresenta-se substituída pela centralidade do outro e da<br />
possibilidade de se perceber, em maior intensidade, a partir da realização<br />
própria percebida pelo outro;<br />
d) a possibilidade de inclusão passa a ser percebida a partir da inscrição dos<br />
outros em si mesmo; e,<br />
e) a intercomunicação tor<strong>na</strong>-se válida segundo processos de alteridade em que há<br />
a necessidade de se estar com outro enquanto princípio estrutural e<br />
estruturante.<br />
8
Tais fatores estruturadores da subjetividade contemporânea podem ser percebidos sob<br />
a ótica do mundo do trabalho, cujas modificações estabeleceram novas formas e relações<br />
entre indivíduo e organização. Segundo, De Masi (1997) e Bell (1977) às mudanças ocorridas,<br />
provocadas pelas tendências macroeconômicas da sociedade pós-industrial, levou a uma<br />
redefinição da concepção de subjetividade huma<strong>na</strong> contemporânea estimulando um processo<br />
de desconstrução de conceitos para instituir novas caracterizações e fatores à subjetividade<br />
moder<strong>na</strong>.<br />
Tal construção da análise da sociedade pós-industrial e as influências destas variáveis<br />
<strong>na</strong> subjetividade huma<strong>na</strong> são percebidas de forma diferenciada por Baudrillard (1991) em que<br />
se identifica uma mentalidade individualista e consumista do homem, a qual é constituída pela<br />
manipulação dos objetos, a super variedade dos mesmos que determi<strong>na</strong>m a “livre”<br />
possibilidade de escolha, ou seja, “não se pode deixar de não escolher”.<br />
Além destas, há a consumação da subjetividade huma<strong>na</strong>, determi<strong>na</strong>da pelo modo ativo<br />
de estabelecimento das relações definidas pelas escolhas feitas, que se apresentam segundo a<br />
satisfação dos desejos e a temporalidade com que definem tais satisfações. Assim sendo, a<br />
subjetividade contemporânea constituída pelo homem moderno, segundo caracterização de<br />
Rojas (1997), apresenta-se segundo três conceituações:<br />
a) a subjetividade neomoder<strong>na</strong> – que apresenta uma superação do paradigma<br />
estabelecido a partir da dimensão da reflexão e centralização do sujeito ou a<br />
reconstrução da mesma;<br />
b) a subjetividade pós-moder<strong>na</strong> – <strong>na</strong> qual o sujeito não apresenta capacidade de<br />
perceber as estruturas constituintes da consciência que determi<strong>na</strong>m uma rede<br />
global de significados sob os quais o homem não apresenta capacidade de<br />
domínio;<br />
c) e a negação da subjetividade – a partir de concepções anti-humanistas de<br />
caráter científico (destino pré-estabelecido do homem), filosófico<br />
(estruturalismo francês) e contestatório (atitudes da sociedade contemporânea<br />
que denunciam a repressão).<br />
A desconstrução do modelo paradigmático estabelecido e a possibilidade de<br />
reconstrução da subjetividade do homem desafiam a capacidade do indivíduo em encontrar a<br />
si mesmo a partir de um conceito diferente de subjetividade segundo o ego-transcendental, da<br />
capacidade de se perceber como ser do mundo – dasein – e da razão comunicativa que se<br />
centraliza <strong>na</strong> linguagem huma<strong>na</strong> como foco.<br />
Os fenômenos contemporâneos que determi<strong>na</strong>m tais mudanças <strong>na</strong> percepção do<br />
homem de sua própria caracterização e subjetividade são percebidos, segundo Rojas (1997),<br />
sob as seguintes perspectivas:<br />
a) a centralização da vida moder<strong>na</strong> no individualismo, ou seja, a invasão da<br />
sociedade pelo “eu” que determi<strong>na</strong> a perda da dimensão histórica e o declínio<br />
da herança antropológica e a preocupação central do próprio “eu” no lugar do<br />
âmbito “religioso” (busca da saúde e da segurança psíquica), que determi<strong>na</strong>m<br />
necessidades psicosociais devido ao excessivo individualismo a partir da<br />
exclusão do outro e da perda da liberdade;<br />
b) a era do vazio ou sedução “no stop” que se diferencia pela super multiplicação<br />
das escolhas e do processo de perso<strong>na</strong>lização das coisas e de erotização das<br />
mesmas;<br />
c) e a “pura indiferença” dos indivíduos, caracterizada pelo desinvestimento<br />
emocio<strong>na</strong>l, a partir do despir de alguns valores e virtudes com destruição de<br />
algumas instituições historicamente aceitas, além do desaparecimento de<br />
ideologias sociais, da desarticulação de antigos valores e surgimento de novos,<br />
9
ocorrendo a substituição da sociedade “do discurso” pela sociedade “da<br />
imagem”.<br />
Assim sendo, exige-se um novo modelo de subjetividade, uma vez que o conceito<br />
paradigmático adotado não capta de maneira satisfatória as variáveis relevantes para<br />
interpretação do homem e da realidade contemporânea. Os processos de desconstrução e<br />
reconstrução do modelo estabelecido apresentam como um dos fatores relevantes à<br />
centralidade, ou a perda desta, da variável trabalho <strong>na</strong>s instituições e concepções consideradas<br />
prioritárias pelo homem.<br />
A predominância do “estar sendo”, que representa a aparência do “ser”, segundo<br />
Habermas (1987), define relações singulares <strong>na</strong> ‘identidade de papel’ e <strong>na</strong> ‘identidade do eu’,<br />
que constituem a incorporação de unidades simbólicas mediadas pela socialização a partir da<br />
integração dos papéis sociais representados. Estas relações existentes entre indivíduo e<br />
organização permitem o aparecimento de novos conceitos e de variáveis relevantes ao<br />
processo de construção da subjetividade huma<strong>na</strong> no trabalho que anteriormente não eram<br />
consideradas.<br />
As mudanças no mundo do trabalho e as consideradas no contexto social-econômico<br />
vigente ao fi<strong>na</strong>l do século XX determi<strong>na</strong>m novas formas de percepção da subjetividade<br />
huma<strong>na</strong> e como esta vem sendo influenciada pelo mundo do trabalho. Percebe-se que a<br />
subjetividade, enquanto perspectiva de análise organizacio<strong>na</strong>l, ainda é pouco explorada,<br />
dentre outros aspectos, por não prometer ou apontar ganhos palpáveis ou resultados<br />
mensuráveis. Ainda assim, é inegável, a proximidade proporcio<strong>na</strong>da por essa perspectiva, do<br />
indivíduo e suas escolhas de modo a considerar tais escolhas, como únicas, particulares, mas<br />
envoltas em uma totalidade, em uma busca de unidade.<br />
4. <strong>Objetividade</strong> e <strong>Subjetividade</strong>: a mediação<br />
Neste tópico busca-se estabelecer uma articulação entre os tópicos anteriores, tendo<br />
como pano de fundo os estudos organizacio<strong>na</strong>is, de maneira a apontar as complementações<br />
existentes entre as perspectivas subjetivistas e objetivas, portanto, consideradas como<br />
auxiliares no entendimento do cotidiano organizacio<strong>na</strong>l.<br />
Bo<strong>na</strong>zzi (2000) aponta a crescente influência nos estudos organizacio<strong>na</strong>is da<br />
subjetividade em razão da crescente presença de métodos e perspectivas calcados <strong>na</strong><br />
percepção do sujeito, a exemplo da fenomenologia, do simbolismo, do cognitivismo, da<br />
etnografia, dentre outros. Os estudos organizacio<strong>na</strong>is passam a valorar a dimensão subjetiva,<br />
sem com isso a dimensão objetiva deixe ser considerada e apropriada <strong>na</strong> a<strong>na</strong>lise<br />
organizacio<strong>na</strong>l.<br />
Já ao considerar a abordagem subjetiva, com base em recursos simbólicos merece<br />
referência, Weick (1973). Para ele o mundo externo não tem um sentido em si, e que são os<br />
seres humanos que atribuem sentido ao mundo, logo o processo cognitivo através do qual o<br />
ser humano apropria e acoberta suas experiências é o foco para os estudos sociais e<br />
organizacio<strong>na</strong>is. A outra perspectiva – fenomenológica – considera que não deve haver<br />
premissas <strong>na</strong> análise do fato ou ação social, afi<strong>na</strong>l é ele que vai se revelar ou desvelar.<br />
Peci (2002) traz à to<strong>na</strong> a questão da necessidade de mediação da subjetividade e<br />
objetividade considerando as contribuições sociológicas, em particular de Giddens e<br />
Bourdieu, evidenciando a presença de elementos de argumentação que permitem construir<br />
pontes entre as duas dimensões.<br />
Verifica-se que o processo de maturação decorrente dos debates envolvidos <strong>na</strong> questão<br />
subjetividade e objetividade, no âmbito da pesquisa organizacio<strong>na</strong>l ganhou corpo <strong>na</strong>s últimas<br />
três décadas de modo a considerar a complementaridade entre as abordagens objetivas e as<br />
abordagens subjetivas, colocadas aqui no plural, para deixar claro que mesmo em cada<br />
10
abordagem, há em verdade, diferentes abordagens que comungam de pontos comuns que<br />
permitem a inserção em um dado grupo.<br />
É importante reconhecer, ou melhor, não ignorar que a pesquisa nos estudos<br />
organizacio<strong>na</strong>is tem sido caracterizada por enfocar o seu objeto de estudo - a organização - a<br />
partir de uma visão unidiscipli<strong>na</strong>r, o desafio que se mostra necessário é buscar a<br />
multidiscipli<strong>na</strong>riedade, alimentando-se das contribuições de teorias psicológicas, sociológicas,<br />
antropológicas, psica<strong>na</strong>lítica, sem cair <strong>na</strong> superficialidade. O desafio reside <strong>na</strong> identificação<br />
de conceitos que tais sínteses possam ser realizadas.<br />
5. A Estética, a <strong>Subjetividade</strong> e o Marketing<br />
Após considerar a necessidade de mediar a objetividade e a subjetividade nos estudos<br />
organizacio<strong>na</strong>is cabe apontar, ao menos, uma das perspectivas da subjetividade<br />
organizacio<strong>na</strong>l (a dimensão estética) mediada com elementos de objetividade <strong>na</strong>s escolhas e<br />
ações da área do Marketing..<br />
Uma das dificuldades apontadas pelos dirigentes e membros das organizações decorre<br />
da ênfase no aspecto racio<strong>na</strong>l, técnico, já presente <strong>na</strong> formação universitária de tais<br />
profissio<strong>na</strong>is, que acabam por desenvolver uma alta capacidade a<strong>na</strong>lítica que, mesmo assim,<br />
não tem se mostrado suficientemente para fazer face ao di<strong>na</strong>mismo social e organizacio<strong>na</strong>l,<br />
incorrendo em riscos a própria sobrevivência (CHANLAT, 1992).<br />
No contexto acadêmico, mormente as pesquisas, o problema também se apresenta, à<br />
medida que, os estudos convergem majoritariamente para elementos mensuráveis, objetivos,<br />
que por si só não se mostram suficientes, pois ao concentrar-se <strong>na</strong>s técnicas e aspectos lógicos<br />
não se consegue dar conta dos elementos subjetivos presentes e inerentes ao processo de<br />
interação huma<strong>na</strong> e organizacio<strong>na</strong>l.<br />
Os pesquisadores organizacio<strong>na</strong>is não podem desconhecer por um lado, o traço<br />
marcante de racio<strong>na</strong>lidade e empirismo presente nos estudos organizacio<strong>na</strong>is, contribuição da<br />
modernidade, como foi delineado anteriormente. Tampouco podem ignorar as críticas dos<br />
pesquisadores pós-modernos. E aí, estabelece-se a necessidade de mediação. A consideração<br />
da Estética para a análise organizacio<strong>na</strong>l é um caminho que valorizada a subjetividade nos<br />
estudos organizacio<strong>na</strong>is conforme aponta LEAL (2000a; 2001); CARR & HANCOCK<br />
(2002).<br />
Tal possibilidade, anteriormente, se fez presente em Strati (1992), que discorre sobre<br />
as possibilidades da Estética contribuir <strong>na</strong> análise organizacio<strong>na</strong>l, numa abordagem que<br />
auxiliará no lidar com a complexidade, ambigüidade e sutileza das organizações<br />
contemporâneas. Faz questão de evidenciar o fato de que a compreensão estética da vida<br />
organizacio<strong>na</strong>l é uma metáfora epistemológica, ou seja, uma forma de aprendizado diverso<br />
daqueles baseados em métodos a<strong>na</strong>líticos.<br />
Cabe destacar a importância da Estética enquanto uma das formas de conhecimento,<br />
portanto, não a única, e que ao reconhecê-la enquanto dimensão, aspecto e objeto da vida<br />
organizacio<strong>na</strong>l ganha-se em riqueza, singularidade, subjetividade.<br />
Strati (1999) ao apontar a Estética como elemento central da vida organizacio<strong>na</strong>l<br />
considera-a como uma forma de conhecimento humano que envolve o julgamento estético,<br />
uma faculdade utilizada para avaliar se algo é prazeroso ou, alter<strong>na</strong>tivamente, se é adequado<br />
ao nosso gosto ou, ainda, se nos ‘envolve’ ou é indiferente.<br />
Outro autor que utiliza a experiência estética enquanto elemento de análise<br />
organizacio<strong>na</strong>l é Gagliardi (1996), que aponta, inicialmente, três perspectivas da experiência<br />
estética a ser considerada nos estudos organizacio<strong>na</strong>is, a saber: a) enquanto forma de<br />
conhecimento sensível diferente e em contraposição ao conhecimento intelectual; b) enquanto<br />
forma de expressão da ação desinteressada, sem uma fi<strong>na</strong>lidade instrumental explicitada; e c)<br />
enquanto forma de comunicação, diferente da conversa ou diálogo que pode expressar<br />
11
sentimentos que não pode ser explicitada ou codificado <strong>na</strong>s bases até então conhecidas.<br />
Ao delinear como cada uma dessas dimensões se faz presente <strong>na</strong> vida cotidia<strong>na</strong> da<br />
organização (Gagliardi, 1996) alerta para a profunda influência que a dimensão estética tem<br />
sobre a organização, inclusive sobre a performance da mesma e que a escassez de estudos que<br />
privilegiem o elemento estético decorre da prevalência de premissas lógicas e ideológicas em<br />
detrimento de premissas intuitivas e estéticas. Uma vez que a dimensão estética exige formas<br />
de entendimento intuitivas, particular, acaba por ser deixada de lado, por métodos a<strong>na</strong>líticos<br />
ditos e tidos como precisos e passíveis de mensuração, com evidencia CHANLAT (1992);<br />
STRATI (1992).<br />
Menos amarrados à perspectiva de organização enquanto estrutura física, os estudos<br />
envolvendo a estética da vida organizacio<strong>na</strong>l tiveram edição especial <strong>na</strong> revista Dragon tendo<br />
por temática “a arte e a organização” editada por Pierre-Jean Benghozi em 1987. Os artigos<br />
selecio<strong>na</strong>dos destacam a criatividade enquanto elemento inerente as pessoas e as<br />
organizações. As práticas organizacio<strong>na</strong>is, segundo Benghozi podem e devem ser a<strong>na</strong>lisadas<br />
considerando e articulando com a arte.<br />
Mas a revista enfatiza a dimensão estética e, três artigos merecem especial atenção e<br />
cujos autores (Dégot, 1987; Ramirez, 1987; Rusted, 1987) ilustram as diferentes<br />
aproximações dos estudos envolvendo a estética organizacio<strong>na</strong>l sem recorrer às estruturas<br />
físicas de organização. Acabaram por enfatizar a sistematização do conhecimento por meio de<br />
a<strong>na</strong>logias com arte; o exame da beleza da organização e dos julgamentos do sentimento<br />
estético com respeito à organização como um todo; e o estudo de como são mediadas as<br />
estéticas em práticas estéticas. Estes três estudos diretamente enfatizam o ponto de vista do<br />
investigador e reconhece a importância do envolvimento estético no processo de juntar<br />
conhecimento sobre culturas organizacio<strong>na</strong>is e símbolos.<br />
Schmitt & Simonson (2000) ao considerar as qualidades estruturais e referenciais da<br />
Estética em uma organização, alerta que algumas das percepções no âmbito organizacio<strong>na</strong>l<br />
são diretas, enquanto, a maior parte, é mediada cognitivamente, ou melhor, faz uso de<br />
elementos simbólicos para percepção e interpretação, é o elemento subjetivo. A mediação<br />
entre a subjetividade (dimensão estética) e a objetividade, faces da percepção e análise da<br />
realidade, pode ser caracterizada pela articulação entre três áreas distintas, a saber, o design de<br />
produto; a comunicação e o design espacial expressa <strong>na</strong> Figura 2.<br />
Ao exami<strong>na</strong>r a Figura 2 como mais atenção pode ser constado que <strong>na</strong>s diferentes áreas<br />
organizacio<strong>na</strong>is, seja design, produção, ergonomia, imagem e identidade, simbolismo, dentre<br />
outros, há a convergência das dimensões objetiva e subjetiva. Ao considerar a subjetividade<br />
<strong>na</strong> análise, onde, até então havia ape<strong>na</strong>s a valorização da objetividade, certamente tem-se<br />
melhor entendimento e compreensão os elementos e aspectos envolvidos.<br />
Verifica-se que o desenvolvimento das organizações exige ir além de diferenciais<br />
relativos a qualidade de produtos ou serviços, da gestão, busca-se diferenciação de modo a<br />
criar uma atração irresistível, a estética tem sido usado como um caminho para propiciar essa<br />
identidade gerando percepções positivas por parte dos clientes. Como exemplo de tais<br />
estratégias temos como exemplo a Nike, a Starbucks, a IBM, a Sony, dentre outras.<br />
Design de Produto Função Forma<br />
Comunicação Mensagem central Mensagem periférica<br />
Design Espacial Estrutura Simbolismo<br />
<strong>Objetividade</strong> <strong>Subjetividade</strong><br />
Figura 2. A Presença da Estética no âmbito da organização.<br />
Fonte: Ber<strong>na</strong>rd (2000) c/adaptações<br />
12<br />
Estética
Ao relatar os benefícios da estética para as organizações Ber<strong>na</strong>rd & Simonson (2000)<br />
relata que a estética propicia fidelidade, permite preços elevados, transpõe o excesso de<br />
informações, permite proteção aos ataques da concorrência, aumenta a produtividade, reduz<br />
custos, considerando que todas esses potenciais benefícios depende, <strong>na</strong>turalmente, de um<br />
gerenciamento adequado.<br />
No Brasil há alguns trabalhos envolvendo a dimensão estética com vista a sua<br />
integração <strong>na</strong> análise organizacio<strong>na</strong>l, a exemplo dos desenvolvidos por Leal (2000a; 2000b;<br />
2001), os mesmos buscam articular a dimensão subjetiva, enfatizando a Estética, associando-a<br />
a arte, a gestão, a criatividade, as racio<strong>na</strong>lidades e a cultura organizacio<strong>na</strong>l, evidenciando a<br />
Estética como elemento onipresente, dimensão influenciadora do cotidiano organizacio<strong>na</strong>l.<br />
Os trabalhos acima referenciados demonstram as possibilidades concretas de uso da<br />
Estética para análise organizacio<strong>na</strong>l, adentrando os aspectos subjetivo, sensível, afetivo,<br />
emocio<strong>na</strong>l pouco explorado e mesmo ignorado. Naturalmente as perspectivas no uso da<br />
Estética, mesmo já considerada e absorvida pelo marketing continua por serem exploradas,<br />
dada a resistência inicial, em face do primado da racio<strong>na</strong>lidade.<br />
É a partir da valorização da dimensão subjetiva, a exemplo da Estética que se<br />
evidencia as possibilidades de ampliar as bases para a análise organizacio<strong>na</strong>l, que integra<br />
subjetividade e objetividade <strong>na</strong>s ações efetivadas pelo Marketing.<br />
Considerações Fi<strong>na</strong>is<br />
Os estudos organizacio<strong>na</strong>is, <strong>na</strong>s últimas décadas, têm enfatizado aspectos de <strong>na</strong>tureza<br />
objetiva – teórico e empírico, entretanto, tais dimensões não têm sido suficientes para fazer<br />
face as constantes, dinâmicas e complexas mudanças que tem ocorrido no campo<br />
organizacio<strong>na</strong>l (Martin, 1990; Reed, 1985). Faz-se necessário adentrar e valorizar aspectos de<br />
<strong>na</strong>tureza subjetiva, sem deixar de lado o conhecimento organizacio<strong>na</strong>l objetivado. Fazer a<br />
conexão desses dois aspectos tornou-se crucial e decisivo para a sobrevivência das<br />
organizações, portanto, não se trata de uma alter<strong>na</strong>tiva de pesquisas acadêmicas.<br />
Compreender as inter-relações do processo organizacio<strong>na</strong>l continua sendo relevante<br />
para as organizações, e a conexão com a subjetividade mostra-se determi<strong>na</strong>nte para o avanço<br />
<strong>na</strong> compreensão da dinâmica organizacio<strong>na</strong>l, que assim pode ser considerado, não ape<strong>na</strong>s<br />
enquanto processo decorrente da racio<strong>na</strong>lidade instrumental, mas também, enquanto<br />
possibilidade de concepção de algo novo.<br />
Vislumbra-se novas possibilidades para os estudos organizacio<strong>na</strong>is, que considerem a<br />
subjetividade, através da dimensão estética, de modo a integrar a racio<strong>na</strong>lidade instrumental, a<br />
outros elementos de <strong>na</strong>tureza subjetiva, parte integrante da racio<strong>na</strong>lidade nomi<strong>na</strong>da por Weber<br />
(1991; 1963) de afetiva e de valorativa. Essa articulação é apontada por Leal (2000a; 2001),<br />
delineando a necessidade de tal mediação.<br />
Esse novo âmbito da considerar a subjetividade das organizações, a partir da estética já<br />
se faz no campo organizacio<strong>na</strong>l, ainda que concentrado <strong>na</strong>s características do serviço ou<br />
produto; no ambiente de trabalho, particularmente nos equipamentos e acessórios; e mais<br />
recentemente nos estudos relativos à cultura organizacio<strong>na</strong>l (Leal, 2000b; Wood Jr & Csillag,<br />
2001). Tem assim deixado de lado a perspectiva auxiliar da dimensão estética presente de<br />
modo intrínseco <strong>na</strong>s atividades cotidia<strong>na</strong>s do ser humano, e certamente, relevante para o<br />
processo de aprendizagem e conhecimento num quadro organizacio<strong>na</strong>l de mudanças e<br />
transformações intermitentes.<br />
O presente artigo buscou demonstrar, a partir de autores considerados clássicos nos<br />
estudos organizacio<strong>na</strong>is, a presença da objetividade e da subjetividade advogando que tanto<br />
uma como outra são partes integrantes da racio<strong>na</strong>lidade, esta centrada <strong>na</strong> percepção individual<br />
13
acerca de um dado objeto ou fenômeno, portanto a objetividade, assim como a subjetividade<br />
contribui para a compreensão dos fatos e fenômenos organizacio<strong>na</strong>is.<br />
O resgate da contribuição de Weber (1963, 1991) para evidenciar que o mesmo já<br />
considerava a existência <strong>na</strong> racio<strong>na</strong>lidade de dimensões objetivas e subjetivas, e isso está<br />
corroborado nos trabalhos de SERVA (1997A; 1997B) RAMOS (1981), BONAZZI (2000) E<br />
PECI (2002).<br />
De modo similar foi identificado autores a exemplo de Dégot (1987); Ramirez (1987);<br />
Strati (1992; 1999), Gagliardi (1996), Leal (2000a; 2000b; 2001) Carr & Hancock (2002) que<br />
apontam a subjetividade, destacando a Estética, como caminho para ampliar a análise<br />
organizacio<strong>na</strong>l.<br />
O breve uso da área de Marketing para evidenciar a necessária, possível e <strong>na</strong>tural<br />
mediação entre as dimensões objetiva e subjetiva é efetuada através da Figura 2, afi<strong>na</strong>l o<br />
maior propósito do artigo é a proposição do equilíbrio entre as diferentes perspectivas, afi<strong>na</strong>l<br />
diferentes situações exigem o uso de diferentes perspectivas, afi<strong>na</strong>l, se alguém pensou,<br />
formulou, explicitou é em razão da possibilidade real de dar conta, compreender, explicar a<br />
realidade, seja de modo objetivo, seja de modo subjetivo.<br />
Assim o principal propósito deste artigo refletir sobre a necessidade de integração das<br />
perspectivas subjetivas e objetivas já presentes <strong>na</strong> análise organizacio<strong>na</strong>l, por reconhecer a<br />
presença de argumentos teóricos que evidenciam tal fato, aliado a um exemplo concreto,<br />
envolvendo a área do Marketing que faz uso de ambas dimensões, não ape<strong>na</strong>s <strong>na</strong> análise, mas<br />
também <strong>na</strong> ação organizacio<strong>na</strong>l.<br />
REFERENCIAS<br />
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1970.<br />
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio d’água, 1991.<br />
BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial: uma tentativa de previsão social. São<br />
Paulo: Cultrix, 1977.<br />
BONAZZI, G. Storia del pensiero organizzativo. Colla<strong>na</strong> di sociologia. Milano, Italia:<br />
FrancoAgneli. 2000.<br />
CARR, A.; HANCOCK, P. Art and aesthetics at work an overview. Tamara: Jour<strong>na</strong>l of<br />
Critical Postmodern Organization Science. Las Cruces, 2002. Vol. 2, Issue, 1. p. 1-8.<br />
CHANLAT, J. F. (coord.) O Indivíduo <strong>na</strong> organização: dimensões esquecidas. São Paulo:<br />
Atlas, 1992.<br />
CLEGG, Stewart. Modern Organization. London: Sage, 1990.<br />
COOPER, R. & BURRELL, G. “Modernism, Postmodernism and Organization A<strong>na</strong>lysis: an<br />
Introduction”, Organization Studies, v. 9, n. 1, 1988.<br />
DEGOT, V. Portrait of the ma<strong>na</strong>ger as <strong>na</strong> artist. Dragon, v. 2, nº 4, 1987.<br />
DE MASI, Domenico. A emoção e a regra. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.<br />
GAGLIARDI, P. Exploring the aesthetic side of organization life. In: CLEGG, S.R.;<br />
HARDY, C., NORD, W.R. (eds). Handbook of organization studies. London : Sage, 1996.<br />
HABERMAS, J. Teoria de la Acción Comunicativa - Vol 1. Madri: Taurus. 1987.<br />
HASSARD, J. Na alter<strong>na</strong>tive to paradigm incommensurability in organization theory. In:<br />
HASSARD, J. & PYM, D.. The Theory and philosophy of organizations - critical issues and<br />
new perspectives. London : Routledge, 1990<br />
14
LEAL, R. S. Dimension aesthetics: the essence of the creativity and innovation in the choices<br />
and changes organizations. Second Inter<strong>na</strong>tio<strong>na</strong>l Conference of the Iberoamerican. Academy<br />
of Ma<strong>na</strong>gement. México, 2001.<br />
___________. A Dimensão Estética enquanto elemento influenciador da cultura<br />
organizacio<strong>na</strong>l: construção de um referencial de análise. A<strong>na</strong>is do XXIII Encontro Nacio<strong>na</strong>l<br />
da Associação de Entidades de Pós-Graduação em Administração. Florianópolis, 2000b.<br />
___________. Contribuições da Estética para a análise organizacio<strong>na</strong>l: a abordagem de uma<br />
dimensão huma<strong>na</strong> esquecida. A<strong>na</strong>is do I Encontro Nacio<strong>na</strong>l de Estudos Organizacio<strong>na</strong>is –<br />
Eneo, Curitiba, 2000a.<br />
MORIN, Edgard. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.<br />
MOUZELIS, Nicos P. Organization and bureaucracy: an a<strong>na</strong>lysis of modern theories.<br />
Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, 1969.<br />
PECI, Alketa. Estrutura e Ação <strong>na</strong>s Organizações: Algumas Reflexões sobre as Perspectivas<br />
Prevalecentes <strong>na</strong> Teoria Organizacio<strong>na</strong>l. In: ENCONTRO DE ESTUDOS<br />
ORGANIZACIONAIS, 2., 2002, Recife. A<strong>na</strong>is... Recife: Observatório da Realidade<br />
Organizacio<strong>na</strong>l : PROPAD/UFPE : ANPAD, 2002. 1 CD.<br />
RAMIREZ, R. An aesthetic theory of social organization. Dragon, v. 2, n. 4, 1987.<br />
RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das organizações: uma nova ciência das<br />
organizações. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1981.<br />
REED, M. Redirections in organizatio<strong>na</strong>l a<strong>na</strong>lysis. London: Tavistock, 1985.<br />
ROJAS, Enrique. O Homem moderno. São Paulo: Mandarim, 1997.<br />
RUSTED, B. It’s not called show art! Aesthetic decisions as organizatio<strong>na</strong>l practice, Dragon,<br />
v. 2 , n. 4, 1987.<br />
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Convite à estética. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1992.<br />
SCHMITT, B. & SIMONSON, A. A Estética do marketing. São Paulo: Nobel, 2000.<br />
SERVA, Maurício. Abordagem substantiva e ação comunicativa: uma complementaridade<br />
proveitosa para a teoria das organizações. Revista de Administração Pública, v.31, n.2,<br />
1997b.<br />
_______________. A racio<strong>na</strong>lidade substantiva demonstrada <strong>na</strong> prática administrativa.<br />
Revista de Administração de Empresas, v.37, n.2, p.18-30, 1997a.<br />
STRATI, Antonio. Aesthetic understanding of organizatio<strong>na</strong>l life. Academy of Ma<strong>na</strong>gement<br />
Review, vol. 17, nº. 3, 1992.<br />
______________. Organization and Aesthetics. London : Sage, 1999<br />
TAYLOR, F. W. Princípios de Administração Científica. 7 . ed. São Paulo: Atlas, 1987.<br />
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1963.<br />
__________. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília:<br />
Editora da Universidade de Brasília, 1991. 1.v.<br />
WEICK, Karl. A psicologia social da organização. São Paulo: E. Blucher: EDUSP, 1973.<br />
WOOD JR., T. & CSILLAG, P. Estética organizacio<strong>na</strong>l. Organizações & Sociedade. V. 8. n.<br />
21, mai/ago. 2001.<br />
15