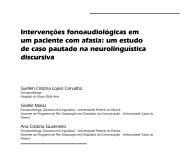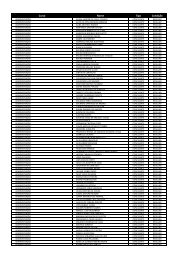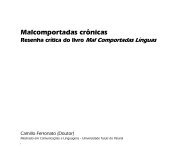Videmus nunc per speculum”: A (des)construção da memória ... - UTP
Videmus nunc per speculum”: A (des)construção da memória ... - UTP
Videmus nunc per speculum”: A (des)construção da memória ... - UTP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Videmus</strong> <strong>nunc</strong> <strong>per</strong> <strong>speculum”</strong>: A (<strong>des</strong>)<strong>construção</strong> <strong>da</strong> <strong>memória</strong> hagiográfica<br />
de são francisco DE ASSIS na primeira metade do século XIII<br />
INTRODUÇÃO<br />
Este estudo nasceu de uma inquietação pessoal nasci<strong>da</strong> há dez<br />
anos. Ain<strong>da</strong> lembro <strong>da</strong> minha reação de surpresa quando, em uma <strong>da</strong>s<br />
aulas de História Franciscana, o mestre-de-noviços ensinava, numa<br />
mistura de embaraço e provocação, que muito cedo as biografias sobre<br />
São Francisco haviam se multiplicado por to<strong>da</strong> a Europa, mostrando,<br />
assim, a fama alcança<strong>da</strong> pelo santo de Assis, e que, em 1266, numa<br />
atitude drástica, o então governo <strong>da</strong> Ordem dos Franciscanos havia<br />
decidido que essas biografias não poderiam conviver juntas. E foi o<br />
que ocorreu: a maioria delas teve que ser queima<strong>da</strong>. Assim, teve início<br />
minha busca por respostas.<br />
A princípio <strong>des</strong>ejava apenas tentar compreender melhor o referido<br />
decreto de 1266, mas, para meu espanto, fui levado a me envere<strong>da</strong>r,<br />
qual <strong>per</strong>egrino, por vi<strong>da</strong>s antigas de São Francisco e não tardou para que<br />
<strong>per</strong>cebesse que a empreita<strong>da</strong> seria mais ampla e mais fascinante do que<br />
imaginava. Fiz, minhas, as palavras do historiador Giovanni Merlo:<br />
(...) navegador solitário, através de palavras escritas, encontrei<br />
muitos homens e mulheres do passado e do presente: conhecendoos,<br />
respeitei-os e aceitei-os pelo que eram e são, sem a presunção<br />
de julgá-los (com que direito? Com que autori<strong>da</strong>de?) nem mesmo de<br />
forma implícita. Na maior parte <strong>da</strong>s vezes dialoguei com indivíduos<br />
mortos há muito tempo ( e com a sempre próxima “irmã nossa a<br />
Autor: André Luiz de Siqueira<br />
Orientadora: Geraldo Magela Pieroni<br />
morte corporal”) segundo o privilégio xamanístico do estudioso de<br />
história. Procurei compreender e repropôr fragmentos de sua vi<strong>da</strong>,<br />
na partilha de uma natureza e de um <strong>des</strong>tino comuns (MERLO,<br />
2005, p. 15).<br />
O que era para ser apenas uma investigação sobre o governo de<br />
um dos su<strong>per</strong>iores gerais <strong>da</strong> Ordem franciscana – que abarcaria o<br />
recorte temporal de 1257 a 1274 - e suas implicações para o futuro<br />
<strong>des</strong>ta instituição religiosa, tornou-se, então, uma pequena história<br />
<strong>da</strong> produção hagiográfica sobre São Francisco de Assis durante um<br />
espaço de quase quarenta anos.<br />
A história do movimento franciscano foi sempre marca<strong>da</strong> por<br />
tribulações e reformas de reformas. Ca<strong>da</strong> geração de fra<strong>des</strong> tentou,<br />
de alguma forma, construir o “seu” São Francisco. Mas qual deles foi<br />
o “ver<strong>da</strong>deiro” Francisco de Assis? Antes, que critérios seriam os mais<br />
adequados para se responder a esta <strong>per</strong>gunta? Como alertou Michel de<br />
Certeau, como avaliar um gênero literário bastante peculiar, como é o<br />
caso <strong>da</strong> hagiografia, que se apresentava como um “túmulo tautológico”<br />
(CERTEAU, 2008, p. 266) com suas próprias regras de discurso e suas<br />
próprias convicções sobre o que devia ser a “ver<strong>da</strong>de”? Deste modo, seria<br />
justo dizer que essas várias imagens de São Francisco revela<strong>da</strong>s por essas<br />
biografias podem ser simplesmente taxa<strong>da</strong>s de “falsas” ou “ver<strong>da</strong>deiras”?<br />
Estas questões acompanharam todo o feitio <strong>des</strong>te trabalho.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 1<br />
| História | 2011
O objetivo <strong>des</strong>ta análise, curiosamente, não era investigar a<br />
<strong>per</strong>sonagem histórica de Francisco de Assis, uma vez que já existe<br />
uma vasta literatura sobre este assunto. Mas, sim, debruçar-se sobre<br />
o que se escreveu dele e de sua mensagem; sobre que <strong>per</strong>cepção<br />
tinham dele a Ordem, a Igreja, o povo, e seus primeiros hagiógrafos,<br />
na primeira metade do século XIII. Em outras palavras, a problemática<br />
a que nos dispomos investigar mais de <strong>per</strong>to, neste estudo, pode ser<br />
resumi<strong>da</strong> na seguinte questão: por que algumas <strong>memória</strong>s antigas<br />
de São Francisco de Assis tiveram que ser silencia<strong>da</strong>s na déca<strong>da</strong> de<br />
1260?<br />
A literatura hagiográfica - ou as “vi<strong>da</strong>s de santos”, especialmente<br />
aquelas compila<strong>da</strong>s <strong>da</strong> Antigui<strong>da</strong>de até a I<strong>da</strong>de Média cristãs -<br />
durante muito tempo ficou à margem dos estudos historiográficos por<br />
ser considera<strong>da</strong> fonte <strong>des</strong>provi<strong>da</strong> de valor histórico, impregna<strong>da</strong> de<br />
fantasias e relatos pouco fidedignos. Entretanto, com as contribuições<br />
<strong>da</strong> História Cultural e suas novas abor<strong>da</strong>gens e novas ferramentas<br />
interpretativas, um novo olhar começou a ser lançado sobre essas<br />
narrativas.<br />
Talvez, o primeiro problema encontrado na trajetória <strong>des</strong>ta<br />
pesquisa foi articular a concepção hodierna de biografia e os riscos<br />
que se pode correr ao se conceber uma hagiografia medieval como<br />
uma biografia “comum”. Sabe-se que nas últimas déca<strong>da</strong>s houve uma<br />
espécie de “retorno <strong>da</strong> biografia” nos estudos históricos. A biografia<br />
que durante muito tempo havia sido relega<strong>da</strong> a um segundo plano<br />
na agen<strong>da</strong> de tarefas dos historiadores, passou novamente a fazer<br />
parte de suas preocupações, mesmo que com novas metodologias.<br />
Vários estudos recomeçaram, então a discutir o papel <strong>da</strong> biografia<br />
na produção historiográfica atual, como, por exemplo, os trabalhos<br />
de Giovanni Levi, defendendo o princípio de que as biografias atuais<br />
devem levar em conta a liber<strong>da</strong>de do sujeito histórico e suas tensões<br />
com os sistemas normativos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, mostrando o biografado<br />
em suas contradições; outro exemplo são as contribuições de Pierre<br />
Bourdieu, para quem o indivíduo não existe fora de uma rede de<br />
relações sociais, como num jogo de interações.<br />
Nessas discussões sobre a biografia, os trabalhos de Sabina<br />
Loriga estabeleceram foram um importante marco. Com suas<br />
novas reflexões sobre a ideia de “herói” e de “homem-partícula”,<br />
Loriga conseguiu lançar novas luzes e abrir novas possibili<strong>da</strong><strong>des</strong> de<br />
pesquisas biográficas. A autora reconhece os esforços <strong>da</strong> microhistória<br />
sobre a noção de indivíduo, chegando a afirmar que “não é<br />
necessário que o indivíduo represente um caso típico, ao contrário,<br />
vi<strong>da</strong>s que se afastam <strong>da</strong> média levam talvez a refletir melhor sobre o<br />
equilíbrio entre a especifici<strong>da</strong>de do <strong>des</strong>tino pessoal e o conjunto do<br />
sistema social” (LORIGA, Apud., REVEL, 1998, p. 248).<br />
O problema de se trabalhar com biografias antigas que não eram<br />
(ou não intencionavam ser), propriamente biografias, no sentido<br />
usual, também foi enfrentado por Jacques Le Goff, ao investir gran<strong>des</strong><br />
esforços na escrita de sua biografia sobre um rei que também foi um<br />
santo. Na introdução de seu São Luís, Le Goff, explicita sua dificul<strong>da</strong>d<br />
e em relação<br />
(...) à quali<strong>da</strong>de e aos objetivos dos biógrafos de Luís, que são<br />
quase todos, pelo menos os mais importantes, hagiógrafos. Não<br />
querem fazer dele só um rei santo. Querem fazer um rei e um santo<br />
segundo os ideais dos grupos ideológicos a que <strong>per</strong>tencem. Existe<br />
assim um São Luís <strong>da</strong>s novas ordens mendicantes – dominicanos<br />
e franciscanos – e um São Luís dos beneditinos <strong>da</strong> abadia real de<br />
Saint-Denis, mais santo mendicante para os primeiros, antes, rei<br />
“nacional” modelo para os segundos (LE GOFF, 2002, p. 22).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 2<br />
| História | 2011
Como se pode ver, foi preciso ficar atento às “armadilhas” do<br />
universo hagiográfico. Para poder pisar neste terreno delicado, evitando<br />
as armadilhas, e sem esquecer que to<strong>da</strong> “Vi<strong>da</strong>1 hagiográfica é uma<br />
história, ain<strong>da</strong> que a narrativa se organize em torno a manifestações<br />
de virtu<strong>des</strong> e de pie<strong>da</strong>de” (LE GOFF, Ibid., p. 23), vários autores e<br />
teóricos foram utilizados nesse estudo. Entre os principais, citamos os<br />
estudos sobre <strong>memória</strong> e monumento, de Jacques Le Goff, para quem<br />
a <strong>memória</strong>, além de ser um fator essencial na <strong>construção</strong> <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de<br />
de um indivíduo ou de um grupo, era ain<strong>da</strong> um eficaz instrumento de<br />
poder; ain<strong>da</strong> para as questões sobre <strong>memória</strong> e esquecimento as<br />
contribuições de Paul Ricoeur foram de grande auxílio, principalmente<br />
no que se refere ao seu conceito de “<strong>memória</strong> apazigua<strong>da</strong>” e de<br />
“esquecimento feliz”, conceitos-chave que, para o filósofo, fazem-se<br />
essenciais para se compreender a <strong>construção</strong> <strong>da</strong> História; para as<br />
reflexões sobre a literatura hagiográfica e seus diálogos com a História,<br />
foram indispensáveis as análises de Michel de Certeau sobre as<br />
relações, nem sempre tão claras, entre a noção de “ver<strong>da</strong>de” ofereci<strong>da</strong><br />
pelo olhar científico e histórico e a idéia de “ver<strong>da</strong>de” defendi<strong>da</strong> por um<br />
hagiógrafo medieval; e, finalmente, as observações de Roger Chartier<br />
sobre a representação e <strong>per</strong>cepção <strong>da</strong> santi<strong>da</strong>de foram também de<br />
grande importância, uma vez que o que estava em jogo nas várias<br />
biografias sobre São Francisco não era sua santi<strong>da</strong>de, mas como esta<br />
deveria ser representa<strong>da</strong> e <strong>per</strong>petua<strong>da</strong>.<br />
Entre os historiadores menos conhecidos, mas nem por isso<br />
menos importantes, citados neste trabalho, <strong>des</strong>tacamos os trabalhos<br />
do francês Theophile Desbonnets, que em sua provocante obra Da<br />
intuição à instituição, tentou responder à uma <strong>per</strong>gunta <strong>per</strong>tinente: “O<br />
que sobrou <strong>da</strong> intuição original de Francisco de Assis nos dias de hoje?”.<br />
A maior contribuição de Desbonnets para nosso estudo foi o modo<br />
minucioso com que investigou e rastreou as primeiras biografias de<br />
São Francisco. Os estudos do italiano Giovanni Merlo, franciscanólogo,<br />
em sua obra Em nome de São Francisco, também foram preciosos na<br />
medi<strong>da</strong> que apresentou suas análises articulando não só as antigas<br />
biografias do santo com outros documentos <strong>da</strong> Ordem, mas também<br />
com documentos eclesiásticos <strong>da</strong> época, como bulas papais, decretos<br />
pontifícios, cartas apostólicas, etc. As contribuições do especialista<br />
em “fontes franciscanas”, o brasileiro Ildefonso Silveira, não devem<br />
ser deixa<strong>da</strong>s de lado, já que ofereceram instrumentos práticos e bem<br />
acessíveis sobre as particulari<strong>da</strong><strong>des</strong> de ca<strong>da</strong> um <strong>des</strong>ses documentos<br />
franciscanos.<br />
As fontes primárias principais utiliza<strong>da</strong>s no presente trabalho<br />
de pesquisa foram produzi<strong>da</strong>s no <strong>per</strong>íodo de 1229 a 1266. Em sua<br />
maioria, essas fontes são de cunho hagiográfico, como é caso, entre<br />
as principais, <strong>da</strong> Vita I (1229), Vita II (1247) e o Tractatus Miraculis,<br />
escritas por Frei Tomás de Celano; <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior Sancti Francisci<br />
(1263), compila<strong>da</strong> por São Boaventura. Aqui aproveitamos para pedir<br />
a paciência do leitor que, talvez, poderá, eventualmente, entediarse<br />
com as longas citações de trechos <strong>des</strong>sas biografias presentes,<br />
principalmente no segundo capítulo, e que compreen<strong>da</strong> que, se assim<br />
foi deliberado, foi para <strong>per</strong>mitir que o leitor tivesse acesso ao ritmo de<br />
narrativa tipicamente medieval <strong>des</strong>sas fontes.<br />
Também foram consultados documentos <strong>da</strong> época que possuem<br />
cunho jurídico, como as Deffinitiones facte in capitulo parisiensi ordinis<br />
fratrum minorum (1266) e cunho teológico, como o Itinerarium mentis<br />
in Deum (1260). A maioria <strong>des</strong>ses documentos estava disponível em<br />
língua portuguesa, entretanto, documentos, como o “Decreto de 1266”<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 3<br />
| História | 2011
e outras fontes jurídicas franciscanas, tiveram que ser traduzi<strong>da</strong>s do<br />
italiano e do latim. To<strong>da</strong>s essas fontes foram <strong>des</strong>critas detalha<strong>da</strong>mente<br />
no decorrer <strong>des</strong>te trabalho.<br />
Neste estudo, optou-se por utilizar o método comparativo para<br />
a análise <strong>des</strong>sas antigas biografias sobre São Francisco. O intuito,<br />
conforme pode ser observado principalmente no segundo capítulo,<br />
foi comparar as fontes proscritas, isto é, as biografias escritas<br />
ou influencia<strong>da</strong>s pela vertente dita celaniana e a Legen<strong>da</strong> Maior,<br />
de São Boaventura, na tentativa de identificar as aproximações<br />
e os distanciamentos, os acréscimos e os silêncios, entres essas<br />
biografias.<br />
O trabalho foi divido em três capítulos, respeitando uma espécie<br />
de cronologia “tradicional”, isto é, iniciando por uma visão geral<br />
sobre o contexto sociocultural do século XIII, oferecendo as principais<br />
características de um século marcado por profun<strong>da</strong>s mu<strong>da</strong>nças de<br />
ordem social, econômica, política, cultural e religiosa e buscando<br />
compreender a “novi<strong>da</strong>de” do movimento franciscano neste cenário<br />
histórico. A segun<strong>da</strong> parte, apoia<strong>da</strong> por uma sóli<strong>da</strong> reflexão sobre a<br />
natureza peculiar do gênero literário hagiográfico, debruçou-se sobre<br />
uma análise breve, mas nem por isso su<strong>per</strong>ficial, <strong>da</strong>s biografias de<br />
São Francisco escritas antes <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior, tentando vislumbrar<br />
nelas os vários “rostos” construídos para o santo. Enfim, na terceira<br />
parte, este estudo tratou de investigar mais a fundo o projeto de<br />
reestruturação <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Ordem franciscana e <strong>per</strong>ceber suas<br />
implicações diretas e indiretas na <strong>construção</strong> de uma nova imagem de<br />
São Francisco de Assis.<br />
Durante esses quase oitocentos anos de história franciscana,<br />
muitos rostos foram <strong>da</strong>dos ao “santo de Assis”. Este trabalho teve,<br />
assim, a intenção de reavivar as inquietações sobre as origens <strong>des</strong>ta<br />
busca, já que, por vários séculos e até em nossos dias videmus <strong>nunc</strong><br />
<strong>per</strong> speculum et aenigmate2 .<br />
1 O AMBIENTE SOCIOCULTURAL E<br />
RELIGIOSO DO SÉCULO XIII<br />
Francisco de Assis3 foi um homem medieval. Apesar <strong>da</strong>s tentativas<br />
modernas de conceder a ele um status de homem a frente de seu<br />
tempo, é na I<strong>da</strong>de Média que deve ser procurado e compreendido a<br />
ambiência de seu carisma e de sua mensagem que encheu de fascínio<br />
e, ao mesmo tempo, <strong>des</strong>afiou tanto os seus contemporâneos quanto<br />
as futuras gerações de seus devotos e seguidores. Francisco de Assis<br />
fez parte de um mundo em que a “dor, alegria, calami<strong>da</strong><strong>des</strong>, festa,<br />
devoções, e to<strong>da</strong> uma diversi<strong>da</strong>de de ex<strong>per</strong>iências eram vivi<strong>da</strong>s de uma<br />
maneira mais intensa” (MAZZUCO, 2001, p. 19).<br />
As pesquisas sobre a I<strong>da</strong>de Média, torna<strong>da</strong>s mais profun<strong>da</strong>s e<br />
atraentes a partir dos esforços de medievalistas do século XX, como<br />
Marc Bloch, Jacques Le Goff, J.C. Smith, Georges Duby, entre outros,<br />
além de oferecerem novas ferramentas de investigação historiográfica,<br />
também conseguiram dis<strong>per</strong>sar algumas nuvens escuras que, <strong>des</strong>de o<br />
Renascimento, assombravam o <strong>per</strong>íodo convencional e di<strong>da</strong>ticamente<br />
entendido entre o século V e o século XV.<br />
Entretanto, mesmo com as novas luzes e surpreendentes<br />
<strong>des</strong>cobertas, o medievo ain<strong>da</strong> continua sendo um enigma, uma<br />
sutil provocação. Martin Heidegger (1889-1976), um dos principais<br />
expoentes <strong>da</strong> filosofia do século XX, talvez seja quem melhor definiu<br />
o homem moderno e o fez a partir de dois modos de existência frente<br />
à reali<strong>da</strong>de: a distração e o esquecimento. Talvez, esta preocupante<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 4<br />
| História | 2011
sentença ofereça algumas pistas sobre como entender o estranhamento<br />
do homem do século XX diante <strong>da</strong>queles que o precederam há<br />
oitocentos anos. Mas, de que é feito esse mundo medieval, ora tão<br />
próximo ora tão distante de nós?<br />
Antes de se adentrar nas questões socioculturais e religiosas<br />
que caracterizam o século XIII, faz-se necessário conhecer, ao menos<br />
sumariamente, o que <strong>per</strong>faz o espírito do homem medieval e como este<br />
“lia” seu próprio tempo.<br />
Por mais que seja claro que “o homem ocidental moderno<br />
ex<strong>per</strong>imenta um certo mal estar diante de inúmeras formas de<br />
manifestações do sagrado” (ELIADE, 1992, p.13), é preciso considerar<br />
que o ambiente em que viveu o santo de Assis é marcado pela tensão<br />
constante entre o sagrado e o profano, entre a vi<strong>da</strong> e a morte, entre<br />
céu e o inferno, entre a paz e a guerra, entre a festa e as pestes.<br />
Por isso, o homem medieval é hoje definido pela radicali<strong>da</strong>de de suas<br />
decisões mais cotidianas. Tudo era motivo de participação e, porque<br />
não dizer, de celebração:<br />
“o nascimento, matrimônio, morte, se tornavam rito para recor<strong>da</strong>r<br />
o esplendor do mistério divino e a dura reali<strong>da</strong>de misteriosa <strong>da</strong><br />
vi<strong>da</strong>. Uma viagem, uma visita, um trabalho, uma colheita... tudo<br />
era acompanhado de bênçãos, fórmulas, usos e costumes”<br />
(MAZZUCO, Id.).<br />
Mesmo que às vezes pareça um tanto romântico, a I<strong>da</strong>de Média se<br />
revelou também em suas sombras e seus contrastes, numa paisagem<br />
bela e cruel ao mesmo tempo. Basta lembrar, por exemplo, de um lado,<br />
as íntimas relações entre os novos centros urbanos e a nova beleza no<br />
século XIII, em que<br />
(...) a ci<strong>da</strong>de é um dos principais domínios onde se forjou a idéia<br />
de beleza, uma beleza moderna, diferente <strong>da</strong> beleza antiga que<br />
<strong>des</strong>aparecera mais ou menos no declínio <strong>da</strong> estética. Umberto Eco<br />
mostrou bem essa emergência de uma beleza medieval encarna<strong>da</strong><br />
nos monumentos e teoriza<strong>da</strong> pela escolástica urbana (LE GOFF,<br />
2007, p. 146),<br />
e, de outro, a triste situação dos leprosos que iam pelas estra<strong>da</strong>s a<br />
soar “suas sinetas an<strong>da</strong>ndo sozinhos ou em grupos como múmias trágicas,<br />
chamando a atenção para o seu mal” (MAZZUCO, Op. cit., p. 20).<br />
Se tudo era vivido com intensi<strong>da</strong>de, não era tão incomum encontrar<br />
na I<strong>da</strong>de Média, nas ci<strong>da</strong><strong>des</strong> ou nos campos, homens e mulheres,<br />
pregadores e mendigos, participando de procissões que duravam<br />
dias ou semanas inteiras e a saírem pelas estra<strong>da</strong>s penitentes,<br />
“<strong>des</strong>calço, estômago vazio, carregando tochas, relíquias, estan<strong>da</strong>rtes.<br />
O importante era tomar parte e viver o espetáculo com reverência e<br />
devoção” (MAZZUCO, Ibid., p. 21).<br />
É impossível falar dos elementos essenciais que caracterizam o<br />
medievo sem considerar sua profun<strong>da</strong> sensibili<strong>da</strong>de religiosa. Essa<br />
sensibili<strong>da</strong>de <strong>per</strong>passou todo o ocidente medieval cristão, mesmo que<br />
somente a partir do século XII, segundo André Vauchez, se possa falar<br />
de uma espirituali<strong>da</strong>de mais propriamente leiga. Para o historiador<br />
francês,<br />
(...) ao longo do século XII, conscientes de que o seu estado não<br />
os excluía a priori <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> religiosa, numerosos leigos procuraram<br />
formas de vi<strong>da</strong> que lhes <strong>per</strong>mitissem conciliar as exigências de uma<br />
existência consagra<strong>da</strong> a Deus com as que lhes eram impostas pela<br />
sua condição de cristãos que viviam no mundo (VAUCHEZ, 1995,<br />
p. 133).<br />
O sagrado, assim, impregnava to<strong>da</strong>s as ativi<strong>da</strong><strong>des</strong> cotidianas do<br />
homem medieval, <strong>des</strong>de as mais simples até as mais solenes. Para<br />
Mircea Eliade,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 5<br />
| História | 2011
(...) o homem religioso se esforça por manter-se o máximo de<br />
tempo possível num universo sagrado e, conseqüentemente, como<br />
se apresenta sua ex<strong>per</strong>iência total <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> em relação à ex<strong>per</strong>iência<br />
do homem privado de sentimento religioso, do homem que vive,<br />
ou <strong>des</strong>eja viver, num mundo <strong>des</strong>sacralizado. É preciso dizer, <strong>des</strong>de<br />
já, que o mundo profano na sua totali<strong>da</strong>de, o Cosmos totalmente<br />
<strong>des</strong>sacralizado, é uma <strong>des</strong>coberta recente na história do espírito<br />
humano (ELIADE, Op. cit., p. 14).<br />
Num universo regido pelos misteriosos <strong>des</strong>ígnios divinos, era<br />
importante saber ler os sinais em todo lugar. Uma boa ilustração <strong>des</strong>ta<br />
sensibili<strong>da</strong>de religiosa era a atitude do medievo diante dos sinos, dos<br />
campanários:<br />
(...) ouviam-se os sons dos sinos, qual espíritos a<strong>nunc</strong>iadores,<br />
que com ba<strong>da</strong>lar claro e <strong>des</strong>tacado, a<strong>nunc</strong>iavam o luto, o júbilo,<br />
a agitação, o repouso, o recolhimento, a tragédia, a convocação,<br />
a prece, a presença do inimigo. O povo adivinhava o toque e<br />
decifrava o seu significado; mesmo ouvindo diversos sinos, era<br />
sensível aos sinais; jamais um sino agredia os ouvidos (MAZZUCO,<br />
Op. cit., p. 21).<br />
Pode-se dizer que São Francisco e seu movimento religioso foram<br />
tanto influenciados por essas sensibili<strong>da</strong><strong>des</strong> quanto influenciaram<br />
as <strong>per</strong>cepções sociais, políticas, culturais e espirituais num ocidente<br />
medieval, especialmente no século XIII, que ain<strong>da</strong> hesitava, segundo<br />
Jacques Le Goff, entre os primeiros clarões de renovação e os fardos<br />
de um mundo ain<strong>da</strong> feu<strong>da</strong>l em várias de suas dimensões.<br />
Desta forma, é proposta <strong>des</strong>te capítulo fazer uma breve exposição<br />
dos aspectos socioculturais e religiosos mais relevantes do século XIII<br />
a partir <strong>da</strong>s implicações trazi<strong>da</strong>s pelos novos centros urbanos e suas<br />
novas formas de sociabili<strong>da</strong><strong>des</strong>, bem como pelas novas buscas de vi<strong>da</strong><br />
religiosa, já inicia<strong>da</strong>s no século XII, e suas aproximações e atritos com<br />
a Igreja.<br />
Finalmente, a partir <strong>des</strong>ses aspectos, é preciso <strong>per</strong>guntar que lugar<br />
a espirituali<strong>da</strong>de franciscana ocupa nesse cenário com suas fronteiras<br />
ain<strong>da</strong> tão tênues.<br />
1.1 A ci<strong>da</strong>de do século XIII: entre as heranças<br />
feu<strong>da</strong>is e os primeiros sinais de renovação<br />
Mesmo que os primeiros biógrafos de São Francisco de Assis<br />
preferissem representá-lo muitas vezes em solidão, narrando<br />
seus momentos de oração e contemplação em meio às florestas e<br />
bosques <strong>da</strong> região <strong>da</strong> Úmbria, não se pode esquecer que o filho do<br />
rico comerciante de tecidos, Pietro di Bernardone, nasceu no fim do<br />
século XII, num ambiente que já cheirava os novos ares urbanos. A<br />
infância e a adolescência de São Francisco se <strong>des</strong>enrolou nos prazeres<br />
e nas tentações <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de. Seu processo de conversão e a fun<strong>da</strong>ção<br />
<strong>da</strong> primeira fraterni<strong>da</strong>de de irmãos se deram no início do século XIII,<br />
considerados, por Le Goff, o “apogeu do Ocidente medieval” (LE<br />
GOFF, Op. cit., p. 143).<br />
To<strong>da</strong>via, a impressão deixa<strong>da</strong> pelas primeiras legen<strong>da</strong>s4 sobre os<br />
ambientes em que ocorreram as pregações e os milagres do santo de<br />
Assis (estra<strong>da</strong>s, bosques, ci<strong>da</strong><strong>des</strong>) não é um mero recurso literário, já<br />
que o “espaço de Francisco e dos primeiros franciscanos é em primeiro<br />
lugar a respiração, a alternância ci<strong>da</strong>de/solidão” (LE GOFF, 2001, 188).<br />
Num contexto geográfico onde se estava acostumado a ver uma<br />
prática religiosa e pastoral forma<strong>da</strong> há séculos nos mol<strong>des</strong> monásticos<br />
situados no campo, uma <strong>da</strong>s novi<strong>da</strong><strong>des</strong>5 <strong>da</strong>s novas ordens Mendicantes6 estava justamente na pregação urbana que é “frequentemente a praça,<br />
recriando um espaço cívico ao ar livre, sucedendo a <strong>des</strong>apareci<strong>da</strong> ágora<br />
e o fórum antigo” (LE GOFF, Ibid., p. 189). Tal especifici<strong>da</strong>de de se<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 6<br />
| História | 2011
fazer um apostolado nos centros urbanos era tão surpreendente que<br />
ain<strong>da</strong> em meados do século XIII havia inquietações sobre a presença<br />
dos fra<strong>des</strong> nas ci<strong>da</strong><strong>des</strong>, Le Goff recor<strong>da</strong> que<br />
(...) essa escolha urbana aliás suscitou discussões <strong>da</strong>s quais<br />
fez um eco um texto franciscano atribuído a São Boaventura:<br />
as Determinationes quaestionum su<strong>per</strong> Regulam Fratrum<br />
Minorum, cuja quinta <strong>per</strong>gunta é: “Por que os fra<strong>des</strong> moram mais<br />
frequentemente nas ci<strong>da</strong><strong>des</strong> e nas aldeias fortifica<strong>da</strong>s? (Cur fratres<br />
frequentius maneant in civitatibus et oppidis?) (LE GOFF, Id.).<br />
O fato é que São Francisco nasceu num <strong>per</strong>íodo e numa região<br />
marca<strong>da</strong> pelo grande <strong>des</strong>envolvimento do Ocidente medieval. A<br />
população aumentava exponencialmente na mesma medi<strong>da</strong> que a<br />
economia se <strong>des</strong>envolvia a passos largos, principalmente na Itália<br />
do norte e central. A ci<strong>da</strong>de não tardou, assim, a <strong>da</strong>r os primeiros<br />
alertas de necessi<strong>da</strong>de tanto de alimento material quanto de alimento<br />
espiritual.<br />
A passagem de um modo de vi<strong>da</strong> do campo para o modo urbano<br />
não se deu <strong>da</strong> noite para o dia, mas sim em um processo lento e<br />
heterogêneo entre as diversas regiões <strong>da</strong> Europa. Pode-se dizer<br />
inclusive que o campo já havia ex<strong>per</strong>imentado algumas novi<strong>da</strong><strong>des</strong> do<br />
progresso:<br />
“a charrua com ro<strong>da</strong>s e com aveica dissimétricas substitui nas<br />
planícies o arado de pouca eficiência, o novo sistema de atrelar<br />
substitui o boi pelo cavalo, mais produtivo, novas culturas são<br />
introduzi<strong>da</strong>s na rotativi<strong>da</strong>de torna<strong>da</strong> trienal, os progressos dos<br />
pastos artificiais <strong>per</strong>mitem o <strong>des</strong>envolvimento <strong>da</strong> criação” (LE<br />
GOFF, Ibid., p. 24).<br />
A união <strong>des</strong>ses fatores, ou seja, <strong>des</strong>sas melhorias qualitativas <strong>da</strong><br />
produção agrária com o aumento <strong>da</strong> população que começava a se<br />
agrupar em aldeias e em volta do castelo (incastellamento) favoreceu<br />
o surgimento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>des</strong>, que, por sua vez, não mais correspondiam às<br />
ci<strong>da</strong><strong>des</strong> greco-romanas ou mesmo às ci<strong>da</strong><strong>des</strong> <strong>da</strong> alta I<strong>da</strong>de Média, isto<br />
é, com suas funções de centros militares e administrativos. Ao contrário,<br />
as novas ci<strong>da</strong><strong>des</strong> medievais nascem com uma natureza diferente, pois<br />
se tornam, nesse momento, centros políticos, econômicos e culturais.<br />
Para o medievalista, Lázaro Iriarte, as transações marítimas pelo Mar<br />
Mediterrâneo tiveram um papel relevante na formação <strong>des</strong>sas ci<strong>da</strong><strong>des</strong>.<br />
Para o autor,<br />
(...) ao alvorecer do século XIII, começava a esfacelar-se a uni<strong>da</strong>de<br />
do Império Germânico e entrava em crise a contextura feu<strong>da</strong>l <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de. Na Itália, e nas regiões <strong>da</strong> Europa abertas ao tráfego<br />
marítimo, surgia uma nova força, debatendo-se contra essas duas<br />
instituições medievais: a comuna. Era constituí<strong>da</strong> pela nova classe<br />
social dos artesãos e comerciantes, com uma nova dinâmica urbana<br />
de tendência democrática, com uma nova economia monetária,<br />
com sua mobili<strong>da</strong>de oposta à estabili<strong>da</strong>de latifundiária e, também,<br />
com novos delineamentos éticos e novas exigências religiosas<br />
(IRIARTE, 1985, p. 33).<br />
É evidente que, ao lado dos progressos <strong>da</strong>s transações marítimas<br />
que favoreciam o comércio, a ci<strong>da</strong>de <strong>per</strong>mitia também maior<br />
<strong>des</strong>envolvimento de um artesanato bem diversificado, <strong>da</strong>ndo origem<br />
a setores que vão, aos poucos, se “industrializando”. É o caso <strong>da</strong><br />
<strong>construção</strong> e <strong>da</strong> tecelagem. A ci<strong>da</strong>de revelava-se, <strong>des</strong>te modo, como<br />
um lugar privilegiado para as trocas que, por sua vez, atraíam as<br />
feiras e os mercados que alimentam o comércio, concedendo grande<br />
importância a um novo <strong>per</strong>sonagem <strong>da</strong> nova vi<strong>da</strong> urbana: o mercador.<br />
Do ponto de vista econômico,<br />
(...) o início do século XIII assiste a uma grande reviravolta na<br />
economia ocidental. Dois fenômenos maiores se inscrevem<br />
tanto no quadro <strong>da</strong>s ideologias e <strong>da</strong>s mentali<strong>da</strong><strong>des</strong> como no <strong>da</strong>s<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 7<br />
| História | 2011
eali<strong>da</strong><strong>des</strong> econômicas: a difusão maciça <strong>da</strong> economia monetária,<br />
do dinheiro, e a mu<strong>da</strong>nça do trabalho com a divisão do trabalho<br />
urbano, a extensão do trabalho assalariado, valorização do trabalho<br />
(LE GOFF, 2006, p.198).<br />
A moe<strong>da</strong> ganhava força e seu uso começava a ganhar espaço dentro<br />
<strong>des</strong>se cenário de trocas comerciais. Rapi<strong>da</strong>mente, os mercadores se<br />
deram conta disso e “criam logo entre eles um grupo de especialistas<br />
<strong>da</strong> moe<strong>da</strong>: os cambistas, que vão se tornar os banqueiros, substituindo<br />
nessa função os mosteiros (...) e os judeus (...)” (LE GOFF, Op. cit.,<br />
p. 25). Nesse espaço urbano, também as relações de poder ganharam<br />
novos rostos: o ci<strong>da</strong>dão burguês, que ao lado do poder representado<br />
pelo bispo e pelos senhores, conquistou, pelo dinheiro, ca<strong>da</strong> vez mais<br />
“liber<strong>da</strong><strong>des</strong>” e prestígio. O tabuleiro <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> social se modificava, pois,<br />
sem contestar os pilares econômicos e políticos do feu<strong>da</strong>lismo, os<br />
burgueses<br />
introduzem uma variante, criadora de liber<strong>da</strong>de (Stadtluft macht<br />
frei, dizem os alemães, “o ar <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de torna livre”) e de igual<strong>da</strong>de<br />
(o juramento cívico, o juramento comunal dão aos iguais os mesmos<br />
direitos), na qual a <strong>des</strong>igual<strong>da</strong>de que nasce do jogo econômico e<br />
social se fun<strong>da</strong> não sobre o nascimento, o sangue, mas sobre a<br />
fortuna, imobiliária e mobiliária, a posse do solo e dos imóveis<br />
urbanos, dos foros e ren<strong>da</strong>s, do dinheiro (LE GOFF, 2001, p. 25).<br />
Não se deve imaginar, entretanto, que o surgimento <strong>da</strong> burguesia<br />
implicou o <strong>des</strong>aparecimento automático do modelo feu<strong>da</strong>l. Como nos<br />
lembra Hilário Franco Júnior, o modelo burguês<br />
(...) não chegava a representar um novo ordo, mas apenas uma<br />
mobili<strong>da</strong>de horizontal no interior do grupo dos laboratores. Dentro<br />
dela, os laços sociais entre os indivíduos eram estabelecidos<br />
por um juramento, como ocorria na aristocracia. Os mais ricos<br />
procuravam imitar vários hábitos nobiliárquicos (FRANCO<br />
JÚNIOR, 2006, p. 95).<br />
É ain<strong>da</strong> Franco Júnior que chama a atenção para os contrastes<br />
existentes no bojo do novo centro urbano medieval que naquele <strong>per</strong>íodo<br />
ganhavam mais clareza e dinamici<strong>da</strong>de do que quando ocorriam nos<br />
meios rurais. Para ele, a ci<strong>da</strong>de era caracteriza<strong>da</strong> por dois mecanismos<br />
que favoreciam o surgimento de novas formas de marginalização social:<br />
seu caráter antifeu<strong>da</strong>l e anticlerical. Frequentemente, tais mecanismos<br />
se interligavam pois,<br />
(...) a negação de qualquer um dos aspectos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
punha automaticamente em risco to<strong>da</strong> sua estrutura. Era o caso<br />
<strong>da</strong> exclusivi<strong>da</strong>de eclesiástica do sagrado (que os feiticeiros<br />
ameaçavam), do regionalismo e imobilismo dos costumes (que os<br />
estrangeiros rompiam), do controle cristão sobre a nova economia<br />
de mercado (que via nos judeus concorrentes), dos valores sexuais<br />
tradicionais (que os homossexuais <strong>des</strong>afiavam), <strong>da</strong> <strong>des</strong>igual<br />
distribuição social <strong>da</strong>s riquezas (que a presença dos pobres<br />
delatava) (FRANCO JÚNIOR, Ibid., p. 96).<br />
No imaginário medieval, a nova ci<strong>da</strong>de aparecia ora como uma<br />
Jerusalém, isto é, como um grande centro de possibili<strong>da</strong><strong>des</strong>, inclusive<br />
de salvação, ora como uma Babilônia, cerca<strong>da</strong> de tentações e <strong>des</strong>vios.<br />
Para Le Goff, ao traçar as raízes medievais <strong>da</strong> Europa, “no século XIII,<br />
a ci<strong>da</strong>de de Jerusalém rechaçou a ci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Babilônia, ain<strong>da</strong> que no<br />
fim <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média as taras urbanas aparecessem” (LE GOFF, 2007,<br />
p. 157).<br />
Onde se situava Francisco de Assis nesta complexa transição do<br />
mundo feu<strong>da</strong>l para o mundo urbano? Para Iriarte, Francisco surgiu<br />
como um <strong>per</strong>sonagem emblemático, uma <strong>per</strong>sonali<strong>da</strong>de de fronteira,<br />
uma vez que<br />
(...) entre o feu<strong>da</strong>lismo e a comuna, entre o acaso do império unitário<br />
e o surgimento <strong>da</strong>s nações, entre a língua culta e a língua vulgar,<br />
Francisco de Assis encarna as virtu<strong>des</strong> ativas e construtivas do<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 8<br />
| História | 2011
urguês filho do povo e, ao mesmo tempo, os sonhos cavalheirescos<br />
e a ânsia de renúncia a uma época em declínio. Enlaça duas épocas<br />
e reúne todos os contrastes <strong>da</strong>quele século em transição (IRIARTE,<br />
Op. cit., p. 34).<br />
Curiosamente, Francisco de Assis se posicionou em um outro<br />
nível de questionamento em relação às explorações econômicas que já<br />
<strong>per</strong>cebera em sua região. A partir disso, Francisco<br />
(...) não se limita a rejeitar. Ele se interroga. Escolheu a pobreza, mas<br />
não põe em causa a sinceri<strong>da</strong>de, a fé muito real dos mercadores.<br />
Conserva, diante do dinheiro, o princípio que manterá em todos<br />
os domínios: não impõe sua regra a não ser a si próprio e a seus<br />
irmãos (FRANCO JÚNIOR, Op. cit. p. 114).<br />
Seus “irmãos” foram, <strong>des</strong>te modo, bem acolhidos nos meios urbanos,<br />
pois pregavam ao pobre e ao rico, ao fraco e ao poderoso, usavam<br />
roupas pobres, mas jamais criticavam os que usavam roupas finas e<br />
caras. Transitavam muito bem entre os dois mundos, aparentemente,<br />
antagônicos, como fazia seu mestre e fun<strong>da</strong>dor Francisco que<br />
(...) por nascimento, <strong>per</strong>tencia à nova socie<strong>da</strong>de dos artesãos e<br />
comerciantes que abria caminho na vi<strong>da</strong> pública dos municípios<br />
italianos; porém, seu tem<strong>per</strong>amento cavalheiresco o fazia sintonizar<br />
com o ambiente feu<strong>da</strong>l dos cantos de gesta e com as virtu<strong>des</strong><br />
humanas <strong>da</strong> cavalaria an<strong>da</strong>nte: cortesia, leal<strong>da</strong>de, liberali<strong>da</strong>de,<br />
valentia, compaixão pelos seres débeis e indefesos. Em sua vi<strong>da</strong>,<br />
vemos alternar-se o impulso incontido <strong>da</strong> ação, ao <strong>per</strong>correr o<br />
mundo, e a atração pela solidão e pela intimi<strong>da</strong>de fraterna e<br />
sossega<strong>da</strong> (IRIARTE, Op. cit. p. 39).<br />
Se por um lado, Francisco de Assis conseguia se locomover entre<br />
o mundo feu<strong>da</strong>l e o espírito <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>des</strong>, por outro, em seu caminho<br />
espiritual frente a uma fraterni<strong>da</strong>de religiosa que com o tempo se<br />
transformaria numa Ordo, fez o possível para evitar que as relações<br />
entre seus “irmãos de hábito” imitassem os antigos modelos feu<strong>da</strong>is.<br />
Para o historiador <strong>da</strong> Igreja, Ildefonso Silveira, Francisco<br />
(...) não se deixou contaminar por certos costumes do tempo, por<br />
exemplo evitou o espírito feu<strong>da</strong>l dentro de sua Ordem, a intolerância<br />
do regime de Cristan<strong>da</strong>de, a busca <strong>da</strong> riqueza e do dinheiro como<br />
fonte de poder, característicos do sistema comunal. No entanto,<br />
imbuiu-se de outros, purificando-os, por exemplo: o espírito<br />
cavalheiresco não a serviço <strong>da</strong> guerra, mas, de Jesus Cristo, a<br />
mobili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s comunas, a mobili<strong>da</strong>de e os aspectos positivos dos<br />
movimentos reformatórios <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média (...) (SILVEIRA, Apud.,<br />
MOREIRA, 1996, p. 15).<br />
No âmbito cultural, é no clima provocante <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>des</strong> que o ensino<br />
se <strong>des</strong>envolveu e fez nascer as primeiras universi<strong>da</strong><strong>des</strong> europeias. O<br />
saber, que durante séculos repousava nas mãos de clérigos ou protegido<br />
dentro dos muros maciços dos antigos mosteiros, aos poucos também<br />
ganhava os novos ares citadinos com seus ritmos e suas necessi<strong>da</strong><strong>des</strong><br />
sui generis.<br />
É ver<strong>da</strong>de que no final do século XII, os burgueses já haviam<br />
estimulado a criação de escolas urbanas, mas, mesmo nessas<br />
condições, uma boa parte dos filhos dos comerciantes era educa<strong>da</strong> à<br />
sombra <strong>da</strong>s catedrais. É o caso do próprio Francisco de Assis que<br />
(...) possuía a cultura média dos que, não tendo cursado o trivium<br />
e o quadrivium, não podiam figurar entre os clerici ou literatti.<br />
Gostava de chamar-se de simples e inculto (idiota). Contudo não<br />
era um ignorante; dominava bastante bem o latim corrente, que<br />
havia cursado na escola <strong>da</strong> igreja local de São Jorge (IRIARTE,<br />
Op. cit., p. 39).<br />
Como se pode <strong>per</strong>ceber, a ci<strong>da</strong>de medieval oferecia condições<br />
para a criação de novas formas de educação. As escolas monásticas<br />
começaram, assim, a <strong>per</strong>der espaço para as novas tendências e buscas<br />
de conhecimento. As novas escolas planta<strong>da</strong>s no meio dos centros<br />
urbanos<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 9<br />
| História | 2011
(...) nascem de modo um tanto selvagem e sob dupla orientação. De<br />
um lado, impõe-se a atração <strong>da</strong> teologia, em um meio intelectual,<br />
sociológico e político fervilhante em Paris. De outro lado, é a<br />
cristalização em torno do direito, no coração do avanço comunal,<br />
em Bolonha (LE GOFF, 2001, p. 32).<br />
No século XIII, anima<strong>da</strong>s pelas universi<strong>da</strong><strong>des</strong> de Paris e de<br />
Bolonha, as relações entre o saber e poder ganharam também novas<br />
proporções. Francisco de Assis não ficou alheio a essas mu<strong>da</strong>nças<br />
no campo do conhecimento. Não raro os primeiros biógrafos do<br />
santo <strong>des</strong>creveram, como veremos mais adiante, as suas atitu<strong>des</strong><br />
drásticas diante dos fra<strong>des</strong> que queriam estu<strong>da</strong>r e adquirir livros,<br />
retratando um Francisco adversário dos estudos. Mas essa acusação<br />
teria algum fun<strong>da</strong>mento? O que, na ver<strong>da</strong>de, tanto <strong>per</strong>turbava<br />
Francisco em relação às novas formas de conhecimento? Jacques<br />
Le Goff arrisca algumas pistas para esses questionamentos. Para<br />
ele,<br />
(...) é preciso compreender bem a <strong>des</strong>confiança de Francisco em<br />
relação aos doutores eruditos. O que ele vê na ciência é uma forma<br />
de proprie<strong>da</strong>de porque os livros custam caro. Tornar-se um erudito<br />
é assumir o risco de possuir, de chegar ao poder, ou de participar<br />
do exercício do poder. Francisco <strong>nunc</strong>a teve boas relações com os<br />
príncipes <strong>da</strong> Igreja e com os mestres <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de – os prelados<br />
(LE GOFF, 2006, p. 118).<br />
Entretanto, não seria esta a última vez que o estilo de vi<strong>da</strong><br />
franciscano teria que se posicionar entre as questões inerentes <strong>da</strong><br />
erudição e a fideli<strong>da</strong>de à Regra7 de São Francisco, entre os livros<br />
caros e a prática <strong>da</strong> pobreza, entre a justificação <strong>da</strong> própria existência<br />
<strong>da</strong> Ordo Minorum8 e as acusações <strong>per</strong>tinentes <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de<br />
Paris (acusações estas que serão discuti<strong>da</strong>s no terceiro capítulo), na<br />
segun<strong>da</strong> metade do século XIII.<br />
Enfim, Francisco de Assis foi, assim, um filho de seu tempo -<br />
mesmo quando chegava a tensionar as estruturas de sua época - e<br />
sua mensagem espiritual, bem como as futuras escolhas que seriam<br />
feitas pelo movimento religioso que fun<strong>da</strong>ra no século XIII, ganhavam<br />
sentido quando inseridos novamente no espírito citadino <strong>da</strong>s comunas,<br />
marca<strong>da</strong>s pela mobili<strong>da</strong>de, que favorecia o nascimento de práticas de<br />
vi<strong>da</strong> religiosas que fossem diferentes dos modelos pesados e estáticos<br />
<strong>da</strong> vi<strong>da</strong> monástica. Entretanto, o cenário favorável para o surgimento<br />
do movimento franciscano deve ser procurado nas buscas religiosas já<br />
inicia<strong>da</strong>s no século anterior, no século XII.<br />
1.2 A Igreja e as novas<br />
formas de vi<strong>da</strong> evangélica<br />
Se o século XIII foi considerado o apogeu do Ocidente medieval<br />
é porque soube, simultaneamente, dialogar com os gran<strong>des</strong> centros<br />
urbanos e suas implicações sociais e, de alguma forma, retomar e reler<br />
as heranças deixa<strong>da</strong>s pelos dois séculos que o precederam. Heranças<br />
essas tanto de um mundo feu<strong>da</strong>l (basea<strong>da</strong>s na solidez bem defini<strong>da</strong><br />
de suas relações fun<strong>da</strong><strong>da</strong>s no juramento e na leal<strong>da</strong>de) quanto de uma<br />
Igreja que, <strong>des</strong>confia<strong>da</strong>, hesitava em tomar posição clara e aberta frente<br />
ao novo contexto social, econômico e político que lhe batia à porta.<br />
Mesmo sendo cautelosa nos passos que <strong>da</strong>va, a Igreja também<br />
ensaiou suas transformações. Caminhava ain<strong>da</strong> sob os ecos <strong>da</strong><br />
Reforma Gregoriana inicia<strong>da</strong> no pontificado de Gregório VII (1073-<br />
1085), ora se beneficiando com suas luzes como, por exemplo, seus<br />
esforços em libertar o mundo eclesiástico <strong>da</strong>s amarras feu<strong>da</strong>is, de<br />
tornar independente a Santa Sé do poder im<strong>per</strong>ial e de combater a<br />
simonia nas práticas pastorais; ora <strong>des</strong>enterrando antigos fantasmas<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 10<br />
| História | 2011
com suas tentativas de retornar às origens, aos tempos apostólicos, à<br />
vita et forma Ecclesiae primitivae (“vi<strong>da</strong> e forma <strong>da</strong> Igreja primitiva”).<br />
Deste modo, não é um exagero afirmar que a “a reforma gregoriana<br />
é, numa palavra, a institucionalização <strong>des</strong>se movimento e sua<br />
assimilação pela socie<strong>da</strong>de cristã ao longo de todo o século XII” (LE<br />
GOFF, 2001, p. 27).<br />
Ao que tudo indica, a Igreja, mesmo com todo seu esforço de<br />
atualização frente à nova socie<strong>da</strong>de, continuava, mesmo no início do<br />
século XIII, prisioneira de velhos e novos fardos. Conheceu gran<strong>des</strong><br />
derrotas, como a Cruza<strong>da</strong> contra os muçulmanos e os <strong>des</strong>vios <strong>da</strong><br />
quarta Cruza<strong>da</strong> para Constantinopla (1204), assim como a derrota<br />
contra as heresias dentro <strong>da</strong> própria cristan<strong>da</strong>de. Tratava-se, com<br />
algumas reservas, de uma Igreja um tanto confusa e <strong>per</strong>di<strong>da</strong>. Suas<br />
tentativas de a<strong>da</strong>ptação haviam se revelado ineficazes e incapazes,<br />
segundo Le Goff,<br />
(...) de repelir ou moderar os <strong>des</strong>afios <strong>da</strong> história: a agressão do<br />
dinheiro, as novas formas de violência, a aspiração contraditória<br />
dos cristãos a um gozo maior dos bens <strong>des</strong>te mundo, por um lado,<br />
e, por outro, a resistência agora mais agu<strong>da</strong> para a riqueza, o<br />
poder, a concupiscência (LE GOFF, Ibid., p. 34).<br />
André Vauchez, em seus estudos sobre os caminhos <strong>da</strong><br />
espirituali<strong>da</strong>de no Ocidente medieval, lembra que a Igreja do século<br />
XII não teve apenas que dialogar com a nova ci<strong>da</strong>de, com a nova<br />
economia, com os novos poderes e os com os novos vícios e virtu<strong>des</strong><br />
dos burgueses, que, de alguma maneira, se apresentavam mais como<br />
problemas externos. Mas, sim, que resolver também um problema<br />
interno que ca<strong>da</strong> vez mais ganhava maiores proporções: a sede de vi<strong>da</strong><br />
espiritual dos leigos. Era um <strong>per</strong>íodo delicado na qual<br />
(...) a coesão dogmática ain<strong>da</strong> não se encontrava bem assegura<strong>da</strong> em<br />
todos os seus domínios, e em que um profundo fosso separava a elite<br />
letra<strong>da</strong> <strong>da</strong>s massas incultas, havia lugar, no próprio seio <strong>da</strong> ortodoxia,<br />
para diferentes formas de interpretar e viver a mensagem cristã, isto<br />
é, para diversas espirituali<strong>da</strong><strong>des</strong> (VAUCHEZ, 1995, p. 12).<br />
Vale salientar que os elementos <strong>des</strong>sa sede espiritual vivi<strong>da</strong><br />
pelos leigos no século XII em muito se diferenciavam <strong>da</strong> concepção<br />
eclesiástica de espirituali<strong>da</strong>de, termo que, aliás, como aponta Vauchez,<br />
era <strong>des</strong>conhecido na I<strong>da</strong>de Média, que preferia apenas distinguir a<br />
idéia de “doctrina, isto é, a fé sob seu aspecto dogmático e normativo,<br />
e a disciplina, a sua passagem à prática, geralmente no quadro de uma<br />
regra religiosa” (VAUCHEZ, Ibid., p. 11). A ex<strong>per</strong>iência de vi<strong>da</strong> cristã<br />
busca<strong>da</strong> pelos leigos <strong>da</strong>va-se em bases que frequentemente entravam<br />
em contraste com as vias oficiais de vi<strong>da</strong> religiosa, pois<br />
(...) os humil<strong>des</strong> integraram na sua ex<strong>per</strong>iência religiosa, tanto<br />
pessoal quanto colectiva, elementos originários <strong>da</strong> religião que<br />
lhes havia sido ensina<strong>da</strong> e outros que lhes fornecia a mentali<strong>da</strong>de<br />
comum do seu meio e do seu tempo, marca<strong>da</strong> por representações<br />
e crenças estranhas ao cristianismo. Por outro lado, incapazes de<br />
aceder a abstração, os leigos tiveram tendência para transpor para<br />
um registro emotivo os mistérios fun<strong>da</strong>mentais <strong>da</strong> fé (VAUCHEZ,<br />
Ibid., p. 13).<br />
Essas dissonâncias entre a espirituali<strong>da</strong>de almeja<strong>da</strong> pelos fiéis e os<br />
modos de vi<strong>da</strong> religiosa tradicionais não significavam que os leigos, no<br />
século XI e XII, tivessem conquistado seu espaço à força e a <strong>des</strong>peito<br />
dos limites prescritos pela cúpula <strong>da</strong> Igreja. Ocorreu que, entre outros<br />
motivos, foi lhes <strong>da</strong>do uma brecha e eles atenderam aos apelos feitos<br />
tanto por Gregório VII e, mais tarde, por Urbano II, em Clermont, no<br />
ano de 1095, a “abandonarem a passivi<strong>da</strong>de e a oferecerem a sua<br />
participação direta na reforma e na cruza<strong>da</strong>” (VAUCHEZ, Ibid., p. 104).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 11<br />
| História | 2011
Neste cenário de novas buscas espirituais de fundo laical, as cruza<strong>da</strong>s<br />
tiveram um papel essencial, uma vez que,<br />
(...) com as cruza<strong>da</strong>s revela-se pela primeira vez no Ocidente a<br />
existência de uma espirituali<strong>da</strong>de popular, que surge repentinamente<br />
como um conjunto coerente. Entre os seus elementos constitutivos,<br />
encontra-se em primeiro lugar a devoção a Cristo, que faz nascer<br />
o <strong>des</strong>ejo de libertar a terra onde ele vivera e de vingar a honra a<br />
Deus, escarneci<strong>da</strong> pelos infiéis. A ela se acrescenta uma aspiração<br />
à purificação individual e colectiva, que tem a ver, em simultâneo,<br />
com os aspectos penitenciais <strong>da</strong> cruza<strong>da</strong> e com as suas dimensões<br />
messiânicas (VAUCHEZ, Ibid., p. 106),<br />
<strong>per</strong>mitindo aos fiéis uma oportuni<strong>da</strong>de de satisfazer às suas<br />
expectativas no que diz respeito a uma salvação que, nos mol<strong>des</strong> <strong>da</strong><br />
época, lhes parecia inviável em suas vi<strong>da</strong>s cotidianas, no saeculum 9 .<br />
Passado o vigor e o calor <strong>da</strong>s primeiras cruza<strong>da</strong>s, os leigos foram<br />
convi<strong>da</strong>dos a retomarem seu lugar costumeiro dentro <strong>da</strong> dinâmica<br />
eclesiológica, limitando-se a retomar suas saecularia negotia (“negócios<br />
seculares”), fazendo com que os fiéis se sentissem novamente inúteis<br />
dentro do seio <strong>da</strong> Ecclesia. Entretanto, os fiéis estavam ain<strong>da</strong> sedentos<br />
de participarem ativamente <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> e missão <strong>da</strong> Cristan<strong>da</strong>de. Seria<br />
difícil obedecer às recomen<strong>da</strong>ções de passivi<strong>da</strong>de na prática de sua<br />
religião. Eram apenas as primeiras faíscas de um “evangelismo” de<br />
cunho popular que culminaria na explosão dos movimentos religiosos,<br />
ortodoxos e heterodoxos, que abalariam, ca<strong>da</strong> qual com suas<br />
peculiari<strong>da</strong><strong>des</strong>, as estruturas <strong>da</strong> christianitas, dos séculos XII e XIII.<br />
No início, esses movimentos religiosos laicais tinham como sua<br />
principal característica a pobreza voluntária, fun<strong>da</strong><strong>da</strong> no <strong>des</strong>ejo de<br />
querer imitar a humani<strong>da</strong>de e a pobreza de Cristo. Essas motivações<br />
se chocavam com o <strong>per</strong>fil <strong>da</strong>s novas ci<strong>da</strong><strong>des</strong> e seus novos valores<br />
econômicos, já que<br />
(...) num mundo onde o <strong>des</strong>envolvimento <strong>da</strong> produção e <strong>da</strong>s trocas<br />
acentuava as clivagens no seio <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de rural e fazia surgir<br />
novas formas de miséria, a escolha <strong>da</strong> pobreza como condição de<br />
vi<strong>da</strong> indicava um <strong>des</strong>ejo de aproximação dos abandonados pela<br />
expansão e dos excluídos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de: vagabundos, prostitutas,<br />
leprosos, etc. Ela constituía igualmente um protesto contra o luxo<br />
dos poderosos e muito particularmente <strong>da</strong> hierarquia eclesiástica<br />
(VAUCHEZ, Ibid., p. 108).<br />
O <strong>des</strong>ejo laical de imitar a “Cristo pobre e humilde” era autêntico,<br />
mas surgira em uma época que não estava prepara<strong>da</strong> nem madura para<br />
tais contestações, numa época em que a suntuosi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Igreja era<br />
justifica<strong>da</strong> pela digni<strong>da</strong>de de seu estado e de sua missão de construir<br />
o glorioso e poderoso Reino de Deus no mundo dos homens.<br />
Não é difícil compreender, a partir disso, o fato <strong>des</strong>ses movimentos<br />
religiosos populares do século XII muito frequentemente cheirarem<br />
a heresia diante <strong>da</strong>s autori<strong>da</strong><strong>des</strong> eclesiásticas. Entretanto, mesmo<br />
que o século XII não estivesse pronto para esses novos tipos de<br />
espirituali<strong>da</strong><strong>des</strong>, a semente fora lança<strong>da</strong> e não demoraria muito para<br />
que produzisse seus primeiros frutos, <strong>des</strong>ta vez menos frágeis e melhor<br />
organizados. Uma coisa é certa,<br />
(...) sem esse clima novo, não seria possível explicar nem o<br />
conteúdo nem o sucesso <strong>da</strong> mensagem franciscana. Uma <strong>da</strong>s<br />
gran<strong>des</strong> lições que se <strong>des</strong>tacavam <strong>da</strong>s ex<strong>per</strong>iências vivi<strong>da</strong>s pelos<br />
leigos no século XII era a possibili<strong>da</strong>de de se viver o Evangelho<br />
no meio dos homens, recusando to<strong>da</strong>via o “mundo” (VAUCHEZ,<br />
Ibid., p. 139).<br />
O século XIII herdou to<strong>da</strong>s essas inquietações espirituais, mesmo<br />
que, neste sentido, fosse menos original que o século XII. O século de<br />
São Francisco de Assis foi marcado pelo evangelismo que se traduzia<br />
como uma busca <strong>da</strong> salvação pela vivência do Evangelho. No século<br />
anterior, essa vivência evangélica já fora proposta, mas com muita<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 12<br />
| História | 2011
timidez, já que, nessa época, por um lado, acreditava-se piamente que<br />
a <strong>per</strong>feição espiritual só podia ser alcança<strong>da</strong> nos mosteiros e na fuga<br />
mundi (“fuga do mundo”); e por outro, pela tendência do Evangelho ter<br />
sido usado como uma arma, nas mãos dos grupos heréticos, contra a<br />
Igreja.<br />
Se a Reforma Gregoriana, no século XI, legou aos séculos<br />
seguintes as bases de um poder eclesiástico independente dos poderes<br />
“temporais”, foi no século XIII que a Igreja, além de usufruir <strong>des</strong>sa<br />
autonomia frente às autori<strong>da</strong><strong>des</strong> seculares, conquistou sua hegemonia<br />
sobres os poderes do céu e <strong>da</strong> terra. Para Hilário Franco Júnior,<br />
(...) no século XIII estavam reuni<strong>da</strong>s to<strong>da</strong>s as condições para o<br />
exercício do poder papal sobre a comuni<strong>da</strong>de cristã. Em relação<br />
aos clérigos, o papado legisla e julga, tributa, cria ou fiscaliza<br />
universi<strong>da</strong><strong>des</strong>, institui dioceses, nomeia para to<strong>da</strong>s as funções,<br />
reconhece novas ordens religiosas. Em relação aos leigos, julga<br />
em vários assuntos, cobra o dízimo, determina a vi<strong>da</strong> sexual<br />
(casamento, abstinência), regulamenta a ativi<strong>da</strong>de profissional<br />
(trabalhos lícitos e ilícitos), estabelece o comportamento social<br />
(roupas, palavras, atitu<strong>des</strong>), estipula os valores culturais (FRANCO<br />
JÚNIOR, Op.cit., p. 77).<br />
Sem dúvi<strong>da</strong>, a melhor representação <strong>des</strong>se poder espiritual e<br />
temporal conquista<strong>da</strong> no século XIII, foi a figura do papa Inocêncio III,<br />
que, não sem razões, foi considerado, por historiadores modernos, o<br />
papa mais poderoso <strong>da</strong> história do Cristianismo. Entretanto, Lázaro<br />
Iriarte, chama a atenção para certa abertura de seu pontificado em<br />
relação às inquietações espirituais dos leigos, quando afirma que<br />
(...) <strong>des</strong>de 1198, ocupava a sede de Pedro um papa de grande<br />
<strong>per</strong>sonali<strong>da</strong>de e de ampla visão religiosa e política: Inocêncio III.<br />
Estava profun<strong>da</strong>mente convencido de ser cabeça <strong>da</strong> christianitas, a<br />
ci<strong>da</strong>de de Deus na terra, e <strong>da</strong> supremacia do “sacerdócio” sobre o<br />
“império” [...]. Seguia com atenção positiva qualquer manifestação<br />
<strong>da</strong> ação do Espírito no povo cristão, ain<strong>da</strong> que viesse <strong>da</strong>s cama<strong>da</strong>s<br />
menos considera<strong>da</strong>s <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de (IRIARTE, Op. cit., p.36).<br />
O poder papal durante o século XIII havia crescido e atingido<br />
to<strong>da</strong>s as dimensões <strong>da</strong> cristan<strong>da</strong>de. Mais uma vez, Franco Júnior<br />
observou muito bem o alcance <strong>des</strong>se poder inclusive num campo <strong>da</strong><br />
religiosi<strong>da</strong>de que antes não fazia parte <strong>da</strong>s preocupações <strong>da</strong> Cúria<br />
Romana: a santi<strong>da</strong>de e a canonização dos santos. No entanto,<br />
(...) <strong>des</strong>de os princípios do cristianismo, os mártires vitimados<br />
pelas <strong>per</strong>seguições romanas tornaram-se objetos de culto, sendo<br />
vistos como cristãos ideais, que tinham sacrificado suas vi<strong>da</strong>s por<br />
fideli<strong>da</strong>de ao Deus único. Esse culto nascia espontaneamente,<br />
sem ser controlado por nenhuma autori<strong>da</strong>de eclesiástica<br />
(FRANCO JÚNIOR, Op. cit., p. 77)<br />
Sobre essa questão, vale lembrar que a primeira bula papal que<br />
tratou do direito a canonização <strong>da</strong>ta do ano de 993, e o próprio termo<br />
“canonização” só se tornou usual a partir <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> metade do século<br />
XII, sendo que só em 1199, Inocêncio III definiria “as condições para<br />
que alguém fosse considerado santo: provas de “obras de pie<strong>da</strong>de em<br />
vi<strong>da</strong> e manifestações de milagres após a morte” (FRANCO JÚNIOR,<br />
Ibid., p. 78).<br />
É nesse ambiente de novas buscas, novos modos de vivência<br />
evangélica, novos controles e novas aberturas <strong>da</strong> parte dos autos<br />
escalões <strong>da</strong> Igreja, que surgiu Francisco de Assis: homem que,<br />
segundo Vauchez, foi o que melhor conseguiu associar, mesmo<br />
que nem sempre de forma tão harmoniosa, “o objectivo apostólico<br />
e a ex<strong>per</strong>iência ascética, o evangelismo integral e o espírito de<br />
obediência” (VAUCHEZ, Op. cit., p. 143).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 13<br />
| História | 2011
1.3 Francisco DE ASSIS<br />
e o movimento franciscano<br />
Numa legen<strong>da</strong> compila<strong>da</strong> em latim no século XIV intitula<strong>da</strong> Actus<br />
beati Francisci et sociorum eius, cuja tradução mais conheci<strong>da</strong>, em<br />
italiano, foram os Fioretti di San Francesco, há um pequeno relato<br />
que talvez resuma bem a <strong>per</strong>gunta sobre quem foi Francisco de<br />
Assis. A legen<strong>da</strong> narra um episódio em que Frei10 Francisco estava<br />
voltando <strong>da</strong> floresta donde rezava e encontrou Frei Masseo, um de<br />
seus companheiros, murmurando e repetindo uma mesma <strong>per</strong>gunta.<br />
O santo achou estranho e pediu que Frei Masseo lhe dissesse o que<br />
estava contecendo. O frade então repetiu, agora em voz alta, “Por<br />
que a ti? Por que a ti? Por que todos correm atrás de ti e querem vêlo,<br />
tocá-lo e obedecê-lo? Tu não és nobre, nem belo, nem sábio, nem<br />
rico!” 11 .<br />
O fato é que os ecos <strong>da</strong> <strong>per</strong>gunta de Frei Masseo viajaram todos<br />
esses séculos e ain<strong>da</strong> hoje a pessoa de São Francisco continua envolta<br />
em mistério. Isso ocorre porque, segundo, Giovanni Grado Merlo,<br />
medievalista e franciscanólogo italiano, a herança deixa<strong>da</strong> pelo santo<br />
de Assis era<br />
(...) uma “herança difícil”. A herança de Frei Francisco não era<br />
constituí<strong>da</strong> de bens materiais, de um patrimônio cultural, de<br />
eficientes estruturas institucionais. A herança era ele próprio, com<br />
sua quase única vontade/capaci<strong>da</strong>de de renovar entre as pessoas<br />
o “viver segundo a forma do santo Evangelho (MERLO, 2005, p.<br />
19).<br />
Foi esta “difícil herança” que fez com que se produzisse uma<br />
varie<strong>da</strong>de incrível de biografias sobre o “santo de Assis”. Essas<br />
biografias são chama<strong>da</strong>s de Fontes Franciscanas que formam uma<br />
hagiografia muito especial, chama<strong>da</strong> de militante, produzi<strong>da</strong> para<br />
celebrar um santo. São narrativas muito complexas porque passado<br />
e presente nelas coexistem (como veremos no segundo e terceiro<br />
capítulos). Aqui, surge um problema: como ter acesso ao “ver<strong>da</strong>deiro”<br />
São Francisco e ao espírito que tocava aquela primeira fraterni<strong>da</strong>de<br />
por ele fun<strong>da</strong><strong>da</strong>?<br />
Um erudito padre jesuíta, Teilhard de Chardin, talvez tenha sido<br />
quem melhor expressou – em outro contexto, mas que pode servir muito<br />
bem ao estudo do passado franciscano – este drama do problema <strong>da</strong>s<br />
origens. Escreve ele que<br />
(...) na<strong>da</strong> é delicado e fugitivo, por natureza como o começo.<br />
(...) Seu edifício é frágil. Suas dimensões são fracas. Poucos<br />
indivíduos, relativamente, o compõe, e estes mu<strong>da</strong>m rapi<strong>da</strong>mente.<br />
(...) Como agirá o tempo sobre esta região frágil? Inevitavelmente,<br />
<strong>des</strong>truindo-a em seus vestígios. Provocante, mas essencial<br />
fragili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s origens, cujo sentido deveria penetrar todos os<br />
que se ocupam de história!... Na<strong>da</strong> de tão extraordinário quando<br />
as coisas retrospectivamente nos parecem surgir prontinhas<br />
(CHARDIN, Apud., DESBONNETS, 1987, p. 14).<br />
Mesmo que a vi<strong>da</strong> de Francisco de Assis houvesse inspirado<br />
“<strong>des</strong>de cedo uma literatura na qual len<strong>da</strong> e história, reali<strong>da</strong>de e ficção,<br />
poesia e ver<strong>da</strong>de estão intimamente ligados” (LE GOFF, 2001, p. 58)<br />
é possível, mesmo assim, tentar construir um “retrato” aproximado do<br />
homem por trás do santo.<br />
Francisco nasceu entre os anos de 1181 e 1182. Recebeu,<br />
primeiramente, o nome de João por vontade de seu pai Pedro de<br />
Bernardone, que trabalhava no ofício de comerciante. Curiosamente,<br />
as raízes de Francisco de Assis, nem sempre se encontraram em<br />
Assis; vale salientar que sua família “não era originária de Assis; do<br />
lado paterno ele vinha de Lucca, onde exerceram a manufatura e o<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 14<br />
| História | 2011
comércio de tecidos, os Moriconi de Lucca” (FALBEL, 1995, p. 3). De<br />
outro lado, sua mãe, Donna Pica, “de origem aristocrática, era oriun<strong>da</strong><br />
<strong>da</strong> Provença” (FALBEL, Id.).<br />
O filho de Pedro de Bernardone foi educado na cultura e no<br />
idioma gauleses, ou seja, o “langue d’oil, que na época, segundo a<br />
observação de Sabatier, era a língua internacional <strong>da</strong> Europa e no<br />
norte <strong>da</strong> Itália era a língua dos jogos e dos torneios <strong>da</strong>s pequenas<br />
cortes principescas” (FALBEL, Ibid., p. 4).<br />
Francisco, em sua juventude, pouco se distanciava dos modos<br />
juvenis de nossos tempos. Seus sonhos e ideais, traumas e fracassos<br />
o conduziam e o maceravam, respectivamente, de tal maneira que<br />
se via forçado a fazer escolhas às vezes um tanto incompreensíveis.<br />
Como qualquer jovem de sua época, Francisco “absorveu a literatura<br />
liga<strong>da</strong> ao ciclo do rei Artur e a de Rolando” (FALBEL, Id.).<br />
Mesmo sendo filho de comerciantes, e assim não <strong>per</strong>tencente à<br />
classe tão afama<strong>da</strong> dos nobres e de seu questionável status social,<br />
Francisco “procurava levar um ritmo de vi<strong>da</strong> cavaleiroso, imitando<br />
o comportamento dos nobres, mais que praticando as virtu<strong>des</strong> e os<br />
defeitos <strong>da</strong> burguesia comercial” (LE GOFF, 2001, p. 59).<br />
Seu sonho era se tornar cavaleiro, e fez todo o possível<br />
para que isso se realizasse chegando a ingressar nas fileiras do<br />
exército assisiense na guerra contra a vizinha ci<strong>da</strong>de de Perugia,<br />
onde foi preso e libertado pelo pai, mediante o pagamento de um<br />
resgate. Em outra oportuni<strong>da</strong>de, novamente foi combater nas<br />
Apúlias, mas quando estava em Espoleto, sentiu-se mal e teve que<br />
voltar para casa como um fracassado. Para Le Goff, essa doença<br />
marcou profun<strong>da</strong>mente a conversão e to<strong>da</strong> a vi<strong>da</strong> do santo. Para o<br />
historiador,<br />
(...) sobre a natureza <strong>des</strong>sa doença que durou meses na<strong>da</strong><br />
sabemos, mas, <strong>des</strong>de logo, revela-se um traço essencial <strong>da</strong><br />
<strong>per</strong>sonali<strong>da</strong>de física e espiritual de Francisco: trata-se de um<br />
homem doente. Até a morte ele sofrerá de dois tipos de males:<br />
doenças dos olhos e afecções do sistema digestivo: estômago,<br />
baço e fígado. As viagens, as pregações, as fadigas, as práticas<br />
ascéticas agravarão essa saúde precária (LE GOFF, Ibid., p.<br />
63).<br />
A partir de então, Francisco de Assis iniciou um longo processo<br />
de questionamentos sobre o sentido de sua vi<strong>da</strong>, sobre os homens,<br />
sobre a natureza e sobre Deus. Começou, assim, <strong>des</strong>prezar os valores<br />
nos quais havia sido criado até que entrou em um sério conflito com<br />
seu pai ao pegar seu dinheiro e jogar pela janela de sua casa, para<br />
alegria dos pobres <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de. Seu pai, depois de o haver espancado,<br />
levou-o até o bispo de Assis, a fim de, diante <strong>da</strong> multidão, <strong>des</strong>erdá-lo<br />
como filho. Francisco, por sua vez, num gesto emblemático e muito<br />
recor<strong>da</strong>do, ficou nu diante de todos e começou uma vi<strong>da</strong> de penitência,<br />
reconstruindo algumas igrejinhas <strong>da</strong> região.<br />
Não ficou muito tempo sozinho, pois a errância de Francisco<br />
(...) pelas ci<strong>da</strong><strong>des</strong> e a sinceri<strong>da</strong>de de suas convicções, alia<strong>da</strong>s a<br />
uma concepção autêntica sobre a vi<strong>da</strong> evangélica, atraíram os<br />
discípulos que viram nele um santo ou um profeta renovador de<br />
uma antiga ver<strong>da</strong>de – já a<strong>nunc</strong>ia<strong>da</strong> nos evangelhos (FALBEL, Op.<br />
cit., p. 8).<br />
Quando acolheu o décimo primeiro companheiro, Francisco achou<br />
necessário compor uma forma vitae (“forma de vi<strong>da</strong>”) que fosse<br />
canonicamente aprova<strong>da</strong> pela Santa Sé, a fim de que seu grupo<br />
de homens não fosse confundido com os inúmeros movimentos<br />
heterodoxos que, naquela época, já conseguiam tirar o sono de bispos<br />
e cardeais <strong>da</strong> Igreja.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 15<br />
| História | 2011
O papa Inocêncio III acolheu Francisco e seus fra<strong>des</strong> aprovando<br />
oralmente seu novo modo de vi<strong>da</strong> evangélica. Era a festa de<br />
Pentescostes, dia 17 de maio do ano do Senhor de 1209. Uma Ordem<br />
Religiosa, diferente de to<strong>da</strong>s as outras já conheci<strong>da</strong>s, nascia com o<br />
nome de Ordo Minorum (“Ordem dos Menores”).<br />
Mas qual era a proveniência <strong>des</strong>ses primeiros fra<strong>des</strong>? Qual era<br />
a identi<strong>da</strong>de <strong>des</strong>sa nova Ordo? Para Giovanni Merlo, a primitiva<br />
fraterni<strong>da</strong>de era constituí<strong>da</strong> por<br />
(...) um grupo bastante variado em i<strong>da</strong>de, proveniência social<br />
e cultura: há nobres e cavaleiros, leigos e clérigos (sacerdotes<br />
ou não), membros <strong>da</strong> aristocracia urbana e homens do populus,<br />
iletrados e letrados, ricos e pobres, citadinos e camponeses<br />
(MERLO, Op. cit., p. 29).<br />
Quanto à identi<strong>da</strong>de <strong>des</strong>se movimento franciscano ain<strong>da</strong> nascente,<br />
pode-se dizer que seguiam as orientações de Frei Francisco e seu<br />
<strong>des</strong>ejo de seguir a Cristo “pobre e crucificado”, conforme era revelado<br />
nos evangelhos. É por esta razão que<br />
(...) os membros <strong>da</strong> Fraterni<strong>da</strong>de não devem estar “separados” dos<br />
outros indivíduos, dos outros “pobres”, na forma de viver e de se<br />
vestir. No testemunho cristão dos primi fratres [primeiros irmãos]<br />
e socii [companheiros] há um caráter profun<strong>da</strong>mente <strong>des</strong>armado,<br />
que se manifesta <strong>des</strong>de sua sau<strong>da</strong>ção “O Senhor te dê a paz<br />
(Salutationem michi Dominus revelavit ut dicerimus: Dominus det<br />
tibi pacem) (MERLO, Ibid., p. 30).<br />
Entre as virtu<strong>des</strong> mais recor<strong>da</strong><strong>da</strong>s de Francisco de Assis e torna<strong>da</strong>s<br />
típicas <strong>da</strong> espirituali<strong>da</strong>de franciscanas, <strong>des</strong>tacam-se a cortesia e a<br />
alegria. Para Le Goff, a cortesia expressa nas atitu<strong>des</strong> do santo<br />
(...) não é apenas um meio de participar <strong>da</strong>s mo<strong>da</strong>s culturais de seus<br />
contemporâneos leigos. Essa linguagem exprime uma interiorização<br />
do heroísmo guerreiro que caracteriza a religiosi<strong>da</strong>de de seu tempo.<br />
O santo <strong>da</strong> alta I<strong>da</strong>de Média era o atleta de Deus, o santo do século<br />
XIII é o cavaleiro de Deus (LE GOFF, 2001, p. 226),<br />
e acrescenta que, no que diz respeito a alegria, para os<br />
franciscanos,<br />
(...) o prazer do mundo se manifesta ain<strong>da</strong> mais claramente<br />
no comportamento alegre. Nisso, ain<strong>da</strong>, há aproximação entre<br />
religiosos e leigos, enquanto que o modelo monástico fazia do<br />
monge um especialista em lágrimas (LE GOFF, Ibid., p.228).<br />
O estilo de vi<strong>da</strong> inaugurado pelos franciscanos, isto é, esse novo<br />
olhar sobre o mundo e sobre a religião, inaugurado por Francisco de<br />
Assis e seus seguidores, marcou profun<strong>da</strong>mente a pie<strong>da</strong>de popular<br />
do século XIII <strong>da</strong> cristan<strong>da</strong>de ocidental, como, por exemplo, a criação<br />
do “presépio vivo” que influenciou to<strong>da</strong> uma iconografia em torno <strong>da</strong><br />
Santa Infância e a devoção mariana, já inicia<strong>da</strong> no século XII, mas<br />
difundi<strong>da</strong> entre os leigos pelos fra<strong>des</strong> carmelitas e franciscanos.<br />
Enfim, na mesma medi<strong>da</strong> em que cresceu o número dos fra<strong>des</strong><br />
cresceram também os problemas institucionais <strong>da</strong> Ordem e estes,<br />
geralmente, gravitavam em torno <strong>da</strong> questão <strong>da</strong> pobreza e <strong>da</strong>s<br />
necessi<strong>da</strong><strong>des</strong> dos fra<strong>des</strong> diante dos novos <strong>des</strong>afios de apostolado na<br />
socie<strong>da</strong>de. As querelas se intensificaram ca<strong>da</strong> vez mais e tiveram, como<br />
veremos, grande reflexo na produção hagiográfica sobre São Francisco,<br />
principalmente no século XIV. Entretanto, algumas “imagens” do santo,<br />
construí<strong>da</strong>s no século XIII, também escondiam mecanismos de poder<br />
muito complexos.<br />
2 AS VÁRIAS FACES DE SÃO FRANCISCO<br />
Por mais que os instrumentos de investigação histórica<br />
<strong>des</strong>envolvidos nas últimas déca<strong>da</strong>s tenham possibilitado aos<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 16<br />
| História | 2011
historiadores novas abor<strong>da</strong>gens sobre passado, isso não quer dizer<br />
que este passado se revele <strong>des</strong>de então ao olhar do pesquisador de<br />
forma clara e <strong>des</strong>pi<strong>da</strong> de sombras.<br />
As contribuições <strong>da</strong> História Cultural tiveram, neste sentido,<br />
um papel muito importante, tendo se tornado “um dos campos mais<br />
vigorosos e debatidos do âmbito histórico” mesmo que exista “um<br />
grande risco de não poder traçar uma fronteira segura e clara entre a<br />
história cultural e outras histórias (...)” (CHARTIER, 2009, p. 33).<br />
O historiador, entretanto, deve ter consciência de que não poderá<br />
se furtar às discussões entre <strong>memória</strong> e História. Como observou<br />
Giovanni Merlo,<br />
(...) o problema seguinte é obrigatório: o que falam e o que calam<br />
os fatos, em si e na ligação entre si? De forma mais <strong>per</strong>tinente,<br />
a <strong>per</strong>gunta deveria ser dirigi<strong>da</strong> à documentação: o que falam e<br />
o que calam as fontes e os documentos? Fontes e documentos<br />
falam e calam sobre homens e mulheres, sobre seus atos, seus<br />
pensamentos, seus sentimentos, sua grandeza, sua miséria, sua<br />
impotência seu (mais ou menos acentuado) <strong>des</strong>ejo de poder (...).<br />
Fontes e documentos são escritos testemunhais que falam somente<br />
quando interrogados (MERLO, 2005, p. 16).<br />
Isso implica em dizer que se as <strong>per</strong>guntas feitas aos documentos<br />
não forem adequa<strong>da</strong>mente formula<strong>da</strong>s, tais documentos poderão<br />
silenciar-se ou oferecerem respostas distorci<strong>da</strong>s ao pesquisador.<br />
Roger Chartier, apoiando-se nos trabalhos do filósofo francês,<br />
Paul Ricoeur, tentou traçar, de modo sintético, as relações profun<strong>da</strong>s<br />
entre <strong>memória</strong>, história e esquecimento:<br />
(...) graças ao grande livro de Paul Ricoeur, A <strong>memória</strong>, a história, o<br />
esquecimento (2000), as diferenças entre história e <strong>memória</strong> podem<br />
ser trata<strong>da</strong>s com clareza. A primeira é a que distingue o testemunho<br />
do documento. Se o primeiro é inseparável <strong>da</strong> testemunha e opõe<br />
que suas declarações sejam considera<strong>da</strong>s admissíveis, o segundo<br />
dá acesso a “acontecimentos que se consideram históricos e que<br />
<strong>nunc</strong>a foram a recor<strong>da</strong>ção de ninguém”. Ao testemunho, cujo<br />
crédito se baseia na confiança outorga<strong>da</strong> à testemunha, opõe-se<br />
a natureza indiciária do documento. A aceitação (ou repúdio) <strong>da</strong><br />
credibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> palavra que testemunha o fato é substituí<strong>da</strong> pelo<br />
exercício crítico, que submete ao regime do ver<strong>da</strong>deiro e do falso,<br />
do refutável e do verificável aos vestígios do passado (CHARTIER,<br />
Op. cit., p. 21)<br />
Neste caso, como conhecer a vi<strong>da</strong> de um homem com fama de<br />
santi<strong>da</strong>de, como é o caso de Francisco de Assis, cuja maioria dos relatos<br />
sobre sua trajetória humana e espiritual <strong>per</strong>tenceram a um gênero<br />
literário tão sui generis como o hagiográfico? Michel de Certeau já<br />
alertava para este problema, pois afirmava que analisar a hagiografia<br />
em função de sua “autentici<strong>da</strong>de” e de seu “valor histórico” seria<br />
empobrecê-la, pois “isto seria submeter um gênero literário à lei de<br />
um outro – a historiografia – e <strong>des</strong>mantelar um tipo próprio de discurso<br />
para reter dele senão aquilo que ele não é” (CERTEAU, 2008, p. 267),<br />
correndo o risco de se ficar na su<strong>per</strong>ficiali<strong>da</strong>de. Certamente, isso não<br />
<strong>des</strong>autoriza o historiador de se debruçar sobre as “vi<strong>da</strong>s de santos”<br />
com olhar crítico, mas, segundo Certeau, seu trabalho consistiria em<br />
retraçar as etapas, analisar o funcionamento e particularizar o contexto<br />
cultural <strong>da</strong> obra hagiográfica.<br />
Assim, seria ingênuo <strong>des</strong>ejar apreender nas antigas biografias<br />
sobre São Francisco12 o ver<strong>da</strong>deiro homem debaixo do santo. Mesmo<br />
porque os hagiógrafos, como se dirá mais adiante, não estavam<br />
interessados em narrar a vi<strong>da</strong> do homem, mas sim a vi<strong>da</strong> do santo.<br />
Neste ponto, as fontes hagiográficas franciscanas<br />
(...) oferecem realmente dificul<strong>da</strong><strong>des</strong> ao estudioso precavido. Não<br />
<strong>des</strong>crevem uma imagem uniforme de S. Francisco, o que de <strong>per</strong><br />
si já é muito natural, <strong>da</strong><strong>da</strong> a envergadura extraordinária do santo.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 17<br />
| História | 2011
Mas, o problema está mesmo é no que sobre ele se escreveu e não<br />
tanto nele mesmo (...) (SILVEIRA, 1990, p. 17).<br />
É ver<strong>da</strong>de que, parte considerável <strong>da</strong>s biografias sobre o santo<br />
de Assis, embora <strong>per</strong>mea<strong>da</strong>s de variações significantes e até<br />
contradições entre si, apresentava uma semelhança – como veremos<br />
na segun<strong>da</strong> parte <strong>des</strong>te capítulo - que espantaria o leitor de nossos<br />
dias, acostumado com nossas modernas leis de direitos autorais e as<br />
punições previstas contra o plágio, mas não se deve aqui <strong>des</strong>considerar<br />
as palavras de Umberto Eco que nos recor<strong>da</strong> que<br />
(...) a I<strong>da</strong>de Média foi uma época de autores que se copiavam em<br />
cadeia sem citar-se – mesmo porque em uma época de cultura<br />
manuscrita, com os manuscritos dificilmente acessíveis, copiar era<br />
o único meio de fazer circular as idéias. Ninguém considerava isso<br />
um delito; de cópia em cópia, era freqüente que não se soubesse<br />
mais qual a ver<strong>da</strong>deira paterni<strong>da</strong>de de uma fórmula; no fim <strong>da</strong>s<br />
contas, pensava-se que, se uma idéia era ver<strong>da</strong>deira, <strong>per</strong>tencia a<br />
todos (ECO, 2010, p. 16).<br />
Não é preciso dizer que, no caso franciscano aqui estu<strong>da</strong>do, a<br />
questão <strong>da</strong>s cópias de obras ou de biografias – sem autorização prévia<br />
dos autores - não foi um simples problema de facilitação <strong>da</strong> “circulação<br />
de ideias”. Tudo indica que foi mais que isso. Para este estudo, importa,<br />
então, tentar identificar os ver<strong>da</strong>deiros motivos que levaram o século<br />
XIII e, mais tarde, o século XIV – guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s suas peculiari<strong>da</strong><strong>des</strong> – a se<br />
tornarem palcos de uma intensa e fervorosa busca por um rosto para<br />
São Francisco.<br />
2.1 A literatura hagiográfica medieval<br />
Antes de se tentar compreender a natureza e as características do<br />
gênero literário denominado de hagiografia, faz-se necessário adentrar,<br />
ao menos um pouco, no complexo tema <strong>da</strong> santi<strong>da</strong>de, principalmente<br />
naquilo que esta significava para a civilização medieval. Já foi dito aqui<br />
que o homem medieval era profun<strong>da</strong>mente religioso. Desta forma,<br />
qualquer estudo historiográfico sobre a santi<strong>da</strong>de deve, segundo<br />
Giovanni Merlo, respeitar os valores<br />
(...) religiosos e cristãos. Não se trata de aceitá-los ou de rejeitálos<br />
(isso depende <strong>da</strong>s legítimas e arrisca<strong>da</strong>s opções pessoais),<br />
mas de conhecê-los e compreendê-los, primeiramente dentro<br />
<strong>da</strong> grandiosa concepção de “história <strong>da</strong> salvação” <strong>da</strong> qual são<br />
sempre integrantes. (...) O historiador dos fenômenos religiosos<br />
e eclesiásticos (cristãos) não tem Deus diante de si, mas homens<br />
e mulheres que professaram sua fé no Deus cristão (MERLO, Op.<br />
cit., p. 17).<br />
Também para Sofia Boesch Gajano, o tema <strong>da</strong> santi<strong>da</strong>de na I<strong>da</strong>de<br />
Média deve ser tratado com muita cautela, evitando preconceitos.<br />
Para a historiadora, a<br />
(...) santi<strong>da</strong>de no Ocidente medieval constitui um fenômeno<br />
considerável, de múltiplas dimensões: fenômeno espiritual, ela<br />
é a expressão <strong>da</strong> busca do divino; fenômeno teológico, ela é<br />
a manifestação de Deus no mundo; fenômeno religioso, ela é o<br />
momento privilegiado <strong>da</strong> relação com o sobrenatural; fenômeno<br />
social, ela é um fator de coesão e identificação dos grupos e <strong>da</strong>s<br />
comuni<strong>da</strong><strong>des</strong>; fenômeno institucional, ela é o fun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong>s<br />
estruturas eclesiásticas e monásticas; fenômeno político, enfim,<br />
ela é um ponto de interferência ou de coincidência <strong>da</strong> religião e do<br />
poder (GAJANO Apud LE GOFF et SCHIMITT, 2006, p. 449).<br />
Entretanto, a santi<strong>da</strong>de não tinha uma existência em si mesma<br />
e isso é de extrema importância para que se possa compreender a<br />
natureza <strong>da</strong> produção hagiográfica medieval. Ain<strong>da</strong> para Gajano,<br />
a santi<strong>da</strong>de aparecia como uma <strong>construção</strong> que se baseava na<br />
“<strong>per</strong>cepção e o reconhecimento do caráter excepcional de um homem<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 18<br />
| História | 2011
ou de uma mulher” (GAJANO, Apud LE GOFF et SCHIMITT, Ibid.,<br />
p. 449). A <strong>construção</strong> <strong>da</strong> santi<strong>da</strong>de, assim, se fazia segundo certas<br />
exigências e modelos. É claro que o modelo principal de santi<strong>da</strong>de era<br />
a própria vi<strong>da</strong> de Jesus Cristo, <strong>des</strong>crito nos evangelhos, isto é, sua<br />
cari<strong>da</strong>de para com o próximo, suas virtu<strong>des</strong> e suas lutas contra as<br />
tentações. Além disso, o santo medieval devia ser<br />
(...) dotado de dons corporais e espirituais. De belo aspecto. Tem<br />
compostura digna, mas é simples. Despreza a pompa e veste-se<br />
pobremente. É acolhedor e amável. Usa palavras edificantes. É<br />
paciente e humilde, mas em certas circunstâncias é firme. A pureza<br />
do corpo e <strong>da</strong> alma fazem-no imaculado. É comedido <strong>da</strong> comi<strong>da</strong> e<br />
na bebi<strong>da</strong>, parco no sono, que interrompe para vigílias de oração<br />
(...) (SILVEIRA, Op. cit., p. 25).<br />
A santi<strong>da</strong>de toma<strong>da</strong> a partir <strong>da</strong> escolha de vi<strong>da</strong> de homens e<br />
mulheres devotos, <strong>des</strong>de cedo, no Cristianismo, deu origem a uma tipo<br />
de literatura muito singular: a hagiografia. Ain<strong>da</strong> na época <strong>da</strong> <strong>per</strong>seguição<br />
aos cristãos dos primeiros três séculos de nossa Era, um gênero literário<br />
“novo pela língua, pela forma e pelo conteúdo – mesmo se talvez tenha<br />
tido antecedentes no que se chama de Acta martyrum paganorum (“Atos<br />
dos mártires pagãos”) – inaugura a produção hagiográfica, <strong>des</strong>tina<strong>da</strong> a<br />
fixar a <strong>memória</strong> histórica <strong>da</strong>s ações dos heróis <strong>da</strong> nova fé” (GAJANO<br />
Apud LE GOFF et SCHIMITT, Op. cit., p. 455).<br />
Como observaram Cláudio Moreschini e Enrico Norelli, já no século<br />
III as primeiras biografias dos santos possuíam aspectos próprios<br />
como, por exemplo, o<br />
(...) interesse centrado sobretudo no comportamento moral do<br />
<strong>per</strong>sonagem e em sua morte como cristão; a função exemplar<br />
assumi<strong>da</strong> pelos santos biografados, considerando-se que a<br />
biografia também devia apresentar aos leitores um modelo ideal a<br />
seguir (MORESCHINI et NORELLI, 2000, p. 431).<br />
Afirmar que a santi<strong>da</strong>de era uma <strong>construção</strong> social muito<br />
importante na I<strong>da</strong>de Média, não quer dizer que esta fosse um<br />
fenômeno estático, cristalizado, mas, pelo contrário, apresentavase<br />
com uma dinamici<strong>da</strong>de surpreendente. Esse <strong>des</strong>envolvimento<br />
<strong>da</strong> santi<strong>da</strong>de foi bem ilustrado na literatura hagiográfica medieval,<br />
principalmente naquela produzi<strong>da</strong> do século VI ao século XII quando<br />
ela constituiu<br />
(...) o principal testemunho sobre as fortes transformações<br />
sofri<strong>da</strong>s por uma região geopolítica: fim <strong>da</strong> uni<strong>da</strong>de mediterrânea;<br />
contato com as populações não romanas (germânicas, depois<br />
húngaras e norman<strong>da</strong>s); alargamento <strong>da</strong>s fronteiras internas<br />
(com a repressão contra pagãos, judeus, hereges) e externas (na<br />
Europa setentrional e oriental); <strong>des</strong>envolvimento <strong>da</strong>s instituições<br />
eclesiásticas e monásticas, e progressiva fusão <strong>da</strong>s elites políticas<br />
e elites religiosas (...); dramas suscitados por calami<strong>da</strong><strong>des</strong><br />
naturais e guerras; múltiplas formas de divisão dos poderes no<br />
decorrer dos séculos, tendo como pano de fundo uma modificação<br />
<strong>da</strong>s relações entre ci<strong>da</strong>de e campo (GAJANO Apud LE GOFF et<br />
SCHIMITT, Op. cit., p. 456).<br />
Para alguns estudiosos, como Ildefonso Silveira, a hagiografia<br />
estava mais próxima <strong>da</strong> arte do que <strong>da</strong> ciência. Para Certeau, o<br />
discurso hagiográfico se localizava na extremi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> historiografia,<br />
pois, “a retórica <strong>des</strong>te “monumento” está satura<strong>da</strong> de sentido, mas<br />
do mesmo sentido” (CERTEAU, Op. cit., p. 266). Isso quer dizer<br />
que um discurso hagiográfico só tinha sentido em si mesmo, no seu<br />
universo religioso e cultural, onde a intervenção divina na vi<strong>da</strong> de um<br />
homem ou de uma mulher é que dá significado à narrativa.<br />
Na apresentação à obra Legen<strong>da</strong> Áurea, compila<strong>da</strong> no século<br />
XIII pelo frade dominicano Jacopo de Varazze, o historiador Hilário<br />
Franco Junior comenta, de forma sucinta numa nota explicativa,<br />
as raízes filológicas do termo “legen<strong>da</strong>”, muito utilizado pelos<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 19<br />
| História | 2011
hagiógrafos medievais para intitular suas “vi<strong>da</strong>s de santos” e que<br />
traduzido literalmente, significava “aquilo que deve ser lido”. Para<br />
ele, a palavra<br />
(...) legen<strong>da</strong> não existe no latim clássico, sendo criação <strong>da</strong> liturgia<br />
medieval, que no século IX transformou o adjetivo verbal de legere<br />
em substantivo que indicasse a narrativa hagiográfica li<strong>da</strong> na festa<br />
de ca<strong>da</strong> santo (...). Ain<strong>da</strong> com sentido tradicional, ela passou em<br />
fins do século XII para o francês e depois para outras línguas<br />
vernáculas, e somente no século XIX, com os positivistas, ganhou<br />
a acepção de “len<strong>da</strong>”, relato que deforma os fatos e <strong>per</strong>sonagens<br />
históricos (FRANCO JÚNIOR, 2003. p. 12).<br />
O termo “hagiografia” provinha, então, <strong>da</strong> junção do substantivo<br />
(ou mesmo adjetivo) grego αγιος (“hagiós”), traduzido por “santo” ou<br />
“sagrado” com o substantivo γραφια (“grafia”), “escrita”, em outras<br />
palavras, era a “escrita <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> de um santo”. Já de inicio é preciso<br />
deixar claro que uma narrativa hagiográfica não <strong>des</strong>ejava ser histórica<br />
– pelo menos não em nossa concepção moderna de história -, mas<br />
sim uma pe<strong>da</strong>gogia modelar e edificante. Deste modo, a intenção do<br />
hagiógrafo era <strong>des</strong>enrolar<br />
(...) um plano traçado pela Divina Providência; o biógrafo medieval<br />
não é, porém, fatalista, é providencialista. Já se escreveu que<br />
para um biógrafo medieval, é histórico tudo aquilo que pode ter<br />
significado a luz <strong>da</strong> fé, e que lhe interessa mais o significado<br />
salvífico de um fato do que o mesmo fato em si, fato às vezes com<br />
pouco fun<strong>da</strong>mento histórico em sentido moderno.” (SILVEIRA, Op.<br />
cit., p. 18).<br />
Certeau compartilha <strong>des</strong>ta colocação sobre a diferença entre a<br />
hagiografia e a biografia moderna. Na primeira, “a combinação dos<br />
atos, dos lugares e dos temas indica uma estrutura própria que se<br />
refere não essencialmente “aquilo que se passou”, como faz a história,<br />
mas “àquilo que é exemplar” (CERTEAU, Op. cit., p. 267).<br />
Sobre as principais características gerais <strong>da</strong> literatura medieval<br />
de cunho hagiográfico, pode-se afirmar, entre outros aspectos, que<br />
“o enquadramento geográfico <strong>da</strong>s vi<strong>da</strong>s dos santos, por exemplo, é<br />
praticamente o mesmo, apesar de serem indicados diversos nomes<br />
de ci<strong>da</strong><strong>des</strong> e regiões” e que “o <strong>per</strong>fil dos santos também é quase<br />
sempre o mesmo, independentemente de sexo, condição social,<br />
local de procedência”. (FRANCO JÚNIOR, Op. cit., p. 15).<br />
No que diz respeito ao tempo, a narrativa hagiográfica parecia<br />
pouco se importar com uma ideia cronológica e sequencial de tempo,<br />
preferindo, assim, “a atemporali<strong>da</strong>de dos fatos relatados (...). O que<br />
sobressai <strong>des</strong>sas narrativas é seu sentido último e atemporal, que<br />
praticamente funde todos eles num só <strong>per</strong>sonagem-tipo – o mártir<br />
que deu a vi<strong>da</strong> pela maior glória de Deus” (FRANCO JÚNIOR, Ibid.<br />
p. 16). Por ter caráter teofânico, isto é, caráter de manifestação<br />
do divino, acrescenta Certeau, a hagiografia fazia com que as<br />
<strong>des</strong>continui<strong>da</strong><strong>des</strong> do tempo fossem esmaga<strong>da</strong>s pelo início, fim e<br />
fun<strong>da</strong>mento, que acreditavam ser o próprio Deus, ou “o tempo de<br />
todos os tempos”, como acena Márcia de Sá Cavalcante Schuback.<br />
Para ela<br />
(...) a expressão ‘tempo de todos os tempos’ quer indicar,<br />
de imediato, que a metafísica cristã <strong>da</strong> criação assume duas<br />
dimensões no tempo: um tempo no singular, único e inteiro, e um<br />
tempo plural, múltiplo e diverso. O tempo no singular, único, inteiro<br />
é a eterni<strong>da</strong>de do deus 13 criador. O tempo plural, múltiplo e diverso<br />
é o tempo de to<strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de extradivina, de to<strong>da</strong>s as criaturas. A<br />
eterni<strong>da</strong>de de deus não é, porém, sinônimo de atemporali<strong>da</strong>de, de<br />
privação do tempo. A eterni<strong>da</strong>de de deus é o único tempo de todos<br />
os tempos (SCHUBACK, 2000, p.79).<br />
No mesmo raciocínio, Certeau observa, ain<strong>da</strong> no que diz respeito<br />
ao “tempo hagiográfico”, que numa narrativa <strong>des</strong>te tipo,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 20<br />
| História | 2011
(...) <strong>des</strong>de as primeiras palavras, a vi<strong>da</strong> de santo se submete a<br />
um outro tempo do que a do herói: o tempo ritual <strong>da</strong> festa. O hoje<br />
litúrgico o remete a um passado que está por contar. O incipit 14<br />
determina o estatuto do discurso. Não se trata de uma história,<br />
mas de uma “legen<strong>da</strong>”, o que é “preciso ler” (legendum) este dia<br />
(CERTEAU, Op. cit., p. 276).<br />
É nesse sentido, mais uma vez, que a hagiografia se diferenciava<br />
<strong>da</strong> História, exatamente por se inserir num quadro litúrgico em que<br />
o tempo era concebido dentro de uma circulari<strong>da</strong>de sem duração,<br />
baseado num sentido escatológico e ao mesmo tempo festivo.<br />
Se o tempo <strong>da</strong> narrativa hagiográfica era compreendido a partir <strong>da</strong><br />
divin<strong>da</strong>de – “o tempo de todos os tempos” – também a noção de lugar,<br />
de espaço tinha sua singulari<strong>da</strong>de. Antes do lugar dito “geográfico”, na<br />
hagiografia, mais importante era a <strong>per</strong>cepção espiritual ou teológica do<br />
espaço em que se <strong>des</strong>enrolava a vi<strong>da</strong> e os feitos do santo. Assim, para<br />
a ex<strong>per</strong>iência medieval do lugar, Deus era também o fun<strong>da</strong>mento do<br />
espaço – era o “lugar de todos os lugares” (Cf. SCHUBACK, Op. cit.,<br />
p. 79). Para Certeau, a partir <strong>des</strong>ta sacralização do lugar,<br />
a organização do espaço que o santo <strong>per</strong>corre, se <strong>des</strong>dobra e torna<br />
a dobrar a fim de mostrar uma ver<strong>da</strong>de que é um lugar. Num grande<br />
número de hagiografias, antigas e modernas, a vi<strong>da</strong> do herói se<br />
divide, como o relato <strong>da</strong> viagem, entre uma parti<strong>da</strong> e um retorno<br />
(...). Vai e volta (CERTEAU, Op. cit., p. 277).<br />
Como se pode ver, a manifestação do divino era essencialmente<br />
local, visível e não dizível. O “lugar hagiográfico” parecia não importar<br />
muito, mas sim a ex<strong>per</strong>iência do lugar. Neste ponto,<br />
o sentido é um lugar que não é um lugar. Remete os leitores a um<br />
“além” que não é nem um alhures nem o próprio lugar onde a vi<strong>da</strong> do<br />
santo organiza a edificação de uma comuni<strong>da</strong>de. Freqüentemente<br />
se produz aí um trabalho de simbolização. Talvez esta relativização<br />
de um lugar particular através de uma composição de lugares, como<br />
o <strong>des</strong>aparecimento do indivíduo por detrás de uma combinação de<br />
virtu<strong>des</strong> prescritas à manifestação do ser, forneçam a “moral” <strong>da</strong><br />
hagiografia: portanto, uma vontade de significar um discurso de<br />
lugares é o não-lugar.” (CERTEAU, Ibid., p. 278).<br />
Na hagiografia, o lugar onde o santo realizava a vontade divina era<br />
mais importante que o tempo (este aqui entendido cronologicamente).<br />
Isso ocorria porque a “história do santo se traduz em <strong>per</strong>cursos de<br />
lugares e em mu<strong>da</strong>nças de cenário; eles determinam o espaço de uma<br />
“constância” (CERTEAU, Ibid. p. 276).<br />
Entre outras características de uma <strong>construção</strong> hagiográfica,<br />
Michel de Certeau elencou mais alguns pontos importantes. a) a<br />
imagem de um santo se modelava a partir de elementos semânticos;<br />
b) o santo já trazia em si alguma marca de sua divin<strong>da</strong>de, por isso a<br />
hagiografia lhe confere uma origem nobre, na qual o sangue/linhagem<br />
se tornava um símbolo muito ilustrativo <strong>da</strong> graça divina (<strong>da</strong>í se<br />
compreende a importância <strong>da</strong>s genealogias); c) a proximi<strong>da</strong>de entre as<br />
gesta principum (“gestos do príncipe”) e a vitae sanctorum (“vi<strong>da</strong> dos<br />
santos”); d) diferentemente de uma biografia moderna que se importa<br />
com as “evoluções” e as diferenças, a hagiografia concebia que tudo<br />
já havia sido <strong>da</strong>do ao santo <strong>des</strong>de o inicio (vocação); e) o santo é<br />
aquele que não <strong>per</strong>deu na<strong>da</strong> <strong>da</strong>quilo que Deus lhe confiou; e, por fim,<br />
a hagiografia se caracterizava por dramatizar e dividir a vi<strong>da</strong> do santo<br />
em tempos de provação e tempos de glorificação.<br />
A par <strong>des</strong>ses aspectos gerais que ditavam o discurso hagiográfico,<br />
não se pode esquecer que a compilação e divulgação <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> de um<br />
santo não só almejava a glorificação do santo, mas também a formação<br />
e conservação <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de do grupo que criava tais discursos.<br />
Assim,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 21<br />
| História | 2011
(...) a vi<strong>da</strong> de um santo se inscreve na vi<strong>da</strong> de um grupo, Igreja ou<br />
comuni<strong>da</strong>de. Ela supõe que o grupo já tenha uma existência. Mas<br />
representa a consciência que ele tem de si mesmo, associando uma<br />
imagem a um lugar. (...) A “vi<strong>da</strong> de santo” articula dois movimentos<br />
aparentemente contrários. Assume uma distância com relação<br />
às origens (uma comuni<strong>da</strong>de já constituí<strong>da</strong> se distingue do seu<br />
passado graças á distância que constitui a representação <strong>des</strong>te<br />
passado). Mas, por outro lado, um retorno às origens <strong>per</strong>mite<br />
reconstituir uma uni<strong>da</strong>de no momento em que, <strong>des</strong>envolvendo-se,<br />
o grupo arrisca se dis<strong>per</strong>sar (CERTEAU, Ibid., p. 269).<br />
O santo e a socie<strong>da</strong>de que, de alguma maneira, o construiu,<br />
tinham, <strong>des</strong>ta maneira, uma relação muito íntima. E era precisamente<br />
a literatura hagiográfica que celebrava esta relação, já que<br />
(...) antes de ser escrita, já a precedera a veneração do povo ao<br />
santo. Corria uma tradição oral que, embrionariamente, agrupava<br />
os acontecimentos <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> em várias <strong>per</strong>ícopes com um objetivo<br />
condizente com o sentir do povo medieval. Em contraste com a<br />
biografia moderna, estas legen<strong>da</strong>s dos santos não <strong>des</strong>crevem a<br />
vi<strong>da</strong> do santo para fun<strong>da</strong>mentar seu culto, mas o culto precedia o<br />
hagiógrafo (SILVEIRA, 1995, p. 15)<br />
A partir <strong>des</strong>ses <strong>da</strong>dos sobre a natureza e características do<br />
discurso hagiográfico medieval, talvez seja mais fácil entender a<br />
dificul<strong>da</strong>de em se fazer um estudo <strong>da</strong>s muitas biografias produzi<strong>da</strong>s<br />
sobre São Francisco poucas déca<strong>da</strong>s depois de sua morte. Depois de<br />
sua canonização, em 1228,<br />
(...) escritores, sobretudo <strong>da</strong> Ordem Franciscana, esmeraram-se a<br />
deixar por escrito as <strong>memória</strong>s, lembranças, episódios, virtu<strong>des</strong> e<br />
milagres do novo santo. (...) Naturalmente, ao lado <strong>des</strong>ta tradição<br />
escrita, continuava a tradição oral, que corria de boca em boca. (...)<br />
Tinha muito a contar, por exemplo, Frei Leão, discípulo íntimo de S.<br />
Francisco, ou Frei Egídio, que viveram muito mais que seu mestre;<br />
os discípulos deles passavam adiante o que ouviram (SILVEIRA,<br />
1990, p. 13).<br />
Na ver<strong>da</strong>de, ao debruçarmos sobre essas biografias, <strong>des</strong>cobrimos<br />
que a santi<strong>da</strong>de de Francisco de Assis jamais foi um problema para<br />
os seus primeiros biógrafos. Isso era algo pacífico, um fenômeno já<br />
celebrado pelo povo e pela Igreja. O problema foi que essas biografias<br />
criaram “fantasmas”, isto é, representações tão diversas do santo que,<br />
na visão de alguns fra<strong>des</strong>, poderiam confundir os caminhos <strong>da</strong> Ordem<br />
franciscana.<br />
2.2 As representações de São Francisco nas<br />
biografias proscritas<br />
Quando, em 16 de julho de 1228, os sinos <strong>da</strong>s igrejas dobraram<br />
proclamando a canonização de Francisco de Assis, o papa Gregório IX<br />
imediatamente pediu a Frei Tomás de Celano que escrevesse uma biografia<br />
para que todo o povo cristão conhecesse e celebrasse o novo santo. A<br />
obra ficou pronta no início de 1229 e conheci<strong>da</strong> como Vita I15 (1 Cel). Foi a<br />
primeira de muitas biografias a narrar a vi<strong>da</strong> do santo de Assis.<br />
Frei Tomás de Celano nasceu por volta de 1185 e acolhido na<br />
Ordem franciscana em 1215, pelo próprio Francisco de Assis, como ele<br />
faz questão de recor<strong>da</strong>r:<br />
(...) não fazia muito tempo que [São Francisco] tinha voltado a<br />
Santa Maria <strong>da</strong> Porciúncula, quando alguns homens de letras e<br />
alguns nobres juntaram-se a ele com grande satisfação. A estes,<br />
sempre educado e discreto, tratou com respeito e digni<strong>da</strong>de,<br />
servindo piedosamente a ca<strong>da</strong> um conforme lhe cabia (1 Cel 57).<br />
Tudo indica que Frei Tomás de Celano era um frade bastante<br />
preparado, “um homem de letras”; possuía bons conhecimentos<br />
literários e <strong>da</strong> língua latina, não sendo difícil entender, assim, porque<br />
ficou encarregado de contar oficialmente a vi<strong>da</strong> de São Francisco.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 22<br />
| História | 2011
A Vita I, como já foi dito, tinha o objetivo de tornar o novo santo<br />
conhecido em to<strong>da</strong> Igreja. Isso quer dizer que Frei Tomás de Celano<br />
sabia que não devia escrever uma obra <strong>des</strong>tina<strong>da</strong> somente para uso<br />
dos fra<strong>des</strong>, mas sim para a edificação de to<strong>da</strong> a Cristan<strong>da</strong>de. Talvez,<br />
este detalhe, ajude a explicar porque, nesta biografia, Celano evitou<br />
tocar nas questões problemáticas que já começavam a surgir na<br />
Ordem, como por exemplo, as querelas sobre a pobreza, os estudos, o<br />
poder, a observância <strong>da</strong> Regra e os erros dos fra<strong>des</strong>, temas estes que<br />
serão tratados mais adiante.<br />
Celano faz questão de centralizar to<strong>da</strong> sua primeira obra na<br />
“novi<strong>da</strong>de” trazi<strong>da</strong> por São Francisco e pelo movimento religioso por<br />
ele fun<strong>da</strong>do. São Francisco foi exposto na Vita I como um renovador<br />
<strong>da</strong> Igreja, um “novo sol<strong>da</strong>do de Cristo” (1 Cel 9) que vinha a frente,<br />
guiando os melhores homens, estes, frutos “que a mão do Senhor<br />
tinha plantado havia pouco neste mundo (1 Cel 74). Celano estava tão<br />
convencido <strong>da</strong> novi<strong>da</strong>de trazi<strong>da</strong> por São Francisco que não hesitava em<br />
chamá-lo de “homem de outro mundo” (1 Cel 82).<br />
Por se tratar de uma biografia oficial encomen<strong>da</strong><strong>da</strong> pelo próprio<br />
papa Gregório IX, a Vita I ofereceu uma imagem de São Francisco<br />
mol<strong>da</strong><strong>da</strong> pelos modelos hagiográficos de sua época, mesmo que no<br />
prólogo <strong>des</strong>ta obra Celano afirme que tenha procurado “apresentar<br />
pelo menos o que ouvi de sua própria boca, ou soube por testemunhas<br />
comprova<strong>da</strong>s e de confiança” (1 Cel, Prólogo, 1). Para Ildefonso<br />
Silveira, “Tomás de Celano inspirou-se mais em testemunhos literáriohagiográficos<br />
que em testemunhos de carne e osso” (SILVEIRA, 1990,<br />
p. 50). Entretanto, não é justo afirmar que a Vita I na<strong>da</strong> tenha de<br />
original. Como já foi dito acima, mesmo que Celano tenha seguido os<br />
modelos hagiográficos usuais, ele o fez a partir do tema <strong>da</strong> “novi<strong>da</strong>de”.<br />
Isso fica bem expresso em um trecho <strong>da</strong> Vita I:<br />
(...) E foi assim que o seu ensinamento mostrou com evidência<br />
que a sabedoria do mundo era loucura, e em pouco tempo, sob<br />
a orientação de Cristo, mudou os homens para a sabedoria de<br />
Deus pela simplici<strong>da</strong>de de sua pregação. Como um dos rios do<br />
paraíso, este novo 16 evangelista dos últimos tempos irrigou<br />
o mundo inteiro com as fontes do Evangelho e pregou com o<br />
exemplo o caminho do Filho de Deus e a doutrina <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de.<br />
Nele e por ele, o mundo conheceu uma alegria ines<strong>per</strong>a<strong>da</strong> e uma<br />
santa novi<strong>da</strong>de: a velha árvore <strong>da</strong> religião viu reflorir seus<br />
ramos nodosos e raquíticos. Um espírito novo reanimou o<br />
coração dos escolhidos e neles derramou a unção de salvação<br />
ao surgir o servo de Cristo como um astro no firmamento,<br />
irradiando uma santi<strong>da</strong>de nova e prodígios inauditos. Por ele<br />
renovaram-se os antigos milagres, quando foi planta<strong>da</strong> no<br />
<strong>des</strong>erto <strong>des</strong>te mundo, com um sistema novo, mas à maneira<br />
antiga, a videira frutífera, que dá flores com o suave <strong>per</strong>fume<br />
<strong>da</strong>s santas virtu<strong>des</strong> e estende por to<strong>da</strong> parte os ramos <strong>da</strong> santa<br />
religiosi<strong>da</strong>de (1Cel 89).<br />
É de chamar a atenção que, num trecho relativamente curto, Celano<br />
quase tenha exagerado, citando, sem qualquer hesitação, expressões<br />
como “novo evangelista”, “santa novi<strong>da</strong>de”, “espírito novo”, “santi<strong>da</strong>de<br />
nova”, “renovação de antigos milagres” e até um “sistema novo” de<br />
“plantio”. Em relação aos “antigos milagres renovados” há um outro<br />
trecho muito interessante que elencava os milagres do santo depois de<br />
sua morte, ao narrar que<br />
junto de seu túmulo estão acontecendo continuamente novos<br />
milagres. As preces são insistentes e são muitos os benefícios<br />
obtidos para as almas e os corpos. Os cegos vêem, os surdos<br />
ouvem, os coxos an<strong>da</strong>m, os mudos falam, salta o que sofria de<br />
gota, limpa-se o leproso, volta o hidrópico ao normal. Os que<br />
sofrem males <strong>da</strong>s mais varia<strong>da</strong>s doenças obtêm a <strong>des</strong>eja<strong>da</strong> saúde.<br />
Seu corpo morto cura corpos vivos, como em vi<strong>da</strong> ele ressuscitava<br />
almas mortas (1Cel 121).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 23<br />
| História | 2011
Curiosamente, esses “milagres antigos” são na<strong>da</strong> menos do que<br />
os mesmos milagres que Jesus Cristo, segundo os evangelhos, o<strong>per</strong>ou<br />
quando ain<strong>da</strong> vivia entre os homens. Desta forma, é fácil imaginar<br />
qual era a intenção de Celano: comparar São Francisco com o próprio<br />
Cristo.<br />
Entre as virtu<strong>des</strong> que mais sobressaiam em São Francisco, além<br />
<strong>da</strong>quelas já propostas de antemão pelos mol<strong>des</strong> hagiográficos, como<br />
a cari<strong>da</strong>de, a bon<strong>da</strong>de, o amor, a oração, etc., Celano escolheu, para<br />
a Vita I duas virtu<strong>des</strong> que o papa Gregório IX propôs e que ele mesmo<br />
admirava no santo: a sua simplici<strong>da</strong>de e a sua humil<strong>da</strong>de. Várias são<br />
as citações que ilustram tais virtu<strong>des</strong> no santo recém-canonizado. Uma<br />
vez, estando o santo com seus companheiros numa cabana, um homem<br />
carregando seu jumento parou em frente à porta do lugar onde eles<br />
estavam. O camponês,<br />
(...) temendo ser rejeitado, instigava o animal a entrar, dizendo:<br />
“Entra, que vamos melhorar este lugar”. Ouvindo isso, São<br />
Francisco ficou muito chocado, pois entendeu a intenção do<br />
homem: pensava que os fra<strong>des</strong> queriam morar naquele lugar para<br />
promovê-lo e construir casas. São Francisco saiu imediatamente<br />
<strong>da</strong>li, abandonando a cabana por causa <strong>da</strong> palavra do camponês<br />
(1 Cel 44).<br />
Até para pregar a Palavra de Deus, São Francisco usava uma<br />
linguagem simples e não ficava envergonhado quando esquecia<br />
o que ia dizer. Celano narra seu modo de pregar <strong>des</strong>tacando sua<br />
singulari<strong>da</strong>de:<br />
(...) pregando freqüentemente a palavra de Deus a milhares de<br />
pessoas, tinha tanta segurança como se estivesse conversando<br />
com um companheiro. Olhava a maior <strong>da</strong>s multidões como se fosse<br />
uma só pessoa e falava a ca<strong>da</strong> pessoa com todo o fervor como<br />
se fosse uma multidão. (...) Se, diante do povo reunido, não se<br />
lembrava do que tinha preparado e não sabia falar de outra coisa,<br />
confessava candi<strong>da</strong>mente que tinha preparado muitas coisas e<br />
não estava conseguindo lembrar na<strong>da</strong>. De repente, enchia-se de<br />
tanta eloqüência que deixava admirados os ouvintes. Mas houve<br />
ocasiões em que não conseguiu dizer na<strong>da</strong>, deu a bênção e, só com<br />
isso, <strong>des</strong>pediu o povo com a melhor <strong>da</strong>s pregações (1 Cel 72).<br />
Entretanto, era a simplici<strong>da</strong>de do santo em relação à natureza que<br />
o cercava e saltava aos olhos de seus contemporâneos. A maioria dos<br />
seus biógrafos narrara este afeto que São Francisco mostrava para<br />
com a criação divina. O hagiógrafo tentou <strong>des</strong>crever um pouco <strong>des</strong>ta<br />
relação harmoniosa, mesmo confessando que<br />
(...) seria muito longo e praticamente impossível enumerar e<br />
<strong>des</strong>crever tudo que o glorioso pai São Francisco fez e ensinou<br />
durante a sua vi<strong>da</strong>. (...) Ao ver o sol, a lua, as estrelas e o firmamento,<br />
enchia-se muitas vezes de alegria admirável e inaudita. (...) Tinha<br />
um amor enorme até pelos vermes, por ter lido sobre o Salvador:<br />
Sou um verme e não um homem. Recolhia-os por isso no caminho<br />
e os colocava em lugar seguro, para não serem pisados pelos que<br />
passavam (1 Cel 80).<br />
A Vita I, além de enaltecer a “novi<strong>da</strong>de” de São Francisco diante de<br />
to<strong>da</strong> Cristan<strong>da</strong>de, tentou também esboçar, num trecho muito curioso,<br />
uma <strong>des</strong>crição detalha<strong>da</strong> do <strong>per</strong>fil físico e até psicológico do santo.<br />
Trata-se, talvez, <strong>da</strong> primeira tentativa oficial de se <strong>da</strong>r um rosto a São<br />
Francisco de Assis:<br />
(...) como era bonito, atraente e de aspecto glorioso na inocência<br />
de sua vi<strong>da</strong>, na simplici<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s palavras, na pureza do coração,<br />
no amor de Deus, na cari<strong>da</strong>de fraterna (...)! Tinha maneiras finas,<br />
era sereno por natureza e de trato amável, muito oportuno quando<br />
<strong>da</strong>va conselhos, sempre fiel em suas obrigações, prudente no<br />
julgar, eficaz no agir e em tudo cheio de elegância. Sereno na<br />
inteligência, delicado, sóbrio, contemplativo, constante na oração<br />
e fervoroso em to<strong>da</strong>s as coisas. Firme nas resoluções, equilibrado,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 24<br />
| História | 2011
<strong>per</strong>severante e sempre o mesmo. Rápido para <strong>per</strong>doar e demorado<br />
para se irar, tinha a inteligência pronta, uma <strong>memória</strong> luminosa, era<br />
sutil ao falar, sério em suas opções e sempre simples. Era rigoroso<br />
consigo mesmo, paciente com os outros, discreto com todos. Muito<br />
eloqüente, tinha o rosto alegre e o aspecto bondoso, era diligente<br />
e incapaz de ser arrogante. Era de estatura um pouco abaixo <strong>da</strong><br />
média, cabeça proporciona<strong>da</strong> e redon<strong>da</strong>, rosto um tanto longo e<br />
fino, testa plana e curta, olhos nem gran<strong>des</strong> nem pequenos, negros<br />
e límpidos, cabelos castanhos, pestanas retas, nariz proporcional,<br />
delgado e reto, orelhas levanta<strong>da</strong>s, mas pequenas; têmporas<br />
achata<strong>da</strong>s, língua pacificadora, ardente e penetrante, voz forte,<br />
doce, clara e sonora, dentes unidos, alinhados e brancos, lábios<br />
pequenos e delgados, barba preta e um tanto rala, pescoço esguio,<br />
ombros retos, braços curtos, mãos delica<strong>da</strong>s, dedos longos, unhas<br />
compri<strong>da</strong>s, <strong>per</strong>nas delga<strong>da</strong>s, pés pequenos, pele fina, enxuto de<br />
carnes. Vestia-se rudemente, dormia pouco e era muito generoso.<br />
E como era muito humilde, mostrava to<strong>da</strong> a mansidão para com<br />
to<strong>da</strong>s as pessoas, a<strong>da</strong>ptando-se a todos com facili<strong>da</strong>de. Embora<br />
fosse o mais santo de todos, sabia estar entre os pecadores como<br />
se fosse um deles (1 Cel 83).<br />
Frei Tomás de Celano, mesmo que tivesse escrito uma obra<br />
conforme as exigências hagiográficas de seu tempo, não se <strong>des</strong>cuidou<br />
de procurar ser preciso nas <strong>da</strong>tas e na cronologia que apresentava,<br />
sendo este talvez, a maior contribuição ofereci<strong>da</strong> pela Vita I, <strong>per</strong>mitindo<br />
aos historiadores terem uma base confiável para uma re<strong>construção</strong><br />
histórica do <strong>per</strong>curso do santo.<br />
Além <strong>da</strong> Vita I, Frei Tomás de Celano também foi autor de outras<br />
biografias sobre São Francisco. É de sua pena que surgiram a Legen<strong>da</strong><br />
ad usum chori (“Legen<strong>da</strong> para uso do coro”), que na<strong>da</strong> mais era que<br />
um resumo <strong>da</strong> Vita I escrita para ser usa<strong>da</strong> nas celebrações litúrgicas<br />
dos fra<strong>des</strong>; a Vita II e o Tractatus Miraculis (“Tratado dos Milagres”).<br />
Se a Vita I silenciou-se sobre os problemas internos <strong>da</strong> Ordem<br />
franciscana, a segun<strong>da</strong> biografia sobre São Francisco, intitula<strong>da</strong> Vita<br />
II, trazia consigo as preocupações de Celano sobre os <strong>des</strong>vios de<br />
comportamento dos fra<strong>des</strong>. Escrita em 1247, a Vita II refletiu muito<br />
bem a imagem que se tinha de São Francisco vinte anos depois de<br />
sua morte.<br />
Neste estudo, buscamos concentrar a atenção não tanto numa<br />
análise pormenoriza<strong>da</strong> <strong>da</strong>s questões que envolviam a atitu<strong>des</strong><br />
questionáveis e condenáveis de certo número de fra<strong>des</strong> – isso exigiria<br />
uma pesquisa de maior fôlego -, mas, sim, visamos analisar como<br />
uma imagem de São Francisco foi construí<strong>da</strong> para, de alguma forma,<br />
responder a estes problemas.<br />
Entre os temas polêmicos tratados por Celano na Vita II,<br />
<strong>des</strong>tacamos, entre os mais relevantes nesta época, a questão <strong>da</strong><br />
pobreza, dos estudos e do poder.<br />
No que se refere ao tema <strong>da</strong> pobreza, é sabido que a maioria dos<br />
fra<strong>des</strong> já moravam em casas e conventos nesta época. Mesmo assim,<br />
Celano fez questão de recor<strong>da</strong>r, talvez com algum saudosismo, os<br />
tempos heróicos dos primeiros companheiros do santo narrando que<br />
estes<br />
(...) estavam contentes com uma única túnica, remen<strong>da</strong><strong>da</strong> às<br />
vezes por dentro e por fora (...). Cingiam-se com uma cor<strong>da</strong> e<br />
usavam calças de pano rude, fazendo o piedoso propósito de ficar<br />
simplesmente assim, sem ter mais na<strong>da</strong>. Naturalmente estavam<br />
seguros em qualquer lugar, sem nenhum temor, cui<strong>da</strong>do ou<br />
preocupação pelo dia seguinte, nem se incomo<strong>da</strong>vam com o abrigo<br />
que teriam à noite, mesmo nas gran<strong>des</strong> dificul<strong>da</strong><strong>des</strong>, freqüentes<br />
nas viagens. Pois, como muitas vezes nem tinham onde se abrigar<br />
do frio mais rigoroso, recolhiam-se a um forno ou se escondiam<br />
humildemente, à noite, em grutas ou cavernas. Durante o dia, os<br />
que sabiam trabalhavam com as próprias mãos, <strong>per</strong>manecendo nas<br />
casas dos leprosos ou outros lugares honestos, servindo a todos<br />
com humil<strong>da</strong>de e devoção (1 Cel 39).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 25<br />
| História | 2011
Em outro episódio, Celano apresentou um São Francisco que se<br />
incomo<strong>da</strong>va tanto com as construções maciças feitas pelos fra<strong>des</strong><br />
quanto com mesa farta ao redor <strong>da</strong> qual estes se sentavam. Um dia,<br />
na Páscoa, os fra<strong>des</strong> haviam preparado um mesa suntuosa e<br />
(...) quando o santo pai <strong>des</strong>ceu de sua cela e foi para a mesa, viu-a<br />
arruma<strong>da</strong> em lugar elevado e ostentosamente enfeita<strong>da</strong>: to<strong>da</strong> ela<br />
ria, mas ele não sorriu. Voltou às escondi<strong>da</strong>s e devagarinho, pôs na<br />
cabeça o chapéu de um pobre que lá estava, tomou um bordão e<br />
foi para fora. Es<strong>per</strong>ou lá fora à porta até que os fra<strong>des</strong> começaram<br />
a comer, porque estavam acostumados a não es<strong>per</strong>á-lo quando não<br />
vinha ao sinal. Quando iniciaram o almoço, clamou à porta como um<br />
pobre de ver<strong>da</strong>de: “Dai uma esmola, por amor de Deus, para um<br />
<strong>per</strong>egrino pobre e doente”. Os fra<strong>des</strong> responderam: “Entra, homem,<br />
pelo amor <strong>da</strong>quele que invocaste”. Entrou logo e se apresentou aos<br />
comensais. Que espanto provocou esse <strong>per</strong>egrino! Deram-lhe uma<br />
escudela, e ele se sentou à parte, pondo o prato na cinza. E disse:<br />
“Agora estou sentado como um frade menor”. Dirigindo-se aos<br />
irmãos, disse: “Mais do que os outros religiosos, devemos deixarnos<br />
levar pela pobreza do Filho de Deus. Vi a mesa prepara<strong>da</strong> e<br />
enfeita<strong>da</strong>, e vi que não era de pobres que pedem esmola de porta<br />
em porta”. O fato demonstra que ele era semelhante àquele outro<br />
<strong>per</strong>egrino que ficou sozinho em Jerusalém nesse mesmo dia de<br />
Páscoa. Mas, quando falou, deixou abrasado o coração de seus<br />
discípulos (2 Cel 61).<br />
O cui<strong>da</strong>do pela pobreza, diligentemente observado pelo São<br />
Francisco apresentado na Vita II, não se resumia, como se vê, somente<br />
às moradias dos fra<strong>des</strong>, mas até ao feitio de suas camas, bem<br />
recor<strong>da</strong>do por Celano ao contar que<br />
(...) era tão grande a pobreza em questão de camas e cobertas, que<br />
alguém que tivesse algum pe<strong>da</strong>ço de pano gasto para pôr em cima<br />
<strong>da</strong> palha achava que estava ocupando um leito nupcial (2 Cel 63).<br />
Nos anos quarenta do século XIII, a presença de mestres e<br />
estu<strong>da</strong>ntes franciscanos e dominicanos nas universi<strong>da</strong><strong>des</strong> de Paris,<br />
Bolonha, Oxford e Cambridge já era muito significante. A polêmica<br />
em torno dos estudos na Ordem franciscana era grande, pois sempre<br />
trazia consigo implicações diretas ou indiretas sobre a prática <strong>da</strong><br />
pobreza e sobre a prática do poder entre os fra<strong>des</strong>. Assim, a Vita II<br />
de Celano não pôde <strong>per</strong>manecer neutra a todos estes problemas e<br />
viu-se na necessi<strong>da</strong>de de “pintar” um São Francisco que tinha que se<br />
posicionar frente a tudo isso.<br />
Não era raro encontrar, já na Vita I, um São Francisco que sabia a<br />
Bíblia de cor, sem <strong>nunc</strong>a ter cursado uma universi<strong>da</strong>de, que “entendia<br />
e interpretava também as Escrituras, sem as ter estu<strong>da</strong>do, mas tendose<br />
tornado o imitador delas, como aqueles que os príncipes dos judeus<br />
<strong>des</strong>prezavam como ignorantes e iletrados” (1 Cel 25).<br />
Sobre os livros, a Vita II apresenta um Francisco bastante<br />
<strong>des</strong>confiado, dizendo que o santo<br />
(...) ensinava que nos livros devemos procurar o testemunho do<br />
Senhor e não o seu valor material; a edificação e não a aparência.<br />
Queria que fossem poucos e à disposição dos fra<strong>des</strong> que<br />
precisavam. Por isso, quando um ministro lhe pediu licença para<br />
ter uns livros de luxo e muito preciosos, ouviu esta resposta: “Não<br />
quero <strong>per</strong>der pelos teus livros o livro do Evangelho, que professei.<br />
Faz o que quiseres, contanto que não seja com a <strong>des</strong>culpa <strong>da</strong> minha<br />
licença” (2 Cel 62).<br />
A <strong>des</strong>confiança do santo para com os estudos, videncia<strong>da</strong><br />
pela Vita II, não queria dizer, entretanto, que ele não mostrasse<br />
reverência pelos teólogos e pregadores, mas, sim que <strong>des</strong>ejava que<br />
tal tarefa fosse feita com muito cui<strong>da</strong>do. Preocupado com os fra<strong>des</strong><br />
empenhados no ofício <strong>da</strong> pregação ao povo, São Francisco, afim de<br />
que estes não se proferissem santas palavras <strong>da</strong> boca para fora,<br />
admoestava-os, pois<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 26<br />
| História | 2011
(...) queria que os ministros <strong>da</strong> palavra de Deus fossem tais que<br />
se entregassem totalmente aos estudos espirituais, sem ser<br />
impedidos por outros cargos. Dizia que tinham sido escolhidos por<br />
um grande rei para transmitir aos povos as palavras recebi<strong>da</strong>s de<br />
sua boca. E afirmava: “O pregador tem que haurir primeiro nas<br />
orações feitas em segredo aquilo que depois vai derramar em<br />
palavras sagra<strong>da</strong>s. Tem que se afervorar primeiro por dentro, para<br />
não proferir palavras frias” (2 Cel 163).<br />
Em relação à busca <strong>des</strong>enfrea<strong>da</strong> pela ciência por parte de alguns<br />
fra<strong>des</strong>, o santo se mostrava sempre muito <strong>des</strong>gostoso, chegando<br />
algumas vezes até ao ponto fazer profecias sobre o <strong>per</strong>igo que os<br />
estudos poderiam trazer para a sua Ordem. Celano, então, traçou um<br />
São Francisco que<br />
(...) sofria quando a ciência era procura<strong>da</strong> com <strong>des</strong>prezo <strong>da</strong> virtude,<br />
principalmente se não <strong>per</strong>manecia ca<strong>da</strong> um na vocação a que tinha<br />
sido chamado <strong>des</strong>de o começo. Dizia: “Os meus irmãos que se<br />
deixam arrastar pela curiosi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> ciência vão se encontrar de<br />
mãos vazias no dia <strong>da</strong> retribuição. (...) Porque virá uma tribulação<br />
em que os livros não vão servir para na<strong>da</strong>, e serão jogados nas<br />
janelas e nos <strong>des</strong>vãos”. Não dizia isso porque não gostasse dos<br />
estudos <strong>da</strong>s Escrituras, mas para afastar a todos dos estudos<br />
supérfluos, pois preferia que fossem bons pela cari<strong>da</strong>de e não<br />
sabidos por curiosi<strong>da</strong>de. Pressentia que não tar<strong>da</strong>riam a vir tempos<br />
em que a ciência seria ocasião de ruína, enquanto o espírito seria<br />
uma base sóli<strong>da</strong> para a vi<strong>da</strong> espiritual. A um irmão leigo que foi<br />
pedir sua licença para ter um saltério deu cinza em vez do livro (2<br />
Cel 195).<br />
Como se pode notar, na Vita II de Celano, o problema dos estudos<br />
na Ordem sempre girava em torno <strong>da</strong> questão do poder. Para São<br />
Francisco, o nome por ele mesmo escolhido para o movimento que<br />
fun<strong>da</strong>ra – Ordem dos Fra<strong>des</strong> Menores – deveria marcar indelevelmente<br />
to<strong>da</strong>s as ativi<strong>da</strong><strong>des</strong> dos fra<strong>des</strong>. Para ele, a busca pelo poder, numa<br />
Ordem como a sua que crescia exponencialmente por to<strong>da</strong> a Europa,<br />
poderia facilmente significar um rompimento com esta “menori<strong>da</strong>de”<br />
que tanto prezava. Sobre a “menori<strong>da</strong>de”, explicava Celano, na Vita<br />
I, que<br />
(...) de fato, eram menores, porque eram “submissos a todos”,<br />
sempre procuravam o pior lugar e queriam exercer o ofício em que<br />
pu<strong>des</strong>se haver alguma <strong>des</strong>onra, para merecerem ser colocados<br />
sobre a base sóli<strong>da</strong> <strong>da</strong> humil<strong>da</strong>de ver<strong>da</strong>deira e neles pu<strong>des</strong>se<br />
crescer auspiciosamente a <strong>construção</strong> espiritual de to<strong>da</strong>s as<br />
virtu<strong>des</strong> (1 Cel 38).<br />
São Francisco sabia bem que uma organização hierárquica era<br />
inevitável para sua Ordem – preocupação já exposta na Vita I, por isso<br />
(...) <strong>per</strong>cebendo que muitos queriam alcançar cargos e honrarias<br />
e detestando sua temeri<strong>da</strong>de, tentou afastá-los <strong>des</strong>sa peste por<br />
seu próprio exemplo. (...) [Dizia aos fra<strong>des</strong> que] (...) não deveriam<br />
ambicionar cargos mas temê-los. O que possuíam não devia<br />
orgulhá-los, mas humilhá-los, e o que lhes fosse tirado não os devia<br />
abater mas exaltar. Sofria porque alguns tinham abandonado os<br />
primeiros trabalhos e se haviam esquecido <strong>da</strong> simplici<strong>da</strong>de antiga<br />
para seguirem novos rumos. Queixava-se dos que no começo tinham<br />
procurado com ardor as coisas do alto, mas tinham acabado por<br />
cair em ambições vulgares e terrenas e, deixando as ver<strong>da</strong>deiras<br />
alegrias, corriam atrás de frivoli<strong>da</strong><strong>des</strong> e ambições, no campo <strong>da</strong>s<br />
pretensas liber<strong>da</strong><strong>des</strong> (1 Cel 104).<br />
Em um episódio dramático <strong>da</strong> Vita II, Celano narrou o momento em<br />
que São Francisco, mesmo que sob a justificativa <strong>da</strong>s enfermi<strong>da</strong><strong>des</strong> que<br />
o assolavam, mas, principalmente por ter compreendido a ver<strong>da</strong>deira<br />
causa dos conflitos dentro de sua Ordem, isto é, a busca pelo poder,<br />
re<strong>nunc</strong>iou ao cargo de su<strong>per</strong>ior geral e o conferiu a Frei Pedro Cattani,<br />
<strong>des</strong>abafando:<br />
(...) “Desde agora, estou morto para vós. Mas aqui está Frei Pedro<br />
Cattani, a quem obedeceremos eu e vós todos”. E inclinando-se<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 27<br />
| História | 2011
logo diante dele, prometeu-lhe obediência e reverência. Os fra<strong>des</strong><br />
choraram e deram altos gemidos de dor, vendo que tinham ficado<br />
órfãos de semelhante pai. (...) Passou a ser súdito até a morte,<br />
comportando-se com mais humil<strong>da</strong>de que qualquer outro (2 Cel<br />
143).<br />
A atitude de São Francisco, aqui exposta por Celano, não deixou<br />
de re<strong>per</strong>cutir nos fra<strong>des</strong> uma sensação de abandono por parte do<br />
seu fun<strong>da</strong>dor. Em outro relato, em resposta a um frade que quase o<br />
repreendeu por sua decisão drástica, o santo não conseguiu esconder<br />
sua tristeza, mesmo tendo entregue sua Ordem a um frade de tão boa<br />
índole como era o caso de Frei Pedro Cattani. A narração de Celano<br />
quase soava como uma profecia <strong>des</strong>astrosa. Conta que esta foi a<br />
resposta <strong>da</strong><strong>da</strong> pelo santo:<br />
(...) “Filho, amo os fra<strong>des</strong> como posso. Mas haveria de amá-los<br />
mais ain<strong>da</strong> se seguissem meus vestígios, e não me alhearia deles.<br />
Porque há alguns prelados que os conduzem por outros caminhos,<br />
propondo-lhes exemplos dos antigos e fazendo pouco de meus<br />
avisos. Mas depois vão aparecer os resultados do que estão<br />
fazendo” (2 Cel 188).<br />
Por mais que Celano houvesse retratado um São Francisco<br />
sempre muito incisivo, pouco inclinável e às vezes um tanto ás<strong>per</strong>o<br />
no que se referia às questões do poder e <strong>da</strong> hierarquia dentro <strong>da</strong><br />
Ordem, seu primeiro biógrafo não deixou de elencar as virtu<strong>des</strong> que,<br />
segundo o santo, deveriam acompanhar um ministro geral, os ministros<br />
provinciais, e os guardiães dos conventos, numa espécie de “speculum 17<br />
ministrorum” (“Espelho dos Ministros”):<br />
(...) “deve ser um homem - prosseguiu - de vi<strong>da</strong> austeríssima, de<br />
grande discrição, de fama intocável. Um homem que não tenha<br />
amiza<strong>des</strong> particulares, para que não tenha mais amor por uma<br />
parte, gerando um escân<strong>da</strong>lo no conjunto. Um homem amigo do<br />
esforço pela oração, que reserve algumas horas para sua alma<br />
e outras para o rebanho que lhe foi confiado. (...) Deve ser um<br />
homem que, fazendo acepção de pessoas, não olhe as coisas<br />
por ângulo sórdido, que se preocupe tanto com os menores e os<br />
simples quanto com os instruídos e os maiores. Um homem que,<br />
mesmo que lhe tenha sido concedido distinguir-se pelo dom <strong>da</strong><br />
cultura, se <strong>des</strong>taque mais ain<strong>da</strong> pela simplici<strong>da</strong>de, e que cultive a<br />
virtude. (...) Não seja colecionador de livros, nem muito entregue<br />
às leituras, para não roubar de seu encargo o que dá aos estudos.”<br />
(2 Cel 184-185).<br />
Finalmente, no que diz respeito à imagem de São Francisco<br />
retrata<strong>da</strong> na Vita II, Celano traçou uma relação muito forte entre o<br />
santo fun<strong>da</strong>dor e a Regra professa<strong>da</strong> por ele e pelos fra<strong>des</strong>. Diante<br />
dos frequentes abusos de alguns fra<strong>des</strong> feitas a partir de um<br />
<strong>des</strong>contentamento frente à Regra aprova<strong>da</strong> pelo papa Honório III, em<br />
1223, Celano apresentou um São Francisco que su<strong>per</strong>valorizava este<br />
documento, exaltando sua natureza divina e quase <strong>da</strong>ndo-lhes poderes<br />
sobrenaturais:<br />
(...) tinha um zelo ardente pela profissão comum e pela Regra, e<br />
deixou uma bênção especial para os que eram zelosos por ela. Pois<br />
dizia aos seus que a Regra era o livro <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>, a es<strong>per</strong>ança <strong>da</strong><br />
salvação, a medula do Evangelho, o caminho <strong>da</strong> <strong>per</strong>feição, a chave<br />
do paraíso, o pacto <strong>da</strong> aliança eterna. (...) Ensinou que se devia ter<br />
sempre a Regra diante dos olhos para dirigir a vi<strong>da</strong> e, até mais, que<br />
com ela se deveria morrer (...) (2 Cel 208).<br />
É sabido, entre os estudiosos <strong>da</strong> literatura franciscana medieval,<br />
que a maioria <strong>da</strong>s outras biografias compila<strong>da</strong>s na primeira metade do<br />
século XIII, de alguma forma tiveram como base a Vita I e a Vita II de<br />
Frei Tomás de Celano. Desta forma, para os objetivos <strong>des</strong>ta mo<strong>des</strong>ta e<br />
breve pesquisa, não serão aqui analisados de modo pormenorizado as<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 28<br />
| História | 2011
imagens de São Francisco conti<strong>da</strong>s nessas biografias, já que estas não<br />
apresentavam variações que fossem dignas de nota. Somente para<br />
ilustração, aqui serão apresenta<strong>da</strong>s essas outras obras hagiográficas<br />
que, de alguma maneira, aju<strong>da</strong>ram a compor e divulgar a <strong>memória</strong> de<br />
São Francisco neste <strong>per</strong>íodo, com algumas <strong>da</strong>s características que<br />
lhes eram mais inerentes.<br />
O já mencionado Tractatus Miraculis (“Tratado dos Milagres”)<br />
<strong>da</strong>ta de 1250-1253 e foi compilado sob o pedido do então ministro<br />
geral, Frei João de Parma. A intenção do Tractatus era de mostrar<br />
como o culto a São Francisco tinha se espalhado por to<strong>da</strong> a Europa,<br />
ain<strong>da</strong> poucos anos depois de sua morte. Além de celebrar o santo<br />
pelos seus milagres, essa obra refletia o momento histórico em que a<br />
Ordem franciscana estava passando, isto é, os ataques externos18 por<br />
parte do clero secular e as ameaças internas <strong>da</strong> influencia <strong>da</strong> heresia<br />
joaquimita. Fiel a tradição celanina, no Tractatus São Francisco era<br />
identificado como um “outro Cristo” (alter Christus), pois centralizava<br />
suas narrativas nos estigmas (chagas) que o santo recebera no Monte<br />
Alverne no fim de sua vi<strong>da</strong> e novamente <strong>da</strong> “novi<strong>da</strong>de” franciscana.<br />
Pode-se dizer, em suma, que “se suspeita que Tomás de Celano<br />
<strong>des</strong>ejou conciliar o ideal franciscano primitivo com aquele que estava<br />
se <strong>des</strong>envolvendo na Ordem, <strong>da</strong>ndo assim uma imagem inexata de<br />
Francisco” (VANDENBROUCKE, 1991, p. 115).<br />
A obra intitula<strong>da</strong> De inceptione vel fun<strong>da</strong>mento Ordinis et actus<br />
illorum Fratrum Minorum qui fuerunt primi in Religione et socii Beati<br />
Franisci19e conhecido como Anônimo Perusino pode ser <strong>da</strong>tado de 1240-<br />
1241, mas ain<strong>da</strong> não há consenso sobre a <strong>da</strong>tação do texto original, já<br />
que somente uma cópia sua foi encontra<strong>da</strong> e esse manuscrito é mais<br />
tardio, do século XIV. Se for ver<strong>da</strong>de que foi escrita nos anos quarenta<br />
do século XIII, o Anônimo Perusino pode ser a primeira vi<strong>da</strong> de São<br />
Francisco <strong>des</strong>tina<strong>da</strong> especialmente aos fra<strong>des</strong>. Há que afirme que não<br />
se tratava de uma biografia, propriamente dita, já que seu assunto<br />
principal não é o santo, mas o começo e o <strong>des</strong>envolvimento <strong>da</strong> Ordem<br />
franciscana. No seu conjunto geral não pode ser considera<strong>da</strong> uma<br />
obra polêmica, pois respeitava muito os valores tidos como originais<br />
<strong>da</strong> primeira fraterni<strong>da</strong>de franciscana, especialmente quando tende a<br />
evidenciar a pobreza e a alegria presente na vi<strong>da</strong> cotidiana de São<br />
Francisco e de seus primeiros companheiros.<br />
A Legen<strong>da</strong> Perusina, embora só se conserve dela um manuscrito<br />
copiado no século XIV, provavelmente tenha sido composta por volta de<br />
1240 e contém material anterior ain<strong>da</strong> a Vita II. Mesmo que o seu título<br />
- legen<strong>da</strong> – sugerisse uma biografia, isto é, uma vi<strong>da</strong> com começo e fim<br />
com uma sequência, ao menos, minimamente cronológica, esta obra<br />
era mais uma compilação de episódios soltos sobre os atos do santo<br />
de Assis. Ela se calou sobre a juventude de Francisco de Assis e só<br />
tratou dele como mais um membro <strong>da</strong> Ordem que ele mesmo fun<strong>da</strong>ra.<br />
Apresentava o testemunho dos fra<strong>des</strong> que viviam já em conventos,<br />
mas com muita sau<strong>da</strong>de dos primeiros tempos e de sua austeri<strong>da</strong>de.<br />
A Legen<strong>da</strong> Perusina retratou um São Francisco preocupado com os<br />
caminhos que sua Ordem estava começando a trilhar. Era uma época<br />
difícil já que a vi<strong>da</strong> dos fra<strong>des</strong> universitários contrastava com a vi<strong>da</strong><br />
dos fra<strong>des</strong> que viviam nos eremitérios20 , conservando os costumes <strong>da</strong><br />
“primeira hora21 ”. Não é por acaso que nesta legen<strong>da</strong> apareça inúmeras<br />
vezes a Porciúncula22 como “modelo de pureza” <strong>da</strong> Ordem (31 vezes).<br />
A Vita Sancti Francisci, escrita por Juliano de Spira, entre 1232 e<br />
1235, foi considera<strong>da</strong> uma cópia resumi<strong>da</strong> <strong>da</strong> Vita I, de Celano. Alguns<br />
estudiosos acreditam que esta Vita tinha como objetivo difundir a fama<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 29<br />
| História | 2011
de São Francisco na França e em alguns outros países. Juliano de<br />
Spira, antes de entrar para a Ordem franciscana por volta de 1226, era<br />
mestre de música na corte do rei de França. Com to<strong>da</strong> sua habili<strong>da</strong>de<br />
musical compôs, provavelmente antes de 1235, um Officium Sancti<br />
Francisci, também conhecido como Officium Ritmicum, que ficou muito<br />
famoso na época, uma vez que cinqüenta e cinco manuscritos antigos<br />
deram testemunha de seus versos. O Officium, de Juliano de Spira, foi<br />
inserido na liturgia oficial <strong>da</strong> Ordem, mas, no Capítulo Geral de 1260<br />
teve que ser corrigi<strong>da</strong>, já que era basea<strong>da</strong> numa imagem “negativa” <strong>da</strong><br />
juventude de São Francisco apresenta<strong>da</strong> na Vita I de Celano. Assim, se<br />
na estrofe original podia-se cantar:<br />
Hic vir in vanitatibus<br />
Nutritus indecenter<br />
Plus suis nutritoribus<br />
Se gessit insolenter.<br />
(“Este homem, nas vai<strong>da</strong><strong>des</strong><br />
Educado indecentemente,<br />
Mais que seus pais<br />
Portou-se insolentemente”).<br />
A partir <strong>da</strong>s correções, ficava claro a intenção de salvaguar<strong>da</strong>r uma<br />
imagem mais “positiva” de São Francisco:<br />
Hic vir in vanitatibus<br />
Nutritus indecenter<br />
Divinis charismatibus<br />
Praeventus est clementer.<br />
(“Este homem, nas vai<strong>da</strong><strong>des</strong><br />
Educado indecentemente,<br />
Por divinos carismas<br />
Foi prevenido clementemente”).<br />
Claramente se pode observar que to<strong>da</strong>s essas biografias de São<br />
Francisco não poderiam ser li<strong>da</strong>s nem sequer construí<strong>da</strong>s sem que se<br />
levasse em consideração o “sitz im Leben” ou o contexto histórico <strong>da</strong>s<br />
narrativas e a <strong>per</strong>cepção dos fra<strong>des</strong> e do povo devoto que as leriam.<br />
Roger Chartier chama atenção para este cui<strong>da</strong>do quando afirma que “a<br />
o<strong>per</strong>ação de <strong>construção</strong> de sentido efetua<strong>da</strong> na leitura (ou na escuta)<br />
como um processo historicamente determinado cujos modos e modelos<br />
variam de acordo com os tempos, os lugares, as comuni<strong>da</strong><strong>des</strong>” devem<br />
ser compreendidos juntamente com as múltiplas significações de uma<br />
narrativa que “dependem <strong>da</strong>s formas por meio <strong>da</strong>s quais é recebido<br />
por seus leitores (ou ouvintes)” (CHARTIER, 1991, p. 178).<br />
Durante quase cinco séculos, to<strong>da</strong>s as biografias de São<br />
Francisco apresenta<strong>da</strong>s e analisa<strong>da</strong>s neste capítulo <strong>per</strong>maneceram<br />
<strong>des</strong>conheci<strong>da</strong>s. Somente no final do século XVIII, alguns pesquisadores,<br />
revirando antigas bibliotecas, arquivos e mosteiros situados em sua<br />
maior parte na Itália, conseguiram <strong>des</strong>cobrir essas vitas escondi<strong>da</strong>s<br />
em antigos códices e manuscritos que, para surpresa de todos,<br />
questionavam uma imagem oficial de São Francisco produzi<strong>da</strong> por<br />
volta de 1260. Mas, por que motivo estes rostos do santo de Assis<br />
tiveram que ser <strong>des</strong>truídos?<br />
3 O LUGAR DA MEMÓRIA DE SÃO<br />
FRANCISCO NO PROJETO BOAVENTURIANO<br />
A análise até aqui proposta, de forma brevíssima, mas nem por<br />
isso su<strong>per</strong>ficial, sobre os vários “rostos” de São Francisco de Assis,<br />
construídos especialmente na primeira metade do século XIII, convi<strong>da</strong><br />
a uma reflexão mais profun<strong>da</strong> sobre o papel <strong>da</strong> <strong>memória</strong> na produção <strong>da</strong><br />
História. To<strong>da</strong> a discussão fomenta<strong>da</strong> naquela época entre hagiógrafos<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 30<br />
| História | 2011
e ministros gerais que estiveram à frente <strong>da</strong> Ordo Minorum, girava<br />
em torno do problema do que deveria ser recor<strong>da</strong>do <strong>per</strong> saecula<br />
saeculorum e o que deveria cair no esquecimento em relação à vi<strong>da</strong> e<br />
mensagem do santo de Assis. Afinal, por que a <strong>memória</strong> é assim tão<br />
importante?<br />
Para Jacques Le Goff, a <strong>memória</strong> sempre foi para as civilizações,<br />
fossem elas conhecedoras ou não <strong>da</strong> escrita, um elemento fun<strong>da</strong>mental<br />
para a formação e conservação de suas identi<strong>da</strong><strong>des</strong> individuais e<br />
coletivas. Para o historiador francês,<br />
(...) nas socie<strong>da</strong><strong>des</strong> sem escrita, a <strong>memória</strong> coletiva parece<br />
ordenar-se em torno de três gran<strong>des</strong> interesses: a i<strong>da</strong>de coletiva<br />
do grupo, que se fun<strong>da</strong> em certos mitos, mais precisamente nos<br />
mitos de origem; o prestígio <strong>da</strong>s famílias dominantes, que se<br />
exprime pelas genealogias; e o saber técnico, que se transmite<br />
por fórmulas e práticas fortemente liga<strong>da</strong>s à magia religiosa (LE<br />
GOFF, 2003, p. 427).<br />
Entretanto, o autor observa que “o aparecimento <strong>da</strong> escrita está<br />
ligado a uma profun<strong>da</strong> transformação <strong>da</strong> <strong>memória</strong> coletiva” (LE GOFF,<br />
Id.). Aqui, a <strong>memória</strong> oral caracteriza<strong>da</strong> por sua dinamici<strong>da</strong>de, deu lugar<br />
a uma <strong>memória</strong> cristaliza<strong>da</strong> em suportes bem concretos, nas quais,<br />
(...) a escrita <strong>per</strong>mite à <strong>memória</strong> coletiva um duplo progresso,<br />
o <strong>des</strong>envolvimento de duas formas de <strong>memória</strong>. A primeira<br />
é a comemoração, a celebração através de um monumento<br />
comemorativo de um acontecimento memorável. A <strong>memória</strong><br />
assume, então, a forma de inscrição e suscitou na época moderna<br />
uma ciência auxiliar <strong>da</strong> história, a epigrafia. (...) A outra forma<br />
de <strong>memória</strong> liga<strong>da</strong> à escrita é o documento escrito num suporte<br />
especialmente <strong>des</strong>tinado à escrita (depois de tentativas sobre<br />
osso, estofo, pele, como na Rússia antiga; folhas de palmeira como<br />
na Índia; carapaça de tartaruga como na China; e finalmente papiro<br />
e papel). Mas importa salientar que todo documento tem em si<br />
um caráter de monumento e não existe <strong>memória</strong> coletiva bruta (LE<br />
GOFF, Id.).<br />
A afirmação incisiva de que “todo documento tem em si um<br />
caráter de monumento” é bastante relevante e se oferece como uma<br />
importante chave de interpretação no intuito de compreender porque<br />
a multiplicação <strong>des</strong>enfrea<strong>da</strong> <strong>da</strong>s <strong>memória</strong>s sobre São Francisco era<br />
considera<strong>da</strong> tão <strong>per</strong>igosa, exigindo <strong>da</strong>s autori<strong>da</strong><strong>des</strong> competentes<br />
dentro <strong>da</strong> Ordem, uma postura de maior controle.<br />
Deste modo, não é difícil compreender, ain<strong>da</strong> nos referindo às<br />
civilizações mais antigas, as atitu<strong>des</strong> de reis que ordenavam que se<br />
gravassem<br />
(...) na pedra anais (ou pelo menos extratos deles) em que estão<br />
sobretudo narrados os seus feitos – que nos leva a fronteira onde a<br />
<strong>memória</strong> se torna “história”. Mais tarde, os soberanos fazem redigir<br />
pelos seus escribas relatos mais detalhados dos seus reinados<br />
dos quais emergem vitórias militares, benefícios de sua justiça e<br />
progressos do direito, os três domínios dignos de fornecer exemplos<br />
memoráveis aos homens do futuro (LE GOFF, Ibid., p. 430).<br />
Le Goff quer chamar a atenção para o fato de que não demorou<br />
muito para que os reis e im<strong>per</strong>adores <strong>des</strong>cobrissem que a <strong>memória</strong><br />
poderia se tornar um excelente instrumento de poder.<br />
A produção hagiográfica não escapou a essas características, pois,<br />
por ser também ela <strong>memória</strong> (neste caso, a <strong>memória</strong> de um santo),<br />
também se tornou um mecanismo ao mesmo tempo de <strong>construção</strong> e<br />
manutenção de uma identi<strong>da</strong>de de uma Ordem religiosa, quanto de<br />
poder, já que, segundo Paul Ricoeur, citando os trabalhos de Halbwachs,<br />
“para se lembrar, precisa-se dos outros” (RICOEUR, 2007, p. 130).<br />
Se a <strong>memória</strong> e o esquecimento estão intimamente ligados entre<br />
si, como esta articulação se seu durante o governo de Frei Boaventura<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 31<br />
| História | 2011
de Bagnoregio, principalmente naquilo que dizia respeito à escrita de<br />
uma “ver<strong>da</strong>deira” Vita de São Francisco de Assis?<br />
3.1 Frei Boaventura de Bagnoregio e as<br />
tribulações internas e externas <strong>da</strong> ordo minorum<br />
Por que hoje se diz, entre os historiadores do franciscanismo<br />
primitivo, que o governo de Frei Boaventura de Bagnoregio marcou<br />
profun<strong>da</strong>mente a história <strong>da</strong> hagiografia franciscana? Por que suas<br />
atitu<strong>des</strong> e decisões polêmicas marcaram de tal forma a identi<strong>da</strong>de<br />
<strong>da</strong> Ordem franciscana (cujos ecos seriam sentidos até os nossos<br />
dias) fazendo com que alguns estudiosos chegassem a até a arriscar<br />
considerá-lo um “segundo fun<strong>da</strong>dor” <strong>des</strong>te movimento? Para que se<br />
possam esboçar algumas respostas, faz-se necessário adentrar no<br />
contexto histórico onde se inseriu o projeto formativo boaventuriano.<br />
Boaventura de Bagnoregio nem sempre assim se chamou. Seu<br />
nome de batismo era João de Fi<strong>da</strong>nza, e recebeu o nome pela qual<br />
ficou conhecido somente depois de ter ingressado nas fileiras dos<br />
fra<strong>des</strong> de São Francisco de Assis. Nasceu em Civita, hoje um distrito<br />
de Bagnoregio, entre os anos de 1217 e 1218. Antes de entrar para<br />
a Ordem franciscana, já com vinte e cinco anos de i<strong>da</strong>de, estudou<br />
Filosofia na Universi<strong>da</strong>de de Paris, de 1236 a 1238, sendo laureado23 em Artes em 1243. Foi aluno de Teologia do grande mestre Alexandre de<br />
Hales, conseguindo licenciatura e <strong>per</strong>missão de exercer seu magistério<br />
no ano de 1253. Frei Boaventura foi professor do Studium parisiense<br />
na quali<strong>da</strong>de de bacharel bíblico e mais tarde como mestre-regente de<br />
1253 a 1257.<br />
Como se pode suspeitar, quando Frei Boaventura foi eleito o novo<br />
Ministro geral <strong>da</strong> Ordem franciscana, em 1257, sequer possuía uma<br />
visão de conjunto do que tinha se transformado o movimento fun<strong>da</strong>do<br />
por São Francisco de Assis. Frei Boaventura era um intelectual, um<br />
dos maiores expoentes, ao lado de Tomás de Aquino, do pensamento<br />
teológico medieval.<br />
Mesmo assim, “sem hesitação alguma, ao que parece, Frei<br />
João24 teria indicado Frei Boaventura de Bagnoregio, julgando-o<br />
“o melhor” entre todos que ele conhecia” (MERLO, 2005, p. 117).<br />
Curiosamente, mais tarde, o ex-Ministro geral, João de Parma, foi<br />
acusado e condenado pelo próprio Boaventura por ser simpatizante<br />
<strong>da</strong>s proposições heréticas joaquimitas25 Imediatamente depois de ser eleito para o governo geral <strong>da</strong><br />
Ordo Minorum, para a surpresa de todos, Frei Boaventura escreveu<br />
e publicou uma carta onde expôs os dez defeitos que, segundo ele,<br />
estariam corrompendo a Ordem. Em linhas gerais, estes dez <strong>des</strong>vios<br />
poderiam ser elencados <strong>da</strong> seguinte maneira:<br />
1. A multiplicação dos trabalhos que implicavam dinheiro, o qual era<br />
recebido e manipulado de forma imprudente;<br />
2. A preguiça dos fra<strong>des</strong> que os levava a adotar um gênero de vi<strong>da</strong><br />
que não era nem contemplativo nem ativo;<br />
3. Os pedidos inoportunos de esmolas que levavam os fra<strong>des</strong> a serem<br />
temidos pelos viajantes, como se fossem ladrões;<br />
4. A vadiagem de alguns fra<strong>des</strong>;<br />
5. A <strong>construção</strong> de casas muito caras;<br />
6. As familiari<strong>da</strong><strong>des</strong> suspeitas com mulheres;<br />
7. A atribuição de cargos aos fra<strong>des</strong> que eram incapazes de os<br />
<strong>des</strong>empenhar;<br />
8.<br />
O <strong>des</strong>vio de testamentos e de sepulturas;<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 32<br />
| História | 2011
9.<br />
A mu<strong>da</strong>nça muito frequente e dispendiosa de locais, o que tornava<br />
os fra<strong>des</strong> muito inconstantes;<br />
10. E, finalmente, o exagero nos gastos.<br />
Para o historiador francês, Theophile Desbonnets,<br />
(...) que tais defeitos possam ter existido, admitimo-lo (...). Mas<br />
que, após os dez anos de generalato de um homem tão zeloso<br />
como João de Parma, esta enumeração de vícios pu<strong>des</strong>se ser<br />
considera<strong>da</strong> como um quadro referencial <strong>da</strong> Ordem é que provoca<br />
dúvi<strong>da</strong>s. Parece evidente que Boaventura, que até esta altura não<br />
ocupara cargo algum de governo ou de administração dentro <strong>da</strong><br />
Ordem, se deixou intoxicar (DESBONNETS, 1987, p. 137).<br />
Nota-se que, mesmo que Frei Boaventura não tivesse uma visão<br />
de totali<strong>da</strong>de em relação à Ordem que acabara de encabeçar, não<br />
significava que fosse alheio aos problemas que corroíam o movimento<br />
franciscano por dentro. Se, para Desbonnets, parece que a supracita<strong>da</strong><br />
“carta dos dez defeitos” foi uma atitude pouco amistosa para um frade<br />
recém-eleito para o mais alto cargo de uma <strong>da</strong>s ordens religiosas mais<br />
celebra<strong>da</strong>s <strong>da</strong>quele momento, para o pesquisador italiano, Giovanni<br />
Merlo, este documento foi apenas<br />
(...) um primeiro programa em negativo, em vista de um mais eficaz<br />
disciplinamento <strong>da</strong> Ordem, que teria incluído intervenções de<br />
“eliminação do conflito” e uma formalização teológico-ideológica<br />
do ser Frade menor (MERLO, Op. cit., p. 118).<br />
É ain<strong>da</strong> Merlo quem observa que, se esta “carta” era somente um<br />
esboço de uma reestruturação <strong>da</strong> Ordem senti<strong>da</strong> como urgentemente<br />
necessária por Frei Boaventura, este projeto tomaria duas direções<br />
que se interligavam: uma jurídico-institucional e outra hagiográficoteológica”<br />
(MERLO, Ibid., p. 119).<br />
A crise interna vivi<strong>da</strong> pela Ordem franciscana, já bem ilustra<strong>da</strong> nos<br />
“dez defeitos” citados, pedia soluções drásticas por parte do governo<br />
geral. Por isso, na linha de uma reestruturação jurídico-institucional, a<br />
criação de Constituições26 mais claras e precisas deveria ser, para Frei<br />
Boaventura, um primeiro passo para a execução de seu programa de<br />
governo. Em relação a isso, sabemos que<br />
(...) <strong>des</strong>de a aprovação <strong>da</strong> Regra, em 1223, (...) Capítulos gerais<br />
haviam se realizado e ca<strong>da</strong> um deles havia promulgado estatutos<br />
para precisar a aplicação <strong>da</strong> Regra. (...) Todos estes estatutos<br />
formavam um conjunto não muito coerente e, provavelmente,<br />
ignorado pela maioria dos fra<strong>des</strong> e, talvez, até por alguns<br />
ministros provinciais. Boaventura fez unificar to<strong>da</strong> esta legislação,<br />
completou-a e fê-la aprovar pelo Capítulo de Narbonne, em 1260,<br />
três anos após sua eleição (DESBONNETS, Op. cit., p. 137).<br />
Para Desbonnets, estas novas Constituições tiveram um aspecto<br />
demasia<strong>da</strong>mente ás<strong>per</strong>o, tão ás<strong>per</strong>o que sequer mencionou a herança<br />
espiritual deixa<strong>da</strong> por São Francisco27 , como se obseva:<br />
(...) a primeira coisa que choca o leitor <strong>des</strong>tas Constituições,<br />
ditas de “Narbonne” (...) é a ausência quase total de referências<br />
a São Francisco. Mais de um <strong>des</strong>ses artigos regulamentares teria<br />
merecido uma alusão a São Francisco, o apelo a sua “intenção”,<br />
quando escreveu a Regra ou o exemplo de seu modo de agir. Mas<br />
não! (DESBONNETS, Id.).<br />
Desbonnets aponta para uma característica relevante que marcou<br />
todo o projeto de reestruturação do carisma franciscano: a centralização.<br />
Como já foi tratado nos capítulos anteriores, a Ordem franciscana<br />
na época de Frei Boaventura já havia inicia<strong>da</strong>, há algumas déca<strong>da</strong>s<br />
atrás, um caminho de clericalização, isto é, de sacerdotalização. Isso<br />
implicava, às vezes, sutil outras vezes mais explícita, <strong>des</strong>valorização<br />
dos fra<strong>des</strong> que não eram sacerdotes – os chamados “irmãos leigos”<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 33<br />
| História | 2011
– quase sempre simplex et ignorans (“simples e iletrados”). As<br />
Constituições de Narbonne pareciam dificultar o ingresso <strong>des</strong>ses<br />
“irmãos leigos” na Ordem, e mesmo assim sob condições bem<br />
claras. Pontua o documento que “se for necessário, para executar<br />
trabalhos domésticos, receber alguém, fora <strong>des</strong>ta prescrição, que<br />
não seja feita sem uma necessi<strong>da</strong>de urgente e com a <strong>per</strong>missão do<br />
Ministro Geral” 28 .<br />
Sobre os gran<strong>des</strong> gastos com construções, as medi<strong>da</strong>s previstas<br />
foram tão <strong>per</strong>tinentes que chegavam a ditar até o estilo <strong>da</strong>s igrejas<br />
sob cui<strong>da</strong>do dos fra<strong>des</strong>, quando se lê que “que de modo algum as<br />
igrejas sejam orna<strong>da</strong>s de abóba<strong>da</strong>s, exceção feita ao coro [é o que<br />
transparece bem na Igreja de Santa Cruz de Florença] e que não se<br />
edifiquem mais campanários em forma de torre” 29 .<br />
A respeito de um outro ponto já <strong>des</strong>crito na “carta dos dez<br />
defeitos”, que dizia respeito aos testamentos e sepulturas, as<br />
Constituições também se mostraram incisivas, ordenando que<br />
os fra<strong>des</strong> “não <strong>per</strong>maneçam num local e que haja um cemitério<br />
paroquial ou um batistério, se isto implicar a necessi<strong>da</strong>de de<br />
enterrar os mortos e batizar as crianças” 30 . Esse cui<strong>da</strong>do pretendia<br />
evitar que os fra<strong>des</strong> tomassem posse <strong>da</strong>s taxas pagas pelos fiéis<br />
para a realização de tais serviços de apostolado.<br />
As Constituições pretendiam ser tão precisas que até costumes<br />
mais cotidianos e domésticos dos fra<strong>des</strong> tiveram que ser bem<br />
regulados, incluindo até a posse de animais nos conventos: “que<br />
animal algum seja guar<strong>da</strong>do pela Ordem, nem por qualquer outra<br />
pessoa em nome <strong>da</strong> Ordem, nem por um frade, nem por uma<br />
residência, exceção feita aos gatos e a alguns pássaros para<br />
<strong>des</strong>truir o lixo” 31 .<br />
Novamente, em outro artigo, sobre a questão <strong>da</strong> entra<strong>da</strong> de fra<strong>des</strong><br />
iletrados na Ordem, as Constituições criaram novas barreiras ao<br />
proibir os irmãos<br />
(...) que não sabem ler o saltério de aprender a ler e aos demais de<br />
lhes ensinar. O contraventor será excluído <strong>da</strong> comunhão do ofício e<br />
<strong>da</strong> mesa até a satisfação proporciona<strong>da</strong>. E que ninguém passe do<br />
estado de leigo ao de clérigo sem autorização do Geral 32 .<br />
Em relação aos estudos, considerado um dos fatores mais<br />
importantes nas disputas sobre a questão <strong>da</strong> pobreza dentro <strong>da</strong><br />
Ordem, as Constituições se mostraram bastante ponderáveis no que<br />
diz respeito ao apaziguamento dos ânimos mais exaltados dos fra<strong>des</strong><br />
saudosos dos “primeiros tempos”, ao apresentar a posse de livros<br />
como sendo uma prática que não feria a vontade do santo fun<strong>da</strong>dor:<br />
(...) que os estu<strong>da</strong>ntes tomem cui<strong>da</strong>do de não <strong>des</strong>tinar para outra<br />
finali<strong>da</strong>de as esmolas que receberam para comprar livros, ou então:<br />
nós proibimos de espalhar fora <strong>da</strong> Ordem um escrito novo que não<br />
tenha sido aprovado pelo ministro provincial; e ain<strong>da</strong>, que nenhum<br />
frade tenha a ousadia de sustentar ou aprovar uma opinião que<br />
seja, geralmente, reprova<strong>da</strong> por nossos Mestres 33 .<br />
Mesmo que os estudiosos tenham considerado essas Constituições<br />
de Narbonne como sendo uma regulamentação bastante dura e<br />
centralizadora, tendendo sempre a proteger a clericalização <strong>da</strong> Ordem<br />
franciscana, não é correto afirmar que estas não tenham alcançado<br />
sucesso entre os fra<strong>des</strong> e sendo considera<strong>da</strong> “uma boa legislação: os<br />
Capítulos seguintes, até o Capítulo de Perpignan, em 1331, a retocarão,<br />
mas não lhe modificarão a disposição e a ela voltarão frequentemente”<br />
(DESBONNETS, Op. cit., p. 139).<br />
Se no seio <strong>da</strong> Ordem franciscana, Frei Boaventura tentava sanar<br />
os <strong>des</strong>vios praticados pelos fra<strong>des</strong>, mostrando, num primeiro momento<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 34<br />
| História | 2011
pelas Constituições, que “a Ordem em si tem os instrumentos<br />
para eliminar os abusos e os defeitos, que são atos pessoais e não<br />
estruturais” (MERLO, Op. cit., p. 121), no lado de fora <strong>da</strong> Ordem havia<br />
ameaças a serem combati<strong>da</strong>s também com pulso forte.<br />
Pode-se dizer que a crise externa enfrenta<strong>da</strong> pela Ordem<br />
franciscana, em meados do século XIII, tivera seu centro nos meios<br />
universitários, principalmente na Universi<strong>da</strong>de de Paris. É bem sabido<br />
que os fra<strong>des</strong> dominicanos<br />
(...) <strong>des</strong>de a origem procuraram um lugar nas universi<strong>da</strong><strong>des</strong>.<br />
O próprio objetivo de seu fun<strong>da</strong>dor – a pregação e a luta<br />
contra a heresia – os levava em busca de uma sóli<strong>da</strong> bagagem<br />
intelectual. Os franciscanos logo chegaram à universi<strong>da</strong>de,<br />
acorrendo mais a ela à medi<strong>da</strong> que assumiam uma influência<br />
crescente na Ordem aqueles que se afastavam, ao menos<br />
sob alguns pontos de vista, <strong>da</strong>s posições de São Francisco,<br />
hostil, como se sabe, a uma ciência em que via um obstáculo<br />
à pobreza, ao <strong>des</strong>pojamento, à fraterni<strong>da</strong>de para com os<br />
humil<strong>des</strong> (LE GOFF, 2006, p. 129).<br />
Os choques mais violentos entre os mestres seculares e os mestres<br />
Mendicantes (dominicanos e franciscanos) ocorreram de 1252-1290<br />
em Paris, especialmente entre os anos de 1252-1259, de 1265-1271<br />
e de 1282-1290. Também na Universi<strong>da</strong>de de Oxford ocorreram estes<br />
embates de 1303-1320 e, por fim, de 1350-1360 (Cf. LE GOFF, Id.).<br />
Para este estudo, importará somente as querelas ocorri<strong>da</strong>s em Paris<br />
(1252-1259) e que teve como principal expoente um mestre secular<br />
chamado Guilherme de Santo Amor, autor de uma obra que atacava<br />
principalmente os franciscanos, intitula<strong>da</strong> De <strong>per</strong>iculis novissimorum<br />
temporum (1256).<br />
Entre os <strong>per</strong>sonagens que fizeram parte <strong>des</strong>sas disputas, podemos<br />
citar as ordens mendicantes e seus mestres parisienses; a maioria dos<br />
mestres seculares <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Paris, o papado, o rei de França,<br />
e os estu<strong>da</strong>ntes.<br />
Quais foram os motivos <strong>des</strong>sas <strong>des</strong>avenças entre Mendicantes e<br />
seculares? Podemos dizer que houve duas frentes de ataques: num<br />
primeiro momento, de natureza de cunho mais corporativa e, num<br />
segundo e mais violento momento, de natureza mais dogmática.<br />
Inicialmente, os mestres seculares acusaram os mestres<br />
Mendicantes de violarem os estatutos universitários: os fra<strong>des</strong>, assim,<br />
foram acusados de lecionar sem terem um laureamento em Artes,<br />
mas somente uma graduação em Teologia; acusados de terem duas<br />
cadeiras no curso de Teologia quando os estatutos só previam uma para<br />
essas ordens religiosas; acusados de rom<strong>per</strong>em com a soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>de<br />
universitária ao continuarem <strong>da</strong>ndo aulas mesmo quando os professores<br />
seculares estavam em greve; acusados de fazerem uma concorrência<br />
<strong>des</strong>leal, monopolizando os estu<strong>da</strong>ntes; e, finalmente, de viverem de<br />
esmolas e não se sentirem responsáveis pelas reivindicações materiais<br />
dos universitários.<br />
Jacques Le Goff ilustra bem o drama <strong>des</strong>ses mestres seculares<br />
ao considerar que se tratavam mesmo de queixas exigentes e bem<br />
significativas, pois “os universitários rapi<strong>da</strong>mente tomaram consciência<br />
<strong>da</strong> incompatibili<strong>da</strong>de do duplo papel de <strong>per</strong>tencer a uma ordem, ain<strong>da</strong><br />
que de estilo novo, e a uma corporação, ain<strong>da</strong> que de certa forma uma<br />
corporação clerical e original” (LE GOFF, Ibid., p. 130).<br />
Diante <strong>da</strong>s reclamações dos mestres seculares <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de<br />
Paris, o papa Inocêncio IV revogou alguns dos privilégios concedidos<br />
aos fra<strong>des</strong> Mendicantes. Entretanto, seu sucessor, o papa Alexandre<br />
IV, que havia sido antes cardeal protetor dos franciscanos, anulou<br />
esta bula um mês depois com uma bula chama<strong>da</strong> Nec insolitum, e,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 35<br />
| História | 2011
mais tarde, com a bula Quase lignum vitae, de 14 de abril de 1255,<br />
concedendo um triunfo completo aos Mendicantes.<br />
Não é preciso dizer que estas últimas bulas papais suscitaram<br />
revoltas no meio universitário. O ambiente, que já não era muito<br />
amistoso, tomou proporções mais violentas, inaugurando um segundo<br />
momento dos ataques contra os fra<strong>des</strong> dominicanos e, principalmente,<br />
franciscanos, isto é, questionando os próprios fun<strong>da</strong>mentos <strong>da</strong><br />
existência <strong>des</strong>sas ordens religiosas.<br />
Assim, não demorou muito para que as disputas saíssem dos muros<br />
<strong>da</strong> universi<strong>da</strong>de e tomassem proporções maiores. Os Mendicantes<br />
foram, então,<br />
acusados de usurpar as funções do clero: a confissão e enterro<br />
especialmente; de serem hipócritas que buscam prazer, riqueza,<br />
poder (...); e, finalmente, de serem heréticos: seu ideal de pobreza<br />
evangélica é contrário à doutrina de Cristo e ameaça de ruína a<br />
Igreja (LE GOFF, Ibid., p. 131).<br />
Como a querela contra os franciscanos havia se tornado um<br />
problema de ordem dogmática, isto é, de cunho teológico baseado na<br />
revelação cristã, os mestres seculares se tiveram que se apoiar nas<br />
antigas idéias heréticas do monge Joaquim de Fiore34 que pregava a<br />
inauguração de uma nova Era, a Era do Espírito Santo, que, por sua<br />
vez, acabou sendo identificado por uma parte dos franciscanos como<br />
aquela inaugura<strong>da</strong> pela fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> Ordem de São Francisco de<br />
Assis. Em sua Expositio su<strong>per</strong> Apocalipsim (Exposição sobre o Livro do<br />
Apocalipse), Joaquim de Fiore havia construído até uma cronologia sui<br />
generis sobre a história <strong>da</strong> salvação. Afirmava o monge que<br />
(...) primeiro dos três estados é aquele que se <strong>des</strong>envolve sob o<br />
domínio <strong>da</strong> lei [mosaica], quando o povo do Senhor, ain<strong>da</strong> infantil,<br />
servia sob o controle dos elementos <strong>des</strong>te mundo, incapaz de alcançar<br />
aquela liber<strong>da</strong>de de espírito, <strong>des</strong>tina<strong>da</strong> a fulgurar quando aparecesse<br />
aquele que disse: se o Filho vos liberta, sereis ver<strong>da</strong>deiramente<br />
livres. O segundo dos três estados é aquele que teve início com o<br />
Evangelho e ain<strong>da</strong> <strong>per</strong>dura, em liber<strong>da</strong>de sem dúvi<strong>da</strong>, se confrontado<br />
com o estado precedente, mas não em liber<strong>da</strong>de se se pensa no<br />
futuro, pois diz o apóstolo: conhecemos agora em parte e só em<br />
parte profetizamos, mas quando chegar a <strong>per</strong>feição, tudo aquilo que<br />
é parcial será anulado (1 Cor 13,13). O terceiro estado terá início<br />
pelo fim do século [1199], não mais sob o véu opaco <strong>da</strong> letra, mas na<br />
plena liber<strong>da</strong>de de espírito, quando, anulado e <strong>des</strong>truído o pseudoevangelho<br />
do filho <strong>da</strong> <strong>per</strong>dição [o anticristo] e dos seus profetas,<br />
aqueles que inculcam no seio <strong>da</strong>s massas e senso <strong>da</strong> justiça serão<br />
semelhantes ao esplendor do firmamento e <strong>da</strong>s estrelas eternas<br />
(FIORE, Apud SILVEIRA, 2000, p. 15).<br />
Para o historiador italiano, Marco Bartoli, o próprio Guilherme de<br />
Santo Amor partilhava <strong>da</strong>s ideias joaquimitas e também tinha convicção<br />
de que o mundo estava vivendo sua última Era, aguar<strong>da</strong>ndo a chega<strong>da</strong><br />
do Anticristo. Entretanto, para ele<br />
(...) a prova de que o Anticristo estaria por chegar é que seus filhos<br />
já haviam chegado: são os fra<strong>des</strong> menores, que são hipócritas,<br />
pois dizem ser pobres; na reali<strong>da</strong>de, porém, roubam os ver<strong>da</strong>deiros<br />
pobres, tirando as esmolas <strong>da</strong>queles que delas precisam (BARTOLI,<br />
Apud. MOREIRA, 2007, p. 73).<br />
O rei de França, Luis IX (o São Luís) era amigo dos fra<strong>des</strong><br />
franciscanos e não quis se posicionar diante <strong>des</strong>ta disputa, mesmo<br />
tendo consciência de que a Universi<strong>da</strong>de de Paris trazia muito brilho<br />
ao seu reinado. Pela sua neutrali<strong>da</strong>de, o rei também não <strong>per</strong>maneceu<br />
imune aos ataques sendo acusado de ser um brinquedo nas mãos dos<br />
franciscanos.<br />
E os estu<strong>da</strong>ntes universitários? De que lado ficaram? Para Le Goff,<br />
eles ficaram divididos e hesitaram em tomar partido, já que “muitos<br />
eram sensíveis às vantagens do ensino dos mendicantes, mais ain<strong>da</strong><br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 36<br />
| História | 2011
ao brilho de suas <strong>per</strong>sonali<strong>da</strong><strong>des</strong> e à novi<strong>da</strong>de de alguns aspectos de<br />
sua doutrina” (LE GOFF, 2006, p. 132).<br />
Por fim, ao que parece, nestes combates entre mestres seculares<br />
e regulares, era a questão <strong>da</strong> pobreza que mais uma vez recebia foco.<br />
Le Goff chama a atenção para esse fator que separava diametralmente<br />
os dois grupos. Para ele,<br />
(...) o problema <strong>da</strong> pobreza é bem um problema central que separa<br />
uns dos outros. A pobreza procede <strong>da</strong>quele ascetismo que é a<br />
recusa do mundo, pessimismo a respeito do homem e <strong>da</strong> natureza.<br />
Nesse sentido, já se choca com o otimismo humanista e naturalista<br />
<strong>da</strong> maioria dos universitários. Mas, principalmente, a pobreza<br />
entre os dominicanos e os franciscanos tem como conseqüência a<br />
mendicância. Nesse ponto, a oposição dos intelectuais é absoluta.<br />
Para eles, só se pode viver do seu trabalho (LE GOFF, Ibid., p.<br />
133).<br />
Contra essas acusações externas, o Ministro geral <strong>da</strong> Ordem<br />
franciscana, teve que se posicionar com veemência. Como resposta<br />
àqueles que viam na Ordo Minorum uma espécie de “Ordo Antichristi”<br />
(Ordem do Anticristo), Frei Boaventura escreveu nos anos de 1260<br />
sua Apologia pau<strong>per</strong>um contra calumniatorem (“Apologia dos pobres<br />
contra os caluniadores”), deixando claro a todos, mestres seculares,<br />
e também aos próprios fra<strong>des</strong>, qual era o fun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong> pobreza<br />
evangélica e o lugar dos franciscanos na Igreja; nesta obra ele procura<br />
mostrar que<br />
(...) a pobreza franciscana, qual re<strong>nunc</strong>ia voluntária a posse de<br />
bens para limitar-se ao seu simples uso, inspira-se nos exemplos de<br />
Cristo, modelo <strong>da</strong> <strong>per</strong>feição cristã e pobre: a pobreza dos fra<strong>des</strong>,<br />
concluía, é um excelente meio evangélico para seguir a Cristo<br />
(POMPEI, Op. cit., p. 336) [e que a] “utili<strong>da</strong>de” é um conceito<br />
eclesiológico central no pensamento que justifica os Fra<strong>des</strong><br />
menores durante os decênios centrais do século XIII (...). A novitas<br />
franciscana era exalta<strong>da</strong> ao ser eleva<strong>da</strong> aos quadros conceptuais<br />
e canônicos do poder <strong>da</strong> Igreja romana (...) (MERLO, Op. cit., p.<br />
127).<br />
Diante <strong>des</strong>sas crises internas e externas que ameaçavam a<br />
existência <strong>da</strong> Ordem de São Francisco, Frei Boaventura não demorou<br />
a se convencer que em seu projeto de reformulação ou mesmo de<br />
renovação <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de franciscana, não foi suficiente a criação de<br />
Constituições rígi<strong>da</strong>s e precisas, como não foi suficiente oferecer uma<br />
obra apologética em defesa <strong>da</strong> pobreza franciscana. Foi preciso mais<br />
que isso. Foi necessário apelar para um mecanismo mais sutil e mais<br />
eficaz: a reformulação <strong>da</strong> <strong>memória</strong> do santo fun<strong>da</strong>dor. Para isso, teve<br />
que chamar para si a responsabili<strong>da</strong>de de escrever uma nova biografia<br />
de São Francisco e, ao mesmo tempo, fazer com que os fra<strong>des</strong><br />
“esquecessem” as biografias anteriores. Em outras palavras, alguns<br />
“Franciscos” teriam que morrer.<br />
3.2 “Propter confusionem vitan<strong>da</strong>m”:<br />
o decreto de 1266<br />
Se, por um lado, Frei Boaventura havia se convencido de que alguns<br />
“Franciscos” deveriam morrer, isto é, tinham que ser “esquecidos”,<br />
por outro, tinha consciência de que esta não seria uma tarefa fácil.<br />
Isso acontece porque as noções de <strong>memória</strong> e de esquecimento estão<br />
intimamente interliga<strong>da</strong>s. Como bem observou Ricoeur,<br />
(...) de início e maciçamente, é como um <strong>da</strong>no à confiabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
<strong>memória</strong> que o esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna.<br />
Sob este aspecto, a própria <strong>memória</strong> se define, pelo menos em<br />
uma primeira instância, como luta contra o esquecimento. (...) Esse<br />
nosso famoso dever de <strong>memória</strong> e<strong>nunc</strong>ia-se como uma exortação a<br />
não esquecer (RICOEUR, Op.cit., p. 424).<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 37<br />
| História | 2011
Isso significa que, se a <strong>memória</strong> é entendi<strong>da</strong>, grosso modo, como<br />
uma “luta contra o esquecimento”, as diversas “<strong>memória</strong>s” (biografias)<br />
sobre São Francisco, produzi<strong>da</strong>s <strong>des</strong>de sua canonização até o ano de<br />
1260, significavam que os fra<strong>des</strong> sempre buscaram manter viva, de<br />
alguma forma, a <strong>memória</strong> de seu fun<strong>da</strong>dor. Sendo assim, a simples<br />
aprovação de um decreto, mesmo que viesse do governo geral <strong>da</strong><br />
Ordem, que ordenasse a <strong>des</strong>truição, isto é, o esquecimento <strong>des</strong>sas<br />
antigas biografias, corria sérios riscos de não oferecer o efeito<br />
<strong>des</strong>ejado. A única solução seria apresentar uma nova <strong>memória</strong> que,<br />
bem justifica<strong>da</strong>, ocupasse o lugar <strong>da</strong>s antigas. Surgiu, assim, a<br />
Legen<strong>da</strong> Maior Sancti Francisci, cujo lugar na história <strong>da</strong> hagiografia<br />
franciscana será discuti<strong>da</strong> mais adiante.<br />
Como já foi mencionado, o Capítulo geral de Narbonna, ocorrido em<br />
1260, foi um marco importante na história <strong>da</strong> Ordem franciscana. Lá se<br />
iniciou de forma mais incisiva e maciça o programa de reestruturação<br />
<strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de franciscana <strong>des</strong>eja<strong>da</strong> por Frei Boaventura de Bagnoregio.<br />
A centralização revoga<strong>da</strong> pelo Ministro geral não se resumiu apenas<br />
à criação de novas Constiuições, mas estendeu-se também a uma<br />
centralização <strong>da</strong> própria <strong>memória</strong> hagiográfica de São Francisco. Foi<br />
durante esse Capítulo geral que Frei Boaventura<br />
(....) fez que lhe entregassem a tarefa de redigir uma nova e definitiva<br />
legen<strong>da</strong> de São Francisco, a fim de pôr termo à proliferação de<br />
escritos hagiográficos que, celebrando o santo, tinham também a<br />
função polêmica de sustentar as posições <strong>da</strong>s diversas e conflitantes<br />
correntes internas <strong>da</strong> Ordem (MERLO, Op. cit., p. 119).<br />
E foi assim que, pela primeira vez, a vi<strong>da</strong> de São Francisco de Assis,<br />
foi conta<strong>da</strong> “oficialmente” por um su<strong>per</strong>ior maior <strong>da</strong> Ordo Minorum<br />
que também era um hábil teólogo, como recor<strong>da</strong> o historiador italiano,<br />
Marco Bartoli:<br />
(...) depois dos Capítulos gerais de 1257 e 1260, aconteceu mais<br />
um momento de mu<strong>da</strong>nça na história hagiográfica <strong>da</strong> Ordem.<br />
O Capítulo aprova as constituições gerais elabora<strong>da</strong>s por São<br />
Boaventura e o mesmo Capítulo pede ao ministro geral que escreva<br />
uma nova “legen<strong>da</strong>”. Por quê? Já não eram suficientes as que já<br />
existiam? (...) Necessitava-se de um texto novo e Boaventura era a<br />
pessoa mais indica<strong>da</strong> para essa tarefa: não só era um hagiógrafo,<br />
mas também um teólogo e, mais do que isso, era um místico; isso<br />
significa que ele tinha sua própria ex<strong>per</strong>iência pessoal de santi<strong>da</strong>de<br />
e, por isso, tinha também uma leitura pessoal de São Francisco<br />
(BARTOLI, Apud. MOREIRA, Op. cit., p. 72).<br />
A Legen<strong>da</strong> Maior ficou pronta três anos depois, 1263, mas só foi<br />
aprova<strong>da</strong> pelo Capítulo Geral de Paris, em 1266. Ao que parece, a nova<br />
Legen<strong>da</strong> foi bem recebi<strong>da</strong> pela maioria dos fra<strong>des</strong>. Entretanto, Frei<br />
Boaventura, ain<strong>da</strong> assim, não parecia satisfeito. E foi nesse mesmo<br />
Capítulo geral de 1266 que, ao mesmo tempo em que a Legen<strong>da</strong> Maior<br />
foi oficializa<strong>da</strong> como única biografia fiel de São Francisco, tomou-se<br />
uma atitude inusita<strong>da</strong> e drástica. Um decreto capitular ordenava que<br />
to<strong>da</strong>s as outras biografias sobre o santo de Assis fossem <strong>des</strong>truí<strong>da</strong>s!<br />
O artigo oitavo <strong>da</strong>s moções aprova<strong>da</strong>s pelos fra<strong>des</strong> capitulares era<br />
muito claro:<br />
(...) Item precipit generale capitulum <strong>per</strong> obedientiam, quod omnes<br />
legende de beato Francisco olim facte deleantur, et ubi extra<br />
ordinem inveniri poterunt, ipsas fratres studeant amovere, cum illa<br />
legen<strong>da</strong>, que facta est <strong>per</strong> generalem ministrum, fuerit compilata<br />
prout ipse habuit ab ore eorum, qui cum b. Francisco quase sem<strong>per</strong><br />
fuerunt et cuncta certitudinaliter sciverint et probata ibi sint posita<br />
diligenter. 35<br />
[Além disso, o capítulo geral man<strong>da</strong> sob obediência que sejam<br />
<strong>des</strong>truí<strong>da</strong>s to<strong>da</strong>s as legen<strong>da</strong>s do bem-aventurado Francisco<br />
compostas anteriormente e que, onde possam ser encontra<strong>da</strong>s<br />
fora <strong>da</strong> Ordem, os fra<strong>des</strong> cuidem de retirá-las, pois a legen<strong>da</strong><br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 38<br />
| História | 2011
escrita pelo ministro geral foi compila<strong>da</strong> com a aju<strong>da</strong> <strong>da</strong>quilo que<br />
ele mesmo ouviu <strong>da</strong> boca <strong>da</strong>queles que estiveram quase sempre<br />
com o bem-aventurado Francisco, e tudo o que se pode saber com<br />
certeza e com provas foi nela inserido com cui<strong>da</strong>do].<br />
Para os historiadores modernos, a decisão <strong>des</strong>se Capítulo geral foi<br />
<strong>des</strong>astrosa, pois, segundo, Le Goff,<br />
(...) os Franciscanos obedeceram de tal forma à ordem de 1266<br />
que buscar manuscritos não <strong>des</strong>truídos será decepcionar-se.<br />
Mas apesar disso, ain<strong>da</strong> é possível es<strong>per</strong>ar <strong>des</strong>cobertas. Desde<br />
a publicação pelos bolandistas 36 , em 1768, <strong>da</strong> Vi<strong>da</strong> conheci<strong>da</strong><br />
como dos Três Companheiros e <strong>da</strong> primeira biografia (Vita Prima)<br />
de Tomás de Celano, pode-se, até hoje, retomar contato com uma<br />
série de manuscritos que limitam – parcialmente – as conseqüências<br />
catastróficas do auto-<strong>da</strong>-fé de 1266 (LE GOFF, 2001, p. 53).<br />
Mas, por que a nova Legen<strong>da</strong> “escrita pelo ministro geral” (“facta<br />
est <strong>per</strong> generalem ministrum”) não poderia conviver tranquilamente<br />
com as legen<strong>da</strong>s antigas? Se foi uma biografia tão celebra<strong>da</strong> dentro<br />
<strong>da</strong> Ordem franciscana, por que seria necessária a promulgação de um<br />
decreto para que as biografias “compostas anteriormente” fossem<br />
<strong>des</strong>truí<strong>da</strong>s, não isentando sequer aquelas “encontra<strong>da</strong>s fora <strong>da</strong><br />
Ordem” (“ubi extra ordinem inveniri poterunt”)?<br />
Fernando Báez, em sua interessante História <strong>da</strong> <strong>des</strong>truição<br />
dos livros, tenta compreender a razão pela qual, em várias civilizações,<br />
<strong>da</strong> antigui<strong>da</strong>de até os nossos dias, o “memoricídio” (BÁEZ, 2006, p. 19)<br />
sempre foi um mecanismo eficaz na manutenção de um determinado<br />
“status quo” ou mesmo numa reestruturação <strong>da</strong>s identi<strong>da</strong><strong>des</strong> sociais.<br />
Para o autor,<br />
(...) ao <strong>des</strong>truir, o homem reivindica o ritual <strong>da</strong> <strong>per</strong>manência,<br />
purificação e consagração; ao <strong>des</strong>truir, atualiza uma conduta<br />
movi<strong>da</strong> a partir do mais profundo de sua <strong>per</strong>sonali<strong>da</strong>de, em busca<br />
de restituir um arquétipo de equilíbrio, poder ou transcendência. (...)<br />
O ritual <strong>des</strong>trutivo, como o ritual construtivo aplicado à <strong>construção</strong><br />
de templos, casas ou qualquer obra, fixa padrões para devolver o<br />
homem à comuni<strong>da</strong>de, ao amparo ou à vertigem <strong>da</strong> pureza (BÁEZ,<br />
Ibid., p. 23).<br />
Um detalhe importante, e que geralmente passa <strong>des</strong><strong>per</strong>cebido, é<br />
que no caso <strong>des</strong>se decreto de 1266, o Capítulo geral presidido pelo<br />
então Ministro geral, Frei Boaventura, não pediu o “bom senso” dos<br />
fra<strong>des</strong> para aceitarem sua nova Legen<strong>da</strong> e tranquilamente deixarem de<br />
lado as antigas biografias. O decreto apelou, em primeiro lugar, para a<br />
obediência dos fra<strong>des</strong> (“<strong>per</strong> obedientiam”).<br />
Como já foi dito acima, a ordem de <strong>des</strong>truir as antigas <strong>memória</strong>s<br />
de São Francisco não poderia deixar um “vácuo hagiográfico” no<br />
seio <strong>da</strong> Ordem. Frei Boaventura teve, assim, que justificar porque<br />
estava executando, guar<strong>da</strong><strong>da</strong> as devi<strong>da</strong>s proporções, uma espécie<br />
de “<strong>da</strong>mnatio memoriae” 37 . No prefácio <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior, já era<br />
possível encontrar uma pista <strong>da</strong> intenção do Ministro geral quando<br />
este escreveu, esclarescendo porque motivo sua narrativa sobre a vi<strong>da</strong><br />
de São Francisco não seguia a ordem cronológica dos eventos, mas era<br />
distribuí<strong>da</strong> numa lógica temática de cunho mais místico-teológica. A<br />
justificativa se encontra na expressão “para evitar confusão” (“propter<br />
confusionem vitan<strong>da</strong>m”) (LM, Prólogo, 4).<br />
Fica claro, assim, que a ordem de <strong>des</strong>truição <strong>da</strong>s biografia<br />
anteriores a 1266 se <strong>da</strong>va, ao menos na intenção e nos objetivos de<br />
Frei Boaventura, para o “bem” dos fra<strong>des</strong>, isto é, para que as várias<br />
imagens do santo não os confundissem em sua trajetória espiritual,<br />
tanto individual quanto comunitária.<br />
Continuando a análise do referido decreto de 1266, observamos<br />
que mesmo justificando a atitude de <strong>des</strong>truir as antigas biografias em<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 39<br />
| História | 2011
favor de uma nova Legen<strong>da</strong>, isso não bastava. Frei Boaventura sentiu-<br />
se obrigado a reforçar a credibili<strong>da</strong>de de sua narrativa sobre a vi<strong>da</strong> de<br />
São Francisco apoiam-se na testemunha dos fra<strong>des</strong> que viveram com o<br />
santo e, <strong>des</strong>te modo, lê-se novamente no prólogo <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior:<br />
(...) Portanto, para que a ver<strong>da</strong>de de sua vi<strong>da</strong>, que devia ser<br />
transmiti<strong>da</strong> aos pósteros, constasse para mim com mais certeza<br />
e clareza, fui ao lugar onde o homem santo nasceu, conviveu e<br />
morreu, e mantive uma entrevista cui<strong>da</strong>dosa com pessoas que<br />
foram suas familiares e ain<strong>da</strong> sobrevivem 38 . E principalmente<br />
com alguns que tiveram consciência de sua santi<strong>da</strong>de e foram<br />
seus principais seguidores, cujo testemunho deve ser tomado<br />
como indubitável, por causa <strong>da</strong> ver<strong>da</strong>de reconheci<strong>da</strong> e <strong>da</strong> virtude<br />
comprova<strong>da</strong> (LM, Prólogo, 4).<br />
O mesmo apelo às testemunhas confiáveis podia ser encontrado<br />
no decreto de 1266 quando, Frei Boaventura, afirmava que a biografia<br />
por ele composta tinha sido feita a partir <strong>da</strong>quilo que “ele mesmo ouviu<br />
<strong>da</strong> boca <strong>da</strong>queles que estiveram quase sempre com o bem-aventurado<br />
Francisco” (Deffinitiones).<br />
Entretanto, há um problema aqui. Por que um teólogo (e não<br />
um historiador ou um cronista medieval) estaria tão preocupado<br />
em fun<strong>da</strong>mentar suas decisões tanto jurídicas (o decreto) quanto<br />
hagiográficas (a Legen<strong>da</strong> Maior) em testemunhas que conviveram<br />
com São Francisco, munindo-se assim “com certeza e com provas”<br />
(“cuncta certitudinaliter sciverint et probata”), se ele mesmo se diz<br />
<strong>des</strong>preocupado em narrar uma vi<strong>da</strong> cronológica do santo?<br />
Não é intenção <strong>des</strong>te trabalho discutir detalha<strong>da</strong>mente a natureza<br />
e o lugar <strong>da</strong> testemunha no processo epistemológico <strong>da</strong> <strong>construção</strong><br />
<strong>da</strong> história, mas as reflexões (e provocações) de Paul Ricoeur sobre<br />
o conceito de “testemunha” podem lançar algumas luzes para este<br />
estudo. Para o filósofo,<br />
(...) é na prática cotidiana do testemunho que é mais fácil discernir<br />
(...) o uso histórico do testemunho. Esse emprego coloca-nos de<br />
imediato diante <strong>da</strong> questão crucial: até que ponto os testemunho<br />
é confiável? Essa questão põe diretamente na balança a confiança<br />
e a suspeita. (...) De fato, a suspeita se <strong>des</strong>dobra ao longo de<br />
uma cadeia de o<strong>per</strong>ações que têm início no nível <strong>da</strong> <strong>per</strong>cepção de<br />
uma cena vivi<strong>da</strong>, continua no <strong>da</strong> retenção <strong>da</strong> lembrança, para se<br />
concentrar na fase declarativa e narrativa <strong>da</strong> reconstituição dos<br />
traços do acontecimento (RICOEUR, Op. cit., p. 171).<br />
Em outras palavras, o que torna alguém uma testemunha é, num<br />
primeiro momento, a <strong>per</strong>cepção que ela tem de um evento ocorrido<br />
e por ela testemunhado. No caso de Frei Boaventura, que recorreu<br />
ao testemunho dos primeiros fra<strong>des</strong> que viveram com São Francisco,<br />
como compreender tal “<strong>per</strong>cepção” <strong>des</strong>sas testemunhas diante do fato<br />
de que a maioria dos episódios <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> do santo narrados pela Legen<strong>da</strong><br />
Maior foram cópias, mais ou menos fiéis, dos relatos de Tomás de<br />
Celano, contidos em sua Vita I?<br />
Continuando o raciocínio, quando Frei Boaventura foi até Assis à<br />
procura de testemunhas que possam narrar suas <strong>memória</strong>s sobre São<br />
Francisco, não procurou qualquer frade, mas sim aqueles mais antigos,<br />
que não só haviam convivido com o santo, mas, principalmente, para o<br />
Ministro geral, e que ain<strong>da</strong> guar<strong>da</strong>vam a “pureza <strong>da</strong> vontade original”<br />
do fun<strong>da</strong>dor.<br />
Aqui, podemos dizer que são os méritos pessoais <strong>da</strong> testemunha<br />
que “que fazem com que se acostume a acreditar nela (...); neste caso,<br />
o credenciamento equivale à autenticação <strong>da</strong> testemunha a título<br />
pessoal” (RICOEUR, Ibid., p. 173).<br />
Complementando suas reflexões, Ricoeur chama a atenção para o<br />
fato de que a credibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s testemunhas pode se tornar um fator<br />
essencial na <strong>construção</strong> de uma instituição. Para ele,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 40<br />
| História | 2011
(...) essa estrutura estável <strong>da</strong> disposição a testemunhar faz do<br />
testemunho um fator de segurança no conjunto <strong>da</strong>s relações<br />
constitutivas do vínculo social; por sua vez, essa contribuição <strong>da</strong><br />
confiabili<strong>da</strong>de de uma proporção importante dos agentes sociais<br />
à segurança geral faz do testemunho uma instituição. (...) O que<br />
faz uma instituição é inicialmente a estabili<strong>da</strong>de do testemunho<br />
pronto a ser reiterado, em segui<strong>da</strong> a contribuição <strong>da</strong> confiabili<strong>da</strong>de<br />
de ca<strong>da</strong> testemunho à segurança do vínculo social na medi<strong>da</strong> em<br />
que este repousa na confiança na palavra de outrem (RICOEUR,<br />
Ibid., p. 174).<br />
Diante <strong>des</strong>sas considerações sobre a natureza <strong>da</strong> testemunha, e<br />
diante do fato de um hagiógrafo medieval – que é ao mesmo tempo<br />
um teólogo e um su<strong>per</strong>ior de uma ordem religiosa – ter se inclinado a<br />
inserir em dois documentos oficiais (uma de cunho jurídico e outra de<br />
cunho hagiográfico) o testemunho de fra<strong>des</strong> altamente credenciados<br />
dentro <strong>da</strong> Ordem franciscana, pode levar ao seguinte dilema: a inserção<br />
<strong>des</strong>sas testemunhas, por Frei Boaventura, teve apenas como intenção<br />
atender às exigências dos modelos hagiográficos vigentes (ou mesmo<br />
de <strong>da</strong>r certa “historici<strong>da</strong>de” às narrativas) ou, tais testemunhas foram<br />
utiliza<strong>da</strong>s com o intuito de apontar para uma reali<strong>da</strong>de e um projeto<br />
maior, onde o que importava mesmo não era o “testemunho ocular”,<br />
mas sim, a fideli<strong>da</strong>de aos valores originais deixados pelo santo e que,<br />
naquele momento, estavam sendo esquecidos?<br />
Se, por um lado, optarmos pela primeira alternativa, o decreto de<br />
1266 ficaria reduzido a um documento somente coercitivo, fruto do<br />
capricho de um poder centralizador, dependente de uma biografia cujas<br />
testemunhas seriam estéreis e inúteis. Por outro lado, se optarmos<br />
pelo segundo posicionamento, tanto o decreto quanto a nova Legen<strong>da</strong><br />
ganhariam uma nova luz de interpretação e um novo sentido na<br />
tentativa de articular os diferentes documentos produzidos no <strong>per</strong>íodo<br />
boaventuriano. Antes de nos apegarmos a uma ou outra posição,<br />
analisemos as intenções explicitas e implícitas <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior<br />
bem como seu lugar no programa de reestruturação boaventuriana <strong>da</strong><br />
identi<strong>da</strong>de franciscana.<br />
3.3 Um novo são francisco para uma nova<br />
identi<strong>da</strong>de franciscana: a legen<strong>da</strong> maior<br />
A busca por um “rosto” para São Francisco de Assis parecia, ao<br />
menos para Frei Boaventura, encerra<strong>da</strong> com apresentação <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong><br />
Maior, em 1263, e com a <strong>des</strong>truição <strong>da</strong>s vitas mais antigas, em 1266.<br />
Quarenta anos depois de sua morte, finalmente, o santo poderia<br />
requiere in pacem (“<strong>des</strong>cansar em paz”). Naquele momento, era<br />
mesmo importante, como já foi recor<strong>da</strong>do acima por Desbonnets, que<br />
São Francisco, já “embalsamado” por Frei Boaventura em sua Legen<strong>da</strong><br />
Maior, dormisse, ou melhor, acor<strong>da</strong>sse no “paraíso eterno” e ficasse<br />
por lá, deixando de interferir nos novos caminhos <strong>da</strong> Ordem por ele<br />
fun<strong>da</strong><strong>da</strong>.<br />
Já foi dito que a Legen<strong>da</strong> Maior, mesmo sendo apresenta<strong>da</strong> como<br />
uma “novi<strong>da</strong>de” para o conhecimento <strong>da</strong> “ver<strong>da</strong>deira” vi<strong>da</strong> de São<br />
Francisco, tinha, ao menos literariamente, pouca coisa de novo. Neste<br />
sentido, quando o decreto de 1266, ao oficializar a nova Legen<strong>da</strong> feita<br />
pelo Ministro geral, utilizou claramente o verbo latino “compilare”<br />
(compilar), o termo parece bem apropriado já que hoje sabemos, pela<br />
crítica <strong>da</strong>s fontes franciscanas, que a Legen<strong>da</strong> Maior retomou partes<br />
ou episódios inteiros <strong>da</strong> Vita I, Vita II e Tractatus Miraculis, de Frei<br />
Tomás de Celano, e até mesmo <strong>da</strong>s obras de Juliano de Spira.<br />
No prólogo <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior, Frei Boaventura fez questão de<br />
esclarecer que para evitar confusão, achou melhor não seguir a ordem<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 41<br />
| História | 2011
cronológica dos fatos, mas antes “conservar uma ordem de uma<br />
conjunção mais apta, segundo a qual pareciam combinar melhor em<br />
temas diferentes acontecimentos do mesmo tempo, ou em um mesmo<br />
tema acontecimentos de tempos diferentes” (LM, Prólogo, 4). Isso<br />
quer dizer que o Ministro geral não <strong>des</strong>ejava mesmo apresentar um São<br />
Francisco “histórico”. Na ver<strong>da</strong>de, sua intenção era diametralmente<br />
outra, isto é, a Legen<strong>da</strong> Maior queria “tirar” São Francisco <strong>da</strong> História,<br />
como bem recordou Giovanni Merlo, para quem<br />
(...) o caráter absoluto do fim evitava reconstruir a concreta<br />
historici<strong>da</strong>de <strong>da</strong> ex<strong>per</strong>iência evangélica de Frei Francisco e repropor<br />
os episódios de sua vi<strong>da</strong> que, por exemplo, fizessem aparecer as<br />
conflitantes relações do “santo” com sua Fraterni<strong>da</strong>de/Ordem<br />
e, portanto, oferecessem pontos de apoio que justificassem os<br />
conflitos do presente (MERLO, Op cit., p. 120).<br />
Isso ocorria porque a Legen<strong>da</strong> Maior não havia sido escrita -<br />
ou compila<strong>da</strong> – para celebrar um santo, nem mesmo para tornar a<br />
trajetória humana de Francisco de Assis mais precisa aos olhos de<br />
todos. A nova Legen<strong>da</strong> havia nascido para “coroar”, de certa forma,<br />
o programa formativo inaugurado por Frei Boaventura, cujas bases já<br />
se encontravam nas Constituições de Narbonna. Segundo Theophile<br />
Desbonnets, esta “manobra bonaventuriana” era necessária porque<br />
(...) esta legislação não poderia agra<strong>da</strong>r a todos. Boaventura<br />
passou, então, à segun<strong>da</strong> fase de seu projeto: escrever uma vi<strong>da</strong><br />
do Fun<strong>da</strong>dor que demonstrasse que a legislação <strong>da</strong> Ordem, isto é,<br />
as Constituições de Narbonne, era boa e estava dentro <strong>da</strong> linha<br />
correta do espírito de Francisco (DESBONNETS, Op. cit., p. 140).<br />
Se a Legen<strong>da</strong> Maior deveria refletir, literária e hagiograficamente,<br />
os posicionamentos contidos nas Constituições de Narbonne, a<br />
nova biografia do fun<strong>da</strong>dor deveria oferecer aos fra<strong>des</strong> um caminho<br />
formativo a ser observado com rigor. Assim, o “novo” São Francisco<br />
deveria ser<br />
(...) literária e hagiograficamente construído segundo as linhas<br />
e modelos escolhidos e impostos pelo Geral e por aqueles que<br />
apoiavam a interpretação bonaventuriana. É um São Francisco útil<br />
à Ordem e interpretado em chave teológico-espiritual (MERLO,<br />
Op. cit., p. 119).<br />
Isso explicaria porque o São Francisco “retratado” na Legen<strong>da</strong><br />
Maior parecia evitar ou mesmo <strong>des</strong>conhecer as discussões sobre os<br />
temas polêmicos que assaltavam a Ordem, ain<strong>da</strong> enquanto o santo<br />
vivia e mais ain<strong>da</strong> no tempo em Frei Boaventura escreveu. Explicaria<br />
também porque alguns episódios narrados nas vitas de Tomás de<br />
Celano e nas outras legen<strong>da</strong>s condena<strong>da</strong>s foram simplesmente<br />
“esquecidos”, excluídos ou mesmos reinterpretados pelo Ministro<br />
geral na sua nova biografia. Em outras palavras, para Frei Boaventura,<br />
sua Legen<strong>da</strong> deveria mostrar aos fra<strong>des</strong>, num momento turbulento<br />
vivido pela Ordo Minorum, o caminho tomado pelo santo fun<strong>da</strong>dor para<br />
chegar até Deus e, <strong>des</strong>te modo, em sua pe<strong>da</strong>gogia, recor<strong>da</strong>r as crises<br />
estruturais e individuais do movimento franciscano era considerado<br />
<strong>des</strong>necessário ou até mesmo prejudicial.<br />
São Francisco era para Frei Boaventura um “uomo di Dio” (“um<br />
homem de Deus”) e era no campo <strong>da</strong> teologia e <strong>da</strong> mística que o santo<br />
deveria ser compreendido. Daí que a Legen<strong>da</strong> Maior foi compila<strong>da</strong><br />
seguindo uma ordem temática – e não cronológica – que pretendia<br />
a ilustrar e ensinar aos fra<strong>des</strong> o posicionamento teológico de Frei<br />
Boaventura. Como observou Certeau, hagiografia e teologia caminham<br />
sempre juntas:<br />
(...) uma teologia está sempre investi<strong>da</strong> no discurso hagiográfico.<br />
Ela é particularmente evidente lá onde a vi<strong>da</strong> do santo serve<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 42<br />
| História | 2011
para provar uma teologia (...): a tese é ver<strong>da</strong>deira já que foi<br />
professa<strong>da</strong> por um homem que era um santo. Fun<strong>da</strong>mentalmente<br />
é a combinação de signos que dá sentido ao relato (CERTEAU,<br />
2008, p. 275).<br />
E foi assim que a Legen<strong>da</strong> Maior se organizou a partir de obras<br />
místicas e teológicas como o Itinerarium mentis in Deum (“Itinerário<br />
<strong>da</strong> mente em Deus”) e as Três vias, escritas por Frei Boaventura na<br />
mesma déca<strong>da</strong> de 1260. Para ilustrar como pensamento teológico<br />
e místico, serviu de base para organização <strong>da</strong> estrutura <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong><br />
Maior, o esquema abaixo, construído pelo franciscanólogo José Carlos<br />
Pedroso39 , poderá facilitar a compreensão <strong>des</strong>sas relações:<br />
Introdução<br />
Prólogo<br />
ESQUEMA DE LEGENDA MAIOR<br />
1. Sua vi<strong>da</strong> no mundo.<br />
2. Conversão definitiva e restauração de três igrejas.<br />
3. Fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> Ordem e aprovação <strong>da</strong> Regra.<br />
4. Progresso <strong>da</strong> Ordem sob sua direção e confirmação <strong>da</strong><br />
Regra.<br />
A. Via Purgativa<br />
5. Austeri<strong>da</strong>de de vi<strong>da</strong> e como as criaturas lhe proporcionam<br />
consolo (o prêmio por sua austeri<strong>da</strong>de exterior e interior é o<br />
domínio sobre a natureza).<br />
6. Humil<strong>da</strong>de e obediência, favores com que Deus o cumulava<br />
(o prêmio por imitar Jesus Cristo pobre é conseguir o domínio<br />
sobre os demônios).<br />
7. Amor à pobreza e intervenções miraculosas nas necessi<strong>da</strong><strong>des</strong><br />
(o prêmio pela pobreza nas coisas e mesmo no conhecimento<br />
é sua confiança na Providência).<br />
B. Via Iluminativa<br />
8. Seu sentimento de compaixão e o amor que as criaturas lhe<br />
devotavam (o prêmio por estar integrado com Deus, consigo<br />
mesmo, com o próximo e com as criaturas e o domínio sobre as<br />
aves e os outros animais).<br />
9. Fervor de sua cari<strong>da</strong>de e <strong>des</strong>ejo do martírio (o prêmio por<br />
viver o amor de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos<br />
apóstolos, por seu <strong>des</strong>ejo de martírio, são as chagas)<br />
10. Zelo na oração e poder de sua prece (o prêmio por viver<br />
sempre entregue à oração foi ter visto Jesus menino presente<br />
em Grécio).<br />
C. Via Unitiva<br />
11. Conhecimento <strong>da</strong>s Escrituras e espírito de profecia (o<br />
prêmio por sua dedicação às sagra<strong>da</strong>s Escrituras foi a união<br />
com a sabedoria eterna).<br />
12. Eficácia de sua pregação e poder de curar (o prêmio por<br />
sua dedicação à pregação foi ter sido um enviado de Deus).<br />
13. Os sagrados estigmas (o prêmio por sua união com Cristo<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 43<br />
| História | 2011
crucificado foi obter os sete sinais <strong>da</strong> cruz, prova de que<br />
chegou à <strong>per</strong>feição evangélica).<br />
Conclusão<br />
14. Sua admirável paciência e morte.<br />
15. Sua canonização e trasla<strong>da</strong>ção de seus restos mortais.<br />
16. Alguns milagres realizados após a morte de São Francisco.<br />
A partir <strong>des</strong>se modelo esquemático, a vi<strong>da</strong> de São Francisco foi<br />
narra<strong>da</strong> por Frei Boaventura de modo a mostrar aos fra<strong>des</strong> as três<br />
etapas <strong>da</strong> trajetória espiritual do santo rumo à <strong>per</strong>feição divina.<br />
Entretanto, ao mesmo tempo em que a Legen<strong>da</strong> Maior deveria servir<br />
de modelo de <strong>per</strong>feição evangélica, cui<strong>da</strong>va também de colocar o santo<br />
num patamar tão alto que era impossível alcançá-lo.<br />
Esse cui<strong>da</strong>do em colocar São Francisco em um estado de <strong>per</strong>feição<br />
inalcançável servia também, como já foi visto na primeira parte <strong>des</strong>te<br />
capítulo, para silenciar os mestres seculares <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Paris e<br />
suas acusações contra os fra<strong>des</strong>. Na tentativa de defender a existência<br />
<strong>da</strong> Ordem franciscana e a santi<strong>da</strong>de inquestionável de seu fun<strong>da</strong>dor,<br />
Frei Boaventura teve a necessi<strong>da</strong>de de apresentar São Francisco<br />
como um “anjo do sexto selo do qual fala o livro do Apocalipse: “et vidi<br />
alterum angelum ascedentem ab ortu solis habentem signum Dei vivi”<br />
(“Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus<br />
vivo”) (Ap 7,2)” (BARTOLI, Apud. MOREIRA, Op. cit., p. 74).<br />
Isso explica porque, para Frei Boaventura, deixar claro na Legen<strong>da</strong><br />
Maior, que São Francisco havia recebido, ao fim de sua vi<strong>da</strong>, os<br />
estigmas <strong>da</strong> paixão de Cristo, era essencial, pois, significavam<br />
(...) a revelação de Deus a mostrar que Francisco não era um<br />
homem qualquer, mas o anjo chamado para <strong>da</strong>r início à última i<strong>da</strong>de<br />
do mundo, e os filhos de São Francisco são o exército dos homens<br />
espirituais, que tem a missão de chefiar a batalha final <strong>da</strong> história<br />
(BARTOLI, Apud. MOREIRA, Id.).<br />
A cena narra<strong>da</strong> na Legen<strong>da</strong> Maior sobre o momento em que São<br />
Francisco recebeu no Monte Alverne as chagas de Cristo, serviu de<br />
base para que Frei Boaventura escrevesse sua obra mais famosa, o<br />
Itinerarium mentis in Deum, pois é a partir <strong>da</strong> visão do Crucificado<br />
encoberto por seis asas, que o autor elabora os seis passos a serem<br />
seguidos para se chegar até Deus:<br />
(...) depois que o ver<strong>da</strong>deiro amor de Cristo transformou aquele<br />
que o amava em sua imagem, quando acabaram os quarenta dias<br />
que tinha decidido ficar na solidão, e tendo chegado também a<br />
festa de São Miguel Arcanjo, Francisco, o homem angélico, <strong>des</strong>ceu<br />
do monte. Trazia consigo a imagem do Crucificado, não grava<strong>da</strong> à<br />
mão em tábuas de pedra ou de madeira, com artifícios, mas escrita<br />
nos membros <strong>da</strong> carne pelo dedo de Deus vivo. E como é bom<br />
esconder o sacramento do Rei, (cfr. Tb 12,7) o homem que era<br />
cônscio do segredo real ocultava como podia aqueles sinais santos<br />
(LM, 13, 5).<br />
Para a religiosi<strong>da</strong>de medieval, receber os “sinais” <strong>da</strong> paixão<br />
de Cristo na carne, era como se igualar ao próprio Salvador,<br />
isto é, alcançar o último nível de santi<strong>da</strong>de. Por isso, mais uma<br />
vez, era importante apresentar São Francisco como um homem<br />
“ver<strong>da</strong>deiramente cristianíssimo, que procurou ser conforme pela<br />
imitação: vivo ao Cristo vivo; morrendo, ao Cristo moribundo; e<br />
morto ao Cristo morto, e mereceu ser ornado com essa semelhança<br />
expressa” (LM, 14, 4).<br />
O fato de Frei Boaventura ter feito de São Francisco um “anjo do<br />
sexto selo” e um “<strong>per</strong>feito imitador de Cristo”, ou, em outras palavras,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 44<br />
| História | 2011
um santo totalmente <strong>des</strong>encarnado de sua concretude histórica a<br />
habitar nas alturas celestiais, pode levar a pensar, de antemão, que o<br />
projeto boaventuriano fora somente uma reestruturação ideológica e<br />
espiritual <strong>da</strong> Ordem, pouco se importando com as questões práticas<br />
provoca<strong>da</strong>s pelas necessi<strong>da</strong><strong>des</strong> dos novos tempos. Para Giovanni<br />
Merlo, é um erro pensar assim. Para o historiador,<br />
(...) a impossibili<strong>da</strong>de de imitar e de alcançar São Francisco não<br />
dispensavam, antes deviam estimular os fra<strong>des</strong> a tomar caminhos<br />
possíveis de serem “<strong>per</strong>corridos” – os estudos universitários e o<br />
apostolado no mundo – que lhes consentissem entrever cumes<br />
espirituais alcançados por seu iniciador (MERLO, Op. cit., p. 120).<br />
Se o São Francisco “pintado” por Frei Boaventura parecia um<br />
alienado, distante dos problemas reais <strong>da</strong> Ordem, não se pode dizer o<br />
mesmo do autor <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior. Mesmo que suas primeiras e duras<br />
atitu<strong>des</strong> como Ministro geral o fizessem suspeito de <strong>des</strong>conhecer a<br />
totali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Ordem franciscana, exagerando, talvez, seus pontos<br />
negativos, Frei Boaventura estava atento aos <strong>des</strong>afios dos novos<br />
tempo. Se por um lado, sabia que a única saí<strong>da</strong> para as crises<br />
internas e externas era o retorno às raízes do movimento franciscano,<br />
esta simboliza<strong>da</strong> pela fideli<strong>da</strong>de à Regra de São Francisco, em sua<br />
Legen<strong>da</strong>, por outro, sabia também que era urgente uma a<strong>da</strong>ptação<br />
aos novos trabalhos pastorais abraçados pelos fra<strong>des</strong>. Para Merlo, a<br />
estratégia boaventuriana para resolver o impasse entre a “fideli<strong>da</strong>de” e<br />
a “ousadia” implicava “na sábia <strong>construção</strong> de teorias que justifiquem<br />
e legitimem, em relação às origens, as metamorfoses ocorri<strong>da</strong>s,<br />
<strong>des</strong>cobrindo nelas sinais seguros do plano divino sobre São Francisco<br />
e os Menores. (MERLO, Ibid, p. 120).<br />
Numa carta escrita por Frei Boaventura nessa época, intitula<strong>da</strong><br />
Epistola de tribus quaestionibus ad magistrarum innominatum, o<br />
Ministro geral tentou fazer uma ponte entre o passado e o presente<br />
<strong>da</strong> Ordem dos Menores:<br />
(...) Não te impressiones que, no início, os fra<strong>des</strong> foram simples e<br />
iletrados. Isso até deve confirmar em ti a fé na Ordem. Confesso<br />
diante de Deus que foi sobretudo isso que me fez amar a vi<strong>da</strong><br />
do bem-aventurado Francisco; é que ela é semelhante ao início<br />
e à <strong>per</strong>feição <strong>da</strong> Igreja, que começou primeiramente com simples<br />
pescadores e depois progrediu até doutores famosíssimos e<br />
valorosíssimos; a mesma coisa poderá vê-la na religião do bemaventurado<br />
Francisco, para que Deus mostre que ela não foi<br />
fun<strong>da</strong><strong>da</strong> pela prudência dos homens, mas de Cristo; e já que as<br />
obras de Cristo jamais acabam, mas progridem, vê-se que esta obra<br />
é divina pelo fato de que também homens sábios não se furtaram a<br />
a<strong>da</strong>ptar-se à companhia de homens simples (SãO BOAVENTURA,<br />
Apud., MERLO, Id.).<br />
É curioso notar neste fragmento a relação que Frei Boaventura<br />
fez entre a Igreja primitiva e o movimento primitivo dos fra<strong>des</strong>, e<br />
de como ambas “evoluíram” com o passar do tempo. O tema de<br />
uma possível “fideli<strong>da</strong>de criativa” ou de uma “fideli<strong>da</strong>de dinâmica”<br />
pareceu ter sido, então, essencial no projeto de reformulação <strong>da</strong><br />
identi<strong>da</strong>de franciscana sob a ótica boaventuriana. Mas, por que<br />
Frei Boaventura sentiu a necessi<strong>da</strong>de de jamais se afastar <strong>da</strong><br />
radicali<strong>da</strong>de de Regra de São Francisco, a ponto de, para protegêla,<br />
fazer uma manobra de “<strong>des</strong>mistificação” <strong>da</strong>s origens, colocando<br />
e a<strong>da</strong>ptando a <strong>memória</strong> do passado à positivi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> dinâmica<br />
histórica vivi<strong>da</strong> então pela Ordem? A reinterpretação <strong>da</strong> Regra<br />
conforme as novas necessi<strong>da</strong><strong>des</strong> dos fra<strong>des</strong> era um ato de <strong>memória</strong><br />
ou de esquecimento?<br />
Para Paul Ricoeur, a ver<strong>da</strong>deira questão entre o passado e o<br />
presente, não está tanto na relação entre <strong>memória</strong> e esquecimento,<br />
mas sim, na relação entre esquecimento e <strong>per</strong>dão. Para o filósofo,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 45<br />
| História | 2011
(...) o esquecimento e o <strong>per</strong>dão [devem ser refletidos] (...)<br />
separa<strong>da</strong> e conjuntamente (...). Separa<strong>da</strong>mente, na medi<strong>da</strong> em<br />
que ca<strong>da</strong> um deles depende de uma problemática distinta: no caso<br />
do esquecimento, a <strong>da</strong> <strong>memória</strong> e <strong>da</strong> fideli<strong>da</strong>de ao passado; no<br />
do <strong>per</strong>dão, a <strong>da</strong> culpabili<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> reconciliação com o passado.<br />
Conjuntamente, na medi<strong>da</strong> que seus respectivos itinerários se<br />
recruzam num lugar que não é um lugar, e que o termo horizonte<br />
<strong>des</strong>igna mais corretamente. Horizonte de uma <strong>memória</strong> apazigua<strong>da</strong>,<br />
e até mesmo de um esquecimento feliz (RICOEUR, Op. cit., p.<br />
423).<br />
A julgar pela Legen<strong>da</strong> Maior e sua preocupação em “ouvir” os<br />
testemunhos <strong>da</strong>queles primeiros e fiéis companheiros do santo de<br />
Assis, pela atenção que esta biografia deu à observância <strong>da</strong> Regra,<br />
mesmo quando Frei Boaventura mandou queimar as antigas legen<strong>da</strong>s,<br />
que para ele manchavam a “pureza <strong>da</strong>s origens”,<br />
(...) o que está “em jogo é a projeção de um tipo de escatologia<br />
<strong>da</strong> <strong>memória</strong> e, na sua esteira, <strong>da</strong> história e do esquecimento (...),<br />
[de uma fideli<strong>da</strong>de ao passado que gira em] (...) torno do <strong>des</strong>ejo<br />
de uma <strong>memória</strong> feliz e apazigua<strong>da</strong>, <strong>da</strong> qual algo se transmite na<br />
prática <strong>da</strong> história e até o âmago <strong>da</strong>s insu<strong>per</strong>áveis incertezas (...)<br />
(RICOEUR, Ibid., p. 466).<br />
Enfim, nesse processo de reestruturação <strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de franciscana,<br />
proposto por Frei Boaventura, a imagem de São Francisco construí<strong>da</strong> na<br />
Legen<strong>da</strong> Maior, a partir dos conceitos ricoeurianos de “apaziguamento<br />
<strong>da</strong> <strong>memória</strong>” e de um “esquecimento feliz”, além de uma excelente<br />
ferramenta simbólica de renovação de uma trajetória de vi<strong>da</strong> religiosa,<br />
tanto individual quanto institucional, tornou-se também um pedido de<br />
<strong>per</strong>dão. Uma oração, presente na Vita II, de Frei Tomás de Celano,<br />
mesmo sendo condena<strong>da</strong> pelo Capítulo geral de 1266, embora, de<br />
alguma forma, escondi<strong>da</strong> na entrelinhas <strong>da</strong> Legen<strong>da</strong> Maior, poderia <strong>da</strong>r<br />
uma ideia <strong>des</strong>te pedido de <strong>per</strong>dão ao passado: “[Pai São Francisco]<br />
o pequeno rebanho já te segue com passo inseguro. Nossos pobres<br />
olhos ofuscados não suportam os raios de tua <strong>per</strong>feição. Renova<br />
nossos dias, como no começo, ó espelho exemplar dos <strong>per</strong>feitos, e<br />
não <strong>per</strong>mitas que tenham vi<strong>da</strong> diferente <strong>da</strong> tua os que são conformes<br />
a ti pela profissão!” (2 Cel 221). No caso boaventuriano, a julgar pelas<br />
fontes documentais aqui analisa<strong>da</strong>s, o <strong>des</strong>ejo era que o <strong>per</strong>dão se<br />
tornasse uma espécie de es<strong>per</strong>ança.<br />
CONCLUSÃO<br />
Uma tradição posterior ao <strong>per</strong>íodo aqui estu<strong>da</strong>do, <strong>da</strong>ta<strong>da</strong> do século<br />
XIV, preservou um relato emblemático sobre os primeiros tempos do<br />
movimento franciscano que pode nos oferecer algumas luzes sobre<br />
como compreender, ou melhor, sobre o que “colher” (legere) - utilizando<br />
um verbo mais caro aos hagiógrafos medievais – <strong>des</strong>ses quase quarenta<br />
anos de produção <strong>da</strong> <strong>memória</strong> hagiográfica de São Francisco de Assis,<br />
produção esta que, como foi <strong>per</strong>corri<strong>da</strong> e analisa<strong>da</strong> pelo presente<br />
trabalho, deu-se dos festejos de sua canonização, ocorri<strong>da</strong> em 1228,<br />
até a dramática decisão capitular de 1266. O referido episódio foi<br />
narrado numa obra intitula<strong>da</strong> Actus beati Francisci et sociorum eius40 (“Atos do bem-aventurado Francisco e dos seus companheiros”), obra<br />
que serviu de base para uma tardia, mas também medieva, “versão”<br />
italiana, mais conheci<strong>da</strong> universalmente por sua linguagem popular, os<br />
I Fioretti di San Francesco.<br />
A história narra um feito do primeiro companheiro de São Francisco,<br />
chamado Frei Bernardo de Quintavalle. Antes de se tornar um seguidor<br />
do “Pobre de Assis”, Bernardo havia estu<strong>da</strong>do Direito Civil e Direito<br />
Canônico, ain<strong>da</strong> jovem, na universi<strong>da</strong>de de Bolonha. Conta-se que um<br />
dia o santo, com a intenção de exercitá-lo na virtude <strong>da</strong> humil<strong>da</strong>de,<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 46<br />
| História | 2011
pediu que Frei Bernardo fosse pregar na ci<strong>da</strong>de de Bolonha e que lá<br />
preparasse um lugar a fim de que os fra<strong>des</strong> pu<strong>des</strong>sem realizar seu<br />
apostolado. Chegando à Bolonha, foi direto à praça central e ali<br />
se sentou sem dizer uma palavra. Como estivesse vestido com um<br />
hábito41 sujo e remen<strong>da</strong>do, julgando que se tratasse de um mendigo<br />
ou um louco, os habitantes <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de começaram a caçoar dele e a<br />
provocá-lo. Crianças, jovens e adultos lhe atiravam pedras e lama,<br />
mas o frade <strong>per</strong>manecia imóvel e com semblante tranquilo. Durante<br />
três ou quatro dias a cena se repetiu, sem qualquer reação de Frei<br />
Bernardo. Um juiz, que havia observado tudo pela janela de sua casa,<br />
ficou bastante intrigado com tudo aquilo e com constância do homem<br />
ali sentado na praça e quis saber o que estava acontecendo. Ao<br />
<strong>per</strong>guntar a Frei Bernardo quem ele era e o que queria naquela ci<strong>da</strong>de,<br />
o frade, ao invés de prontamente dizer seu nome, enfiou a mão numa<br />
abertura do hábito religioso, <strong>per</strong>to do coração, e tirou a Regra de São<br />
Francisco42 , para o espanto do juiz e do povo que o maltratara aqueles<br />
dias. A história termina dizendo que todos ficaram muito arrependidos<br />
e passaram a tratar Frei Bernardo com to<strong>da</strong>s as honras enquanto ele<br />
ali <strong>per</strong>maneceu.<br />
Mas o que seria importante “colher” <strong>des</strong>te relato piedoso e, talvez<br />
para alguns, um tanto infantil? Aqui é digno de nota o gesto do frade<br />
de não dizer seu nome e mostrar a Regra franciscana. Era um jeito sui<br />
generis de dizer: “quem eu sou não importa, importa sim, o modo de<br />
vi<strong>da</strong> que sigo e protejo”. Em outras palavras, apoiado nas contribuições<br />
de Michel de Certeau sobre a natureza e propósito <strong>da</strong> literatura<br />
hagiográfica, e depois de comparar várias biografias, pode-se dizer<br />
que, em um primeiro momento ou em um primeiro plano, os primeiros<br />
hagiógrafos de São Francisco também não <strong>des</strong>ejavam promover a<br />
si mesmos, mas apontar, mesmo que implicitamente, uma reali<strong>da</strong>de<br />
(divina ou espiritual) que julgavam ser maior e mais profun<strong>da</strong> do que<br />
as crises “mun<strong>da</strong>nas” vivi<strong>da</strong>s durante aquelas déca<strong>da</strong>s pela Ordem<br />
franciscana. Se por um lado, as biografias não <strong>des</strong>ejavam reconstruir<br />
um Francisco de “carne e osso”, mas apontar uma manifestação<br />
tremendum et fascinans na vi<strong>da</strong> do santo, de outro, o que se vê em<br />
to<strong>da</strong>s as narrativas, de Tomás de Celano a Boaventura, é uma tentativa<br />
de salvaguar<strong>da</strong>r a santi<strong>da</strong>de de seu fun<strong>da</strong>dor e mestre. Nenhuma delas<br />
questiona as virtu<strong>des</strong> de seu biografado.<br />
Se é ver<strong>da</strong>de o provérbio popular de que “somos aquilo que<br />
protegemos”, pode-se dizer que todos os primeiros hagiógrafos fizeram<br />
de suas obras ver<strong>da</strong>deiros masouléus, uma espécie de “exercício de<br />
leal<strong>da</strong>de” a São Francisco, isto é, um esforço de manter sua <strong>memória</strong><br />
viva pelos séculos.<br />
Entretanto, em um segundo momento ou plano, também esta gesta<br />
de Frei Bernardo aparentemente ingênua e “aliena<strong>da</strong>”, revela, em suas<br />
entrelinhas, tendências e, mais uma vez, crises dentro <strong>da</strong> Ordem,<br />
que, como se vê, se estenderiam ain<strong>da</strong> pelo século XIV: a questão <strong>da</strong><br />
pobreza e dos estudos que, nesta narrativa, é simboliza<strong>da</strong> pelo fato de<br />
Frei Bernardo ter que se humilhar dentro <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de que, no passado,<br />
havia-lhe <strong>da</strong>do tantas glórias e riquezas através estudos jurídicos.<br />
Transferindo as observações sobre os Actus para o caso <strong>da</strong>s<br />
biografias mais antigas, aqui estu<strong>da</strong>do, guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s as devi<strong>da</strong>s<br />
proporções, pode-se também concluir que não há obra hagiográfica<br />
isenta de ideologia, seja ela teológica ou principalmente institucional.<br />
To<strong>da</strong>s as vi<strong>da</strong>s de santos medievais carregam consigo as marcas do<br />
tempo, do lugar e <strong>da</strong>s autori<strong>da</strong><strong>des</strong> que as encomen<strong>da</strong>m. Entretanto,<br />
mesmo assim, é possível verificar uma sutil variação em relação ao<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 47<br />
| História | 2011
foco e a intensi<strong>da</strong>de <strong>des</strong>sas marcas. Nas biografias escritas antes <strong>da</strong><br />
Legen<strong>da</strong> Maior, nota-se claramente que o foco central ain<strong>da</strong> é a pessoa<br />
de São Francisco. Seus feitos, seus milagres, seus ditos, mesmo que,<br />
como se verificou, algumas vezes silenciassem sobre os conflitos<br />
dentro <strong>da</strong> Ordem, tudo era organizado pelo seu autor para que o santo<br />
fosse exaltado, e para que em to<strong>da</strong> cristan<strong>da</strong>de se celebrasse a sua<br />
santi<strong>da</strong>de. Por sua vez, na Legen<strong>da</strong> Maior, há um sutil <strong>des</strong>locamento<br />
de foco: o “centro gravitacional” <strong>da</strong> obra deixa de ser São Francisco<br />
para se tornar a Ordem franciscana, isto é, a pessoa do fun<strong>da</strong>dor, do<br />
santo, não era o mais importante, mas sim a forma “correta” de se ler<br />
e interpretar a sua vi<strong>da</strong> e mensagem.<br />
Outro aspecto importante a ser considerado após o estudo <strong>da</strong><br />
produção hagiográfica franciscana no século XIII é que, se de um lado<br />
essas obras refletem as polêmicas institucionais <strong>da</strong> Ordo Minorum, por<br />
outro, refletem também uma vontade sincera e vigorosa de se querer<br />
solucioná-las.<br />
Neste ponto, ao que parece, a Legen<strong>da</strong> Maior, talvez por ter sido<br />
compila<strong>da</strong> com o claro objetivo de oferecer uma renova<strong>da</strong> e sóli<strong>da</strong><br />
formação aos fra<strong>des</strong>, baseando-se mecanismos jurídicos, como por<br />
exemplo, as Constituições de Narbonne, e em mecanismos teológicos,<br />
como por exemplo, o Itinerarium mentis in Deum, pode ser considera<strong>da</strong><br />
mais “positiva” e “eficaz” que as outras legen<strong>da</strong>s antigas. A Legen<strong>da</strong><br />
Maior surgiu, como vimos, para tentar oferecer respostas e resolver<br />
as questões espinhosas dentro <strong>da</strong> Ordem. Basta conferir os objetivos<br />
almejados por Frei Boaventura:<br />
1.<br />
Oferecer uma formação espiritual, cultural e apostólica aos<br />
fra<strong>des</strong>;<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Estimular a obediência à Regra;<br />
Inspirar nos fra<strong>des</strong> os ideais espirituais <strong>da</strong>s origens, para que<br />
estes estivessem presentes e o<strong>per</strong>antes em suas vi<strong>da</strong>s, animando<br />
seus novos trabalhos apostólicos;<br />
Atualizar o que considerava essencial nas origens para um<br />
apostolado mais eficaz;<br />
Para o franciscanólogo italiano, Alfonso Pompei, a ativi<strong>da</strong>de<br />
hagiográfica de Frei Boaventura, mesmo que tenha optado retratar um<br />
São Francisco de santi<strong>da</strong>de inalcançável e fora do mundo dos mortais,<br />
mostra, quase paradoxalmente, uma profun<strong>da</strong> consciência histórica<br />
por parte do Ministro geral, pois este <strong>des</strong>ejava que o<br />
“franciscanismo primitivo não se tornasse um venerável testemunho<br />
arqueológico, recor<strong>da</strong>do, como tantos outros movimentos, somente<br />
nos livros de História, mas <strong>per</strong>manecesse a fonte genuína e <strong>per</strong>ene<br />
<strong>da</strong> espirituali<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> vitali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Ordem na história, de seu<br />
empenho em portar onde quer que seja o Evangelho (...) (POMPEI,<br />
2009, p. 351).<br />
Em suma, podemos concluir que a <strong>construção</strong> <strong>da</strong> <strong>memória</strong><br />
hagiográfica de São Francisco de Assis, do <strong>per</strong>íodo de sua morte até<br />
o governo geral de Frei Boaventura, apesar de todos os esforços dos<br />
hagiógrafos, oficiais ou proscritos, mostrou que to<strong>da</strong>s as tentativas<br />
de se <strong>da</strong>r um rosto “ver<strong>da</strong>deiro” a São Francisco tiveram êxito e, ao<br />
mesmo tempo, fracassaram. Tiveram êxito porque, ca<strong>da</strong> biografia, ao<br />
seu modo, conseguiu conservar em seus relatos e detalhes aquilo que<br />
era mais essencial na “novitas” <strong>da</strong> mensagem do santo: a vivência do<br />
Evangelho. Fracassaram porque ca<strong>da</strong> qual quis construir o “seu” São<br />
Francisco, não <strong>per</strong>mitindo que Francisco de Assis fosse ele mesmo, isto<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 48<br />
| História | 2011
é, “um homem entre os homens”. E mesmo que alguns “Franciscos”<br />
tiveram que ser condenados, engana-se quem imagina que a Legen<strong>da</strong><br />
Maior havia posto uma pedra nas discussões sobre a ver<strong>da</strong>deira<br />
imagem de São Francisco. O século seguinte reabriria as discussões.<br />
Novas legen<strong>da</strong>s seriam compila<strong>da</strong>s. Novos rostos seriam <strong>da</strong>dos ao<br />
“Poverello”. As querelas entre as duas facções dos franciscanos que<br />
surgiriam no século XIV – os Espirituais e os Conventuais – reabririam<br />
as antigas feri<strong>da</strong>s. Enfim, a <strong>per</strong>gunta que um dia Frei Masseo fez na<br />
floresta ao santo continuaria a fazer eco pelos séculos que ain<strong>da</strong> viriam:<br />
“Perchè a te, Francesco?”. A busca por um rosto para São Francisco<br />
teria que continuar. Mas essa é uma outra história.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 49<br />
| História | 2011
Referências<br />
Fontes<br />
BAGNOREGIO, Boaventura de. Legen<strong>da</strong> Maior. In.: FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo André: O Mensageiro de Santo<br />
Antonio, 2004.<br />
_____. Itinerarium mentis in Deum. In.: DE BONI, Luis Alberto. Boaventura de Bagnoregio: Escritos Filosóficos-Teológicos. Porto Alegre: EDI-<br />
PUCRS e USF, 1999.<br />
_____. Apologia pau<strong>per</strong>um,, In.: O<strong>per</strong>e di San Bonaventura, vol.14/2, Città Nuova Editrice, Roma, 2005.<br />
LITTLE, A.G. Deffinitiones facte in capitulo parisiensi ordinis fratrum minorum (1266). Archivum Franciscanum Historicum 7, 1914.<br />
CELANO, Tomás de. Primeira Vi<strong>da</strong> de São Francisco. In.: FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo André: O Mensageiro de<br />
Santo Antonio, 2004.<br />
_____. Segun<strong>da</strong> Vi<strong>da</strong> de São Francisco. In.: FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo André: O Mensageiro de Santo Antonio,<br />
2004.<br />
REGRA BULADA DE SãO FRANCISCO. In.: FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo André: O Mensageiro de Santo Antonio,<br />
2004.<br />
Bibliografia<br />
BÁEZ, Fernando. História universal <strong>da</strong> <strong>des</strong>truição dos livros. Das tábuas sumérias à guerra do Iraque. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.<br />
BERLIOZ, Jacques (Apres.). Monges e Religiosos na I<strong>da</strong>de Média. Lisboa; Terramar. 1994.<br />
CERTEAU, Michel de. A Escrita <strong>da</strong> História. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.<br />
CELIGUETA, Daniel Elcid. I Primi Compagni di San Francesco. Pavova: Edizioni Messaggero Padova, 1995.<br />
CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.<br />
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, 11 (5), 1991.<br />
DESBONNETS, Théophile. Da intuição à instituição. Petrópolis: CEFEPAL, 1987.<br />
ECO, Umberto. Arte e beleza na estética medieval. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2010.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 50<br />
| História | 2011
ESSER, Kajetan. Origens e Espírito Primitivo <strong>da</strong> Ordem Franciscana. Petrópolis, RJ: Vozes, 1972.<br />
FALBEL, Nachman. Os Espirituais franciscanos. São Paulo: Perspectiva, Fapesp, 1995.<br />
_____. Heresias Medievais. São Paulo: Perspectiva, 2007. Coleção Khronos, v. 9.<br />
GILSON, Etienne. O Espírito <strong>da</strong> Filosofia Medieval. São Paulo: Martins Fontes: 2006.<br />
IRIARTE, Lázaro. História franciscana. Petrópolis: CEFEPAL/Vozes, 1985.<br />
JUNIOR, Hilário Franco. A I<strong>da</strong>de Média. Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006.<br />
LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. São Paulo: Record, 2001.<br />
_____. São Luis. Biografia. São Paulo: Record, 2002.<br />
_____. História e Memória. São Paulo: Unicamp, 2003.<br />
_____. Em busca <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.<br />
_____; SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático do Ocidente Medieval. São Paulo: Edusc, 2006. v. II.<br />
_____. As raízes medievais <strong>da</strong> Europa. Petrópolis: Vozes, 2007.<br />
MAZZUCO, Vitório. Francisco de Assis e o modelo de amor cortês-cavaleiresco. Elementos cavaleirescos na <strong>per</strong>sonali<strong>da</strong>de e na espirituali<strong>da</strong>de<br />
de Francisco de Assis. 4ª ed.. Petrópolis: Vozes, 2001.<br />
MERLO, Grado Giovanni. Em nome de São Francisco. História dos Fra<strong>des</strong> Menores e do franciscanismo até inícios do século XVI. Petrópolis;<br />
Vozes. 2005<br />
MOREIRA, Alberto <strong>da</strong> Silva (org.). Herança franciscana. Petrópolis: Vozes, 1996.<br />
MOREIRA, Alberto <strong>da</strong> Silva (org.). São Francisco e as Fontes Franciscanas. Congresso Internacional Franciscano 2006. Bragança Paulista, SP:<br />
Editora Universitária São Francisco, 2007.<br />
MORESCHINI, Cláudio; NORELLI, Enrico. História <strong>da</strong> literatura cristã antiga grega e latina. Do concílio de Nicéia ao início <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média.<br />
São Paulo: Loyola, 2000. v. 2.<br />
POMPEI, Alfonso. Origine e sviluppo dell’Ordine francescano nella valutazione di San Bonaventura. In: Miscellanea Francescana. Rivista di<br />
Scienze Teologiche e Studi Francescani. Roma, 2009, nº 109.<br />
PEDROSO, José Carlos. Fontes franciscanas. Apresentação geral. Petrópolis: Centro de Espirituali<strong>da</strong>de Franciscana, 1998.<br />
REVEL, Jacques. Jogos de Escalas. A ex<strong>per</strong>iência <strong>da</strong> microanálise. Rio de Janeiro: Editora <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Getúlio Vargas, 1998.<br />
RICOEUR, Paul. A <strong>memória</strong>, a história, o esquecimento. Campinas: Editora Unicamp, 2007.<br />
SCHUBACK, Márcia Sá Cavalcante. Para Ler os Medievais. Ensaio de hermenêutica imaginativa. Petrópolis: Vozes, 2000.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 51<br />
| História | 2011
SILVEIRA, Ildefonso. Retrato de Santa Clara de Assis na literatura hagiográfica. Petrópolis: Vozes. 1995.<br />
SILVEIRA, Ildefonso. São Francisco de Assis. Ensaio de leitura <strong>da</strong>s fontes. Petrópolis: Vozes/Cefepal, 1990.<br />
SILVEIRA, Ildefonso. O passado interroga São Francisco. Petrópolis: Vozes, 2000<br />
VANDENBROUCKE, François. La spiritualità del medioevo. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 1991. Storia della spiritualità, v. 4/B.<br />
VARAZZE, Jacopo de. Legen<strong>da</strong> Áurea. Vi<strong>da</strong>s dos santos. São Paulo: Companhia <strong>da</strong>s Letras, 2003.<br />
VAUCHEZ, André. A espirituali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> I<strong>da</strong>de Média ocidental. Séc. VIII-XIII.<br />
Lisboa: Editorial Estampa, 1995. Coleção Nova História, v. 26.<br />
Notas de ro<strong>da</strong>pé<br />
1 Itálico do próprio autor.<br />
2 “Vemos agora por meio de espelho e em enigmas” (1 Cor 13,12).<br />
3 A apresentação <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> de Francisco de Assis e os principais aspectos do movimento religioso por ele fun<strong>da</strong>do serão tratados com maiores<br />
detalhes mais adiante, na terceira parte <strong>des</strong>te capítulo. Optamos por adiantar algumas reações de Francisco de Assis diante do contexto<br />
histórico em que viveu para que este capítulo não sugerisse ao leitor que o século XIII foi um mero “cenário”, ou “pano de fundo” na qual se<br />
<strong>des</strong>enrolou a vi<strong>da</strong> de um homem e seus ideais, mas uma ambiência que influenciou e foi influencia<strong>da</strong> por um indivíduo.<br />
4 O termo Legen<strong>da</strong> (do verbo latino légere, que traduz-se por “ler”, “colher”) na hagiografia medieval significa literalmente “aquilo que deve<br />
ser lido”, isto é, uma espécie de biografia usa<strong>da</strong> tanto para divulgar a vi<strong>da</strong> de um santo nos meios populares quanto para servir de material<br />
formativo para os novos membros de uma comuni<strong>da</strong>de religiosa.<br />
5 O tema <strong>da</strong> “novi<strong>da</strong>de” franciscana será tratado na terceira parte <strong>des</strong>te capítulo.<br />
6 Ordens Mendicantes é o nome <strong>da</strong>do às ordens religiosas fun<strong>da</strong><strong>da</strong>s por Francisco de Assis, em 1209 (Ordem dos Menores, conheci<strong>da</strong> como<br />
Franciscanos), por Domingos de Gusmão, em 1215 (Ordem dos Pregadores, conhecidos por Dominicanos). O nome provém <strong>da</strong> prática dos<br />
membros <strong>des</strong>tas ordens de pedirem esmolas quando não conseguiam sobreviver do trabalho de suas mãos.<br />
7 Uma Regra de Vi<strong>da</strong> é um documento oficial em que estão inscritos os elementos essenciais que constituem a identi<strong>da</strong>de de uma comuni<strong>da</strong>de<br />
religiosa. No caso <strong>da</strong> Ordem de São Francisco, houve pelos menos três Regras: a primeira <strong>da</strong>ta<strong>da</strong> de 1209 e chama<strong>da</strong> de Proto-Regula (que na<br />
ver<strong>da</strong>de era mais um conjunto de fragmentos dos Evangelhos do que um texto jurídico. Foi <strong>per</strong>di<strong>da</strong> ou absorvi<strong>da</strong> por re<strong>da</strong>ções posteriores <strong>da</strong><br />
Regra); a segun<strong>da</strong>, chama<strong>da</strong> de Regula Non Bullata, de 1221 e, a terceira denomina<strong>da</strong> de Regula Bullata, de 1223. Aqui nos referimos a Regra<br />
aprova<strong>da</strong> pelo papa Honório III, em 1223.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 52<br />
| História | 2011
8 A primeira denominação <strong>da</strong><strong>da</strong> ao movimento franciscano foi de “Homens penitentes oriundos <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de de Assis” e somente posteriormente<br />
foi chama<strong>da</strong> oficialmente de Ordem dos Fra<strong>des</strong> Menores ou Ordo Minorum.<br />
9 Para a espirituali<strong>da</strong>de medieval, o saeculum (“século”) era qualquer modo de vi<strong>da</strong> que não se identificasse com a vi<strong>da</strong> religiosa. Em outras<br />
palavras, significa uma vi<strong>da</strong> laica.<br />
10 A palavra “frei” provém do latim frater que quer dizer “irmão”.<br />
11 Cf. Atos do bem-aventurado Francisco e dos seus companheiros, Cap. 10. In.: FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo<br />
André: O Mensageiro de Santo Antonio, 2004.<br />
12 A partir <strong>des</strong>te ponto, no intuito de não confundir o leitor, optaremos por utilizar o termo “São Francisco” ao invés de “Francisco de Assis”,<br />
uma vez que neste capítulo, respeitando as intenções de seus primeiros hagiógrafos, não mais nos refererimos a ele em sua “historici<strong>da</strong>de” (ou<br />
uma espécie de Francisco histórico), mas, em sua santi<strong>da</strong>de.<br />
13 A autora prefere utilizar a palavra “deus” (aqui se tratando do Deus cristão) sempre com letra minúscula em to<strong>da</strong> sua obra, para, segundo<br />
ela, causar intencionalmente um estranhamento no leitor.<br />
14 A palavra latina incipt pode ser traduzi<strong>da</strong> tanto por “primeiro” quanto por “início”.<br />
15 Para facilitar a compreensão por parte de leitores mais acostumados com as “Fontes Franciscanas”, utilizaremos aqui as siglas tradicionais<br />
para ca<strong>da</strong> biografia de São Francisco.<br />
16 Os negritos não constam no texto original.<br />
17 “Os medievais usavam muito a imagem literária do espelho. Espelho é uma su<strong>per</strong>fície lisa que reflete uma imagem, e os humanos já devem<br />
ter admirado essas imagens <strong>des</strong>de quando o único espelho conhecido era o <strong>da</strong>s águas para<strong>da</strong>s. Mais tarde conseguiram fabricar espelhos, e<br />
começaram a refletir sobre eles e sobre sua riqueza simbólica (SILVEIRA, 1998, p. 52). São muito comuns na I<strong>da</strong>de Média as obras que apontavam<br />
as virtu<strong>des</strong> que deveriam seguir as gran<strong>des</strong> autori<strong>da</strong><strong>des</strong> ou <strong>per</strong>sonali<strong>da</strong><strong>des</strong>. Por exemplo, há os “Espelhos dos Príncipes”, “Espelho dos<br />
Reis”, etc. Na literatura franciscana, há até uma biografia do século XIV chama<strong>da</strong> Speculum Perfectionis, ou “O Espelho <strong>da</strong> Perfeição”.<br />
18 Este tema será melhor tratado na segun<strong>da</strong> parte do terceiro capítulo <strong>des</strong>te estudo.<br />
19 “Sobre o começo ou a fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> Ordem e alguns feitos dos primeiros fra<strong>des</strong> <strong>des</strong>ta religião, companheiros de São Francisco”.<br />
20 Embora São Francisco evitasse identificar sua Ordem com os costumes monásticos, o santo acabou <strong>per</strong>mitindo que alguns fra<strong>des</strong> morassem<br />
isolados em pequenas celas crava<strong>da</strong>s nas florestas e nas montanhas.<br />
21 “Primeira hora” é uma expressão que significa, na literatura franciscana, idealização de uma “pureza vivi<strong>da</strong> pelos primeiros companheiros de<br />
São Francisco”, quando estes ain<strong>da</strong> eram muito poucos.<br />
22 A Porciúncula era o nome <strong>da</strong>do a uma <strong>da</strong>s capelas restaura<strong>da</strong>s por Francisco de Assis durante seu processo de conversão. Trata-se de uma<br />
igrejinha dedica<strong>da</strong> à Nossa Senhora dos Anjos e é considera<strong>da</strong> até hoje o “berço do movimento franciscano”.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 53<br />
| História | 2011
23 O laureamento equivale, no Brasil, ao título de mestrado.<br />
24 Frei João de Parma foi o antecessor de Frei Boaventura no governo geral <strong>da</strong> Ordem.<br />
25 A natureza e as características <strong>da</strong> heresia joaquimita serão <strong>des</strong>envolvi<strong>da</strong>s mais adiante.<br />
26 As Constituições Gerais <strong>da</strong> Ordem dos Fra<strong>des</strong> Menores foram (e ain<strong>da</strong> são, contando com as sucessivas atualizações realiza<strong>da</strong>s de tempo<br />
em tempo) o documento mais importante no que se refere a organização interna <strong>da</strong> Ordem e aos direitos e deveres de ca<strong>da</strong> frade. As Constituições<br />
são, grosso modo, uma a<strong>da</strong>ptação <strong>da</strong> Regra de São Francisco (neste caso a Regra Bula<strong>da</strong>, de 1223) às necessi<strong>da</strong><strong>des</strong> próprias dos<br />
tempos.<br />
27 As Constituições atuais, aprova<strong>da</strong>s em 1982, em Roma, parecem ter corrigido esta lacuna, pois trazem consigo, no início de ca<strong>da</strong> capítulo<br />
algumas linhas de exortação espiritual extraí<strong>da</strong>s quase sempre dos escritos de São Francisco de Assis.<br />
28 Constituições de Narbonne. I, 4. In.: Archivum Franciscanum Historicum 34 (1941), p. 39<br />
29 Constituições de Narbonne. I, 4. In.: Archivum Franciscanum Historicum 34 (1941), p. 48.<br />
30 Constituições de Narbonne. I, 4. Id..<br />
31 Constituições de Narbonne. I, 4. Ibid., p. 49.<br />
32 Constituições de Narbonne. I, 4. Ibid., p. 71.<br />
33 Constituições de Narbonne. I, 4. Ibid., p. 73.<br />
34 Joaquim de Fiore (1135-1202) foi um abade do sul <strong>da</strong> Itália e ficou muito conhecido por suas profecias, nas quais dividia a história em três<br />
gran<strong>des</strong> eras: a Era do Pai, a Era do Filho e a Era do Espírito. Suas ideias foram condena<strong>da</strong>s, pois a alta hierarquia <strong>da</strong> Igreja sentiu-se ameaça<strong>da</strong><br />
em seus fun<strong>da</strong>mentos.<br />
35 LITTLE, A.G.. Deffinitiones facte in capitulo parisiensi ordinis fratrum minorum (1266). Archivum Franciscanum Historicum 7, 1914. p. 678.<br />
36 Bolandistas são os eruditos – em sua grande maioria jesuítas - continuadores <strong>da</strong> coleção dos Atos dos Santos (Acta Sancorum) inicia<strong>da</strong> em<br />
Antuérpia pelo padre belga Jean Bolland, também jesuíta, no século XVII.<br />
37 A <strong>da</strong>mnatio memoriae” era um mecanismo usado pelo antigo senado romano. Sua prática se <strong>da</strong>va em fazer <strong>des</strong>aparecer o nome de um<br />
im<strong>per</strong>ador defunto (se este não agra<strong>da</strong>sse os senadores) dos documentos de arquivos e <strong>da</strong>s inscrições monumentais. Como observou Jacques<br />
Le Goff, “o poder pela <strong>memória</strong> corresponde a <strong>des</strong>truição <strong>da</strong> <strong>memória</strong>” (LE GOFF, 2003, p. 437).<br />
38 Os negritos não ocorrem no texto original.<br />
39 Cf. PEDROSO, José Carlos. Fontes franciscanas. Apresentação geral. Petrópolis: Centro de Espirituali<strong>da</strong>de Franciscana, 1998.<br />
40 Cf. FASSINI, Durvalino (coord.). Fontes Franciscanas. Santo André: O Mensageiro de Santo Antonio, 2004<br />
41 Hábito era e é o nome <strong>da</strong>do à vestimenta religiosa usa<strong>da</strong> por fra<strong>des</strong>, monges e freiras.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 54<br />
| História | 2011
42 A Regra de São Francisco, aqui não se refere nem a Regra Não-Bula<strong>da</strong> (1221) nem à Regra Bula<strong>da</strong> (1223), mas à chama<strong>da</strong> Proto-Regra<br />
(1209) que, por sua vez era feita apenas com fragmentos dos evangelhos e apresenta<strong>da</strong>s ao papa Inocêncio III, na ocasião <strong>da</strong> fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong><br />
Ordem franciscana, em 1209. Este documento foi <strong>per</strong>dido, ou, como preferem alguns estudiosos, foi “absorvido” pelas outras duas regras<br />
posteriores.<br />
Monografias - Universi<strong>da</strong>de Tuiuti do Paraná 55<br />
| História | 2011