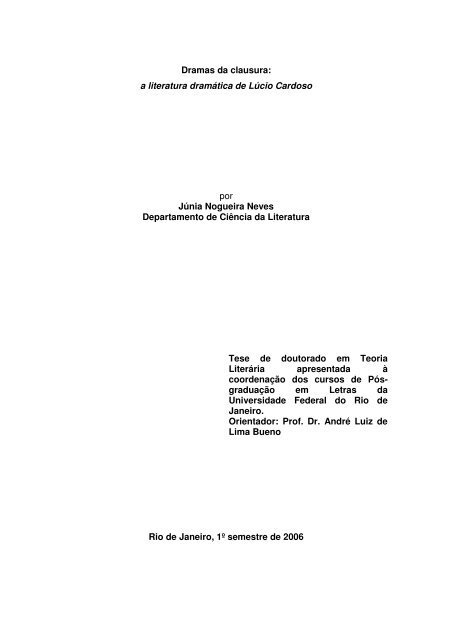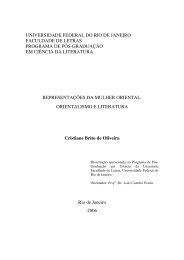Dramas da clausura: a literatura dramática de Lúcio Cardoso por ...
Dramas da clausura: a literatura dramática de Lúcio Cardoso por ...
Dramas da clausura: a literatura dramática de Lúcio Cardoso por ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Dramas</strong> <strong>da</strong> <strong>clausura</strong>:<br />
a <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
<strong>por</strong><br />
Júnia Nogueira Neves<br />
Departamento <strong>de</strong> Ciência <strong>da</strong> Literatura<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 1º semestre <strong>de</strong> 2006<br />
Tese <strong>de</strong> doutorado em Teoria<br />
Literária apresenta<strong>da</strong> à<br />
coor<strong>de</strong>nação dos cursos <strong>de</strong> Pósgraduação<br />
em Letras <strong>da</strong><br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro.<br />
Orientador: Prof. Dr. André Luiz <strong>de</strong><br />
Lima Bueno
Júnia Nogueira Neves<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
2006<br />
<strong>Dramas</strong> <strong>da</strong> <strong>clausura</strong>: a <strong>literatura</strong><br />
<strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
Volume único<br />
Tese <strong>de</strong> Doutorado apresenta<strong>da</strong> ao<br />
Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em<br />
Ciência <strong>da</strong> Literatura – Teoria<br />
Literária – <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
do Rio <strong>de</strong> Janeiro como parte dos<br />
requisitos necessários para<br />
obtenção do título <strong>de</strong> Doutor em<br />
Ciência <strong>da</strong> Literatura<br />
Orientador: Prof. Dr. André Luiz <strong>de</strong><br />
Lima Bueno<br />
2
Júnia Nogueira Neves<br />
<strong>Dramas</strong> <strong>da</strong> <strong>clausura</strong>: a <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 19 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007<br />
Banca examinadora<br />
Suplentes<br />
_______________________________________________<br />
Prof Dr André Bueno<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UFRJ)<br />
Orientador<br />
________________________________________________<br />
Profª Drª. Regina C. Pentagna Petrillo<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Severino Sombra (USS)<br />
________________________________________________<br />
Prof Dr. Vitor Hugo Adler Pereira<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UERJ)<br />
________________________________________________<br />
Prof. Dr. Luís Edmundo Bouças Coutinho<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UFRJ)<br />
________________________________________________<br />
Prof, Dr. Ronal<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Melo e Souza<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UFR-J)<br />
________________________________________________<br />
Profª Drª Eleonora Ziller Camenietzki<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UFRJ)<br />
_______________________________________________<br />
Prof. Dr. Latuf Isais Mucci<br />
Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense (UFF)<br />
3
À memória <strong>de</strong> Sérgio Junqueira <strong>de</strong> Moraes Cosate<br />
4
Há muito a agra<strong>de</strong>cer...<br />
... à minha família, pelo apoio incondicional, em especial a Angela e<br />
ao Mateus, que não pouparam esforços para me conseguir livros e livros...<br />
... ao Divanyr pelo amor, pelo respeito e pelo incentivo sempre.<br />
... a Regina, que esteve presente em todo o caminho e foi a melhor<br />
amiga que alguém “em Tese” po<strong>de</strong>ria imaginar.<br />
... ao Marcelo, que esteve comigo em todo o percurso e no sempre.<br />
... a Dilma, mestra queri<strong>da</strong> dos primeiros dias <strong>de</strong> convívio com a<br />
Literatura.<br />
... ao meu orientador, prof. Dr. André Bueno, que me acompanhou<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Mestrado e com quem aprendi muito mais do que estas folhas<br />
po<strong>de</strong>riam dizer.<br />
... ao prof. Dr. Ronaldo Lima Lins cujas orientações na Qualificação<br />
foram uma contribuição segura para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>sta Tese e,<br />
principalmente, pelo exemplo que é.<br />
... ao prof. Dr. Edmundo Bouças Coutinho que sempre me incentivou<br />
neste tema, me emprestou material particular e, narrando episódios,<br />
<strong>de</strong>lineou com firmeza um <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> muito mais humano.<br />
... aos funcionários <strong>da</strong> Secretaria <strong>da</strong> Pós-Graduação, em especial a<br />
Cely, Fátima e Nádia pelo carinho e pelas atenções.<br />
... a direção <strong>da</strong> FAFIVA e a Biblioteca <strong>da</strong> FAA que me permitiram que<br />
me <strong>de</strong>dicasse à minha pesquisa sem qualquer restrição e com todo apoio.<br />
... ao CNPq, cujo auxílio tornou viável o empreendimento <strong>da</strong><br />
pesquisa <strong>por</strong> todos esses anos.<br />
5
“Todo o meu ser é uma aventura<br />
impossível <strong>de</strong> sonho e <strong>de</strong> extermínio.”<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
6
RESUMO:<br />
NEVES, Júnia Nogueira. <strong>Dramas</strong> <strong>da</strong> <strong>clausura</strong>: a <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong>. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, Facul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Letras, 2007, 176 f, mimeo.<br />
Tese <strong>de</strong> Doutorado em Teoria Literária.<br />
Esta Tese se <strong>de</strong>bruça sobre quatro dramas <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>: O<br />
Escravo, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, O Filho Pródigo e Angélica escritos e encenados<br />
entre 1937 e 1950. Para compreen<strong>de</strong>r a singulari<strong>da</strong><strong>de</strong> do universo estranho e<br />
violento <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, as análises levam em consi<strong>de</strong>ração as<br />
transformações sociais ocorri<strong>da</strong>s no Brasil naqueles anos e o projeto artístico<br />
do Autor. Por esta razão, associa os elementos dramáticos ao universo<br />
romanesco do escritor composto <strong>por</strong> suas novelas e romances. Consi<strong>de</strong>ra,<br />
ain<strong>da</strong>, a situação do Teatro no Brasil tanto no que diz respeito à trajetória <strong>da</strong>s<br />
peças que não procuravam cativar o público apenas através do riso – o<br />
chamado “teatro sério” – quanto os espetáculos mais significativos <strong>da</strong>s<br />
déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong> 30 e 40 no Rio <strong>de</strong> Janeiro que antece<strong>de</strong>ram a estréia <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> nos palcos. O estudo privilegia o texto dramático cardosiano e não<br />
leva em conta aspectos do espetáculo teatral, tais como cenário, figurinos e<br />
com<strong>por</strong>tamento dos atores <strong>por</strong>que não há registros gravados dos espetáculos.<br />
7
ABSTRACT<br />
NEVES, Júnia Nogueira. <strong>Dramas</strong> <strong>da</strong> <strong>clausura</strong>: a <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong>. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, Facul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Letras, 2007, 176 f., mimeo.<br />
Tese <strong>de</strong> Doutorado em Teoria Literária.<br />
The present work is the study of four dramas written by <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>: O<br />
Escravo, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, O Filho Pródigo and Angelica, written between<br />
1937 e 1950. In or<strong>de</strong>r to un<strong>de</strong>rstand the singularity of <strong>Cardoso</strong>’s violent and<br />
strange universe, this analysis takes into account the singularity of author’s<br />
artistic project and the historical changes that occurred in Brazil during all those<br />
years, associating, because of that, the dramatic elements with the ones<br />
presented in <strong>Cardoso</strong>’s novels and stories. Is also investigates <strong>de</strong> overall<br />
situation of theater in Brazil, examing both the plays that were not inten<strong>de</strong>d just<br />
to make the audience laugh or have fun for a few hours – the so-called “solemn<br />
plays” – and the most significant shows staged in the 1930’s and 40’s in Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, just before <strong>Cardoso</strong>’s dramas took their place on the Brazilian stages.<br />
It is also im<strong>por</strong>tant to remember that, because of there are no records of those<br />
stagings, this work is not interested in the such aspects of the plays like<br />
settings, wardrobe or the actor’s performances. The main target of this study<br />
are the dramatic texts of Lucio <strong>Cardoso</strong>.<br />
8
Sumário:<br />
1- Ao abrirem-se as cortinas ......................................................................... 10<br />
2- O cenário e o palco on<strong>de</strong> pisou o dramaturgo<br />
O cenário .............................................................................................. 14<br />
... e o palco on<strong>de</strong> pisou o dramaturgo .............................................. 24<br />
3- Apresentando <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> .................................................................. 52<br />
4- O repertório<br />
4.1- O Escravo<br />
4.1.1- A Crítica ........................................................................... 64<br />
4.1.2- O texto dramático ........................................................... 70<br />
4.2- Um breve intervalo: O “Teatro <strong>de</strong> Câmera” ............................... 78<br />
4.3- A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata<br />
4.3.1- A Crítica ........................................................................... 91<br />
4.3.2- O texto dramático ........................................................... 93<br />
4.4- O Filho Pródigo<br />
4.4.1- A Crítica ..........................................................................110<br />
4.4.2- O texto dramático ......................................................... 116<br />
4.5- Angélica<br />
4.5.1- A Crítica ......................................................................... 127<br />
4.5.2- O texto dramático ......................................................... 130<br />
5- Antes <strong>de</strong> fecharem-se as cortinas ............................................... 139<br />
6- Fora <strong>de</strong> cena, outras vozes encenam ......................................... 155<br />
7- Bibliografia .................................................................................... 169<br />
9
1- Ao abrirem-se as cortinas<br />
Há alguns anos atrás, tive a o<strong>por</strong>tuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> fazer a revisão ortográfica<br />
<strong>de</strong> uma Tese sobre os romances <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> (PETRILLO, 2002) e essa<br />
experiência me colocou em contato bastante próximo com o universo<br />
cardosiano. Aprofun<strong>da</strong>ndo-me um pouco mais nas obras <strong>de</strong>sse Autor, <strong>de</strong>scobri<br />
que ele fala ain<strong>da</strong> muito <strong>de</strong> perto para os que vivem em ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s como a minha,<br />
<strong>de</strong> tradição patriarcal, escravocrata e latifundiária, com famílias oligárquicas e<br />
<strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ntes. Em pequenas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s assim, nas quais você se apresenta<br />
primeiro pelo sobrenome; nas quais, para a maioria <strong>da</strong> população feminina<br />
empobreci<strong>da</strong>, a i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> consiste em <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser a filha <strong>de</strong> alguém para<br />
virar a mãe <strong>de</strong> outro alguém; on<strong>de</strong> a tradição <strong>de</strong> clãs que se revezam no po<strong>de</strong>r<br />
faz com que as <strong>de</strong>cisões mais im<strong>por</strong>tantes <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong> sejam toma<strong>da</strong>s na mesa<br />
<strong>da</strong> cozinha soa muito familiar o ambiente <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte <strong>da</strong> Crônica <strong>da</strong> casa<br />
assassina<strong>da</strong>, o “clima” <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>zinha <strong>de</strong> interior mineiro que percorre as<br />
criações cardosianas.<br />
Por isso, resolvi tornar <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> meu tema <strong>de</strong> pesquisa para a<br />
obtenção do título <strong>de</strong> Doutorado. No entanto, não quis me <strong>de</strong>bruçar sobre a<br />
produção romanesca do escritor, composta <strong>por</strong> suas novelas e romances<br />
<strong>por</strong>que imaginei que ia acabar redizendo o que PETRILLO já tinha dito em<br />
Signos em trânsito (2002). Então, <strong>por</strong> sugestão <strong>de</strong>la mesma, resolvi me<br />
concentrar nos dramas do Autor.<br />
Não foi, contudo, um caminho fácil. Dos quatro dramas completos,<br />
apenas dois estavam publicados e eu precisei recorrer a Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong><br />
Rui Barbosa, a quem renovo meus agra<strong>de</strong>cimentos, para obter, com a<br />
permissão <strong>de</strong> Rafael <strong>Cardoso</strong>, <strong>de</strong>tentor dos direitos autorais, cópia dos<br />
documentos que se compunham <strong>de</strong> muitas páginas. Também foi na Fun<strong>da</strong>ção<br />
Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, e graças à solicitu<strong>de</strong> ímpar <strong>de</strong> seus funcionários, que<br />
pu<strong>de</strong> elaborar uma pesquisa sobre a Crítica que o teatro cardosiano recebeu,<br />
<strong>por</strong>que não há quase nenhum registro disso em livros teóricos.<br />
Superados esses obstáculos e outros tantos comuns a todo processo <strong>de</strong><br />
Doutoramento, eis aqui a Tese: ela se propõe a analisar a <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong><br />
10
<strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e seu corpus principal é constituído pelas quatro peças<br />
teatrais completas escritas pelo Autor mineiro: O Escravo, O Filho Pródigo, A<br />
Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata e Angélica.<br />
Cumpre assinalar que, para empreen<strong>de</strong>r as análises a que me<br />
proponho, estou <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> lado dimensões específicas do espetáculo teatral<br />
propriamente dito, tais como os cenários e figurinos, o trabalho dos atores, as<br />
pausas e as entonações <strong>da</strong>s falas etc. Não é difícil compreen<strong>de</strong>r a dificul<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> levar a cabo um estudo que pu<strong>de</strong>sse consi<strong>de</strong>rar todos esses aspectos, já<br />
que não há registros gravados dos espetáculos. Para po<strong>de</strong>r, então, avaliar<br />
essa dimensão <strong>da</strong> obra <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, não analiso propriamente o “teatro”,<br />
mas a “<strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong>” cardosiana e, tal como Carelli, privilegiei “a fábula,<br />
isto é, a transformação do discurso em narrativa, ou a análise dos elementos<br />
<strong>da</strong> ação” (CARELLI, 1988: 88). Mas isso não significa, como se verá, que<br />
<strong>de</strong>ixei <strong>de</strong> lado a avaliação dos aspectos formais <strong>da</strong> mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>dramática</strong><br />
escolhi<strong>da</strong> pelo Autor: o drama.<br />
Meu principal objetivo consistiu em compreen<strong>de</strong>r as idéias conti<strong>da</strong>s na<br />
produção <strong>dramática</strong> cardosiana partindo <strong>da</strong> análise <strong>de</strong> suas peças teatrais e <strong>da</strong><br />
comparação entre elas e seus romances e novelas – sobretudo essas últimas,<br />
<strong>por</strong> causa <strong>da</strong> proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> tem<strong>por</strong>al entre as realizações teatrais e o<br />
lançamento <strong>de</strong>ssas publicações. Nesse sentido, foi necessário que a pesquisa<br />
contemplasse, indiretamente, sua produção romanesca. Para tanto, também só<br />
consi<strong>de</strong>rei os romances que <strong>Lúcio</strong> publicou: Maleita, Salgueiro, A luz no<br />
subsolo, Dias perdidos e Crônica <strong>da</strong> casa assassina<strong>da</strong> e as novelas conti<strong>da</strong>s<br />
nas obras Três histórias <strong>da</strong> província e Três histórias <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>. Não me<br />
<strong>de</strong>brucei sobre O viajante <strong>por</strong> ele ter sido organizado e publicado<br />
postumamente graças ao trabalho <strong>de</strong> Otávio <strong>de</strong> Faria.<br />
Também me vali do Diário completo do escritor para esclarecer certos<br />
aspectos que vieram à luz durante a análise, para respal<strong>da</strong>r algumas posições<br />
que julgava divisar na poética cardosiana. Classificado como “gênero híbrido”<br />
<strong>por</strong> seu próprio criador, a obra mistura o registro <strong>de</strong> acontecimentos cotidianos,<br />
reflexões sobre o Brasil, sobre religião e sobre a arte sendo atravessado,<br />
11
sutilmente, <strong>por</strong> uma história <strong>de</strong> amor: a do narrador <strong>por</strong> X, que percorre todo o<br />
Diário.<br />
Entretanto, é preciso assinalar que, embora compareçam na Tese<br />
referências aos romances, às novelas e ao Diário Completo, não me aprofun<strong>de</strong>i<br />
na análise <strong>de</strong> nenhuma <strong>de</strong>ssas obras cardosianas, nem <strong>de</strong>talhei nenhuma <strong>de</strong><br />
suas produções que não fossem especificamente os dramas. A única exceção,<br />
a novela Mãos vazias, apenas comparece como contraponto, como se verá, do<br />
drama A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata.<br />
Para cumprir meu objetivo, o segundo capítulo se ocupa <strong>de</strong><br />
contextualizar historicamente o cenário no qual o Autor estava inserido. Ao<br />
apresentar <strong>Lúcio</strong> como escritor católico, parte <strong>da</strong> Crítica parece esquecer que<br />
ele estava inserido num tempo histórico específico e que, sensível, percebeu a<br />
seu modo as contradições que se instalavam. Se, como <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> OSAKABE<br />
(2004), parte <strong>da</strong> produção literária cardosiana (e <strong>de</strong> outros autores <strong>da</strong> época)<br />
apresenta soluções estéticas supera<strong>da</strong>s, faz-se necessário compreen<strong>de</strong>r como<br />
esse tempo foi <strong>por</strong> ele percebido se se quiser fazer uma justa apreciação <strong>de</strong><br />
sua obra. Além do cenário histórico, preocuparam-me as orientações literárias<br />
e i<strong>de</strong>ológicas do período, que tentei rastrear nesse capítulo e que <strong>de</strong>verão<br />
com<strong>por</strong> o quadro <strong>de</strong> um tempo <strong>de</strong> crise.<br />
Ain<strong>da</strong> nesse capítulo, tracei, <strong>de</strong> maneira rápi<strong>da</strong>, o percurso que o “teatro<br />
sério” (ou seja, aquelas produções que não visavam provocar o riso do<br />
espectador) percorreu nos palcos brasileiros do Romantismo ao início do<br />
século XX e que antece<strong>de</strong>ram as concepções <strong>dramática</strong>s <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>.<br />
Também me preocupei em apresentar as linhas gerais do teatro na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
30 e 40 no Rio <strong>de</strong> Janeiro, anos que prece<strong>de</strong>ram e acompanharam a produção<br />
teatral cardosiana. A análise <strong>de</strong>sses anos torna claros os horizontes que<br />
autores, Crítica e público tinham, no Brasil, quanto ao teatro e às inovações e<br />
continui<strong>da</strong><strong>de</strong>s que vinham sendo <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s nessa forma <strong>de</strong> produção<br />
artística.<br />
Há que se notar, contudo, algumas ausências expressivas nessa última<br />
etapa: as análises tanto sobre o teatro <strong>de</strong> Oswald como sobre o <strong>de</strong> Mário <strong>de</strong><br />
Andra<strong>de</strong>. Foi uma escolha que se justifica <strong>por</strong>que esses autores não tiveram<br />
12
suas peças encena<strong>da</strong>s em vi<strong>da</strong> e, <strong>por</strong>tanto, não pu<strong>de</strong>ram influir diretamente na<br />
formação <strong>da</strong> Crítica <strong>da</strong> época, na apreciação <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> ou nas possíveis<br />
contribuições formais e/ou temáticas para o teatro <strong>de</strong> então.<br />
O terceiro capítulo se ocupa especificamente <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e <strong>de</strong> sua<br />
trajetória artística. Aqui estão <strong>de</strong>linea<strong>da</strong>s as principais linhas temáticas <strong>de</strong> sua<br />
produção literária romanesca (universo que serve <strong>de</strong> contraponto aos dramas<br />
que analiso), a recepção crítica e as percepções do próprio Autor sobre as<br />
modificações que o teatro vinha sofrendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início do século tanto no<br />
Brasil como no exterior.<br />
No quarto capítulo, apresento, resumi<strong>da</strong>mente, os quatro dramas<br />
cardosianos que são o objeto principal <strong>de</strong>sta Tese. Justifico a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sse segmento consi<strong>de</strong>rando que as peças <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> são praticamente<br />
<strong>de</strong>sconheci<strong>da</strong>s do público e, <strong>por</strong>tanto, cumpre <strong>de</strong>talhar meu material <strong>de</strong><br />
pesquisa para po<strong>de</strong>r respal<strong>da</strong>r minhas conclusões.<br />
Uma vez apresentados os dramas e pontua<strong>da</strong> a recepção Crítica que<br />
receberam, sobretudo na época, é tempo <strong>de</strong>, no quinto capítulo, analisar<br />
<strong>de</strong>ti<strong>da</strong>mente os dramas no entrelaçamento <strong>de</strong>sejável entre a forma utiliza<strong>da</strong><br />
pelo Autor e a temática <strong>por</strong> ele escolhi<strong>da</strong>. Aproveito também as bases teóricas<br />
para esboçar ligeiras análises sobre a produção teatral imediatamente anterior<br />
a <strong>Lúcio</strong>, já apresenta<strong>da</strong>s no segundo segmento do capítulo 2 e retoma<strong>da</strong>s<br />
nesse momento <strong>de</strong> apreciação crítica.<br />
Finalmente, no sexto capítulo, procuro estabelecer relações intertextuais<br />
entre os dramas e a produção romanesca do escritor e, a partir <strong>de</strong>las,<br />
<strong>de</strong>senvolver as análises cabíveis procurando situar o teatro cardosiano no<br />
contexto <strong>da</strong> época e sua produção literária <strong>de</strong>ntro do Mo<strong>de</strong>rnismo brasileiro.<br />
13
2- O cenário e o palco on<strong>de</strong> pisou o dramaturgo<br />
2.1- O cenário...:<br />
14<br />
Através <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>, o mito <strong>de</strong> um país agonizante.<br />
Nessas lutas sem tréguas, a <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong><br />
sentimentos envenenados que corroem o espírito do<br />
país, que o torna inerte e sem viço para o futuro.<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, Diário completo.<br />
No cenário mundial do século XX, quando os anos 30 começaram, eram<br />
tristes as perspectivas. A quebra <strong>da</strong> Bolsa <strong>de</strong> Nova Iorque arrasou economias<br />
nacionais, fortaleceu as correntes que se opunham ao capitalismo e abalou a<br />
crença nos valores <strong>da</strong> <strong>de</strong>mocracia e do liberalismo. Como resultado, a déca<strong>da</strong><br />
seguinte se marcou <strong>por</strong> um tempo <strong>de</strong> disputas e posicionamentos i<strong>de</strong>ológicos,<br />
muitas vezes radicais, que encontraram seu clímax na eclosão <strong>da</strong> Segun<strong>da</strong><br />
Guerra Mundial.<br />
No Brasil, a crise mundial provocou a que<strong>da</strong> dos preços do café e a<br />
ruína <strong>de</strong> muitos fazen<strong>de</strong>iros. O país constatou a fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> uma economia<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>da</strong> agroex<strong>por</strong>tação, a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> diversificar as ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
econômicas e <strong>de</strong> empreen<strong>de</strong>r uma industrialização em bases nacionais,<br />
projetos que seriam levados adiante nos anos seguintes graças ao<br />
intervencionismo estatal. Apesar <strong>da</strong> crise, a Revolução <strong>de</strong> 1930, que alçou<br />
Getúlio Vargas ao po<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>ixava no ar uma primeira impressão positiva:<br />
O fim <strong>de</strong> uma situação política que durava já quarenta anos – um<br />
tempo imenso para a instabili<strong>da</strong><strong>de</strong> brasileira – apresentava-se como<br />
um renascimento <strong>de</strong> esperanças, a sonha<strong>da</strong> possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> uma<br />
renovação cívica. O povo entusiasmado saiu às ruas, incendiou<br />
jornais governamentais e casas lotéricas, como se quisesse sepultar,<br />
<strong>de</strong> uma só vez, to<strong>da</strong>s as taras <strong>da</strong> nacionali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Uma aragem <strong>de</strong><br />
otimismo patriótico percorreu o país. (PRADO, 2003:13)<br />
O otimismo, entretanto, logo ce<strong>de</strong>u lugar a um período conturbado. A<br />
instauração <strong>da</strong> República e o período que se seguiu – a chama<strong>da</strong> “Primeira<br />
República” – foram estruturados a partir <strong>de</strong> relações sociais fun<strong>da</strong><strong>da</strong>s na<br />
“estirpe”, no “sangue”, na “hereditarie<strong>da</strong><strong>de</strong>” que “marcaram as regras <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>nação social e constituíram o ponto <strong>de</strong> parti<strong>da</strong> para o estabelecimento <strong>de</strong>
critérios nas relações <strong>de</strong> dominação” (MOTA, 2002:61). Essa tradição 1 ,<br />
reforça<strong>da</strong> pelas relações <strong>de</strong> grupos familiares e pelas instituições formais <strong>da</strong>s<br />
elites (partidos políticos, ensino acadêmico, clubes) foi, a partir <strong>da</strong> Revolução<br />
<strong>de</strong> 30, substituí<strong>da</strong> <strong>por</strong> novas relações basea<strong>da</strong>s no individualismo e no<br />
arrivismo num processo que, assinala Schapochnik (1998), representava<br />
socialmente a alteração <strong>da</strong>s origens <strong>da</strong> riqueza e do po<strong>de</strong>r que se processava<br />
naquele momento <strong>de</strong> transição.<br />
Por outro lado, a fim <strong>de</strong> se preservar o po<strong>de</strong>r <strong>da</strong>s oligarquias estaduais e<br />
rurais, os primeiros tempos republicanos foram períodos que se caracterizaram<br />
pela <strong>de</strong>scentralização política (SCHAPOCHNIK, 1998). O Movimento <strong>de</strong><br />
Outubro opôs à <strong>de</strong>scentralização ain<strong>da</strong> em vigor uma centralização que<br />
culminou no Estado Novo; à economia rural, um esforço pela industrialização.<br />
A urbanização crescia acelera<strong>da</strong>mente e os trabalhadores urbanos foram<br />
contemplados com as leis trabalhistas.<br />
Consi<strong>de</strong>rando-se to<strong>da</strong>s essas transformações, é possível visualizar que<br />
este era um tempo <strong>de</strong> crise. Os valores foram postos em xeque, tornaram-se<br />
incoerentes e estavam em transição: a nova reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que se <strong>de</strong>senhava não<br />
cabia nas visões que anteriormente explicavam e justificavam a socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. O<br />
indivíduo, frente a um mundo em rápi<strong>da</strong> transformação, não raro lhe parecendo<br />
caótico, experimentava como precária a sua posição nos novos dias. Foram<br />
anos <strong>de</strong> intensa fermentação i<strong>de</strong>ológica, social, religiosa visível nas<br />
1 <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> conheceu essa situação pessoalmente. Em seu livro Por on<strong>de</strong> andou meu coração, sua<br />
irmã Maria Helena conta: “Curvelo se dividia em duas famílias: Vianna e Mascarenhas. Os que não eram<br />
seus membros, a elas se ligavam pelo casamento ou pela amiza<strong>de</strong>, quaisquer <strong>de</strong>sses tipos <strong>de</strong> relações,<br />
excluindo automaticamente qualquer ligação mais profun<strong>da</strong> com a outra. Da mesma forma, a política<br />
local compunha-se <strong>de</strong> dois únicos partidos: Mascarenhistas e Viannistas, que há anos lutavam pelo<br />
domínio <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>. Odiavam-se mutuamente (...). A separação na socie<strong>da</strong><strong>de</strong> local era completa: na igreja,<br />
nas festas, em tudo. (...)<br />
(...) Os Mascarenhas eram gente boa, honra<strong>da</strong>, <strong>de</strong> coração largo, a sua cari<strong>da</strong><strong>de</strong> famosa entre a gente<br />
pobre. Possuidores <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> fortuna, casavam-se entre si para evitar que o dinheiro se espalhasse em<br />
mãos estranhas. Ao contrário dos Mascarenhas, os Viannas eram pobres, seus antepassados tendo perdido<br />
quase to<strong>da</strong> a fortuna que possuíam. Em matéria <strong>de</strong> inteligência e espírito, <strong>por</strong>ém, eram bem providos.<br />
Inteligentes, vivos, críticos, não perdoavam aos adversários a sua simplici<strong>da</strong><strong>de</strong>, glosando-os<br />
impiedosamente no seu jornal, O Curvelano.<br />
Ambas eram famílias dignas, honra<strong>da</strong>s, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> tradição, vincula<strong>da</strong>s àquela terra há longos anos.”<br />
(CARDOSO,:1967: 59-60)<br />
Na obra <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, é fácil encontrar remanescentes <strong>de</strong> oligarquias <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ntes como em O <strong>de</strong>sconhecido,<br />
<strong>de</strong> 1940 e Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>, <strong>de</strong> 1959 ou, como veremos, em Angélica, encena<strong>da</strong> em 1950.<br />
15
modificações do com<strong>por</strong>tamento, dos valores, <strong>da</strong>s novas formas que as vi<strong>da</strong>s<br />
iam incor<strong>por</strong>ando nas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s em transformação.<br />
No interior, os problemas que afetaram a agricultura provocaram a ruína<br />
<strong>de</strong> famílias oligárquicas tradicionais e agravaram o <strong>de</strong>samparo do trabalhador<br />
rural e dos que <strong>de</strong>pendiam dos “coronéis”, uma vez que as novas leis<br />
trabalhistas só valiam para os trabalhadores urbanos. E havia ain<strong>da</strong> os que<br />
estavam “em transição”, ou seja, aqueles ci<strong>da</strong>dãos que viveram o dilema <strong>de</strong>,<br />
filhos <strong>de</strong> uma oligarquia rural <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte e já <strong>de</strong>sligados <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> no campo,<br />
ain<strong>da</strong> não estarem integrados à vi<strong>da</strong> urbana. Será <strong>de</strong>sse contingente que sairá<br />
a maioria <strong>da</strong>s personagens <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e suas melhores realizações.<br />
Por sua vez, a manutenção do po<strong>de</strong>r <strong>por</strong> parte dos “revolucionários”<br />
também não foi tranqüila e Getúlio Vargas enfrentou uma série <strong>de</strong> revoltas: em<br />
1932, houve uma tentativa <strong>de</strong> restauração do po<strong>de</strong>r <strong>da</strong>s velhas oligarquias; em<br />
1935, foi a vez <strong>de</strong> os comunistas se rebelarem. Como um “Estado<br />
revolucionário” não é um Estado estável, cumpria apaziguar ou fazer parecer<br />
que o país estava em paz: em 1937, implantou-se a ditadura iniciando o Estado<br />
Novo que sufocou, no ano seguinte, uma tentativa <strong>de</strong> rebelião militar <strong>de</strong><br />
orientação integralista. A ascensão dos regimes nazi-fascistas, o horizonte <strong>da</strong><br />
Guerra e, sobretudo, a ditadura fizeram <strong>de</strong>saparecer a pequena abertura<br />
ensaia<strong>da</strong> anos antes.<br />
Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas cuidou <strong>de</strong> implementar, pela primeira<br />
vez, uma política sistemática para o setor cultural no Brasil criando órgãos e<br />
instituições como o Ministério <strong>da</strong> Educação e Saú<strong>de</strong> Pública, o Instituto<br />
Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o<br />
Serviço Nacional do Teatro que, aliás, vai financiar o “Teatro <strong>de</strong> Câmara”, <strong>de</strong><br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Através <strong>da</strong> criação <strong>da</strong>s novas instituições e com o apoio aos<br />
artistas e profissionais <strong>da</strong> área cultural, o Estado ampliou sua presença nesse<br />
campo 2 . Em contraparti<strong>da</strong>, sobre os artistas recaiu “um dos mais pesados<br />
2 Contribuiu para essa aproximação entre o Governo e os artistas a gratidão <strong>de</strong> muitos do teatro a Getúlio<br />
Vargas que, <strong>de</strong>putado em 1928, legalizou a profissão e tirou os artistas <strong>da</strong> marginali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Cf. OGAWA,<br />
1972: 127. Também é preciso lembrar que muitos artistas e intelectuais ocuparam cargos no governo<br />
(como Carlos Drummond <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> e Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>), ain<strong>da</strong> que muitos procurassem se manter<br />
i<strong>de</strong>ologicamente afastados <strong>de</strong> Vargas, sobretudo no Estado Novo.<br />
16
egimes censórios” que o país já conheceu (PRADO, 2003:33) proibindo-se<br />
mesmo qualquer menção à Guerra <strong>de</strong> que o Brasil já participava.<br />
Por outro lado, a déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30 marcou-se <strong>por</strong> uma “re<strong>de</strong>scoberta do<br />
Brasil”. O país virou o gran<strong>de</strong> tema <strong>de</strong> estudo – a “reali<strong>da</strong><strong>de</strong> nacional” foi um<br />
dos conceitos-chave dos estudos <strong>de</strong> então – e, sem ir muito longe, é fácil<br />
lembrar obras i<strong>de</strong>ologicamente tão diferentes (mas tão o<strong>por</strong>tunas) como as <strong>de</strong><br />
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque <strong>de</strong> Hollan<strong>da</strong> e Caio Prado Jr. que marcaram o<br />
período:<br />
A Revolução, se não foi suficientemente longe para romper as<br />
formas <strong>de</strong> organização social, ao menos abalou as linhas <strong>de</strong><br />
interpretação <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> brasileira – já arranha<strong>da</strong>s pela<br />
intelectuali<strong>da</strong><strong>de</strong> que emergia em 1922, com a Semana <strong>de</strong> Arte<br />
Mo<strong>de</strong>rna, <strong>de</strong> um lado, e com a fun<strong>da</strong>ção do Partido Comunista, <strong>de</strong><br />
outro. (MOTA, 2002:28)<br />
É preciso assinalar o gran<strong>de</strong> esforço <strong>por</strong> parte do Governo em<br />
centralizar as preocupações do período na questão do “nacional”. Esse<br />
conceito unificador diluía, no plano simbólico, os conflitos sociais e <strong>da</strong>va<br />
prosseguimento ao projeto <strong>de</strong> “construção <strong>da</strong> nacionali<strong>da</strong><strong>de</strong>” interrompido na<br />
Primeira República pelo Estado liberal. Sobretudo durante o Estado Novo, o<br />
“nacional”, enfatizando o conjunto e o uníssono, garantia a <strong>de</strong>sejável imagem<br />
<strong>de</strong> harmonia social.<br />
Na contramão do projeto governamental, a Literatura não se <strong>de</strong>dicou ao<br />
“nacional”, mas ao “regional”. Ca<strong>da</strong> artista se voltou para um aspecto que lhe<br />
parecia problemático no país e, nesse movimento, opunha-se vigorosamente à<br />
visão totalizadora (e totalitária) <strong>de</strong> Vargas. Destacando, ca<strong>da</strong> um à sua<br />
maneira, um problema e uma região, os artistas não contribuíam para a<br />
construção <strong>de</strong> um conceito unificado <strong>de</strong> nação. Mesmo os autores intimistas,<br />
como <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> – assinala Bueno (2001) – vão se beneficiar do “regional”:<br />
sabe-se que o romancista mineiro tem seus textos vinculados ao ambiente <strong>da</strong>s<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>zinhas do interior mineiro 3 .<br />
3 “Outros estarão na Europa e, à ciência local, unirão o conhecimento clássico do Velho Mundo. Ah, mas<br />
que im<strong>por</strong>ta: sou feito <strong>da</strong> visão <strong>de</strong>ssas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s pequenas, <strong>de</strong> seu pequeno sol, <strong>de</strong> sua pequena vi<strong>da</strong>. Não<br />
que elas se incor<strong>por</strong>em a mim através <strong>de</strong> sua paisagem pobre e o característico seja o que <strong>de</strong>las me vem à<br />
alma. Não disse alma e está certo. É este Brasil, obscuro, feito <strong>de</strong> almas pobres e contrafeitas, o que me<br />
interessa. Apego-me a uma população <strong>de</strong> sombras – e o que vejo é como um telão <strong>de</strong> teatro que<br />
17
Antonio Candido, em “Literatura e sub<strong>de</strong>senvolvimento” (1989), vai<br />
pontuar que, à consciência <strong>de</strong> “país novo”, a déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30 vai contra<strong>por</strong> a idéia<br />
<strong>de</strong> atraso, a “pré-consciência” <strong>de</strong> “país sub<strong>de</strong>senvolvido”. A re<strong>de</strong>scoberta do<br />
Brasil vai assinalar, na Literatura, o atraso e a exclusão que a mo<strong>de</strong>rnização<br />
não conseguia ocultar. Os romances nascidos então se caracterizaram pela<br />
“preocupação absorvente com os ‘problemas’ (<strong>da</strong> mente, <strong>da</strong> alma, <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>)” (CANDIDO, 2000:196). Em “Literatura e cultura <strong>de</strong> 1900 a 1945”, o<br />
crítico acrescenta:<br />
Nesse tipo <strong>de</strong> romance, o mais característico do período e<br />
freqüentemente <strong>de</strong> tendência radical, é marcante a prepon<strong>de</strong>rância<br />
do problema sobre a personagem (...). Raramente (...) a humani<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
singular dos protagonistas domina os fatores do enredo: meio social,<br />
paisagem, problema político. (CANDIDO, 2000:114)<br />
Segundo Bueno (2001), que retoma os conceitos <strong>de</strong> Candido, os<br />
romancistas <strong>de</strong> 30 encaravam aquele presente como um tempo que precisava<br />
ser superado <strong>de</strong> alguma forma e, embora acreditassem que a modificação <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong> fosse possível, não pensavam que ela pu<strong>de</strong>sse ocorrer com<br />
facili<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
Assim, produziram-se romances que se esgotavam ou na reprodução<br />
documental <strong>de</strong> algum aspecto injusto <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> brasileira ou no<br />
aprofun<strong>da</strong>mento <strong>de</strong> uma mentali<strong>da</strong><strong>de</strong> equivoca<strong>da</strong> que contribuiria<br />
para a figuração <strong>de</strong>sse atraso. O herói, ao invés <strong>de</strong> promover ação<br />
para transformar essa reali<strong>da</strong><strong>de</strong> negativa, servia para incor<strong>por</strong>ar<br />
algum aspecto do atraso. (BUENO, 2001:90)<br />
Esses romancistas, distantes dos primeiros mo<strong>de</strong>rnistas (que<br />
acreditavam na possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> a mo<strong>de</strong>rnização, <strong>por</strong> si só e quando<br />
generaliza<strong>da</strong>, po<strong>de</strong>r resgatar <strong>da</strong> marginali<strong>da</strong><strong>de</strong> os miseráveis <strong>da</strong> nossa<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>), vão firmar a percepção <strong>de</strong> que as técnicas mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong> na<strong>da</strong><br />
adiantam ante uma estrutura social que se quer manter intoca<strong>da</strong>. Bueno anota<br />
as seguintes características do romance <strong>de</strong> 30:<br />
circun<strong>da</strong>sse a cena – sempre a mesma on<strong>de</strong> esta pobre gente me fala <strong>de</strong> seu esquecimento e do seu afã <strong>de</strong><br />
pereni<strong>da</strong><strong>de</strong>. Existem, em meio ao pó e à contingência brasileira <strong>de</strong> assistir sem alegria à gestação <strong>de</strong> um<br />
velho burgo que nem sequer é novo – é neutro esperando em suas sepulturas brancas o sinal <strong>da</strong><br />
ressurreição.” (CARDOSO, 1970:291-292)<br />
18
O primeiro <strong>de</strong>sses pontos é a colocação <strong>da</strong> discussão <strong>de</strong> um<br />
problema – social ou moral (...) – que já aparece anunciado em<br />
pequenos prefácios que indicam a intenção dos autores <strong>de</strong> garantir a<br />
leitura o mais inequívoca possível.<br />
Reforça isso um segundo ponto <strong>de</strong> contato im<strong>por</strong>tante entre os livros,<br />
que é a <strong>de</strong>limitação clara <strong>de</strong>sses problemas, discutidos através <strong>da</strong><br />
criação <strong>de</strong> personagens que vivem um tipo <strong>de</strong> transição específica<br />
<strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong> brasileira. Ou seja, mesmo o mais introspectivo dos<br />
romances não abre mão <strong>de</strong> colocar as gran<strong>de</strong>s questões <strong>da</strong><br />
existência e <strong>da</strong> espirituali<strong>da</strong><strong>de</strong> humana no momento presente, numa<br />
situação histórica visível. (...)<br />
Um último aspecto (...) é o fato <strong>de</strong> eles registrarem, em todos os<br />
níveis <strong>de</strong> sua composição, um clima <strong>de</strong> dúvi<strong>da</strong> que leva a um<br />
impasse sem solução. (BUENO, 2001:121-122)<br />
A questão do impasse e <strong>da</strong> dúvi<strong>da</strong> é fun<strong>da</strong>mental nesse momento. Os<br />
escritores, imersos na transição que a mo<strong>de</strong>rnização implementava no país,<br />
constatavam os problemas, <strong>de</strong>fendiam soluções, mas não vislumbravam<br />
vitórias. O herói, como já se afirmou, encarnava algum aspecto do atraso, mas<br />
não conseguia promover ações para transformar essa reali<strong>da</strong><strong>de</strong> negativa.<br />
Pense-se, <strong>por</strong> exemplo, em Paulo Honório (São Bernardo), Luís <strong>da</strong> Silva<br />
(Angústia), Joaquim (Maleita), Conceição (O Quinze) ou I<strong>da</strong> (Mãos vazias): no<br />
final, todos os protagonistas constatam sua <strong>de</strong>rrota no mundo que os circun<strong>da</strong><br />
e ao qual não se a<strong>da</strong>ptam, mas a superação do impasse não é assunto do<br />
romance e fica adia<strong>da</strong> para um futuro que não se contará nunca.<br />
Daí a figura marcante do romance <strong>de</strong> 30 ser, na alenta<strong>da</strong> pesquisa <strong>de</strong><br />
Bueno (2001) e retomando observações <strong>de</strong> Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, a figura do<br />
fracassado 4 , cuja representação incor<strong>por</strong>ou <strong>de</strong>finitivamente as figuras<br />
marginais à Literatura Brasileira. Entre os “fracassados”, ou melhor, entre<br />
essas representações literárias dos impasses <strong>da</strong> mo<strong>de</strong>rnização, Bueno cita a<br />
mulher <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, <strong>de</strong> Rachel <strong>de</strong> Queiroz e <strong>de</strong> Lúcia Miguel Pereira, as<br />
quais analisa <strong>de</strong>talha<strong>da</strong>mente; e ain<strong>da</strong> acrescenta o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte<br />
<strong>de</strong> José Lins do Rego; o intelectual “fora <strong>de</strong> foco” <strong>de</strong> Graciliano Ramos; o<br />
operário. Todos eles revelam “aquela necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> pensar e enten<strong>de</strong>r um<br />
presente com poucas promessas <strong>de</strong> esperança, dominado pela dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> e<br />
pela in<strong>de</strong>finição, <strong>de</strong>ixando entrever que a alegria só po<strong>de</strong>ria ser possível <strong>de</strong>pois<br />
<strong>de</strong> um longo caminho, ain<strong>da</strong> <strong>por</strong> trilhar” (2001:429).<br />
4 Cf: BUENO, 2001: 84-93.<br />
19
Entretanto, cabe observar que o crítico diferencia a idéia <strong>de</strong> fracasso <strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sistência:<br />
Trata-se antes <strong>da</strong> manifestação <strong>da</strong>quela avaliação negativa do<br />
presente, <strong>da</strong>quela impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ver no presente um terreno<br />
on<strong>de</strong> fun<strong>da</strong>r qualquer projeto que pu<strong>de</strong>sse solucionar o que quer que<br />
seja. (...) Só será possível pensar qualquer utopia <strong>de</strong>pois <strong>de</strong><br />
mergulhar o mais profun<strong>da</strong>mente nas misérias do presente.<br />
Esquadrinhar palmo a palmo as misérias do país: eis aí o que toma a<br />
peito fazer o romance <strong>de</strong> 30. (...) Para quem, como Otávio <strong>de</strong> Faria,<br />
vê no presente o reino <strong>de</strong> miséria moral, há também uma recusa<br />
vigorosa <strong>da</strong> facili<strong>da</strong><strong>de</strong> em se mu<strong>da</strong>r esse presente. (BUENO,<br />
2001:88)<br />
Falando-se em Otávio <strong>de</strong> Faria e em “reino <strong>de</strong> miséria moral”, é preciso<br />
lembrar que esses anos se marcaram <strong>por</strong> uma toma<strong>da</strong> <strong>de</strong> consciência<br />
i<strong>de</strong>ológica dos artistas e intelectuais com uma radicali<strong>da</strong><strong>de</strong> que era, até então,<br />
inédita no Brasil (CANDIDO, 1989). Comprometidos, sua “militância” se fazia<br />
no campo político, social e religioso e essa última dimensão é um aspecto que<br />
interessa <strong>de</strong> perto a esta Tese, uma vez que é sabi<strong>da</strong> a aproximação <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> com os escritores católicos 5 .<br />
Era um tempo <strong>de</strong> renovação <strong>de</strong>ssa fé. A idéias <strong>de</strong> Jackson <strong>de</strong><br />
Figueiredo, a conversão <strong>de</strong> Alceu Amoroso Lima, a Ação Católica e a ação <strong>da</strong>s<br />
Equipes Sociais – essas atuando nas favelas do Rio <strong>de</strong> Janeiro – faziam do<br />
Catolicismo “uma fé renova<strong>da</strong>, um estado <strong>de</strong> espírito e uma dimensão estética”<br />
(CANDIDO, 1989: 188). A implantação do Estado Novo, que coincidia com o<br />
apogeu i<strong>de</strong>ológico do Mo<strong>de</strong>rnismo, assistiu a uma intensificação do<br />
espiritualismo estético e i<strong>de</strong>ológico. 6<br />
Para os católicos – e para <strong>Lúcio</strong> – a crise que se atravessava era moral:<br />
... o problema é mais profundo e está ligado à <strong>de</strong>generescência do<br />
tempo em que vivemos, e é um dos mais vivos sinais <strong>da</strong> consciente<br />
<strong>de</strong>gra<strong>da</strong>ção do mundo, do seu afastamento <strong>de</strong> tudo o que po<strong>de</strong><br />
testemunhar a favor <strong>da</strong> gran<strong>de</strong>za espiritual do homem.<br />
5 Sobre a influência que sofreu <strong>de</strong> Otávio <strong>de</strong> Faria, afirma <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, em seu Diário, em uma<br />
anotação sem <strong>da</strong>ta <strong>de</strong> 1949: “(...) fala-me momentos mais tar<strong>de</strong> sobre os <strong>de</strong>feitos achados e quali<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
entrevistas. Eu o escuto, olho e penso – há quinze anos que o escuto, em situações <strong>de</strong> maior ou menor<br />
im<strong>por</strong>tância e seu pensamento, sempre atento e fluido, foi constantemente o que ouvi <strong>de</strong> mais útil e <strong>de</strong><br />
mais compreensivo à natureza dos meus trabalhos”. (CARDOSO, 1970:45)<br />
6 Não <strong>por</strong> acaso, em 1937, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> afasta-se <strong>de</strong> vez <strong>da</strong> linha social ao lançar A Luz no Subsolo, que<br />
marca a orientação <strong>de</strong> suas produções na linha do “intimismo”.<br />
20
E para isso não há nenhum remédio momentâneo. Temos <strong>de</strong> viver<br />
até o âmago a crassa época <strong>de</strong> egoísmo e barbárie que nos foi<br />
<strong>de</strong>stina<strong>da</strong>. (...) (CARDOSO, 1970:166)<br />
As palavras do Autor mineiro remetem ao impasse, já apontado <strong>por</strong><br />
Bueno (2001) como característica dos romances <strong>de</strong> 30.<br />
Na visão religiosa, o mundo tal como se apresentava era um mundo sem<br />
Deus, on<strong>de</strong> tudo é possível (nessa premissa está o gran<strong>de</strong> tema <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> 7 e o<br />
universo on<strong>de</strong> circulam suas criaturas) e on<strong>de</strong>, com o abandono <strong>da</strong> cari<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
sobra a exploração brutal do homem sobre o homem. E, se para alguns, a<br />
evangelização seria a promotora <strong>da</strong> transformação <strong>da</strong>s consciências, houve<br />
aqueles que, como Jackson <strong>de</strong> Figueiredo, misturaram “a questão espiritual<br />
com a <strong>de</strong> uma pressenti<strong>da</strong> crise <strong>de</strong> autori<strong>da</strong><strong>de</strong> que pedia a restauração <strong>de</strong> uma<br />
hierarquia rígi<strong>da</strong> sob uma li<strong>de</strong>rança forte” (BUENO, 2001:253). No Diário<br />
Completo, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, anota, cerca <strong>de</strong> duas déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong>pois, a 04 <strong>de</strong> março<br />
<strong>de</strong> 1951, ecos <strong>de</strong>ssa idéia:<br />
Estamos numa época em que temos necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> dos nossos<br />
sentimentos extremos; precisamos <strong>de</strong> nossas quali<strong>da</strong><strong>de</strong>s viris e <strong>de</strong><br />
nosso fascínio pela tormenta. A <strong>de</strong>mocracia é a forma <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r que<br />
nega os heróis, <strong>de</strong> que este mundo tanto carece, para exaltar os<br />
patriarcas, que é o começo <strong>de</strong> um gênero pastoril e <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte.<br />
(CARDOSO, 1970:159)<br />
A religiosi<strong>da</strong><strong>de</strong> católica <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> se tingia <strong>de</strong> cores messiânicas 8 . Lendo<br />
seu Diário, é perceptível o anseio <strong>por</strong> uma calami<strong>da</strong><strong>de</strong> que mu<strong>da</strong>ria o curso <strong>da</strong><br />
História 9 :<br />
7 Uma preocupação que ecoará em to<strong>da</strong> a sua vi<strong>da</strong>. É a gran<strong>de</strong> angústia do protagonista <strong>de</strong> A Luz no<br />
Subsolo e está registra<strong>da</strong> também no seu Diário, em 26/08/1949: “Se Deus não existisse, não<br />
chegaríamos apenas a conclusão <strong>de</strong> que tudo seria permitido. A vi<strong>da</strong> seria simplesmente IMPOSSÍVEL, o<br />
peso do na<strong>da</strong> nos esmagaria com sua existência <strong>de</strong> ferro. (...) A existência <strong>de</strong> Deus, mesmo manti<strong>da</strong> no<br />
subconsciente ou apenas pressenti<strong>da</strong>, é o que garante a chama <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> no coração <strong>de</strong> quase todos os<br />
homens.” (CARDOSO, 1970:10 – grifos do autor).<br />
8 <strong>Lúcio</strong> não era o único. Wilson Martins comenta, no sexto volume <strong>de</strong> sua História <strong>da</strong> Inteligência<br />
Brasileira, a recepção <strong>da</strong>s obras <strong>de</strong> Plínio Salgado e Jorge Amado e a forma equivoca<strong>da</strong> como foram<br />
sau<strong>da</strong>dos (o primeiro como um livro comunista e o segundo como uma obra anticomunista), anotando:<br />
“Isso dá idéia, <strong>por</strong> um lado, <strong>da</strong> <strong>de</strong>sorientação i<strong>de</strong>ológica do momento, <strong>por</strong> outro, <strong>da</strong> ansie<strong>da</strong><strong>de</strong> com que o<br />
país esperava um Messias – tanto na política quanto nas letras.” (MARTINS, 1978:512)<br />
9 Michael Löwy explica que, para os ju<strong>de</strong>us, o mundo era percebido como uma reali<strong>da</strong><strong>de</strong> histórica cuja<br />
<strong>de</strong>stinação era ser substituí<strong>da</strong> pela or<strong>de</strong>m divina e, na tradição religiosa ju<strong>da</strong>ica, a vin<strong>da</strong> do Messias é um<br />
acontecimento cataclísmico. Cf. Löwy, 1989. O catolicismo cardosiano compartilha <strong>de</strong>ssa mesma crença.<br />
21
Engendrar, sem <strong>de</strong>scanso, o terror – até o terror coletivo. As<br />
revoluções, as guerras, são raja<strong>da</strong>s <strong>de</strong> intuições que antece<strong>de</strong>m a<br />
visão <strong>de</strong> Cristo.<br />
No tempo, Cristo caminha pelos pés <strong>da</strong> catástrofe. Todos os<br />
rompimentos <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> são golpes contra este mundo a favor <strong>de</strong><br />
Jesus Cristo. Inventa-se o martírio, como um meio <strong>de</strong> se aproximar<br />
<strong>da</strong> Paixão <strong>de</strong> Cristo. (CARDOSO, 1970:243-244).<br />
Talvez seja essa fé na necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> catástrofe que justifique tantos<br />
episódios e situações-limite na obra cardosiana. Voltarei a esse ponto em<br />
momento o<strong>por</strong>tuno. Por enquanto, atenho-me ao fato <strong>de</strong> que, para os<br />
escritores afinados com a i<strong>de</strong>ologia católica (e diferente dos artistas <strong>de</strong><br />
esquer<strong>da</strong>, que preferiram olhar a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> e o coletivo), o im<strong>por</strong>tante era<br />
mergulhar no íntimo do indivíduo para se tentar compreen<strong>de</strong>r os problemas<br />
humanos. Daí Antonio Candido consi<strong>de</strong>rar o romance <strong>de</strong> orientação religiosa<br />
“um prolongamento ou uma superação <strong>da</strong> linha espiritualista origina<strong>da</strong> no<br />
simbolismo e que hauriu no Mo<strong>de</strong>rnismo alguns instrumentos mas sobretudo o<br />
nacionalismo e a pesquisa do Eu profundo” (CANDIDO, 2000: 124). Ain<strong>da</strong><br />
segundo Candido, houve também nessa produção literária a procura <strong>por</strong> uma<br />
“tonali<strong>da</strong><strong>de</strong> espiritualista <strong>de</strong> tensão e mistério, que sugerisse, <strong>de</strong> um lado, o<br />
inefável, <strong>de</strong> outro, o terror...” (CANDIDO, 1989:188).<br />
Não raro, essa preocupação com o inefável e o terror levou esses<br />
escritores ao que João Luiz Lafetá chamou <strong>de</strong> “confisco <strong>da</strong> alegria”. Em 1930:<br />
A crítica e o Mo<strong>de</strong>rnismo, analisando Otávio <strong>de</strong> Faria (que, como se viu, é<br />
amigo próximo <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> e sobre quem exercia gran<strong>de</strong> influência), Lafetá<br />
assinala suas posições que <strong>de</strong>fendiam a serie<strong>da</strong><strong>de</strong> e o sofrimento, valorizavam<br />
o “sublime”, o “eterno” e o “essencial” e <strong>de</strong>sprezavam o cotidiano como tema<br />
digno <strong>de</strong> poesia. É bastante provável que esses pontos-<strong>de</strong>-vista tenham sido<br />
consi<strong>de</strong>rados <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong> na sua criação 10 . Como veremos adiante, as<br />
personagens <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> vivem num mundo opressivo <strong>de</strong> pesa<strong>de</strong>los, angustiados<br />
e sem perspectivas ou momentos <strong>de</strong> alegria.<br />
Voltando ao quadro geral <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> se, no seu início, as perspectivas<br />
eram tristes, no seu final elas haviam-se transformado em reali<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
10 Ratifica essa opinião uma <strong>de</strong>claração do Autor em seu Diário Completo <strong>de</strong> que “TODAS as felici<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
constituem uma ameaça a qualquer coisa acima <strong>de</strong> nós, a uma or<strong>de</strong>m secreta que subsiste além <strong>de</strong> nossas<br />
incertezas, e que mal divisamos em seus contornos <strong>de</strong> sombra e <strong>de</strong> relâmpagos. Por isto, unicamente <strong>por</strong><br />
isto, é que a tragédia é o estado natural do homem” (CARDOSO, 1970:5)<br />
22
dolorosas. Os anos 30 se encerram em Guerra que se esten<strong>de</strong>rá até a meta<strong>de</strong><br />
<strong>da</strong> déca<strong>da</strong> seguinte e ensinará ao mundo um novo conceito, muito além <strong>da</strong><br />
conheci<strong>da</strong> violência: a atroci<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
O fim <strong>da</strong> Guerra, em 1945, marca também o fim do Estado Novo. Afinal,<br />
um país que lutara pela liber<strong>da</strong><strong>de</strong> e <strong>por</strong> ela era sau<strong>da</strong>do ao lado <strong>de</strong> outros<br />
heróis não iria tolerar, <strong>de</strong>ntro do seu território, que a ditadura se esten<strong>de</strong>sse <strong>por</strong><br />
mais tempo. Voltam à cena os i<strong>de</strong>ais <strong>de</strong>mocráticos e o país comemora uma<br />
nova Constituição, em 1946.<br />
Já na meta<strong>de</strong> <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 40 po<strong>de</strong>-se começar a falar em uma<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> massa nos gran<strong>de</strong>s centros urbanos do país, on<strong>de</strong> surgiam<br />
necessi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> consumo (como eletrodomésticos) que antes não faziam<br />
parte do cenário <strong>da</strong>s casas brasileiras. (BERCITO, 1999). O cinema ganhava o<br />
público e o teatro passava <strong>por</strong> transformações profun<strong>da</strong>s, <strong>de</strong>talha<strong>da</strong>s no<br />
próximo segmento <strong>de</strong>sta Tese. O rádio ganhava os lares e se tornava o<br />
principal meio <strong>de</strong> comunicação e <strong>de</strong> diversão popular no país. Era o tempo dos<br />
programas <strong>de</strong> Almirante, José Mauro, Lamartine Babo e César Alencar. As<br />
radionovelas se popularizavam e a música lançava nomes como Emilinha<br />
Borba, Marlene Matos, Carmélia Alves, Dircinha e Lin<strong>da</strong> Batista. Aliás, a<br />
música também se mostrava mais à vonta<strong>de</strong> nos anos pós-Estado Novo:<br />
Na primeira meta<strong>de</strong> <strong>da</strong> déca<strong>da</strong>, o Departamento <strong>de</strong> Imprensa e<br />
Propagan<strong>da</strong> do Estado Novo atingira a música popular, na medi<strong>da</strong><br />
em que incentivava o uso <strong>de</strong> temáticas que exaltassem o trabalho,<br />
ao gosto <strong>da</strong> i<strong>de</strong>ologia do regime que celebrava a formação do<br />
ci<strong>da</strong>dão trabalhador. A exaltação <strong>da</strong> malandragem carioca <strong>da</strong>va lugar<br />
a composições que ressaltavam o valor positivo do trabalho (...). No<br />
entanto, bastou estar-se livre <strong>da</strong> censura para ressurgir, logo em<br />
1946, a temática <strong>da</strong> malandragem em Trabalhar, eu não, <strong>de</strong><br />
Almeidinha. (BERCITO, 1999:90)<br />
Mas nem tudo eram alegrias. O analfabetismo era ain<strong>da</strong> muito alto<br />
(apenas meta<strong>de</strong> <strong>da</strong> população com mais <strong>de</strong> quinze anos sabia ler e escrever);<br />
as diferenças regionais continuavam gritantes. A vi<strong>da</strong> mo<strong>de</strong>rna oferecia<br />
facili<strong>da</strong><strong>de</strong>s, mas o consumo era restrito pela ren<strong>da</strong>: o salário mínimo, há pouco<br />
conquistado e não conseguindo acompanhar o custo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>, já estava<br />
<strong>de</strong>fasado em seu valor real.<br />
23
As ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s continuaram num processo acelerado <strong>de</strong> urbanização e São<br />
Paulo e Rio <strong>de</strong> Janeiro já se transformavam em metrópoles. Os centros<br />
urbanos cresciam e o aumento populacional contou com os movimentos<br />
migratórios, sobretudo do Nor<strong>de</strong>ste, e do êxodo rural <strong>da</strong>s próprias regiões<br />
periféricas. Embora a maior parte <strong>da</strong> população brasileira ain<strong>da</strong> morasse no<br />
campo, o padrão <strong>de</strong> com<strong>por</strong>tamento i<strong>de</strong>al assumido pela socie<strong>da</strong><strong>de</strong> era o<br />
urbano. Isso contribuía para aumentar aquela sensação <strong>de</strong> ina<strong>da</strong>ptação ao<br />
espaço e a crise <strong>de</strong> valores a que me referi anteriormente e que vai alimentar,<br />
<strong>por</strong> exemplo, as obras <strong>de</strong> Clarice Lispector.<br />
Falando nisso, já nesse período, novas orientações começam a ser<br />
percebi<strong>da</strong>s na Literatura. Em 1943, Jorge Amado e José Lins do Rego<br />
lançaram, respectivamente, Terras do Sem-Fim e Fogo Morto, romances que a<br />
Crítica consi<strong>de</strong>ra suas obras-primas. No mesmo ano, Clarice surgia no cenário<br />
com Perto do coração selvagem, obra que <strong>de</strong>snorteia os críticos sendo<br />
sau<strong>da</strong><strong>da</strong> positivamente apenas <strong>por</strong> Antonio Candido que vê, na escrita <strong>da</strong><br />
autora, uma tentativa <strong>de</strong> renovação 11 . E, para ficar apenas em dois exemplos<br />
ilustres, em 1946, Guimarães Rosa lançava Sagarana, tecendo um<br />
regionalismo <strong>de</strong> novos matizes, afastado <strong>da</strong>quele consagrado pela geração<br />
anterior.<br />
A vi<strong>da</strong> <strong>de</strong>mocrática prosseguia e, em 1950, <strong>por</strong> eleições diretas, Getúlio<br />
Vargas voltava ao Palácio do Catete.<br />
2.2- ...e o palco on<strong>de</strong> pisou o dramaturgo<br />
Muitos autores respeitáveis já se ocuparam <strong>de</strong> traçar uma história do<br />
teatro brasileiro e, <strong>de</strong>ntre eles, Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado, Edwaldo Cafezeiro,<br />
Sábato Magaldi, João Roberto Faria redigiram obras que, lista<strong>da</strong>s na<br />
Bibliografia <strong>de</strong>sta Tese, traçam um perfil bastante <strong>de</strong>talhado do tema.<br />
11 CANDIDO, Antonio. “Uma tentativa <strong>de</strong> renovação”. (CANDIDO, 1992:93-102). Para maiores<br />
<strong>de</strong>talhes <strong>da</strong> recepção crítica <strong>da</strong> autora, cf: SÁ, Olga <strong>de</strong>. A escritura <strong>de</strong> Clarice Lispector. Petrópolis/ SP:<br />
Vozes/ PUC, 1993.<br />
24
Prado, em sua História concisa do Teatro brasileiro (2003), vai<br />
consi<strong>de</strong>rar que a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> teatral atingiu alguma quali<strong>da</strong><strong>de</strong> entre nós no<br />
período do Romantismo, com a construção, <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> D. João VI, <strong>de</strong> um<br />
“teatro <strong>de</strong>cente” (que, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> reconstruído quatro vezes, foi enfim batizado<br />
<strong>de</strong> “Teatro João Caetano”) e pela atuação do próprio João Caetano, “talvez o<br />
maior ator que o Brasil já produziu” (PRADO, 2003:38). Seu repertório incluía<br />
tragédias clássicas francesas, dramas românticos, autores espanhóis<br />
contem<strong>por</strong>âneos e românticos <strong>por</strong>tugueses, embora o “pão <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> dia” lhe<br />
tenha sido assegurado pelo “imbatível melodrama” 12 (PRADO, 2003:38) que<br />
agra<strong>da</strong>va tanto a platéia popular quanto a letra<strong>da</strong>.<br />
Quanto às peças <strong>de</strong> caráter sério 13 , Prado consi<strong>de</strong>ra que a primeira obra<br />
brasileira digna <strong>de</strong> referência é Leonor <strong>de</strong> Mendonça, <strong>de</strong> Gonçalves Dias, “A<br />
primeira, em or<strong>de</strong>m cronológica e também em or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong>”. Seu texto,<br />
“único que tem sido revivido com certa freqüência em versões mo<strong>de</strong>rnas”<br />
(PRADO, 2003:47) 14 , po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado um drama. Segundo Faria (2001),<br />
seu autor:<br />
Com pleno domínio dos conceitos básicos do romantismo teatral,<br />
com<strong>por</strong>tou-se com total liber<strong>da</strong><strong>de</strong> em relação às regras do<br />
classicismo, construindo uma obra <strong>dramática</strong> em que estão<br />
presentes vários aspectos formais e conteudísticos específicos do<br />
drama, tais como a força avassaladora <strong>da</strong> paixão; a matéria<br />
<strong>dramática</strong> busca<strong>da</strong> no passado, mas nas histórias nacionais e não na<br />
12 Segundo o Dicionário <strong>de</strong> Teatro, “melodrama” é “uma peça popular que, mostrando os bons e os maus<br />
em situações apavorantes ou enternecedoras, visa comover o público com pouca preocupação com o<br />
texto, mas com gran<strong>de</strong>s reforços <strong>de</strong> efeitos cênicos. (...) A estrutura narrativa é imutável: amor,<br />
infelici<strong>da</strong><strong>de</strong> causa<strong>da</strong> pelo traidor, triunfo <strong>da</strong> virtu<strong>de</strong>, castigos e recompensas, perseguição como ‘eixo <strong>da</strong><br />
intriga’. (...) Seu surgimento está ligado ao predomínio i<strong>de</strong>ológico <strong>da</strong> burguesia que, nos primeiros anos<br />
do século XIX, afirma sua nova força oriun<strong>da</strong> <strong>da</strong> Revolução, substituindo as aspirações igualitárias <strong>de</strong><br />
um povo apresentado como infantil, assexuado e excluído <strong>da</strong> história. (...) As personagens, claramente<br />
separa<strong>da</strong>s em boas e más, não têm nenhuma opção trágica possível; elas são poços <strong>de</strong> bons ou maus<br />
sentimentos, <strong>de</strong> certezas e evidências que não sofrem contradição. Seus sentimentos e discursos,<br />
exagerados até o limite do paródico, favorecem no espectador uma i<strong>de</strong>ntificação fácil e uma catarse<br />
barata. As situações são inverossímeis, mas claramente traça<strong>da</strong>s: infelici<strong>da</strong><strong>de</strong> absoluta ou felici<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
indizível; <strong>de</strong>stino cruel que acaba ou se arranjando (no melodrama otimista) ou que permanece sombrio e<br />
tenso, como no roman noir, injustiças sociais ou recompensas feitas à virtu<strong>de</strong> e ao civismo. (...) o<br />
melodrama veicula abstrações sociais, oculta os conflitos sociais <strong>de</strong> sua época, reduz as contradições a<br />
uma atmosfera <strong>de</strong> medo ancestral ou <strong>de</strong> felici<strong>da</strong><strong>de</strong> utópica.” (PAVIS, 2001:238-239)<br />
13 Assim <strong>de</strong>nomino aquelas produções que não tratam <strong>de</strong> situação ridículas, que não visam provocar o<br />
riso e a <strong>de</strong>scontração do espectador. Incluo tragédias (clássicas ou não), dramas, melodramas e similares.<br />
14 Antes <strong>de</strong>la, há, <strong>por</strong> exemplo, Antônio José, <strong>de</strong> Gonçalves <strong>de</strong> Magalhães ou os primeiros dramas<br />
<strong>de</strong>scabelados <strong>de</strong> Martins Pena, que não foram levados ao palco (a não ser em caráter <strong>de</strong> exceção <strong>por</strong><br />
amadores), apenas “váli<strong>da</strong>s pelo nível literário, superior ao dramatúrgico” (PRADO, 2003:45).<br />
25
Antigüi<strong>da</strong><strong>de</strong> greco-latina; a abor<strong>da</strong>gem <strong>de</strong> temas controvertidos,<br />
como o incesto, e a conseqüente <strong>de</strong>spreocupação com a finali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
moral ou didática <strong>da</strong> arte; a presença simultânea <strong>de</strong> cenas<br />
domésticas típicas <strong>da</strong> comédia e <strong>de</strong> cenas violentas comuns na<br />
tragédia; e a distensão <strong>da</strong> ação <strong>dramática</strong> no tempo e no espaço.<br />
(FARIA, 2001:44)<br />
Além <strong>de</strong> Leonor, Prado faz referência a Macário, <strong>de</strong> Álvares <strong>de</strong> Azevedo,<br />
cujo prefácio traz idéias inovadoras que não foram, entretanto, segui<strong>da</strong>s no<br />
esboço do drama. Faria (2001) também se <strong>de</strong>bruça sobre este texto 15 e ambos<br />
os críticos concor<strong>da</strong>m que o jovem romântico foi “um dos possíveis autores do<br />
gran<strong>de</strong> teatro que o Brasil jamais chegou a ter.” (PRADO:2003:51)<br />
Prado também cita Calabar, <strong>de</strong> Agrário Menezes, obra em versos; O<br />
Jesuíta, <strong>de</strong> José <strong>de</strong> Alencar; Sangue Limpo, <strong>de</strong> Paulo Eiró e Gonzaga ou A<br />
Revolução <strong>de</strong> Minas, <strong>de</strong> Castro Alves. Escritas entre 1858 e 1867, tais peças<br />
se aproximam <strong>por</strong> seus pontos em comum entre os quais <strong>de</strong>staco:<br />
O par amoroso conserva-se em primeiro plano, mas sem ocupar o<br />
centro <strong>da</strong>s atenções, voltado agora para o ângulo político. Enfim, fato<br />
essencial, o enredo entrelaça, entre as personagens, figuras<br />
imaginárias e pessoas <strong>de</strong> comprova<strong>da</strong> existência histórica. E, se os<br />
autores interrogam o passado, é para esclarecer o presente e<br />
projetar possivelmente o futuro. (PRADO, 2003:66)<br />
No entanto, esses dramas históricos percorreram o mesmo caminho <strong>de</strong><br />
Leonor <strong>de</strong> Mendonça e Macário: nunca foram encenados <strong>da</strong> forma como seus<br />
autores os tinham i<strong>de</strong>alizado. Na melhor <strong>da</strong>s hipóteses, vieram ao palco em<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s distantes do Rio <strong>de</strong> Janeiro, então centro teatral, <strong>por</strong> amadores ou<br />
semiprofissionais ou, no caso <strong>de</strong> O Jesuíta, representado quatorze anos <strong>de</strong>pois<br />
<strong>de</strong> maneira que seu autor julgou insatisfatória. Nesse contexto, conclui Faria:<br />
... o nosso romantismo teatral não teve um dramaturgo im<strong>por</strong>tante,<br />
sintonizado com as transformações ocorri<strong>da</strong>s no teatro europeu, ou<br />
pelo menos francês, e que escrevesse dramas românticos com<br />
alguma regulari<strong>da</strong><strong>de</strong> para as companhias <strong>dramática</strong>s que atuavam<br />
principalmente no Rio <strong>de</strong> Janeiro. (FARIA, 2001:57)<br />
O Romantismo não irá, pois, <strong>da</strong>r frutos consi<strong>de</strong>ráveis ao Teatro nacional<br />
sério e, <strong>de</strong>ixando a cena, abre caminho para o Realismo que vai pro<strong>por</strong>cionar<br />
uma mu<strong>da</strong>nça <strong>de</strong> foco <strong>da</strong> nação para a família. E mu<strong>da</strong> também a “intenção”<br />
15 Cf: FARIA, 2001:49-53.<br />
26
autoral, que <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> lado as questões libertárias para centrar-se na moral<br />
retificadora:<br />
O teatro, encaminhando-se já para a peça <strong>de</strong> tese, <strong>de</strong>via não apenas<br />
retratar a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> cotidiana, mas julgá-la, aprovar ou <strong>de</strong>saprovar o<br />
que estaria acontecendo na cama<strong>da</strong> culta e consciente <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. A burguesia, revendo-se no espelho retificador – ou<br />
embelezador – do palco, teria <strong>por</strong> missão realizar-se como mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> com<strong>por</strong>tamento individual e coletivo. (PRADO, 2003:80)<br />
Do ponto <strong>de</strong> vista profissional, ganha im<strong>por</strong>tância a criação do “Teatro<br />
Ginásio Dramático”, em março <strong>de</strong> 1855, já que nos anos anteriores apenas<br />
João Caetano tinha uma companhia <strong>dramática</strong> fixa, que recebia seu nome:<br />
O Ginásio Dramático nasceu num momento muito especial <strong>da</strong> vi<strong>da</strong><br />
brasileira. O país e particularmente a ci<strong>da</strong><strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
vinham passando <strong>por</strong> uma série <strong>de</strong> transformações, provoca<strong>da</strong>s<br />
pelos efeitos <strong>da</strong> então recente interrupção do tráfico negreiro.<br />
Beneficia<strong>da</strong>s com o dinheiro que antes era investido na compra dos<br />
escravos, algumas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s se expandiram, graças aos negócios que<br />
se multiplicaram, ao comércio que gerou mais empregos, aos<br />
bancos, pequenas indústrias, às ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s, enfim, que foram<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s e gerencia<strong>da</strong>s pela burguesia emergente naquela<br />
altura. (FARIA, 2001:85)<br />
O “Ginásio” recebia uma platéia diferente do “Teatro João Caetano”<br />
(então “Teatro São Pedro <strong>de</strong> Alcântara”), socialmente mais refina<strong>da</strong>, e passou<br />
a abrigar, também, um repertório diferenciado abrindo espaço para as peças<br />
que seguissem a nova estética e relegando ao rival as encenações <strong>de</strong> um<br />
alquebrado romantismo. Faria ressalva:<br />
O realismo nesse tipo <strong>de</strong> peça é evi<strong>de</strong>ntemente relativo, pois o<br />
retrato <strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong> burguesa é sempre melhorado pelas pincela<strong>da</strong>s<br />
moralizantes. Os heróis, <strong>por</strong> exemplo, são com<strong>por</strong>tados pais e mães<br />
<strong>de</strong> família ou moços e moças que têm a cabeça no lugar; e o amor<br />
que vale não é mais a paixão ar<strong>de</strong>nte, mas o amor conjugal, que<br />
<strong>de</strong>ve ser calmo e sereno. Já os vilões, como era <strong>de</strong> se esperar, não<br />
respeitam nenhum valor moral. Po<strong>de</strong>m aparecer na pele <strong>de</strong> uma<br />
prostituta, <strong>de</strong> um caça-dotes, <strong>de</strong> um viciado em jogo, <strong>de</strong> um agiota,<br />
<strong>de</strong> uma personagem, enfim, que seja sempre uma ameaça à maior<br />
instituição burguesa, ou seja, à família. (FARIA, 2001:87)<br />
Prado (2003) <strong>de</strong>staca a intensa produção <strong>dramática</strong> ocorri<strong>da</strong> entre nós<br />
nos anos <strong>de</strong> 1855 a 1865, tempo <strong>da</strong>s novas idéias. Ele evi<strong>de</strong>ncia os nomes <strong>de</strong><br />
Francisco Pinheiro Guimarães, Quintino Bocaiúva e José <strong>de</strong> Alencar que, a<br />
27
<strong>de</strong>speito <strong>da</strong> <strong>de</strong>cepção com o drama histórico romântico anteriormente citado (O<br />
Jesuíta), compõe peças em que o crítico <strong>de</strong>tecta o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> “alcançar um<br />
meio-termo entre o drama enfaticamente dramático, <strong>de</strong>scambando para o<br />
melodrama, e a comédia enfaticamente cômica, confinando com a farsa”<br />
(PRADO, 2003:80), equilibrando-se, <strong>por</strong>tanto, entre os dois gêneros que<br />
imperavam nos palcos brasileiros. Desse esforço do autor <strong>de</strong> Iracema<br />
nasceram O Crédito, As Asas <strong>de</strong> um Anjo, O que é o Casamento, sendo<br />
também obras suas a comédia O Demônio Familiar e o drama Mãe.<br />
Passados esses <strong>de</strong>z anos, Faria afirma que o realismo teatral vai per<strong>de</strong>r<br />
im<strong>por</strong>tância, embora não <strong>de</strong>sapareça <strong>de</strong> todo dos nossos palcos. Ele cita,<br />
como exemplo, Furtado Coelho, que se <strong>de</strong>dicou a encenar novas peças <strong>de</strong><br />
Augier e Dumas Filho ou a reencenar alguns sucessos <strong>de</strong> juventu<strong>de</strong> como<br />
Onfália, <strong>de</strong> Quintino Bocaiúva. Entretanto, acrescenta o crítico, nem mesmo ele<br />
“pô<strong>de</strong> manter-se fiel o tempo todo ao então chamado teatro sério. Como<br />
empresário, sempre que a situação financeira ficava ruim, cedia ao gosto do<br />
gran<strong>de</strong> público pelo teatro do entretenimento.” (FARIA, 2001:144)<br />
Apesar dos esforços <strong>de</strong> seus autores e <strong>da</strong> produção alcança<strong>da</strong>, os<br />
palcos do Rio <strong>de</strong> Janeiro viram-se invadidos “<strong>por</strong> uma espécie <strong>de</strong> avalanche <strong>de</strong><br />
música ligeira, que arrasou o pouco que o romantismo e o realismo haviam<br />
conseguido construir sob a <strong>de</strong>signação <strong>de</strong> drama”, e esse fato, consi<strong>de</strong>ra<br />
Prado, “trouxe consigo a morte <strong>da</strong> <strong>literatura</strong> teatral consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> séria” (PRADO,<br />
2003:85). Faria aponta<br />
... a hegemonia <strong>da</strong>s peças cômicas e musica<strong>da</strong>s, a presença<br />
constante <strong>de</strong> companhias estrangeiras; a inexistência <strong>de</strong> um teatro<br />
amparado pelo governo, o empresário preocupado com os lucros, o<br />
público sem interesse pelo teatro <strong>de</strong> cunho literário... (FARIA,<br />
2001:234)<br />
como os fatores responsáveis pelo fracasso do naturalismo no teatro brasileiro<br />
e para a “<strong>de</strong>rroca<strong>da</strong> <strong>de</strong> to<strong>da</strong> a arte <strong>dramática</strong> do país” (FARIA, 2001:234) 16 .<br />
16 Apenas nas duas primeiras déca<strong>da</strong>s do século XX, segundo este crítico, o naturalismo servirá como<br />
referência para autores e encenadores brasileiros sem que isso significasse a<strong>de</strong>são irrestrita às idéias <strong>de</strong><br />
Zola.<br />
28
Cafezeiro (1996) e Magaldi (1997) chegam a conclusões semelhantes<br />
sobre os autores e períodos anteriormente citados. Seus estudos vão além do<br />
século XIX e <strong>de</strong>bruçam-se também sobre os anos do século XX.<br />
Assinala Cafezeiro que o teatro no Brasil enfrentou um grave problema<br />
com a Primeira Guerra Mundial que impossibilitou o contato cultural com a<br />
Europa, especialmente a França, a que já nos havíamos habituado. Surgiram<br />
crises tanto econômica quanto cultural <strong>por</strong>que, constrangido a uma economia<br />
<strong>de</strong> guerra, o teatro passa a ser visto como supérfluo, acarretando a diminuição<br />
expressiva <strong>da</strong> platéia e o fechamento <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong> números <strong>de</strong> casas <strong>de</strong><br />
espetáculos. Em conseqüência, o que chamei <strong>de</strong> teatro sério – que não era a<br />
preferência <strong>da</strong> maioria <strong>da</strong> platéia – vai ter seu espaço ain<strong>da</strong> mais reduzido.<br />
Nesse período, os estudos citados <strong>de</strong>stacam nomes como Coelho Neto<br />
que cultivou, ao lado <strong>da</strong> comédia tradicional, <strong>da</strong> farsa, dramas com aspectos<br />
simbolistas. Nessa última categoria estão, <strong>por</strong> exemplo, Pelo Amor! “poema<br />
dramático em dois atos [que] (...) <strong>de</strong>ve tudo ao dramalhão <strong>de</strong>liqüescente”<br />
(MAGALDI, 1997:167), Saldunes que “não fica atrás na ruin<strong>da</strong><strong>de</strong>” (MAGALDI,<br />
1997:168); As estações e Ironia que se salvam do dramalhão <strong>por</strong> muito pouco;<br />
A Muralha “mostra-se mais séria e ambiciosa que as anteriores”, mas peca “no<br />
discursivo, na tira<strong>da</strong> e na grandiloqüência” (MAGALDI, 1997:169) e, <strong>por</strong> isso,<br />
não se salva. Também não se salva Neve ao sol, outro dramalhão. Um pouco<br />
melhor saiu “O Dinheiro” “apesar do cunho melodramático” (MAGALDI,<br />
1997:170). Definitivamente, a melhor parte <strong>da</strong> produção <strong>de</strong> Coelho Neto “se<br />
inscreve na tradição cômica brasileira, tempera<strong>da</strong> <strong>por</strong> um intimismo <strong>de</strong><br />
pulsações líricas” (MAGALDI, 1997:178). Dos dramas, segundo este mesmo<br />
crítico, na<strong>da</strong> se aproveita.<br />
Também Cafezeiro e Magaldi <strong>de</strong>stacam a produção <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ntista <strong>de</strong><br />
Goulart <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> (Renúncia, Sonata ao luar, Depois <strong>da</strong> morte...) “cuja<br />
sensibili<strong>da</strong><strong>de</strong> se espraiou em alexandrinos <strong>de</strong> má <strong>literatura</strong>” (MAGALDI,<br />
1997:179); <strong>de</strong> João do Rio com sua A Bela Ma<strong>da</strong>me Vargas em que, não<br />
permitindo que o conflito entre um amor que termina e outro que se inicia<br />
aconteça a contento, confina a peça ao melodrama; Eva que, segundo Magaldi,<br />
29
espera ain<strong>da</strong> uma remontagem inteligente; e Roberto Gomes, que se <strong>de</strong>staca<br />
<strong>por</strong> Berenice e A casa fecha<strong>da</strong>, ambas criações melo<strong>dramática</strong>s.<br />
Magaldi vai apresentar ain<strong>da</strong> Paulo Gonçalves, autor <strong>de</strong> peças <strong>de</strong>siguais<br />
que assina também As Noivas cuja ambiência enfoca a “asfixia <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>, lenta e<br />
inexorável” (Magaldi, 1997:190) que lembra o teatro <strong>de</strong> Tchékov.<br />
Deve ficar claro que, atravessando a já referi<strong>da</strong> crise <strong>por</strong> conta <strong>da</strong><br />
Primeira Guerra e diante <strong>de</strong> tais sínteses, as primeiras déca<strong>da</strong>s do século XX<br />
encontraram, no Brasil, um teatro profissional mais preocupado com o<br />
entretenimento do que com a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> literária dos textos: “um teatro <strong>de</strong><br />
cunho niti<strong>da</strong>mente popular sem maiores pretensões e on<strong>de</strong> a finali<strong>da</strong><strong>de</strong> era<br />
distrair uma platéia não muito exigente, através <strong>de</strong> realizações para as quais<br />
não havia necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> muito apuro.” (DÓRIA, 1975:5). Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong><br />
Prado comenta a rotina dos espetáculos nas primeiras déca<strong>da</strong>s:<br />
As representações efetuavam-se à noite, sem <strong>de</strong>scanso semanal,<br />
em duas sessões, às 20 e 22 horas, afora as vesperais <strong>de</strong> domingo.<br />
As companhias, sobretudo as <strong>de</strong> comédia (...) trocavam <strong>de</strong> cartaz<br />
com uma freqüência que causaria espanto às gerações atuais,<br />
oferecendo não raro uma peça diversa a ca<strong>da</strong> semana. Estréias tão<br />
segui<strong>da</strong>s pressupunham, além <strong>de</strong> muita disciplina, com pelo menos<br />
oito horas <strong>de</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> diária (quatro para os ensaios, à tar<strong>de</strong>; quatro<br />
para os espetáculos noturnos), uma forma especial <strong>de</strong> organização<br />
do trabalho, que possibilitasse essa como que permanente<br />
improvisação.<br />
(...) Variavam as palavras, as peripécias do enredo seriam outras,<br />
mas a linha geral do <strong>de</strong>sempenho já estava assegura<strong>da</strong> <strong>de</strong> antemão<br />
pela experiência que tinha o ator naquele gênero <strong>de</strong> personagem.<br />
(PRADO, 2003: 15-16)<br />
Havia exceções, é certo, com montagens <strong>de</strong> peças mais elabora<strong>da</strong>s<br />
tanto <strong>por</strong> companhias nacionais quanto <strong>por</strong> estrangeiras, sobretudo no Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro. Mas eram eventos que apenas confirmavam a regra e, enquanto o<br />
público em geral sustentava esse viés no teatro, alguns reclamavam maior<br />
serie<strong>da</strong><strong>de</strong> e quali<strong>da</strong><strong>de</strong> artística para a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
A déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30, sendo palco <strong>de</strong> tantos acontecimentos na esfera<br />
internacional e nacional, aguçou nos autores e intelectuais o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> que as<br />
mu<strong>da</strong>nças também chegassem aos seus domínios. As comédias <strong>de</strong> costume,<br />
30
ain<strong>da</strong> a gran<strong>de</strong> presença nos palcos brasileiros, 17 “já não satisfaziam as<br />
exigências morais e artísticas nasci<strong>da</strong>s com a Revolução” (PRADO, 2003:14)<br />
li<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> <strong>por</strong> Getúlio Vargas. As transformações <strong>por</strong> que vinham passando as<br />
Artes <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1922 reclamavam seu espaço também nos palcos.<br />
Para Magaldi, antes dos anos <strong>de</strong> 1930, a iniciativa <strong>de</strong> Eugênia e Álvaro<br />
Moreyra <strong>de</strong> criar o “Teatro <strong>de</strong> Brinquedo”, em 1927, “Alcançou um sentido <strong>de</strong><br />
atualização estética mais próxima dos cânones proclamados pelo mo<strong>de</strong>rnismo”<br />
(MAGALDI, 1997:198). Moreyra foi autor <strong>de</strong> Adão, Eva e outros membros <strong>da</strong><br />
família... que trata <strong>de</strong> um triângulo amoroso entre as personagens Mulher, Um<br />
e Outro. Enquanto as peças se ocupavam <strong>da</strong>s famílias cariocas com seus<br />
namoros e adultérios, Adão... abre a cena com uma prostituta que, trabalhando<br />
tar<strong>de</strong> <strong>da</strong> noite, encontra-se com Outro num banco <strong>de</strong> jardim. Sua experiência<br />
lhe diz que um homem nessas circunstâncias ou é policial ou traficante – e,<br />
nesse caso, ela quer que ele lhe ven<strong>da</strong> “poeira” ou “Cristina”, gírias <strong>da</strong> época<br />
para cocaína. No mesmo cenário, Outro encontra Um e se apresentam,<br />
respectivamente, como ladrão e mendigo estabelecendo uma relação cordial:<br />
UM: Um homem que rouba nunca incomo<strong>da</strong> um homem que pe<strong>de</strong>. O<br />
mendigo é a paródia inocente do ladrão. O ladrão é um mendigo<br />
vaidoso. Entre nós não surgirão rivali<strong>da</strong><strong>de</strong>s. O senhor tem coragem,<br />
arrisca-se. Eu tenho filosofia, estendo a mão. Sou mais comodista. O<br />
senhor conta, no meio dos ancestrais, Alexandre, Napoleão. Eu<br />
<strong>de</strong>scendo humil<strong>de</strong>mente <strong>de</strong> São Francisco <strong>de</strong> Assis. (MOREYRA,<br />
1929: 29)<br />
A tría<strong>de</strong> <strong>de</strong> protagonistas marca uma diferença no teatro <strong>da</strong> época:<br />
afinal, a presença <strong>de</strong> uma prostituta ou <strong>de</strong> um mendigo em cena já não servia<br />
para “personalizar o ridículo, mas para contestar certos aspectos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong>”<br />
(CAFEZEIRO, 1996:431).<br />
No segundo ato, a Mulher torna-se atriz, Outro vira dono <strong>de</strong> jornal e Um<br />
agora é dono <strong>de</strong> uma firma <strong>de</strong> informações falsas, o que o faz um “capitalista”.<br />
Cresce, nesse ato, o número <strong>de</strong> personagens que, seguindo o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
17 Ban<strong>de</strong>ira Duarte, em “Efeméri<strong>de</strong>s do teatro carioca” citado na Bibliografia <strong>de</strong>sta Tese, lista estréias<br />
que, só pelo título, já indiciam quais eram, ain<strong>da</strong>, os gran<strong>de</strong>s espetáculos para o público: “Ai, Seu Melo”,<br />
revista que estreou no Teatro Centenário, com direção <strong>de</strong> Oduvaldo Viana e Viriato Correia em 17/03/22;<br />
“Feitiço”, <strong>de</strong> Oduvaldo Viana, que esteve nos palcos do Teatro Alambra em 09/08/32; “Coisinha boa”,<br />
também <strong>de</strong> Viriato Correia, esteve nos palcos do Teatrinho Meu Brasil em 24/08/34 e, já em 1949, ain<strong>da</strong><br />
há o registro <strong>da</strong> revista “Já vi tudo” no Teatro Follies, <strong>de</strong> Maria Irmã Daniel e Juan Daniel.<br />
31
fábula mo<strong>de</strong>rna, se apresentam também tipificados: Re<strong>da</strong>tor que Acumula,<br />
Secretário, Contínuo Teatral, Jovem Poeta, Escritor e <strong>por</strong> aí vai... Entre Um e<br />
Outro, há uma disputa motiva<strong>da</strong> pelo dinheiro, pelo status, pela Mulher. Um<br />
convence Outro <strong>de</strong> que seu amor pela atriz está comprometendo sua imagem<br />
social e ele termina a relação. Isso não o impe<strong>de</strong>, entretanto, <strong>de</strong> comparecer à<br />
inauguração do bangalô <strong>da</strong> Mulher, agora amante <strong>de</strong> Um.<br />
Descoberta a “trapaça”, Outro usa seu jornal para atacar Um, vingando-<br />
se <strong>de</strong>le. No mesmo cenário do primeiro ato, os homens travam uma discussão<br />
que <strong>por</strong> pouco não se transforma em briga e a Mulher os repreen<strong>de</strong> dizendo<br />
que mais parecem um mendigo e um ladrão (remetendo ao início <strong>da</strong> peça) do<br />
que dois homens <strong>de</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. As ofensas são, então, substituí<strong>da</strong>s <strong>por</strong> um<br />
acordo: Um e Outro serão sócios <strong>de</strong> um novo jornal. Nas últimas falas, as<br />
personagens caem imóveis sobre o banco do jardim e afirmam que seus fios<br />
foram cortados assumindo, assim, a condição <strong>de</strong> bonecos, <strong>de</strong> fantoches como<br />
o autor os quis apresentar.<br />
Na avaliação <strong>de</strong> Cafezeiro, “o texto é fonte <strong>de</strong> uma linguagem nova, <strong>de</strong><br />
uma quebra <strong>de</strong> limites para abor<strong>da</strong>gens temáticas <strong>de</strong>pois <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s, em<br />
rumos diferentes, <strong>por</strong> Joracy Camargo e Nelson Rodrigues” (1996:434), o que<br />
justifica sua im<strong>por</strong>tância histórica.<br />
Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado, avaliando a iniciativa do Teatro <strong>de</strong> Brinquedo,<br />
confirma a posição <strong>de</strong> Gustavo Dória (1976) ao concluir que, a <strong>de</strong>speito do<br />
fracasso <strong>da</strong> empreita<strong>da</strong>, “ficaria alguma coisa mais séria, um pequeno grupo <strong>de</strong><br />
pessoas empenha<strong>da</strong>s na divulgação <strong>de</strong> um repertório menos concessivo ao<br />
gran<strong>de</strong> público” (PRADO, 2003:28). Cafezeiro ain<strong>da</strong> acrescenta que a<br />
experiência teve o mérito <strong>de</strong> introduzir entre nós nomes como Cocteau e<br />
Piran<strong>de</strong>llo, consi<strong>de</strong>rados o que havia <strong>de</strong> mais atual em termos <strong>de</strong> teatro na<br />
época.<br />
A Crítica reconhece também a influência <strong>de</strong> Álvaro Moreyra e sua peça<br />
Adão, Eva e outros membros <strong>da</strong> família..., em Joracy Camargo e seu Deus lhe<br />
pague. Joracy integrou o grupo <strong>de</strong> Álvaro Moreyra 18 e, como ele, também<br />
explorou a temática urbana. Do mestre, Joracy Camargo perpetuou o “teatro <strong>de</strong><br />
18 Foi o “Re<strong>da</strong>tor que Acumula” na estréia <strong>de</strong> Adão... em 10/11/1927 no Cassino Beira Mar e no Teatro<br />
Municipal <strong>de</strong> São Paulo, em 1928. cf: MOREYRA, 1929:11.<br />
32
idéias” o que, segundo Cafezeiro, significava que ele escrevia peças com<br />
“conteúdo filosófico”, ou seja, “que apresentava discussão em torno <strong>de</strong> um<br />
tema e não [...] que <strong>de</strong>screvesse situações ou circunstâncias” (1996:447).<br />
Tal como naquela peça, Deus lhe pague traz a figura <strong>de</strong> um Mendigo e<br />
<strong>de</strong> Outro (mendigo) que conversam à <strong>por</strong>ta <strong>de</strong> uma igreja 19 . O primeiro fala <strong>de</strong><br />
suas idéias sobre a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> e o dinheiro e as falas levaram a Crítica a<br />
associar Deus lhe pague às idéias marxistas. Vale observar que a supressão<br />
<strong>da</strong>s falas do Outro não afeta o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> idéia exposta pelo Mendigo.<br />
MENDIGO: Antigamente, tudo era <strong>de</strong> todos. Ninguém era dono <strong>da</strong><br />
terra e a água não pertencia a ninguém. Hoje, ca<strong>da</strong> pe<strong>da</strong>ço <strong>de</strong> terra<br />
tem um dono e ca<strong>da</strong> nascente <strong>de</strong> água pertence a alguém. Quem foi<br />
que <strong>de</strong>u?<br />
(...)<br />
MENDIGO: Não foi ninguém. Os espertalhões, no princípio do<br />
mundo, apropriaram-se <strong>da</strong>s coisas e inventaram a Justiça e a<br />
Polícia...<br />
(...)<br />
MENDIGO: Para pren<strong>de</strong>r e processar os que vieram <strong>de</strong>pois, Hoje,<br />
quem se apropriar <strong>da</strong>s coisas, é processado pelo crime <strong>de</strong><br />
apropriação indébita. Por quê? Porque eles resolveram que as coisas<br />
pertencessem a eles...<br />
(...)<br />
MENDIGO: (...) Naquele tempo não havia leis. Depois que um<br />
pequeno grupo dividiu tudo entre si, é que se fizeram os Códigos.<br />
Então, passou a ser crime... para os outros, o que para eles era uma<br />
coisa natural. (CAMARGO, 1967: 28-9)<br />
A peça prossegue na mesma dinâmica <strong>de</strong>, através <strong>de</strong> um diálogo<br />
simulado, ex<strong>por</strong> sua tese. O tom do discurso permite ao autor criticar a<br />
organização social <strong>de</strong> seu tempo focalizando a hipocrisia interesseira <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
MENDIGO: (...) O mendigo é, neste momento, uma necessi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
social. Quando eles dizem: “Quem dá os pobres, empresta a Deus”,<br />
confessam que não dão aos pobres, mas emprestam a Deus... Não<br />
há generosi<strong>da</strong><strong>de</strong> na esmola: há interesse. Os pecadores dão, para<br />
19 A peça nasceu <strong>de</strong>pois que o autor, visitando amigos em São Paulo, observou que a ci<strong>da</strong><strong>de</strong> estava cheia<br />
<strong>de</strong> mendigos e que, <strong>de</strong>ntre eles, havia alguns que também esmolavam no Rio. Curioso, abordou um <strong>de</strong>les<br />
que lhe explicou que o interventor fe<strong>de</strong>ral paulista havia baixado um <strong>de</strong>creto <strong>de</strong>terminando que a polícia<br />
tratasse bem aos mendigos, lhes dispensasse atenção e assistência. O mendigo ain<strong>da</strong> teceu um paralelo<br />
entre os mendigos paulistas e cariocas afirmando que os primeiros eram ingênuos e não sabiam como<br />
comover as pessoas, enquanto os cariocas, falando <strong>da</strong> fome, alcançavam melhores resultados. E, graças a<br />
isso, ele mesmo já havia acumulado uma pequena fortuna. Cf. OGAWA, 1972:52.<br />
33
aliviar seus pecados; os sofredores, para merecer as graças <strong>de</strong><br />
Deus. Além disso, é com a miséria <strong>de</strong> um níquel que eles adiam a<br />
revolta dos miseráveis...<br />
(...)<br />
MENDIGO: (...) Com um tostãozinho, compra-se a melhor ilusão <strong>da</strong><br />
vi<strong>da</strong>, <strong>por</strong>que quando a gente diz: “Deus lhe pague...” o esmoler<br />
pensa que no dia seguinte vai tirar cem contos na loteria... Coitados!<br />
São tão ingênuos... Se <strong>da</strong>r uma esmola, um mísero tostão, à saí<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> um “cabaret”, on<strong>de</strong> se gastaram milhares <strong>de</strong> tostões em vícios e<br />
corrupções, redimisse pecados e comprasse a felici<strong>da</strong><strong>de</strong>, o mundo<br />
seria um paraíso. O sacrifício é que redime. Esmola não é sacrifício!<br />
É sobra. É resto. É a alegria <strong>de</strong> quem dá <strong>por</strong>que não precisa pedir.<br />
(CAMARGO, 1967:30)<br />
Admirado com as idéias <strong>de</strong> Mendigo, o Outro se espanta ain<strong>da</strong> mais<br />
quando ele lhe revela que, em ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, é milionário e que ficou assim graças à<br />
mendicância. Então, seguindo as instruções <strong>da</strong> rubrica:<br />
Apagam-se to<strong>da</strong>s as luzes do Teatro. O MENDIGO é substituído <strong>por</strong><br />
um figurante <strong>de</strong> igual tipo, que permanecerá em seu lugar. Ao<br />
mesmo tempo, sobe o telão, <strong>de</strong>saparecendo a igreja e <strong>de</strong>ixando ver<br />
um tablado superior, provido <strong>de</strong> luzes fortes. À frente <strong>de</strong>sse tablado<br />
cai uma cortina <strong>de</strong> gaze. As luzes <strong>da</strong> “avant-scéne” ficam apaga<strong>da</strong>s.<br />
(CAMARGO, 1967:36)<br />
Constituindo, assim, uma atmosfera <strong>de</strong> flashback, o Mendigo conta sua<br />
história que é, na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, dramatiza<strong>da</strong> no palco: empregado numa fábrica, era<br />
casado com Maria e inventou uma máquina que faria o trabalho <strong>de</strong> cem<br />
operários. Interessado, o Senhor, dono <strong>da</strong> empresa, se dirige à casa do<br />
operário em sua ausência e engana sua esposa. Para tanto, não precisa<br />
empreen<strong>de</strong>r nenhum esforço especial <strong>por</strong>que a personagem é tão ingênua que<br />
chega a ser tola. Ela se surpreen<strong>de</strong> ao saber que o Senhor, sendo um<br />
milionário, come, tem dores <strong>de</strong> cabeça e nos rins, bebe água quando tem se<strong>de</strong><br />
e que não an<strong>da</strong> com roupas <strong>de</strong> ouro. O Senhor não tem dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> em<br />
convencê-la a mostrar-lhe os planos: duvi<strong>da</strong> e a <strong>de</strong>safia levando-a a fazer<br />
exatamente o que o marido havia recomen<strong>da</strong>do que não fizesse:<br />
SENHOR: Só vendo...<br />
MARIA: Pois eu vou mostrar ao senhor! (Sai apressa<strong>da</strong> – O<br />
SENHOR levanta-se,visivelmente contente, e vai à <strong>por</strong>ta <strong>de</strong> entra<strong>da</strong><br />
espreitar. MARIA volta, trazendo um canudo <strong>de</strong> lata). Está tudo aqui<br />
nesse canudo! (Entrega-o) Faça o favor <strong>de</strong> ver! (O SENHOR retira os<br />
<strong>de</strong>senhos e examina-os rapi<strong>da</strong>mente) O senhor está muito<br />
enganado! Juca é o homem mais inteligente do mundo!<br />
34
(...)<br />
SENHOR: Mas eu não acredito que ele tenha uma letra bonita.<br />
MARIA: Não acredita?<br />
SENHOR: Não! Só vendo...<br />
MARIA: Pois vai ver! (Sai. SENHOR dobra os <strong>de</strong>senhos, guar<strong>da</strong>-os<br />
no bolso e tampa o canudo. Volta à <strong>por</strong>ta para espreitar. MARIA volta<br />
com um maço <strong>de</strong> papéis) Olha aqui! O senhor viu uma letra mais<br />
bonita? (CAMARGO, 1967:38-39)<br />
Quando o marido chega em casa, Maria lhe conta tudo, feliz <strong>por</strong>que vai<br />
ser milionária também. Ele percebe todo o engano e, ao tentar reaver o que lhe<br />
pertencia, é preso acusado <strong>de</strong> roubo. Maria enlouquece, foge do sanatório e,<br />
segundo seu ex-marido, “Dizem que an<strong>da</strong> pelas ruas a divertir os moleques.”<br />
(CAMARGO, 1967:44) Como se po<strong>de</strong> observar, to<strong>da</strong> trama é força<strong>da</strong> e os<br />
personagens, tão rudimentares, não convencem.<br />
Saindo do flashback e voltando ao cenário primeiro, Mendigo conta que<br />
mora com uma moça muito mais nova, Nancy, e que está esperando que ela<br />
envelheça para ficar com ele. Ela tem outro preten<strong>de</strong>nte, Péricles, que é jovem,<br />
que a <strong>de</strong>seja e po<strong>de</strong>ria ser correspondido, mas é pobre. E Nancy foi<br />
convenci<strong>da</strong> pelo Mendigo que ela <strong>de</strong>ve amar apenas a si mesma e viver uma<br />
vi<strong>da</strong> boa – aquela que ele lhe po<strong>de</strong> pro<strong>por</strong>cionar:<br />
MENDIGO: A felici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>la está comigo. Convenci-a <strong>de</strong> que a<br />
felici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>la está no dinheiro, <strong>por</strong>que dinheiro é que não me falta.<br />
Os homens <strong>de</strong>vem conduzir os <strong>de</strong>sejos <strong>da</strong> mulher para tudo o que<br />
eles possam <strong>da</strong>r. Um poeta faminto é feliz com a mulher <strong>por</strong>que a<br />
convenceu <strong>de</strong> que a suprema felici<strong>da</strong><strong>de</strong> está na miséria. A mulher só<br />
<strong>de</strong>seja o que o homem lhe sugere.<br />
Percebendo que Péricles corteja Nancy, Mendigo dá atenção ao rapaz,<br />
finge acreditar no que ele diz e empresta-lhe dinheiro para, mais tar<strong>de</strong>,<br />
manipulá-los ain<strong>da</strong> uma vez. E é assim que ele vive: não tem um pensamento<br />
carinhoso ou <strong>de</strong> mágoa para a primeira mulher, <strong>de</strong>spreza a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> e parece<br />
alcançar satisfação nos intrincados jogos <strong>de</strong> raciocínio que traça para que<br />
Nancy fique a seu lado. Se Maria é apresenta<strong>da</strong> como uma tola, Nancy é um<br />
“objeto” a ser envelhecido para atendê-lo:<br />
MENDIGO: O senhor está muito atrasado! Na Europa, fabricam-se<br />
objetos antigos com a mesma perfeição com que o Tempo prepara<br />
as mais preciosas rari<strong>da</strong><strong>de</strong>s!<br />
OUTRO: Mas são objetos...<br />
35
MENDIGO: Oh! As mulheres, <strong>por</strong> si mesmas, já são “preciosi<strong>da</strong><strong>de</strong>s”.<br />
Daí, para que sejam objetos raros, é só torná-las diferentes <strong>da</strong>s<br />
outras. (CAMARGO, 1967: 51)<br />
Na sua última carta<strong>da</strong>, o Mendigo, que se apresentava como capitalista<br />
para a mulher, revela-lhe sua ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira “profissão” e sai, <strong>de</strong>ixando-a perplexa<br />
e na companhia <strong>de</strong> Péricles. Contrapondo-se ao Mendigo, o rapaz vai, num<br />
discurso apaixonado, tentar convencer a mulher <strong>de</strong> que a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> é possível<br />
ao seu lado e, <strong>por</strong> sua vez e <strong>por</strong> outro ângulo, também vai criticar a riqueza:<br />
PÉRICLES: Vê, Nancy, todo dinheiro é vil. Este, que eu preten<strong>de</strong>ra<br />
roubar, fora roubado aos pouquinhos. Não <strong>de</strong>ve continuar<br />
procurando a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> no dinheiro. Todo ele é assim. Se não é<br />
roubado, é ganho. E quando é ganho, nem sempre po<strong>de</strong>rá dizer-se<br />
que não é roubado. O dinheiro honesto não vai além do estritamente<br />
necessário para viver. O juro, o ágio, a percentagem, todo o dinheiro<br />
ganho com o dinheiro, é vil. A felici<strong>da</strong><strong>de</strong> está no amor, que é o que<br />
mais tenho para te <strong>da</strong>r. (CAMARGO, 1967: 82)<br />
Embora tenha reconhecido que ama o jovem, Nancy acha que tudo o<br />
que ele lhe oferece é efêmero e, retomando palavras do Mendigo, que apenas<br />
a inteligência é eterna. Nem o amor, nem a beleza, nem a fortuna resistem à<br />
força <strong>da</strong> inteligência e, <strong>por</strong> isso, ela <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> ficar com o Mendigo. Sai à sua<br />
procura e encontra-o na <strong>por</strong>ta <strong>da</strong> igreja. Entrega-lhe o dinheiro que Péricles<br />
tomara emprestado e se afasta, quando o Outro vai atrás <strong>de</strong>la e, reconduzindo-<br />
a <strong>de</strong> volta, garante, no abraço do casal, o final feliz para o espetáculo.<br />
Analisando a peça, Cafezeiro dirá:<br />
... o mendigo <strong>de</strong> Deus lhe pague marca pontos <strong>de</strong> simpatia e<br />
inteligência <strong>por</strong> ser rico, ler Marx; o mendigo pobre sequer possui um<br />
discurso próprio: as suas falas são apenas su<strong>por</strong>te <strong>da</strong> expressão do<br />
rico; (...) predomina o discurso do cinismo. Vence quem é mais<br />
cínico. (CAFEZEIRO, 1996:449)<br />
Magaldi observa que a filosofia do Mendigo é, na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, a do<br />
malandro “que se aproveita <strong>da</strong> hipocrisia social para enriquecer tão ilicitamente<br />
como os outros. Se dão esmolas para comprar a paz <strong>de</strong> espírito, <strong>por</strong> que não<br />
aproveitar-se (sic) <strong>de</strong>ssa falsa generosi<strong>da</strong><strong>de</strong> como mendigo? – essa a sua<br />
lógica” (1997:202). A peça traz embuti<strong>da</strong> uma “tentativa <strong>de</strong> esboçar uma<br />
sabedoria tranqüila <strong>da</strong> miséria” e a lógica <strong>de</strong> que, se a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> é hipócrita, é<br />
36
melhor nos aproveitarmos disso. Para o crítico, o texto se compõe <strong>de</strong> “um<br />
amontoado <strong>de</strong> frases feitas sobre a injustiça, a riqueza e a miséria, com uma<br />
superficiali<strong>da</strong><strong>de</strong> que tem caracterizado a maioria dos êxitos populares”<br />
(1997:203).<br />
A <strong>de</strong>speito <strong>de</strong>stas restrições, Magaldi lembra que a peça <strong>de</strong> Camargo<br />
teve o mérito <strong>de</strong> trazer para os palcos brasileiros, pela primeira vez, o nome <strong>de</strong><br />
Marx num tempo em que “A crítica à or<strong>de</strong>m burguesa correspondia a um<br />
anseio que se polarizaria, logo <strong>de</strong>pois, nos movimentos <strong>de</strong> esquer<strong>da</strong> e <strong>de</strong><br />
direita” (1997:201); <strong>de</strong> satirizar a filantropia <strong>da</strong>s <strong>por</strong>tas <strong>de</strong> igreja e <strong>de</strong> estruturar-<br />
se como um bate-papo “muito próximo do processo discursivo, com o bom-<br />
senso <strong>de</strong> <strong>de</strong>stilar seus conceitos com vivaci<strong>da</strong><strong>de</strong> indolor” (1997:203), fato a que<br />
o crítico atribui o expressivo sucesso que a peça alcançou junto ao público e<br />
através <strong>de</strong> Procópio Ferreira.<br />
Como se po<strong>de</strong> observar, a partir <strong>da</strong>s transcrições e <strong>da</strong>s opiniões críticas,<br />
tratava-se <strong>de</strong> um enredo inofensivo. Apesar disso, no prefácio <strong>da</strong> obra,<br />
Magalhães Jr. informa que a peça “chegou a estar proibi<strong>da</strong> <strong>por</strong> algum tempo<br />
como subversiva, só com tremendo esforço vindo a ser posteriormente<br />
libera<strong>da</strong>” (CAMARGO, 1967).<br />
Gustavo Dória, lembrando que a aura heróica <strong>da</strong> Coluna Prestes já<br />
estava assumindo conotações <strong>de</strong> mito e ganhando a<strong>de</strong>ptos <strong>por</strong> todo país,<br />
inclusive nos meios intelectuais, assinalou que Deus lhe pague... “atendia,<br />
ain<strong>da</strong> que <strong>de</strong> maneira, ingênua, às tendências socializantes que se<br />
apo<strong>de</strong>ravam do nosso meio intelectual” (1976:40). Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado vai<br />
acrescentar que “A duplici<strong>da</strong><strong>de</strong> do texto, cindido entre o seu marxismo <strong>de</strong><br />
superfície e o seu entranhado i<strong>de</strong>alismo, refletia com felici<strong>da</strong><strong>de</strong> as ilusões<br />
<strong>de</strong>sperta<strong>da</strong>s pela Revolução <strong>de</strong> 30 agra<strong>da</strong>ndo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> (...) Jorge Amado (...) até<br />
Getúlio Vargas (...)” (2003:24)<br />
Também <strong>de</strong> 1933 é Amor, <strong>de</strong> Oduvaldo Vianna. Trata-se <strong>de</strong> uma sátira<br />
em três atos e trinta e oito quadros que começa com uma cena muito rápi<strong>da</strong>,<br />
<strong>de</strong> lamento. Diz a rubrica:<br />
(Ouvem-se tiros. A seguir, um grito <strong>de</strong> mulher. Outro tiro. Abre-se a<br />
cortina do plateau n. 1. A parte exterior do vitral <strong>de</strong> uma casa. Ribalta<br />
apaga<strong>da</strong>. Luz interior, <strong>de</strong> maneira a projetar sobre os vidros apenas<br />
37
as sombras <strong>da</strong>s personagens. Vê-se uma <strong>de</strong>las estira<strong>da</strong> sobre um<br />
divan, outra senta<strong>da</strong> e <strong>de</strong> bruços sobre u’a mesa, e a terceira, uma<br />
mulher, abraça<strong>da</strong> ao cadáver do mais moço. Entra uma sombra)<br />
(VIANNA, 1934:9)<br />
O segundo quadro mostra um cemitério on<strong>de</strong> conversam (São) Pedro e<br />
Belzebu, “lugar-tenente do velho Satan”. O diálogo, cheio <strong>de</strong> réplicas irônicas,<br />
bem-humorado, esclarece que as coisas não an<strong>da</strong>m bem nem no céu nem no<br />
inferno: os anjinhos têm sarampo, os <strong>de</strong>mônios estão gripados; o inferno está<br />
cheio e sem dinheiro e a mesma coisa acontece no céu:<br />
BELZEBÚ: Mas as entra<strong>da</strong>s não continuam a ser pagas?<br />
PEDRO: Continuam. Mas os contratos com os nossos agentes foram<br />
muito mal feitos. As entra<strong>da</strong>s são pagas aqui na terra pelos parentes<br />
dos <strong>de</strong>funtos. Nós não recebemos um vintém. Se não conseguirmos,<br />
pelo menos, a meta<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa ren<strong>da</strong>, o remédio será requerer<br />
falência... Em vão temos feito a maior propagan<strong>da</strong> em torno do<br />
man<strong>da</strong>mento: “não matarás”. Os homens se matam barbaramente.<br />
São ca<strong>de</strong>iras elétricas, guilhotinas, guerras, o diabo! Ora, nós não<br />
contávamos com isso. O livre-arbítrio foi uma imensa asneira...<br />
(VIANNA, 1934:11-12)<br />
E a conversa prossegue com Pedro achando que “o mundo está muito<br />
mal feito” (VIANNA, 1934:12), que a coisa vai mal e Belzebu rebate dizendo<br />
que não é assim <strong>por</strong>que, afinal, existe o amor. Nesse momento, sai <strong>de</strong> seu<br />
túmulo Catão, que vai contar sua história. Nesse momento, “fecha-se a cortina<br />
do tableau 3 e ao mesmo tempo que se abre a n.2”, especifica a rubrica<br />
(VIANNA, 1934:16). A peça, antecipando uma estratégia que Ziembinski usará<br />
em Vestido <strong>de</strong> noiva, divi<strong>de</strong> o palco em vários cenários simultâneos que são<br />
acesos à medi<strong>da</strong> que as personagens <strong>de</strong>vem aparecer nas cenas.<br />
Numa sala <strong>de</strong> estar, aparece Lainha lendo um jornal “com ares <strong>de</strong> quem<br />
acaba <strong>de</strong> ter um gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>sastre na vi<strong>da</strong>” (VIANNA, 1934:17). Tem os olhos<br />
vermelhos <strong>de</strong> quem chorou muito e está visivelmente nervosa. Para o público,<br />
ela lê trechos <strong>de</strong> uma crítica elogiosa sobre uma poetisa chama<strong>da</strong> Maria do<br />
Céu que, como se <strong>de</strong>scobrirá, é ela mesma.<br />
Lainha é casa<strong>da</strong> com Artur, um jornalista, e a relação é marca<strong>da</strong> <strong>por</strong><br />
seus ciúmes doentios. Ela exige que ele lhe conte todos os seus passos,<br />
cronometra quanto tempo ele leva para chegar <strong>de</strong> casa ao escritório, do<br />
escritório ao barzinho para tomar um café, do barzinho ao escritório e <strong>de</strong> lá<br />
38
para casa e, simulando com emprega<strong>da</strong> as mesmas ações, telefona-lhe para<br />
se certificar <strong>de</strong> que está on<strong>de</strong> ela imagina. Revista suas coisas, son<strong>da</strong> suas<br />
palavras e, embora tudo indique que ele lhe é fiel (e é), ela está convicta <strong>de</strong><br />
que é traí<strong>da</strong>. Escreve um livro <strong>de</strong> poemas que, às escondi<strong>da</strong>s, publica como<br />
Maria do Céu e <strong>de</strong>dica-lhe um poema, “Amor”. Envia-lhe um exemplar e, sendo<br />
a crítica elogiosa, conclui que ele a trai <strong>por</strong>que ama Maria do Céu – que é ela<br />
mesma.<br />
Para confirmar seu ponto <strong>de</strong> vista, Lainha pe<strong>de</strong> que Ma<strong>da</strong>lena, uma<br />
amiga <strong>de</strong> infância agora viúva, finja ser Maria do Céu. Arrependi<strong>da</strong>, mais tar<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong> ter aceitado a trapaça e apie<strong>da</strong><strong>da</strong> <strong>da</strong> situação do marido, Ma<strong>da</strong>lena acaba<br />
<strong>por</strong> revelar a ver<strong>da</strong><strong>de</strong> a Artur e <strong>de</strong>scobre-se apaixona<strong>da</strong> <strong>por</strong> ele.<br />
Nesse ínterim, a situação do casal já está muito abala<strong>da</strong>. Lainha<br />
contratou um <strong>de</strong>tetive para seguir Artur. Desconfia<strong>da</strong> do profissional, também<br />
paga uma cigana (que lê a sua sorte e sempre confirma que há outra mulher no<br />
caminho do marido) para fazer o mesmo trabalho. E passa o tempo a escrever<br />
cartas anônimas para todos com quem ele se relaciona acusando-o <strong>de</strong> ser um<br />
sedutor sem honra, frustrando seus planos <strong>de</strong> publicar um romance que “as<br />
mulheres vão ler” (VIANNA, 1934:63) – na visão <strong>de</strong> Lainha, mais uma “prova”<br />
<strong>de</strong> que Artur a trai.<br />
Com a atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ma<strong>da</strong>lena <strong>de</strong> <strong>de</strong>smascarar a farsa <strong>de</strong> Maria do Céu,<br />
Artur acaba se separando <strong>de</strong> Lainha e <strong>de</strong>ixa a casa, seguindo para o Rio para<br />
on<strong>de</strong> também vai Ma<strong>da</strong>lena. Artur e ela estão apaixonados, mas <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m<br />
renunciar ao afeto. Lainha vai atrás <strong>de</strong> Artur, jura que mudou, que as coisas<br />
serão diferentes e que serão felizes. Ele concor<strong>da</strong> em voltar para casa se ela<br />
mantiver as promessas que fez. Enquanto ele sai para aten<strong>de</strong>r ao telefone, a<br />
esposa revista o quarto e acaba encontrando cartas <strong>de</strong> Ma<strong>da</strong>lena. Com elas na<br />
mão, chantageia a antiga amiga exigindo que ela lhe entregue as cartas que<br />
Artur escreveu e, conseguindo, comemora:<br />
LAINHA: (...) Embarcamos para São Paulo, mas não humil<strong>de</strong>mente<br />
como ele preten<strong>de</strong>. Não! Ele irá comigo, mas para ser como era,<br />
como quero que seja, meu, submisso, humil<strong>de</strong>, dócil, inferior, vivendo<br />
exclusivamente para mim, não pensando senão em mim! E se não<br />
quiser sujeitar-se, estão aqui as provas para um processo ruidoso <strong>de</strong><br />
adultério, <strong>de</strong>ntro <strong>da</strong>s leis do nosso código penal. Escân<strong>da</strong>lo. Jornais.<br />
39
As suas cartas e as <strong>de</strong>le... E agora só quero ver a cara do miserável.<br />
Deixou-me no hotel para ir <strong>de</strong>spedir-se do jornal e buscar as<br />
passagens. Quando voltar, mostrar-lhe-ei as cartas, e... (VIANNA,<br />
1934:95)<br />
A <strong>de</strong>speito <strong>da</strong> chantagem <strong>da</strong> mulher, ele não volta para casa e a<br />
separação vai parar escan<strong>da</strong>losamente nos jornais com a aju<strong>da</strong> <strong>de</strong> Jocelim,<br />
antigo colega <strong>de</strong> Artur.<br />
Catão (o <strong>de</strong>funto <strong>da</strong>s cenas iniciais que passa to<strong>da</strong> a peça a discutir<br />
questões vernáculas, a <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r a moral e os bons costumes enquanto se<br />
ocupa <strong>de</strong> agiotagem e <strong>de</strong> cortejar a emprega<strong>da</strong>), é advogado <strong>de</strong> Lainha, que<br />
iniciou um processo <strong>de</strong> adultério. Vai visitá-la para garantir que falará com Artur<br />
para que ele se arrepen<strong>da</strong> e volte ao lar quando ele chega e os dois – Lainha e<br />
Catão – comemoram sua “rendição”. No entanto, ele vem transtornado, acusa-<br />
os <strong>de</strong> terem matado Ma<strong>da</strong>lena (que se suicidou com o escân<strong>da</strong>lo) e acaba <strong>por</strong><br />
assassiná-los e <strong>por</strong> se suici<strong>da</strong>r.<br />
De volta ao quadro do cemitério, Pedro aponta a Catão, Lainha e Artur<br />
seus erros, <strong>de</strong>smascarando-os para si mesmos. Arrependidos, pensam em<br />
voltar e, contrariando Belzebu que o aconselha a <strong>de</strong>ixá-los vagando como<br />
almas pena<strong>da</strong>s, Pedro <strong>de</strong>ixa que reencarnem. O Tempo (personagem) informa<br />
que os anos se passaram e aparece Pedro <strong>de</strong>solado queixando-se a Jeová<br />
(que joga truco com Belzebu) que os Catões, Lainhas e Artures não mu<strong>da</strong>m,<br />
que continuam com as mesmas ações.<br />
No espetáculo realizado em São Paulo, em 1932, Jeová autoriza Pedro<br />
a acabar com o mundo, mas recomen<strong>da</strong>-lhe que só atinja os humanos e que<br />
poupe os animais, sobretudo os cachorrinhos. No Rio, como o palco não<br />
com<strong>por</strong>tava o quadro, Oduvaldo Vianna escreveu outro final, em que Pedro<br />
<strong>de</strong>seja reformar a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo a justiça gratuita e a distribuição <strong>da</strong>s<br />
riquezas. Jeová dá-lhe razão e acrescenta que o casamento não <strong>de</strong>verá ser um<br />
negócio comercial, mas que todos <strong>de</strong>verão procurar a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> “na<br />
sinceri<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> um amor ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro” (VIANNA, 1934:115).<br />
A peça revela-se, então, uma <strong>de</strong>fesa do divórcio, tema controverso na<br />
época. Mas, talvez <strong>por</strong>que esse tema tenha ficado diluído nos trinta e oito<br />
quadros <strong>de</strong> peripécias exagera<strong>da</strong>s e bem-humora<strong>da</strong>s, o sucesso <strong>da</strong> peça foi<br />
40
inegável. Informa a edição <strong>de</strong> 1934 que o espetáculo teve duzentas e quarenta<br />
e três apresentações.<br />
Cafezeiro afirma que, antes <strong>de</strong> Oduvaldo Vianna, apenas Qorpo-Santo<br />
“ousara aproximar e mesmo intermediar sem apelo ao recurso <strong>da</strong>s sessões<br />
espíritas” (CAFEZEIRO, 1996:465) os limites fronteiriços <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> e morte. O<br />
crítico prossegue aproximando Lainha e Alaí<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Vestido <strong>de</strong> noiva; Lainha e<br />
Olegário <strong>de</strong> A mulher sem pecado; e a re<strong>da</strong>ção do jornal on<strong>de</strong> trabalha Artur<br />
dos jornalistas também retratados <strong>por</strong> Nelson Rodrigues estabelecendo, nesse<br />
sentido, a influência <strong>de</strong> Vianna sobre Nelson. Assinala que, embora Vestido <strong>de</strong><br />
noiva também tenha o palco dividido em planos, esses são psicológicos e que<br />
os <strong>de</strong> Amor são “físicos”. Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado <strong>de</strong>staca o <strong>de</strong>sejo do autor<br />
“<strong>de</strong> livrar o teatro <strong>da</strong>s restrições costumeiras <strong>de</strong> tempo e espaço” (PRADO,<br />
2003:25).<br />
Outro autor que ganhou <strong>de</strong>staque nos palcos carioca na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30<br />
foi Renato Vianna. Gustavo Dória, com um olhar generoso, ressalta sua<br />
atuação:<br />
Foi autor, intérprete e, principalmente, homem <strong>de</strong> teatro. Nas duas<br />
primeiras manifestações a sua passagem não lhe fez justiça. Como<br />
homem <strong>de</strong> teatro, <strong>por</strong>ém, como diretor <strong>de</strong> cena, como professor e<br />
sobretudo como teórico, ele só encontrou paralelo nas<br />
personali<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> Álvaro Moreyra e, mais tar<strong>de</strong>, Santa Rosa.<br />
(DÓRIA, 1975:13)<br />
Em meio às suas lutas para fun<strong>da</strong>r o Teatro Escola com apoio do<br />
Governo Fe<strong>de</strong>ral e do Distrito Fe<strong>de</strong>ral, Renato Vianna escreve, especialmente<br />
para esse empreendimento, a peça Sexo, que estréia em 29 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong><br />
1934. Seu enredo focaliza uma família nobre, a do con<strong>de</strong> César. Casado com<br />
Van<strong>da</strong>, ele tem dois filhos do primeiro casamento, Carlos (que consi<strong>de</strong>ra Van<strong>da</strong><br />
“moralmente” sua mãe) e Cecy (que a chama <strong>de</strong> “mamãe Van<strong>da</strong>”). Em sua<br />
casa, moram ain<strong>da</strong> dona Amélia, sogra do primeiro casamento e João, seu<br />
irmão boêmio. Completam o elenco dr. Calazans, médico tão amigo <strong>da</strong> família<br />
que Cecy o chama <strong>de</strong> “papai Calazans” e Roberto, preten<strong>de</strong>nte <strong>da</strong> jovem.<br />
O enredo, muito simples, gira em torno <strong>de</strong> lugares-comuns típicos <strong>de</strong><br />
folhetins românticos: Roberto, conhecido <strong>da</strong>s noita<strong>da</strong>s e transgressões <strong>de</strong><br />
41
Carlos, aproxima-se <strong>de</strong> Cecy e eles se apaixonam em segredo, contando com<br />
a proteção <strong>de</strong> dr. Calazans que confia no amor entre eles para redimir o caráter<br />
do moço e fazer a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> afilha<strong>da</strong>. No entanto, Carlos, Van<strong>da</strong> e dona<br />
Amélia não concor<strong>da</strong>m e as mulheres tentam, através <strong>da</strong> influência paterna,<br />
afastar Cecy do namorado. Vendo que os esforços não alcançam o resultado<br />
esperado, Van<strong>da</strong> se <strong>de</strong>sespera e afirma que o casamento não é possível<br />
<strong>por</strong>que o jovem é seu amante, provocando o fim <strong>de</strong> seu próprio casamento.<br />
Van<strong>da</strong> se refugia na casa <strong>de</strong> dr. Calazans. César, sem saber disso,<br />
encontra-se com o médico e pe<strong>de</strong>-lhe satisfações quanto a estar apoiando o<br />
namoro entre a filha e o amante <strong>da</strong> mulher. O amigo, relembrando o<br />
com<strong>por</strong>tamento do outro, acusa-o <strong>de</strong> ter falhado como esposo, <strong>de</strong> não po<strong>de</strong>r<br />
acusar Van<strong>da</strong> <strong>por</strong> um erro que ele mesmo já cometeu tantas vezes e <strong>de</strong> ter<br />
ciúmes como pai. Por fim, afirma que Roberto nunca foi amante <strong>de</strong> Van<strong>da</strong>, que<br />
ela inventou isso <strong>por</strong>que é apaixona<strong>da</strong> pelo jovem. Enquanto isso, Cecy e<br />
Roberto fogem.<br />
Os namorados, já no terceiro ato, aparecem à noite na casa <strong>de</strong> dr.<br />
Calazans e combina-se que se casarão em dois dias e que o médico vai tentar<br />
convencer o pai <strong>de</strong>la a abençoar a união. Na saí<strong>da</strong>, e fora <strong>de</strong> cena, Carlos<br />
mata Roberto. A partir <strong>da</strong>í, sem que apareça em cena, <strong>de</strong>scobre-se que Cecy<br />
ficou <strong>de</strong> cama <strong>por</strong> quatro meses e que foi opera<strong>da</strong> <strong>por</strong> dr. Calazans <strong>por</strong> ter<br />
engravi<strong>da</strong>do. O aborto é um segredo entre o médico, a jovem e a avó, que<br />
<strong>de</strong>scobre tudo. Carlos enfrenta um processo judicial (com o qual, graças à sua<br />
posição social, não precisa se preocupar) e <strong>de</strong>seja partir; César, cujo lar está<br />
arruinado, vai buscar a filha na casa do médico. Chega Van<strong>da</strong> para se <strong>de</strong>spedir<br />
<strong>de</strong> dr. Calazans e o casal acaba reatando a relação. Assim, com o<br />
<strong>de</strong>saparecimento do jovem Roberto, a família volta à situação inicial com a<br />
honra <strong>de</strong> todos a salvo.<br />
No drama, Cecy é uma personagem semelhante às heroínas românticas<br />
tanto no caráter (ou na ausência <strong>de</strong>le, no sentido <strong>de</strong> que parece guiar-se<br />
apenas pela emoção que os outros lhe <strong>de</strong>spertam, seja o amor ao pai, ao<br />
médico ou ao namorado) quanto na linguagem. Eis o bilhete que <strong>de</strong>ixa ao pai<br />
quando vai fugir com Roberto, uma ação romântica típica:<br />
42
CALAZANS (lendo) “Papai. Roberto jurou-me que está inocente e<br />
veio buscar-me. Eu não po<strong>de</strong>ria viver sem ele. Perdoe. Perdoem-me<br />
todos. Deixo um beijo para você, outro para Vovó, outro para tio<br />
João, outro para Carlitos e o último para papai Calazans... Cecy”.<br />
(VIANNA, s/d: 78-79)<br />
A família, excetuando as farpas troca<strong>da</strong>s entre César e Van<strong>da</strong> <strong>por</strong> causa<br />
<strong>de</strong> sua insatisfação (justifica<strong>da</strong>, no parecer <strong>de</strong> dona Amélia e dr. Calazans) 20 no<br />
casamento, é harmônica e amorosa. Cecy adora o irmão e a avó, além do pai e<br />
todos parecem adorá-la e, segundo o médico, é o ciúme que os leva a rejeitar a<br />
união <strong>de</strong>la com o namorado. No final, a harmonia volta ao lar que se restaura,<br />
mantendo-se preserva<strong>da</strong> a família.<br />
Cafezeiro associa Renato Vianna ao “teatro <strong>de</strong> idéias”, aproximando-o<br />
<strong>de</strong> Álvaro Moreyra e <strong>de</strong> Joracy Camargo. Afirma o crítico que o autor<br />
... põe no palco salões abastados, bibliotecas <strong>de</strong> ricos intelectuais.<br />
Os criados estão no texto apenas para o exercício <strong>de</strong> funções<br />
secundárias, não são estu<strong>da</strong>dos como seres humanos e sequer<br />
participam dos dramas. Títulos <strong>de</strong> nobreza e altas distinções<br />
completam o cenário <strong>de</strong> uma classe que necessita reabilitar-se<br />
diante <strong>de</strong> Deus. Ao mesmo tempo (e contraditoriamente), há a<br />
<strong>de</strong>fesa do po<strong>de</strong>r <strong>da</strong>s elites intelectuais e econômico-financeiras;<br />
constrói-se, <strong>de</strong>ssas elites, a imagem i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> honra<strong>de</strong>z e beleza,<br />
mo<strong>de</strong>lo ético para as <strong>de</strong>mais classes. (CAFEZEIRO, 1996:368)<br />
O crítico assinala o “passadismo” do autor quando este reflete sobre a<br />
moral tradicional. Em Sexo, percebe o crítico, não há a intenção <strong>de</strong> discutir a<br />
moral burguesa profun<strong>da</strong>mente, mas, ao contrário, há o interesse <strong>de</strong> conservar<br />
suas bases “reformulando alguns aspectos do seu exercício, como a hipocrisia”<br />
(1996:367). Para Cafezeiro, em Renato Vianna, a ver<strong>da</strong><strong>de</strong> é procura<strong>da</strong> em<br />
Deus e nas discussões sobre o com<strong>por</strong>tamento do homem ante sua<br />
consciência e a ética: “Trata-se <strong>de</strong> reatar os laços rompidos, entre Deus e o<br />
homem, pela mo<strong>de</strong>rni<strong>da</strong><strong>de</strong>” (1996:370).<br />
20 De acordo com o terceiro volume <strong>da</strong> História <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong> no Brasil, com as transformações<br />
opera<strong>da</strong>s na vi<strong>da</strong> urbana especialmente nas três primeiras déca<strong>da</strong>s do século XX nas gran<strong>de</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
brasileiras (Rio e São Paulo) “intelectuais <strong>de</strong> ambos os sexos elegeram como os legítimos responsáveis<br />
pela suposta corrosão <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m social a quebra <strong>de</strong> costumes, as inovações nas rotinas <strong>da</strong>s mulheres e,<br />
principalmente, as modificações nas relações entre homens e mulheres”. Com isso, assuntos que até<br />
então não vinham à baila, passaram a ser objeto <strong>de</strong> exame. A Revista Feminina, im<strong>por</strong>tante publicação <strong>da</strong><br />
época, exibiu artigos <strong>de</strong> homens e <strong>de</strong> mulheres culpando uns aos outros pelas dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s conjugais. A<br />
insatisfação <strong>de</strong> Van<strong>da</strong> com o casamento retomava a discussão <strong>de</strong> anos anteriores e, feita <strong>de</strong> forma<br />
superficial, não provocaria mais escân<strong>da</strong>lo.<br />
43
Também Magaldi não é muito generoso com o autor nem com o drama.<br />
Para ele, a <strong>de</strong>speito <strong>da</strong> contribuição inegável que Renato Vianna possa ter<br />
legado ao teatro, seu pioneirismo fica apagado pela irremediável fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
suas composições:<br />
Sexo (...) <strong>de</strong>fine-se como um total equívoco, a começar pelo título,<br />
que na<strong>da</strong> tem a ver com o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> trama. Os episódios<br />
são melodramáticos e falsos, um cerebralismo sem substrato insinua<br />
uma enganosa profundi<strong>da</strong><strong>de</strong>, e o resultado seria forçosamente<br />
lamentável. (...) A melodramatici<strong>da</strong><strong>de</strong> alimenta-se continuamente <strong>por</strong><br />
diálogos subliterários. (MAGALDI, 1997:197)<br />
Apesar <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>feitos facilmente notáveis, DÓRIA informa que “A peça<br />
foi recebi<strong>da</strong> com restrições pela crítica, que a situou como violenta e ousa<strong>da</strong>”<br />
(1975:16), o que já indicia o horizonte <strong>da</strong>s expectativas do público e <strong>da</strong> Crítica<br />
época.<br />
Aliás, a Critica merece um parágrafo à parte. Informa Ogawa, na sua<br />
Dissertação, que o critico teatral dos primeiros anos <strong>de</strong> 30 não era um<br />
especialista em arte e, não raro, nem mesmo em teatro. Suas ocupações<br />
pareciam mais as <strong>de</strong> um cronista social, <strong>de</strong> um propagandista dos espetáculos<br />
ou <strong>de</strong> um documentador 21 :<br />
Era uma espécie <strong>de</strong> indivíduo que contribuía para a criação dos<br />
mitos artísticos e sociais: exaltava – um chamariz para o espetáculo<br />
– ou então fazia crônica social a fim <strong>de</strong> mostrar a im<strong>por</strong>tância social<br />
<strong>de</strong> se freqüentar teatro, isto na medi<strong>da</strong> em que citava personali<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
que freqüentavam o espetáculo. (OGAWA, 1972:75)<br />
Um bom espetáculo seria aquele que mantivesse um clima <strong>de</strong> animação<br />
durante to<strong>da</strong> a apresentação. No entanto, como isso po<strong>de</strong>ria ocorrer <strong>de</strong><br />
diversas maneiras, ao crítico cabia a “crítica moral”, alertando quanto ao tipo <strong>de</strong><br />
conteúdo: havia peças que se prestavam a to<strong>da</strong>s as platéias (especialmente às<br />
femininas) e aquelas “picantes” que eram apropria<strong>da</strong>s para os homens.<br />
21 Levando-se em conta que os nomes que ela cita continuam em cena nos anos 40, po<strong>de</strong>-se, sem<br />
dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>, consi<strong>de</strong>rar que esse <strong>de</strong>spreparo profissional se prolongou <strong>por</strong> to<strong>da</strong> a déca<strong>da</strong> e marcou muitos<br />
pontos-<strong>de</strong>-vista críticos <strong>de</strong> então.<br />
44
“Resulta então que os espetáculos <strong>da</strong> época também eram analisados <strong>de</strong><br />
acordo com esse padrão <strong>de</strong> valores.” (OGAWA, 1972:78) 22<br />
Voltando a Renato Vianna, também Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado <strong>de</strong>staca<br />
que tanto Sexo quanto Deus lhe pague..., <strong>de</strong> Joracy Camargo, anteriormente<br />
analisado, foram “au<strong>da</strong>ciosas quanto ao conteúdo, mas não a ponto <strong>de</strong><br />
afugentar o público” (2003:25). Entretanto, em termos <strong>de</strong> renovação dos<br />
processos <strong>de</strong> dramaturgia, não houve praticamente nenhuma contribuição,<br />
sendo esses textos her<strong>de</strong>iros <strong>da</strong>s peças <strong>de</strong> tese do século anterior.<br />
Deus, outra peça <strong>de</strong> Renato Vianna, estreou dia primeiro <strong>de</strong> maio <strong>de</strong><br />
1935. Sobre ela, DÓRIA apenas comenta ser “excelente material para <strong>de</strong>bate”,<br />
calando sobre a recepção crítica. Quanto aos seus méritos artísticos, Magaldi<br />
reitera sua opinião:<br />
A ruin<strong>da</strong><strong>de</strong> do drama Deus (...) não fica atrás <strong>da</strong> <strong>de</strong> Sexo. (...)<br />
Não há uma criatura e uma situação ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira nesse emaranhado<br />
abstrato. Otávio é um vilão <strong>de</strong> melodrama, Roberto, um sábio<br />
convencional, Leonel, um padre <strong>de</strong> figurino, o entrecho não se<br />
<strong>de</strong>senvolve com base numa necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> interior. Mas o pior <strong>de</strong> tudo<br />
é o mau gosto literário dos diálogos... (MAGALDI, 1997: 197-198)<br />
Neste drama, o professor Roberto Mac-Dowell, renomado pesquisador<br />
na área <strong>de</strong> psicologia, é casado pela segun<strong>da</strong> vez com Vera, tem uma filha<br />
(Sônia) que preten<strong>de</strong> casar com Otávio, seu assistente. Mora com eles d. Alice,<br />
a sogra do primeiro casamento e, no lugar do médico amigo do drama anterior,<br />
este apresenta padre Lionel com as mesmas características.<br />
O primeiro ato traz Vera confessando seu adultério a padre Lionel e sua<br />
gravi<strong>de</strong>z. Diferente <strong>de</strong> dr. Calazans, que sacrificara o filho <strong>de</strong> Cecy para salvar<br />
sua honra, o padre afirma que <strong>de</strong>ve poupar a criança, mesmo que isso<br />
signifique sua <strong>de</strong>sonra. E o tom religioso, que não era acentuado em Sexo, vai<br />
percorrer to<strong>da</strong> a peça:<br />
LEONEL: (...) Eis a inconsciência do século, a cegueira dos instintos,<br />
a força bruta <strong>de</strong> uma natureza sem Deus, <strong>de</strong> uma socie<strong>da</strong><strong>de</strong> sem<br />
moral ou <strong>de</strong> uma triste e ári<strong>da</strong> moral sem fé... (VIANNA, s/d:133)<br />
22 Há ecos <strong>de</strong>ssa postura, <strong>por</strong> exemplo, numa crítica que Pedro Bloch faz ao Escravo, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>,<br />
transcrita no segmento 3.3.1 <strong>de</strong>sta Tese.<br />
45
Sai Vera e entra Sônia, uma sósia <strong>de</strong> Cecy. As mulheres, nesses<br />
dramas <strong>de</strong> Renato Vianna, ain<strong>da</strong> ocupam a posição secundária em relação aos<br />
homens, a quem cabe guiá-las e <strong>de</strong>fendê-las sendo, <strong>por</strong>tanto, responsáveis <strong>por</strong><br />
seus <strong>de</strong>svios <strong>de</strong> conduta 23 . É o que diz Corina (irmã <strong>de</strong> dr. Calazans) a João<br />
em Sexo e o que diz padre Lionel a Vera: “(...) é o marido e o professor. A<br />
senhora é a discípula <strong>de</strong> uma época impiedosa, <strong>de</strong> um século <strong>de</strong> <strong>de</strong>sespero e<br />
<strong>de</strong>cadência. (...) Ele não tem o direito <strong>de</strong> con<strong>de</strong>ná-la (...)” (VIANNA, s/d:135)<br />
Na conversa <strong>de</strong> Sônia com o padre, <strong>de</strong>scobre-se que ela sempre<br />
<strong>de</strong>sejou ser freira, mas que vai se casar com Otávio para agra<strong>da</strong>r ao pai,<br />
embora o padre julgue que essa é uma <strong>de</strong>cisão que a fará infeliz:<br />
SONIA: Nunca o serei tendo o amor <strong>de</strong> meu pai, o amor <strong>de</strong> minha<br />
avó e o seu amor, meu gran<strong>de</strong> e ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro amigo! A<strong>de</strong>mais, não<br />
tenho razões para duvi<strong>da</strong>r do amor <strong>de</strong> Otávio. Tenho <strong>por</strong> ele uma<br />
gran<strong>de</strong> simpatia e to<strong>da</strong> a gente diz que simpatia é quase amor...<br />
(VIANNA, s/d:142)<br />
Ain<strong>da</strong> neste ato, entra Mag<strong>da</strong>, amiga <strong>de</strong> infância <strong>de</strong> Vera. Descobre-se,<br />
então, que Otávio foi seu amante e <strong>de</strong> Vera e que preten<strong>de</strong> casar-se com a<br />
filha e a fortuna do professor MacDowell.<br />
No segundo quadro <strong>de</strong>ste ato, Vera está <strong>de</strong>lirando em conseqüência <strong>de</strong><br />
um aborto mal feito e Sônia, escondi<strong>da</strong>, <strong>de</strong>scobre que o pai foi traído, mas não<br />
sabe que Otávio está envolvido. Padre Lionel, a pedido <strong>de</strong> Vera, aparece para<br />
pedir a Otávio que <strong>de</strong>ixe a casa <strong>de</strong> MacDowell e <strong>de</strong>sista do casamento. Se ele<br />
se recusar, o padre irá revelar ao professor todos os seus atos. Otávio pe<strong>de</strong><br />
vinte e quatro horas. Entra Roberto MacDowell, que pergunta a Lionel o que<br />
está acontecendo em sua casa, <strong>por</strong> que todos conspiram contra o casamento e<br />
o amigo lhe diz que <strong>de</strong>ve evitá-lo, sugerindo que Sônia só está aceitando o fato<br />
para agradá-lo. Ele a chama e pergunta se é ver<strong>da</strong><strong>de</strong>. Magoa<strong>da</strong> com o padre,<br />
23 Informa a História <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong> que “Vários preceitos do Código Civil <strong>de</strong> 1916 sacramentavam a<br />
inferiori<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> mulher casa<strong>da</strong> ao marido. Ao homem, chefe <strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong> conjugal, cabia a representação<br />
legal <strong>da</strong> família, a administração dos bens comuns do casal e dos particulares <strong>da</strong> esposa segundo o regime<br />
matrimonial adotado, o direito <strong>de</strong> fixar e mu<strong>da</strong>r o local <strong>de</strong> domicílio <strong>da</strong> família. Ou seja, a nova or<strong>de</strong>m<br />
jurídica incor<strong>por</strong>ava e legalizava o mo<strong>de</strong>lo que concebia a mulher como <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e subordina<strong>da</strong> ao<br />
homem, e este como senhor <strong>da</strong> ação. A esposa foi, ain<strong>da</strong>, <strong>de</strong>clara<strong>da</strong> relativamente inabilita<strong>da</strong> para o<br />
exercício <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados atos civis, limitações só comparáveis às que eram impostas aos pródigos, aos<br />
menores <strong>de</strong> i<strong>da</strong><strong>de</strong> e aos índios.” (MALUF e MOTT, 1998: 375). As palavras <strong>de</strong> Corina e Lionel<br />
confirmam o apoio i<strong>de</strong>ológico do que o sistema legal já estabelecia e que se <strong>de</strong>sejava consenso na<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
46
sentindo-se traí<strong>da</strong>, ela nega e diz que está feliz em casar-se. MacDowell<br />
expulsa o amigo <strong>de</strong> casa e Sônia, choca<strong>da</strong>, volta atrás e confessa seu<br />
<strong>de</strong>sagrado. O professor expulsa os dois.<br />
No terceiro ato, Vera aparece interrompendo o trabalho e <strong>de</strong>sagra<strong>da</strong>ndo<br />
o marido, mas insiste em falar com ele. Revela o adultério e o aborto,<br />
aconselha-o a chamar Sônia <strong>de</strong> volta num discurso impregnado <strong>de</strong> pieguismo:<br />
VERA: (...) Man<strong>de</strong> buscar logo a Sônia para lhe fazer companhia...<br />
para o amar com você merece e como eu não soube fazê-lo. Não se<br />
abata, meu nobre amigo... Que vale uma reles mulher na vi<strong>da</strong> <strong>de</strong> um<br />
homem como você? Maculei a sua honra? Não... Um sábio é como<br />
um santo: a lama do caminho eles a transfiguram na luz <strong>da</strong> glória e<br />
do perdão... Man<strong>de</strong> logo buscar a Sônia... Esse imaculado amor é o<br />
amor dos justos como você... Man<strong>de</strong>... man<strong>de</strong> logo buscar a Sônia...<br />
(VIANNA, s/d: 209)<br />
Vera sai e, fora <strong>de</strong> cena, ouve-se o tiro <strong>de</strong> seu suicídio. Otávio entra<br />
correndo para avisar ao professor do acontecido e o Roberto agri<strong>de</strong>. Diz a<br />
rubrica:<br />
Otávio, dominado mais pela incomensurável força moral <strong>da</strong>quele<br />
frágil sábio gigante não faz um gesto <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa – e ajoelha aos pés<br />
<strong>de</strong> Roberto, asfixiado <strong>por</strong> duas mãos crispa<strong>da</strong>s que parecem garras.<br />
(VIANNA, s/d: 209)<br />
Cafezeiro assinala que Freud, cujas idéias ganhavam, a ca<strong>da</strong> dia, mais<br />
corpo na Europa, é referência em quase to<strong>da</strong>s as peças <strong>de</strong> Renato Vianna,<br />
embora nunca discutido profun<strong>da</strong>mente. Serve, contudo, para “<strong>da</strong>r o tom que<br />
indica uma <strong>da</strong>s vertentes <strong>da</strong>s suas especulações sobre a ver<strong>da</strong><strong>de</strong>. Es<strong>por</strong>te a<br />
que se <strong>de</strong>dicam as personagens, umas para buscar o sentido <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>, outras<br />
para ter com que passar o tempo” (CAFEZEIRO, 1996:369).<br />
Para Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado, contudo, essa presença tem seu valor na<br />
história dos temas do teatro brasileiro:<br />
De qualquer forma, a peça [Sexo], ao <strong>de</strong>nunciar a tirania sexual<br />
masculina e ao insinuar que o ciúme dos maridos e dos irmãos se<br />
alimentavam (sic) às vezes <strong>de</strong> motivos menos nobres do que eles<br />
mesmos supunham, alargava o âmbito <strong>de</strong> nossa tími<strong>da</strong> <strong>literatura</strong><br />
<strong>dramática</strong>, inserindo nela um leitmotiv que só em tempos recentes<br />
receberia sua competente orquestração. (PRADO, 2003:24-25)<br />
47
Essas foram, em linhas gerais, as tentativas <strong>de</strong> fazer do teatro algo mais<br />
do que as comédias <strong>de</strong> costumes, a que o gran<strong>de</strong> público se acostumara, no<br />
teatro brasileiro nos anos 30. Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado, avaliando o período,<br />
chama a atenção para o fato <strong>de</strong> que to<strong>da</strong>s elas <strong>de</strong>senvolviam-se <strong>de</strong>ntro <strong>da</strong><br />
estrutura do teatro comercial “sem questionar nem os seus métodos, nem os<br />
seus fins” (PRADO, 2003:26). Ele conclui que o teatro comercial não conseguiu<br />
consoli<strong>da</strong>r nenhuma <strong>da</strong>s renovações a que se propusera:<br />
... não resistira ao impacto do cinema, per<strong>de</strong>ndo continuamente<br />
terreno enquanto diversão popular; na<strong>da</strong> dissera <strong>de</strong> fun<strong>da</strong>mental<br />
sobre a vi<strong>da</strong> brasileira, não conseguindo passar adiante, como<br />
almejara certo momento, as mensagens revolucionárias <strong>de</strong> Marx e<br />
<strong>de</strong> Freud; e sobretudo não soubera incor<strong>por</strong>ar as novas tendências<br />
literárias (nem a ópera <strong>de</strong> Mário nem as peças <strong>de</strong> Oswald foram<br />
encena<strong>da</strong>s em vi<strong>da</strong> <strong>de</strong> seus autores), como já vinha acontecendo, <strong>de</strong><br />
um modo ou <strong>de</strong> outro, com a poesia e o romance. Entre o gueto<br />
mo<strong>de</strong>rnista e o repertório corrente em palcos nacionais, não surgira<br />
qualquer compromisso aceitável para ambas as partes. (PRADO,<br />
2003: 36-37)<br />
É certo que, diz o crítico, algo se modificou: os espetáculos ficaram mais<br />
amplos e flexíveis, ultrapassando a sala <strong>de</strong> visitas <strong>da</strong> comédia <strong>de</strong> costumes;<br />
preocupações morais ou sociais vinham, vez <strong>por</strong> outra, perturbar a cena.<br />
Contudo, a maneira como o teatro consi<strong>de</strong>rava-se a si próprio e suas relações<br />
com o público permaneciam inaltera<strong>da</strong>s e aí residiam, para Prado (2003), os<br />
gran<strong>de</strong>s problemas a serem resolvidos.<br />
Mas as tentativas <strong>de</strong> renovação não ficaram apenas no âmbito dos<br />
espetáculos, atingindo também a questão <strong>da</strong>s companhias, como a <strong>de</strong> Álvaro e<br />
Eugênia Moreyra, anteriormente cita<strong>da</strong>. E, se o teatro comercial não conseguia<br />
ir muito além do que já se esboçou, coube aos amadores a modificação dos<br />
palcos do teatro nacional.<br />
Tributário do “Teatro <strong>de</strong> Brinquedo”, o “Teatro do Estu<strong>da</strong>nte” foi uma<br />
iniciativa do diplomata Paschoal Carlos Magno que contou com a participação<br />
<strong>da</strong>s atrizes Itália Fausta e, num segundo momento, Ester Leão. Seu objetivo<br />
era, contando com um elenco <strong>de</strong> jovens universitários, trazer ao público obras<br />
im<strong>por</strong>tantes do repertório universal que, pelo custo e pelas dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s,<br />
dificilmente seriam apresenta<strong>da</strong>s <strong>por</strong> elencos profissionais. Segundo Dória<br />
48
(1975), o “Teatro do Estu<strong>da</strong>nte” <strong>de</strong>u maior <strong>de</strong>staque ao papel do diretor num<br />
momento em que a primazia do espetáculo era do primeiro ator; cortou o ponto,<br />
presença comum nos palcos brasileiros; valorizou o trabalho <strong>de</strong> cenaristas e<br />
figurinistas sob orientação do diretor e impôs, nos diálogos, a fala brasileira em<br />
<strong>de</strong>trimento do sotaque lusitano 24 .<br />
Na mesma iniciativa <strong>de</strong> <strong>da</strong>r continui<strong>da</strong><strong>de</strong> às diretrizes traça<strong>da</strong>s pelo<br />
“Teatro <strong>de</strong> Brinquedo”, <strong>de</strong>z anos antes, e tendo como precursor imediato o<br />
“Teatro do Estu<strong>da</strong>nte”, nasceu, em 1938, o grupo “Os Comediantes”. Segundo<br />
Magaldi (1997), não havia nenhuma diretriz previamente traça<strong>da</strong> para a<br />
escolha <strong>de</strong> seu repertório, nem coerência nos seus propósitos artísticos. Mas<br />
um lema era possível distinguir-se em meio às dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s financeiras,<br />
<strong>de</strong>sânimos e entusiasmos que animavam seus componentes: to<strong>da</strong>s as peças<br />
<strong>de</strong>veriam ser um gran<strong>de</strong> espetáculo. O grupo marcou-se, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início <strong>por</strong><br />
uma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pesquisa e estudo eminentemente volta<strong>da</strong> para uma<br />
atualização com as correntes européias, guia<strong>da</strong>s principalmente <strong>por</strong> Santa<br />
Rosa, “que <strong>de</strong>fendia a criação <strong>de</strong> cursos, visando a uma homogenei<strong>da</strong><strong>de</strong> do<br />
com<strong>por</strong>tamento especulativo” (CAFEZEIRO, 1996:479).<br />
A esse grupo veio juntar-se, em 1941, o polonês Ziembinski, refugiado<br />
<strong>da</strong> Guerra. Segundo seu próprio <strong>de</strong>poimento, publicado na Dionysos em edição<br />
monográfica <strong>de</strong>dica<strong>da</strong> a “Os Comediantes”, seu primeiro trabalho com o grupo<br />
foi a iluminação <strong>de</strong> A ver<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> um, <strong>de</strong> Piran<strong>de</strong>llo que provocou<br />
admiração na equipe e o convite a que a eles se juntasse permanentemente.<br />
Mas, consi<strong>de</strong>ra Ziembisnki: “os integrantes <strong>de</strong> ‘Os Comediantes’ tinham<br />
recursos próprios para viver. Eu não. Eu tinha que tentar começar minha vi<strong>da</strong><br />
profissional.” (DIONYSOS, 1975:55).<br />
Por esse motivo, ele se afastou <strong>por</strong> um tempo para, mais tar<strong>de</strong>,<br />
participar <strong>de</strong> uma tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong> gratuita que pretendia “mostrar ao público<br />
brasileiro pela primeira vez o conceito teatral que se trazia <strong>de</strong> fora, que se<br />
24 CAFEZEIRO (1996) registra uma ressalva <strong>de</strong> Deocélia Vianna quanto a este último ponto: ela tributa<br />
esse mérito ao marido Oduvaldo e à sua Companhia, cria<strong>da</strong> em 1922 juntamente com Nicolino Viggiani<br />
e Viriato Correia.<br />
49
tentava implantar no teatro brasileiro.” (DIONYSOS, 1975:55) 25 . Ficariam sob<br />
sua responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> três espetáculos, entre os quais Vestido <strong>de</strong> Noiva, <strong>de</strong><br />
Nelson Rodrigues. Sobre os ensaios, lembra o autor carioca:<br />
O ensaio geral <strong>de</strong> Vestido <strong>de</strong> Noiva foi o próprio inferno. Com os<br />
seus trinta anos, Ziembinski tinha uma resistência física brutal. Os<br />
intérpretes sabiam o texto, sabiam as inflexões, os movimentos, tudo.<br />
Durante sete meses, à tar<strong>de</strong> e à noite, a peça fora repisa<strong>da</strong> até o<br />
limite extremo <strong>da</strong> saturação. Mas faltava ain<strong>da</strong> a luz. E Ziembinski<br />
exigia mais do elenco ca<strong>da</strong> vez mais.<br />
Não posso falar <strong>da</strong> luz sem lhe acrescentar um ponto <strong>de</strong><br />
exclamação. Em 1943, o nosso teatro não era iluminado<br />
artisticamente. Pendurava-se, no palco, uma lâmpa<strong>da</strong> <strong>de</strong> sala <strong>de</strong><br />
visitas, ou <strong>de</strong> jantar. Só. E a luz fixa, imutável e burríssima, na<strong>da</strong><br />
tinha a ver com os textos e os sonhos <strong>da</strong> carne e <strong>da</strong> alma.<br />
Ziembinski era o primeiro, entre nós, a iluminar poética e<br />
dramaticamente uma peça. (DIONYSOS, 1975:51)<br />
As transformações que a peça traria eram tão gran<strong>de</strong>s que Nelson<br />
confessa seu receio do fracasso às vésperas <strong>da</strong> estréia. Assiste à exaustão do<br />
elenco, à obsessão <strong>de</strong> Ziembinski pela luz exata, às brigas provoca<strong>da</strong>s pelo<br />
cansaço e, sobretudo, lembra-se do cenário nacional que com<strong>por</strong>á o pano <strong>de</strong><br />
fundo para o seu palco:<br />
Ah, o meu processo <strong>de</strong> ações simultâneas, em tempos diferentes<br />
não tinha função no Brasil. O nosso teatro era ain<strong>da</strong> Leopoldo Fróes.<br />
Sim, ain<strong>da</strong> usava o colete, as polainas e o sotaque lisboeta <strong>de</strong><br />
Leopoldo Fróes. E ninguém perdoaria a <strong>de</strong>sfaçatez <strong>de</strong> uma tragédia<br />
sem “linguagem nobre”. Ao entrar em casa, eu não acreditava mais<br />
em mim. E me perguntava, inconsolável: “Como é que eu fui meter<br />
gíria numa tragédia?” (DIONYSOS, 1975:53)<br />
A <strong>de</strong>speito <strong>de</strong> suas dúvi<strong>da</strong>s, contudo, era Ziembinski quem estava com a<br />
razão: Vestido <strong>de</strong> Noiva foi um sucesso e é consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>, pela maioria <strong>da</strong><br />
crítica, o marco renovador do Teatro Nacional.<br />
“Os Comediantes” ain<strong>da</strong> estiveram nos palcos <strong>por</strong> um tempo e passaram<br />
<strong>por</strong> uma fase profissional. Problemas financeiros levaram à dissolução do<br />
grupo, que <strong>de</strong>ixou um legado im<strong>por</strong>tante a todos que não queriam mais insistir<br />
nas velhas fórmulas: <strong>de</strong>pois dos espetáculos do grupo, os métodos antigos já<br />
25 Embora as peças <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> tenham sido consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>s “literárias <strong>de</strong>mais”, os textos nacionais escolhidos<br />
para serem levados ao palco foram O Escravo e Vestido <strong>de</strong> noiva, <strong>de</strong> Nelson Rodrigues. A seleção do<br />
drama cardosiano juntamente com o <strong>de</strong> Nelson, nesse momento do grupo, atesta seu potencial dramático.<br />
50
não eram mais aceitos. A déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 40 “<strong>de</strong>slocava para o encenador o eixo<br />
central do espetáculo” (MAGALDI, 1997:208) e, qualquer que fosse o texto,<br />
exigia-se agora uma encenação apura<strong>da</strong>.<br />
Foi nesse contexto e justamente nessa tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong> histórica <strong>de</strong> “Os<br />
Comediantes” que <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> levou ao palco seu drama O Escravo. É aqui<br />
que começa a história <strong>de</strong>sta Tese.<br />
51
3- Apresentando <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
52<br />
Cegamente marchava para o meu <strong>de</strong>stino,<br />
insubmisso, feroz, atormentado e solitário.<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, Diário Completo<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> nasceu em 1912 na pequena ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Curvelo, em<br />
Minas Gerais. Foi o filho caçula <strong>de</strong> uma família <strong>de</strong> seis irmãos. Seu pai era um<br />
“empreen<strong>de</strong>dor, au<strong>da</strong>cioso e incapaz <strong>de</strong> se conformar com um trabalho<br />
pequenino. Não tolerava ser empregado <strong>de</strong> ninguém.” (CARDOSO, 1967:15)<br />
Na prática, isso significa que ele não conseguiu ter uma vi<strong>da</strong> financeiramente<br />
estável. Animava-se com um empreendimento, mu<strong>da</strong>va-se com a família ou<br />
ausentava-se <strong>por</strong> longos períodos man<strong>da</strong>ndo apenas recursos materiais – na<br />
maioria <strong>da</strong>s vezes, poucos – para a esposa que cui<strong>da</strong>va <strong>da</strong> casa e <strong>da</strong><br />
educação dos filhos. O negócio falia, ele voltava, a família sofria mais um revés<br />
até o novo empreendimento. Era também um homem valente e instruído, dois<br />
valores que lhe garantiam o respeito dos vizinhos. Foi o seu nome (e <strong>por</strong>tanto,<br />
implicitamente, a sua imagem como <strong>de</strong>stino) que <strong>Lúcio</strong> carregou consigo <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
o nascimento.<br />
Em Por on<strong>de</strong> andou meu coração, Maria Helena, irmã <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, tece um<br />
retrato bastante carinhoso do pai e <strong>da</strong> infância que viveu. Sem que haja<br />
qualquer intenção restauradora <strong>de</strong> um tempo nostalgicamente relembrado, seu<br />
relato se reveste, em muitos momentos, <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>alização que ignora<br />
aspectos negativos dos acontecimentos, especialmente os que dizem respeito<br />
à relação entre o pai e a mãe:<br />
Não entendi na<strong>da</strong>: mamãe zanga<strong>da</strong>, <strong>de</strong> cara fecha<strong>da</strong>, mal falava<br />
conosco a não ser para zangar-se; papai, com ar tristonho, a<br />
qualquer tentativa <strong>de</strong> conversa <strong>da</strong> gente, dizia:<br />
- Seu pai não presta, minha filha.<br />
Mais admira<strong>da</strong> ficava, pois, para nós, nenhum pai como ele, lindo,<br />
bom, valente, generoso, tudo, tudo. Por que dizia que não prestava?<br />
Não podia <strong>de</strong>cifrar aquele enigma. (CARDOSO, 1967:70)<br />
Como o mundo que relembra está <strong>de</strong>finitivamente perdido, os eventos<br />
que a criança presenciou são representados sem qualquer censura ou<br />
con<strong>de</strong>nação <strong>por</strong> parte <strong>da</strong> narradora adulta que não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> registrar, contudo,<br />
o caráter <strong>de</strong>sse homem:
homem inteligente, cheio <strong>de</strong> atrativos, mas não era o marido fiel,<br />
amoroso e <strong>de</strong>dicado que [a esposa] tinha imaginado. Apaixonado<br />
pelas mulheres, era infiel ao máximo. Um bom pai, carinhoso, mas<br />
marido <strong>de</strong>scui<strong>da</strong>do. Deixava a mulher esqueci<strong>da</strong> e ela, cheia <strong>de</strong><br />
amor, apaixona<strong>da</strong>, não podia se conformar com aquilo. Acabou<br />
abrindo mão e <strong>de</strong>dicando-se inteiramente aos filhos. (...) Papai não<br />
mu<strong>da</strong>va <strong>de</strong> temperamento. Era o sonhador <strong>de</strong> sempre, à espera <strong>de</strong><br />
um golpe <strong>de</strong> sorte que o favorecesse à última hora: bilhete premiado<br />
<strong>da</strong> loteria <strong>de</strong> Espanha, mina <strong>de</strong> diamantes, mil fantasias. (...)<br />
Acabado o dinheiro, papai que não aturava a vi<strong>da</strong> <strong>de</strong> casa <strong>por</strong> muito<br />
tempo, entediava-se, sentindo falta do “seu sertão” (...). E partia (...).<br />
Os meses corriam e na<strong>da</strong> <strong>de</strong> dinheiro. (...) Muitas vezes tamanha era<br />
a falta <strong>de</strong> dinheiro, que mamãe empenhava os poucos objetos <strong>de</strong><br />
valor que possuía em casa. (CARDOSO, 1967:242-244)<br />
O pai carinhoso <strong>de</strong> que Maria Helena fala com sau<strong>da</strong><strong>de</strong> tinha, contudo,<br />
uma relação muito difícil com seu filho caçula. Nos breves períodos em que<br />
conviviam, as reprovações em relação ao com<strong>por</strong>tamento infantil eram<br />
freqüentes:<br />
... uma criança viva, ocupa<strong>da</strong> sempre com brinquedos diferentes dos<br />
outros meninos. No barracão pegado à casa e que servia <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósito<br />
<strong>de</strong> coisas velhas, guar<strong>da</strong>va recortes <strong>de</strong> jornais e revistas dos artistas<br />
<strong>de</strong> cinema <strong>de</strong> sua predileção, programas feitos <strong>por</strong> ele, anunciando<br />
filmes com os mais sugestivos títulos. Quando não estava ocupado<br />
com o cinema e o mês <strong>de</strong> maio já se tinha ido há muito, brincava <strong>de</strong><br />
boneca com as meninas, escan<strong>da</strong>lizando papai que <strong>por</strong> isso brigava<br />
com mamãe (...)<br />
(...)<br />
... papai não compreendia aquele filho tão diferente dos outros,<br />
culpando mamãe pela sua educação <strong>de</strong>feituosa, com tantos mimos.<br />
O menino, sentindo sua hostili<strong>da</strong><strong>de</strong>, era <strong>de</strong>sconfiado, arredio, o que<br />
contribuía ain<strong>da</strong> mais para prejudicá-lo em seu conceito.<br />
(CARDOSO, 1967:316 e 318)<br />
Sem entrar no caminho <strong>da</strong> “psicologia <strong>de</strong> Autor”, po<strong>de</strong>-se imaginar o<br />
dilaceramento interno <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, que <strong>de</strong>via se dividir entre as expectativas do<br />
pai (cujo nome her<strong>da</strong>ra) e as suas vocações e inclinações naturais. Graças à<br />
criação religiosa que teve, some-se a consciência do pecado ao fracasso em<br />
assumir o <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> suce<strong>de</strong>r o pai e o resultado foi, certamente, fantasmas<br />
que o atormentaram <strong>por</strong> to<strong>da</strong> a vi<strong>da</strong>.<br />
Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que o escritor e sua família<br />
;pertenceram àquela categoria que chamei, no segmento 2.1 <strong>de</strong>sta Tese, <strong>de</strong> os<br />
ci<strong>da</strong>dãos “em transição”, ou seja, aqueles que <strong>de</strong>scendiam <strong>de</strong> uma oligarquia<br />
53
ural <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte e que, já <strong>de</strong>sligados <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> no campo, ain<strong>da</strong> não estavam<br />
integrados à vi<strong>da</strong> urbana 26 . Consi<strong>de</strong>rando esses fatores pessoais e sociais, é<br />
fácil compreen<strong>de</strong>r seu sentimento <strong>de</strong> “exílio”, seu “gauchismo” tantas vezes<br />
registrado no seu Diário:<br />
Às vezes, relendo essas <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>na<strong>da</strong>s notas que escrevo ao sabor<br />
<strong>da</strong> inspiração, sinto a tristeza <strong>de</strong> su<strong>por</strong> tudo isto apenas um eco <strong>da</strong><br />
minha solidão. E serão realmente sonhos, <strong>de</strong>formações <strong>de</strong> um<br />
homem que se sente irremediavelmente – <strong>por</strong> que castigo, <strong>por</strong> que<br />
privilégio? – fora do tempo? (CARDOSO, 1970: 71)<br />
A trajetória artística <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> inicia-se em 1934 quando publica,<br />
pela Editora Schmidt, o seu primeiro romance - Maleita. A obra, que tratava <strong>da</strong><br />
fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Pira<strong>por</strong>a e cujo protagonista inspirava-se no pai do<br />
Autor, aproximava-se bastante dos romances regionalistas <strong>da</strong> época e foi bem<br />
recebido pela Crítica.<br />
Seu segundo romance, Salgueiro, foi publicado em 1935 e conquistou<br />
repercussão favorável ao documentar o cotidiano <strong>de</strong> misérias e privações dos<br />
moradores do morro carioca. O livro, contudo, transcen<strong>de</strong> a intenção<br />
documental <strong>por</strong>que <strong>Lúcio</strong> dá “a Salgueiro uma dimensão simbólica que<br />
ultrapassa os limites <strong>da</strong> observação <strong>da</strong>s condições <strong>de</strong> uma família dividi<strong>da</strong> e<br />
esmaga<strong>da</strong> pela miséria” (CARELLI, 1988:156). Já nesse romance, fica claro<br />
que o autor <strong>de</strong>seja atingir “a causa última <strong>de</strong>sse inferno e <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>stinos<br />
trágicos” (CARELLI, 1988:156) e que essa causa não repousa na socie<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
mas no afastamento <strong>de</strong> Deus.<br />
Em 1936, veio à luz seu terceiro romance - A Luz no Subsolo, que se<br />
afastava, <strong>de</strong>finitivamente, <strong>de</strong> qualquer engajamento ou <strong>de</strong>núncia social. Muitos<br />
críticos não apreciaram a nova obra e seu Autor também não gostou <strong>da</strong>s<br />
26 Em entrevista para A Gazeta, jornal <strong>de</strong> São Paulo (Cf: Arquivos do Autor, Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui<br />
Barbosa, Rio <strong>de</strong> Janeiro) intitula<strong>da</strong> “Da imaginação à reali<strong>da</strong><strong>de</strong>”, <strong>Lúcio</strong> conta que saiu <strong>de</strong> Curvelo com<br />
apenas um ano <strong>de</strong> i<strong>da</strong><strong>de</strong> e que nunca mais voltou. Criou-se em Belo Horizonte e, ain<strong>da</strong> adolescente,<br />
mudou-se para o Rio <strong>de</strong> Janeiro. A <strong>de</strong>speito <strong>de</strong>sse afastamento, contudo, percebe-se, nas <strong>de</strong>scrições e<br />
narrações <strong>de</strong> Maria Helena <strong>Cardoso</strong>, personagens e locais que povoaram o universo do autor. A<br />
professora Hil<strong>da</strong>, <strong>por</strong> exemplo, <strong>da</strong> novela homônima (1946), parece ter sido inspira<strong>da</strong> em Dona<br />
Esmeral<strong>da</strong>, professora que passeia severamente pelas páginas <strong>de</strong> Por on<strong>de</strong> andou meu coração.<br />
Im<strong>por</strong>ta assinalar essa proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> com a “província” <strong>de</strong> Curvelo <strong>por</strong>que seu universo literário,<br />
como já foi assinalado, liga-se muito mais a esse mundo do que ao dos centros urbanos on<strong>de</strong> morou.<br />
54
eprovações que lhe dirigiram. Mas o fato é que, a partir <strong>de</strong> então, ele passaria<br />
a se <strong>de</strong>dicar à linha chama<strong>da</strong> <strong>de</strong> “intimista” ou “introspectiva”.<br />
Na entrevista “Da imaginação à reali<strong>da</strong><strong>de</strong>”, já cita<strong>da</strong> em nota, <strong>Lúcio</strong><br />
queixa-se <strong>de</strong> ter recebido, <strong>por</strong> causa do novo livro, “<strong>por</strong> um lado a indiferença<br />
<strong>da</strong> crítica, <strong>por</strong> outro a mais brutal hostili<strong>da</strong><strong>de</strong>”, <strong>de</strong> ter sido insultado <strong>por</strong> Eloy<br />
Pontes e pelo fato <strong>de</strong> que Jayme <strong>de</strong> Barros e Octávio Tarquínio se terem<br />
recusado a comentar o romance. Ain<strong>da</strong> segundo ele, apenas Octávio <strong>de</strong> Faria<br />
mostrou-se simpático aos novos caminhos. Transcrevo abaixo as linhas em<br />
que justifica sua intenção ao redigir o terceiro romance <strong>por</strong>que elas me<br />
interessam quanto ao seu teatro:<br />
— Creio que aí você terá a chave <strong>de</strong> “Luz no Sub-Sólo” (sic). Procurei<br />
<strong>de</strong>scobrir uma segun<strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que para mim é a ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira e cuja<br />
existência nos apercebemos sem, entretanto, po<strong>de</strong>r atingi-la. Quem não<br />
compreen<strong>de</strong> que há alguma coisa mais profun<strong>da</strong> <strong>de</strong>baixo <strong>de</strong> tudo isso<br />
que vemos, que sentimos e apalpamos? O mundo encerra em si um<br />
mistério <strong>de</strong>sconcertante. E quanto mais sentimos esse mistério – pelo<br />
apuro <strong>da</strong> sensibili<strong>da</strong><strong>de</strong> e do espírito, naturalmente – mais<br />
experimentamos a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> penetrá-lo, <strong>de</strong> fugirmos à reali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
superficial, si (sic) assim po<strong>de</strong>rei me exprimir. A loucura é um dos meios<br />
<strong>de</strong> evasão, a arte, outro. O personagem <strong>de</strong> “Luz no Sub-Sólo” (sic)<br />
eva<strong>de</strong>-se <strong>por</strong> meio do assassinato. Deve haver uma quebra dos valores<br />
comuns para <strong>de</strong>scermos a um segundo plano on<strong>de</strong> as coisas<br />
apresentam o seu ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro sentido. É preciso fazer luz no sub-sólo<br />
(sic)! Tal o objetivo do meu livro, em que eu só po<strong>de</strong>ria ser conduzido<br />
pela imaginação, uma vez que a observação me forneceria apenas os<br />
<strong>da</strong>dos <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> superficial que não me interessa, que não <strong>de</strong>ve<br />
interessar ao romancista... A minha concepção <strong>de</strong> romance vai assim<br />
<strong>de</strong> encontro ao <strong>da</strong> maioria dos romancistas mo<strong>de</strong>rnos, que preconizam<br />
uma arte <strong>de</strong> observação pura, a fotografia <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Querem<br />
apanhar essa coisa que vemos aí e que na<strong>da</strong> exprime, <strong>por</strong>que a<br />
ver<strong>da</strong><strong>de</strong> está no sub-sólo (sic). Não os reconheço como romancistas,<br />
mas talvez como bons repórteres.<br />
<strong>Lúcio</strong> elege, <strong>por</strong>tanto, essa “segun<strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>” como alvo <strong>de</strong> suas<br />
preocupações e a “quebra dos valores comuns” como o caminho para atingi-la,<br />
explicitando que apenas pela imaginação, “facul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>moníaca”, seria<br />
possível trilhá-lo. Essas posições já advertem ao leitor que não procure nas<br />
obras cardosianas a estrita verossimilhança com a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> empírica, que os<br />
seus mundos são representações simbólicas e que suas personagens movem-<br />
se numa linha limítrofe entre essa reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que conhecemos e o “subsolo”,<br />
que <strong>Lúcio</strong> imagina conter uma ver<strong>da</strong><strong>de</strong> essencial e inapreensível pela<br />
55
observação superficial ou estrita <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Foi sob o impacto <strong>de</strong>ssas idéias<br />
que, um ano antes <strong>da</strong> entrevista, em 1937, <strong>Lúcio</strong> redigiu sua primeira peça<br />
teatral intitula<strong>da</strong> O Escravo. Conseqüentemente, não se po<strong>de</strong>ria esperar que<br />
seu drama seguisse enquadramentos realistas...<br />
Em 1938, <strong>Lúcio</strong> publica a novela Mãos vazias que também não merece<br />
boa recepção. Mário Cabral, <strong>por</strong> exemplo, em “Crítica” 27 afirma: “To<strong>da</strong> a<br />
narrativa é absur<strong>da</strong>, é psicologicamente <strong>de</strong>sequilibra<strong>da</strong>”, “... a heroína <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> sofria <strong>de</strong> uma moléstia chama<strong>da</strong> em bom <strong>por</strong>tuguês, pouca<br />
vergonha.” “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, outrossim, é um péssimo estilista nas páginas<br />
<strong>de</strong>ssa novela” e contrasta esse novo texto com os dois primeiros romances<br />
que, efetivamente, elogia. Segundo ele, “o romance introspectivo matou, <strong>de</strong><br />
vez, o estilo <strong>de</strong>sse escritor”. Para provar sua posição, chega a contar quantas<br />
vezes e a apontar em quais páginas o autor repete as palavras “silêncio” e<br />
“escuridão” e semas a elas relacionados. Voltarei a essa obra quando analisar<br />
A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, <strong>por</strong>que ambas apresentam uma temática semelhante.<br />
Insistindo nas novelas, em 1940 é a vez <strong>de</strong> O Desconhecido que não tem<br />
melhor recepção que sua antecessora.<br />
Em 1943, <strong>Lúcio</strong> vê monta<strong>da</strong> a peça que escrevera seis anos antes – O<br />
Escravo – e publica Dias perdidos, que também não suscita interesse no meio<br />
crítico. O autor, então, se <strong>de</strong>dica a montagem <strong>de</strong> uma companhia teatral, o<br />
“Teatro <strong>de</strong> Câmera” e a outras ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s. Cresce a sua produção teatral que,<br />
aliás, tem uma receptivi<strong>da</strong><strong>de</strong> talvez mais dura que a dos romances e novelas: A<br />
Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata e O Filho Pródigo estréiam em 1947; Angélica é escrita em<br />
1945 e encena<strong>da</strong> em 1950.<br />
<strong>Lúcio</strong> também se aventurou pelo cinema, publicou outras novelas<br />
(Inácio, 1940; Anfiteatro, 1946; Professora Hil<strong>da</strong>, 1946; O enfeitiçado, 1954) e<br />
dois livros <strong>de</strong> poemas. Em 1959, finalmente, o escritor voltaria ao romance e<br />
publicaria Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>, que a maior parte <strong>da</strong> Crítica<br />
consi<strong>de</strong>ra sua obra-prima. Em 1962, sofre um <strong>de</strong>rrame cerebral que o impe<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> terminar O viajante. Não po<strong>de</strong>ndo mais escrever, continua a expressar-se<br />
através <strong>da</strong> pintura até sua morte, em 1968.<br />
27 Também constante do Arquivo do Autor, disponível na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, sem<br />
especificação <strong>de</strong> fonte ou <strong>da</strong>ta.<br />
56
Passados muitos anos, esfria<strong>da</strong>s as paixões que acirraram as oposições<br />
i<strong>de</strong>ológicas que marcaram os anos 30 e 40 e <strong>de</strong>sobrigados os intelectuais <strong>de</strong><br />
se filiarem a uma ou outra linha <strong>de</strong> expressão, a Crítica volta os olhos com<br />
maior imparciali<strong>da</strong><strong>de</strong> para a obra cardosiana.<br />
Cavalcanti Proença, em seu livro Estudos Literários (1974: 210-215),<br />
expõe em linhas gerais as características <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, mais precisamente<br />
<strong>de</strong> suas novelas, e <strong>de</strong>senvolve um comentário, um pouco mais <strong>por</strong>menorizado,<br />
sobre o primeiro romance do escritor. A respeito <strong>de</strong> Maleita, salienta a<br />
presença do mistério, <strong>de</strong> imagens inespera<strong>da</strong>s e <strong>de</strong> algumas tendências<br />
introspectivas ao lado <strong>de</strong> características naturalistas e <strong>de</strong> características<br />
marca<strong>da</strong>s <strong>por</strong> influências mo<strong>de</strong>rnistas como os períodos breves e a pontuação<br />
abun<strong>da</strong>nte. O crítico não fala do teatro cardosiano.<br />
Alfredo Bosi, em História Concisa <strong>da</strong> Literatura Brasileira (1992: 466-<br />
469), coloca <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> ao lado <strong>de</strong> outros autores intimistas. Diferente <strong>de</strong><br />
alguns críticos <strong>de</strong> A luz no subsolo, louva a escolha do autor <strong>por</strong> este caminho:<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e Cornélio Pena foram talvez os únicos narradores<br />
brasileiros <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 30 capazes <strong>de</strong> aproveitar sugestões do<br />
surrealismo sem per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista a paisagem moral <strong>da</strong> província que<br />
entra como clima nos seus romances. A <strong>de</strong>cadência <strong>da</strong>s velhas<br />
fazen<strong>da</strong>s e a modorra dos burgos interioranos compõem atmosferas<br />
imóveis e pesa<strong>da</strong>s on<strong>de</strong> se moverão aquelas suas criaturas insólitas,<br />
oprimi<strong>da</strong>s <strong>por</strong> angústias e fixações que o <strong>de</strong>stino afinal consumará<br />
em atos imediatamente gratuitos (...) <strong>Lúcio</strong> não é um memorialista,<br />
mas um inventor <strong>de</strong> totali<strong>da</strong><strong>de</strong>s existenciais. (BOSI, 1992:468)<br />
Num comentário geral sobre a produção literária do autor, entre outros<br />
aspectos, acentua a divisão <strong>da</strong> obra em dois momentos e a superação <strong>da</strong><br />
in<strong>de</strong>finição, que às vezes <strong>de</strong>bilitava a estrutura <strong>da</strong>s suas primeiras<br />
experiências, atingi<strong>da</strong> pelo autor no romance Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>.<br />
Não <strong>de</strong>talha sua produção teatral, apenas cita, na bibliografia do autor, cinco<br />
peças (O Escravo, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, O Filho Pródigo, Angélica e O Coração<br />
Delator – esta, apenas uma a<strong>da</strong>ptação <strong>de</strong> Poe).<br />
Outra obra que dá uma panorâmica geral <strong>da</strong> Literatura brasileira e inclui<br />
a produção <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> é A Literatura no Brasil, organiza<strong>da</strong> <strong>por</strong> Afrânio<br />
Coutinho (1999: 445-457). No volume V, capítulo “O mo<strong>de</strong>rnismo na ficção” e<br />
subcapítulo IV - “Psicologismo e Costumismo”- Walmir Ayala reproduz trechos<br />
57
<strong>de</strong> artigos <strong>de</strong> Otávio Tarquínio <strong>de</strong> Souza e Otávio <strong>de</strong> Faria. Esses autores<br />
perceberam que, já com o romance Salgueiro, <strong>Lúcio</strong> reagia ao “romance-<br />
re<strong>por</strong>tagem” ou “romance-documentário” cultivado pelos autores do Nor<strong>de</strong>ste.<br />
Tece, a seguir, um comentário mais ou menos <strong>por</strong>menorizado sobre os<br />
diferentes caminhos (poemas, novelas, cinema, contos infantis) e algumas<br />
obras do autor. Sobre as experiências no teatro, comenta:<br />
A experiência teatral, com algumas encenações, fun<strong>da</strong>ção <strong>de</strong> um<br />
grupo, experiência <strong>de</strong> a<strong>da</strong>ptação, cenografia e figurinos, não resultou<br />
melhor. Enfrentou <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, no gênero teatral, a luta terrível do<br />
escritor que escreve para teatro, e tem que enfrentar o fantasma <strong>da</strong><br />
carpintaria teatral (AYALA, In: COUTINHO, 1999:452)<br />
Já Massaud Moisés, em seu livro História <strong>da</strong> Literatura Brasileira (1999,<br />
308-318), no volume <strong>de</strong>dicado ao Mo<strong>de</strong>rnismo, reafirma a ligação dos dois<br />
primeiros romances do autor mineiro com o romance social <strong>de</strong> 30, mas vê<br />
neles traços que distinguiriam o escritor dos “(neo)realistas” do tempo. Mais<br />
adiante, ressalta as quali<strong>da</strong><strong>de</strong>s dos romances A Luz no Subsolo e Dias<br />
Perdidos e o caráter intimista, específico <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, em ambos os romances. Ao<br />
lado dos aspectos expostos acima, o crítico também <strong>de</strong>staca as notas <strong>de</strong><br />
surrealismo na ficção do escritor, afirmando que tais notas, assim como outras,<br />
situam a ficção <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> em plena mo<strong>de</strong>rni<strong>da</strong><strong>de</strong>, ain<strong>da</strong> que à margem <strong>da</strong><br />
estética <strong>de</strong> 22. Vê, <strong>de</strong>ste modo, a possível explicação para o ostracismo em<br />
que caiu o nome do autor após sua morte. Massaud Moisés não se <strong>de</strong>tém no<br />
teatro cardosiano, limitando-se a registrar, como bibliografia, suas quatro<br />
peças.<br />
O mais representativo estudo feito até hoje sobre <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> foi<br />
<strong>de</strong>senvolvido <strong>por</strong> Mário Carelli cuja Tese <strong>de</strong> Doutorado resultou no livro Corcel<br />
<strong>de</strong> Fogo. O livro se ocupa <strong>da</strong> biografia do Autor, analisa sua trajetória <strong>de</strong><br />
escritor, diretor <strong>de</strong> cinema, dramaturgo e poeta. Analisa os dramas, os poemas,<br />
as novelas e os romances até centrar-se no que consi<strong>de</strong>ra sua obra-prima: a<br />
Crônica <strong>da</strong> casa assassina<strong>da</strong>.<br />
No capítulo sobre a produção <strong>dramática</strong> do escritor, Carelli <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> a<br />
idéia <strong>de</strong> que “as peças <strong>de</strong>ixa<strong>da</strong>s <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong> valem <strong>por</strong> sua problemática<br />
existencial, bem como <strong>por</strong> sua elaboração poética” (CARELLI, 1988: 88).<br />
58
Comenta a criação do “Teatro <strong>de</strong> Câmera”, O Escravo aproximando-o <strong>de</strong> A luz<br />
no subsolo, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, O Filho Pródigo e, finalmente, Angélica.<br />
Comenta também a existência <strong>de</strong> “dramas poéticos” (O homem pálido e O<br />
enfeitiçado) e apenas se refere a Os <strong>de</strong>saparecidos (peça incompleta). Na<br />
opinião do crítico, três <strong>da</strong>s peças <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> mereciam serem retoma<strong>da</strong>s (O<br />
Escravo, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata e Angélica) <strong>por</strong> correspon<strong>de</strong>rem a três visões <strong>da</strong><br />
condição humana.<br />
Ain<strong>da</strong> cui<strong>da</strong>ndo <strong>da</strong> produção <strong>dramática</strong> cardosiana, o crítico anota as<br />
principais influências sofri<strong>da</strong>s pelo autor mineiro em seu teatro. Segundo ele, o<br />
“temperamento ‘trágico’” <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> o levava aos gregos; havia, também, a<br />
admiração pelo teatro elisabetano: Shakespeare, Ben Johnson, Dekker e,<br />
principalmente, Christopher Marlowe. É ain<strong>da</strong> Carelli que afirma que <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> parecia ignorar o teatro romântico e pouco citava os clássicos<br />
franceses, mas conhecia bastante o teatro <strong>de</strong> autores que lhe eram<br />
contem<strong>por</strong>âneos. Segundo o crítico, as peças bíblicas cardosianas (<strong>da</strong>s quais<br />
apenas O Filho Pródigo está completa) “aproximam-se muito dos dramas <strong>de</strong><br />
Paul Clau<strong>de</strong>l” (CARELLI, 1988: 89)<br />
A partir <strong>de</strong> 1935, <strong>Lúcio</strong> se interessa pela obra <strong>de</strong> Jean Giraudoux, na<br />
medi<strong>da</strong> em que a alegoria incita à reflexão sobre a condição humana.<br />
No entanto, tem muito mais curiosi<strong>da</strong><strong>de</strong> pelo teatro engajado <strong>de</strong><br />
Jean-Paul Sartre, que <strong>de</strong>scobre em 1948, e sobretudo pelas<br />
tragédias <strong>de</strong> Albert Camus, que aspiram ao “teatro total”. (CARELLI,<br />
1988: 89)<br />
Jean Genet “será seguramente a gran<strong>de</strong> revelação <strong>de</strong>ssas leituras<br />
concomitantes à elaboração <strong>de</strong> suas próprias peças” (CARELLI, 1988: 89)<br />
embora a i<strong>de</strong>ntificação com esse autor seja bastante tardia. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
também conhecia a obra <strong>de</strong> Strindberg e, como já se pô<strong>de</strong> divisar, conviveu<br />
(nem sempre pacificamente) com Ziembinski, estando, <strong>por</strong>tanto, a par <strong>da</strong>s<br />
novi<strong>da</strong><strong>de</strong>s trazi<strong>da</strong>s <strong>por</strong> ele ao teatro nacional.<br />
A <strong>de</strong>speito do que diz Carelli, é possível encontrar na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong><br />
Rui Barbosa, o Arquivo do Autor 28 que contém uma pasta com os textos <strong>de</strong><br />
28 A pasta on<strong>de</strong> se encontram esses e outros artigos foi organiza<strong>da</strong> pelo próprio Autor, <strong>por</strong> sua irmã Maria<br />
Helena e pelo amigo Walmir Ayala. A maioria não apresenta o nome do jornal em que foram veiculados<br />
59
uma coluna que escrevia. Intitula<strong>da</strong> “Diário Não-Íntimo”, foi publica<strong>da</strong> em um<br />
jornal cujo nome não aparece e <strong>por</strong> um período que não é possível <strong>de</strong>terminar,<br />
já que os artigos não trazem qualquer notação a esse respeito. To<strong>da</strong>via, pelos<br />
comentários que saú<strong>da</strong>m entusiasticamente o lançamento <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> sertão:<br />
vere<strong>da</strong>s, <strong>de</strong> Guimarães Rosa, e <strong>por</strong> referências à última peça <strong>de</strong> O’Neill, Longa<br />
jorna<strong>da</strong> noite a<strong>de</strong>ntro, <strong>de</strong>duzo que os textos foram escritos <strong>por</strong> volta <strong>de</strong> 1956.<br />
No artigo arquivado sob o número 27, <strong>Lúcio</strong> anota:<br />
Em São Paulo, o crítico Sábato Magaldi proclama que Pedro Bloch e<br />
Paulo <strong>de</strong> Magalhães são nocivos ao teatro brasileiro. Menos do que<br />
nomes, acredito que um <strong>de</strong>terminado gênero é nocivo ao no bomgosto<br />
teatral. Mas isso não é questão <strong>de</strong> autores, e sim <strong>de</strong> público.<br />
Se alguém prefere marmela<strong>da</strong>, que adianta querer lhe impingir<br />
“Charlotte russo”?<br />
Para exemplificar sua idéia, cita o gran<strong>de</strong> sucesso <strong>da</strong> apresentação <strong>de</strong><br />
Casa <strong>de</strong> chá do luar <strong>de</strong> agosto, uma comédia <strong>de</strong> John Patrick que estava<br />
“batendo todos os recor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bilheteria. E, no entanto, afirma o Autor, já<br />
Manuel Ban<strong>de</strong>ira havia chamado a atenção para essas japonizices sem<br />
honesti<strong>da</strong><strong>de</strong> feitas unicamente com fito <strong>de</strong> agra<strong>da</strong>r ao gosto do público vulgar.”<br />
Também comenta, no mesmo artigo, o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> Sérgio <strong>Cardoso</strong> <strong>de</strong><br />
interpretar Cyrano <strong>de</strong> Bergerac, <strong>de</strong> Rostand, em São Paulo. Reconhece que se<br />
trata <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong> autor e que o papel necessita <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong> talento para<br />
erguer-se. “Mas em que ouvidos doerão a afirmativa <strong>de</strong> que é uma peça cacete<br />
e fraca, que nenhum escritor responsável terá coragem <strong>de</strong> citar sem as <strong>de</strong>vi<strong>da</strong>s<br />
cautelas?”<br />
No mesmo tom, investe contra o teatro realista comentando que to<strong>da</strong><br />
atriz que se preza, em <strong>de</strong>terminado momento <strong>da</strong> carreira, <strong>de</strong>seja representar A<br />
<strong>da</strong>ma <strong>da</strong>s camélias. “Mas quem terá coragem para negar que A <strong>da</strong>ma <strong>da</strong>s<br />
camélias é uma história absur<strong>da</strong> e <strong>de</strong> interesse literário mais do que<br />
secundário?”<br />
Assim <strong>Lúcio</strong> avaliava dois marcos do teatro tradicional. E, a <strong>de</strong>speito <strong>de</strong><br />
seu conhecimento <strong>de</strong> autores contem<strong>por</strong>âneos, nem sempre ele avaliou<br />
corretamente o que testemunhava. No mesmo artigo que venho citando, lê-se:<br />
nem a <strong>da</strong>ta <strong>de</strong> sua publicação. Os que se po<strong>de</strong>m i<strong>de</strong>ntificar encontram-se citados na bibliografia constante<br />
no final <strong>de</strong>sse estudo.<br />
60
Repasso na memória gran<strong>de</strong>s sucessos do momento: A rosa<br />
tatua<strong>da</strong>, <strong>de</strong> Tenesse (sic) Williams e A morte do caixeiro viajante, <strong>de</strong><br />
Arthur Miller. Isto a que chamam <strong>de</strong> carpintaria teatral, sim, é<br />
possível encontrar nelas. Alguma coisa mais expressiva, não.<br />
Ambas, impressas, não chegam a interessar <strong>por</strong> mais <strong>de</strong> vinte<br />
minutos. E vinte minutos <strong>de</strong>pois já estão completamente esqueci<strong>da</strong>s.<br />
É possível ver, implícita nessa nota, uma certa queixa ou <strong>de</strong>sdém em<br />
relação a uma acusação comum ao teatro cardosiano: a <strong>de</strong> que as peças <strong>de</strong><br />
<strong>Lúcio</strong> eram “literárias” <strong>de</strong>mais, boas como <strong>literatura</strong>, mas fracas como teatro<br />
<strong>por</strong>que não possuíam estrutura cênica, ou seja, a “carpintaria teatral” a que ele<br />
se refere <strong>de</strong>sprestigiosamente. Ele completa:<br />
Carpintaria teatral é a arte <strong>de</strong> manter sempre viva a atenção do<br />
público. E a atenção do chamado gran<strong>de</strong> público só se mantém pela<br />
exibição do que literariamente é mais grosseiro e mais repugnante.<br />
Prosseguindo, ain<strong>da</strong>, na sua avaliação dos dramaturgos recentes, <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> não consegue avaliar o alcance <strong>de</strong> <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s conquistas:<br />
Ah, a voga dos gran<strong>de</strong>s autores teatrais. Piran<strong>de</strong>llo, <strong>por</strong> exemplo,<br />
menos do que pelo seu teatro, hoje tão visivelmente marcado pela<br />
<strong>da</strong>ta, sobreviverá pela época em que foi criado. Os Seis personagens<br />
cheiram terrivelmente a 1925. E absorvi<strong>da</strong> sua teoria <strong>da</strong> confusão<br />
<strong>da</strong>s personali<strong>da</strong><strong>de</strong>s, que nos resta? A carpintaria, dirão. Mas as<br />
bibliotecas são vastos cemitérios <strong>de</strong> obras com imponente<br />
arquitetura teatral.<br />
Eugene O’Neill, que tantos entre nós ain<strong>da</strong> têm a ingenui<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
su<strong>por</strong> o supra-sumo <strong>da</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> teatral, é um autor que caminha<br />
assustadoramente para a obscuri<strong>da</strong><strong>de</strong>. Há uma ligeira volta cria<strong>da</strong><br />
pela sua última peça, que dizem <strong>de</strong> tom autobiográfico. Mas isso<br />
pasará (sic) também, <strong>por</strong>que O’Neill é um autor <strong>de</strong> categoria<br />
subalterna. Sua carpintaria teatral é pesa<strong>da</strong> e anacrônica.<br />
Como se po<strong>de</strong> observar, <strong>Lúcio</strong> não alcançava a dimensão exata <strong>da</strong>s<br />
transformações pelas quais o teatro <strong>de</strong> seu tempo passava e o que alguns<br />
autores, <strong>por</strong> ele con<strong>de</strong>nados, representavam. Dessa enxurra<strong>da</strong> <strong>de</strong> críticas<br />
pouco perceptivas, o Autor salva apenas Shakespeare (que, obviamente, não<br />
lhe era contem<strong>por</strong>âneo!) que, segundo ele, não é apenas um “acontecimento<br />
<strong>de</strong> palco”, mas “um fenômeno poético”. Em outro artigo, arquivado sob o<br />
número 29, investe contra a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> dos temas apresentados nos teatros<br />
brasileiros:<br />
61
Um jovem crítico <strong>de</strong> teatro, <strong>de</strong>sses que a juventu<strong>de</strong> supera as<br />
possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s, afirmou que pa<strong>de</strong>cíamos do mal dos “gran<strong>de</strong>s temas”.<br />
Fiquei imaginando Dona Xepa, A pensão <strong>de</strong> dona Stela e Miloca<br />
recebe aos sábados. O que não faríamos se não sofrêssemos <strong>de</strong>sse<br />
mal...<br />
Nem tudo, <strong>por</strong>ém, eram críticas. No artigo arquivado sob o número 47,<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> elogia Herança barroca, <strong>de</strong> Léo Victor, na qual enxerga<br />
“quali<strong>da</strong><strong>de</strong>s apreciáveis” que, contudo, não <strong>de</strong>talha. Elogia, também, noutra<br />
nota do mesmo artigo, Me<strong>de</strong>ia, <strong>de</strong> Agostinho Olavo (seu antigo sócio no<br />
empreendimento do “Teatro <strong>de</strong> Câmera”) e diz que a peça mereceu<br />
“incondicionais elogios <strong>de</strong> Santa Rosa”.<br />
Além <strong>de</strong>ssa coluna em que registrou essas notas rápi<strong>da</strong>s, muitas vezes<br />
pouco felizes, sempre cortantes, Renard Perez, escrevendo no Correio <strong>da</strong><br />
manhã, em 09/05/1959, informa que <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> fundou com Santa Rosa a<br />
Sua Revista, uma publicação literária que conteria traduções <strong>de</strong> Ibsen,<br />
Piran<strong>de</strong>llo, Dostoievski e na qual colaboravam, “entre outros, A<strong>de</strong>rbal Jurema,<br />
Val<strong>de</strong>mar Cavalcanti, Aluísio Branco, Guilherme <strong>de</strong> Figueiredo...”. Embora a<br />
Revista só tenha tido um número publicado, sua iniciativa, soma<strong>da</strong> à formação<br />
do “Teatro <strong>de</strong> Câmera” e as peças leva<strong>da</strong>s ao palco tornam claro que o teatro<br />
foi uma preocupação para <strong>Lúcio</strong>, exce<strong>de</strong>ndo ao mero capricho momentâneo ou<br />
ao puro diletantismo artístico. Ele mesmo assinala, aliás:<br />
... não me aproximei do teatro ou do cinema como <strong>de</strong>rivativos do<br />
romance, ou em substituição às novelas que escrevo e <strong>da</strong>s quais me<br />
sentia cansado. Ao contrário, foi um ato <strong>de</strong> plena consciência,<br />
imaginando que seria possível fazer muito neste terreno ain<strong>da</strong> tão<br />
pobre entre nós. (CARDOSO, 1970:57)<br />
Em entrevista a Sábato Magaldi, intitula<strong>da</strong> “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> fala-nos <strong>de</strong><br />
Teatro 29 ”, feita às vésperas <strong>de</strong> estrear sua última peça, Angélica, eis o balanço<br />
ele que faz <strong>de</strong> sua experiência teatral:<br />
— Fora as peças que escrevi, e que refletem uma experiência íntima,<br />
pessoal, que na<strong>da</strong> tem a ver com público e companhias teatrais –<br />
assisti à montagem <strong>de</strong> uma <strong>da</strong>s minhas peças pelo “Os<br />
Comediantes” [O Escravo], antes do aparecimento <strong>de</strong> Nelson<br />
29 Obti<strong>da</strong> na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
62
Rodrigues, e outra pelo “Teatro Experimental do Negro” [O Filho<br />
Pródigo]. Além disto, fun<strong>de</strong>i com Agostinho Olavo e Gustavo Dória o<br />
“Teatro <strong>de</strong> Câmera”, que marcou a primeira reação contra o gênero<br />
“gran<strong>de</strong> espetáculo” que “Os Comediantes” vinham impondo como<br />
gênero absoluto e que <strong>de</strong>u nascimento a essa série <strong>de</strong> teatrinhos<br />
íntimos e espetáculos mais ou menos fechados, atualmente tão em<br />
voga. O “Teatro <strong>de</strong> Câmera” <strong>de</strong>u-me sessenta contos <strong>de</strong> prejuízo e<br />
inúmeros dissabores. Mesmo assim, montei, num espetáculo<br />
inteiramente organizado <strong>por</strong> mim, O Coração Delator, <strong>de</strong> Edgar Poe.<br />
Foram tais atropelos que jurei não voltar tão cedo ao teatro.<br />
A <strong>de</strong>speito <strong>da</strong>s <strong>de</strong>silusões <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, essa Tese se volta para as<br />
idéias e os temas trazidos à luz <strong>por</strong> seus dramas interrogando-se, para além<br />
dos espetáculos, o que elas representaram em sua obra e no contexto <strong>de</strong> sua<br />
época.<br />
63
4- O repertório<br />
4.1- O Escravo:<br />
4.1.1- A Crítica<br />
64<br />
Para povoar este pequeno mundo, imagino seres duros e<br />
intratáveis – seres habitados <strong>por</strong> todos os crimes, <strong>por</strong> to<strong>da</strong>s as<br />
re<strong>de</strong>nções. Suas paixões <strong>de</strong>vem ser impetuosas e eloqüentes,<br />
para que possam grifar, na sombra, o espectro <strong>da</strong> falta em<br />
consumação que, em última análise, é a alma soterra<strong>da</strong> <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
entregue a todos os po<strong>de</strong>res <strong>da</strong> <strong>de</strong>struição.<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, Diário Completo<br />
... é realmente um escravo, todos os seus sentimentos estão<br />
aprisionados a uma forma inexistente. O que existe <strong>de</strong> real,<br />
nele, pertence à sua infância – e há muito que esta não<br />
existe mais.<br />
O Escravo<br />
Como foi exposto anteriormente, quando, em 1937, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> se<br />
voltou para o teatro, era um autor cujos romances já tinham conhecido elogios<br />
e críticas, uma vez que sua primeira peça foi redigi<strong>da</strong> <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> publicação <strong>de</strong><br />
A Luz no Subsolo (1936). Segundo Regina Petrillo:<br />
Em A luz no subsolo, o autor mergulha em um estudo sobre o<br />
mistério do homem diante <strong>de</strong> Deus e <strong>da</strong> finitu<strong>de</strong> humana criando um<br />
clima <strong>de</strong> opressão e <strong>de</strong> pesa<strong>de</strong>lo no qual personagens trágicos<br />
expressam as visões <strong>de</strong>les mesmos e do mundo em combates<br />
tenebrosos nos limites <strong>da</strong> loucura e <strong>da</strong> morte. (PETRILLO, 2002: 72)<br />
O Escravo é her<strong>de</strong>iro direto <strong>de</strong>sse momento artístico <strong>de</strong> seu criador. No<br />
teatro, <strong>Lúcio</strong> encontrou uma área <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> artística cujas obras se<br />
mantinham afasta<strong>da</strong>s do viés regionalista e <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncia social 30 e, talvez <strong>por</strong><br />
isso, lhe parecesse o palco a<strong>de</strong>quado para trazer à luz os conflitos em que<br />
mergulhara seus personagens. Partilhando do “clima <strong>de</strong> opressão e pesa<strong>de</strong>lo”<br />
“nos limites <strong>da</strong> loucura e <strong>da</strong> morte” <strong>de</strong>lineados no terceiro romance, O Escravo<br />
veio à cena em 04 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1943 e foi a primeira peça brasileira<br />
encena<strong>da</strong> pelo grupo “Os Comediantes”.<br />
Sobre sua estréia, <strong>Lúcio</strong> guardou alguns recortes <strong>de</strong> jornais <strong>da</strong> época<br />
que estão arquivados na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
30 Ronaldo Lima Lins assinala que, embora haja exceções como “O pagador <strong>de</strong> promessas”, <strong>de</strong> Dias<br />
Gomes e “O auto <strong>da</strong> compa<strong>de</strong>ci<strong>da</strong>”, <strong>de</strong> Ariano Suassuna, o ciclo nor<strong>de</strong>stino não ocupa no teatro o mesmo<br />
espaço que já firmara nos romances. (LINS, 1979: 57).
Jorge Lacer<strong>da</strong>, <strong>por</strong> exemplo, <strong>de</strong>stacou a atmosfera “carrega<strong>da</strong> <strong>de</strong> angústia e <strong>de</strong><br />
expectativas trágicas”, o “clima <strong>de</strong> pesa<strong>de</strong>lo” que já se conhecia <strong>da</strong> obra do<br />
autor. “Romancista do trágico, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> enveredou pelo teatro trágico. E<br />
saiu vitorioso...”. O crítico prossegue:<br />
“Não faltaram, é ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, como era natural, restrições, <strong>de</strong> to<strong>da</strong><br />
or<strong>de</strong>m, à peça. Apontaram, alguns, simplici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> composição,<br />
valorização do diálogo em <strong>de</strong>trimento <strong>da</strong> ação, atmosfera pesa<strong>da</strong> e<br />
negra, maior comunicação <strong>de</strong> sentimento <strong>de</strong> que <strong>de</strong> fato (sic) 31 .<br />
Devemos convir, <strong>por</strong>ém, antes <strong>de</strong> tudo que, como tragédia, a peça<br />
só podia ser encara<strong>da</strong> à luz <strong>da</strong>s características que lhe são<br />
inerentes. Fazer semelhantes restrições, é fazer restrições à própria<br />
natureza <strong>da</strong> tragédia, o que significaria <strong>de</strong>snaturá-la.<br />
(...)<br />
Há, sem dúvi<strong>da</strong>, na peça <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, uma sobrie<strong>da</strong><strong>de</strong> natural<br />
<strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ntes – o que se observa nas tragédias em geral. Mas, <strong>por</strong><br />
isto mesmo, a peça, <strong>de</strong>spoja<strong>da</strong> do supérfluo, adquire uma<br />
con<strong>de</strong>nsação mais po<strong>de</strong>rosa, focalizando mais intensamente, em<br />
sua viva nu<strong>de</strong>z, o núcleo <strong>da</strong> tragédia. Não se observa, sem dúvi<strong>da</strong>,<br />
maior riqueza <strong>de</strong> fatos e <strong>de</strong> gestos, tão reclamados pelos limitados<br />
realistas sensoriais. O que existe é uma ação <strong>de</strong> outra natureza e<br />
que se processa em outro plano.”<br />
Para compreen<strong>de</strong>r esse “outro plano”, complementa o crítico, é<br />
fun<strong>da</strong>mental a colaboração <strong>de</strong> um público que esteja à sua altura. Os<br />
comentários foram elogiosos e a perspectiva era clássica: para ele, o texto<br />
cardosiano estaria restaurando a antiga forma <strong>de</strong> representação grega.<br />
Já em “O GLOBO nos teatros”, M.H. classifica a peça como<br />
“tragicomédia” e aponta suas falhas:<br />
Trata-se <strong>de</strong> uma peça escrita com elevação e certo rigor clássico, na<br />
qual <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> continuou romancista. O autor foi traído pelo<br />
brilho do diálogo e escreveu uma peça que, repousando nele, não<br />
tem ação e não tem teatro – exceção feita do final, que é um suicídio<br />
em cena.<br />
Destaca, também, o ambiente sombrio e carregado em que circulam as<br />
personagens, “criaturas tortura<strong>da</strong>s e infelizes que nunca <strong>de</strong>vem ter sorrido” e<br />
que “dão a impressão <strong>de</strong> espectros e não <strong>de</strong> seres humanos”. Apesar <strong>da</strong>s<br />
restrições, M.H. assinala que a platéia “premiou a peça com prolongados<br />
aplausos”.<br />
31 Notação do autor do artigo.<br />
65
Contrariando M.H, um crítico anônimo elogia a força do diálogo<br />
cardosiano capaz <strong>de</strong> pôr em cena a presença “invisível e perturbadora” <strong>de</strong><br />
Silas, o morto apenas referido pelas <strong>de</strong>mais personagens.<br />
Já Mario Nunes, em crítica publica<strong>da</strong> no Jornal do Brasil em 12 <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1943 e reproduzido na edição <strong>da</strong> revista Dyonisos <strong>de</strong>dica<strong>da</strong> a “Os<br />
Comediantes”, consi<strong>de</strong>ra que <strong>Lúcio</strong><br />
... criou a história sombria que os três atos narram e ca<strong>da</strong> um dos<br />
seus personagens criou, sadicamente, a <strong>de</strong>sgraça interior,<br />
puramente imaginária em que ca<strong>da</strong> qual se <strong>de</strong>bate... E o auditório<br />
vive horas penosas, <strong>de</strong> profun<strong>da</strong> angústia (...), to<strong>da</strong>s elas [as<br />
personagens] <strong>de</strong> uma execrável neurose que as traz submeti<strong>da</strong>s ao<br />
fantasma <strong>de</strong> odiosa criatura morta há mais <strong>de</strong> meia déca<strong>da</strong>.<br />
(DIONYSOS, 1975:60)<br />
Apesar <strong>da</strong> má impressão, elogia os “formosos diálogos em que há<br />
conceitos profundos, ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro <strong>de</strong>leite intelectual, principalmente para os<br />
estudiosos <strong>de</strong> psicanálise” (DIONYSOS, 1975:60) e chega a consi<strong>de</strong>rar o<br />
drama cardosiano uma “obra invulgar à luz <strong>da</strong>s doutrinas <strong>de</strong> Freud, a mais<br />
completa em teatro que entre nós já se escreveu” (DIONYSOS, 1975:60).<br />
Elogia ain<strong>da</strong> a interpretação dos atores, a direção <strong>de</strong> A<strong>da</strong>cto Filho e os<br />
cenários <strong>de</strong> Santa Rosa.<br />
No mesmo número <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> revista, Celso Kelly faz um comentário<br />
rápido sobre O Escravo, que também nomeia como tragédia. Acentua-lhe o<br />
“fundo dramático”, consi<strong>de</strong>ra-a “um tema magnífico para o exercício <strong>da</strong> arte<br />
<strong>dramática</strong> pelo que impõe ao intérprete” e assinala a atenção e o “calor dos<br />
aplausos” com que a platéia saudou o espetáculo – o que <strong>de</strong>smente, na sua<br />
opinião, o conceito generalizado <strong>de</strong> que o público brasileiro só se interessava<br />
<strong>por</strong> comédias ligeiras, “não quer[ia] pensar” e não apreciava teatro amador.<br />
(DIONYSOS, 1975:68)<br />
Gustavo Dória resumiu os posicionamentos sobre O Escravo<br />
assinalando que “muitos vislumbravam um texto fascinante, mas<br />
excessivamente hermético e falho no tratamento técnico” (DORIA, 1975: 90).<br />
Como se po<strong>de</strong> observar, o texto cardosiano causava dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s para<br />
uma classificação formal – embora o próprio autor reconhecesse que sua peça<br />
era um drama – e esta dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> era aumenta<strong>da</strong> pelo olhar ain<strong>da</strong> conservador<br />
66
dos críticos <strong>de</strong> então. Consi<strong>de</strong>rando a situação do meio teatral brasileiro nas<br />
déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong> 30 e 40, já analisa<strong>da</strong> no segmento 2.2 <strong>de</strong>sta Tese, e os diferentes<br />
pontos-<strong>de</strong>-vista transcritos, torna-se possível avaliar o impacto que a peça<br />
causou suscitando opiniões <strong>de</strong>sencontra<strong>da</strong>s e reveladoras <strong>de</strong> uma visão ain<strong>da</strong><br />
conservadora no teatro em nosso meio.<br />
As críticas levaram <strong>Lúcio</strong>, em entrevista concedi<strong>da</strong> em 29 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro<br />
<strong>de</strong> 1943 (menos <strong>de</strong> um mês <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> estréia e, <strong>por</strong>tanto, ain<strong>da</strong> no calor <strong>da</strong>s<br />
palavras), a se posicionar quanto à montagem <strong>de</strong> O Escravo. Embora<br />
incompleto, o artigo permite ler que o autor se <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> <strong>da</strong> acusação, bastante<br />
repeti<strong>da</strong>, <strong>de</strong> que seu teatro não tem ação: “Exteriormente, o louvado teatro <strong>de</strong><br />
Piran<strong>de</strong>lo (sic) bem como o <strong>de</strong> Ibsen possue (sic) muito menos ação do que se<br />
presume.” Reconhece que há <strong>de</strong>feitos na peça, mas afirma que esses não<br />
foram apontados pelos críticos que, segundo ele, limitaram-se a repetir todos o<br />
que todos já haviam dito. Também ataca o público, segundo ele “viciado há<br />
anos, corrompido e mimado pelo que <strong>de</strong> pior existe em matéria <strong>de</strong> <strong>literatura</strong><br />
nacional. Não é nenhuma <strong>literatura</strong>, mas <strong>de</strong>gra<strong>da</strong>ção.” E vangloria-se: “...<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> <strong>de</strong>z anos <strong>de</strong> trabalho, tenho a rara glória <strong>de</strong> ser inimigo <strong>de</strong> todos os<br />
suplementos e revistas literárias do Brasil. Quem não quiser, não leia meus<br />
livros...”<br />
Não era, exatamente, o melhor meio <strong>de</strong> se <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r dos ataques<br />
recebidos ou <strong>de</strong> justificar suas escolhas e orientações artísticas. Mas a queixa<br />
<strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> quanto ao “<strong>de</strong>spreparo” do público juntava-se às vozes <strong>de</strong> tantos<br />
outros dramaturgos que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muito lamentavam a preferência brasileira pelo<br />
mero entretenimento 32 . Apesar disso, a consi<strong>de</strong>rarmos as palavras <strong>de</strong> M.H. e<br />
<strong>de</strong> Celso Kelly, a platéia foi receptiva à encenação <strong>de</strong> O Escravo.<br />
A entrevista repercute tanto quanto (se não mais) que a peça. Em 01º <strong>de</strong><br />
janeiro <strong>de</strong> 1944, Pedro Bloch critica os espetáculos apresentados <strong>por</strong> “Os<br />
Comediantes” no Fon Fon e <strong>de</strong>clara sobre O Escravo:<br />
32 Cf: segmento 2.2 <strong>de</strong>sta Tese.<br />
Peça tenebrosa. Personagens tenebrosas. Ambiente tenebroso.<br />
Chuva e relâmpagos tenebrosos. Trevas, trevas e trevas. Angústia,<br />
angústia, angústia. Que quer dizer tudo isso? Que não quer dizer?<br />
Por que todo aquele drama? P’ra que tanto fraseado que na<strong>da</strong> diz?<br />
67
Traz a peça alguma finali<strong>da</strong><strong>de</strong> estética? Traz o diálogo alguma lição,<br />
algum contingente emocional renovador, algo que nos ensine, que<br />
nos critique, que nos console? Não. A peça não traz na<strong>da</strong>. Minto.<br />
Traz uma interpretação apreciável <strong>de</strong> um enredo e um texto<br />
irrepresentável.<br />
Dizem que o senhor <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> é um gran<strong>de</strong> escritor. Vox<br />
Populi... Eu não entendo <strong>de</strong> “alta” <strong>literatura</strong>. Po<strong>de</strong> ser que eu não<br />
enten<strong>da</strong> “sutilezas” d<strong>de</strong> (sic) peças tenebrosas. Po<strong>de</strong> ser...<br />
Para situar a perspectiva <strong>de</strong> on<strong>de</strong> fala o crítico, reproduzo, a seu<br />
respeito, as palavras <strong>de</strong> Décio <strong>de</strong> A. Prado na análise que tece sobre este<br />
autor e as obras <strong>de</strong> Silveira Sampaio e Abílio Pereira <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong>, esclarecendo<br />
que os três eram autores <strong>de</strong> sucesso do período:<br />
“Pedro Bloch (...) foi o mais <strong>de</strong>sinibi<strong>da</strong>mente comercial dos três, não<br />
tanto <strong>por</strong> amor à bilheteria (...), mas <strong>por</strong>que os seus limites, como<br />
pensador e como especialista em teatro, coincidiam exatamente com<br />
os do gran<strong>de</strong> público. Ele nunca hesitou em com<strong>por</strong> peças sob<br />
medi<strong>da</strong> para <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s personali<strong>da</strong><strong>de</strong>s (Dona Xepa, para Aldo<br />
Garrido, em 1952) ou em imaginar situações carrega<strong>da</strong>s <strong>de</strong><br />
melodramatici<strong>da</strong><strong>de</strong>...” (PRADO, 2003, 56).<br />
Como se po<strong>de</strong> observar, as visões <strong>de</strong> mundo <strong>de</strong> Pedro Bloch e <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> sobre arte literária e sobre o teatro guar<strong>da</strong>vam distâncias oceânicas.<br />
Basta notar que o questionamento Traz o diálogo alguma lição, algum<br />
contingente emocional renovador, algo que nos ensine, que nos critique, que<br />
nos console? remete ao comprometimento do teatro realista <strong>de</strong> criar peças com<br />
imediata feição moralizante. 33 Na<strong>da</strong> mais distante dos propósitos cardosianos e<br />
mesmo do projeto <strong>de</strong> “Os Comediantes”.<br />
Distanciado no tempo, escrevendo em 09 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1950 um artigo<br />
que, posteriormente, seria resumido e incluído em sua obra Panorama do<br />
Teatro Brasileiro, Sábato Magaldi consegue fazer uma análise mais<br />
<strong>de</strong>sapaixona<strong>da</strong> do drama cardosiano. Explicando que só conhece O Escravo<br />
através <strong>da</strong> leitura, <strong>por</strong>que não pô<strong>de</strong> assistir à sua apresentação, afirma que o<br />
texto <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> “se apresentava como a primeira tentativa <strong>de</strong> renovação dos<br />
nossos processos dramáticos, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> espírito sério que então presidiria as<br />
33 Quanto ao teatro realista, especifica Roubine: “Trata-se <strong>de</strong> um teatro-espelho, ou suposto como tal. Sua<br />
base teórica é dupla. O palco, acredita-se, se empenha em <strong>de</strong>volver para a platéia uma imagem<br />
‘semelhante’ <strong>de</strong> si própria. Ao mesmo tempo, veicula uma ‘moral’, ‘diretrizes’ que preten<strong>de</strong>m assegurar a<br />
gestão harmoniosa <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> cotidiana e <strong>de</strong> seus inevitáveis conflitos.” (ROUBINE, 2003: 110) Cf. também<br />
segmento 2.2 <strong>de</strong>sta Tese.<br />
68
conquistas posteriores”. A peça mantém um “vigor literário que não se abate do<br />
primeiro ao último diálogo” e isso mantém sua coesão (MAGALDI, 1997: 265).<br />
No artigo original 34 , Magaldi ain<strong>da</strong> observa que as personagens têm “dramas<br />
<strong>de</strong>masiado compactos” e que seus <strong>de</strong>stinos não conseguem ser totalmente<br />
encaixados na síntese que a peça exige “prejudicando a niti<strong>de</strong>z dos contornos”.<br />
Faz, também, restrições ao diálogo <strong>por</strong> serem constantes as evocações e<br />
referências feitas a acontecimentos passados e, <strong>por</strong> isso, “As falas adquirem,<br />
algumas vezes, certo tom <strong>de</strong>clamatório, além <strong>de</strong> não permitirem gran<strong>de</strong><br />
vivaci<strong>da</strong><strong>de</strong> e presteza”. Ao redigir a versão do livro, assinala que ocorreram<br />
muitos erros na montagem <strong>da</strong> peça, o que impediu a avaliação a<strong>de</strong>qua<strong>da</strong> do<br />
texto (MAGALDI, 1997: 165).<br />
A opinião <strong>de</strong> Magaldi sobre esse “pioneirismo” cardosiano não é<br />
unânime e, ao que parece, também não foi <strong>de</strong>finitiva. Na sua mais recente<br />
publicação, Mo<strong>de</strong>rna dramaturgia brasileira (2005), ele <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> lado as<br />
experiências <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> para centrar suas análises do período apenas em Nelson<br />
Rodrigues. No mesmo sentido, a maioria dos críticos atribui a renovação do<br />
teatro nacional a Vestido <strong>de</strong> noiva, <strong>de</strong> Nelson Rodrigues, dirigido <strong>por</strong><br />
Ziembinski e que foi ao palco alguns dias <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> O Escravo.<br />
<strong>Lúcio</strong> chegou a testemunhar isso e ressentia-se com o fato:<br />
Admiro-me que o Sr. Tristão <strong>de</strong> Athay<strong>de</strong>, tendo assistido à<br />
representação <strong>de</strong> peças minhas, conhecendo meu esforço para<br />
levantar o “Teatro <strong>de</strong> Câmara” e sendo a pessoa que é, omita tão<br />
cui<strong>da</strong>dosamente o meu nome, <strong>da</strong>tando esse novo esforço a partir <strong>de</strong><br />
Nelson Rodrigues e, finalmente, enumerando pessoas que me<br />
parecem inteiramente <strong>de</strong>stituí<strong>da</strong>s <strong>de</strong> valor. Ora, “O Escravo” é<br />
anterior ao “Vestido <strong>de</strong> Noiva” – e creio ter sido <strong>por</strong> intermédio <strong>de</strong> “O<br />
Filho Pródigo” que o Sr. Tristão <strong>de</strong> Athay<strong>de</strong> tomou conhecimento do<br />
Teatro Experimental do Negro. (CARDOSO, 1970: 92)<br />
Entretanto, o próprio Autor registra em seu Diário, anos <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> estréia<br />
e lembrando <strong>da</strong>s discussões com Ziembinski, que “esse pobre drama não<br />
correspon<strong>de</strong>u ao muito que esperei <strong>de</strong>le (...) relendo agora alguns trechos,<br />
percebo suas <strong>de</strong>ficiências e todo o enorme fraseado que a entulha...”<br />
(CARDOSO, 1970:101-102)<br />
34 Obtido no Arquivo do Autor que está na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
69
Gustavo Dória, analisando a atuação <strong>de</strong> Ziembinski no grupo “Os<br />
Comediantes”, comenta o cui<strong>da</strong>do na escolha <strong>de</strong> originais em que o próprio<br />
artista polonês pu<strong>de</strong>sse atuar e a dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> escolher autores nacionais<br />
(DÓRIA, 1975: 87). É sabido que, para a tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong> <strong>de</strong> 1943 <strong>de</strong>ste grupo, duas<br />
peças foram seleciona<strong>da</strong>s: O Escravo e Vestido <strong>de</strong> noiva, a direção <strong>de</strong>sta<br />
última cabendo a Ziembinski. Luíza Barreto Leite esclareceu, numa entrevista a<br />
Yan Michalski e Filomena Chirardia, que o “<strong>de</strong>sinteresse” <strong>de</strong> Ziembinski pelo<br />
teatro cardosiano tinha raízes na postura do Autor, diferente <strong>da</strong> <strong>de</strong> Nelson<br />
Rodrigues:<br />
O que aconteceu com “Vestido <strong>de</strong> noiva” é que a peça era do Nelson<br />
Rodrigues mas Ziembinski modificou totalmente [...] Ele mudou os<br />
diálogos inclusive, cortou aqueles diálogos incisivos [...] Ziembinski<br />
era apaixonado pelo “O escravo”, mas ele quis mu<strong>da</strong>r inclusive a<br />
contextura <strong>dramática</strong>, e isso ele mu<strong>da</strong>va sempre mas ele quis mu<strong>da</strong>r<br />
a filosofia <strong>da</strong> peça, quis fazer um incesto entre dois irmãos [...] E aí<br />
<strong>Lúcio</strong> se negou completamente, e Ziembinski se entregou <strong>de</strong> corpo e<br />
alma a Nelson Rodrigues que <strong>de</strong>ixou ele modificar, cortar. (Apud:<br />
SILVA, 2000: 21)<br />
A peça ganharia a direção <strong>de</strong> A<strong>da</strong>cto Filho e cenários <strong>de</strong> Santa Rosa.<br />
Seu elenco apresentou Luiza Barreto Leite Sans (Augusta), Nadyr Braga<br />
(Izabel), Maria Barreto Leite (cria<strong>da</strong>), Walter Amêndola (Marcos) e Lisette<br />
Buono (Lisa).<br />
CARELLI (1988:54) informa que O Escravo foi encenado também <strong>por</strong><br />
um grupo <strong>de</strong> estu<strong>da</strong>ntes do Paraná e <strong>de</strong> Santa Catarina e que, em 1945, foi<br />
publicado <strong>por</strong> Zélio Valver<strong>de</strong>. Há, também, uma publicação pelo Serviço<br />
Nacional do Teatro <strong>de</strong> 1973, que é a referência utiliza<strong>da</strong> nesse estudo. Treze<br />
anos <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> estréia, o Diário <strong>da</strong> Noite, em 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1956 35 ,<br />
anuncia a exibição <strong>de</strong> uma a<strong>da</strong>ptação feita <strong>por</strong> Sérgio Brito no Gran<strong>de</strong> Teatro<br />
<strong>da</strong> Tv-Tupi.<br />
4.1.2- O texto dramático<br />
35 Arquivo do Autor, Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
70
O drama, composto <strong>de</strong> três atos, inicia-se numa noite <strong>de</strong> tempesta<strong>de</strong>. A<br />
rubrica anuncia que o espaço é Uma velha sala <strong>de</strong> aspecto sombrio. No fundo,<br />
uma esca<strong>da</strong> que conduz ao an<strong>da</strong>r superior. (CARDOSO, 1973:1) Todos os três<br />
atos <strong>da</strong> peça ocorrerão nesta sala <strong>de</strong> uma casa velha, com indícios <strong>de</strong> ruína<br />
econômica, localiza<strong>da</strong> numa miserável al<strong>de</strong>ia (CARDOSO, 1973:8).<br />
Em cena, Augusta <strong>de</strong>sce as esca<strong>da</strong>s. Ela é <strong>de</strong>scrita como uma mulher<br />
envelheci<strong>da</strong> e traz nas mãos uma lamparina. Junta-se a ela Isabel, a irmã mais<br />
nova que se veste com roupas fora <strong>de</strong> uso e tem o aspecto doentio. A primeira<br />
fala que Augusta lhe dirige é uma repreensão (Como é que tem coragem para<br />
sair com um tempo <strong>de</strong>ste?) e marcará o tom <strong>da</strong> relação entre as duas. Ela é,<br />
claramente, quem cui<strong>da</strong> e dirige a irmã que, <strong>por</strong> sua vez, teme <strong>de</strong>sagradá-la.<br />
Augusta repreen<strong>de</strong>-a <strong>por</strong> ter <strong>de</strong>ixado o quarto e afirma que a escutou tossir <strong>por</strong><br />
to<strong>da</strong> a noite. A irmã respon<strong>de</strong> que foi um simples resfriado, que se sente muito<br />
melhor e confessa:<br />
Se você soubesse a vonta<strong>de</strong> que tenho <strong>de</strong> sair, <strong>de</strong> passear e<br />
conversar com os outros. Às vezes estou quieta na minha cama,<br />
imaginando coisas, quando vejo um raio <strong>de</strong> sol... poeira... Guta, a<br />
vi<strong>da</strong> é tão bonita, <strong>por</strong>que é que a gente... (CARDOSO, 1973:2)<br />
Explicita-se aqui a primeira <strong>clausura</strong> do drama: o quarto em que Isabel<br />
se vê encerra<strong>da</strong> <strong>por</strong>que Augusta insiste que está doente e que lhe ve<strong>da</strong> o<br />
convívio social. Às palavras <strong>da</strong> irmã, ela respon<strong>de</strong> secamente: Você é uma<br />
criança, nunca foi outra coisa senão uma criança. Essa exaltação é uma<br />
conseqüência <strong>da</strong> sua doença, um sintoma <strong>de</strong> febre (CARDOSO, 1973:2). Ao<br />
nomeá-la assim, Augusta a <strong>de</strong>stitui <strong>de</strong> maturi<strong>da</strong><strong>de</strong> e a con<strong>de</strong>na a uma<br />
<strong>de</strong>pendência infantil dos seus cui<strong>da</strong>dos. Como Isabel protestasse que não tinha<br />
febre há um mês, a irmã retruca:<br />
Que sabe você a este respeito? Eu, que consulto o termômetro todos<br />
os dias, sei que a febre não se foi embora, que os seus olhos<br />
brilham, que a sua respiração é ofegante. Repito, você não <strong>de</strong>via ter<br />
<strong>de</strong>scido numa noite <strong>de</strong>ssas! (CARDOSO, 1973:2)<br />
É visível, nessa situação, que o domínio é exercido <strong>por</strong> meio <strong>da</strong> fraqueza<br />
que se incute no outro assegurando o controle do mais forte. Depen<strong>de</strong>nte,<br />
Isabel não se constitui sujeito <strong>de</strong> suas ações, mas um objeto dos <strong>de</strong>sejos <strong>de</strong><br />
71
Augusta, que se aproveita <strong>da</strong> situação para exercer seu po<strong>de</strong>r à revelia <strong>da</strong><br />
vonta<strong>de</strong> alheia. Frágil, a subjetivi<strong>da</strong><strong>de</strong> “doente” é vítima <strong>da</strong>s manobras sádicas<br />
do seu “cui<strong>da</strong>dor” que receberá, em troca, a obediência servil e os louvores à<br />
sua bon<strong>da</strong><strong>de</strong>: Como você é boa, como é generosa, como seu coração é<br />
gran<strong>de</strong>! (CARDOSO, 1973:2). Para o espectador, que não está envolvido na<br />
relação e que, <strong>de</strong> fora, observa os com<strong>por</strong>tamentos, a <strong>de</strong>claração agra<strong>de</strong>ci<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> Isabel revela ironia <strong>da</strong> situação cria<strong>da</strong> pelo Autor.<br />
Nesse ponto, a conversa <strong>da</strong>s irmãs volta-se para o assunto principal <strong>da</strong><br />
noite: o retorno <strong>de</strong> Marcos, o irmão que fora internado num sanatório há cinco<br />
anos vítima <strong>de</strong> uma intensa crise nervosa. Isabel elogia as rosas que Augusta<br />
colocou na sala, lamenta que não as tenham com mais freqüência, falam sobre<br />
o quarto que está preparado para recebê-lo. Nesse momento, Isabel pergunta<br />
<strong>por</strong> um jogo que fora <strong>de</strong> Silas.<br />
É a primeira referência ao irmão mais velho. Embora morto há mais <strong>de</strong><br />
cinco anos, sua presença é forte na peça como se ele fosse mais uma<br />
personagem representa<strong>da</strong> <strong>por</strong> um ator. Tudo girará em torno <strong>da</strong> sua memória e<br />
do rancor que Augusta guar<strong>da</strong> <strong>por</strong> ele. A partir <strong>de</strong> sua evocação, a peça se<br />
abrirá em dois planos tem<strong>por</strong>ais: o presente e a rememoração. A maior parte<br />
dos acontecimentos estará concentra<strong>da</strong> no segundo plano e essa foi uma<br />
dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> para a apreciação <strong>da</strong> época. Embora Vestido <strong>de</strong> noiva seja ain<strong>da</strong><br />
mais radical (três planos: memória, reali<strong>da</strong><strong>de</strong> e alucinação), sua estrutura<br />
espacial facilitou o trânsito <strong>de</strong> uma para outra dimensão tem<strong>por</strong>al. Em <strong>Lúcio</strong>, os<br />
dois tempos acontecem no mesmo espaço e o passado, que predomina, surge<br />
apenas através do diálogo <strong>da</strong>s personagens.<br />
Pouco se sabe sobre Silas. Por Isabel, <strong>de</strong>scobre-se que ele costumava<br />
chegar embriagado em casa e que também gritava no alto <strong>da</strong> esca<strong>da</strong><br />
(CARDOSO, 1973:7); <strong>por</strong> Marcos, que ele inspirava um estranho terror a Lisa,<br />
companheira <strong>de</strong> infância e, mais tar<strong>de</strong>, sua mulher; <strong>por</strong> Lisa, que todos diziam<br />
que ele era um menino triste e que a insultava <strong>por</strong>que ela era alegre <strong>de</strong>mais<br />
(CARDOSO, 1973:19). Numa conversa entre Marcos e Lisa, o espectador<br />
conhece o sadismo <strong>de</strong> Silas (Uma vez obrigou-me a ficar <strong>de</strong> joelhos durante<br />
72
uma hora inteira só <strong>por</strong>que eu esquecera <strong>de</strong> cumprir uma promessa, dirá Lisa –<br />
CARDOSO, 1973:20). Augusta traça o retrato mais rancoroso do morto:<br />
Já é tempo para você compreen<strong>de</strong>r certas coisas, Isabel. É ver<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
que a você ele na<strong>da</strong> fez, na<strong>da</strong> podia fazer a uma criança. Mas o seu<br />
<strong>de</strong>sastre me apanhou em plena moci<strong>da</strong><strong>de</strong>. Vamos, levante a sua<br />
cabeça e olhe-me nos olhos, bem nos olhos. Decerto você não sabe<br />
o que é uma moci<strong>da</strong><strong>de</strong> inteira perdi<strong>da</strong>, pois a moci<strong>da</strong><strong>de</strong> foi sempre<br />
uma coisa ausente <strong>da</strong> sua vi<strong>da</strong>. Mas repito, olhe no fundo dos meus<br />
olhos o que é o <strong>de</strong>sespero concentrado, o fulgor <strong>da</strong>s horas vivi<strong>da</strong>s<br />
numa odiosa solidão, o tormento <strong>de</strong> uma existência estéril, inútil, sem<br />
i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> espécie alguma.<br />
(...)<br />
Pois bem, tudo isso é obra <strong>de</strong> Silas, é o resultado <strong>da</strong> sua que<strong>da</strong>, <strong>da</strong>s<br />
suas fraquezas e do seu tremendo egoísmo. Numa miserável al<strong>de</strong>ia<br />
como esta em que vivemos, na<strong>da</strong> permanece escondido, tudo sobe à<br />
flor <strong>da</strong>s águas como uma on<strong>da</strong> <strong>de</strong> espuma suja. Perdi tudo, até a<br />
minha capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ternura. A ver<strong>da</strong><strong>de</strong> é que até o instante em que<br />
me senti abandona<strong>da</strong> <strong>por</strong> todos, ain<strong>da</strong> não conhecia o mundo, não<br />
sabia como os homens se <strong>de</strong>testam, como se truci<strong>da</strong>m uns aos<br />
outros com tão requinta<strong>da</strong> habili<strong>da</strong><strong>de</strong>...(CARDOSO, 1973:8)<br />
Como se vê, não fica claro qual foi o “mal” que Silas fez à irmã, mas é<br />
explícita sua mágoa. Ela se sente ain<strong>da</strong> vítima do morto e, embora <strong>de</strong>seje viver<br />
sem terror, lançando fora o que já não presta, o que nos impe<strong>de</strong> <strong>de</strong> seguir o<br />
nosso caminho (CARDOSO, 1973:6), limita-se a uma interminável batalha em<br />
que seus atos constituem <strong>de</strong>safios e insultos à memória do morto<br />
consi<strong>de</strong>rando, a si mesma e à família, seres à parte <strong>de</strong>ssa reali<strong>da</strong><strong>de</strong> em que<br />
todos respiram (CARDOSO, 1973:6).<br />
Sua mágoa pelo irmão supera o amor <strong>por</strong> Marcos (Esse é o motivo pelo<br />
qual, <strong>por</strong> ódio a Silas, <strong>de</strong>diquei-me a arrebatar esta última vítima – CARDOSO,<br />
1973:10) e a leva a se <strong>de</strong>sfazer dos objetos do falecido: o jogo <strong>de</strong> marfim,<br />
anteriormente referido e um pequeno relógio. Isabel e, mais tar<strong>de</strong> Marcos,<br />
<strong>da</strong>rão falta dos objetos e Augusta argumentará que precisou vendê-los <strong>por</strong><br />
dinheiro e que está farta <strong>de</strong> viver cerca<strong>da</strong> <strong>de</strong> objetos velhos, já não posso mais<br />
respirar o ar <strong>de</strong> mofo <strong>de</strong>sta casa (CARDOSO, 1973:5). É a segun<strong>da</strong> <strong>clausura</strong>,<br />
<strong>da</strong> própria Augusta, que não consegue se libertar do fantasma do passado e<br />
con<strong>de</strong>na-se a viver numa casa cuja <strong>de</strong>cadência parece mimetizar a sua própria<br />
ruína.<br />
73
Em cena, as mulheres relembram a “crise” <strong>de</strong> Marcos, motivo <strong>de</strong> sua<br />
internação: Ouvi <strong>da</strong> esca<strong>da</strong> as panca<strong>da</strong>s que ele <strong>da</strong>va na <strong>por</strong>ta. Tive um<br />
sobressalto, custei tanto a reconhecer a voz! Era uma voz inteiramente<br />
transforma<strong>da</strong>, lembra-se? (CARDOSO, 1973:6) perguntará Isabel a Augusta.<br />
Ela confirmará que a voz era <strong>de</strong> Silas sugerindo que Marcos estava “possuído”<br />
pelo morto: escutei a voz <strong>de</strong> Silas, a voz do que tinha morrido (...) Deste<br />
mesmo lugar em que estou agora, ouvi aquela voz estranha, sobrenatural,<br />
gritando que o perdoássemos... (CARDOSO, 1973:9).<br />
É uma leve insinuação, no drama, do maravilhoso 36 , reali<strong>da</strong><strong>de</strong> na qual<br />
Augusta crê e firma suas convicções, <strong>de</strong>sautorizando a opinião médica (a<br />
palavra científica) sobre a doença do Marcos: Mas o que a ciência sabe?<br />
Quando um grão <strong>de</strong> sobrenatural se introduz na engrenagem <strong>da</strong>s coisas, todos<br />
os livros <strong>de</strong> ciência do mundo não bastam para fazê-la an<strong>da</strong>r <strong>de</strong> novo. A<br />
ver<strong>da</strong><strong>de</strong> é a que eu ouvi e não a que disseram (CARDOSO, 1973:10).<br />
Nesse momento, <strong>de</strong>sven<strong>da</strong>-se a terceira <strong>clausura</strong> do texto. O espectador<br />
<strong>de</strong>scobre que, durante sua crise, Marcos chamava <strong>por</strong> Lisa (viúva <strong>de</strong> Silas) e<br />
confundia sua imagem com todos que <strong>de</strong>le se aproximavam. A cunha<strong>da</strong><br />
assistiu à parti<strong>da</strong> do rapaz para o sanatório e Augusta acredita que nesta<br />
ocasião ela reconheceu também a voz e que ela também tinha alguma coisa a<br />
perdoar ao morto (CARDOSO, 1973:11). Des<strong>de</strong> então, Lisa vivia reclusa na<br />
casa <strong>da</strong>s cunha<strong>da</strong>s ocupando um quarto no fundo do corredor.<br />
Portanto, a partir do diálogo <strong>da</strong>s irmãs, o espectador toma conhecimento<br />
dos caracteres <strong>de</strong> Augusta, Isabel, Lisa e Silas, através <strong>da</strong> rememoração; fica<br />
sabendo do motivo do afastamento <strong>de</strong> Marcos; percebe o rancor <strong>de</strong> Augusta<br />
pelo morto, embora o núcleo do conflito entre ela e Silas não chegue a ser<br />
inteiramente explicitado. O drama justifica todos os com<strong>por</strong>tamentos do<br />
presente pelo que aconteceu no passado e esse é o tempo predominante para<br />
aquelas vi<strong>da</strong>s.<br />
36 Segundo o Dicionário <strong>de</strong> termos literários, o maravilhoso, sobretudo o “maravilhoso subjetivo”,<br />
caracteriza-se “pelas alucinações, ou seja, alterações profun<strong>da</strong>s <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> concreta <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s pela<br />
psicologia enferma <strong>da</strong>s personagens, como, <strong>por</strong> exemplo, a visão <strong>de</strong> fantasmas (...)” (MOISÉS, 2002:<br />
320)<br />
74
Ain<strong>da</strong> no primeiro ato, chega Marcos, que se admira com o abatimento<br />
<strong>de</strong> Isabel. Sua conversa com Augusta prolonga um pouco a sugestão do<br />
maravilhoso já anunciado anteriormente: É isso mesmo, perdi o contato,<br />
<strong>de</strong>sprendi-me <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> como se fosse um fantasma. Uma vonta<strong>de</strong> alheia<br />
se apossou do meu espírito, uma vonta<strong>de</strong> que já não se prendia mais às coisas<br />
concretas <strong>da</strong> terra... (CARDOSO, 1973:14) e o rapaz <strong>de</strong>ixa entrever um leve<br />
antagonismo em relação à irmã mais velha. Sente-se alegre em reencontrar<br />
Lisa, que <strong>de</strong>ixa o quarto para revê-lo, e lembram o passado quando eram<br />
companheiros <strong>de</strong> brinca<strong>de</strong>ira e quando era apaixonado <strong>por</strong> ela.<br />
A conversa entre os dois revela como Silas os manipulava: fingia-se<br />
doente para obrigá-los a cumprir suas vonta<strong>de</strong>s sob ameaça <strong>de</strong> que morreria.<br />
Marcos afirma: No fundo, nós ambos tínhamos medo que ele morresse, esta<br />
era a ver<strong>da</strong><strong>de</strong> (CARDOSO, 1973:20). Essa é uma fala reveladora, se li<strong>da</strong><br />
naquilo que silencia. É possível <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r, <strong>da</strong> conversa, que o afeto entre<br />
eles <strong>de</strong>sagra<strong>da</strong>va Silas; sabe-se também que o morto aterrorizava a menina e<br />
que ela, apesar disso, se casou com ele, frustrando Marcos e certamente<br />
sofrendo com uma escolha que prolongava as torturas <strong>da</strong> infância. Não é difícil<br />
imaginar o quanto, inconscientemente, ambos tenham <strong>de</strong>sejado a morte <strong>de</strong><br />
Silas. É possível que a culpa <strong>por</strong> <strong>de</strong>sejar a morte do irmão e o amor pela<br />
cunha<strong>da</strong> tenham <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ado a crise <strong>de</strong> Marcos; e que o remorso <strong>por</strong><br />
<strong>de</strong>sejar a morte do marido tenha imposto a Lisa uma forma <strong>de</strong> expiação<br />
compensatória na reclusão a que se impôs. Afinal, a psicanálise ensina que<br />
imitar um morto pela <strong>de</strong>pressão, inibição ou doença po<strong>de</strong> representar uma<br />
punição imposta para expiar fantasias criminosas. Lisa mesma afirma, no<br />
segundo ato: acho que Silas morreu para nos causar remorsos... (CARDOSO,<br />
1973:25).<br />
O ato seguinte acontecerá na mesma noite. Marcos escreve à luz <strong>da</strong><br />
lamparina (CARDOSO, 1973:21), especifica a rubrica. Dessa vez, é Lisa quem<br />
<strong>de</strong>sce as esca<strong>da</strong>s e a conversa trava<strong>da</strong> entre os dois revela-se ambígua, cheia<br />
<strong>de</strong> i<strong>da</strong>s e vin<strong>da</strong>s, afirmações e negativas. O tempo predominante ain<strong>da</strong> é o <strong>da</strong><br />
lembrança.<br />
75
Inicia-se um diálogo tenso. Marcos <strong>de</strong>cidiu abandonar a casa, ir para<br />
longe e Lisa dá-lhe razão <strong>por</strong> <strong>de</strong>sejar partir, reconhece que Há alguma coisa<br />
nessa casa que não nos dá o direito <strong>de</strong> viver 37 (CARDOSO, 1973:23). Ele<br />
afirma que observou a falta <strong>de</strong> alguns objetos que Augusta teria vendido<br />
justamente no dia anterior e afirma: Ela ven<strong>de</strong>rá tudo, ela nos <strong>de</strong>struirá sem<br />
pie<strong>da</strong><strong>de</strong>, fará <strong>de</strong> nós o que fez <strong>de</strong> Isabel (CARDOSO, 1973:23). Apesar <strong>de</strong> <strong>da</strong>r<br />
razão ao amigo <strong>de</strong> infância, Lisa queixa-se:<br />
(aproximando-se, <strong>de</strong>sampara<strong>da</strong>) E <strong>de</strong> novo eu ficarei sozinha entre<br />
estas pare<strong>de</strong>s. Oh, Marcos, não é possível que você me abandone<br />
assim! Antes eu ain<strong>da</strong> tinha esperança, contava com a sua vin<strong>da</strong>.<br />
Mas se partir agora, sei que você não voltará mais – e para mim será<br />
a morte <strong>de</strong>finitiva. (CARDOSO, 1973:24)<br />
Sua reação leva Marcos a acreditar que ela também seja apaixona<strong>da</strong><br />
<strong>por</strong> ele. Mas ela retruca: Não, não é isso que eu quero dizer. (CARDOSO,<br />
1973:24), acrescentando que a razão <strong>de</strong> sua angústia está no passado do qual<br />
não consegue se livrar:<br />
(...) Passei cinco anos revivendo uma vi<strong>da</strong> inteira, hora <strong>por</strong> hora,<br />
minuto <strong>por</strong> minuto, um século <strong>de</strong> dúvi<strong>da</strong>s! O que você disse sobre a<br />
nossa infância, os brinquedos, as rosas... Não compreen<strong>de</strong>u ain<strong>da</strong><br />
que tudo isso vive em mim <strong>de</strong> uma maneira atroz? (CARDOSO,<br />
1973:24)<br />
A evocação do passado traz Silas <strong>de</strong> volta à cena e Marcos lembra que<br />
Augusta não conseguia perdoar ao irmão. Lisa aproveita para ex<strong>por</strong> uma<br />
dúvi<strong>da</strong> <strong>de</strong> anos: seria o ex-marido um homem ruim?<br />
Não sei, Lisa, nunca o soube. Nele tudo se confundia num amálgama<br />
<strong>de</strong> mistério, sofrimento e simulação. Havia em sua alma qualquer<br />
coisa terrivelmente massacra<strong>da</strong>, algo que ele não podia nos perdoar.<br />
Ou talvez ele não tivesse conseguido matar senão a si mesmo. O<br />
certo é que eu não o amava, nunca pu<strong>de</strong> amá-lo. Sempre me causou<br />
um terror animal, obscuro. Às vezes ouço ain<strong>da</strong> um gemido ou a sua<br />
voz que <strong>de</strong> longe me pe<strong>de</strong> para perdoá-lo... (CARDOSO, 1973:25)<br />
Ou talvez ele não tivesse conseguido matar senão a si mesmo. A fala<br />
<strong>de</strong>ixa, nas entrelinhas, a sugestão <strong>de</strong> que Silas tenha cometido suicídio.<br />
37 Sua fala ecoa a <strong>de</strong> Augusta, ain<strong>da</strong> no primeiro ato: Mas há aqui alguma coisa que não se <strong>de</strong>ixa vencer.<br />
(CARDOSO, 1973:4)<br />
76
Quanto à voz e ao gemido, Lisa questiona se não seriam alucinações <strong>de</strong><br />
Marcos, que nega afirmando sua certeza <strong>de</strong> que o morto erra entre nós, cheio<br />
<strong>de</strong> remorso. É mais uma aproximação ao maravilhoso cuja presença no drama<br />
<strong>de</strong>nuncia a incapaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s personagens em li<strong>da</strong>r com o mundo que as<br />
cerca. O sobrenatural aparece como justificativa necessária para aquilo com<br />
que não conseguem li<strong>da</strong>r no plano <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>, que lhes é opaca e<br />
inexplicável.<br />
Ruim ou apenas neurótico, o certo é que Silas não <strong>de</strong>ixou uma<br />
impressão amorosa na família. Já se pô<strong>de</strong> perceber que Augusta empreen<strong>de</strong><br />
uma vingança contra ele e Marcos afirma que não o amava. Agora Lisa,<br />
questiona<strong>da</strong> sobre seus sentimentos a respeito ex-marido respon<strong>de</strong>: Não sei,<br />
Marcos, nunca o soube. (...) Quando há pouco ouvi você falar, senti que estas<br />
idéias eram sentimentos nascidos <strong>da</strong> infância, quando no escuro ele me<br />
puxava os cabelos ou me mordia os braços (...) (CARDOSO, 1973:26). Na<br />
seqüência do diálogo, a mulher afirma que nunca o amou e que <strong>de</strong>scobriu isso<br />
no dia em que Marcos teve sua crise. Ele lhe pergunta, então, o motivo <strong>de</strong> sua<br />
reclusão: Mas é tão fácil adivinhar! Apenas percebera que gran<strong>de</strong> erro tinha<br />
sido a minha vi<strong>da</strong>. Não existia em mim amor pelo homem com quem eu me<br />
casara. O pior é que só vim a sabê-lo muito tar<strong>de</strong> (CARDOSO, 1973:28).<br />
A resposta soa paradoxal: afinal, a viuvez <strong>de</strong>veria libertá-la <strong>de</strong> um<br />
equívoco cometido, não aprisioná-la mais ain<strong>da</strong>. Mas esse posicionamento<br />
fortalece a idéia <strong>de</strong> que Silas é uma presença necessária entre eles. Todos <strong>da</strong><br />
casa, com exceção <strong>de</strong> Isabel – que é domina<strong>da</strong> pela irmã mais velha –,<br />
<strong>de</strong>finem suas i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong>s em função <strong>de</strong>le: Augusta não po<strong>de</strong> terminar a luta<br />
contra ele <strong>por</strong>que, provavelmente, não saberia o que fazer <strong>da</strong> sua própria vi<strong>da</strong><br />
– seu oponente é seu duplo e, sem ele, ela não existe; Marcos, que passou a<br />
infância apaixonado pela mesma mulher que o irmão, quando se vê <strong>de</strong>sprovido<br />
<strong>de</strong> sua imagem tem uma crise nervosa: sua voz se assemelha à do morto e<br />
chama <strong>por</strong> sua esposa na tentativa <strong>de</strong> assumir-lhe a i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> e a vi<strong>da</strong> que,<br />
provavelmente, invejava; e Lisa, que su<strong>por</strong>tou-lhe as brinca<strong>de</strong>iras sádicas e<br />
aceitou ser sua mulher, quando ele morre refugia-se em casa – “morrendo”<br />
também; quando Marcos tem sua crise e ela relembra o marido, en<strong>clausura</strong>-se<br />
77
<strong>por</strong> cinco anos como o amigo e só abandona o quarto quando ele volta para<br />
casa.<br />
As personagens não têm, pois, suas i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong>s maduramente<br />
constituí<strong>da</strong>s e o sistema familiar parece um jogo <strong>de</strong> espelhos em que um é<br />
reflexo do outro. Esse jogo precisa ser mantido para não “<strong>de</strong>saparecerem” e<br />
isso se materializa na linguagem: como se po<strong>de</strong>rá observar através <strong>de</strong> algumas<br />
<strong>da</strong>s notas <strong>de</strong> ro<strong>da</strong>pé, as personagens redizem o que outras já disseram, como<br />
se nenhuma tivesse um discurso próprio – e como se, na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, existisse<br />
apenas um único discurso circular. Não po<strong>de</strong>ndo seguir com a vi<strong>da</strong> em frente -<br />
<strong>por</strong>que não alcançam constituir uma i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> e assumir uma vi<strong>da</strong> próprias,<br />
<strong>de</strong>staca<strong>da</strong>s <strong>da</strong> massa familiar informe – sobra-lhes reviver sempre as mesmas<br />
coisas e redizer sempre as mesmas impressões. A volta <strong>de</strong> Marcos abala essa<br />
“circulari<strong>da</strong><strong>de</strong>” <strong>por</strong>que introduz um “estranho”, que estivera ausente nos últimos<br />
anos. Ele é o elemento que perturba o equilibro (instável) <strong>da</strong> casa, obriga a<br />
rememoração e força outras palavras a virem à tona. Daí ele constituir um novo<br />
oponente para Augusta, que tenta anulá-lo.<br />
Voltando à cena, Lisa acaba revelando o que antes negara: que amava<br />
Marcos e que se tinha <strong>de</strong>dicado a viver <strong>da</strong> lembrança <strong>de</strong>le nos últimos cinco<br />
anos. Emocionado, o rapaz lamenta <strong>por</strong>que essa revelação é um sol que nasce<br />
muito tar<strong>de</strong> (CARDOSO, 1973:28) para eles e a convi<strong>da</strong> a partir. A cunha<strong>da</strong><br />
adia a resposta e <strong>de</strong>ixa a cena.<br />
A saí<strong>da</strong> <strong>de</strong> Lisa é segui<strong>da</strong> pela entra<strong>da</strong> <strong>de</strong> Augusta, que também <strong>de</strong>sce<br />
as esca<strong>da</strong>s. A sala é um inferno on<strong>de</strong> os familiares são obrigados a <strong>de</strong>scer<br />
para enfrentarem seus tormentos e os encontros servem para <strong>de</strong>vassar os<br />
segredos enterrados há tempos. Ela repreen<strong>de</strong> o rapaz <strong>por</strong> estar “abusando <strong>da</strong><br />
saú<strong>de</strong>” e recomen<strong>da</strong>-lhe repouso lembrando as or<strong>de</strong>ns médicas. Marcos lhe<br />
pergunta se não seria conveniente mu<strong>da</strong>rem <strong>de</strong> casa e ela retruca:<br />
Deixarmos essa casa? Acho que não teria coragem para isto,<br />
Marcos. Aqui vivi to<strong>da</strong> a minha vi<strong>da</strong> e aqui quero morrer.<br />
(...)<br />
(Ar<strong>de</strong>nte) Esta casa é o meu sangue, tudo o que existe <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>la<br />
tem uma significação particular para mim. (CARDOSO, 1973:30-31)<br />
78
Marcos afirma que quer viver com liber<strong>da</strong><strong>de</strong> e que sentia que isso era<br />
impossível ali. Ele <strong>de</strong>seja romper com os vínculos familiares e <strong>de</strong>ixar a casa<br />
forçaria a ruptura <strong>da</strong> relação simbiótica que Augusta <strong>de</strong>seja manter a todo<br />
custo. Ele a percebe como um empecilho para a liber<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>por</strong>que lhe tolhe a<br />
possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> expressar-se com autonomia. Como se a irmã insistisse que<br />
era um disparate, ele <strong>de</strong>clara irritado:<br />
(Sempre em voz baixa, febril) Pois então direi tudo numa linguagem<br />
que esteja a seu alcance. Augusta, é <strong>de</strong> você, são dos seus olhos<br />
que eu quero livrar-me. São eles que me seguem <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que entrei<br />
aqui e <strong>de</strong>les é que vem esta ameaça que me ron<strong>da</strong> 38 . Compreen<strong>de</strong>u<br />
agora? Não, não se levante, não procure encontrar uma <strong>de</strong>sculpa,<br />
quero falar tudo, atirar fora este peso que trago sobre o coração. É<br />
inútil negar, tudo o que existia em mim foi arrebatado, perdido,<br />
inteiramente aniquilado. (CARDOSO, 1973:33)<br />
Ele prossegue na acusação, afirmando que há muito sente a tentativa <strong>de</strong><br />
domínio <strong>da</strong> irmã e que ela também sabia <strong>da</strong> resistência que ele, diferente <strong>de</strong><br />
Isabel, lhe opunha. E que apenas Silas a impedia <strong>de</strong> viver como <strong>de</strong>sejava:<br />
É ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que você estava pronta para a luta... mas Silas ain<strong>da</strong><br />
existia. Só ele existia então nesta casa. Você não tinha direito a<br />
coisa alguma, ele a tratava como uma inimiga <strong>da</strong> pior espécie, como<br />
um animal <strong>da</strong>ninho, como... Augusta, é preciso confessar que ele a<br />
conhecia melhor que nós. (CARDOSO, 1973:33)<br />
Marcos chega a responsabilizá-la pela crise que viveu: Sim, pois exausta<br />
<strong>de</strong>ssa luta sur<strong>da</strong>, a confusão se tinha apo<strong>de</strong>rado do meu espírito (CARDOSO,<br />
1973:33). A discussão prossegue e encontra um novo objeto: a carta que<br />
Marcos estivera a redigir no início <strong>de</strong>ste ato. Augusta quer vê-la, o irmão se<br />
nega a mostrá-la e ela exige, então, que ele não a mostre a mais ninguém. Ela,<br />
<strong>por</strong> fim, <strong>de</strong>clara que conhece seu segredo e ele <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> chamar Lisa <strong>de</strong> volta à<br />
sala a fim <strong>de</strong> que nenhum mal-entendido favoreça as suas maquinações<br />
(CARDOSO, 1973:36).<br />
38 Sua voz ecoa a <strong>de</strong> Augusta no primeiro ato: “Ca<strong>da</strong> vez que passo junto a esses móveis, vejo uma<br />
sombra enorme projetar-se sobre mim como se tivesse a intenção <strong>de</strong> me interceptar os passos.”<br />
(CARDOSO, 1973:6). Como se po<strong>de</strong> observar, Marcos também compartilha do “discurso comum” <strong>da</strong><br />
família. O que o distingue é a <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> rompê-lo, o que está ausente dos vagos <strong>de</strong>sejos <strong>da</strong>s mulheres e<br />
que <strong>de</strong>sequilibra o sistema familiar.<br />
79
Lisa <strong>de</strong>sce e Augusta se empenha em afirmar que o irmão está alterado,<br />
que seu estado po<strong>de</strong> piorar e que ela é culpa<strong>da</strong> <strong>por</strong> não o poupar <strong>de</strong> excessos<br />
que po<strong>de</strong>riam ser prejudiciais ao seu equilíbrio. Irritado, Marcos diz-lhe que se<br />
cale e que tem algo a contar à cunha<strong>da</strong>:<br />
AUGUSTA (interrompendo-o, irônica) Trata-se <strong>de</strong> um antigo segredo.<br />
Tudo é velho e sem interesse, e é em torno <strong>de</strong> coisas <strong>de</strong>sta natureza<br />
que construímos a nossa vi<strong>da</strong> (CARDOSO, 1973:37).<br />
Essa talvez seja a fala mais lúci<strong>da</strong> <strong>de</strong>ste ato: <strong>de</strong> fato, como já foi<br />
assinalado, tudo é lembrança: Augusta vive <strong>de</strong> um ódio alicerçado no passado<br />
que, <strong>de</strong> tão obsessivo, aproxima-se <strong>de</strong> uma paixão; Marcos afirma ter vivido os<br />
últimos cinco anos <strong>da</strong> lembrança <strong>de</strong> Lisa que, <strong>por</strong> sua vez, viveu <strong>da</strong> lembrança<br />
<strong>de</strong>le e <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> que passou. Além disso, Marcos lembra a disputa <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r entre<br />
os dois irmãos mais velhos e atribui ao <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> domínio <strong>de</strong> Augusta a crise<br />
que o acometeu. Ela também já relembrou a crise (no primeiro ato, com Isabel)<br />
e a atribui à influência <strong>de</strong> Silas. Excetuando-se a idéia abstrata <strong>de</strong> Marcos <strong>de</strong><br />
partir (ele não sabe para on<strong>de</strong> nem como viveria), não há nenhuma realização<br />
no presente <strong>de</strong>ssas pessoas nem qualquer projeção para o futuro. Por estas<br />
razões, é possível afirmar que o tempo <strong>de</strong>sse drama é o passado e seu recurso<br />
fun<strong>da</strong>mental é a rememoração.<br />
De volta ao palco: quando Marcos tenta revelar seu segredo, Lisa diz<br />
que já o conhece. A <strong>de</strong>speito disso, ele prossegue dizendo que sempre a<br />
amara e que <strong>de</strong>sejara protegê-la <strong>da</strong> agressivi<strong>da</strong><strong>de</strong> do irmão, que a machucava<br />
e aterrorizava:<br />
(...) Mas apesar <strong>de</strong> tudo, não ousei dizer na<strong>da</strong>, todos nós sofríamos<br />
em silêncio, odiando-o quase sem consciência <strong>de</strong>sse ódio. Foi aí que<br />
comecei a imaginar que apesar <strong>de</strong> tudo, o escolhido era eu, que<br />
você um dia acabaria <strong>por</strong> romper esse fútil contrato com meu irmão.<br />
(...)<br />
Mas você não rompeu, ao contrário, com o correr do tempo fui<br />
compreen<strong>de</strong>ndo que uma força obscura a aprisionava a ele. Muitas<br />
vezes pensei em lutar e arrebatá-la <strong>da</strong>s suas mãos. Mas era inútil,<br />
Silas era muito mais forte do que nós. Como sofri, como <strong>de</strong>rramei<br />
inúteis lágrimas, como odiei essa sombra que pesava sobre o meu<br />
<strong>de</strong>stino! On<strong>de</strong> quer que fosse sentia sempre os seus olhos me<br />
80
acompanhando 39 , como se eu tivesse alguma culpa escondi<strong>da</strong>.<br />
Cheguei a imaginar que eu era realmente um criminoso. Mais tar<strong>de</strong><br />
pensei muito em tudo isso. De que po<strong>de</strong>riam ser culpa<strong>da</strong>s duas<br />
crianças como nós? Sim, Lisa, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esse tempo que eu a amava,<br />
que eu vivia <strong>da</strong> sua lembrança e <strong>da</strong> sua imagem. (CARDOSO,<br />
1973:38)<br />
A fala transcrita reitera a hipótese levanta<strong>da</strong> sobre os motivos que<br />
favoreceram a crise nervosa <strong>de</strong> Marcos: a rejeição e a culpa, já menciona<strong>da</strong>s,<br />
além do já referido “jogo <strong>de</strong> espelhos”. Morto o irmão e adversário, ele transfere<br />
os sentimentos agressivos para Augusta que, <strong>por</strong> sua vez, esforça-se <strong>por</strong><br />
colocá-lo no lugar do morto que precisa continuar odiando (notem-se a<br />
insistência <strong>de</strong>la em relação à voz <strong>de</strong> Marcos ser a <strong>de</strong> Silas; o cui<strong>da</strong>do em<br />
hospedá-lo no quarto do irmão falecido e, mais tar<strong>de</strong>, a tentativa <strong>de</strong> casá-lo<br />
com Lisa) – o que possibilitaria a ela “unificar” seus dois antagonistas.<br />
No sistema <strong>de</strong>ssa família dilacera<strong>da</strong>, marca<strong>da</strong> pelas disputas <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e<br />
pelo rancor, como venho assinalando, Silas é um algoz necessário e seu luto<br />
não po<strong>de</strong> ser elaborado <strong>por</strong>que suas “vítimas” se recusam a abandonar seus<br />
papéis: Augusta vive do po<strong>de</strong>r que exerce sobre Isabel, dos cui<strong>da</strong>dos a Marcos<br />
no passado e, agora, <strong>de</strong> tentar colocá-lo no lugar <strong>de</strong> Silas e, através <strong>de</strong> seu<br />
domínio, alcançar a vitória que tanto persegue, embora renovando o combate<br />
dia a dia; Marcos enxerga nela a opressão a que já se submetera <strong>por</strong> causa <strong>da</strong><br />
culpa – o que indicia que não se livrou <strong>de</strong>la; e Lisa, que se subordinava aos<br />
sadismos do marido, agora submete-se à autori<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Augusta cultivando,<br />
masoquistamente, sua reclusão. E todos responsabilizam o falecido pela forma<br />
como conduzem suas vi<strong>da</strong>s.<br />
O terceiro ato se abre com Lisa e Marcos na mesma sala. Vê-se que é<br />
dia, apesar <strong>da</strong> escassa clari<strong>da</strong><strong>de</strong> que penetra através <strong>da</strong>s janelas abertas<br />
(CARDOSO, 1973:21), assinala a rubrica. O amanhecer traz uma carga<br />
simbólica, já que esse é o último ato e se marca <strong>por</strong> uma “escassa clari<strong>da</strong><strong>de</strong>”<br />
nas percepções <strong>da</strong>s personagens que atravessam uma longa noite <strong>de</strong> tantos<br />
anos.<br />
39 É a mesma sensação que Lisa tinha em relação ao marido: Tinha sempre medo <strong>por</strong>que sentia sobre<br />
mim, constantemente, os seus olhos gelados (CARDOSO, 1973:19). Essa percepção prolongou-se, para<br />
Marcos, na figura <strong>de</strong> Augusta: tenho a impressão <strong>de</strong> estar constantemente vigiado, seguido passo a passo<br />
<strong>por</strong> dois olhos implacáveis. Des<strong>de</strong> que entrei aqui imaginei ser esta a sensação <strong>de</strong> um animal que fareja<br />
a presença do caçador. (...) são dos seus olhos que eu quero livrar-me. (CARDOSO, 1973: 32).<br />
81
Sentados, os cunhados conversam. Marcos reafirma o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> partir,<br />
que Lisa acha irrealizável. Para isso é preciso ter recursos – e você não tem.<br />
De que iria viver? (CARDOSO, 1973:41). Uma dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> prosaica<br />
(<strong>de</strong>saparecerei para nunca mais voltar, mu<strong>da</strong>rei até <strong>de</strong> nome), mas um<br />
argumento sensato e, para Marcos, ele seria um obstáculo consi<strong>de</strong>rável, já que<br />
era Augusta quem gerenciava os bens e, segundo ela, a família estava<br />
passando <strong>por</strong> dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s financeiras. A esse argumento, Lisa junta o afeto.<br />
Afirma precisar que fique para que ela consiga continuar vivendo, pe<strong>de</strong> que<br />
não a abandone. Marcos retruca que não tem motivação para continuar, que<br />
na<strong>da</strong> o pren<strong>de</strong> à vi<strong>da</strong>. Ofendi<strong>da</strong>, a mulher cobra que ele não traia as<br />
esperanças que acordou nela. Ele se <strong>de</strong>sculpa, afirmando o que po<strong>de</strong>ria ser<br />
uma <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> to<strong>da</strong>s as personagens:<br />
Augusta tem razão, não sou alguém, um ser <strong>de</strong>finido, uma<br />
personali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Não passo <strong>de</strong> uma sombra nasci<strong>da</strong> num inferno<br />
gelado. Não vivo <strong>por</strong> sentimentos naturais, mas <strong>por</strong> emoções que já<br />
não servem para na<strong>da</strong>. (CARDOSO, 1973:43)<br />
Inconforma<strong>da</strong> com a passivi<strong>da</strong><strong>de</strong> do amigo, ela relembra: Não confessou<br />
que me amava, não o disse em presença <strong>de</strong> Augusta? (CARDOSO, 1973:43) e<br />
ele reafirma amá-la como no primeiro dia, mas que, em ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, ela não o ama<br />
e nunca o amou:<br />
Na ver<strong>da</strong><strong>de</strong> eu não existo aos seus olhos. Nem mesmo isto. To<strong>da</strong> a<br />
sua alma está violentamente volta<strong>da</strong> para outra pessoa. (CARDOSO,<br />
1973:43)<br />
Marcos, então, lembra-lhe que quando teve sua “crise”, ela escutou a<br />
voz do morto e afirma: O que a morte tinha diluído – o domínio que ele<br />
mantinha sobre o seu amor – acordou <strong>de</strong> novo àqueles gritos (CARDOSO,<br />
1973:44). E que, apenas <strong>por</strong> essa razão, ela se voltara para ele. Na<br />
argumentação mais lúci<strong>da</strong> <strong>de</strong> todo o drama, lembra que a amiga nunca<br />
procurou <strong>por</strong> ele no período em que Silas já tinha morrido e ele ain<strong>da</strong> não tinha<br />
adoecido, quando já a amava. A ver<strong>da</strong><strong>de</strong> é que você só procurou em mim a<br />
sombra efêmera do outro (CARDOSO, 1973:45). Por essa razão, ele conclui<br />
que não haveria o que tentar entre eles <strong>por</strong>que tudo já estaria con<strong>de</strong>nado <strong>de</strong><br />
antemão.<br />
82
Lisa ain<strong>da</strong> questiona se não po<strong>de</strong>riam vencer esta “sombra” que se<br />
interpunha entre eles e Marcos diz que, para ele, não há saí<strong>da</strong>. A mulher<br />
revolta-se exigindo-lhe uma reação a esta “escravidão” e acusando-o <strong>de</strong><br />
fraqueza.<br />
(Amargamente) Afinal a ven<strong>da</strong> tombou dos seus olhos, Lisa. Pela<br />
primeira vez na sua vi<strong>da</strong>, você está me vendo, sou uma figura real<br />
aos seus olhos, um ser, não uma simples projeção. (CARDOSO,<br />
1973:46)<br />
Ironicamente, é justamente Marcos, que passou cinco anos internado<br />
num sanatório, o mais sensato entre to<strong>da</strong>s as personagens. Suas palavras<br />
para Lisa e, a seguir, sua conversa com Augusta farão tombar <strong>de</strong> vez as<br />
máscaras familiares sob as quais os sentimentos se refugiaram <strong>por</strong> tanto<br />
tempo.<br />
Augusta entra em cena afirmando que está preocupa<strong>da</strong> com o futuro do<br />
irmão e <strong>de</strong> todos naquela casa. E que, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> muito refletir, teria encontrado<br />
a solução i<strong>de</strong>al: o casamento entre Marcos e Lisa. O rapaz rejeita a idéia e<br />
acusa-a <strong>de</strong> estar agindo pensando apenas em si mesma. Indigna<strong>da</strong>, Augusta<br />
queixa-se <strong>de</strong> ingratidão. Marcos afirma que ela não agiu em seu socorro <strong>por</strong><br />
pie<strong>da</strong><strong>de</strong> e lembra-lhe que o ressentimento em que se per<strong>de</strong> não foi causado<br />
<strong>por</strong> ele.<br />
É inútil escon<strong>de</strong>r, Augusta, bem sabemos que é <strong>de</strong> Silas que você<br />
procura se vingar. Sim, alguém <strong>de</strong>struiu a sua moci<strong>da</strong><strong>de</strong>, mas não<br />
fomos nós e sim ele.<br />
(...)<br />
Você não soube esquecer, não soube perdoar. Esta febre, este<br />
sentimento <strong>de</strong> impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong>, este insensato furor <strong>de</strong> viver é o<br />
sintoma mais nítido <strong>de</strong> que não há nenhuma paz no seu coração. E<br />
<strong>por</strong>que você não soube perdoar, não há perdão para si mesma:<br />
lutará até ser aniquila<strong>da</strong>. (CARDOSO, 1973:51)<br />
Augusta reage acusando-o <strong>de</strong> <strong>de</strong>lírios e <strong>de</strong> não ser capaz <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r<br />
<strong>por</strong> seus atos. Insiste quanto ao casamento enquanto Marcos prossegue nas<br />
acusações:<br />
Para você ele existe, fixado para sempre num sentimento que<br />
perdura através dos anos. Lisa também não o esqueceu, mas <strong>por</strong><br />
motivo diferente. Se agora ambas estão reuni<strong>da</strong>s nesta sala, é pela<br />
83
força <strong>da</strong> sua recor<strong>da</strong>ção, pelo que sofreram <strong>de</strong>le, pela cega nostalgia<br />
<strong>de</strong>ssa emoção que tanto as fez vibrar outrora.<br />
(...)<br />
É preciso dizer que esta consciência povoa<strong>da</strong> <strong>de</strong> pressentimentos e<br />
lembranças foi você quem criou, nasceu do seu próprio terror e <strong>da</strong><br />
sua ânsia <strong>de</strong> dominar (CARDOSO, 1973:52).<br />
Suas palavras prosseguem no mesmo tom, conduzindo a uma<br />
conclusão que inverte o papel que Silas vinha ocupando até então na trama: <strong>de</strong><br />
causador dos problemas ele passa a “protetor”, que impedia a influência <strong>de</strong><br />
Augusta sobre os <strong>de</strong>mais, e atribui a ela a infelici<strong>da</strong><strong>de</strong> pela vi<strong>da</strong> que<br />
construíram:<br />
(...) Quero apenas lembrar que, mal tínhamos nos libertado do<br />
domínio <strong>de</strong> Silas, já sentíamos <strong>de</strong> novo dois olhos ávidos que nos<br />
ron<strong>da</strong>vam e o esforço <strong>de</strong>ssa vonta<strong>de</strong> que procurava se im<strong>por</strong><br />
ferozmente, tanto mais que dormira até aquele minuto, subjuga<strong>da</strong><br />
pelo medo. Só aí compreen<strong>de</strong>mos o perigo que a presença <strong>de</strong> Silas<br />
havia afastado. Era ele o único que estava à sua altura, o único que<br />
sabia lutar com as mesmas armas que você usava. E <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então<br />
começarmos a repassar as mesmas emoções já vivi<strong>da</strong>s, procurando<br />
um apoio, um meio qualquer <strong>de</strong> escapar a essa lenta conquista. Foi<br />
esta idéia que se converteu para mim numa obcessão (sic).<br />
(CARDOSO, 1973:53)<br />
É o momento em que caem to<strong>da</strong>s as máscaras. Abandonando a postura<br />
que vinha adotando até então, e <strong>de</strong> maneira serena, Augusta admite que o<br />
irmão está certo, mas não vê utili<strong>da</strong><strong>de</strong> nas acusações. Afirma que ele não<br />
po<strong>de</strong>rá escapar <strong>por</strong>que ela conhece todos os seus segredos, não há refúgio<br />
para ele.<br />
(...) Você me seguirá como um escravo. Quando estiver sozinho,<br />
lembrar-se-á <strong>de</strong> que estou presente à elaboração dos seus<br />
pensamentos mais íntimos. Se estiver dormindo, surgirei implacável<br />
nos seus sonhos. Ca<strong>da</strong> gesto que fizer, ca<strong>da</strong> emoção que germinar<br />
no seu coração, <strong>de</strong> tudo eu saberei, para mim a ver<strong>da</strong><strong>de</strong> inteira<br />
estará sempre grava<strong>da</strong> nos seus olhos.<br />
(...)<br />
Sim, você jamais se livrará <strong>de</strong> mim. Não passará nunca <strong>de</strong> um corpo<br />
sem sombra, <strong>de</strong> uma voz sem eco, <strong>de</strong> um espectro igual a Isabel.<br />
Ambos são do mesmo sangue, nasceram para o mesmo fim.<br />
(CARDOSO, 1973:54)<br />
Tal grau <strong>de</strong> violência era, se não inédito, muito raro nas relações<br />
familiares tematiza<strong>da</strong>s na Literatura Brasileira até então. O ódio, contudo, é um<br />
84
sentimento reiterado na obra cardosiana e reaparece, para citar apenas um<br />
exemplo, no confronto entre os irmãos Demétrio e Valdo no velório <strong>de</strong> Nina, em<br />
Crônica <strong>da</strong> casa assassina<strong>da</strong>:<br />
“Naquele momento não éramos dois irmãos, mas dois seres<br />
<strong>de</strong>sconhecidos combatendo pela posse <strong>de</strong> uma zona vital [um<br />
vestido <strong>de</strong> Nina]. Que eu o dominasse, não tinha a mínima dúvi<strong>da</strong>, e<br />
enquanto sentia sua forte respiração junto ao meu pescoço,<br />
admirava-me <strong>de</strong> que eu próprio tivesse tido coragem para ir tão<br />
longe, e que ele aceitasse a luta. Alguma coisa <strong>de</strong>via estar realmente<br />
rompi<strong>da</strong> para que os Meneses assim se digladiassem diante <strong>de</strong><br />
tantos olhares estranhos – e esforçando-me para abatê-lo, dizia<br />
comigo mesmo, nessa luci<strong>de</strong>z e nessa pressa dos momentos<br />
extremos, que não era eu quem ali representava o papel mais<br />
extraordinário, mas ele, o outro, aquele homem que<br />
inespera<strong>da</strong>mente <strong>de</strong>ixava vir à tona o eu que se esforçara <strong>por</strong><br />
escon<strong>de</strong>r durante a vi<strong>da</strong> inteira.” (CARDOSO, 1991: 319-320)<br />
Ante a ameaça <strong>de</strong> Marcos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar a casa, Augusta diz que ele não<br />
terá mais coragem para partir. Admite que chegou a temer que ele o<br />
conseguisse quando escreveu a carta (segundo ato) <strong>de</strong> <strong>de</strong>spedi<strong>da</strong> para Lisa. A<br />
cunha<strong>da</strong> pergunta se é ver<strong>da</strong><strong>de</strong> e ele, <strong>de</strong>solado, confirma as palavras <strong>de</strong><br />
Augusta. Ante o futuro que a irmã <strong>de</strong>scortina, Marcos pergunta como po<strong>de</strong> ser<br />
tão cruel e ela lhe respon<strong>de</strong> que tem seus direitos:<br />
(...) De hoje em diante, seremos a mesma massa confusa,<br />
tumultuosa, ignara, numa luta incessante para matar ou morrer.<br />
(...)<br />
(...) Viveremos ombro a ombro, vigiando os nossos próprios<br />
movimentos, as nossas palavras e os suspiros que não pu<strong>de</strong>rmos<br />
conter no fundo do coração. Não dormiremos uma só noite <strong>de</strong> sono<br />
tranqüilo, não ousaremos levantar os olhos uns para os outros e o ar<br />
que respirarmos será envenenado pelas suspeitas cotidianas<br />
(CARDOSO, 1973:55-56)<br />
Negando-se a viver o que Augusta anuncia e incapaz <strong>de</strong> enxergar<br />
qualquer saí<strong>da</strong>, Marcos tira do bolso uma navalha que pertencera a Silas e<br />
alcança <strong>de</strong> um salto o vão formado pela esca<strong>da</strong> e que o oculta do público<br />
(CARDOSO, 1973:56), recomen<strong>da</strong> a rubrica. Na presença <strong>de</strong> Augusta e Lisa,<br />
suici<strong>da</strong>-se – quem sabe retomando, pela última vez, uma ação do irmão.<br />
Como foi possível observar, as personagens <strong>de</strong>ste drama estão presas<br />
ao passado e não sabem o que fazer <strong>de</strong> suas vi<strong>da</strong>s no presente. Suas<br />
85
aspirações (conviver com as pessoas, como <strong>de</strong>seja Isabel ou <strong>de</strong>ixar a casa,<br />
como i<strong>de</strong>aliza Marcos) não concretizam a reconstrução <strong>de</strong> seus mundos. O que<br />
Augusta diz em relação ao irmão (todos os seus sentimentos estão<br />
aprisionados a uma forma inexistente. O que existe <strong>de</strong> real, nele, pertence à<br />
sua infância – e há muito que esta não existe mais. – CARDOSO, 1973:39)<br />
serve para todos. Falta-lhes um objetivo com que possam preencher o vazio do<br />
tempo e, <strong>por</strong> isso, são torturados pela “eterni<strong>da</strong><strong>de</strong> cotidiana”: pela repetição<br />
incessante do já vivido e já sentido, representa<strong>da</strong> formalmente pela repetição<br />
<strong>da</strong>s falas.<br />
As personagens figuram seres impotentes, que não sabem para on<strong>de</strong><br />
canalizar sua revolta e que não conseguem transformar a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que<br />
construíram para si <strong>por</strong>que, sequer, alcançam estruturar as próprias<br />
personali<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> forma sadia. Nessa impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong>, resi<strong>de</strong> a angústia que<br />
os domina e que, legando-lhes apenas a dor, a vingança e o abandono, leva-os<br />
à ruína.<br />
São seres isolados, oscilantes entre os <strong>de</strong>sejos <strong>de</strong> <strong>de</strong>struição (através<br />
<strong>da</strong> imposição sádica <strong>da</strong>s vonta<strong>de</strong>s) e auto<strong>de</strong>struição (na aceitação masoquista<br />
do sofrimento, na <strong>clausura</strong> em que se isolam, no ódio que cultivam, na<br />
frustração que se impõem), que são duas faces <strong>de</strong> uma mesma moe<strong>da</strong> e que<br />
não existem separa<strong>da</strong>mente. Destruindo aos outros ou a si mesmos, os<br />
<strong>de</strong>sdobramentos <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>sejos <strong>de</strong> morte são o com<strong>por</strong>tamento normal nesse<br />
cotidiano familiar.<br />
Os relacionamentos fazem-se lutas incessantes que possibilitam a<br />
gratificação (tem<strong>por</strong>ária) no domínio sobre o outro, que necessita ser sempre<br />
renovado, e <strong>por</strong> isso eles reagem agressivamente à proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> afetiva. O<br />
impulso erótico, que é união e diluição <strong>da</strong>s diferenças, atemoriza-os <strong>por</strong>que o<br />
percebem como “apagamento” <strong>da</strong>s individuali<strong>da</strong><strong>de</strong>s não-constituí<strong>da</strong>s –<br />
provavelmente <strong>por</strong> isso Lisa escolheu casar-se com Silas: suas agressões,<br />
constituindo o impulso tanático, asseguravam que ain<strong>da</strong> existia separa<strong>da</strong>,<br />
“individualiza<strong>da</strong>”, não “mistura<strong>da</strong>” ou perdi<strong>da</strong> no Outro.<br />
Temerosas como ela, as <strong>de</strong>mais personagens afastam a ameaça do<br />
apagamento (morte) que a proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> erótica pro<strong>por</strong>ciona procurando se<br />
86
<strong>de</strong>struir na intimi<strong>da</strong><strong>de</strong> do amor familiar. O convívio se marca pelo se toma para<br />
garantir a própria sobrevivência psíquica – e a reação a essa “usurpação” é o<br />
ódio que se vota ao Outro. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> traz à cena personagens solitárias,<br />
que não alcançam sucesso na tentativa <strong>de</strong> abertura para o próximo – fracasso<br />
também representado formalmente pelos diálogos frustrados, que mais<br />
separam que unem os familiares.<br />
Num ambiente como esse, o passar do tempo apenas fortalece as<br />
contradições existentes fazendo-as insu<strong>por</strong>táveis e a morte é a alternativa a<br />
este inferno on<strong>de</strong> não se quer viver. Não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser uma postura que evoca o<br />
Romantismo, quando a dor <strong>de</strong> viver também podia ser resolvi<strong>da</strong> com a morte.<br />
Mas, diferente <strong>de</strong> então, não há expectativas <strong>de</strong> felici<strong>da</strong><strong>de</strong> nessa opção<br />
evi<strong>de</strong>ncia<strong>da</strong>s na peça cardosiana.<br />
Comparando essa problemática com aquelas que subiam aos palcos<br />
nos anos 30 e cujas intrigas mais <strong>de</strong>staca<strong>da</strong>s e inovadoras foram discuti<strong>da</strong>s no<br />
segmento 2.2 <strong>de</strong>sta Tese, imagine-se a estranheza que tal enredo provocou<br />
para o espectador <strong>de</strong> 1943 que ain<strong>da</strong> nem tinha assistido ao Vestido <strong>de</strong> noiva!<br />
4.2- Um breve intervalo: o “Teatro <strong>de</strong> Câmera”<br />
Insatisfeito com as críticas e com as dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> levar seus textos ao<br />
palco, <strong>Lúcio</strong> “chegou à conclusão <strong>de</strong> que somente com um elenco próprio é<br />
que conseguiriam, ele e outros autores <strong>de</strong> maior expressão, o<strong>por</strong>tuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
verem encena<strong>da</strong>s as suas próprias peças” (DORIA, 1975:120). Afinal, assinala<br />
Gustavo Dória, os elencos profissionais não abrigavam originais que fugissem<br />
ao padrão <strong>de</strong> uma platéia pouco exigente. Então, <strong>Lúcio</strong> i<strong>de</strong>alizou criar o “Teatro<br />
<strong>de</strong> Câmera”, que nasceu em 1947 com o apoio <strong>de</strong> Agostinho Olavo e Gustavo<br />
Dória e arrebanhou a animação <strong>de</strong> quase todos os autores com quem entrava<br />
em contato. Cecília Meireles, Rosário Fusco e o próprio Agostinho Olavo já<br />
tinham originais para oferecer e Otávio <strong>de</strong> Faria prometia terminar um. Apesar<br />
<strong>da</strong> empolgação, Dória observa:<br />
87
<strong>Lúcio</strong> Cardozo (sic) <strong>de</strong>sconhecia totalmente a engrenagem teatral.<br />
Ignorava como funcionava uma organização do gênero; até que<br />
ponto po<strong>de</strong>r-se-ia contar com os amadores e quais eram as<br />
exigências habituais <strong>de</strong> um elemento profissional. Assim, pois,<br />
enumerava o seu elenco i<strong>de</strong>al, misturando uns e outros, alguns pelo<br />
valor, outros pela sonori<strong>da</strong><strong>de</strong> que o nome oferecia, não escon<strong>de</strong>ndo<br />
o seu entusiasmo <strong>por</strong> <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s figuras como Alma Flora e Maria<br />
Sampaio que, a seu ver, teriam que participar obrigatoriamente <strong>da</strong><br />
nova organização.<br />
Era ele o dono <strong>da</strong> idéia, o mais ativo <strong>de</strong> todos. Estava <strong>por</strong> <strong>de</strong>mais<br />
animado, escolheu o nome Teatro <strong>de</strong> Câmera que, dizia, bem<br />
retratava a idéia <strong>de</strong> recato que <strong>de</strong>via envolver o movimento...<br />
(DORIA, 1975:124)<br />
Segundo o Dicionário <strong>de</strong> Teatro, o “Teatro <strong>de</strong> Câmara” é “uma forma <strong>de</strong><br />
representação e <strong>de</strong> dramaturgia que limita os meios <strong>de</strong> expressão cênicos, o<br />
número <strong>de</strong> atores e <strong>de</strong> espectadores, a amplitu<strong>de</strong> dos temas abor<strong>da</strong>dos.”<br />
(PAVIS, 2001:381). Seu melhor exemplo teria sido o “Teatro Íntimo” <strong>de</strong><br />
Strindberg – cuja obra <strong>Lúcio</strong> conhecia – e que era uma:<br />
...reação a uma dramaturgia “pesa<strong>da</strong>”, basea<strong>da</strong> na abundância do<br />
pessoal artístico e técnico, na riqueza e na multiplici<strong>da</strong><strong>de</strong> dos<br />
cenários, na <strong>de</strong>smesura<strong>da</strong> im<strong>por</strong>tância do público no teatro à italiana,<br />
no palco central ou no teatro <strong>de</strong> massa, nas freqüentes interrupções<br />
dos entreatos e no aparato grandioso do teatro burguês. (PAVIS,<br />
2001: 381-382)<br />
Ain<strong>da</strong> segundo o Dicionário, Strindberg teria como objetivo no seu<br />
“Teatro Íntimo”:<br />
<strong>de</strong>senvolver, no drama, um assunto carregado <strong>de</strong> significado, <strong>por</strong>ém<br />
limitado. Evitamos expedientes, efeitos fáceis, tira<strong>da</strong>s brilhantes, os<br />
números para estrelas. O autor não <strong>de</strong>ve estar previamente<br />
amarrado <strong>por</strong> nenhuma regra, o assunto é que condiciona a forma.<br />
Portanto, liber<strong>da</strong><strong>de</strong> completa... (STRINDBERG, Apud PAVIS, 2001:<br />
382)<br />
Diretriz semelhante guiava <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> como ele expressa em<br />
entrevista a Sábato Magaldi, “A propósito do ‘Teatro <strong>de</strong> Câmera’”, artigo que<br />
consta do Arquivo do Autor e que está na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa. Não<br />
constam nem a <strong>da</strong>ta nem o jornal on<strong>de</strong> o artigo foi veiculado. Diz <strong>Lúcio</strong>:<br />
— O “Teatro <strong>de</strong> Câmera nasceu <strong>de</strong> um movimento em reação aos<br />
“Comediantes” (sic), que naquela época dominavam o nosso cenário<br />
teatral e haviam criado, como gênero absoluto o “gran<strong>de</strong> espetáculo”,<br />
88
<strong>de</strong>vido exclusivamente ao sucesso <strong>de</strong> “Vestido <strong>de</strong> Noiva”. Lembrome<br />
<strong>de</strong> que, concluí<strong>da</strong> “Angélica”, entreguei-a a um dos diretores do<br />
grupo que me <strong>de</strong>clarou não ser possível montá-la <strong>por</strong> não constituir<br />
uma peça gênero “gran<strong>de</strong> espetáculo”. Semelhante convenção<br />
levou-me a idéia <strong>de</strong> criar um grupo pequeno, que montasse peças<br />
com poucos personagens, sem auxílio <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> maquinaria.<br />
Clarice Lispector, em 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1947, diz que o Teatro <strong>de</strong> Câmera<br />
mostra que o autor mineiro “está jovem do mesmo jeito” 40 e, aten<strong>de</strong>ndo ao<br />
pedido do gran<strong>de</strong> amigo, escreve:<br />
Os autores, cenaristas e artistas que trabalham para o “Teatro <strong>de</strong><br />
Câmera” asseguram a realização <strong>de</strong> seu propósito – fazer o gesto<br />
recuperar o seu sentido, a palavra o seu tom insubstituível, permitir<br />
que o silêncio, como na boa música, seja também ouvido, e que o<br />
cenário não se limite ao <strong>de</strong>corativo e nem mesmo à moldura apenas<br />
– mas que todos esses elementos, aproximados na sua pureza<br />
teatral específica, formem a estrutura indivisível <strong>de</strong> um drama.<br />
A iniciativa <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> é igualmente bem recebi<strong>da</strong> pelos outros amigos<br />
literatos e também no meio artístico a idéia colheu aplausos. Esther Leão,<br />
escolhi<strong>da</strong> <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong> para dirigir os ensaios, conseguiu empreen<strong>de</strong>r contato com<br />
Maria Sampaio e ofereceu-se para interce<strong>de</strong>r junto ao grupo Severiano Ribeiro<br />
a fim <strong>de</strong> obter o Teatro Glória às segun<strong>da</strong>s-feiras e <strong>por</strong> um preço pequeno.<br />
Contando com a intercessão <strong>de</strong> Leonardo Pessoa Lopes, Severiano Ribeiro<br />
ce<strong>de</strong>u o Teatro Glória “sem ônus <strong>de</strong> qualquer espécie e ain<strong>da</strong> mais com duas<br />
bilheterias, o pessoal <strong>de</strong> palco e platéia (...)” (DORIA, 1975: 125) para aten<strong>de</strong>r<br />
ao grupo no que precisassem.<br />
Quanto aos atores, gran<strong>de</strong>s nomes como Maria Sampaio, Luíza Barreto<br />
Leite e Maria Paula recusaram-se a receber qualquer remuneração. Outros,<br />
tanto amadores como profissionais, embarcaram na aventura dispostos a<br />
receber cachê quando houvesse saldo na bilheteria. A todos, irmanava a idéia<br />
<strong>de</strong> promover o autor brasileiro <strong>de</strong> teatro. Para os cenários e figurinos, o “Teatro<br />
<strong>de</strong> Câmera” congregava Santa Rosa, Roberto Burle Marx, Sansão Castelo<br />
Branco, Van Regger, Belá Paes Leme, João Maria dos Santos e O<strong>de</strong>te Santos.<br />
40 Ambos os <strong>de</strong>poimentos estão registrados em cartas no Arquivo <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong><br />
Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
89
O apoio financeiro foi buscado no Serviço Nacional <strong>de</strong> Teatro, órgão<br />
governamental criado na ditadura Vargas. O grupo obteve um adiantamento e<br />
a promessa <strong>de</strong>, posteriormente, a liberação <strong>de</strong> uma verba mais eleva<strong>da</strong>.<br />
O “Teatro <strong>de</strong> Câmera” <strong>de</strong>cidiu, então, oferecer um repertório variado ao<br />
público e selecionou: A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>; Para além <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>,<br />
do <strong>por</strong>tuguês Alberto Rebelo d’Almeir<strong>da</strong>; Mensagem sem rumo, <strong>de</strong> Agostinho<br />
Olavo e O anfitrião, <strong>de</strong> Antônio José, o Ju<strong>de</strong>u, a<strong>da</strong>ptação <strong>de</strong> Rosário Fusco.<br />
A Crítica – Murilo Men<strong>de</strong>s, Otávio <strong>de</strong> Faria, Paulo Men<strong>de</strong>s Campos,<br />
Augusto Fre<strong>de</strong>rico Schmidt, José Lins do Rego e Clarice Lispector, em carta<br />
cujo fragmento já foi citado – celebrou a iniciativa do Teatro <strong>de</strong> Câmera.<br />
Fizeram coro Otto Maria Carpeaux, Ledo Ivo, José Osório <strong>de</strong> Oliveira, Nelson<br />
Rodrigues, Paschoal Carlos Magno, Jorge <strong>de</strong> Lima, Breno Accioly, Rosário<br />
Fusco, José Condé, Celso Kelly, Pompeu <strong>de</strong> Souza e outros tantos.<br />
Entretanto, tal como acontecera vinte anos antes com o Teatro <strong>de</strong><br />
Brinquedo, não tinha sido previsto um êxito tão imediato. O<br />
planejamento para a primeira tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong> <strong>de</strong>u certo; não foi prevista,<br />
entretanto, a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> uma segun<strong>da</strong> tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong>, apesar dos<br />
apelos recebidos. (DÓRIA, 1975: 128)<br />
Algumas cartas que fazem parte do Arquivo <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> atestam a<br />
<strong>de</strong>sagregação do grupo. Em 13 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1947, Rogério Corção<br />
comenta A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata e pergunta <strong>por</strong> que <strong>Lúcio</strong> brigou com Agostinho<br />
Olavo; Nelson Rodrigues, em 19 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1948, comunica seu<br />
afastamento <strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong> teatral <strong>por</strong>que não haveria a subvenção que <strong>Lúcio</strong><br />
lhe assegurara. Este, <strong>por</strong> sua vez, se <strong>de</strong>dicaria ao cinema e às novelas <strong>por</strong> um<br />
tempo e só mais tar<strong>de</strong> retomaria o “Teatro <strong>de</strong> Câmera” pressionado <strong>por</strong><br />
compromissos que assumira com o Serviço Nacional do Teatro e que não<br />
podia mais adiar.<br />
A iniciativa cardosiana, embora não fosse exatamente pioneira 41 , ren<strong>de</strong>u<br />
outros frutos para o Teatro além <strong>de</strong> sua primeira tem<strong>por</strong>a<strong>da</strong>: <strong>de</strong>pois <strong>da</strong><br />
concretização <strong>de</strong>sse empreendimento, outros caminhos se abriram para os<br />
41 Em 1943, o então estu<strong>da</strong>nte e professor Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado fun<strong>da</strong>va o “Grupo Universitário <strong>de</strong><br />
Teatro <strong>de</strong> São Paulo”, com objetivo <strong>de</strong> “apresentar ao povo o bom teatro e também com a finali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
auxiliar os Fundos Universitários <strong>de</strong> Pesquisas que, <strong>por</strong> sinal, têm patrocinado os nossos espetáculos.”<br />
(PRADO, Apud DÓRIA, 1975: 121)<br />
90
autores brasileiros nas diferentes tendências que surgiram: o “Teatro Duse”, o<br />
“Movimento Brasileiro <strong>de</strong> Arte”, a “Companhia Fernando <strong>de</strong> Barros”...<br />
4.3- A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata<br />
4.3.1- A Crítica<br />
91<br />
Ela é como certos terrenos on<strong>de</strong> não cresce coisa<br />
alguma. O seu amor – pois ela me ama, tenho certeza<br />
disto – é uma necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> absur<strong>da</strong> <strong>de</strong> domínio... um ato<br />
<strong>de</strong> egoísmo... e não sei <strong>por</strong>que (sic), mas <strong>de</strong> sacrilégio<br />
também.<br />
A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata<br />
Fun<strong>da</strong>do, pois, o “Teatro <strong>de</strong> Câmera”, uma peça <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
<strong>de</strong>veria marcar sua estréia. Em 20 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947, quase quatro anos<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> O Escravo, ele voltava aos palcos com A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata “... no<br />
<strong>de</strong>sempenho do qual estavam Alma Flora, Maria Sampaio, Maria Paula, Luiz<br />
Tito e Edmundo Lopes. O cenário era <strong>de</strong> Santa Rosa e os programas tinham a<br />
capa <strong>de</strong>senha<strong>da</strong> <strong>por</strong> Burle Marx.” (DÓRIA, 1975: 126)<br />
Dos artigos constantes no Arquivo do Autor, disponível na Fun<strong>da</strong>ção<br />
Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, fica claro que, embora se louvassem o empreendimento<br />
e as propostas do “Teatro <strong>de</strong> Câmera”, a Crítica não foi receptiva ao novo<br />
drama.<br />
E.L., escrevendo na coluna “Primeiras teatrais” um artigo intitulado<br />
“Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, no Glória” <strong>de</strong>screve como simpática e merecedora <strong>de</strong> aplauso<br />
a iniciativa do grupo. Assinala que o drama prossegue nas diretrizes já<br />
aponta<strong>da</strong>s anteriormente <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong>, que não ce<strong>de</strong> ao “teatralismo”: “Do aspecto<br />
do espetáculo, ele continua a ser sóbrio, ascético, seco, sem o solene e o<br />
hierático... o seu i<strong>de</strong>al seria, talvez, uma representação sem cenários.” Afirma<br />
que estes (os cenários) lhe pareceram muito pobres, embora “agradáveis e<br />
mo<strong>de</strong>rnos”, e afirma preferir cenários expressionistas para o teatro cardosiano.<br />
Destaca ain<strong>da</strong> os diálogos <strong>de</strong>sprovidos <strong>de</strong> verbalismo ou trocadilhos,<br />
preferindo a expressão mais simples e natural. Sua análise prossegue<br />
ressaltando que “A personagem ‘Gina’ centraliza a peça. As outras figuras são
meros comparsas, pedras <strong>de</strong> toque para o <strong>de</strong>lírio assassino <strong>de</strong>ssa criatura <strong>de</strong><br />
sombra e poesia.”<br />
Paschoal Carlos Magno, em 22 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947, escreve “A Cor<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> Prata, no Glória”. Ao contrário <strong>de</strong> E.L., elogia os cenários, que consi<strong>de</strong>ra<br />
fascinantes, impressionantes. Elogia o trabalho <strong>de</strong> Ester Leão, que dirigiu o<br />
espetáculo, mas afirma que “falta ao trabalho do sr. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> ação<br />
teatral”. Apesar dos pontos positivos que <strong>de</strong>staca, conclui que “o resultado <strong>de</strong> A<br />
Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata é simplesmente <strong>de</strong> uma obra literária redigi<strong>da</strong> em forma<br />
<strong>dramática</strong>”.<br />
O artigo <strong>de</strong> Sérgio Brito traz, parcialmente, a fonte e a <strong>da</strong>ta. Intitulado “A<br />
Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, pelo ‘Teatro <strong>de</strong> Câmera’”, na coluna “Os novos cronistas”, foi<br />
publica<strong>da</strong> pelo jornal [A M]ANHÃ, em 20 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 194[7] 42 . Num texto<br />
extenso, Brito afirma que, com A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, <strong>Lúcio</strong> per<strong>de</strong>u uma ótima<br />
o<strong>por</strong>tuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> firmar-se como dramaturgo <strong>por</strong>que a peça ficou a meio<br />
caminho entre a poesia e o teatro. Para ele, o primeiro ato traz diálogos<br />
<strong>de</strong>snecessários e a personagem do médico não convence. Entretanto, louva o<br />
diálogo entre Gina e o marido e as contradições que se evi<strong>de</strong>nciam nela,<br />
afirmando que o ato, então, termina em ascensão. O segundo e o terceiro atos,<br />
contudo, per<strong>de</strong>m força <strong>por</strong>que <strong>Lúcio</strong> nem se entrega à poesia que se anuncia<br />
nem se mantém na esfera do teatro propriamente dito. Essa in<strong>de</strong>finição,<br />
segundo ele, enfraquece o <strong>de</strong>senvolvimento do drama. Tanto quanto E.L.,<br />
anota que Gina é a única personagem <strong>da</strong> peça e que as <strong>de</strong>mais não passam<br />
<strong>de</strong> meras expressões que a circun<strong>da</strong>m.<br />
Já um crítico anônimo afirma, num artigo intitulado “A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, no<br />
Glória”, que o teatro <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, feito <strong>de</strong> “palavras e gestos” é<br />
essencialmente literário e, <strong>por</strong> causa <strong>de</strong> seu conteúdo, um teatro <strong>de</strong>stinado à<br />
elite intelectual.<br />
Roberto Brandão, em “Interpretação <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata” também louva<br />
a iniciativa do “Teatro <strong>de</strong> Câmera”, mas faz restrições à estrutura <strong>dramática</strong> <strong>da</strong><br />
peça. Critica o ritmo do primeiro ato, que consi<strong>de</strong>ra lento, o seu cenário e a<br />
42 Os colchetes representam, <strong>por</strong> inferência, o que foi cortado no artigo original.<br />
92
iluminação que, precária, atrapalhou o <strong>de</strong>senvolvimento do trabalho dos atores<br />
e a percepção do público.<br />
Geysa Boscoli, na coluna “Frevo Bastidores”, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947,<br />
elogia a iniciativa do Teatro <strong>de</strong> Câmara, mas também faz restrições ao autor do<br />
drama: “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, admirável poeta, pensando que teatro é apenas<br />
<strong>literatura</strong>”. Elogia também a “capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> realizadora” <strong>de</strong> Ester Leão, a<br />
cenografia e o figurino, mas conclui que o drama é “uma peça à espera <strong>de</strong> um<br />
autor” e que o espetáculo se compôs <strong>de</strong> “cinco personagens à procura <strong>de</strong> uma<br />
peça”.<br />
Um crítico que assinava A.C. escreveu “’A cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> prata’ no Glória”. Tal<br />
qual o crítico anônimo já citado, para ele “O Teatro do sr. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>,<br />
essencialmente literário, é um teatro para a elite intelectual.”:<br />
Na<strong>da</strong> mais existe na peça além do po<strong>de</strong>r verbal, <strong>por</strong> vezes sugestivo<br />
e fun<strong>da</strong>mental segundo o estado <strong>de</strong> inconsciência <strong>da</strong> heroína. Como<br />
expressão dos sentimentos, <strong>da</strong>s lutas íntimas, apenas o movimento<br />
contínuo dos sentidos a transmitir os lances emocionais através <strong>de</strong><br />
simples olhar <strong>de</strong> soslaio. Isto só basta. Isto só evi<strong>de</strong>ncia a eloqüência<br />
<strong>da</strong> arte. Na<strong>da</strong> mais positivo. Na<strong>da</strong> mais ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iro.” 43<br />
Elogia ain<strong>da</strong> o <strong>de</strong>sempenho dos atores, <strong>de</strong>stacando Alma Flora e Maria<br />
Sampaio e faz alguns reparos quanto à direção <strong>de</strong> Ester Leão.<br />
Otávio <strong>de</strong> Faria, escrevendo “A estréia do Teatro <strong>de</strong> Câmera” 44 , elogia a<br />
peça, o <strong>de</strong>sempenho, a direção e o texto, mas percebe-se que ele louva mais a<br />
iniciativa do “Teatro <strong>de</strong> Câmera” do que a peça em si. Anos mais tar<strong>de</strong>, cita<strong>da</strong><br />
<strong>por</strong> Carelli, sua opinião parece resumir o que o tom geral <strong>da</strong> Crítica <strong>da</strong> época:<br />
“Por maior que tivesse sido o sucesso, mesmo ‘<strong>de</strong> estima’ (em<br />
relação ao anterior), não <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> ser quase total o fracasso<br />
profissional <strong>da</strong> peça apresenta<strong>da</strong>. Nenhum vestígio <strong>de</strong>ixou.” (FARIA,<br />
Apud. CARELLI, 1988: 55).<br />
4.3.2- O texto dramático<br />
43 Artigo constante do Arquivo do Autor, na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
44 Artigo constante do Arquivo do Autor, na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
93
Este novo drama também se compõe <strong>de</strong> três atos e retoma o tema <strong>da</strong><br />
loucura, já explorado em O Escravo. Como assinalaram E.L. e Sérgio Brito, é<br />
em torno <strong>de</strong> Gina que todo o drama gravita. A seu respeito, os diálogos entre o<br />
marido e a emprega<strong>da</strong> esclarecem que era filha <strong>de</strong> um pai agressivo e <strong>de</strong> uma<br />
mãe submissa, que bor<strong>da</strong>va para esquecer os <strong>de</strong>sgostos 45 . Renato, o marido,<br />
apaixonou-se <strong>por</strong> ela logo que a conheceu e o noivado foi recebido com<br />
estranheza (“Gina?...” exclamavam. E eu não podia compreen<strong>de</strong>r aquele<br />
espanto... CARDOSO, s/d:15) e contrariou a mãe do noivo <strong>por</strong>que falavam<br />
tanta coisa a respeito <strong>de</strong>la (CARDOSO, s/d:16), mas não se esclarece mais<br />
na<strong>da</strong> quanto ao seu passado. Quando a peça se inicia, ela está casa<strong>da</strong> há oito<br />
meses e, um mês <strong>de</strong>pois do casamento, Renato começou a perceber-lhe sinais<br />
<strong>de</strong> perturbação.<br />
O drama não revela nenhuma preocupação quanto à localização<br />
espacial. A primeira rubrica anuncia apenas que a cena ocorrerá em uma<br />
Sala, numa casa burguesa, com uma esca<strong>da</strong> ao fundo, conduzindo<br />
para o alto. Os móveis estão <strong>de</strong>sarrumados, há uma ou duas<br />
ca<strong>de</strong>iras tomba<strong>da</strong>s, uma toalha escorrendo <strong>da</strong> mesa: o aspecto geral<br />
é nu e <strong>de</strong>sconfortável. (CARDOSO, s/d:3)<br />
Quando as cortinas se abrem, a sala está vazia. “Ouve-se um grito <strong>de</strong><br />
homem, agudo e doloroso” (CARDOSO, s/d:3) e uma exclamação: “Gina!”.<br />
Depois <strong>de</strong> uma pausa, aparece Renato <strong>de</strong>scendo as esca<strong>da</strong>s “aspecto<br />
<strong>de</strong>sorientado, apertando uma <strong>da</strong>s mãos” (CARDOSO, s/d:3) e escon<strong>de</strong>ndo um<br />
ferimento. “Ele vai se abater junto à mesa, on<strong>de</strong>, durante um minuto, em<br />
silêncio, exprime o maior <strong>de</strong>sespero.” (CARDOSO, s/d:3). Chama <strong>por</strong> Júlia,<br />
“uma cria<strong>da</strong> mais ou menos idosa” (CARDOSO, s/d:3), pe<strong>de</strong>-lhe gaze, algodão<br />
e iodo e pergunta se ela já chamou o dr. Victor.<br />
Enquanto a mulher lhe faz um curativo, ele pergunta “como tem passado<br />
a patroa ultimamente” (CARDOSO, s/d:4). Júlia respon<strong>de</strong> que ela vai “Menos<br />
45 SCHAPOCHNIK informa que “O ato <strong>de</strong> costurar e bor<strong>da</strong>r fazia parte <strong>da</strong> rotina dos afazeres<br />
domésticos, e seu conhecimento era como um pré-requisito para a boa dona-<strong>de</strong>-casa” (1998:490). Em<br />
contraparti<strong>da</strong> e marcando seu afastamento <strong>da</strong> mãe e <strong>da</strong> postura feminina tradicional <strong>da</strong> época, Gina vai<br />
<strong>de</strong>testar agulhas e linhas: “Mas eu nunca bor<strong>de</strong>i coisa alguma e tenho horror às linhas e agulhas. Não<br />
posso me esquecer <strong>de</strong> meu pai, <strong>da</strong> sua brutali<strong>da</strong><strong>de</strong>, do extraordinário número <strong>de</strong> toalhas que minha mãe<br />
<strong>de</strong>ixou antes <strong>de</strong> morrer”. (CARDOSO, <strong>Lúcio</strong>. A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, folha 58. A peça, inédita, consta do<br />
Arquivo do Autor na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro. A ortografia foi atualiza<strong>da</strong>.)<br />
94
mal que <strong>de</strong> costume” (CARDOSO, s/d: 4), mas que não dorme sem o remédio.<br />
Tanto Renato quanto a cria<strong>da</strong> acham estranho que Gina se queixe <strong>de</strong> tantas<br />
doenças “Quando parece gozar tão boa saú<strong>de</strong>” (CARDOSO, s/d:4), já<br />
indiciando, como é típico <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, que os males que atingem aquele núcleo<br />
não provêm <strong>de</strong> complicações meramente físicas.<br />
Renato afirma não compreen<strong>de</strong>r o que se passa em sua casa e aponta a<br />
<strong>de</strong>sarrumação <strong>da</strong> sala, sabendo que a esposa proibira a emprega<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
arrumá-la. Júlia respon<strong>de</strong>: “Não é muito difícil adivinhar o mal <strong>de</strong> que sofre a<br />
patroa.” (CARDOSO, s/d:5). Sabendo que ela conhece Gina <strong>de</strong>s<strong>de</strong> criança, o<br />
marido pergunta-lhe sobre os motivos do com<strong>por</strong>tamento <strong>da</strong> esposa e Júlia<br />
respon<strong>de</strong>-lhe que sua mulher tem ciúmes <strong>de</strong>le. Renato não acredita e lamenta:<br />
Se ao menos isso fosse ver<strong>da</strong><strong>de</strong>! Nem imagina como sonhei antes<br />
do casamento, nossa vi<strong>da</strong>, a casa, o que po<strong>de</strong>ríamos fazer juntos...<br />
(...)<br />
Agora é isto que você está vendo, não há uma ca<strong>de</strong>ira no lugar,<br />
estas atitu<strong>de</strong>s incompreensíveis... (CARDOSO, s/d:5)<br />
Tal como a casa em ruínas <strong>de</strong> O Escravo, o ambiente serve como índice<br />
do estado interior <strong>da</strong> personagem. A sala, que se apresenta <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>na<strong>da</strong> e<br />
que não po<strong>de</strong> ser arruma<strong>da</strong>, sugere o íntimo <strong>de</strong> Gina, sempre em tumulto.<br />
A conversa revela que Renato suspeita que a esposa simule seus<br />
“ataques” e, ante a exclamação <strong>da</strong> cria<strong>da</strong>, reage:<br />
(EXPLODINDO) Júlia, ninguém po<strong>de</strong>rá amar essa mulher mais do<br />
que eu amo. Significa tudo para mim. Eu estaria perdido se ela me<br />
faltasse! Mas não a compreendo. Não sei <strong>por</strong>que me maltrata e<br />
maltrata assim a todos que me cercam! (CARDOSO, s/d:7)<br />
“Todos que me cercam” refere-se a Victor, o amigo médico. Renato já se<br />
queixara anteriormente à mulher: “Gina, é preciso que você mu<strong>de</strong> o seu modo<br />
<strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r. Vitor 46 saiu <strong>da</strong>qui magoado”(CARDOSO, s/d:7) e ela respon<strong>de</strong>ra<br />
que isso não lhe im<strong>por</strong>tava. O marido, irritado, cobrara: “Você precisa<br />
compreen<strong>de</strong>r que se casou comigo e que <strong>por</strong>tanto <strong>de</strong>ve aceitar certas<br />
obrigações.” (CARDOSO, s/d:7). Sua queixa e exigência, contudo, não surtiram<br />
46 Victor/Vitor: grafia oscilante no original do Autor.<br />
95
qualquer efeito: como lembra Júlia, em outra ocasião quando o médico<br />
aparecera para jantar, Gina não viera recebê-lo.<br />
É possível observar que, a exemplo <strong>da</strong> estrutura <strong>de</strong> O Escravo, muito<br />
pouco realmente “acontece” em cena. Não há praticamente nenhuma ação,<br />
salvo a feitura <strong>de</strong> um curativo, e tudo se concentra em rememorar as ações <strong>de</strong><br />
Gina, que vão <strong>de</strong>finindo-lhe o caráter. Há trechos que soam bastante artificiais,<br />
como:<br />
RENATO: (...) Sabe o ela me respon<strong>de</strong>u?<br />
JÚLIA: Eu não estava na sala naquele momento...<br />
RENATO: Pois respon<strong>de</strong>u-me que não se im<strong>por</strong>tava, que não tinha<br />
na<strong>da</strong> com o Dr. Vitor.<br />
JÚLIA: Meu Deus! E o patrão?<br />
RENATO: Não sei o que fiz, <strong>de</strong>i um murro na mesa.<br />
JÚLIA: Só isto? (CARDOSO, s/d:7)<br />
O diálogo entre Júlia e Renato ain<strong>da</strong> se esten<strong>de</strong>rá revelando que, no dia<br />
do referido jantar, Gina teria dito que não gostava do dr. Victor, que não<br />
gostava “De ninguém, especialmente <strong>de</strong> médicos” (CARDOSO, s/d:8) e que<br />
fora exatamente nessa noite que adoecera:<br />
RENATO: Lembro-me perfeitamente. Foi como um castigo... Ela me<br />
pediu um copo dágua (sic) e quando subi para levá-lo... encontrei-a<br />
estendi<strong>da</strong> no chão. (CARDOSO, s/d:8)<br />
Então, contrariando o protesto anteriormente feito <strong>por</strong> ela mesma, é a<br />
vez <strong>de</strong> Júlia perguntar se esses ataques não seriam simulações: “Já no tempo<br />
<strong>de</strong> mocinha...” (CARDOSO, s/d:8)<br />
RENATO: (OLHANDO A MÃO E ERGUENDO-SE NUM ÍMPETO)<br />
Mas que espécie <strong>de</strong> mulher você pensa que é Gina? Ela é capaz <strong>de</strong><br />
tudo. Olhe, uma outra vez estava senta<strong>da</strong> no toucador, penteando os<br />
cabelos, quando se <strong>de</strong>teve <strong>de</strong> repente e me perguntou: “Ouviu<br />
alguma coisa?” Eu respondi que não tinha escutado na<strong>da</strong>. Então ela<br />
me olhou bem nos olhos e disse: “Pois alguém está subindo a<br />
esca<strong>da</strong>”. Corri a ver: não havia ninguém. Quando voltei ao quarto,<br />
encontrei-a <strong>de</strong>smaia<strong>da</strong>. (CARDOSO, s/d:8)<br />
Júlia insiste na idéia <strong>de</strong> que esses ataques seriam ciúmes, mas lembra<br />
que “na sua terra” todos diziam que Gina “não regulava bem” (CARDOSO,<br />
s/d:9) e que a própria mãe <strong>de</strong> Renato dissera isso ao filho uma vez. Entretanto,<br />
afirma:<br />
96
<strong>de</strong> Gina.<br />
Dr. Renato, é ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que a patroa não lhe dá um minuto <strong>de</strong><br />
sossego com o maldito ciúme, mas na ver<strong>da</strong><strong>de</strong> prefiro que ela fique<br />
assim fecha<strong>da</strong> no quarto, do que satisfeita. (CARDOSO, s/d:9)<br />
Ante o espanto do patrão, ela acrescenta que, se fosse ele, teria medo<br />
Como se observa, Júlia é uma personagem <strong>de</strong> posições ambíguas.<br />
Tendo, no drama, a função <strong>de</strong> aju<strong>da</strong>r a <strong>de</strong>linear a personali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Gina, já<br />
que conhece seu passado, ora parece acreditar na doença <strong>da</strong> patroa, ora julga<br />
que são simulações; quando Renato pergunta que se esposa sempre foi assim,<br />
afirma que são ciúmes; momentos <strong>de</strong>pois, afirma que sempre julgaram que ela<br />
“não regulava bem” e que ele <strong>de</strong>veria temê-la. Assim, as opiniões <strong>da</strong> cria<strong>da</strong><br />
apenas acentuam contradições e o caráter <strong>de</strong> exceção <strong>da</strong> protagonista,<br />
levando Renato a concluir:<br />
(COMO PARA SI MESMO) Na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, há qualquer coisa diabólica<br />
nessa mulher. Eu o sinto quando ela me agra<strong>da</strong> ou me afaga os<br />
cabelos. Fico arrepiado. Você já reparou, Júlia, como inclina ela a<br />
minha cabeça e me olha bem nos olhos, numa febre <strong>de</strong> quem<br />
procura alguma coisa perdi<strong>da</strong>?<br />
(...)<br />
(SOMBRIAMENTE) Ela é como certos terrenos on<strong>de</strong> não cresce<br />
coisa alguma. O seu amor – pois ela me ama, tenho certeza disto – é<br />
uma necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> absur<strong>da</strong> <strong>de</strong> domínio... um ato <strong>de</strong> egoísmo... e não<br />
sei <strong>por</strong>que (sic), mas <strong>de</strong> sacrilégio também. (CARDOSO, s/d:10)<br />
Nesse momento, são interrompidos pela chega<strong>da</strong> do médico. Da<br />
conversa entre dr. Victor e Renato, <strong>de</strong>scobre-se que seu ferimento foi causado<br />
<strong>por</strong> Gina, que o mor<strong>de</strong>u sem maiores explicações. O marido lhe diz que a<br />
esposa se queixa <strong>de</strong> dores <strong>de</strong> cabeça, reumatismo, indisposição, falta <strong>de</strong><br />
apetite, que parece não dormir bem à noite, que tem até febre e que sempre o<br />
olha “como se tivesse uma se<strong>de</strong> enorme”. E, embora seus lábios realmente<br />
queimem, “O resto parece ter pouca ligação com esses sintomas” (CARDOSO,<br />
s/d:13). Mas o que mais o incomo<strong>da</strong> são as suas atitu<strong>de</strong>s extrema<strong>da</strong>s:<br />
(...) Há momentos em que é absolutamente expansiva, ri, brinca,<br />
passa-me as mãos pelo rosto, pelos cabelos. Outras vezes, sem a<br />
menor razão, fecha-se num inquietante mutismo.<br />
(...)<br />
97
(...) Sempre que Gina se inclina sobre mim, sinto que vem <strong>da</strong> sua<br />
alma um sopro <strong>de</strong>sconhecido... uma febre... um <strong>de</strong>sejo...<br />
(CARDOSO, s/d:13)<br />
Renato volta à reflexão <strong>de</strong> que, talvez, Gina sempre tenha sido assim.<br />
Lembra-se <strong>de</strong> que, mesmo antes <strong>de</strong> se casar, ela tinha “esse mesmo humor<br />
brusco” (CARDOSO, s/d:14), mas que agora parece exagerado: “Acho sua<br />
alegria estranha, bem como a sua tristeza. Dir-se-ia que ela não sabe mais<br />
conter os sentimentos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> certos limites.” (CARDOSO, s/d:14).<br />
Embora compa<strong>de</strong>cido do sofrimento do amigo, dr. Victor afirma a<br />
impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> traçar qualquer diagnóstico <strong>de</strong> Gina com base nas<br />
“suspeitas” <strong>de</strong> Renato. Propõe-se a examiná-la, mas o marido recua <strong>por</strong>que<br />
sabe que a esposa não concor<strong>da</strong>ria e teme sua reação. O médico, vendo que é<br />
inútil insistir, <strong>de</strong>spe<strong>de</strong>-se e parte.<br />
A mulher, que Renato ouvira acor<strong>da</strong>r um pouco antes, <strong>de</strong>sce as<br />
esca<strong>da</strong>s. A rubrica informa que ela está “vesti<strong>da</strong> com um longo ‘<strong>de</strong>shabillé’<br />
negro” e que “a cor do vestido acentua-lhe a extrema pali<strong>de</strong>z. Seus olhos<br />
dilatados são ro<strong>de</strong>ados <strong>de</strong> escuro.” (CARDOSO, s/d:19) Diante <strong>da</strong>s queixas <strong>de</strong><br />
palpitações e dores <strong>de</strong> cabeça, Renato aproveita para sugerir-lhe que consulte<br />
um médico, o que provoca uma discussão acalora<strong>da</strong> entre eles.<br />
Nesse momento, é possível compreen<strong>de</strong>r <strong>por</strong> que Sérgio Brito elogia o<br />
final do primeiro ato, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ter feito restrições aos diálogos anteriores: a<br />
partir <strong>de</strong> agora, no embate entre marido e mulher, ficarão <strong>de</strong>linea<strong>da</strong>s as<br />
contradições <strong>de</strong> Gina e a perplexi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Renato <strong>de</strong> forma direta, sem<br />
intermediários, e o ato parece ganhar o fôlego que a estrutura <strong>dramática</strong> exige.<br />
Gina, ante a sugestão, afirma que todos estão contra ela, que ele a quer<br />
enganar, que não merece a menor confiança: “Mas se esquece <strong>de</strong> que estou<br />
sempre atenta a (sic) acompanho o menor dos seus gestos” (CARDOSO,<br />
s/d:21). Conta-lhe que o espiava do alto <strong>da</strong> esca<strong>da</strong> e que viu quando o médico<br />
<strong>de</strong>ixou a casa (e não um colega <strong>de</strong> trabalho, como Renato afirmara no <strong>de</strong>sejo<br />
<strong>de</strong> ocultar a visita). E que, apesar <strong>de</strong> não ter ouvido o que diziam, sabia que<br />
tramavam contra ela. No auge <strong>da</strong> exasperação, exclama:<br />
98
Bem sei o que me falta. Não tenho um só minuto <strong>de</strong> sossego <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
que pisei nesta casa. A única razão <strong>de</strong> ser que existe em mim, fatal e<br />
<strong>de</strong>cisiva, é o ódio.<br />
(...)<br />
(AVANÇANDO IMPETUOSA) Se ain<strong>da</strong> duvi<strong>da</strong>, escute: eu o o<strong>de</strong>io.<br />
Eu o o<strong>de</strong>io mortalmente. Tudo em mim estremece quando o vejo. E<br />
muitas vezes só reconheço em mim o que é vi<strong>da</strong>, pelo <strong>de</strong>sgosto que<br />
me causa a sua presença ou o que me vem <strong>da</strong>s suas mãos.<br />
(CARDOSO, s/d:21)<br />
E termina ameaçando o marido: “Você não <strong>de</strong>via me provocar, Renato.<br />
Bem sabe que ando muito nervosa e <strong>de</strong> vez em quando perco o controle <strong>da</strong>s<br />
minhas palavras.” (CARDOSO, s/d:23). Abatido com as <strong>de</strong>clarações <strong>da</strong><br />
esposa, Renato pergunta se não seria melhor que se separassem e ela reage:<br />
(ENCAMINHANDO-SE PARA ELE E FALANDO NUM TOM<br />
RAIVOSO E ESCARNINHO): Já sei, Renato, quer submeter-me ao<br />
<strong>de</strong>sprezo dos outros. Pois eu lhe confesso que às vezes imagino que<br />
só casou comigo para isto, para atingir este fim. Não se contenta em<br />
ver-me ultraja<strong>da</strong>, espezinha<strong>da</strong>. Quer que todos o saibam...<br />
(CARDOSO, s/d:23)<br />
O marido, ca<strong>da</strong> vez mais abatido e perplexo, afirma-lhe que é ela quem<br />
“<strong>de</strong>seja tudo o que está acontecendo” (CARDOSO, s/d:23) e Gina retruca que<br />
ele, com certeza, está sugerindo, como todos dizem, que é uma “mulher<br />
perversa”, uma “ordinária” (CARDOSO, s/d:23).<br />
Renato a repreen<strong>de</strong>, ela se <strong>de</strong>ixa cair numa poltrona e soluça,<br />
<strong>de</strong>clarando-se infeliz. Apie<strong>da</strong>do, o marido aproxima-se, lembra as alegrias e<br />
promessas do noivado, reafirma-lhe o amor que sente. Apaixona<strong>da</strong>, ela pe<strong>de</strong><br />
que ele não a <strong>de</strong>ixe sozinha, fala <strong>de</strong> seus sofrimentos: “Uma só voz existe<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> mim! ‘Quem sou eu?’ – e é como se fosse um grito primitivo,<br />
qualquer coisa aflita e <strong>de</strong>sampara<strong>da</strong> entre quatro pare<strong>de</strong>s <strong>da</strong> alma.”<br />
(CARDOSO, s/d:25). Renato volta a falar do médico e ela recusa, <strong>por</strong>que o<br />
profissional não saberia compreendê-la, mas pe<strong>de</strong> que ele a aju<strong>de</strong>:<br />
(ARDENTE, SUPLICANTE) Queria, Renato, que você me <strong>de</strong>sse todo<br />
o amor que lhe fosse possível. Não o amor comum, mas uma<br />
espécie <strong>de</strong> amor que não existiu ain<strong>da</strong>, um amor como só o<br />
adivinham os con<strong>de</strong>nados, ou os leprosos <strong>de</strong>sta vi<strong>da</strong>! Preciso <strong>de</strong> um<br />
pouco <strong>de</strong> chama para o meu ser gelado, para a pobre alma<br />
aprisiona<strong>da</strong> que carrego comigo!<br />
(...)<br />
99
100<br />
(...) O que você me <strong>de</strong>u não basta para aquecer nem sequer a ponta<br />
dos meus <strong>de</strong>dos. Quero uma chama violenta e alta. Quero sangue<br />
para o frio <strong>de</strong>ste (sic) coração que não bate. Alguma coisa, Renato,<br />
que impeça a vi<strong>da</strong> <strong>de</strong> fugir <strong>de</strong> mim gota a gota, minuto <strong>por</strong> minuto,<br />
transformando-se numa sombra <strong>de</strong> criatura. To<strong>da</strong>s as noites sinto<br />
um frio estranho, sobrenatural. (CARDOSO, s/d:25-26)<br />
Ele volta a insistir no médico e ela, levantando-se, abandona a atitu<strong>de</strong><br />
apaixona<strong>da</strong> e retoma a agitação <strong>de</strong> antes. Duvi<strong>da</strong> do marido e <strong>da</strong>s<br />
possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> amor, concluindo: “Você será como os outros, Renato, que<br />
não vêem em mim senão um ser morto e <strong>de</strong>stituído <strong>de</strong> razão. Estou sozinha e<br />
não tenho amigos” (CARDOSO, s/d:26). Ele fala <strong>de</strong> novo no médico e ela se<br />
recolhe na mesma atitu<strong>de</strong> agressiva <strong>de</strong> antes, dizendo-lhe que ele e todos os<br />
conhecidos imaginam que ela está louca: “Sei que falam sobre isso e<br />
comentam em voz baixa a <strong>de</strong>sgraça do seu lar.” (CARDOSO, s/d:27) E conclui:<br />
“Mas eu combaterei sozinha e lúci<strong>da</strong>, ca<strong>da</strong> vez mais lúci<strong>da</strong>, nesse inferno que<br />
vocês criaram para as mulheres como eu!” (CARDOSO, s/d:27).<br />
O segundo ato abre um cenário diferente do anterior. A cena <strong>de</strong>scortina<br />
o quarto <strong>de</strong> dormir do casal. É o menor quarto <strong>da</strong> casa, escolhido <strong>por</strong> Gina que<br />
não aceita mu<strong>da</strong>r-se para outro. Suas pare<strong>de</strong>s são cinza-escuro, não há<br />
janelas. Há uma única <strong>por</strong>ta “e é uma <strong>por</strong>ta gra<strong>de</strong>a<strong>da</strong>, <strong>de</strong> varões grosso como<br />
os <strong>de</strong> uma prisão” (CARDOSO, s/d:28). Além <strong>da</strong> cama e <strong>de</strong> um pequeno divã<br />
aos seus pés, o cômodo não possui outros móveis. Se o primeiro cenário<br />
sugeria o tumulto interior <strong>da</strong> protagonista, este sugere a visão <strong>da</strong> mulher sobre<br />
sua vi<strong>da</strong> conjugal: uma prisão 47 .<br />
Em cena está Gina, com um “negligé” branco longo quando entra a<br />
“mulher <strong>de</strong> preto” – que usa o mesmo “<strong>de</strong>shabillé” negro que a protagonista<br />
usava no primeiro ato. Em torno <strong>de</strong>la, “a luz é diferente, ver<strong>de</strong>, irreal”<br />
(CARDOSO, s/d:28) e a acompanha <strong>por</strong> todo o palco sem se aproximar <strong>de</strong><br />
Gina. O diálogo entre elas acontece “em tom baixo, sufocado e familiar como<br />
47 SZONDI, analisando o cenário <strong>de</strong> Huis Clos, <strong>de</strong> Sartre, diz: “O palco é um salon style Second Empire<br />
no inferno. Por que uma obra profana se passa no inferno e <strong>por</strong> que este figura como salão só encontra<br />
uma explicação com base no ‘método <strong>da</strong> inversão’ que G. An<strong>de</strong>rs elucidou nas obras <strong>de</strong> Esopo, Brecht e<br />
Kafka. Na expressão seculariza<strong>da</strong>, Sartre quer dizer que a vi<strong>da</strong> social seria o inferno; mas inverte a<br />
predição e mostra o inferno como salon sitlyle Second Empire (...)” (2001:120) Foi seguindo o mesmo<br />
raciocínio que concluí sobre significado do cenário <strong>de</strong>ste ato do drama cardosiano.
se ambas fossem conheci<strong>da</strong>s há muito tempo” (CARDOSO, s/d:28) e revela<br />
que ambas “convivem” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a infância <strong>de</strong> Gina, quando ela a chamava.<br />
101<br />
A mulher <strong>de</strong> preto aparece convi<strong>da</strong>ndo a protagonista a seguir com ela.<br />
Chama-a <strong>de</strong> covar<strong>de</strong>, conclama-a a ter coragem e a reagir contra a sua vi<strong>da</strong> e<br />
ameaça <strong>de</strong>ixá-la. Gina suplica que vá embora, que não a atormente, lamenta<br />
<strong>por</strong>que todos a consi<strong>de</strong>ram louca. Mas, segundo a mulher <strong>de</strong> preto, não há <strong>por</strong><br />
que se queixar, a loucura “é como uma neblina <strong>de</strong>rrama<strong>da</strong> sobre (sic) as<br />
coisas: faz parte <strong>de</strong> tudo é é (sic) quem faz girar o mecanismo <strong>da</strong> terra (sic)”<br />
(CARDOSO, s/d:31). Às queixas <strong>de</strong> solidão, ela acrescenta:<br />
Mas a loucura não é uma coisa solitária, uma ilha on<strong>de</strong> alguns vão<br />
ter <strong>por</strong> infortúnio... Ao contrário, transmite um sentimento <strong>de</strong><br />
fraterni<strong>da</strong><strong>de</strong> e euforia, e é ela, posso lhe jurar, que dá aos homens a<br />
capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r as palavras <strong>de</strong>siguais que pronunciam.<br />
(...)<br />
(...) Ah, se tentassem extrair do mundo o que pertence à loucura,<br />
tirariam <strong>de</strong>le a sua única possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> justificação. (CARDOSO,<br />
s/d:31-32)<br />
E prossegue, convi<strong>da</strong>ndo-a a “criar uma reali<strong>da</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong> possamos viver<br />
juntas” (CARDOSO, s/d:32). Gina insiste na recusa, provocando respostas<br />
ca<strong>da</strong> vez mais agressivas <strong>da</strong> mulher <strong>de</strong> preto, que termina <strong>por</strong> concluir:<br />
(EM VOZ MAIS ALTA) Quer saber a ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, exatamente a<br />
ver<strong>da</strong><strong>de</strong>? Aí está: você tem medo do seu marido. Já se esqueceu <strong>da</strong><br />
sua ridícula maneira <strong>de</strong> falar, <strong>da</strong>s gravatas <strong>de</strong> mau gosto, <strong>da</strong><br />
tesourinha com que corta meticulosamente as unhas... Esqueceu<br />
todos esses horríveis hábitos que tanto <strong>de</strong>testa? 48 (CARDOSO,<br />
s/d:33)<br />
E você queria ser igual a todo mundo? Não <strong>de</strong>sejava ter mãos fortes<br />
e cruéis, olhos frios e lábios capazes <strong>de</strong> mentir?( CARDOSO, s/d:34)<br />
Quando Gina <strong>de</strong>siste <strong>de</strong> o<strong>por</strong> resistência aos seus argumentos, a mulher<br />
<strong>de</strong> preto lhe esten<strong>de</strong> uma cor<strong>da</strong> e isso a horroriza. Nesse momento, Júlia entra<br />
48 O <strong>de</strong>sprezo no comentário <strong>da</strong> mulher <strong>de</strong> preto ecoa, muitos anos <strong>de</strong>pois, na consciência <strong>de</strong> personagens<br />
femininas <strong>de</strong> Clarice Lispector. Em Desvario e embriaguez <strong>de</strong> uma rapariga, <strong>por</strong> exemplo, a protagonista<br />
também vive uma reali<strong>da</strong><strong>de</strong> altera<strong>da</strong> não pela loucura, mas pela embriaguez. Desse estado, analisa o<br />
companheiro: “E se seu marido não estava borracho é que não queria faltar ao respeito ao negociante, e,<br />
cheio d’empenho e d’humil<strong>da</strong><strong>de</strong>, <strong>de</strong>ixava-lhe, ao outro, o cantar <strong>de</strong> galo. O que assentava bem para a<br />
ocasião, mas lhe punha, a ela, uma <strong>de</strong>ssas vonta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rir! um <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>sprezos! olhava o marido metido<br />
no fato novo e achava-lhe uma tal pia<strong>da</strong>!” (LISPECTOR, 1991:21). Como se sabe, Clarice e <strong>Lúcio</strong> foram<br />
gran<strong>de</strong>s amigos e o autor mineiro teve consi<strong>de</strong>rável influência na produção literária <strong>de</strong> Clarice.
em cena provocando a saí<strong>da</strong> <strong>da</strong> mulher, que leva a cor<strong>da</strong>. Gina pergunta à<br />
cria<strong>da</strong> se ela viu alguém. Ela nega e, como a patroa não precisasse <strong>de</strong> na<strong>da</strong>,<br />
prepara-se para sair mas Gina, amedronta<strong>da</strong>, pe<strong>de</strong>-lhe que fique.<br />
102<br />
A conversa que se segue gira em torno <strong>da</strong> infância <strong>de</strong> Gina e, <strong>por</strong> não<br />
ter relação direta com o conflito <strong>da</strong> peça, talvez seja um dos momentos que a<br />
Crítica apontou como fracos. O final <strong>da</strong> cena marca-se <strong>por</strong> mais um<br />
<strong>de</strong>sequilíbrio <strong>de</strong> Gina, que acusa Júlia <strong>de</strong> “estar do lado <strong>de</strong>les” (CARDOSO,<br />
s/d:39), <strong>de</strong> querer matá-la e <strong>de</strong> mentir quanto a não ter visto a mulher <strong>de</strong> preto<br />
e a cor<strong>da</strong>. A cria<strong>da</strong>, assusta<strong>da</strong>, corre a chamar o marido <strong>de</strong>ixando Gina<br />
sozinha, que reflete:<br />
(EM VOZ LENTA E SOMBRIA) Que tenho eu, meu Deus, que tenho<br />
eu? Tudo isto é um sonho doentio e sem razão <strong>de</strong> ser. Afinal, que<br />
<strong>de</strong>sejo, que procuro com tanta ansie<strong>da</strong><strong>de</strong>? Não há na<strong>da</strong> neste<br />
mundo que possa me interessar ou fazer meu coração bater mais<br />
fortemente.<br />
(PAUSA. GINA SENTA-SE NO DIVÃ, O ROSTO APOIADO NAS<br />
MÃOS) Certamente eu o sei, às vezes, quando escuto, como agora,<br />
essa outra “voz” que existe <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> mim. Pois ela sou eu mesma,<br />
tenho certeza disto. Somos uma só e mesma criatura, dissocia<strong>da</strong>s, é<br />
ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, <strong>por</strong>que houve uma ruptura em minha vi<strong>da</strong>. Mas até quando<br />
po<strong>de</strong>rei subsistir assim, sem que um <strong>de</strong>sastre sobrevenha? (...)<br />
(CARDOSO, s/d:41) 49<br />
Renato, acudindo ao chamado <strong>de</strong> Júlia, conversa com Gina, fala em<br />
mu<strong>da</strong>r <strong>de</strong> quarto, em viajar, mas a mulher a tudo recusa, agressiva. Vendo<br />
inúteis seus esforços, emocionalmente <strong>de</strong>sgastado, ele <strong>de</strong>sabafa:<br />
... Sinto-me tão cansado disto, que até seria capaz <strong>de</strong> abandoná-la<br />
realmente, ir sozinho para essa estação <strong>de</strong> águas, nem sei...<br />
(CARDOSO, s/d:43)<br />
Ante as súplicas <strong>de</strong> sua mulher para que não a <strong>de</strong>ixe, Renato queixa-se<br />
<strong>de</strong> seu com<strong>por</strong>tamento e cobra-lhe explicações sobre a cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> que lhe falou<br />
Júlia. A discussão prossegue, culminando em ameaça <strong>de</strong> separação. Gina,<br />
então, concor<strong>da</strong> em ver um médico se o marido prometer não a abandonar:<br />
49 O sentimento <strong>de</strong> estar dissociado ecoa, dois anos <strong>de</strong>pois, no Diário íntimo <strong>de</strong> seu criador. Uma <strong>da</strong>s<br />
anotações <strong>da</strong>ta <strong>de</strong> 15/09/1949: “Como juntar os dois eus diferentes que me formam?” (CARDOSO,<br />
1970:36) e mostra que era uma preocupação do Autor.
103<br />
(POUSANDO A MÃO EM SEUS CABELOS) Conservemo-nos<br />
sempre assim, não se afaste nunca. Tenho medo. Renato, somos tão<br />
<strong>de</strong>sespera<strong>da</strong>mente livres! Não há sentido em coisa alguma que<br />
fazemos, nossos gestos são livres como o vôo <strong>de</strong> um pássaro...<br />
Você nunca <strong>de</strong>sejou o impossível, Renato? Por isto é que eu lhe<br />
peço que me aperte bem contra o seu peito, para que eu não<br />
esqueça nunca <strong>de</strong> que o amei um dia... <strong>de</strong> que eu o amei mais do<br />
que esta luz que nos ilumina. (CARDOSO, s/d:47)<br />
Essa fala contém a idéia essencial do drama: a falta <strong>de</strong> sentido do<br />
mundo que nos cerca e a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong> absoluta. Esse tema<br />
estará mais <strong>de</strong>senvolvido no terceiro ato e então será possível analisá-lo<br />
melhor. Mas já é possível adiantar que a raiz <strong>da</strong>s angústias <strong>de</strong> Gina se<br />
encontra, também, nessa percepção do absurdo <strong>da</strong> existência 50 . Quanto à<br />
cena, seguem-se diálogos que na<strong>da</strong> acrescentam ao conflito e o ato termina<br />
com Renato apoiado nos joelhos <strong>da</strong> mulher que o quer adormecido “como uma<br />
criança”, “como um filhinho meu”, mas que não consegue disfarçar sua<br />
agressivi<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
(VOLUPTUOSA) Eu lhe <strong>da</strong>rei <strong>de</strong> novo a paisagem e a luz. Eu<br />
afagarei seus cabelos, <strong>de</strong>vagar, bem <strong>de</strong>vagar, até que a madruga<strong>da</strong><br />
chegue. E seu rosto também, Renato, seu rosto pálido, assim, até o<br />
pescoço... até esse pescoço macio... esse pescoço lânguido on<strong>de</strong> o<br />
sangue bate <strong>de</strong>licado... e que parece ter sido feito para a carícia <strong>de</strong><br />
uma cor<strong>da</strong>! (CARDOSO, s/d:50)<br />
O terceiro ato acontece no mesmo cenário do anterior, no quarto do<br />
casal. Quando a cortina se abre, Gina e dr. Victor conversam. Essa<br />
personagem, que se apresenta como médico, <strong>de</strong>veria trazer à cena a palavra<br />
<strong>da</strong> Ciência 51 e, no entanto, sua fala mais parece a <strong>de</strong> um sacerdote: “Tenho<br />
escutado muitas confissões e auxiliado muita alma atribula<strong>da</strong>” (CARDOSO,<br />
s/d:52) diz ele à mulher. Como em O Escravo, a Ciência é <strong>de</strong>sacredita<strong>da</strong>.<br />
Tanto lá, pela sugestão <strong>de</strong> “possessão”, quanto aqui, como se verá, pela<br />
referência a Deus como solução: em ambos, a religião supera a Ciência.<br />
50 Tal como foi assinalado em nota anterior, essa também é uma percepção comum a protagonistas<br />
clariceanas <strong>de</strong>ntre as quais, Ana, do conto “Amor”, <strong>de</strong> Laços <strong>de</strong> família. (LISPECTOR, 1991)<br />
51 Sabe-se que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início do século, circulavam entre nós as idéias <strong>de</strong> Freud, <strong>por</strong> exemplo, e que já<br />
haviam aparecido, ain<strong>da</strong> que superficialmente na peça Sexo, <strong>de</strong> Renato Vianna, em 1934. (Cf: Segmento<br />
2.2 <strong>de</strong>sta Tese.)
104<br />
Como Gina houvesse concor<strong>da</strong>do com a “consulta”, dr. Victor pe<strong>de</strong>-lhe<br />
que respon<strong>da</strong> algumas perguntas. Sua primeira interrogação é assim<br />
formula<strong>da</strong>: “Mas esta sua liber<strong>da</strong><strong>de</strong>... on<strong>de</strong> a adquiriu?” (CARDOSO, s/d:52) e<br />
prossegue afirmando perceber que a esposa do amigo “se dá realmente uma<br />
liber<strong>da</strong><strong>de</strong> que muito poucos possuem” e lhe pergunta se isso não a amedronta.<br />
Gina confirma que, às vezes, ela lhe parece excessiva, mas isso não seria tudo<br />
o que existe? E o médico respon<strong>de</strong> com outra interrogação muito pouco<br />
científica:<br />
Talvez haja mais alguma coisa. Não acredita em Deus [?]<br />
(CARDOSO, s/d:53)<br />
As falas do médico sugerem que a “doença” <strong>de</strong> Gina está liga<strong>da</strong> à<br />
“liber<strong>da</strong><strong>de</strong>” que ela se conce<strong>de</strong>. Ain<strong>da</strong> no palco, prossegue o diálogo e como a<br />
mulher afirma não acreditar em na<strong>da</strong> e questiona quem <strong>de</strong>termina quais limites<br />
não po<strong>de</strong>m ser ultrapassados, dr. Victor reconhece que ela não precisa <strong>de</strong> um<br />
médico, mas <strong>de</strong> um padre.<br />
Um padre não conseguiria remover a solidão que me <strong>de</strong>vora. Por isto<br />
é que eu faço o que quero. O fato <strong>de</strong> ser tão livre me embriaga – e<br />
po<strong>de</strong> acreditar, não me <strong>de</strong>sfarei tão <strong>de</strong>pressa assim dos meus<br />
direitos. (CARDOSO, s/d:54)<br />
O médico, então, questiona se essa liber<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> que fala Gina é “uma<br />
conseqüência lógica <strong>da</strong> sua atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>, ou um estado mais ou menos<br />
permanente”, ao que ela respon<strong>de</strong>:<br />
(COMO QUE REMEMORANDO) Não sei ao certo como respon<strong>de</strong>r.<br />
Comecei a sentir-me livre no dia em que percebi que existia. E tudo<br />
passou a doer <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> mim como se fosse uma gran<strong>de</strong> chaga<br />
aberta. (CARDOSO, s/d:55)<br />
As palavras transcritas lembram os postulados do Existencialismo “ateu”<br />
a que se filiam, <strong>por</strong> exemplo, Sartre e Camus. Esses pensadores,<br />
contem<strong>por</strong>âneos <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, como ele testemunharam o fracasso dos gran<strong>de</strong>s<br />
i<strong>de</strong>ais humanitários, do conceito positivista <strong>de</strong> “Or<strong>de</strong>m, Progresso e Amor”, <strong>da</strong><br />
impotência <strong>da</strong> Técnica e <strong>da</strong> Ciência mas, diferente do Autor mineiro, rejeitaram<br />
a idéia <strong>de</strong> um Deus que justificaria e <strong>da</strong>ria sentido à existência humana. Como<br />
se sabe, para eles, o mundo não tem sentido algum, é gratuito como gratuita é
a existência. Nessa concepção, sustenta-se o conceito <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong>: o homem<br />
é aquilo que faz <strong>de</strong> si sem que nenhum projeto anterior ou transcen<strong>de</strong>nte<br />
<strong>de</strong>termine sua escolha, que só po<strong>de</strong> ser justifica<strong>da</strong> <strong>por</strong> ele mesmo.<br />
105<br />
Lembrando sua vinculação i<strong>de</strong>ológica alinha<strong>da</strong> ao grupo que contava<br />
com Otávio <strong>de</strong> Faria e Cornélio Pena, é possível que, neste drama, <strong>Lúcio</strong><br />
quisesse <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r a idéia <strong>de</strong> que a liber<strong>da</strong><strong>de</strong> absoluta é loucura, uma opção<br />
inviável, e que Deus é a melhor resposta para a angústia <strong>de</strong> existir.<br />
Cumpre observar que, a esse contexto “filosófico” junta-se, no caso <strong>de</strong><br />
Gina, uma circunstância histórica inegável: a situação <strong>da</strong> mulher no Brasil,<br />
sobretudo no interior do país. A protagonista percebe a vi<strong>da</strong> conjugal como<br />
uma prisão, “um inferno que criaram para mulheres”. Reagindo à situação, ela<br />
não bor<strong>da</strong> <strong>por</strong>que repudia o com<strong>por</strong>tamento submisso <strong>da</strong> mãe; não aceita suas<br />
“obrigações” <strong>de</strong> esposa nem os “direitos” do marido. É uma mulher que se<br />
recusa a cumprir o papel social que era <strong>de</strong>stinado às esposas <strong>de</strong> então. 52 As<br />
falas em que Renato menciona seus direitos <strong>de</strong> marido ou os <strong>de</strong>veres <strong>de</strong>la<br />
como esposa:<br />
Você precisa compreen<strong>de</strong>r que se casou comigo e que <strong>por</strong>tanto <strong>de</strong>ve<br />
aceitar certas obrigações. (DESAPONTADO) (CARDOSO, s/d:7)<br />
Está certo, Gina. Não tenho o direito <strong>de</strong> <strong>de</strong>vassar seus segredos,<br />
mas não se esqueça também <strong>de</strong> que sou o seu marido. Seus<br />
<strong>de</strong>veres, afinal... (CARDOSO, s/d: 60-61)<br />
têm, como resposta imediata, a irritação extrema<strong>da</strong> <strong>da</strong> protagonista. E a réplica<br />
<strong>de</strong>la ao médico, quando ele questiona se ama o marido, atesta isso:<br />
(DEPOIS DE LIGEIRA PAUSA) Sim, amo ao meu marido. Mas não o<br />
amaria mais, no dia em que o sentisse como um impecilho (sic) à<br />
minha vonta<strong>de</strong>. (CARDOSO, s/d:.56)<br />
Questiona<strong>da</strong> sobre o que seria essa vonta<strong>de</strong> que tanto <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>, ela,<br />
reafirmando a aproximação com as idéias filosóficas anteriormente referi<strong>da</strong>s,<br />
explica:<br />
52 Esse ponto será <strong>de</strong>sdobrado mais tar<strong>de</strong>, no capítulo 5 <strong>de</strong>sta Tese, através <strong>de</strong> um cotejo entre este drama<br />
e uma novela <strong>de</strong> 1938, Mãos Vazias, cuja temática é a mesma que esbocei aqui.
106<br />
Minha consciência <strong>de</strong> ser livre. No mais íntimo do meu ser, a noção<br />
<strong>de</strong> que tudo é absurdo, que somos mais altos quanto mais livres<br />
somos. (CARDOSO, s/d:.56)<br />
O médico chega à conclusão <strong>de</strong> que ela não ama Renato tanto quanto<br />
afirma: “Como po<strong>de</strong> conciliar o amor com essa idéia <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong>?”<br />
(CARDOSO, s/d:57)<br />
Vamos, po<strong>de</strong> falar francamente. Não é difícil constatar que ante tão<br />
<strong>de</strong>smesura<strong>da</strong> idéia <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e autonomia, o amor não significa coisa<br />
alguma. Como a pie<strong>da</strong><strong>de</strong>, ele também não tem sentido. (...)<br />
(CARDOSO, s/d:57)<br />
O que o médico não compreen<strong>de</strong> é como Gina po<strong>de</strong>ria amar Renato se<br />
não seguia o amor conjugal tal como se esperava <strong>da</strong>s esposas <strong>da</strong> época. Sua<br />
loucura, filha <strong>da</strong>s suas idéias <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong>, tem relação com a ousadia ou com<br />
a inconformação em a<strong>de</strong>quar-se a um papel social que concebia a mulher<br />
como um ser nascido para o amor – mas um amor que impunha obrigações<br />
que anulavam sua vonta<strong>de</strong> e personali<strong>da</strong><strong>de</strong> quando elas <strong>de</strong>sagra<strong>da</strong>vam ou<br />
entravam em discordância com as do marido.<br />
Então, naquele contexto, Gina acaba <strong>por</strong> reconhecer que realmente não<br />
ama Renato e que, quando ele a contraria, chega a odiá-lo. Legitimando o<br />
senso comum <strong>da</strong> época histórica e ratificando o ponto <strong>de</strong> vista que venho<br />
expondo, o médico questiona se ele não “teria esse direito” (<strong>de</strong> contrariá-la), ao<br />
que ela retruca:<br />
(FREMENTE, CHEIA DE ÓDIO COMO SE RENATO ESTIVESSE<br />
PRESENTE) Acho que ele não tem este direito. Eu o olho, e quanto<br />
mais o faço, mais o o<strong>de</strong>io. “Este verme, este imundo bicho <strong>da</strong> terra,<br />
esta coisa mole, sem significado e sem consciência... Este homem<br />
não <strong>de</strong>via estar morto, não <strong>de</strong>via se afogar para sempre na sua<br />
horrorosa mediocri<strong>da</strong><strong>de</strong>?” Aí está, é isto o que eu penso, é isto o que<br />
me saco<strong>de</strong> o coração.( CARDOSO, s/d:57-58)<br />
Se a opção é amar como as outras mulheres, a rebeldia <strong>de</strong> Gina a leva a<br />
concluir que não o ama e o sentimento que sobra é, <strong>por</strong> conseqüência, o ódio.<br />
No rancor, busca os motivos que justifiquem o sentimento agressivo, embora já<br />
tenha afirmado ao marido que o ama, que não gostaria <strong>de</strong> se separar e já<br />
tenha implorado que ele não a abandonasse.
107<br />
Mas seria redutor vincular a personali<strong>da</strong><strong>de</strong> conflitua<strong>da</strong> <strong>de</strong> Gina apenas a<br />
uma situação histórica socialmente <strong>da</strong>ta<strong>da</strong>. É forçoso reconhecer que, na<br />
produção cardosiana, as personagens não conseguem alcançar compreensão<br />
mútua nem concórdia no amor. Entre elas, o convívio é sempre hostil,<br />
configurando uma relação sadomasoquista <strong>de</strong> seres isolados que se<br />
aproximam tentando vencer, no domínio sobre a outra, a solidão em que se<br />
vêem encerrados. Não raro, essa aproximação acaba em <strong>de</strong>struição: I<strong>da</strong> (Mãos<br />
vazias) se suici<strong>da</strong>, a professora Hil<strong>da</strong> (<strong>da</strong> novela homônima) acaba <strong>por</strong> levar<br />
Sofia à morte, Pedro (Luz no subsolo) induz Ma<strong>da</strong>lena a matá-lo, Alberto é<br />
vítima do amor <strong>de</strong> Ana e Nina (Crônica <strong>da</strong> casa assassina<strong>da</strong>)... 53<br />
O <strong>de</strong>sabafo provocado pelo médico abala Gina e ela chora pedindo<br />
pie<strong>da</strong><strong>de</strong>. Dr. Victor <strong>de</strong>ixa o quarto recomen<strong>da</strong>ndo que <strong>de</strong>scanse. Afirma que<br />
compreen<strong>de</strong> o que se passa e que ela precisa ajudá-lo <strong>por</strong>que, sozinho, na<strong>da</strong><br />
po<strong>de</strong>ria fazer <strong>por</strong> ela. Nesse momento, Renato bate à <strong>por</strong>ta e o médico diz que<br />
vai esperá-lo no an<strong>da</strong>r <strong>de</strong>baixo.<br />
Nessa altura do drama, o pequeno quarto cinza, sem janelas e com uma<br />
<strong>por</strong>ta gra<strong>de</strong>a<strong>da</strong>, que lembra uma prisão, ganha uma expressivi<strong>da</strong><strong>de</strong> muito<br />
clara: tanto o espaço físico representado quanto a situação conjugal abrigam<br />
uma mulher que anseia pela liber<strong>da</strong><strong>de</strong> absoluta estando disposta, para tal, a<br />
sacrificar o amor que julga sentir e o casamento que fez. O cenário abriga, ao<br />
mesmo tempo, os dois sentimentos que, dialeticamente, movem a mulher <strong>de</strong><br />
preto e Gina, respectivamente: o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong> e o temor que esse<br />
<strong>de</strong>sejo provoca.<br />
O marido aproxima-se e pergunta a Gina com foi a consulta, se lhe foi<br />
receitado algum medicamento e o que disse ao médico. Ela esquiva-se,<br />
irrita<strong>da</strong>, e recusa-se a reproduzir a conversa.<br />
(DESAPONTADO) Está certo, Gina. Não tenho o direito <strong>de</strong> <strong>de</strong>vassar<br />
seus segredos, mas não se esqueça também <strong>de</strong> que sou o seu<br />
marido. Seus <strong>de</strong>veres, afinal... (CARDOSO, s/d: 60-61)<br />
53 Essa também será uma tônica <strong>da</strong>s personagens clariceanas sem que elas, contudo, cheguem<br />
necessariamente à <strong>de</strong>struição física. Basta lembrar Joana, protagonista <strong>de</strong> Perto do coração selvagem e<br />
sua relação com o marido Otávio (e a amante <strong>de</strong>le, Lídia). Já Laura, protagonista <strong>de</strong> “Imitação <strong>da</strong> rosa”,<br />
<strong>de</strong> Laços <strong>de</strong> família, que foi entregue ao marido pelas mãos <strong>de</strong> um pai e <strong>de</strong> um padre e que não pô<strong>de</strong> ter<br />
filhos, angustia-se <strong>de</strong> tal forma em seu (fracassado) universo conjugal que, incapaz <strong>de</strong> encontrar outra<br />
saí<strong>da</strong>, se refugia na loucura – mesmo final <strong>de</strong> Gina.
108<br />
A menção dos “seus <strong>de</strong>veres”, como já foi assinalado, provoca a reação<br />
irrita<strong>da</strong> <strong>da</strong> esposa, que se acentua quando Renato lhe diz que ela “parece se<br />
conce<strong>de</strong>r uma in<strong>de</strong>pendência excessiva”. Às reações exalta<strong>da</strong>s <strong>da</strong> mulher,<br />
Renato reafirma seu amor e Gina afirma, friamente, que não <strong>de</strong>seja que ele a<br />
ame mais. Aturdido, o marido cobra explicações insistindo na conversa com o<br />
médico:<br />
Sim, Renato, disse que eu não o amava. Aliás, nunca o amei, nunca,<br />
durante to<strong>da</strong> a minha vi<strong>da</strong>. Se quer saber mais, o<strong>de</strong>io-o, o<strong>de</strong>io-o<br />
como uma coisa maligna, mas sem caráter. Um câncer ain<strong>da</strong> existe,<br />
mas para mim você é como o pus que secreta esse câncer,<br />
incoômodo (sic) e asqueroso ao mesmo tempo. (CARDOSO, s/d:62)<br />
Ele se <strong>de</strong>ixa cair, atônito. Nesse momento, surge a mulher <strong>de</strong> preto, sob<br />
a luz esver<strong>de</strong>a<strong>da</strong>, e Gina implora-lhe que a <strong>de</strong>ixe. A mulher promete-lhe<br />
<strong>de</strong>scanso “numa noite tão longa que sobre ela não se levantará a aurora.”<br />
(CARDOSO, s/d:63). Gina prossegue na recusa e a mulher a ameaça:<br />
Então apodrecerá nesta casa, morrerá como todos morrem, minuto<br />
<strong>por</strong> minuto, sem luz e sem esperança. Morrerá durante quase um<br />
século, assassina<strong>da</strong> pelos que a cercam, tão bem assassina<strong>da</strong> que<br />
na<strong>da</strong> mais estremecerá no fundo <strong>da</strong> sua alma. Com o correr dos<br />
dias, converter-se-á num autômato, e dirá se o tempo está firme, se<br />
chove ou não chove, se os filhos crescem como os <strong>de</strong> to<strong>da</strong> a gente.<br />
Eles crescerão sim, ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iras ninha<strong>da</strong>s, como gatos sujos e<br />
asquerosos farejando pelos cantos! (CARDOSO, s/d:64)<br />
Como se <strong>de</strong>preen<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa e <strong>de</strong> outras falas, o dia-a-dia, permeado pelo<br />
senso comum e pela convenção, é i<strong>de</strong>ntificado como inimigo <strong>da</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong> 54 . E,<br />
como o que interessa a <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> é o que se oculta sob a cama<strong>da</strong> dos<br />
sentimentos cotidianos, só sobram a Gina (e a tantas outras personagens<br />
suas) o caminho <strong>da</strong> agressivi<strong>da</strong><strong>de</strong> que não respeita as fronteiras burguesas do<br />
<strong>de</strong>coro e <strong>da</strong> medi<strong>da</strong>; a revolta; a recusa como um <strong>de</strong>safio <strong>de</strong>sesperado lançado<br />
contra o inferno que se tornaram os seus dias.<br />
No conflito em que a protagonista se angustia, há o <strong>de</strong>sejo do<br />
relacionamento afetivo, o gosto pelo “quarto, um livro, um passeio à noite...”<br />
54 Mais uma vez, essa circunstância e o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> superá-la também não é estranha aos leitores <strong>de</strong> Clarice<br />
Lispector. Penso, <strong>por</strong> exemplo, em Joana (Perto do coração selvagem), GH (A paixão segundo GH) ou<br />
Rodrigo S. M. (A hora <strong>da</strong> estrela).
(CARDOSO, s/d:34), pelos objetos nos quais há “alguma coisa humana, on<strong>de</strong><br />
possamos <strong>de</strong>ixar um pouco do nosso calor” (CARDOSO, s/d:32) e, a julgar<br />
pelas palavras <strong>da</strong> mulher <strong>de</strong> preto, o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> ter filhos e um casamento<br />
estável, mas o que se concebe como relacionamento tem um caráter restritivo<br />
(mais ain<strong>da</strong> para as mulheres <strong>da</strong> época). Por outro lado, há o <strong>de</strong>sejo <strong>da</strong><br />
liber<strong>da</strong><strong>de</strong>, <strong>de</strong> não se submeter a convenções, <strong>de</strong> não assumir o papel que a<br />
mãe <strong>de</strong>sempenhou, em suma, <strong>de</strong> não reprimir os <strong>de</strong>sejos 55 que seu duplo<br />
expressa.<br />
109<br />
A mulher <strong>de</strong> preto esten<strong>de</strong>-lhe uma cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> prata. Nesse momento,<br />
Renato sai <strong>de</strong> seu tor<strong>por</strong> e olha Gina, que conversa sozinha. A mulher<br />
convence-a, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> muitas recusas, a usar a cor<strong>da</strong> e, nesse momento, o<br />
marido interrompe a cena com uma exclamação sufoca<strong>da</strong>. A esposa, então,<br />
disfarça, fingindo naturali<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
O <strong>de</strong>sfecho <strong>de</strong>ixa claro que a busca <strong>de</strong> Gina terminou em frio e<br />
escuridão. Ela se acerca <strong>de</strong> Renato, contorna seu horror (“Você está louca,<br />
Gina, está realmente louca!” – CARDOSO, s/d:68) e, seduzindo-o, consegue<br />
que ele adormeça em seus joelhos e aproveita para enforcá-lo. A mulher <strong>de</strong><br />
preto reaparece e Gina constata:<br />
Sim, eu o matei.(PAUSA) E no entanto, eu o amava. Renato, tudo o<br />
que eu compreendia neste mundo, era (sic) os seus olhos que<br />
<strong>de</strong>cifravam para mim. Agora não sei... não entendo... como pu<strong>de</strong> ir<br />
tão longe... com esta cor<strong>da</strong>... eu, que o amava tanto! (CARDOSO,<br />
s/d:75)<br />
E a mulher lhe diz que isso é mentira, que ela nunca o amou.<br />
Prossegue dizendo-lhe que é uma assassina, que tem as mãos mancha<strong>da</strong>s <strong>de</strong><br />
sangue. Entram em cena dr. Victor e Júlia “que se colocam no palco <strong>de</strong> modo a<br />
formar um extremo com a luz ver<strong>de</strong>. No centro, entre as duas clari<strong>da</strong><strong>de</strong>s,<br />
permanece Gina.” (CARDOSO, s/d:75) O médico e a mulher chamarão <strong>por</strong><br />
Gina: o primeiro promete-lhe cui<strong>da</strong>r <strong>de</strong> sua saú<strong>de</strong>, a segun<strong>da</strong> afirma-lhe que<br />
não há outro lugar para ela a não ser a seu lado: “Você não ousará ir com ele,<br />
o mundo em que vive já não lhe pertence. Venha comigo, formaremos uma<br />
55 Os leitores <strong>de</strong> Clarice Lispector vão reconhecer <strong>de</strong>sejo semelhante em protagonistas como Ana (Amor)<br />
ou Laura (Imitação <strong>da</strong> Rosa) (LISPECTOR, 1991).
única e a mesma pessoa. Nunca seres humanos an<strong>da</strong>riam mais unidos...”<br />
(CARDOSO, s/d:77) Atordoa<strong>da</strong>, Gina caminha até o centro <strong>da</strong> luz artificial, o<br />
que marca sua ruptura <strong>de</strong>finitiva com a reali<strong>da</strong><strong>de</strong>. “A mulher <strong>de</strong> preto<br />
<strong>de</strong>saparece, enquanto a luz continua – e, nela, Gina sozinha” (CARDOSO,<br />
s/d:78), indica a rubrica. Júlia e dr. Victor contemplam a cena e o médico diz<br />
que ela está perdi<strong>da</strong> e ninguém ousaria <strong>de</strong>scer àquele inferno a não ser Deus<br />
“se tiver pena <strong>de</strong> tão gran<strong>de</strong> solidão” (CARDOSO, s/d:78).<br />
4.4- O Filho Pródigo<br />
4.4.1- A Crítica<br />
110<br />
As paisagens só servem para nos enlouquecer o<br />
pensamento. Se Deus limitou a nossa vista, foi para que<br />
olhássemos apenas a terra que <strong>de</strong>vemos cultivar...<br />
O Filho Pródigo<br />
Cerca <strong>de</strong> dois meses <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> apresentação <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata pelo<br />
“Teatro <strong>de</strong> Câmera”, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> veria um novo drama seu em cartaz, <strong>de</strong>ssa<br />
vez encenado pelo “Teatro Experimental do Negro” – aliás, o primeiro original<br />
brasileiro do repertório <strong>de</strong>ste grupo. Sob a direção <strong>de</strong> Abdias do Nascimento e<br />
cenários e figurinos <strong>de</strong> Santa Rosa, no dia 05 <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1947, vinha ao<br />
palco O Filho Pródigo. Compunham o elenco Abdias do Nascimento (Pai),<br />
Aguinaldo Camargo (Manassés), José Monteiro (Assur), Marina Gonçalves<br />
(Selene), Ruth <strong>de</strong> Souza (Aíla), Haroldo Costa (Peregrino), Roney <strong>da</strong> Silva<br />
(Moab) e Ana Maria (Peregrina) além <strong>de</strong> Raul Soares, Camilo Viana e Sinséio<br />
França (escravos). Clau<strong>de</strong> Vincent, em artigo encontrado na Fun<strong>da</strong>ção Casa<br />
<strong>de</strong> Rui Barbosa, informa que a peça teve uma reapresentação, tempos <strong>de</strong>pois,<br />
em homenagem ao Congresso Eucarístico, e critica essa segun<strong>da</strong><br />
apresentação <strong>por</strong> afastar-se <strong>de</strong>mais do original do autor.<br />
Depois <strong>da</strong> estréia, a Crítica, embora se mostre favorável ao esforço dos<br />
atores e ao “Teatro Experimental do Negro”, não contempla positivamente seu<br />
Autor. Roberto Brandão, <strong>por</strong> exemplo, <strong>de</strong>ixa registrado o que consi<strong>de</strong>ra seus<br />
pontos negativos:
111<br />
... primeiro, a frial<strong>da</strong><strong>de</strong> intelectual <strong>de</strong> sua criação mesma, que não é<br />
<strong>de</strong>sta, é <strong>de</strong> to<strong>da</strong>s as criações artísticas do sr. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. (...) São<br />
criaturas sem sangue as suas, antes criaturas <strong>de</strong> sangue frio, cuja<br />
existência nos chega à inteligência apenas, jamais <strong>de</strong>sce aos<br />
sentidos que afinal são as raízes. (BRANDÃO, 1966: 44)<br />
É um comentário inusitado, uma vez que as personagens cardosianas<br />
se marcam, justamente, pela <strong>de</strong>smedi<strong>da</strong>, pelo exagero que, às vezes,<br />
tangencia a caricatura, <strong>de</strong> sentimentos e conflitos internos. To<strong>da</strong>s vivem<br />
apaixona<strong>da</strong>mente seus dramas pessoais e o que lhes falta, muitas vezes, é<br />
justamente o equilíbrio racional para analisarem as situações em que se vêem<br />
envolvi<strong>da</strong>s.<br />
Como segundo ponto, Brandão aponta “as <strong>de</strong>ficiências verbais do autor”.<br />
Segundo o crítico, o tema exigia um tratamento lingüístico a<strong>de</strong>quado para estar<br />
à altura do que foi abor<strong>da</strong>do. Portanto, <strong>de</strong>saprovava<br />
O tratamento em “você” e respectivas variações pronominais, tão<br />
recomendável e necessário doutra natureza, in<strong>de</strong>sejáveis neste, cá<br />
abun<strong>da</strong>m neste “O Filho Pródigo”, on<strong>de</strong> tudo <strong>de</strong>veria ser “tu” e “vós”.<br />
O resultado é a quebra do tom. (BRANDÃO, 1966: 46)<br />
O terceiro ponto negativo seria o terceiro ato que, para ele, não está<br />
bem realizado. Termina sua análise recomen<strong>da</strong>ndo que <strong>Lúcio</strong> reescreva o<br />
texto. Quanto ao espetáculo em si, reclama <strong>da</strong> direção, elogia quatro atores<br />
(Aguinaldo Camargo, Ruth <strong>de</strong> Souza, Abdias do Nascimento e Haroldo Costa)<br />
e acha os <strong>de</strong>mais muito ruins.<br />
Contrapondo-se a Brandão, Gustavo Dória, na coluna intitula<strong>da</strong><br />
“Primeiras Teatrais”, no artigo “O Filho Pródigo, no Ginástico” 56 , consi<strong>de</strong>ra,<br />
como maior mérito do texto, o fato <strong>de</strong> ele ter apresentado um “inci<strong>de</strong>nte bíblico<br />
transposto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma interpretação e <strong>de</strong> uma linguagem fáceis, repleta <strong>de</strong><br />
simplici<strong>da</strong><strong>de</strong> e beleza”. Na sua opinião, não há <strong>de</strong>feitos no primeiro e segundo<br />
atos e os que ocorrem no terceiro não chegam a comprometer a peça. Elogia<br />
os cenários <strong>de</strong> Santa Rosa, embora observe que eles não <strong>de</strong>finem o ambiente<br />
e não situam como <strong>de</strong>viam o local. E faz, ain<strong>da</strong>, restrições à atuação dos<br />
atores e ao figurino.<br />
56 Artigo constante nos Arquivos do Autor, na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.
112<br />
Como se analisará adiante, não há um “local <strong>de</strong>finido” para ser situado.<br />
O texto não se pren<strong>de</strong> a problemas ou inquietações locais ou mesmo raciais,<br />
mas contempla, como percebeu Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado, citado mais abaixo, a<br />
condição existencial <strong>da</strong>s criaturas envolvi<strong>da</strong>s no drama.<br />
Rosário Fusco concor<strong>da</strong> em parte com Brandão. Para ele, “Filho Pródigo<br />
não é, positivamente, uma gran<strong>de</strong> obra. Falta-lhe, antes <strong>de</strong> tudo, a resistência<br />
verbal necessária, imprescindível, como veículo <strong>da</strong> tragédia que preten<strong>de</strong><br />
carregar” (FUSCO, 1966: 48). Fusco afirma que, no drama, “a base frágil, o<br />
arranco inicial psicológico é uma mentira” e também ressalta a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> do<br />
texto, ina<strong>de</strong>quado, segundo ele, para a representação teatral: “Eis <strong>por</strong> que ao<br />
T.E.N. pertence a glória <strong>de</strong>ssa representação. Seus intérpretes resistiram ao<br />
mau texto (mau, enquanto <strong>de</strong>stinado ao palco, excelente, em muitos trechos, à<br />
leitura repousa<strong>da</strong>)” (FUSCO, 1966: 51). E termina seu artigo <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo que a<br />
arte <strong>de</strong>ve “<strong>de</strong>ve aspirar <strong>de</strong>volver-nos o que já sabemos, o que já<br />
experimentamos, mas sob uma forma diversa do ‘já visto’ e do ‘já sentido’...”<br />
(FUSCO, 1966: 52).<br />
Certamente, não haveria na<strong>da</strong> mais distante dos projetos estéticos <strong>de</strong><br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> do que nos <strong>de</strong>volver o “já visto” e o “já sentido” sob nova forma.<br />
Sabe-se que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> A Luz no Subsolo, o Autor interessava-se justamente <strong>por</strong><br />
uma “segun<strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>” “cuja existência nos apercebemos sem, entretanto,<br />
po<strong>de</strong>r atingi-la” como se po<strong>de</strong> ler no terceiro capítulo <strong>de</strong>sta Tese. Mas a<br />
expectativa do crítico fala do repertório a que se acostumara a assistir nos<br />
palcos brasileiros e marca a diferença, que venho tentando assinalar, entre<br />
essas peças e os dramas que <strong>Lúcio</strong> levava à cena.<br />
Accioly Neto concor<strong>da</strong> com os colegas que não apreciaram a quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>dramática</strong> do texto: classificou o drama como “obra <strong>de</strong> poeta”, reafirmando que<br />
ele “não teve uma crítica inteiramente favorável” (ACCIOLY NETTO, 1966: 59).<br />
Já um crítico anônimo afirmou que a peça po<strong>de</strong>ria ser resumi<strong>da</strong> a dois<br />
atos pois tudo o que é dito no primeiro é repetido no segundo 57 . As<br />
personagens, segundo ele, são “iguais na maneira <strong>de</strong> pensar e <strong>de</strong> dizer,<br />
nivelando-os, ocasionando monotonia prejudicial à obra”. Elogia os cenários <strong>de</strong><br />
57 Artigo intitulado “O Filho Pródigo pelo ‘Teatro Experimental do Negro’, no Ginástico” e colhido no<br />
Arquivo do Autor na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.
Santa Rosa, mas critica a direção <strong>de</strong> Abdias Nascimento, afirmando que falta<br />
um diretor cênico no “Teatro Experimental do Negro”. Também faz restrições<br />
ao tema <strong>de</strong>senvolvido <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e termina fazendo uma ressalva à<br />
escolha e ao encaminhamento que a Companhia estaria <strong>da</strong>ndo ao seu<br />
repertório (que já incluíra peças <strong>de</strong> O’Neill e Shakespeare): “Cumpre aos seus<br />
dirigentes melhor escolher o repertório e não falar através <strong>de</strong> personagens,<br />
num país on<strong>de</strong>, graças a Deus, a não ser para meia dúzia <strong>de</strong> retar<strong>da</strong>dos<br />
mentais, não existem diferenças raciais”.<br />
113<br />
Embora o texto <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>, como se verá, não se concentre exatamente<br />
na questão do preconceito <strong>de</strong> raça, as opiniões do crítico quanto ao racismo no<br />
Brasil e à quali<strong>da</strong><strong>de</strong> do repertório escolhido pela Companhia <strong>de</strong>monstram, no<br />
mínimo, ignorância.<br />
A.C., em “O Filho Pródigo no Ginástico”, faz uma apreciação mais<br />
favorável do drama. Comenta que a peça não parece ajustar-se bem à uni<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> tempo, ação e espaço “<strong>da</strong>do o impulso íntimo <strong>da</strong>s personagens pelo<br />
<strong>de</strong>sconhecido, pelo abstrato”. Contrariando as restrições à linguagem feitas <strong>por</strong><br />
Brandão, para ele, a peça apresenta-se<br />
<strong>de</strong>spoja<strong>da</strong> <strong>de</strong> excessivas arranca<strong>da</strong>s líricas ou romanescas, com boa<br />
dose <strong>de</strong> ação <strong>dramática</strong>, dialogação penetrante, às vezes repleta <strong>de</strong><br />
sentimento poético, <strong>de</strong> exaltação mística ou <strong>de</strong> linguajar fora <strong>de</strong><br />
qualquer artifício como é natural entre seres humanos (...) tão justo<br />
equilíbrio na apresentação dos caracteres, regula<strong>da</strong> concentração no<br />
domínio <strong>da</strong> vonta<strong>de</strong> humana sobre a fatali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s paixões que não<br />
será exagero consi<strong>de</strong>rá-la uma tragédia mo<strong>de</strong>rna... 58<br />
Ou seja, sob seu ponto-<strong>de</strong>-vista, <strong>Lúcio</strong>, na tentativa <strong>de</strong> recriar uma<br />
tragédia, teria conseguido superar as <strong>de</strong>ficiências tantas vezes aponta<strong>da</strong>s em<br />
relação à “falta <strong>de</strong> ação” <strong>de</strong> suas peça ou à “ina<strong>de</strong>quação <strong>da</strong> linguagem”.<br />
Observe-se que ain<strong>da</strong> é a tentativa <strong>de</strong> “encaixar” a criação cardosiana <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> parâmetros tradicionais nos quais, certamente, ela não cabe. A restrição do<br />
crítico quanto à uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> tempo, ação e espaço, <strong>por</strong> exemplo, está em<br />
sintonia com essa perspectiva <strong>de</strong> que a peça seria uma tragédia, o que não foi<br />
a intenção do Autor (que a classificou como drama).<br />
58 Artigo obtido no Arquivo do Autor na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.
114<br />
Quanto à encenação, contudo, o crítico louva o esforço dos atores, mas<br />
assinala a falta que fez uma “direção segura”, afirmando que Abdias<br />
Nascimento não conseguiu <strong>de</strong>sincumbir-se bem <strong>da</strong> tarefa e as interpretações,<br />
em conseqüência, ficaram monótonas, pausa<strong>da</strong>s <strong>de</strong>mais, com gestos e<br />
atitu<strong>de</strong>s artificiais e tom <strong>de</strong>clamatório em cenas “ru<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> profundo sentido<br />
humano”.<br />
Contudo, o parecer mais <strong>de</strong>sfavorável a “O Filho Pródigo”, ao menos<br />
pelo conceito que o crítico adquiriu no cenário brasileiro, foi o <strong>de</strong> Décio <strong>de</strong><br />
Almei<strong>da</strong> Prado, que já começa assim:<br />
“O Filho Pródigo”, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, é bem um sinal dos tempos.<br />
Como po<strong>de</strong> um homem inteligente, sensível, escrever uma peça que<br />
é um monumento <strong>de</strong> literatice, em que não há um sentimento, uma<br />
idéia que não venha revesti<strong>da</strong> <strong>de</strong> uma crosta espessa e impenetrável<br />
<strong>de</strong> <strong>literatura</strong>?” (PRADO, s/d: 123)<br />
Prado analisa, numa perspectiva critica, o problema <strong>de</strong> se “aproveitar<br />
literariamente” a figura dos negros na <strong>literatura</strong> já que “em sua maioria são<br />
ain<strong>da</strong> uns pobres coitados, sem dinheiro, sem saú<strong>de</strong>, sem cultura, sem arte,<br />
sem na<strong>da</strong>”. E aponta a saí<strong>da</strong> encontra<strong>da</strong> pelos artistas:<br />
... na<strong>da</strong> mais simples: basta <strong>da</strong>r proposita<strong>da</strong> e <strong>de</strong>s<strong>de</strong>nhosamente as<br />
costas a to<strong>da</strong> e qualquer reali<strong>da</strong><strong>de</strong> humana e psicológica. Por essa<br />
regra simples <strong>de</strong> fazer <strong>literatura</strong>, to<strong>da</strong> peça negra <strong>de</strong>ve ser <strong>de</strong><br />
preferência poética e, se possível, bíblica. Não há mais operários<br />
nem colonos entre os negros do nosso palco: apenas Édipos ou Reis<br />
Lears em perspectiva. Nenhum problema econômico ou social os<br />
aflige: unicamente a angústia <strong>de</strong> ser ou a perplexi<strong>da</strong><strong>de</strong> filosófica<br />
perante a fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> condição humana. (PRADO, s/d: 124)<br />
A crítica <strong>de</strong> Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong> Prado é acura<strong>da</strong>, mas, como já foi visto, o<br />
Autor mineiro <strong>de</strong>sligara-se, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> seu terceiro romance, <strong>de</strong> qualquer<br />
compromisso com a observação direta <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> empírica e não seria<br />
diferente neste drama. Como já afirmei e o próprio crítico percebeu, <strong>Lúcio</strong> se<br />
volta para a condição existencial humana sem qualquer preocupação <strong>de</strong> situar<br />
os dramas e seus personagens em contextos históricos ou sociais precisos.<br />
Po<strong>de</strong>-se até consi<strong>de</strong>rar que essa foi uma má escolha estética, mas é preciso<br />
perceber que era <strong>por</strong> esse caminho que se pautava o Autor.
115<br />
O crítico segue argumentando que o enredo se apóia em situações<br />
incoerentes, critica seus clichês e ain<strong>da</strong> assinala a inconveniência <strong>da</strong> presença<br />
<strong>de</strong> uma cabra<br />
... que alguém teve a má idéia <strong>de</strong> colocar em cena, esquecendo-se<br />
<strong>de</strong> que uma cabra, mesmo numa peça poética e embora possua um<br />
lindo nome bíblico – Sara – é sempre uma cabra. Isto é, um ser que,<br />
não conhecendo teorias estéticas, na<strong>da</strong> sabendo sobre <strong>literatura</strong>,<br />
ignorando tudo a respeito <strong>da</strong> estilização poética, não po<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong><br />
introduzir na representação, sem o querer, enquanto vai encarando<br />
placi<strong>da</strong>mente os espectadores ou tentando abocanhar algum pe<strong>da</strong>ço<br />
do cenário mais ao seu alcance, uma nota inespera<strong>da</strong> <strong>de</strong> malícia<br />
animal, uma presença viva, carnal. Quem é que se vai preocupar<br />
com um peregrino bíblico quando po<strong>de</strong> observar uma coisa<br />
<strong>de</strong>liciosamente simples, espontânea, natural – uma cabra? (PRADO,<br />
s/d: 125)<br />
Apesar disso, afirma que “a segun<strong>da</strong> apresentação do ‘Teatro<br />
Experimental do Negro’, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo menos do encenador, esteve em nível<br />
bem superior ao <strong>da</strong> primeira” e elogia também os cenários <strong>de</strong> Anísio<br />
Me<strong>de</strong>iros. 59<br />
O Filho Pródigo, tomado como texto literário e não mais como peça<br />
teatral, foi objeto também <strong>da</strong> reflexão <strong>de</strong> Daniela Borja Bessa, que aproximou o<br />
drama do romance Dias perdidos e do Diário Completo do escritor para,<br />
seguindo o viés psicanalítico, investigar a “presença paterna” nas três obras<br />
cardosianas. Seu estudo não se pren<strong>de</strong>, entretanto, às especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
literárias <strong>de</strong>ssas obras, interessando-se somente pela figuração <strong>da</strong> imagem<br />
paterna nos textos selecionados.<br />
4.4.2- O texto dramático<br />
Este drama retoma, com algumas intervenções paródicas, a parábola<br />
bíblica narra<strong>da</strong> no Evangelho <strong>de</strong> Lucas (cap.15, v.11-32). No primeiro ato,<br />
conversam Manassés e o Pai sobre o mar e as viagens. O filho pergunta se<br />
59 Essa segun<strong>da</strong> apresentação, provavelmente a mesma a que se referiu <strong>de</strong>saprovadoramente Clau<strong>de</strong><br />
Vincent, teve no elenco Abdias Nascimento, Apareci<strong>da</strong> Rodrigues, José Ezio, Ana Felimonoff e<br />
Claudiano Filho e Lea Garcia, <strong>de</strong> acordo com as informações <strong>de</strong> Prado (s/d:125)
“são bonitos os lados do mar” <strong>por</strong>que ele pensa “que [não] exista na<strong>da</strong> mais<br />
belo do que a terra, que a nossa terra” (NASCIMENTO, 1961:32) 60 . Ele imagina<br />
que o mar seja azul, mas o Pai afirma-lhe que é ver<strong>de</strong>, que, quando jovem,<br />
caminhou três dias para vê-lo e que valeu a pena. E que não há necessi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> contar o que viu <strong>por</strong>que “Basta fechar um pouco os olhos e escutar: tudo o<br />
que existe no mar está na voz do vento” (NASCIMENTO, 1961:32).<br />
116<br />
Ouvindo as palavras do Pai, Manassés questiona se, a <strong>de</strong>speito do bem<br />
que quer às terras <strong>da</strong> família, não seria melhor abandoná-las e partir. Surpreso<br />
com a pergunta do filho e contrariando o que dissera há poucos momentos, o<br />
Pai <strong>de</strong>clara que teria sido melhor nunca ter viajado:<br />
(...) As paisagens só servem para nos enlouquecer o pensamento.<br />
Se Deus limitou a nossa vista, foi para que olhássemos apenas a<br />
terra que <strong>de</strong>vemos cultivar – a mesma que nos dá alimento e no seio<br />
<strong>da</strong> qual <strong>de</strong>scansaremos. (NASCIMENTO, 1961: 33)<br />
E acrescenta que os filhos não <strong>de</strong>veriam se queixar <strong>por</strong>que tudo é igual<br />
“e esta é a primeira lei <strong>da</strong> sabedoria” (NASCIMENTO, 1961:33). Além do mais,<br />
eles tinham uma casa à beira <strong>da</strong> estra<strong>da</strong> <strong>por</strong> on<strong>de</strong> passavam os peregrinos,<br />
uma varan<strong>da</strong> sobre os campos <strong>de</strong> on<strong>de</strong> se avistavam as montanhas e podiam<br />
cumprimentar todos os que passavam. Quando Manassés explica que é<br />
justamente o rumor <strong>da</strong>s sandálias, as sau<strong>da</strong>ções que provocam a curiosi<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
o Pai respon<strong>de</strong>-lhe, enérgico que “a lei é não abandonar a casa!”<br />
(NASCIMENTO, 1961:33). Ajoelhando-se, o filho respon<strong>de</strong> que suas mãos<br />
apenas sabem trabalhar ali e que seus olhos não vêem mais que o limite <strong>de</strong><br />
suas terras.<br />
Nesse momento, chega o filho pródigo, Assur, chamado pelo Pai <strong>de</strong><br />
“fiel”. Apesar disso, ele é o filho que mais rejeita o impositivo <strong>de</strong> não <strong>de</strong>ixar a<br />
casa. A terra, que já fora para Manassés quente e úmi<strong>da</strong> como carne <strong>de</strong><br />
recém-nascido e, <strong>de</strong>pois, dura a ponto <strong>de</strong> ferir as mãos, para ele é “terra seca e<br />
traiçoeira, envenenando lentamente o nosso sangue” (NASCIMENTO,<br />
1961:34), a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que ele o<strong>de</strong>ia. Assur contrasta em tudo com o irmão mais<br />
60 To<strong>da</strong>s as citações <strong>de</strong>ssa peça foram feitas <strong>de</strong>ssa edição, apenas atualizando a ortografia.
velho e seu maior anseio é partir e <strong>de</strong>scobrir se “lá fora os outros são assim <strong>da</strong><br />
mesma cor” que ele (NASCIMENTO, 1961:35). O pai aconselha:<br />
117<br />
Dia virá em que você po<strong>de</strong>rá partir. Mas até lá, até que a barba lhe<br />
cresça e a experiência lhe endureça o coração, fuja <strong>de</strong>sses<br />
pensamentos, pois é através <strong>de</strong>le que o diabo se insinua em nossa<br />
alma. (NASCIMENTO, 1961: 35)<br />
Na seqüência, saem Manassés e o Pai e entra Selene, a irmã mais<br />
nova. Na conversa entre ela e Assur, aprofun<strong>da</strong>-se o <strong>de</strong>scontentamento do<br />
jovem, que revela não conseguir encontrar um sentido para sua vi<strong>da</strong> já que não<br />
gosta <strong>de</strong> arar a terra como o irmão mais velho nem <strong>de</strong> cui<strong>da</strong>r dos rebanhos<br />
como Moab, o mais novo. Nas alternativas <strong>de</strong> futuro que se <strong>de</strong>sdobram para<br />
ele, não encontra a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> que i<strong>de</strong>aliza.<br />
Nesse ponto do <strong>de</strong>sabafo, entra Aíla, esposa <strong>de</strong> Manassés, e a<br />
conversa volta a girar sobre os peregrinos que passam na estra<strong>da</strong>. No diálogo<br />
que se segue entre os cunhados, revela-se o outro ponto <strong>de</strong> tensão do drama:<br />
ASSUR: Mas você, Aíla, quantas vezes <strong>por</strong> dia fita poeira no fundo<br />
do horizonte?<br />
AÍLA: (sur<strong>da</strong>mente, junto <strong>de</strong>la Assur) E você, <strong>por</strong> que me espia?<br />
On<strong>de</strong> vou, sinto sua sombra atrás <strong>de</strong> mim.<br />
ASSUR: Nem sei <strong>por</strong>que a sigo, talvez seja <strong>por</strong>que estejamos<br />
sempre olhando a mesma paisagem.<br />
A proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> entre os cunhados seguirá tensa nas comparações que<br />
Assur tece entre ele e o irmão, a cunha<strong>da</strong> e a terra, to<strong>da</strong>s <strong>de</strong>preciativas:<br />
ASSUR: (veemente, <strong>da</strong>ndo-lhe as costas) Você bem sabe, Aíla, você<br />
bem sabe! Ele é ain<strong>da</strong> mais escuro que eu, parece uma raiz <strong>da</strong> terra.<br />
AÍLA: Mas seu corpo é quente e é bom estar junto <strong>de</strong>le.<br />
ASSUR: Porque você também é ru<strong>de</strong>. Ambos sugam a vi<strong>da</strong> <strong>de</strong>sta<br />
terra morna e avara. (NASCIMENTO, 1961:38)<br />
Nesse momento, chega um peregrino que, como <strong>de</strong> costume, é bem-<br />
vindo à casa. Enquanto Aíla vai recebê-lo, Selene repreen<strong>de</strong> o irmão <strong>por</strong> tê-la<br />
chamado <strong>de</strong> grosseira e diz que as roupas <strong>da</strong> cunha<strong>da</strong> são melhores que as<br />
que ela mesma usa e seus cabelos, perfumados. Num <strong>de</strong>sdém <strong>de</strong> ciúme, ele<br />
diz: “Que adianta ela perfumar os cabelos? À noite <strong>de</strong>ita-se com um homem<br />
que cheira a estrume” (NASCIMENTO, 1961: 38).
118<br />
Mais do que o <strong>de</strong>sejo <strong>da</strong> viagem, a maior angústia <strong>de</strong> Assur resi<strong>de</strong> em<br />
alcançar uma i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong>, um sentido que percebe na vi<strong>da</strong> dos irmãos e que<br />
não enxerga em si mesmo. Não tem vocação para o arado, não se casou, não<br />
cui<strong>da</strong> do rebanho, não tem o dom <strong>da</strong> música. É, como tantos personagens<br />
cardosianos, um ser “<strong>de</strong>slocado”, um “gauche” que, à margem, luta <strong>por</strong> um<br />
espaço no mundo ao qual não consegue se integrar. Sem saber qual papel<br />
<strong>de</strong>sempenhar, <strong>de</strong>spreza os familiares e a casa, mas parece <strong>de</strong>sejar, mais do<br />
que a cunha<strong>da</strong>, as realizações do irmão. No seu sentimento, cresce a inveja<br />
agressiva que se expressa sob a forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>sdém e <strong>de</strong> <strong>de</strong>sejo interdito.<br />
Na conversa entre o peregrino, Aíla, Selene e Assur, o recém-chegado<br />
revela que “Este mundo a fora (sic) é muito maior do que se pensa.”<br />
(NASCIMENTO, 1961: 39) e essa <strong>de</strong>claração entristece o jovem, que <strong>de</strong>ixa a<br />
cena a pretexto <strong>de</strong> buscar o Pai para conversar com o peregrino.<br />
Como Selene também <strong>de</strong>ixa o palco, Aíla fica sozinha com o novo<br />
hóspe<strong>de</strong> e aproveita para perguntar-lhe se “É ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que os outros são<br />
assim... escuros como nós... que sua pele lisa e negra não reflete senão o<br />
brilho <strong>da</strong> água...” (NASCIMENTO, 1961: 40). Nesse momento, essa voz<br />
feminina trará à tona sua insatisfação, também tão comum entre outras<br />
personagens <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Aíla, que nasceu e foi cria<strong>da</strong> naquele vale<br />
“com parentes e amigos <strong>da</strong> mesma cor” e que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> menina estava <strong>de</strong>stina<strong>da</strong><br />
a casar-se com Manassés, afirma que, se todos fossem iguais a ela, talvez<br />
então ela não se sentisse “uma coisa grosseira, uma raiz <strong>da</strong> terra, escura e<br />
bruta”. A personagem revelará sua angústia em relação à vi<strong>da</strong> e ao casamento.<br />
Segundo ela, “Deus não se im<strong>por</strong>ta com a gente que cresce no vale. Nunca se<br />
manifestou <strong>por</strong> estes lados nenhum sinal <strong>da</strong> sua graça!” (NASCIMENTO,<br />
1961:40) e que Ele <strong>de</strong>ve <strong>de</strong>dicar Seus cui<strong>da</strong>dos a criaturas mais belas e<br />
felizes, “seres brancos e <strong>de</strong>licados”.<br />
Para aquietar seu coração, o peregrino lhe assegura que todos no<br />
mundo são como ela, que to<strong>da</strong>s as peles não refletem “outra coisa senão o<br />
brilho rápido <strong>da</strong> água” (NASCIMENTO, 1961:41). Aquieta<strong>da</strong> sua angústia, ela<br />
afirma que aquela noite po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>itar-se ao lado do marido sem ocultar-lhe<br />
nenhum <strong>de</strong>sejo ou sonho no coração:
119<br />
AÍLA: (<strong>de</strong> olhos cerrados, <strong>de</strong>vagar) Quando passava a mão pelo seu<br />
rosto, dizia comigo mesma: pele bruta, pele mais dura do que a terra<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong>nha<strong>da</strong> pela chuva... E no meu coração nascia o <strong>de</strong>sespero, e<br />
eu sonhava com homens brancos e <strong>de</strong>licados, que trouxessem no<br />
pensamento outra idéia que não a <strong>de</strong> arar o campo e aproveitar o<br />
tempo para as sementeiras. (NASCIMENTO, 1961: 41)<br />
Ela acrescenta que quem soprou esses <strong>de</strong>sejos em seu coração foi<br />
Assur ao lhe dizer, um dia, que “escutasse, pois era assim que o vento soprava<br />
do mar” e que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então, quando o vê, seu coração bate mais forte <strong>por</strong>que<br />
ela imagina: “que o vento nasce sobre as claras paisagens do oceano, em<br />
mares e praias cobertas <strong>de</strong> flores amarelas” (NASCIMENTO, 1961: 41-42)<br />
O <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> Aíla é, pois, o <strong>de</strong> conhecer outro <strong>de</strong>stino, outra vi<strong>da</strong> que não<br />
a que lhe reservaram <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a infância (<strong>por</strong>tanto, à revelia <strong>da</strong> sua vonta<strong>de</strong>). Seu<br />
“amor” pelo cunhado repousa mais na angústia que os aproxima que no <strong>de</strong>sejo<br />
físico: ela também não consegue aceitar o papel que lhe foi reservado, não <strong>por</strong><br />
<strong>de</strong>sconhecê-lo (como Assur), mas <strong>por</strong>que ele lhe foi pré-<strong>de</strong>terminado e ela se<br />
viu priva<strong>da</strong> <strong>de</strong> qualquer outra escolha. Se, <strong>por</strong> outro lado, todos fossem como<br />
ela, ou seja, se to<strong>da</strong>s as vi<strong>da</strong>s fossem iguais, então não haveria angústia<br />
<strong>por</strong>que não existiria outra forma <strong>de</strong> realização <strong>por</strong> que ansiar. Mas ela se<br />
atormenta ao imaginar que a vi<strong>da</strong> po<strong>de</strong>ria ser diferente e que essa diferença<br />
pu<strong>de</strong>sse significar maior felici<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
como po<strong>de</strong>m ser negros como eu os que nascem em terras tão<br />
felizes? Como po<strong>de</strong>m ser ásperos, duros, torcidos como a raiz do<br />
espinheiro que cresce nestas terras? (NASCIMENTO, 1961: 42)<br />
Observe-se que a cor negra, para Aíla, não está relaciona<strong>da</strong> à raça, está<br />
vincula<strong>da</strong> à infelici<strong>da</strong><strong>de</strong> que ela sente. Seu auto-retrato (áspera, dura, torci<strong>da</strong><br />
como a raiz do espinheiro) é <strong>de</strong>preciativo não <strong>por</strong> ter ascendência africana,<br />
mas <strong>por</strong> sua condição existencial vincula<strong>da</strong> àquela terra (como uma raiz). Em<br />
oposição a ela, estão as “criaturas mais belas, mais felizes”, “seres brancos e<br />
<strong>de</strong>licados [<strong>de</strong>] que Deus cui<strong>da</strong>” (NASCIMENTO, 1961:41) e cuja diferença <strong>de</strong><br />
cor apenas acentua a oposição à sua vi<strong>da</strong>. Quando ela lamenta: “E que<br />
po<strong>de</strong>remos produzir nós, tristes seres escuros, cheios <strong>de</strong> amor pela rosa<br />
branca?” confirma seu anseio <strong>de</strong> alcançar um horizonte maior do que aquele
em que vive, <strong>de</strong> superar a insatisfação que lhe trazem o cotidiano e os sonhos<br />
irrealizados.<br />
120<br />
Tal como Manassés ouvira do Pai que a lei era não abandonar a casa,<br />
ela escuta do peregrino que esse é o <strong>de</strong>stino que Deus lhe <strong>de</strong>u e que <strong>de</strong>ve<br />
acreditar n’Ele e louvá-lO sobre to<strong>da</strong>s as coisas. É o mesmo estímulo à<br />
aceitação que tanto irrita Assur e que muito a angustia, agora reforçado pela<br />
evocação à autori<strong>da</strong><strong>de</strong> divina. Essa será uma característica <strong>de</strong>ste drama: as<br />
referências religiosas serão trazi<strong>da</strong>s à cena com a função <strong>de</strong> ratificar o status<br />
quo e <strong>de</strong> sufocar as rebeldias.<br />
No segundo ato, jantam os familiares e comenta-se a ausência <strong>de</strong> Moab,<br />
que não aparece há três dias. O Pai, no entanto, não se preocupa <strong>por</strong>que não<br />
acredita que o filho mais novo (diferente <strong>da</strong> parábola, que só menciona dois,<br />
essa família se compõe <strong>de</strong> três filhos e uma filha) ultrapasse os limites <strong>de</strong> suas<br />
terras. Assur se irrita e questiona se ninguém teria coragem <strong>de</strong> ultrapassá-los:<br />
Filho nascido <strong>da</strong> minha carne, não. Por isso lhes <strong>de</strong>i nomes, e<br />
chamei a um fiel, a outro humil<strong>de</strong> e ao mais velho, forte. Como iriam<br />
trazer algum <strong>de</strong>sengano à minha triste i<strong>da</strong><strong>de</strong>? (NASCIMENTO, 1961:<br />
43)<br />
Diante <strong>da</strong> autori<strong>da</strong><strong>de</strong> (e <strong>da</strong> chantagem) paterna, Assur, <strong>de</strong>sanimado, ain<strong>da</strong> diz<br />
que “dia virá em que será preciso que um <strong>de</strong> nós faça alguma coisa...”. O Pai<br />
lhe respon<strong>de</strong> que, quando esse dia chegar, que voltem sempre “pois aqui é<br />
como a se<strong>de</strong>, o ponto on<strong>de</strong> a mão <strong>de</strong> Deus nos cravou como raízes.”<br />
(NASCIMENTO, 1961: 43). E acrescenta que, caso um dos filhos se per<strong>de</strong>sse,<br />
ele o esperaria dia e noite na varan<strong>da</strong> son<strong>da</strong>ndo ca<strong>da</strong> viajante que passasse.<br />
Manassés, irritado com Assur, pergunta ao Pai <strong>por</strong>que não permite que<br />
o irmão parta. Afinal “Ele não trabalha, e <strong>por</strong>tanto não ficaríamos menos pobres<br />
com a sua ausência” (NASCIMENTO, 1961: 44). A irritação <strong>de</strong>le com o irmão<br />
não tar<strong>da</strong> a revelar sua causa: Manassés, enciumado, atribui a Assur a<br />
responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> pelas mu<strong>da</strong>nças que percebe no coração <strong>da</strong> esposa.<br />
O Pai intervém na discussão proibindo Assur <strong>de</strong> prosseguir no assunto e<br />
Moab chega. Ele conta que viajou até os limites <strong>da</strong>s terras <strong>da</strong> família levado<br />
<strong>por</strong> um nobre rico em troca <strong>da</strong> música que tocava. O homem, que apreciou sua<br />
arte, <strong>de</strong>u-lhe um anel <strong>de</strong> safira e ofereceu-lhe emprego em sua casa “junto a
uma janela que <strong>de</strong>ita para o mar” (NASCIMENTO, 1961:47). Mas ele o recusou<br />
alegando que era muito jovem e que o Pai o esperava. Em casa, revela aos<br />
familiares que um dia <strong>de</strong>sejará partir. Ao pedido <strong>da</strong> irmã para que toque, ele, o<br />
filho chamado “humil<strong>de</strong>” pelo Pai, respon<strong>de</strong>:<br />
121<br />
Não tocarei, não tocarei nunca mais.<br />
(...)<br />
(mu<strong>da</strong>ndo <strong>de</strong> tom, como num sonho) Só o farei junto a uma janela<br />
sobre o mar. (NASCIMENTO, 1961: 48)<br />
Nesse momento, chega uma Peregrina que pe<strong>de</strong> água <strong>por</strong>que sente<br />
“sempre uma se<strong>de</strong> que me <strong>de</strong>vora” (NASCIMENTO, 1961:49). Como também<br />
tem muita fome, são-lhe oferecidos mel e frutas, mas ela prefere “carne tenra e<br />
cheirosa, com um pouco <strong>de</strong> sangue fumegante e ácido”. No diálogo que se<br />
inicia, afirma viajar sempre, sem cessar: “Nunca posso parar, alguém sempre<br />
me chama on<strong>de</strong> não estou” (NASCIMENTO, 1961:49). Diz que já viajou muito,<br />
que já conhece muitas coisas, mas que gosta <strong>por</strong>que sempre há algo diferente<br />
para se ver. Bem mais à frente, quase no final do ato, ela revelará que “foi a<br />
discórdia” quem a chamou àquela casa (NASCIMENTO, 1961:56).<br />
Suas <strong>de</strong>clarações prosseguem revelando que a mulher tem um<br />
com<strong>por</strong>tamento bastante livre. Segundo sua própria <strong>de</strong>scrição, ela é “Uma<br />
mulher que vai <strong>de</strong> lugar a lugar, <strong>de</strong> feira em feira. Quando há música, paro. E<br />
enquanto as pessoas pagam, <strong>da</strong>nço <strong>de</strong> olhos fechados” (NASCIMENTO,<br />
1961:54).<br />
O Pai questiona o valor <strong>de</strong> suas caminha<strong>da</strong>s, se não são, ao final,<br />
“senão uma aventura amarga e fugidia”. Ela, recusando a censura moral que<br />
ele insinua, retruca que encontra nas viagens “o sal que procuro para os meus<br />
lábios: esse amargo não me faz mal” (NASCIMENTO, 1961:50).<br />
Embora escan<strong>da</strong>lizado, a curiosi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Pai é maior e ele lhe pe<strong>de</strong> que<br />
tire os véus que protegem seu rosto. Ela ce<strong>de</strong> e todos vêem uma mulher<br />
branca. A explicação para a sua cor não está liga<strong>da</strong> à raça: segundo ela<br />
mesma, sua pele é clara “<strong>por</strong>que à noite viajo e só a lua me banha”<br />
(NASCIMENTO, 1961:51). O branco é mero fator <strong>de</strong> oposição: sua vi<strong>da</strong><br />
contrasta com a dos corpos servis que trabalham <strong>de</strong> dia, sob o sol, e nunca<br />
<strong>de</strong>ixam os limites <strong>da</strong>s terras obe<strong>de</strong>cendo à lei do imposta pelo Pai ou <strong>por</strong> Deus.
Na visão conservadora do patriarca, ela não passa <strong>de</strong> “uma simples<br />
vagabun<strong>da</strong>, uma mulher que <strong>da</strong>nça nos caminhos” (NASCIMENTO, 1961:56).<br />
122<br />
A Peregrina será, pois, a personagem que contrastará com a família: é<br />
um corpo livre, “branca” e sem cerceamentos morais que inibam seus <strong>de</strong>sejos.<br />
Ela revelará à família, principalmente a Assur e a Aíla, as diferenças entre a<br />
existência que levam nas terras do Pai e a que é possível viver nas estra<strong>da</strong>s.<br />
Percebendo os <strong>de</strong>sejos que ela reacen<strong>de</strong> nos jovens, o Pai a enfrenta,<br />
violento: “Porque (sic) <strong>de</strong> repente todos se acham apossados pelo mesmo<br />
<strong>de</strong>sejo insensato?” (NASCIMENTO, 1961: 51). Mas, diante <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que se<br />
coloca aos olhos dos familiares, a autori<strong>da</strong><strong>de</strong> paterna fica abala<strong>da</strong> e resta ao<br />
velho <strong>de</strong>ixar a cena convocando todos para irem recolher os instrumentos <strong>de</strong><br />
trabalho <strong>de</strong>ixados no campo.<br />
Ficam em cena apenas Assur e a Peregrina. Na conversa que se segue<br />
entre eles, ela o estimula a partir enquanto seu <strong>de</strong>sejo é forte, enquanto “a<br />
se<strong>de</strong> dura” <strong>por</strong>que <strong>de</strong>pois tudo parecerá “pálido e sem sentido”<br />
(NASCIMENTO, 1961:53). Empenha<strong>da</strong> em seduzi-lo, mostra-se ao jovem e diz<br />
a rubrica:<br />
A Peregrina <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> a túnica negra que a envolve, enquanto<br />
Assur <strong>de</strong>ixa escapar um “oh” abafado: <strong>por</strong> trás do manto, sua túnica<br />
é doura<strong>da</strong> e fulgura ao luar. Numa <strong>da</strong>s pernas, ela traz enrola<strong>da</strong> uma<br />
serpente <strong>de</strong> ouro. Lá fora, ouve-se a flauta <strong>de</strong> Moab num ligeiro ritmo<br />
<strong>de</strong> <strong>da</strong>nça. (NASCIMENTO, 1961:53)<br />
Os familiares a surpreen<strong>de</strong>m <strong>da</strong>nçando para Assur. O Pai indigna-se:<br />
“Que espécie <strong>de</strong> mulher é esta? De on<strong>de</strong> vem? para on<strong>de</strong> vai?” e ela respon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo a liber<strong>da</strong><strong>de</strong> que Gina (A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata) i<strong>de</strong>alizara: “Que im<strong>por</strong>ta?<br />
Minha vi<strong>da</strong> é um bem que me pertence” (NASCIMENTO, 1961:55). Vendo que<br />
a <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> Assur fora toma<strong>da</strong>, o Pai lhe diz:<br />
Então, parta, meu filho. Quando voltar, a <strong>por</strong>ta ain<strong>da</strong> estará aberta.<br />
Man<strong>da</strong>rei então matar o novilho mais gordo e haverá regozijo nesta<br />
casa pela volta do filho pródigo. (NASCIMENTO, 1961: 56)<br />
Diferente <strong>da</strong> parábola bíblica, o filho não exige que o Pai divi<strong>da</strong> a<br />
fazen<strong>da</strong> para que possa seguir amparado financeiramente pela herança e parte
apenas em companhia <strong>da</strong> mulher. A saí<strong>da</strong> <strong>de</strong>le <strong>de</strong>sespera Aíla, que foge do<br />
marido:<br />
123<br />
Que farei agora, como su<strong>por</strong>tarei esta solidão? Acabou-se tudo, ele<br />
era a única razão <strong>da</strong> minha vi<strong>da</strong>. É ele a quem amo, e não este<br />
homem que durante a noite me aperta nos braços. E tudo isto <strong>por</strong>que<br />
mentiram-me (sic), enganaram-me <strong>da</strong> pior forma possível, pois não<br />
há neste mundo somente espinheiros bravos, nem to<strong>da</strong> terra é dura<br />
e negra. Há seres brancos, e há paisagens que a gente olha sem<br />
<strong>de</strong>sespero... Mas eu morro <strong>da</strong> mentira que me fizeram, morro <strong>de</strong><br />
sentir meu coração partido agora <strong>por</strong> um ódio sem fim e sem limites.<br />
Detesto o meu marido, <strong>de</strong>testo os que me cercam, <strong>de</strong>testo a Deus<br />
que me fez queima<strong>da</strong> <strong>por</strong> este sol <strong>de</strong> maldição! (NASCIMENTO,<br />
1961:57)<br />
Como já foi analisado, ela sofre menos <strong>por</strong> amor a Assur do que <strong>por</strong> ver-<br />
se encerra<strong>da</strong> numa vi<strong>da</strong> que a infelicita. Seu repúdio ao marido lembra o <strong>de</strong><br />
Gina (A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata) ou <strong>de</strong> I<strong>da</strong> (Mãos vazias) e essas mulheres o<strong>de</strong>iam<br />
mais as vi<strong>da</strong>s que levam do que ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iramente têm consciência do valor (ou<br />
<strong>da</strong> ausência <strong>de</strong> valor) do homem ao seu lado.<br />
No ato final, todos estão em cena, exceto Assur e Moab. Aguar<strong>da</strong>m o<br />
primeiro que, numa reversão paródica <strong>da</strong> parábola bíblica, chega “ricamente<br />
vestido, e com um manto <strong>de</strong> veludo bor<strong>da</strong>do a ouro sobre os ombros. Seguem-<br />
no três escravos negros, vestidos com tangas ver<strong>de</strong>s. Ca<strong>da</strong> um <strong>de</strong>les traz uma<br />
canastra na cabeça...” (NASCIMENTO, 1961: 59). Como assinala Bessa,<br />
“Assur não volta como filho, mas como estrangeiro (...) e, ao invés <strong>de</strong><br />
humilhado, volta orgulhoso (...)” (BRANDÃO: 1998:73). Ele traz presentes para<br />
os familiares e todos admiram-lhe a riqueza, exceto Manassés que acaba <strong>por</strong><br />
suplicar ao Pai não permitir que o humilhem <strong>da</strong>quela forma.<br />
Sem compreen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> imediato o alcance <strong>da</strong>s palavras do primogênito, o<br />
Pai retruca que é dia <strong>de</strong> festa <strong>por</strong> que o irmão “estava fora, estava como morto<br />
e reviveu para nós” (NASCIMENTO, 1961:61). Mas, como na história bíblica,<br />
Manassés sente-se diminuído. Frente ao irmão, veste-se mal e, na própria<br />
<strong>de</strong>scrição, é “sujo como a escória <strong>da</strong> terra”, “pior do que os escravos <strong>de</strong> Assur”.<br />
Reclama <strong>por</strong>que “Sempre arei dia e noite e <strong>de</strong>rramei meu suor nos sulcos<br />
duros e sem vi<strong>da</strong>” (NASCIMENTO, 1961:61) e, mesmo tendo produzido frutos<br />
para todos, nunca o festejaram como faziam agora com o recém-chegado.
124<br />
Como assinala Bessa, contemplando a alegria e a generosi<strong>da</strong><strong>de</strong> com<br />
que o Pai recebe o filho pródigo, Manassés percebe-se como um trabalhador e<br />
não como um filho, com os direitos <strong>de</strong> um her<strong>de</strong>iro (BRANDÃO, 1998:71). A<br />
volta <strong>de</strong> Assur põe em xeque o valor <strong>de</strong> sua obediência fiel <strong>de</strong> tantos anos:<br />
Ele fugiu <strong>de</strong> casa, Pai, divertiu-se e bebeu em to<strong>da</strong>s as tavernas,<br />
per<strong>de</strong>u tempo e <strong>de</strong>itou-se com to<strong>da</strong>s as mulheres – no entanto, é<br />
com ele que está o seu coração. (...)<br />
Mas a mim me <strong>de</strong>s<strong>de</strong>nham <strong>por</strong>que sou simples e guardo os<br />
man<strong>da</strong>mentos. (NASCIMENTO, 1961:62)<br />
Tentando <strong>de</strong>sfazer o mal-estar, Selene distribui vinho entre os presentes<br />
e Aíla bebe em homenagem a Assur e “para que (...) possa <strong>da</strong>nçar como a<br />
Peregrina” (NASCIMENTO, 1961:63). Em segui<strong>da</strong>, saem o Pai com os<br />
escravos e <strong>de</strong>pois Manassés, ficando em cena Assur, Aíla, Selene e Moab.<br />
Conversam sobre a viagem empreendi<strong>da</strong> e a irmã revela que partirá com Moab<br />
naquela noite, que o estrangeiro virá buscá-los e que o Pai <strong>de</strong> na<strong>da</strong> sabe. O<br />
irmão aconselha-os a terem cui<strong>da</strong>do, mas ela afirma que está <strong>de</strong>cidi<strong>da</strong> a seguir<br />
seu <strong>de</strong>stino.<br />
Eles saem e, aproveitando a intimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, Aíla <strong>de</strong>clara-se para Assur e<br />
implora que a leve embora com ele. Ele respon<strong>de</strong> que Manassés nunca a<br />
<strong>de</strong>ixaria partir e ela pe<strong>de</strong>: “Então mata-o, Assur, mata-o <strong>por</strong> mim”<br />
(NASCIMENTO, 1961:65) e esten<strong>de</strong>-lhe um punhal que, afirma, a Peregrina lhe<br />
<strong>de</strong>ra dizendo que um dia ela precisaria <strong>de</strong>le para conquistar a liber<strong>da</strong><strong>de</strong>. Assur<br />
se nega a fazê-lo e Aíla tenta seduzi-lo:<br />
rubrica:<br />
(enlaçando-o) Faça-o <strong>por</strong> mim, Assur, faça-o <strong>por</strong> mim, eu sou mais<br />
ar<strong>de</strong>nte e mais amorosa do que a mulher branca! Um minuto, um<br />
único instante <strong>de</strong> coragem, e não existirá mais na<strong>da</strong>... É como se<br />
fosse uma luz que o vento apagasse na campina.<br />
(...)<br />
(enlaçando-o ain<strong>da</strong> mais forte) Faça-o <strong>por</strong> mim, que o amo e o<br />
seguirei <strong>de</strong> joelhos até as planícies do mar. (NASCIMENTO, 1961:<br />
66)<br />
Assur pára <strong>de</strong> resistir e a peça sofre uma aceleração do tempo. Diz a<br />
(...) Escurece rapi<strong>da</strong>mente. Logo após uma luz vermelha e violenta<br />
ilumina a varan<strong>da</strong>. O reflexo <strong>de</strong>ssa luz é a única clari<strong>da</strong><strong>de</strong> que
125<br />
ilumina a cena. Assur está sentado no chão <strong>da</strong> varan<strong>da</strong> e olha para<br />
fora. Manassés, sentado à mesa, bebe. De pé, vesti<strong>da</strong> com a túnica<br />
que é <strong>de</strong> um vermelho diferente, cintilante [presente <strong>de</strong> Assur], Aíla<br />
serve ao marido. (NASCIMENTO, 1961:66)<br />
O irmão mais velho estranha a roupa <strong>da</strong> esposa e pergunta se ela o<br />
abandonará um dia. Ela nega. Pergunta-lhe, então, se “seus olhos vêem outro<br />
homem” que não ele e ela torna a negar. Ele tece planos <strong>de</strong>, no futuro, comprar<br />
outras terras, trabalhar e <strong>de</strong> ficarem juntos até a morte. Por fim, ele tomba<br />
sobre a mesa.<br />
Ela dirige-se a Assur dizendo-lhe que é hora, mas o jovem recua sem<br />
coragem para consumar a morte do irmão. Aíla toma-lhe a faca e fere o marido<br />
cegamente. Manassés, chamado pelo Pai <strong>de</strong> “forte”, morre embriagado e<br />
apunhalado pelas costas. Assur afasta-se <strong>da</strong> mulher horrorizado.<br />
Neste momento, entra o Pai perguntando <strong>por</strong> Selene e Moab e <strong>de</strong>scobre<br />
que partiram. Assur, chorando, revela que a cunha<strong>da</strong> matou o irmão.<br />
PAI (trêmulo <strong>de</strong> cólera): Se o mataram juntos, <strong>por</strong>que (sic) não<br />
partem agora? (NASCIMENTO, 1961:69)<br />
Se, outrora, a lei era não abandonar a casa, nesse momento a punição<br />
imposta a Assur é <strong>de</strong>ixá-la com a mulher:<br />
Dia e noite estarão juntos, e tudo o que ela fizer, suas mãos ávi<strong>da</strong>s,<br />
seus olhos cruéis e fugitivos, seu sono agitado – tudo o (sic)<br />
lembrará o irmão sacrificado.<br />
(...)<br />
E pelo caminho do pecado que você abriu com a sua louca fantasia,<br />
caminharão juntos até que a morte os surpreen<strong>da</strong>. (NASCIMENTO,<br />
1961: 69)<br />
Partem dos dois e, novamente, há uma aceleração na passagem do<br />
tempo: a casa arruinou-se, a terra já não produz, o Pai envelheceu. Assur volta<br />
mais uma vez e, agora, seu retorno se harmoniza com o relato evangélico:<br />
volta “humil<strong>de</strong>, sozinho, vestindo-se como antigamente, buscando a<br />
reconciliação com o pai” (BRANDÃO:1998:74). Explica que Aíla seguiu com um<br />
rico mercador e que ele está <strong>de</strong>cidido a ficar para sempre:<br />
Só agora sei que não adianta partir. A terra que per<strong>de</strong>mos, não é ela<br />
que estua e aquece o nosso coração? Sem ela, não era eu um ser
126<br />
exilado às bor<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s praias estrangeiras? (NASCIMENTO, 1961:<br />
71)<br />
ASSUR: (colocando a mão no ombro do Pai e com a outra<br />
apontando a paisagem) Eu lavrarei os campos, Pai. Com o meu suor,<br />
molharei a terra <strong>de</strong> lado a lado. Irei até à ribeira, <strong>de</strong>scerei a encosta<br />
com o meu arado, atingirei até mesmo as planícies distantes on<strong>de</strong><br />
nunca ninguém vai. E quando nascer outra manhã, e outro vento<br />
soprar, direi aos que nunca partiram que o mar é como uma gran<strong>de</strong><br />
rosa que se aperta ao peito.<br />
(...)<br />
E eu direi que ela é ver<strong>de</strong> e contém todos os perfumes que matam.<br />
Mas que a noite também é uma rosa, uma quente rosa que nos fita<br />
com seus olhos <strong>de</strong> sombra. Então eles olharão para o alto, e <strong>de</strong><br />
joelhos sau<strong>da</strong>rão a rosa negra que é a nossa eterna companheira.<br />
(NASCIMENTO, 1961: 72)<br />
Em relação aos outros dramas anteriormente apresentados, O Filho<br />
Pródigo apresenta uma modificação. Nas duas peças anteriores, havia uma<br />
oposição entre um indivíduo e o grupo a que pertencia: em O Escravo, Marcos<br />
volta-se contra a or<strong>de</strong>m familiar e, incapaz <strong>de</strong> escapar <strong>de</strong>la, suici<strong>da</strong>-se; em A<br />
Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, Gina revolta-se contra o casamento e o marido, mata-o e<br />
enlouquece. Mas, em O Filho Pródigo, se a saí<strong>da</strong> <strong>de</strong> Assur <strong>de</strong>sagrega a família<br />
e provoca o assassinato do irmão, ele, ao final, acaba sendo o único que volta<br />
e assume o lugar do Pai. Nos dois dramas anteriores, no embate “eu” x grupo,<br />
o “eu” acabava <strong>de</strong>struído, mas Assur sobrevive <strong>por</strong>que assume um lugar<br />
tradicional no grupo contra o qual se rebelara.<br />
Essa mu<strong>da</strong>nça leva a pensar num seguinte esquema <strong>de</strong> representação:<br />
o herói cardosiano seria um indivíduo que se rebela contra o grupo <strong>por</strong>que<br />
enten<strong>de</strong> que, na revolta, ganhará i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> e auto-realização. Revolta-se<br />
intensamente (uma face dionisíaca do teatro <strong>de</strong>ste Autor), e, no limite <strong>de</strong> suas<br />
forças, é <strong>de</strong>rrotado e, não raro, <strong>de</strong>struído (O Escravo; A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata). Mas a<br />
sobrevivência estaria garanti<strong>da</strong> se, a <strong>de</strong>speito <strong>da</strong> revolta, o indivíduo se<br />
conformar em ocupar o lugar que a tradição lhe <strong>de</strong>signou como <strong>de</strong>vido e<br />
assumir a mesma i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> todos que o prece<strong>de</strong>ram (O Filho Pródigo).<br />
O que po<strong>de</strong>ria significar uma posição reacionária fica, contudo,<br />
relativiza<strong>da</strong> quando se recor<strong>da</strong> que o caminho usado para insinuar essa<br />
solução é um drama apoiado numa paródia <strong>de</strong> uma história bíblica, ou seja,
numa subversão <strong>de</strong> um texto que a tradição Oci<strong>de</strong>ntal sempre consi<strong>de</strong>rou<br />
sagrado e a maneira mais segura <strong>de</strong> agir para garantir a salvação.<br />
127<br />
Mas ain<strong>da</strong> falta um drama para que <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> encerrasse suas<br />
investi<strong>da</strong>s teatrais e para que esta análise fique completa.<br />
4.5 – Angélica<br />
4.5.1- A Crítica<br />
Mas não se engane, enquanto riem e conversam, há <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>les um louco que espia sem na<strong>da</strong> compreen<strong>de</strong>r. Para este<br />
ser estranho e <strong>de</strong> pupilas brancas, não existem as leis<br />
naturais e a or<strong>de</strong>m estabeleci<strong>da</strong>.<br />
Angélica<br />
Após três encenações fracassa<strong>da</strong>s, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> assinala, em várias<br />
anotações feitas em seu Diário, seu <strong>de</strong>sânimo em relação à volta ao teatro ou<br />
quanto ao “Teatro <strong>de</strong> Câmera”. Não <strong>de</strong>scarta totalmente a idéia, mas não se<br />
sente encorajado a tentar novamente. Em 29 <strong>de</strong> julho, registra que alguém lhe<br />
telefona e pe<strong>de</strong> que apresente sua peça inédita à atriz Maria Sampaio: “Não<br />
creio que também ela se interesse <strong>por</strong> Angélica. De tudo o que escrevi para<br />
teatro, é no momento o que me parece mais difícil <strong>de</strong> ser aceito.” (CARDOSO,<br />
1970:107)<br />
Apesar <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>terminação, pressionado <strong>por</strong> dívi<strong>da</strong>s, ele volta aos<br />
palcos com Angélica e restaura o “Teatro <strong>de</strong> Câmera”. Não é uma volta<br />
espontânea, nem mesmo foi feliz. No registro do Diário <strong>de</strong> 09 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong><br />
1950, revela: “Não encontro nenhum prazer nesta forma <strong>de</strong> trabalho, mas sou<br />
obrigado a isto, em vista dos compromissos que assumi com o S.N.T [Serviço<br />
Nacional do Teatro]...”(CARDOSO, 1970: 120).<br />
Não foi também um retorno fácil. <strong>Lúcio</strong> resolveu dirigir pessoalmente sua<br />
criação e Clau<strong>de</strong> Vincent, em “Angélica”, informa que a peça “foi corta<strong>da</strong> e<br />
modifica<strong>da</strong>” <strong>por</strong>que <strong>Lúcio</strong> teria aprendido (finalmente!) que “há muita coisa<br />
possível em um texto, mas não num palco”. Num artigo posterior, “Angélica II” 61<br />
61 Ambos os artigos citados foram publicados na “Tribuna <strong>da</strong> Imprensa”, sem indicação <strong>de</strong> <strong>da</strong>ta, e que<br />
fazem parte do Arquivo do Autor disponível na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, Rio <strong>de</strong> Janeiro.
Vincent consi<strong>de</strong>ra que a opção <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> quanto a dirigir seu drama foi “uma<br />
temeri<strong>da</strong><strong>de</strong>”, <strong>da</strong>ndo a enten<strong>de</strong>r que a <strong>de</strong>cisão não foi acerta<strong>da</strong>.<br />
128<br />
Sábato Magaldi, em artigo intitulado “Reabre o ‘Teatro <strong>de</strong> Bolso’”,<br />
arquivado na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, comenta que, <strong>de</strong> início, Angélica<br />
<strong>de</strong>veria estrear no “Fênix”. A apresentação, no entanto, não foi possível no<br />
espaço originalmente planejado e foi preciso conseguir, às pressas, outro<br />
palco. “Por gentileza do proprietário do Teatro <strong>de</strong> Bolso, os entendimentos se<br />
processaram com a urgência requeri<strong>da</strong>”, informa o crítico. Quando tudo parecia<br />
resolvido, apareceram outras tantas dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> substituir, num prazo<br />
mínimo, um figurante do elenco até a<strong>da</strong>ptar a encenação, já ensaia<strong>da</strong> no<br />
“Fênix”, a um palco menor que o original. Os problemas adiaram a estréia,<br />
aumentaram as <strong>de</strong>spesas e o <strong>de</strong>scrédito <strong>de</strong> empreendimento.<br />
A 04 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1950, véspera <strong>da</strong> estréia, <strong>Lúcio</strong> se revela ambíguo<br />
em relação à nova criação:<br />
Apesar <strong>de</strong> tudo, apaixonante experiência esta, que levo a efeito com<br />
Angélica: sente-se a peça <strong>de</strong>sagregar-se entre os nossos <strong>de</strong>dos,<br />
<strong>de</strong>com<strong>por</strong>-se como uma malha <strong>de</strong> xadrez que se <strong>de</strong>sfaz, tornar-se<br />
na<strong>da</strong>, finalmente. Meditando um pouco na obscuri<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> platéia,<br />
enquanto os artistas repisam várias vezes uma mesma cena, acho<br />
inacreditável que palavras tão vazias tenham con<strong>de</strong>nsado alguma<br />
emoção ou tivessem significado um momento <strong>de</strong> inspiração minha.<br />
São frases sem calor, indiferentes, como se pertencessem a<br />
acontecimentos banais, cotidianos, e não a uma obra fecha<strong>da</strong>, que<br />
limita o drama. (CARDOSO, 1970:124)<br />
Finalmente, a estréia se <strong>de</strong>u, nas palavras <strong>de</strong> seu Autor e diretor, “num<br />
teatro minúsculo e pouco confortável” e o espetáculo, segundo ele mesmo,<br />
“constituiu mais um fracasso para se juntar à série” que já o acompanhava 62 .<br />
As causas, <strong>Lúcio</strong> as enumera em seu Diário: “cena estreita, artistas que<br />
ignoravam completamente o texto, má vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> muitos e direção <strong>de</strong>ficiente”<br />
(CARDOSO, 1970:125).<br />
Em anotação do dia 03 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro do mesmo ano, ele se exime <strong>de</strong><br />
responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> maior no <strong>de</strong>sastre: “Para quem não leu a peça, e diante <strong>da</strong><br />
hesitação dos artistas, é fácil pensar que o <strong>de</strong>feito maior é do próprio texto. E aí<br />
62 Constavam do elenco Luíza Barreto Leite, Edmundo Lopes, Yety Albuquerque, Mirian Roth e Regina<br />
<strong>de</strong> Aragão.
estão, dogmáticos e estúpidos, os críticos [...] que não hesitam em apontar a<br />
causa do fracasso no drama mal apreendido, mal <strong>de</strong>corado e mal assimilado”<br />
(CARDOSO, 1970: 128).<br />
129<br />
Após a estréia, Sábato Magaldi escreve dois artigos 63 sobre a peça. Em<br />
“Angélica I” <strong>de</strong>fine: “Angélica é o estudo <strong>de</strong> um temperamento vigoroso, que se<br />
alimenta dos seres aniquilados <strong>por</strong> seu po<strong>de</strong>r asfixiante e <strong>de</strong>struidor” e aponta<br />
que o drama “<strong>de</strong>senvolve a psicologia <strong>de</strong> um ser na fronteira <strong>da</strong> loucura” que<br />
mergulha no <strong>de</strong>sespero. Associa a protagonista à personagem homônima <strong>de</strong> A<br />
professora Hil<strong>da</strong> (novela <strong>de</strong> 1946) 64 :<br />
Tipos noturnos, loucos aparentemente lúcidos, que vivem a<br />
normali<strong>da</strong><strong>de</strong> dos outros <strong>de</strong>stinos, mas estão possuídos <strong>de</strong> uma força<br />
à parte, <strong>de</strong>sagregadora e terrível.<br />
O crítico ain<strong>da</strong> observa que Angélica, como Gina <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata,<br />
concentra to<strong>da</strong>s as atenções do drama, sendo a personagem mais<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>: “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> fez dos outros personagens o pano <strong>de</strong> fundo em<br />
que se <strong>de</strong>veria realizar o <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> Angélica. Ela é a criatura narra<strong>da</strong> em to<strong>da</strong><br />
a sua pujança”.<br />
Em “Angélica II”, Magaldi elogia a linguagem <strong>da</strong> peça, “vaza<strong>da</strong> em<br />
padrão literário poucas vezes atingido nos textos <strong>de</strong> hoje” e a escolha do tema,<br />
“gênero quase nunca visitado pelos nossos autores”. Contudo, o diálogo “se<br />
tem frases <strong>de</strong> belo conteúdo poético, ele não se ajusta em alguns momentos à<br />
fluência natural <strong>da</strong> conversa” – crítica comum ao teatro cardosiano, como já foi<br />
possível observar. Ele termina assinalando que o teatro on<strong>de</strong> a peça foi<br />
apresenta<strong>da</strong> não favoreceu a apresentação do elenco e a direção <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> é<br />
discretamente critica<strong>da</strong>. Apesar dos pontos negativos assinalados, ele conclui<br />
dizendo que Angélica “tem um lugar <strong>de</strong>finitivo em nossa <strong>literatura</strong> <strong>dramática</strong>”.<br />
Essa também é a opinião <strong>de</strong> Luíza Barreto Leite, que já tinha<br />
interpretado a Augusta <strong>de</strong> O Escravo e que foi a protagonista <strong>de</strong> Angélica. Em<br />
63 Artigos arquivados sem indicação <strong>de</strong> fonte ou <strong>de</strong> <strong>da</strong>ta, e que fazem parte do Arquivo do Autor<br />
disponível na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
64 A aproximação é respal<strong>da</strong><strong>da</strong> pelo próprio autor que, em Prefácio à novela, também aproxima Hil<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
Angélica, I<strong>da</strong> (Mãos vazias), Aurélia (O <strong>de</strong>sconhecido), Augusta e Marcos (O Escravo) e o <strong>de</strong>sconhecido<br />
(O <strong>de</strong>sconhecido), o que indica que <strong>Lúcio</strong> tinha plena consciência <strong>da</strong>s semelhanças entre suas<br />
personagens.
seu livro Teatro e criativi<strong>da</strong><strong>de</strong>, publicado muitos anos mais tar<strong>de</strong>, quando calor<br />
dos acontecimentos há muito já tinha <strong>de</strong>saparecido, quando <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> já<br />
tinha morrido – <strong>por</strong>tanto, uma posição mais neutra e sem necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
agra<strong>da</strong>r ninguém – falando sobre “três homens e três mulheres” 65 injustiçados<br />
em montagens antigas, lembra:<br />
130<br />
De <strong>Lúcio</strong>, nem é bom falar. Com Angélica,<strong>por</strong> exemplo – a vampira<br />
<strong>de</strong> almas –, o que se po<strong>de</strong>ria fazer em termos <strong>de</strong> espetáculo visual<br />
seria ver<strong>da</strong><strong>de</strong>iramente fantástico. (LEITE, 1975:70)<br />
De qualquer forma, colhendo mais uma <strong>de</strong>cepção – observa-se pelo<br />
próprio número reduzido <strong>de</strong> artigos que o Autor conservou sobre esse drama –<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> abandonar o teatro: “Angélica marcou <strong>de</strong>finitivamente a<br />
minha última tentativa” (CARDOSO, 1970:126).<br />
4.5.2- O texto dramático<br />
A rubrica anuncia o cenário que o olhar do espectador encontra quando<br />
as cortinas se abrem:<br />
Quarto <strong>de</strong> dormir, com móveis antigos e gosto provinciano. Quadros<br />
e me<strong>da</strong>lhões nas pare<strong>de</strong>s – objetos <strong>de</strong> mau gosto sobre os móveis.<br />
Almofadões pelo chão e, junto a uma larga janela fecha<strong>da</strong>, um vasto<br />
espelho <strong>de</strong> moldura doura<strong>da</strong>. Sobre a cômo<strong>da</strong>, castiçais variados <strong>de</strong><br />
cristal e prata; pen<strong>de</strong>ntes <strong>da</strong>s <strong>por</strong>tas e janelas, cortinas <strong>de</strong> gosto<br />
duvidoso. (CARDOSO, s/d:1) 66 .<br />
Tal como nos dramas anteriores, o cenário encerra significantes que<br />
indiciam os sentimentos ou com<strong>por</strong>tamentos <strong>da</strong>s personagens. São visíveis<br />
nele os sinais <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência, presentes também em O Escravo e traço comum<br />
nos romances <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. A história se passa “na província, numa<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong> estreita e abafa<strong>da</strong>” (CARDOSO, s/d:29). Os índices <strong>de</strong> riqueza<br />
65<br />
Os <strong>de</strong>mais injustiçados seriam Heloísa Maranhão, Rachel <strong>de</strong> Queiroz, Maria Jacintha, Francisco<br />
Pereira <strong>da</strong> Silva e Aldomar Conrado.<br />
66<br />
Essa peça não foi publica<strong>da</strong> e encontra-se no Arquivo <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, na Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui<br />
Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.
(castiçais <strong>de</strong> prata e cristal) se misturam a “objetos <strong>de</strong> mau gosto” que<br />
compõem a casa <strong>da</strong> protagonista, “uma solteirona <strong>de</strong> meia-i<strong>da</strong><strong>de</strong>, páli<strong>da</strong>,<br />
extravagantemente vesti<strong>da</strong>, com um luxo fantástico e ‘<strong>de</strong>modée’ (...) Traz jóias<br />
excessivas, <strong>de</strong>monstrando uma visível vai<strong>da</strong><strong>de</strong>.”(CARDOSO, s/d:1) e abana-se<br />
nervosamente com um leque.<br />
131<br />
As primeiras falas revelam que alguém acaba <strong>de</strong> morrer. Apesar disso,<br />
Angélica não sente nenhum pesar, afirma que “há muito tempo não me sentia<br />
tão bem como agora” (CARDOSO, s/d:2). Está dispensando Joana, “uma<br />
cria<strong>da</strong> idosa, sem nenhum traço particular” (CARDOSO, s/d:1), man<strong>da</strong>ndo-a<br />
chamar o padre quando toca a campainha. A visita inespera<strong>da</strong> <strong>de</strong>ixa Angélica<br />
nervosa e, a contragosto, recebe as vizinhas que trazem pêsames (“Mal<br />
cumprimento as pessoas na rua, <strong>de</strong>testo-os. Porque (sic) esses visinhos (sic)<br />
insistem em ser amáveis?” – CARDOSO, s/d:3)<br />
Apesar <strong>da</strong> situação, preocupa-se:<br />
ANGÉLICA: Espere! Você acha que eu estou bem assim? Não seria<br />
melhor mu<strong>da</strong>r <strong>de</strong> vestido?<br />
JOANA: A patroa sabe que nesta al<strong>de</strong>ia ninguém se veste melhor:<br />
para que outro vestido?<br />
ANGÉLICA: Ao menos um chale [sic]... Não ficaria bem um chale<br />
[sic] nos ombros? (CARDOSO, s/d:4)<br />
Na conversa que se segue, o espectador <strong>de</strong>scobre que Angélica mora<br />
sozinha na fazen<strong>da</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a morte <strong>de</strong> sua irmã mais nova e recolhe meninas<br />
órfãs, <strong>de</strong> quem cui<strong>da</strong>. Segundo as visitas, “to<strong>da</strong> a ci<strong>da</strong><strong>de</strong> comenta largamente<br />
os seus dons generosos” (CARDOSO, s/d:7). A terceira <strong>de</strong>ssas moças,<br />
Maninha, é quem acaba <strong>de</strong> morrer vítima <strong>de</strong> um “mal misterioso”. As duas<br />
primeiras jovens também tiveram o mesmo fim. Apesar dos “infortúnios”,<br />
Angélica reitera que continuará a cui<strong>da</strong>r <strong>de</strong> moças <strong>de</strong>sampara<strong>da</strong>s <strong>por</strong> cari<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
e <strong>por</strong>que não gosta <strong>da</strong> solidão em que vive.<br />
As visitas louvam sua bon<strong>da</strong><strong>de</strong> (“O que a senhora faz é um ato <strong>de</strong><br />
cari<strong>da</strong><strong>de</strong> dos mais louváveis” – CARDOSO, s/d:7). Ela afirma estar um pouco<br />
cansa<strong>da</strong>, fala em férias e as vizinhas garantem que “jamais seu aspecto foi<br />
melhor” (CARDOSO, s/d:8) e que ela parece ter remoçado vinte anos. Angélica<br />
sorri, agra<strong>de</strong>ce e elas saem.
132<br />
É visível, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os primeiros diálogos, a ironia <strong>de</strong> que a peça se recobre.<br />
Angélica expressa arrogância e mal<strong>da</strong><strong>de</strong>, duvi<strong>da</strong> <strong>de</strong> Deus e <strong>de</strong>spreza os<br />
vizinhos, preocupando-se, apenas, com o que possam dizer <strong>de</strong>la. Carelli<br />
assinala que as visitas “<strong>de</strong>sempenham aqui, <strong>de</strong> modo caricatural, o papel do<br />
coro antigo” (CARELLI, 1988: 96), funcionando não como “testemunha,<br />
confi<strong>de</strong>nte, espectador i<strong>de</strong>al, conselheiro, associado na dor, juiz, intérprete<br />
lírico do poeta, eco <strong>da</strong> sabedoria popular...”, que era a função original do coro<br />
(BRANDÃO, 1992:51), mas como cúmplice que legitima, pelo louvor à<br />
cari<strong>da</strong><strong>de</strong>, as práticas diabólicas <strong>de</strong> Angélica.<br />
Leôncio, “um homem baixo, gordo <strong>de</strong> aspecto melífluo e sentimentos<br />
concentrados” (CARDOSO, s/d:9), é o empregado <strong>da</strong> fazen<strong>da</strong>. Ele entra em<br />
cena trazendo um pacote <strong>de</strong> velas e ela lhe pe<strong>de</strong> que vá ao orfanato e traga<br />
outra moça, <strong>de</strong>lica<strong>da</strong>, bonita, frágil, <strong>de</strong> quem possa cui<strong>da</strong>r. Ele fala <strong>de</strong> outra<br />
jovem, que tem família, mas que é muito pobre e que an<strong>da</strong> triste <strong>por</strong> causa <strong>de</strong><br />
uma briga com o namorado. Ao saber <strong>da</strong> tristeza, ela se preocupa<br />
ANGÉLICA: (<strong>de</strong>tendo-se, ar<strong>de</strong>nte) É (sic) ela per<strong>de</strong>u to<strong>da</strong> a beleza?<br />
Tornou-se uma coisa imprestável, um triste ser que <strong>de</strong>finha?<br />
(CARDOSO, s/d:12)<br />
Como Leôncio assegure que ela “parece mais bela, um lírio molhado sob<br />
a chuva” (CARDOSO, s/d:13), Angélica se interessa e man<strong>da</strong> que ele a traga.<br />
Joana volta ao palco trazendo flores e Angélica quer saber o que<br />
comentam sobre ela. Depois, torna a preocupar-se:<br />
ANGÉLICA: Talvez venha mais gente, o melhor será vestir-me.<br />
JOANA: A patroa está bem assim. Este chale (sic) é tão bonito!<br />
ANGÉLICA: Não, não estou bem. Quero o meu vestido ver<strong>de</strong>, com<br />
ren<strong>da</strong>s escuras. Procure para mim, Joana, está no guar<strong>da</strong>-roupa.<br />
JOANA: Não seria melhor um vestido mais simples?<br />
ANGÉLICA: Não, quero este mesmo. Procure também as minhas<br />
ren<strong>da</strong>s <strong>de</strong> Malines, aquelas que só uso em ocasiões solenes. Quero<br />
também um véu para os cabelos...<br />
JOANA: Até parece que a patroa vai a uma festa. (CARDOSO,<br />
s/d:15)<br />
Joana a repreen<strong>de</strong>, discretamente, <strong>por</strong> viver isola<strong>da</strong> e <strong>por</strong> negar-se a<br />
conviver com as pessoas. Para esta protagonista, ao contrário <strong>da</strong>s que a<br />
anteceram, a <strong>clausura</strong> é uma opção voluntária. A patroa informa que, no dia
seguinte, chegará uma nova jovem e Joana se ressente com a rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>ssa<br />
<strong>de</strong>cisão, uma vez que Maninha não fora ain<strong>da</strong> sequer sepulta<strong>da</strong>. Como todos<br />
os pre<strong>da</strong>dores, Angélica dá pouco valor às suas vítimas, que chama <strong>de</strong><br />
“trastes”, e não escon<strong>de</strong> sua ansie<strong>da</strong><strong>de</strong> em receber uma outra moça.<br />
133<br />
Joana aproxima-se e tem uma surpresa ao fitar o rosto <strong>da</strong> jovem morta:<br />
“parece que lhe arrancaram alguma coisa à força... que sugaram <strong>de</strong>ssa coisa<br />
morta to<strong>da</strong> a sua energia!” (CARDOSO, s/d:18) e sai, atemoriza<strong>da</strong>. É a <strong>de</strong>ixa<br />
para que se revele a personali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Angélica. Ao longo dos diálogos, como<br />
um anjo rebel<strong>de</strong>, ela fala em bon<strong>da</strong><strong>de</strong> e em Deus, mas suas palavras<br />
significam morte e pactos diabólicos. Sua “cari<strong>da</strong><strong>de</strong>” é, na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, vampirismo<br />
<strong>de</strong> alguém que almeja a juventu<strong>de</strong> eterna:<br />
Velha! Velha e triste, como as que murcham no asilo, como as que<br />
an<strong>da</strong>m <strong>por</strong> aí pedindo esmola! Você ouviu, Maninha, você ouviu<br />
bem? Ninguém po<strong>de</strong>ria reconhecer o seu rosto: essa pele queima<strong>da</strong><br />
e frouxa, esses cabelos colados às têm<strong>por</strong>as, essa boca escura.<br />
Nunca mais você verá a luz do sol nem po<strong>de</strong>rá passar a mão no seu<br />
próprio rosto, nem se olhar no espelho! E todos dizem que eu estou<br />
ca<strong>da</strong> dia mais moça, que rejuvenesço, que os meus olhos brilham<br />
como se eu ain<strong>da</strong> tivesse um namorado! Olha pra os meus ombros,<br />
veja a minha pele branca, os meus cabelos longos e sedosos! Veja<br />
como eu me acaricio, como adoro essa pele que é minha, como me<br />
beijo e como suspiro <strong>de</strong> alegria! Ah, Maninha, não adiantou você<br />
morrer enquanto fui buscar o copo d’água... Aqui estou eu, moça,<br />
ar<strong>de</strong>nte, apesar <strong>de</strong> você me ter roubado o seu último suspiro, aquele<br />
<strong>de</strong> que mais tinha necessi<strong>da</strong><strong>de</strong>! (CARDOSO, s/d:19)<br />
Os vampiros são uma criação literária antiga, mas, sem dúvi<strong>da</strong>, o mais<br />
célebre é Drácula, <strong>de</strong> Bram Stocker, protagonista do livro homônimo publicado<br />
em 1897. A personagem do escritor irlandês é um nobre <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>da</strong><br />
aristocracia rural <strong>de</strong> seu país, que vive num castelo cercado <strong>de</strong> objetos<br />
luxuosos, embora envelhecidos, e isolado do resto <strong>da</strong> população. Apesar <strong>de</strong> ter<br />
a vi<strong>da</strong> eterna, sua condição <strong>de</strong> morto-vivo é angustiante <strong>por</strong>que precisa<br />
alimentar-se <strong>de</strong> sangue para sobreviver. Neste sentido, tanto quanto qualquer<br />
mortal, o vampiro teme o efêmero, o transitório. Sobrevivente dos antigos<br />
regimes, assiste à nova or<strong>de</strong>m mundial que se configura e tenta sobreviver às<br />
contradições <strong>da</strong> vira<strong>da</strong> do século.<br />
Como o Con<strong>de</strong>, Angélica estabelece relações diabólicas com suas<br />
“protegi<strong>da</strong>s”. Como ele, também, ela é filha <strong>de</strong> um im<strong>por</strong>tante fazen<strong>de</strong>iro e
herdou “a fazen<strong>da</strong> mais rica <strong>da</strong> região”, Monte-Santo, on<strong>de</strong> vive sozinha. Os<br />
objetos que a cercam são testemunhas <strong>da</strong> passagem <strong>de</strong>sse tempo próspero e,<br />
no texto, aju<strong>da</strong>m a com<strong>por</strong> o ambiente <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência em que a personagem<br />
se movimenta.<br />
Seu vampirismo também lembra Oscar Wil<strong>de</strong>:<br />
134<br />
Como no Retrato <strong>de</strong> Dorian Gray <strong>de</strong> Oscar Wil<strong>de</strong>, a juventu<strong>de</strong> do<br />
rosto se <strong>de</strong>ve a uma espécie <strong>de</strong> pacto diabólico. Além do mais, esse<br />
<strong>de</strong>safio supõe uma duplici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> imagem que recebe as marcas do<br />
envelhecimento. As máscaras mortuárias <strong>da</strong>s jovens vítimas<br />
<strong>de</strong>sempenham aqui o papel do quadro no romance. (CARELLI, 1988:<br />
97)<br />
No segundo ato, o cenário reitera o ambiente <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte e opressivo:<br />
Sala comum em casa <strong>de</strong> província, mas excessivamente cheia <strong>de</strong><br />
móveis e adornos. Retratos nas pare<strong>de</strong>s, ca<strong>de</strong>iras, móveis<br />
antiguados (sic) e sem gosto, almofa<strong>da</strong>s e can<strong>de</strong>labros. O acúmulo<br />
<strong>de</strong>sses objetos acentua o ambiente fechado e mal iluminado.<br />
(CARDOSO, s/d:20)<br />
Esta sala, “ambiente fechado e mal iluminado”, configura mais uma <strong>da</strong>s<br />
<strong>clausura</strong>s cardosianas. Nela, Angélica conversa com Lídia, “que se acha<br />
senta<strong>da</strong>, seguindo-a com uma expressão ao mesmo tempo anciosa (sic) e<br />
tími<strong>da</strong>” (CARDOSO, s/d:20). Ela é a jovem <strong>de</strong> que Leôncio falara e está<br />
relutante em ficar. Angélica insiste quanto à fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> sua saú<strong>de</strong>, mas ela<br />
garante estar muito bem.<br />
Como no mais tradicional <strong>da</strong>ndismo, Angélica aprecia a ociosi<strong>da</strong><strong>de</strong> e a<br />
colheita do inútil. No diálogo que travam, Lídia tenta enten<strong>de</strong>r para que<br />
finali<strong>da</strong><strong>de</strong> foi leva<strong>da</strong> àquela casa e, como Angélica lhe afirma que “Se pensa<br />
que man<strong>de</strong>i chamá-la para ser minha cria<strong>da</strong> engana-se”( CARDOSO, s/d:22) e<br />
que “Jamais man<strong>da</strong>ria chamá-la para arrumar minha casa” (CARDOSO,<br />
s/d:24), a jovem não consegue enten<strong>de</strong>r o interesse que <strong>de</strong>sperta.<br />
Não passará atoa (sic)... Preste atenção, <strong>por</strong>que este é um ponto<br />
im<strong>por</strong>tante ficará <strong>de</strong>ita<strong>da</strong>, passeiará (sic) comigo, tomaremos chá e<br />
conversaremos. (CARDOSO, s/d:28)<br />
Angélica adverte-a, contudo, <strong>de</strong> que não po<strong>de</strong>rá sair sozinha e <strong>de</strong> que<br />
não permite namoros na casa. Na esperança <strong>de</strong> persuadi-la, Angélica mostra
as riquezas que possui, acena-lhe com a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> herdá-las e insiste<br />
quanto à necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> cui<strong>da</strong>r <strong>da</strong> saú<strong>de</strong>, que seria frágil. Irrita<strong>da</strong>, a jovem<br />
assegura-lhe, mais <strong>de</strong> uma vez, que se sente muito bem e que não <strong>de</strong>seja<br />
ficar, que haveria outras moças mais necessita<strong>da</strong>s <strong>da</strong> cari<strong>da</strong><strong>de</strong> que lhe é<br />
ofereci<strong>da</strong>. Ain<strong>da</strong> na tentativa <strong>de</strong> seduzi-la, Angélica vai buscar os vestidos que<br />
já pertenceram às outras que lá viveram e que, a partir <strong>de</strong> então, seriam <strong>de</strong>la.<br />
135<br />
Nesse momento, entra Leôncio. Lídia lhe pergunta sobre as outras<br />
jovens, <strong>de</strong> que morreram e ele assegura-lhe que “Morreram naturalmente,<br />
como todos morem” (CARDOSO, s/d:31). Surpreen<strong>de</strong>-se ao saber que a jovem<br />
reluta, insiste para que fique alegando que “houve uma transação” (CARDOSO,<br />
s/d: 32) com a mãe <strong>da</strong> jovem que “quer apenas o seu bem, o seu conforto”<br />
(CARDOSO, s/d: 32). Termina confessando que a observa há tempos:<br />
LEÔNCIO: Há muito tempo que eu a acompanho... há muito tempo<br />
que eu vejo a menina <strong>de</strong> longe...<br />
[...]<br />
LEÔNCIO (Atingindo-a quase): Foi para que pu<strong>de</strong>sse vê-la que eu a<br />
trouxe aqui, não um minuto, um instante passageiro como na<br />
estra<strong>da</strong>, mas horas, dias inteiros! De que me valia aquilo? Po<strong>de</strong>-se<br />
num minuto envenenar a vi<strong>da</strong> inteira, mas não é possível enchê-la<br />
com a fugaz alegria <strong>de</strong> um único instante.<br />
LÍDIA: Quem lhe <strong>de</strong>u o direito <strong>de</strong> trazer-me aqui? Que preten<strong>de</strong>, que<br />
espera que eu faça?<br />
LEÔNCIO (Tocando-a no braço): Na<strong>da</strong>, não quero que faça na<strong>da</strong>. Já<br />
não é pouco que esteja aqui e respire o mesmo ar que respiro.<br />
(CARDOSO, s/d:35)<br />
Ela se assusta e <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> partir quando Angélica volta. Leôncio sai e a<br />
jovem conta o que ouvira. Angélica lhe diz que ele não é digno <strong>de</strong> confiança,<br />
que é como os loucos que aparentam normali<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
ANGÉLICA: São loucos <strong>por</strong>que apenas representam o homem<br />
sensato. Dentro <strong>de</strong>les, no âmago, apenas é noite escura e o cáos<br />
(sic): nesta região solitária são como cegos que na<strong>da</strong> tivessem<br />
aprendido <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> comum <strong>de</strong> todos nós.<br />
(...)<br />
Apenas simulam o homem sensato, pois apren<strong>de</strong>m com minúcia e<br />
cautela os gestos que todos fazem. Mas não se engane, enquanto<br />
riem e conversam, há <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>les um louco que espia sem na<strong>da</strong><br />
compreen<strong>de</strong>r. Para este ser estranho e <strong>de</strong> pupilas brancas, não<br />
existem as leis naturais e a or<strong>de</strong>m estabeleci<strong>da</strong>. (...) (CARDOSO,<br />
s/d:38-39)
136<br />
Aproveitando-se <strong>da</strong> perturbação <strong>da</strong> jovem, esten<strong>de</strong>-lhe os vestidos – que<br />
a incomo<strong>da</strong>m <strong>por</strong> já terem pertencido às outras – e faz promessas em relação<br />
à família, assegurando que vai esten<strong>de</strong>r-lhes recursos. A jovem, anima<strong>da</strong> com<br />
as promessas, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> ficar e louva a bon<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Angélica.<br />
No terceiro ato, Joana aten<strong>de</strong> Lídia, que se sente adoenta<strong>da</strong>. Ela<br />
pergunta se as outras moças também adoeceram <strong>da</strong>quele jeito. Leôncio<br />
aparece e pergunta-lhe como está. A jovem fala <strong>de</strong> temores, <strong>da</strong>s forças que lhe<br />
faltam, <strong>da</strong> vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> partir e <strong>da</strong> bon<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Angélica:<br />
LÍDIA: Nunca foi mais gentil do que agora: a todos os momentos me<br />
traz um presente novo, uma ren<strong>da</strong> ou um vestido, veja, ain<strong>da</strong> hontem<br />
(sic) me trouxe este cobertor dizendo que o frio se aproximava e que<br />
eu precisava agasalhar-me bem.<br />
LEÔNCIO: Mas você não se queixou, não disse na<strong>da</strong>?<br />
LÍDIA: Queixei-me, mas sempre que o faço, não diz na<strong>da</strong> e dá-me<br />
novos presentes. Tenho a mesa <strong>de</strong> cabeceira cheia <strong>de</strong> objetos...<br />
LEÔNCIO: E em troca disso...<br />
LÍDIA: Não sei. A ver<strong>da</strong><strong>de</strong> é que não me permite fazer um só<br />
movimento. Toma-me o pulso, fita-me, consulta o médico, multiplica<br />
as pílulas e as poções. Mas se soubesse que estou conversando<br />
tanto... (CARDOSO, s/d:46-47)<br />
Leôncio, ante a fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Lídia, mu<strong>da</strong> <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong>: acusa a patroa <strong>de</strong><br />
querer matá-la, <strong>de</strong> ser a responsável pelas outras mortes e diz que, se lhe<br />
acontecesse alguma coisa, ele mesmo mataria Angélica. A fala revela sua<br />
cumplici<strong>da</strong><strong>de</strong> e sua indiferença quanto aos acontecimentos anteriores. Afirma à<br />
jovem lhe que a única forma <strong>de</strong> salvar-se é partindo:<br />
LEÔNCIO: Mas não compreen<strong>de</strong>, não sente que ela está lhe<br />
sugando a energia, que tem necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> disto como <strong>de</strong> uma seiva<br />
para viver?<br />
mas Lídia alega não ter forças e que não teria para on<strong>de</strong> ir. Afinal, a família não<br />
compreen<strong>de</strong>ria <strong>por</strong> que abandonava uma casa on<strong>de</strong> era tão bem trata<strong>da</strong>.<br />
Leôncio, então, propõe que fujam juntos. Ela pe<strong>de</strong> que ele se aproxime e<br />
olha-o <strong>de</strong>ti<strong>da</strong>mente, procurando o louco <strong>de</strong> pupilas brancas <strong>de</strong> que Angélica lhe<br />
falara, mas na<strong>da</strong> encontra <strong>de</strong> anormal: “Só há o ser inquieto e triste que existe<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> todos nós” (CARDOSO, s/d: 51), conclui ela, ingenuamente.<br />
Angélica chega e, surpreen<strong>de</strong>ndo-os, repreen<strong>de</strong> o capataz. Eles<br />
discutem e o homem afirma que Lídia e ele <strong>de</strong>sejam partir. Angélica queixa-se
<strong>da</strong> ingratidão <strong>de</strong> todos e do abandono a que a ameaçam. As ofensas crescem<br />
e ele a acusa <strong>de</strong> ter matado as outras jovens:<br />
137<br />
É ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que não posso, legalmente, dizer que ela matou as outras,<br />
mas sugou-as minuto <strong>por</strong> minuto, obsorveu-as (sic) com o coração<br />
tremulo (sic) e a alma cheia <strong>de</strong> ódio. Arrebatou <strong>de</strong>sses pobres seres<br />
inertes a coragem <strong>de</strong> viver, sufoco-as (sic) na inércia e na falta <strong>de</strong><br />
esperança. Assim consegui (sic) trans<strong>por</strong> para a sua todo o calor que<br />
alimentava aquelas almas, até que <strong>de</strong>spe<strong>da</strong>ça<strong>da</strong>s, elas tombaram<br />
como frutos apodrecidos.<br />
(...)<br />
Não percebeu ain<strong>da</strong> que isto é que a faz remoçar, que torna<br />
su<strong>por</strong>tável esta carcassa (sic) recoberta pelo seu falso verniz?<br />
(CARDOSO, s/d: 55-56)<br />
Lídia sai <strong>de</strong> cena, vai buscar as coisas para partir. Nesse momento, os<br />
diálogos são reveladores <strong>da</strong> cumplici<strong>da</strong><strong>de</strong> anteriormente referi<strong>da</strong>:<br />
LEÔNCIO (irônico): Mas para si na<strong>da</strong> está perdido ain<strong>da</strong>: há muitas<br />
moças. Po<strong>de</strong>rá chamar uma e sugar <strong>de</strong>la a energia que lhe é<br />
necessária. Eu não proíbo o seu crime.<br />
ANGÉLICA (friamente): Que me proíbe você?<br />
LEÔNCIO: Que <strong>de</strong>strua essa moça.<br />
ANGÉLICA: Porque (sic) essa, precisamente essa? Outras não<br />
passaram <strong>por</strong> aqui, não <strong>de</strong>sapareceram?<br />
LEÔNCIO (em voz baixa): Mas esta é a que eu amo.<br />
[...]<br />
ANGÉLICA: Você não me engana: queria apenas <strong>de</strong>vorá-la antes <strong>de</strong><br />
mim.<br />
LEÔNCIO: Sua linguagem me dá arrepios.<br />
ANGÉLICA: Devia estar acostumado, somos <strong>da</strong> mesma família. Ou<br />
você já se esqueceu que é um pouco mais do que um lacaio?<br />
(CARDOSO, s/d:59-60)<br />
Vendo que o capataz mantém firme o seu <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> partir, Angélica<br />
mu<strong>da</strong> <strong>de</strong> tática e tenta seduzi-lo. Ele a repudia: “A senhora sempre me causou<br />
horror: se a beijasse, pensaria que estava beijando um rosto feito com os<br />
restos <strong>de</strong> to<strong>da</strong>s as moças mortas nesta casa” (CARDOSO, s/d: 64). Lídia volta<br />
e, refutando as últimas tentativas <strong>da</strong> dona <strong>da</strong> casa, partem os dois.<br />
Como é possível <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r dos diálogos, Leôncio é um parente<br />
distante <strong>de</strong> Angélica. Ele alcançava gratificação junto a Lídia através do<br />
voyeurismo que, segundo Anne Rice 67 , é um dos maiores prazeres do vampiro.<br />
67 RICE Apud: SILVA, 2002: 14.
Tais indícios afastam a idéia <strong>de</strong> um final feliz para a jovem que, ao fugir <strong>da</strong><br />
casa <strong>de</strong> Angélica com ele, parece ter apenas trocado <strong>de</strong> algoz.<br />
138<br />
Joana aparece também pronta para partir e confessa a Angélica que a<br />
teme. Ao sair, diz-lhe que se olhe no espelho, <strong>por</strong>que envelheceu.<br />
Atordoa<strong>da</strong>, Angélica monologa repudiando a velhice e o rosto e quebra o<br />
espelho. Caminha até um móvel no fundo <strong>da</strong> cena e retira <strong>de</strong> lá um revólver.<br />
Atira em si mesma e, na agonia, “se arrasta até junto a um fragmento <strong>de</strong><br />
espelho. De joelhos, toma-o nas mãos” (CARDOSO, s/d:68) e, ao contemplar-<br />
se, encontra “a outra, a que [a] espia com os olhos brancos” 68 .<br />
Esse drama apresenta uma diferença fun<strong>da</strong>mental em relação aos<br />
anteriores. Como foi analisado em O Filho Pródigo, até então, a representação<br />
teatral cardosiana seguia um mo<strong>de</strong>lo: as peças traziam uma oposição entre um<br />
indivíduo e o grupo a que pertenciam e, nos dois primeiros, no embate “eu” x<br />
grupo, o “eu” acabava <strong>de</strong>struído. A exceção foi Assur, que sobreviveu <strong>por</strong>que<br />
assumiu seu lugar no grupo original.<br />
Em Angélica, ao contrário, a protagonista é sozinha e, separa<strong>da</strong> do<br />
mundo e dos relacionamentos, precisa do convívio humano para sobreviver<br />
vampirescamente: “Sugar o outro remete (...) à impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do convívio<br />
com a diferença, à existência confina<strong>da</strong> a um cerco em que só é admitido o<br />
eu.”(WALDMAN, 1989:11) Rígi<strong>da</strong> em suas posturas, vaidosa <strong>de</strong>mais para<br />
enxergar além <strong>de</strong> si mesma, movimentando-se em um espaço on<strong>de</strong> os objetos<br />
atestam a passagem do tempo e do fausto, ela seria alegoria <strong>da</strong> própria<br />
tradição, <strong>de</strong> uma “aristocracia” rural <strong>de</strong> província que, incapaz <strong>de</strong> acompanhar<br />
as modificações trazi<strong>da</strong>s pela era Vargas e pela nova configuração mundial do<br />
capitalismo, entrou em <strong>de</strong>cadência. Não tendo mais como sobreviver sozinha e<br />
já não conseguindo reter suas vítimas próximas <strong>de</strong> si, agoniza na solidão e na<br />
incapaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que a cerca – acaba enlouquecendo.<br />
Ao invés <strong>de</strong> ser, então, o indivíduo contra o grupo social, Angélica indicaria a<br />
<strong>de</strong>rroca<strong>da</strong> <strong>da</strong> própria socie<strong>da</strong><strong>de</strong> que representa.<br />
68 Lembro que essa “dissociação do eu”, associa<strong>da</strong> à loucura, esteve presente também em A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
Prata, embora com tratamento diferenciado.
5- Ao fecharem-se as cortinas<br />
139<br />
... reivindico o caráter intencional <strong>de</strong> minhas pequenas<br />
experiências no teatro e no cinema, procurando atribuir a<br />
esses esforços o sentido <strong>de</strong> uma pesquisa nova, <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> terrenos que ca<strong>da</strong> dia <strong>de</strong>vem ser menos estranhos a<br />
quem escreve.<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, Diário Completo<br />
Uma vez apresentados os dramas <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, uma pergunta se<br />
impõe: o que <strong>de</strong>u errado em seu teatro e provocou uma recepção tão negativa<br />
<strong>de</strong> seu trabalho, tal como foi <strong>de</strong>lineado no capítulo anterior?<br />
No segmento 2.2 <strong>de</strong>sta Tese, revi rapi<strong>da</strong>mente a trajetória que o “teatro<br />
sério” percorreu entre nós <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Romantismo, bem como os momentos mais<br />
relevantes do Teatro brasileiro nos anos 30 e 40 do século XX <strong>de</strong> acordo com<br />
Prado, Faria, Dória, Magaldi e Cafezeiro. Como se pô<strong>de</strong> <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ssa<br />
leitura, a maioria <strong>da</strong>s peças encena<strong>da</strong>s com sucesso voltava-se para a<br />
comédia <strong>de</strong> costumes, a farsa e similares ou <strong>de</strong>scambava para o melodrama. A<br />
maior parte <strong>da</strong> produção que se <strong>de</strong>dicava ao teatro sério assumia feições<br />
melo<strong>dramática</strong>s, nunca tinha sido encena<strong>da</strong> (ao menos <strong>por</strong> profissionais e <strong>de</strong><br />
maneira julga<strong>da</strong> satisfatória) ou só recebeu eleva<strong>da</strong> consi<strong>de</strong>ração como texto<br />
literário. Portanto, quando <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> escreveu seus dramas, ele não pô<strong>de</strong><br />
contar com autores e obras que, tendo antecedido sua produção, <strong>de</strong>ixassem<br />
um legado representativo e forte <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> produção no Teatro brasileiro.<br />
Por sua vez, as obras que marcaram os anos <strong>de</strong> 30 e 40 persistiam em<br />
conquistar o espectador pelo riso, embora se marcassem <strong>por</strong> alguns<br />
afastamentos interessantes quanto à estrutura do espetáculo ou do texto.<br />
Nesse sentido, <strong>por</strong> exemplo, Adão, Eva e outros membros <strong>da</strong> família...,<br />
apresentou uma temática que se afastava do amor e <strong>da</strong>s salas <strong>de</strong> família e<br />
suas personagens tipifica<strong>da</strong>s que reconheciam, no <strong>de</strong>sfecho, sua condição <strong>de</strong><br />
marionetes e não <strong>de</strong> “seres humanos”, ecoavam, longinquamente, Piran<strong>de</strong>llo.<br />
Infelizmente, seu her<strong>de</strong>iro direto, Joracy Camargo, não <strong>de</strong>u continui<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
a essas modificações. Deus lhe pague, a <strong>de</strong>speito <strong>de</strong> seus méritos (temática<br />
urbana, teatro <strong>de</strong> idéias) apresentava na reconciliação do casal, ocorri<strong>da</strong> no<br />
<strong>de</strong>sfecho, uma solução sentimental digna <strong>de</strong> qualquer melodrama.
140<br />
Já Oduvaldo Vianna, em seu Amor, também investiu num afastamento<br />
do paradigma tradicional ao imaginar um palco dividido em cinco espaços<br />
cênicos. Em um <strong>de</strong>les, a personagem “Tempo”, folheando um calendário,<br />
anunciava a passagem dos dias. Como se vê, é a introdução <strong>de</strong> um elemento<br />
épico 69 que, <strong>da</strong> maneira como foi feito, marcava uma novi<strong>da</strong><strong>de</strong> na produção<br />
<strong>dramática</strong> <strong>de</strong> então.<br />
A <strong>de</strong>speito disso, a história <strong>de</strong> Lainha, Artur e Ma<strong>da</strong>lena, que serve <strong>de</strong><br />
espetáculo para Belzebu e São Pedro, envolvia artimanhas típicas <strong>de</strong><br />
melodramas: enganos, amor interdito pelo <strong>de</strong>ver, cartas rouba<strong>da</strong>s, chantagem<br />
e boa dose <strong>de</strong> sentimentali<strong>da</strong><strong>de</strong> na renúncia, no suicídio <strong>de</strong> Ma<strong>da</strong>lena e <strong>de</strong><br />
Artur e no assassinato <strong>de</strong> Lainha e Catão. A obra, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> sua<br />
possível <strong>de</strong>fesa do divórcio, <strong>de</strong>volvia ao público uma linguagem a que ele já<br />
estava mais do que acostumado e na qual diluía um tema certamente<br />
polêmico.<br />
Pior ain<strong>da</strong> foi a produção <strong>de</strong> Renato Vianna representa<strong>da</strong> <strong>por</strong> Deus e<br />
Sexo, peças que pretendiam integrar o teatro sério (as <strong>de</strong>mais, a <strong>de</strong>speito <strong>da</strong><br />
possível reflexão que <strong>de</strong>spertassem, recorriam a situações provocadoras do<br />
riso). Ambas po<strong>de</strong>riam ser classifica<strong>da</strong>s como melodramas inspirados em<br />
folhetins românticos, repletas <strong>de</strong> sentimentali<strong>da</strong><strong>de</strong> e lágrimas, anima<strong>da</strong>s <strong>por</strong><br />
personagens que incor<strong>por</strong>avam virtu<strong>de</strong>s e vícios quase sem nenhum matiz.<br />
Aliás, essa insistência do nosso teatro <strong>de</strong> então quanto à<br />
sentimentali<strong>da</strong><strong>de</strong> merece duas linhas <strong>de</strong> reflexão. Segundo Peter Szondi, em<br />
Teoria do drama burguês, a sentimentali<strong>da</strong><strong>de</strong> marca o drama burguês <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
seu início, no século XVIII, e po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>fini<strong>da</strong> como:<br />
... a expressão do tabu em que se transforma todo o conflito entre os<br />
membros <strong>de</strong> uma família. O conflito é negado pois ca<strong>da</strong> um está<br />
convencido <strong>da</strong> bon<strong>da</strong><strong>de</strong> do outro. Mas a recusa do conflito significa<br />
somente sua passagem para o íntimo do sujeito. (...) A conseqüência<br />
é sofrimento, melancolia (...) a razão e a conseqüência <strong>da</strong> renúncia à<br />
<strong>de</strong>cisão do conflito levam àquela plangência que caracteriza o estilo<br />
sentimentalista. (SZONDI, 2004:90)<br />
69 Utilizo aqui o termo no mesmo sentido já empregado <strong>por</strong> SZONDI em sua Teoria do drama mo<strong>de</strong>rno<br />
(2001): “ele <strong>de</strong>signa um traço estrutural comum <strong>da</strong> epopéia, do conto, do romance e <strong>de</strong> outros gêneros,<br />
ou seja a presença do que se tem <strong>de</strong>nominado o ‘sujeito <strong>da</strong> forma épica’ ou ‘euépico’”(SZONDI:2001:27).
141<br />
Ela é sintoma <strong>de</strong> um tempo em que a família, vista como bem supremo e<br />
refúgio <strong>da</strong>s dores do mundo, era ti<strong>da</strong> como o lugar <strong>da</strong> felici<strong>da</strong><strong>de</strong> possível e<br />
correspon<strong>de</strong>u a um período <strong>de</strong> afirmação <strong>da</strong> burguesia e <strong>de</strong> seus valores em<br />
oposição ao mundo e aos valores <strong>da</strong> aristocracia. Era um recurso do burguês<br />
que, sentindo-se impotente, refugiava-se nos seus sentimentos, retirando-se<br />
“numa privaci<strong>da</strong><strong>de</strong> sobre a qual as relações políticas e sociais não parecem<br />
exercer po<strong>de</strong>r algum”(SZONDI, 2004:158). No entanto, as condições históricas,<br />
sociais e econômicas transformaram-se e, já no final do século XIX, esse<br />
paraíso que era o lar foi-se <strong>de</strong>gra<strong>da</strong>ndo até tornar-se um inferno.<br />
A insistente presença <strong>da</strong> sentimentali<strong>da</strong><strong>de</strong> nos palcos brasileiros nos<br />
anos 30 do século XX e sua boa recepção <strong>por</strong> parte do público indicam a<br />
resistência <strong>de</strong> autores e platéia aos novos tempos, a dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> incor<strong>por</strong>ar<br />
os novos valores aceitando as mu<strong>da</strong>nças que se <strong>de</strong>lineavam dia-a-dia.<br />
Naquele mundo em transformação, ao menos era possível às personagens<br />
negar os conflitos que as transformações sociais produziam e, interiorizando-<br />
os, abandonarem-se ao sofrimento melancólico já tão conhecido do público e<br />
que reaparecia, sobretudo, em Renato Vianna 70 .<br />
Foi esse o contexto artístico que recebeu O Escravo que, anterior <strong>por</strong><br />
alguns dias a Vestido <strong>de</strong> Noiva, sequer pô<strong>de</strong> contar com a boa vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu<br />
sucesso junto à Crítica. Não é difícil perceber que O Escravo se distancia muito<br />
<strong>de</strong> tudo o que vinha sendo, até então, a tônica <strong>da</strong> produção nacional. E é<br />
preciso lembrar que <strong>Lúcio</strong> escreve esse drama na mesma época em que,<br />
publicando Luz no subsolo, sua carreira sofre uma guina<strong>da</strong> aproximando-se<br />
<strong>de</strong>finitivamente <strong>da</strong> linha “intimista” <strong>da</strong> Literatura. Foi justamente esse viés – o<br />
do intimismo – que ele preten<strong>de</strong>u levar ao palco <strong>de</strong> um país que, como já se<br />
observou, não estava muito habituado a isso. 71<br />
To<strong>da</strong>via, essa não foi uma escolha simples e sua realização <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>u<br />
<strong>de</strong> muito mais do que apenas orientação temática ou preferência pessoal.<br />
Explica Peter Szondi, em Teoria do drama mo<strong>de</strong>rno, que, originalmente, o<br />
70 Apesar disso, como se viu, o reacionarismo encontrava motivos <strong>de</strong> escân<strong>da</strong>los: Deus lhe pague foi<br />
censura<strong>da</strong> <strong>por</strong> seu conteúdo subversivo e a Crítica consi<strong>de</strong>rou Sexo uma peça violenta e ousa<strong>da</strong>.<br />
71 Embora já fosse <strong>de</strong> conhecimento do público autores como Ibsen. Sobre a recepção <strong>de</strong> Ibsen no Brasil,<br />
cf: FARIA, 2001:236-245.
drama é “a forma poética do fato presente e intersubjetivo” (2004:91), ou seja,<br />
é uma peça que leva aos palcos um fato do momento presente <strong>de</strong>vendo ser<br />
resolvido através <strong>da</strong> relação intersubjetiva <strong>da</strong>s personagens que nele estão<br />
envolvidos. Por “relação intersubjetiva” <strong>de</strong>ve-se compreen<strong>de</strong>r “oposições que<br />
almejam sua superação” (SZONDI: 2001:108) a ser alcança<strong>da</strong> através do<br />
diálogo:<br />
142<br />
... a totali<strong>da</strong><strong>de</strong> do drama é <strong>de</strong> origem dialética. Ela não se <strong>de</strong>senvolve<br />
graças à intervenção do eu-épico na obra, mas mediante a<br />
superação, sempre efetiva<strong>da</strong> e novamente <strong>de</strong>struí<strong>da</strong>, <strong>da</strong> dialética<br />
intersubjetiva, que no diálogo se torna linguagem. Portanto, também<br />
nesse último aspecto o diálogo é o su<strong>por</strong>te do drama. Da<br />
possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do diálogo <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do drama.<br />
(SZONDI, 2001:34)<br />
A <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> Szondi também <strong>de</strong>staca o caráter absoluto do drama, que<br />
exclui qualquer outra dimensão tem<strong>por</strong>al ou espacial além do “aqui” e do<br />
“agora” e que, só em situações excepcionais, admite recursos como o<br />
monólogo ou o aparte.<br />
Por esses motivos, o intimismo no palco é um problema: como <strong>da</strong>r<br />
reali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>dramática</strong> a uma vi<strong>da</strong> essencialmente oculta? O drama, que se<br />
baseia na relação intersubjetiva, <strong>de</strong> repente se vê confinado à representação<br />
intrasubjetiva; sendo uma forma literária que prima pela abertura e franqueza<br />
dialógicas, vê-se constrangido a representar os acontecimentos velados <strong>da</strong><br />
interiori<strong>da</strong><strong>de</strong> humana. Portanto, ao optar <strong>por</strong> levar aos palcos não um “fato do<br />
momento presente” mas os conflitos interiores <strong>de</strong> almas atormenta<strong>da</strong>s <strong>por</strong><br />
situações cujas raízes estão no passado, <strong>Lúcio</strong> infringiu várias premissas do<br />
drama.<br />
Em primeiro lugar, interessa ao dramaturgo muito mais o conflito interno<br />
<strong>da</strong> personagem do que as ações que ela <strong>de</strong>senvolve – e, nesse sentido, não<br />
“acontecerá” quase na<strong>da</strong> na peça. Tome-se, <strong>por</strong> exemplo, O Filho Pródigo.<br />
Interessa ao dramaturgo a angústia em que vivem Assur e Aíla. Não se mostra,<br />
em cena, <strong>por</strong> que motivo o Pai os con<strong>de</strong>na àquela reclusão, nem <strong>por</strong> que Aíla<br />
foi <strong>de</strong>stina<strong>da</strong> àquela vi<strong>da</strong>; também não se mostram os anos que Assur passou<br />
fora, como enriqueceu, o que viveu <strong>por</strong>que só interessam a inveja e o rancor,<br />
calcados na humilhação, que sua volta <strong>de</strong>sperta em Manassés; e, ain<strong>da</strong>, não
se mostrará o que acontece <strong>de</strong>pois <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> parti<strong>da</strong> <strong>de</strong> Assur e que<br />
vivências mu<strong>da</strong>ram sua disposição íntima <strong>de</strong> tal forma que ele <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> voltar e<br />
aceitar tudo aquilo que repudiara em seu passado. Os acontecimentos em si<br />
não seduzem o dramaturgo, apenas o efeito <strong>de</strong>les na vi<strong>da</strong> íntima <strong>da</strong>s<br />
personagens ocupa-lhe a atenção.<br />
143<br />
Nesse sentido, Angélica é diferente. Ali, não é a vi<strong>da</strong> íntima <strong>da</strong><br />
protagonista o que interessa prioritariamente, mas a ação pre<strong>da</strong>tória (frustra<strong>da</strong>)<br />
que empreen<strong>de</strong> para manter-se jovem e bela. Po<strong>de</strong>-se acusar algum exagero<br />
no suicídio final ou inverossimilhança na parti<strong>da</strong> <strong>da</strong> emprega<strong>da</strong>, mas, sem<br />
dúvi<strong>da</strong>, era uma peça que se afastava do viés <strong>de</strong> acentuado intimismo <strong>da</strong>s<br />
obras anteriores.<br />
Em segundo lugar, é preciso consi<strong>de</strong>rar que, ao optar <strong>por</strong> representar<br />
fatos psíquicos, em geral eles terão sua raiz no passado e não no momento em<br />
que o presente <strong>da</strong> peça se situa. A obra precisará <strong>de</strong>senvolver a “revelação<br />
<strong>dramática</strong> <strong>de</strong> um passado silencioso e imerso no íntimo, ou seja, <strong>de</strong> um<br />
passado que escapa à abertura <strong>dramática</strong>” (SZONDI:2001:67). E, não raro, o<br />
tema não será na<strong>da</strong> do que se passou, mas o próprio passado. E é preciso<br />
consi<strong>de</strong>rar que, to<strong>da</strong> vez que o dramaturgo resolve fazer do passado o tempo<br />
predominante <strong>da</strong> cena <strong>dramática</strong> através <strong>da</strong> rememoração, o diálogo sofre as<br />
conseqüências <strong>de</strong>ssa escolha tornando-se inviável mantê-lo em sua forma<br />
intersubjetiva (que correspon<strong>de</strong> ao mo<strong>de</strong>lo original do drama).<br />
É a situação em que se encontram Marcos e sua família, em O Escravo.<br />
No presente, nenhum <strong>de</strong>les possui qualquer coisa que justifique uma ação<br />
<strong>dramática</strong>. Na noite chuvosa e na madruga<strong>da</strong> que a segue, os motivos são<br />
retirados <strong>da</strong> alma <strong>da</strong>s personagens para serem trazidos à cena e, nesse<br />
processo, interessa menos o que acontece no presente (o retorno <strong>de</strong> Marcos à<br />
casa, a constatação dos sentimentos <strong>da</strong> cunha<strong>da</strong>, suas discussões com a irmã)<br />
do o que se viveu no passado. Os acontecimentos não interessam em função<br />
<strong>de</strong>les mesmos, mas no que ocultam, no que se encontra atrás ou entre eles. O<br />
rancor e a culpa <strong>de</strong> que as personagens são prisioneiras, além <strong>de</strong><br />
impossibilitarem qualquer relação intersubjetiva (tanto entre elas quanto com o<br />
mundo externo), limitam suas possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> comunicação (já foi visto como
suas falas dizem e redizem as mesmas coisas) enquanto elas vegetam na<br />
inação. Em A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, acontece um problema semelhante. O primeiro<br />
ato <strong>de</strong>dica-se quase inteiramente, através <strong>da</strong> conversa entre o marido e a<br />
emprega<strong>da</strong> e entre ele e o médico, a <strong>de</strong>senhar para o espectador o perfil <strong>de</strong><br />
Gina, fazendo do presente apenas um pretexto para evocar o passado <strong>da</strong><br />
protagonista.<br />
144<br />
Em terceiro lugar, para alcançar o que almejava, <strong>Lúcio</strong> precisou se<br />
concentrar em sua personagem central intensificando-a ao máximo, <strong>por</strong>que<br />
não é cabível representar várias “vi<strong>da</strong>s psíquicas” num mesmo palco <strong>da</strong><br />
mesma forma que, num romance <strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> consciência, não são possíveis<br />
vários fluxos simultâneos sob pena <strong>de</strong> enfraquecer a representação que se<br />
almeja alcançar: muitos focos acabam <strong>por</strong> diluir a <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> do conflito que se<br />
preten<strong>de</strong> enfocar. Esse é um dos problemas <strong>de</strong> O Filho Pródigo que, como se<br />
enumerou acima, procurou explorar as reações <strong>de</strong> várias personagens ao<br />
longo <strong>da</strong> peça e acabou não tendo sucesso com nenhum <strong>de</strong>les.<br />
Consi<strong>de</strong>rando, entretanto, A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata e Angélica, essa<br />
necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> explica as críticas dirigi<strong>da</strong>s tanto a Gina quanto a Angélica <strong>de</strong>,<br />
como protagonistas, serem as únicas personagens efetivas <strong>da</strong>queles dramas<br />
cardosianos, ao passo que as <strong>de</strong>mais não passariam <strong>de</strong> meros esboços no<br />
contexto dos dramas.<br />
Por outro lado, e po<strong>de</strong>-se consi<strong>de</strong>rar este o quarto ponto problemático<br />
<strong>da</strong> opção cardosiana, essa hipertrofia <strong>de</strong> uma personagem acaba <strong>por</strong> acarretar<br />
a supressão <strong>da</strong> relação intersubjetiva – já que não há nenhum personagem<br />
capaz <strong>de</strong> contracenar à altura com o protagonista – e, <strong>por</strong> conseqüência, <strong>da</strong>s<br />
possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s do diálogo, que se <strong>de</strong>spe<strong>da</strong>ça.<br />
Como mostra SZONDI (2001), a inviabili<strong>da</strong><strong>de</strong> do diálogo é índice <strong>da</strong><br />
crise do drama mo<strong>de</strong>rno. Para tentar remediar essa situação, uma <strong>da</strong>s saí<strong>da</strong>s<br />
encontra<strong>da</strong>s <strong>por</strong> dramaturgos europeus foi o apelo às chama<strong>da</strong>s “peças <strong>de</strong><br />
conversação” que “giram em torno <strong>de</strong> questões como o direito <strong>de</strong> voto para as<br />
mulheres, amor livre, direito <strong>de</strong> divórcio, mesaliance, industrialização e<br />
socialismo.” (SZONDI, 2001:106). Aqui no Brasil, sob a <strong>de</strong>signação <strong>de</strong> “teatro<br />
<strong>de</strong> idéias” e com temáticas muito mais mo<strong>de</strong>stas, elas aparecem na produção
<strong>de</strong> Álvaro Moreyra e <strong>de</strong> Joracy Camargo, como se viu no segmento 2.2 <strong>de</strong>sta<br />
Tese. Contudo, as “peças <strong>de</strong> conversação” não eram uma solução para a<br />
impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do diálogo <strong>por</strong>que, se permitiam falas que dissertavam sobre o<br />
tema, elas não constituíam, <strong>de</strong> modo algum, um diálogo intersubjetivo entre as<br />
personagens nem aju<strong>da</strong>vam a superar as questões dialéticas em que<br />
pu<strong>de</strong>ssem estar envolvi<strong>da</strong>s.<br />
145<br />
Uma outra saí<strong>da</strong> para o impasse em que caiu o diálogo, segundo Szondi<br />
(2001), foi recorrer ao confinamento – solução que aparece em A casa <strong>de</strong><br />
Bernar<strong>da</strong> Alba (García Lorca) e Huis Clos (Sartre). O confinamento, explica<br />
Szondi ao analisar essa alternativa, obriga as personagens a falar forçando a<br />
superação <strong>da</strong> mu<strong>de</strong>z que o ensimesmamento causa:<br />
O discurso <strong>de</strong> um fere, no sentido literal <strong>da</strong> palavra, o outro, quebra<br />
seu confinamento e força à réplica. O estilo dramático, ameaçado <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>struição pela impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> diálogo, é salvo quando, no<br />
confinamento, o próprio monólogo se torna impossível e volta a<br />
transformar-se necessariamente em diálogo. (SZONDI, 2001:114)<br />
No entanto, é preciso consi<strong>de</strong>rar que o isolamento só se justifica no<br />
palco quando, traduzindo uma situação peculiar à vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s personagens, é<br />
<strong>de</strong>terminante <strong>de</strong> seus <strong>de</strong>stinos: <strong>por</strong> exemplo, no drama <strong>de</strong> Bernar<strong>da</strong> Alba que,<br />
viúva e cumprindo uma tradição familiar <strong>de</strong> luto, tranca-se em casa<br />
transformando-a numa prisão para si mesma e para as filhas.<br />
Diferente é a situação em que as personagens são encontra<strong>da</strong>s em<br />
confinamento graças a algum acontecimento anterior e que não lhes é<br />
característico, mas que se torna essencial para a sua apresentação <strong>dramática</strong>:<br />
“São obras cujo palco é constituído <strong>por</strong> uma prisão, <strong>por</strong> uma casa aferrolha<strong>da</strong>,<br />
um escon<strong>de</strong>rijo ou um posto militar isolado.” (SZONDI, 2001:117). A justificativa<br />
<strong>de</strong> tal estratégia refere-se a algum acontecimento anterior ao presente<br />
dramático, cuja origem acaba se esclarecendo graças a um procedimento<br />
ligado ao épico (narra-se o fato a um estranho recém-chegado, <strong>por</strong> exemplo).<br />
Tal como nas peças <strong>de</strong> conversação, a saí<strong>da</strong> do impasse dramático é mais<br />
aparente que efetiva:<br />
“Da artificiali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> tais medi<strong>da</strong>s pa<strong>de</strong>ce essa dramaturgia; os<br />
meios empregados com intuito <strong>de</strong> torná-la possível são numerosos
146<br />
<strong>de</strong>mais para que o espaço temático não sofra <strong>da</strong>nos. Esse<br />
salvamento do estilo dramático só po<strong>de</strong> obter justificação artística se<br />
consegue <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>r-se <strong>de</strong> sua artificiali<strong>da</strong><strong>de</strong>” (SZONDI, 2001:117)<br />
Essa foi a saí<strong>da</strong> tenta<strong>da</strong> <strong>por</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e, embora a Crítica <strong>da</strong> época<br />
não tenha conseguido precisar, boa parte <strong>de</strong> seus problemas <strong>de</strong>rivou <strong>de</strong>sta<br />
opção que <strong>da</strong>va um tom artificial às situações leva<strong>da</strong>s à cena. Em O Escravo,<br />
não há fato que justifique a <strong>clausura</strong> voluntária <strong>da</strong>quela família, bem como não<br />
há explicação plausível para o confinamento <strong>de</strong> Gina ou para o isolamento <strong>da</strong><br />
família <strong>de</strong> O Filho Pródigo. Apenas em Angélica, essa estratégia pareceu<br />
natural <strong>por</strong>que o caráter <strong>da</strong> protagonista justificava sua opção em manter-se<br />
distante <strong>da</strong>s pessoas ocultando seu vampirismo e viabilizando sua ação<br />
pre<strong>da</strong>tória.<br />
É notável o fato <strong>de</strong> que, ao criar essas situações, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> repetiu<br />
nos palcos a condição que já se conhecia <strong>de</strong> seus romances e que foi reitera<strong>da</strong><br />
nas novelas, contem<strong>por</strong>âneas <strong>de</strong> sua ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> dramatúrgica.<br />
A “<strong>clausura</strong>” é uma situação em que se verifica a oposição do indivíduo à<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. Portanto, não po<strong>de</strong> existir no vazio: sua configuração <strong>de</strong>ixa implícita<br />
a idéia <strong>de</strong> um mundo do qual a personagem <strong>de</strong>seja se afastar. E, conforme<br />
analisa Schwarz 72 , esse afastamento <strong>de</strong>ve ser consi<strong>de</strong>rado sob dois aspectos:<br />
objetivamente, como recusa <strong>de</strong> um mundo <strong>de</strong>terminado, para o qual a<br />
personagem se fecha; e, subjetivamente, na intenção que ela <strong>de</strong>clara. Dessa<br />
forma, o sentido <strong>da</strong> <strong>clausura</strong> po<strong>de</strong> residir tanto no que a criatura nega, pelo<br />
afastamento, quanto no que afirma.<br />
Se, na configuração do mundo on<strong>de</strong> a personagem se movimenta, os<br />
motivos <strong>da</strong> sua <strong>clausura</strong> forem significativos para a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> em que vive, sua<br />
posição indicia uma contradição <strong>de</strong>sta socie<strong>da</strong><strong>de</strong> representa<strong>da</strong> e seu<br />
com<strong>por</strong>tamento ganha vali<strong>da</strong><strong>de</strong>. Ele expõe uma contradição real e é uma<br />
posição que po<strong>de</strong>ria ser adota<strong>da</strong> <strong>por</strong> outros homens.<br />
Mas se, ao contrário, a personagem aparece sozinha e cega em suas<br />
convicções, sem um universo social que justifique seu afastamento, sua solidão<br />
a fará parecer um ser extraviado que apenas <strong>de</strong>veria ser reconduzi<strong>da</strong> à<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. Sua <strong>clausura</strong> aparecerá como uma insensatez individual e não dirá<br />
72 Cf: SCHWARZ, 2001:109-131.
na<strong>da</strong> sobre o mundo à sua volta. Exatamente nisso, falha o teatro cardosiano:<br />
falta aos seus dramas o horizonte social no qual as personagens se<br />
movimentam e contra o qual se opõem.<br />
147<br />
É <strong>por</strong> isso que a novela Mãos Vazias, <strong>por</strong> exemplo, embora tenha o<br />
mesmo tema <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata – a insatisfação <strong>da</strong> protagonista com o papel<br />
social que lhe cabe – tem uma realização literária muito superior ao do drama.<br />
Bueno chega a consi<strong>de</strong>rá-la “A mais complexa história sobre uma mulher<br />
escrita <strong>por</strong> um homem nos anos 30” (2001:422). A narrativa, que dura cerca <strong>de</strong><br />
um dia, acompanha a trajetória <strong>de</strong> I<strong>da</strong> pela pequena ci<strong>da</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong> mora com o<br />
marido enquanto avalia sua vi<strong>da</strong> interior.<br />
Tal como Gina, I<strong>da</strong> é uma mulher insatisfeita no casamento e que não se<br />
conforma com seu papel social <strong>de</strong> “mulher nasci<strong>da</strong> para o amor”. Como ela,<br />
seu com<strong>por</strong>tamento diferente também levantou suspeitas no lugar on<strong>de</strong> vivia e<br />
as <strong>de</strong>sconfianças também estiveram presentes quando ia se casar:<br />
“Tinham dito a Felipe que não se casasse, era ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que não<br />
podiam mostrar nenhum fato escabroso na sua vi<strong>da</strong>, mas quem se<br />
enganava com a reali<strong>da</strong><strong>de</strong> que a habitava e que parecia <strong>de</strong>nunciá-la<br />
entre as outras. Ela era uma <strong>de</strong>ssas mulheres que trazem no rosto o<br />
seu <strong>de</strong>stino.” (CARDOSO, 1968:50)<br />
Quando a história se inicia, o filho único <strong>da</strong> protagonista acaba <strong>de</strong> morrer<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> muito sofrimento causado <strong>por</strong> uma longa doença. Seu marido, um<br />
tanto teatralmente, manifesta sua dor e ela, exausta pelos dias ao lado <strong>da</strong><br />
criança, <strong>de</strong>smaia e só volta a si <strong>de</strong>pois que o enterro já aconteceu. Desperta,<br />
vê, no quarto, o médico que cui<strong>da</strong>ra do filho e se entrega a ele.<br />
“Ao amanhecer, quando o médico já tinha partido, ela sentiu que<br />
esses acontecimentos <strong>de</strong>slizavam tranqüilamente para a sombra.<br />
Nenhum <strong>de</strong>les <strong>de</strong>ixava a mais leve marca em sua consciência.”<br />
(CARDOSO, 1968:26)<br />
Começa então a caminha<strong>da</strong> <strong>de</strong> I<strong>da</strong>. Será uma viagem física já que,<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> relatar tudo ao marido, ela <strong>de</strong>ixa a casa, e psíquica, <strong>por</strong>que ela<br />
buscará compreen<strong>de</strong>r as razões <strong>de</strong> seu com<strong>por</strong>tamento. A resposta mais<br />
óbvia, que caracterizaria apenas um com<strong>por</strong>tamento leviano e integraria
personagem na galeria <strong>da</strong>s mulheres oblíquas e dissimula<strong>da</strong>s <strong>da</strong> Literatura, é<br />
rechaça<strong>da</strong>:<br />
148<br />
“E, já <strong>de</strong>scendo os <strong>de</strong>graus do jardim, ocorreu-lhe afinal que tinha se<br />
entregue ao médico friamente, sem nenhum <strong>de</strong>sejo.” (CARDOSO,<br />
1968:30)<br />
I<strong>da</strong> sabe que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a infância, alguma coisa a diferenciava <strong>da</strong>s <strong>de</strong>mais<br />
mulheres que compunham seu ambiente familiar e social:<br />
“As mulheres <strong>da</strong> casa tinham to<strong>da</strong>s, a expressão <strong>de</strong> um bem-estar<br />
adquirido, <strong>de</strong> uma sereni<strong>da</strong><strong>de</strong> acima <strong>de</strong>ssas mesquinhas<br />
preocupações. Não <strong>de</strong>sejavam na<strong>da</strong>, eram humil<strong>de</strong>s e pareciam<br />
pesar os menores gestos como se não ignorassem que mais tar<strong>de</strong><br />
seriam pedi<strong>da</strong>s contas <strong>por</strong> suas ações.” (CARDOSO, 1968:75)<br />
Sua única amiga é Ana, não <strong>por</strong> acaso uma mulher mal vista na<br />
pequena ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>por</strong> que vivia “com um homem que talvez não fosse seu<br />
marido” (CARDOSO, 1968:23). No entanto, quando vai procurá-la, I<strong>da</strong> constata<br />
a distância que as separa emocionalmente:<br />
– Ana, é possível que você viva conforma<strong>da</strong> com a sua existência?<br />
A outra erguera a cabeça e apenas um brilho rápido passara nos<br />
seus olhos:<br />
– Tenho marido. De que preciso mais?” (CARDOSO, 1968:32)<br />
E é, exatamente, <strong>por</strong>que precisa <strong>de</strong> mais que I<strong>da</strong> se marca como uma<br />
exceção naquela socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. A narrativa, enfocando sua vi<strong>da</strong> interior e seus<br />
conflitos, torna sutis as suas escolhas, matizando os papéis femininos<br />
tradicionalmente atribuídos às mulheres – a esposa/mãe santifica<strong>da</strong>:<br />
E, mesmo, ela já não podia tolerar aquela vi<strong>da</strong> <strong>de</strong> sombra, vigiando<br />
continuamente as travessuras do pequeno. (CARDOSO, 1968:39)<br />
ou a prostituta. E não o faz através <strong>de</strong> digressões <strong>de</strong> um Autor que <strong>de</strong>seja<br />
postular uma nova moral sexual, mas através do com<strong>por</strong>tamento angustiado e<br />
<strong>da</strong>s perplexi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>da</strong>s próprias personagens. É o que se vê já nas cenas finais,<br />
quando Felipe tenta convencer-se e convencer a esposa <strong>de</strong> que tudo po<strong>de</strong><br />
voltar a ser como antes, já que apenas Ana, o médico e eles mesmos sabiam<br />
do adultério cometido. Para o marido, é preciso que I<strong>da</strong> volte para a casa e<br />
para o casamento a fim <strong>de</strong> evitar comentários na ci<strong>da</strong><strong>de</strong>. De qualquer maneira,
podia-se atribuir o gesto <strong>da</strong> esposa ao esgotamento nervoso causado pela<br />
<strong>de</strong>dicação maternal ao filho morto. Mas I<strong>da</strong> recusa a solução que, para ele e<br />
para Ana, seria a i<strong>de</strong>al e, sem saber explicar claramente seus motivos, acaba<br />
assumindo para si a única razão que Felipe po<strong>de</strong>ria enten<strong>de</strong>r: já que não<br />
consegue ser feliz no papel tradicional <strong>de</strong> esposa, resta-lhe adotar o outro que<br />
aquela socie<strong>da</strong><strong>de</strong> reservou para as mulheres:<br />
149<br />
– Não sabe então que entre nós tudo é impossível?<br />
(...)<br />
– Mas <strong>por</strong> quê, I<strong>da</strong>, <strong>por</strong> quê?<br />
Ela voltou a cabeça, mor<strong>de</strong>u os lábios:<br />
– Não é <strong>por</strong> sua causa, eu mesma é que não presto.” (CARDOSO,<br />
1968:98)<br />
Ao ouvir esse discurso, Felipe consegue escutar o que ela vinha<br />
tentando lhe dizer: que o casamento acabara. Não pelos motivos que o leitor<br />
vem acompanhando e tentando, junto com a protagonista, divisar, mas pelo<br />
único que um homem como ele, inserido naquela socie<strong>da</strong><strong>de</strong>, po<strong>de</strong>ria<br />
compreen<strong>de</strong>r. As palavras foram imediatamente aceitas como ver<strong>da</strong><strong>de</strong> e<br />
geraram uma reação violenta:<br />
E, <strong>de</strong> repente, tonto, ergueu a mão, esbofeteou-a raivosamente,<br />
exclamando:<br />
– Sua ordinária, sua ordinária, coisa ruim!<br />
(...)<br />
Felipe expandia-se em palavrões atirados à meia-voz, sem nenhum<br />
controle.<br />
(CARDOSO, 1968:104)<br />
E I<strong>da</strong> percebe que, naquela ci<strong>da</strong><strong>de</strong>, não há espaço para seus <strong>de</strong>sejos.<br />
Caminha até os fundos <strong>da</strong> casa e, entrando no rio, <strong>de</strong>ixa-se morrer. Segundo<br />
Bueno, sua morte ganha especial significação:<br />
O rio é o único elemento <strong>da</strong>quela paisagem que vai para algum lugar<br />
além do vale que lhe fecha os caminhos tanto quanto o espaço<br />
reservado <strong>da</strong> casa. Sua <strong>de</strong>sistência é também a procura radical <strong>por</strong><br />
uma saí<strong>da</strong> que ain<strong>da</strong> não existe. (BUENO, 2001:427-428)<br />
Embora, como já ficou assinalado em A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, Gina também<br />
se recuse a ser apenas uma mulher que cumpre com seus <strong>de</strong>veres <strong>de</strong> esposa<br />
e acata os direitos do marido – expressões que a irritam e a levam a reagir
sempre agressivamente – a situação retrata<strong>da</strong> pela novela ganha uma<br />
<strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> muito maior <strong>por</strong>que consegue com<strong>por</strong> um ambiente social no qual a<br />
recusa <strong>de</strong> I<strong>da</strong> ganha sentido. Nas personagens do marido, do médico e <strong>da</strong><br />
amiga <strong>de</strong> juventu<strong>de</strong>, <strong>Lúcio</strong> consegue representar diferentes visões <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong> em que a protagonista está inseri<strong>da</strong> e, com isso, o com<strong>por</strong>tamento<br />
<strong>de</strong> I<strong>da</strong> <strong>de</strong>sdobra conflitos <strong>da</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong> empírica.<br />
150<br />
Não à toa, um crítico <strong>da</strong> época resumiu o drama <strong>da</strong> personagem como<br />
falta <strong>de</strong> vergonha na cara 73 , mostrando que o com<strong>por</strong>tamento <strong>da</strong>s mulheres<br />
fora <strong>da</strong>s páginas literárias ain<strong>da</strong> estava igualmente marcado <strong>por</strong> concepções<br />
<strong>de</strong> extremos (ou <strong>de</strong> família, ou <strong>da</strong> rua) e que os matizes, só pouco a pouco,<br />
iam-se tornando mais claros também para a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> dos anos 30 e 40.<br />
Nesse contexto, a opção <strong>de</strong> I<strong>da</strong> pelo isolamento convi<strong>da</strong>ria à reflexão sobre a<br />
socie<strong>da</strong><strong>de</strong> que provocou aquele com<strong>por</strong>tamento <strong>por</strong>que a <strong>clausura</strong> indicia as<br />
contradições sociais entre o status quo e as novas aspirações emergentes que<br />
se singularizaram naquele indivíduo.<br />
Já no drama, embora Gina se faça acompanhar, em cena, também <strong>de</strong><br />
um marido, <strong>de</strong> um médico e <strong>de</strong> uma emprega<strong>da</strong> que a conhece <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
infância (<strong>por</strong>tanto, personagens análogos aos <strong>da</strong> novela), na composição <strong>de</strong><br />
seus caracteres e na construção <strong>de</strong> seus diálogos, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> não<br />
conseguiu sintetizar um horizonte social que <strong>de</strong>sse sustentação ao conflito <strong>da</strong><br />
personagem principal. Por isso, ao contrário <strong>de</strong> I<strong>da</strong>, a <strong>clausura</strong> <strong>de</strong> Gina surge<br />
como uma insensatez individual, uma loucura socialmente inconseqüente<br />
<strong>por</strong>que, como a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> pali<strong>da</strong>mente representa<strong>da</strong> aparece como<br />
harmônica, a diferença <strong>da</strong> protagonista não traz qualquer reflexão para a<br />
reali<strong>da</strong><strong>de</strong> empírica. O isolamento aparece como um problema psíquico<br />
individual e <strong>de</strong>ixa intacta a vi<strong>da</strong> social.<br />
Essa comparação remete às análises que SZONDI <strong>de</strong>senvolve na obra<br />
a que venho fazendo referência. Segundo o crítico, entre os anos <strong>de</strong> 1880 e<br />
1950, na Europa, autores e obra teatrais negaram “em seu conteúdo o que, <strong>por</strong><br />
fi<strong>de</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong> à tradição [quiseram] continuar a enunciar formalmente: a atuali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
intersubjetiva” (2001:92). Nesse processo, o caráter absoluto <strong>da</strong> forma<br />
73 Cf: capítulo 3 <strong>de</strong>sta Tese.
<strong>dramática</strong> foi abalado <strong>por</strong>que, como venho <strong>de</strong>lineando, a relação intersubjetiva<br />
foi substituí<strong>da</strong> pela exploração <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> interior, a atuali<strong>da</strong><strong>de</strong> tem<strong>por</strong>al foi<br />
relativiza<strong>da</strong>, e o diálogo tradicional tornou-se inviável. Autores como Ibsen,<br />
Tchékhov, Strindberg, Maeterlink e Hauptmann, nas diferentes opções<br />
temáticas que escolheram, fizeram parte <strong>de</strong>sse momento <strong>de</strong> transição:<br />
151<br />
O problema <strong>de</strong> Ibsen é a representação do tempo passado e<br />
interiormente vivido em uma forma poética que não conhece a<br />
interiori<strong>da</strong><strong>de</strong> senão em sua objetivação, que não conhece o tempo<br />
senão em seu momento presente. Ele o soluciona inventando<br />
situações em que os homens passam a ser juiz <strong>de</strong> seu próprio<br />
passado rememorado e o colocam <strong>de</strong>sse modo na abertura do<br />
presente. O mesmo problema se põe Strindberg em Sonata dos<br />
espectros. Ele é resolvido pela introdução <strong>de</strong> uma personagem que<br />
tem conhecimento sobre to<strong>da</strong>s as <strong>de</strong>mais e po<strong>de</strong> assim, no interior<br />
<strong>da</strong> fábula <strong>dramática</strong>, tornar-se o seu narrador épico. Os homens <strong>de</strong><br />
Maeterlink são vítimas mu<strong>da</strong>s <strong>da</strong> morte. A cena <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> Interior<br />
mostra-os como personagens mu<strong>da</strong>s na parte interna <strong>da</strong> casa. O<br />
diálogo, que as toma <strong>por</strong> objeto, é mantido <strong>por</strong> duas figuras que as<br />
observam <strong>da</strong> janela. Em Antes do nascer do sol, Hauptmann faz com<br />
que os homens a serem representados recebam a figura <strong>de</strong> um<br />
estranho. Em Os tecelões, os diversos atos representam situações<br />
narrativas ou <strong>de</strong> revista. Por fim, Tchékhov soluciona o problema <strong>de</strong><br />
representar a impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do diálogo na forma dialógica do drama<br />
ao introduzir um surdo e <strong>de</strong>ixar que os homens falem sem se<br />
enten<strong>de</strong>rem. (SZONDI, 2001:94)<br />
Portanto, a <strong>de</strong>speito <strong>de</strong> suas diferenças, uma peculiari<strong>da</strong><strong>de</strong> aproxima<br />
esses autores: para resolver as cita<strong>da</strong>s dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s, surgem em suas obras<br />
elementos característicos do gênero épico que contaminam essa mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>dramática</strong>. Particularmente, interessa a essa Tese o fato <strong>de</strong> que a narração<br />
ocupa o lugar <strong>da</strong> ação quando o passado substitui o presente, tempo do drama<br />
<strong>por</strong> excelência. Como não é possível representá-lo (o passado), ele só po<strong>de</strong> vir<br />
à cena através <strong>da</strong> rememoração, o que provoca o abalo na relação<br />
intersubjetiva e transtorna o diálogo. Diz Szondi sobre a opção <strong>de</strong> representar a<br />
vi<strong>da</strong> interior <strong>da</strong> personagem, como almeja Ibsen:<br />
... sua representação direta é absolutamente impossível. E ela [essa<br />
temática] requer a técnica analítica não só para obter uma maior<br />
<strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong>. Sendo na essência matéria <strong>de</strong> romance, ela só po<strong>de</strong><br />
ganhar o palco graças a essa técnica. Mas mesmo assim, ela [a<br />
temática] permanece, em última instância, estranha a ele [ao palco]...<br />
ela continua exila<strong>da</strong> no passado e na interiori<strong>da</strong><strong>de</strong>. (SZONDI,<br />
2001:44, grifo meu)
152<br />
Isso explica, formalmente, a “sensação” que um estudioso tem quando<br />
se <strong>de</strong>bruça sobre a produção <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> e a coteja com seus<br />
romances e novelas: o Autor mineiro era, essencialmente, um romancista e<br />
foram procedimentos épicos que contaminaram sua cena <strong>dramática</strong> para que<br />
ele pu<strong>de</strong>sse levar ao palco o <strong>de</strong>svelamento <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> psíquica <strong>de</strong> suas<br />
personagens tal como seu i<strong>de</strong>al o concebia 74 . Por isso, como se po<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r <strong>da</strong> comparação entre Mãos vazias e A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, a<br />
representação <strong>da</strong> <strong>clausura</strong> foi muito mais bem realiza<strong>da</strong> na novela que no<br />
drama. Faltou ao seu teatro, talvez, amadurecimento que encontrasse soluções<br />
formais capazes <strong>de</strong> amparar o que sua temática gostaria <strong>de</strong> expressar, como<br />
alcançaram outros dramaturgos como Strindberg, na fase madura, com seus<br />
“dramas <strong>de</strong> estação” 75 , e Sartre, com o teatro apoiado em princípios<br />
existencialistas que se harmonizaram com a estratégia do confinamento 76 .<br />
Levando em consi<strong>de</strong>ração tudo o que se pontuou até o momento, penso<br />
que O Filho Pródigo foi o drama mais problemático <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Além dos<br />
problemas já apontados (como a tentativa <strong>de</strong> son<strong>da</strong>gem interior <strong>de</strong> muitas<br />
personagens ao mesmo tempo, a falta <strong>de</strong> justificativa para o confinamento e<br />
um horizonte social timi<strong>da</strong>mente figurado), neste terceiro drama, Assur,<br />
aparentemente, volta para assumir seu lugar ao lado do Pai e para ratificar-lhe<br />
a Lei. A não ser que a apresentação se dê para um público apto a perceber,<br />
durante o espetáculo, a disfarça<strong>da</strong> ironia que perpassa O Filho Pródigo na<br />
leitura paródica que propõe do cânone bíblico 77 , a socie<strong>da</strong><strong>de</strong> não estaria posta<br />
em questão, mas seria antes confirma<strong>da</strong> pela reintegração <strong>da</strong>quele que se<br />
isolara, uma vez que o drama <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> lado a investigação <strong>da</strong>s razões <strong>de</strong> sua<br />
74 Como se assinalou na recepção crítica <strong>de</strong> O Escravo, Magaldi intuiu esse problema ao consi<strong>de</strong>rar que<br />
suas personagens têm “dramas <strong>de</strong>masiado compactos” para serem resolvidos no palco, além <strong>de</strong> fazer<br />
restrições às constantes rememorações e referências ao passado feitas nos diálogos. Cf: segmento 4.1.1<br />
<strong>de</strong>sta Tese.<br />
75 “No ‘drama <strong>de</strong> estação’, o herói, cuja evolução se <strong>de</strong>screve, é distinguido com máxima clareza <strong>da</strong>s<br />
personagens que encontra nas estações <strong>de</strong> seu caminho. Elas só aparecem na medi<strong>da</strong> em que encontram<br />
com o protagonista na perspectiva <strong>de</strong>le e em relação com ele. E, uma vez que a base do ‘drama <strong>de</strong><br />
estação’ não é constituído (sic) <strong>por</strong> um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> personagens colocados até certo ponto no<br />
mesmo nível, mas sim <strong>por</strong> um eu central, seu espaço não é, <strong>por</strong>tanto, dialógico a priori, e inclusive o<br />
monólogo per<strong>de</strong> aqui o caráter excepcional que necessariamente possui no drama. Mas só assim a<br />
abertura ilimita<strong>da</strong> <strong>de</strong> um ‘vi<strong>da</strong> psíquica oculta’ recebe uma fun<strong>da</strong>mentação formal.” (SZONDI, 2001:60)<br />
76 Cf: SZONDI, 2001: 113-121, em especial p.118-121.<br />
77 Cf: segmento 4.4.2 <strong>de</strong>sta Tese.
parti<strong>da</strong> para enfatizar seu retorno. E a sutileza <strong>de</strong>ssas referências serve muito<br />
mais ao estilo romanesco, cuja leitura calma e silenciosa pro<strong>por</strong>ciona muito<br />
maior atenção, que ao teatro e à audição <strong>da</strong>s falas, nem sempre segui<strong>da</strong>s com<br />
a mesma concentração.<br />
153<br />
Por outro lado, consi<strong>de</strong>ro que a melhor realização <strong>dramática</strong> <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> foi Angélica. Apesar <strong>da</strong>s falhas pontua<strong>da</strong>s, esse foi o drama que<br />
menos se preocupou com a son<strong>da</strong>gem interior <strong>de</strong> sua protagonista. A primeira<br />
cena, embora traga dois expedientes pouco usuais do drama, não o<br />
comprometem: o passado trazido à cena pela conversa <strong>da</strong>s vizinhas que, no<br />
entanto, soa muito natural e, sendo breve, não con<strong>de</strong>na a cena à rememoração<br />
característica <strong>de</strong> O Escravo ou A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata; e o monólogo <strong>de</strong> Angélica<br />
com o cadáver <strong>de</strong> sua última vítima, também breve 78 , que torna explícito tanto<br />
seu vampirismo quanto sua vai<strong>da</strong><strong>de</strong> e <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> juventu<strong>de</strong>, motivos <strong>de</strong> suas<br />
ações.<br />
O segundo e o terceiro atos indiciam que a peça abarca uma dimensão<br />
tem<strong>por</strong>al extensa, diferente <strong>de</strong> O Escravo e A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata que se passam<br />
em um único dia. As cenas trazem diálogos extensos sobre outros momentos<br />
(o interesse antigo do capataz pela jovem; as outras meninas que morreram na<br />
casa; os cui<strong>da</strong>dos <strong>de</strong> Angélica na doença <strong>de</strong> Lídia) que não o presente <strong>da</strong><br />
cena, <strong>de</strong>ixando implícito um eu-épico anunciador <strong>de</strong> que se passaram dias.<br />
Mas Angélica ain<strong>da</strong> consegue um resultado melhor que o <strong>de</strong> O Filho Pródigo<br />
que, tendo uma dimensão tem<strong>por</strong>al muito gran<strong>de</strong>, não só <strong>de</strong>ixa implícita a<br />
passagem dos dias como a representa no palco no ato final, recorrendo muito<br />
mais a esse expediente típico <strong>da</strong> forma romanesca – ou caracterizador <strong>de</strong> um<br />
“eu-épico”, para continuar a utilizar a nomenclatura <strong>de</strong> Szondi já <strong>de</strong>fini<strong>da</strong><br />
anteriormente.<br />
A linguagem utiliza<strong>da</strong> neste último drama se marca pela ironia que,<br />
como já foi assinalado anteriormente, perpassa vários níveis: o discurso <strong>da</strong>s<br />
vizinhas; o nome <strong>da</strong> protagonista; sua personali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> anjo <strong>de</strong>caído, que se<br />
78 É ver<strong>da</strong><strong>de</strong> que, embora o monólogo não seja o procedimento característico do drama, a produção<br />
teatral brasileira assinala em 1950, <strong>por</strong>tanto na mesma época <strong>da</strong> encenação <strong>de</strong> Angélica, a apresentação<br />
<strong>de</strong> As mãos <strong>de</strong> Eurídice, <strong>de</strong> Pedro Bloch. A peça, <strong>de</strong> um só ator, constitui-se um extenso monólogo em<br />
dois atos e, segundo seu autor, contou com “quinze mil representações legais e outras tantas clan<strong>de</strong>stinas<br />
em todo o mundo.” (BLOCH, 1963:11)
estampa no discurso religioso às avessas que ela faz. Ao lado <strong>da</strong> ironia,<br />
convivem clichês (“Serei para ela uma segun<strong>da</strong> mãe...”; “Mas como parece<br />
mais bela, um lírio molhado sob a chuva”; “Oh, então foi para isso que eu<br />
alimentei estas víboras junto ao coração”...) que, como linguagem já esvazia<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> sentido, reforçam a característica <strong>de</strong> um universo em <strong>de</strong>cadência<br />
mimetizado nos cenários.<br />
154<br />
Há também claros resquícios <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ntistas presentes na <strong>de</strong>scrição do<br />
espaço, nas aproximações intertextuais com Drácula e O Retrato <strong>de</strong> Dorian<br />
Gray, no gosto <strong>da</strong> protagonista pelo ócio e pelo <strong>da</strong>ndismo. Segundo<br />
Bau<strong>de</strong>laire, citado <strong>por</strong> Rosa e Silva, o <strong>da</strong>ndismo é um fenômeno típico <strong>da</strong>s<br />
épocas <strong>de</strong> transição “em que a <strong>de</strong>mocracia não se tornou ain<strong>da</strong> todo-po<strong>de</strong>rosa,<br />
em que a aristocracia está apenas parcialmente claudicante e vilipendia<strong>da</strong>.” 79<br />
E, diferente dos outros dramas, sua protagonista não se rebela contra<br />
ninguém: ao contrário, é ela quem enfrenta as oposições <strong>da</strong> jovem recém-<br />
adota<strong>da</strong> e <strong>de</strong> seu empregado. Ela é filha <strong>de</strong> família tradicional e é a dona <strong>da</strong><br />
casa on<strong>de</strong> o drama se <strong>de</strong>senrola. Representa, <strong>por</strong>tanto, a tradição e a<br />
proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> rural, já em crise naqueles anos. Lembrando o que já foi dito sobre<br />
Drácula, (que ele é um sobrevivente do antigo regime que tenta sobreviver à<br />
nova or<strong>de</strong>m mundial configura<strong>da</strong> na vira<strong>da</strong> do século), Angélica representaria a<br />
<strong>de</strong>rroca<strong>da</strong> <strong>de</strong> certa tradição, <strong>da</strong> nobreza <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte <strong>da</strong>s províncias e ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
estreitas e abafa<strong>da</strong>s, sem que, contudo, isso sinalize um horizonte <strong>de</strong><br />
esperança e autonomia para as Lídias, suas vítimas. Angélica e sua se<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
beleza e juventu<strong>de</strong> wil<strong>de</strong>anos expõem a face <strong>de</strong>moníaca <strong>da</strong>s estruturas<br />
ultrapassa<strong>da</strong>s <strong>de</strong> um Brasil que, em 1950, talvez já fosse consi<strong>de</strong>rado arcaico,<br />
mas que insistia em sobreviver.<br />
79 ROSA E SILVA, 1994: 49.
6- Fora <strong>de</strong> cena, outras vozes encenam<br />
155<br />
Mas não é <strong>de</strong> repetições que se compõe a ver<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ca<strong>da</strong> um, como as notas <strong>de</strong>staca<strong>da</strong>s, incisivas,<br />
<strong>da</strong> mesma extensa e amargura<strong>da</strong> melodia?<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, Diário Completo<br />
Qualquer leitor que estivesse minimamente familiarizado com o universo<br />
romanesco cardosiano e percorresse essas últimas páginas com a<br />
apresentação e avaliação <strong>de</strong> seus dramas teria, inevitavelmente, uma<br />
sensação <strong>de</strong> déjà vu. Diante <strong>de</strong>ssas criaturas, <strong>da</strong>s situações encena<strong>da</strong>s e <strong>da</strong>s<br />
próprias falas, inevitavelmente vêm à lembrança outras tantas criaturas,<br />
situações semelhantes, falas próximas.<br />
No encontro com O Escravo, <strong>por</strong> exemplo. A indicação <strong>da</strong> rubrica <strong>de</strong> que<br />
o cenário <strong>de</strong>ve retratar “uma casa velha, com indícios <strong>de</strong> ruína econômica,<br />
localiza<strong>da</strong> numa miserável al<strong>de</strong>ia” traz à memória, quase imediatamente, a<br />
casa <strong>de</strong> Pedro e Ma<strong>da</strong>lena (A Luz no Subsolo) ou a Fazen<strong>da</strong> Cata-Ventos,<br />
cenário <strong>de</strong> O Desconhecido ou a Chácara assassina<strong>da</strong> <strong>da</strong> família Meneses:<br />
... sei hoje que a construção, e mais que isto, a manutenção <strong>de</strong>sta<br />
Chácara, equivale a uma <strong>de</strong>spesa inútil e po<strong>de</strong>ria ser poupa<strong>da</strong>, se<br />
não achassem todos que abandonar Vila Velha, e esta mansão<br />
dispendiosa, fosse um <strong>de</strong>finitivo ato <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrédito para a família. (...)<br />
teria sido melhor contem<strong>por</strong>izar com a situação, remo<strong>de</strong>lando<br />
apenas a casa que hoje apodrece no contraforte <strong>da</strong> serra.<br />
(CARDOSO, 1991:35)<br />
Mesmo quando os enredos cardosianos têm, como espaço, a ci<strong>da</strong><strong>de</strong>, a<br />
mora<strong>da</strong> <strong>da</strong>s personagens evoca a mesma ambiência <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> seus<br />
romances <strong>da</strong> província. É, <strong>por</strong> exemplo, o caso do cenário <strong>de</strong> O Anfiteatro:<br />
Não sei se já expliquei que morávamos naquela época num velho<br />
casarão <strong>da</strong> Gávea. O prédio era realmente tão gran<strong>de</strong> e instalado em<br />
tão vasto centro <strong>de</strong> terreno que mais se assemelhava a uma quinta.<br />
E, como o gran<strong>de</strong> <strong>por</strong>tão colonial fosse la<strong>de</strong>ado <strong>por</strong> duas colunas e<br />
essas colunas encima<strong>da</strong>s <strong>por</strong> leões, chamavam-na a Quinta dos<br />
Leões, título que fazia a felici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> meu pai e <strong>de</strong> minha tia, ambos<br />
muito ciosos <strong>de</strong> títulos e coisas <strong>de</strong> fi<strong>da</strong>lguia. (CARDOSO, 1968:125)<br />
Ain<strong>da</strong> neste primeiro drama, quando Isabel, a irmã mais nova, entra em<br />
cena e a rubrica especifica que ela que se veste com roupas fora <strong>de</strong> uso e tem<br />
o aspecto doentio, é fácil lembrar uma <strong>da</strong>s primeiras <strong>de</strong>scrições <strong>de</strong> Ana
(Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>): ela “vestia-se com um vestido <strong>de</strong> um preto<br />
<strong>de</strong>sbotado, sem enfeites, e inteiramente fora <strong>de</strong> mo<strong>da</strong>.” (CARDOSO, 1991:69).<br />
156<br />
Contrastando com essa simplici<strong>da</strong><strong>de</strong> e trocando <strong>de</strong> palco, ao tomar<br />
conhecimento do luxo <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Angélica, “uma solteirona <strong>de</strong> meia-i<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
páli<strong>da</strong>, extravagantemente vesti<strong>da</strong>, com um luxo fantástico e ‘<strong>de</strong>modée’ (...)<br />
[que] Traz jóias excessivas, <strong>de</strong>monstrando uma visível vai<strong>da</strong><strong>de</strong>.”(CARDOSO,<br />
s/d:1), a recor<strong>da</strong>ção acor<strong>da</strong> Aurélia, patroa do Desconhecido e igualmente<br />
dona <strong>de</strong> uma fazen<strong>da</strong> <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> interior:<br />
José Roberto acompanhou-a, vendo <strong>de</strong>satarem-se na obscuri<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
as longas pregas do seu vestido <strong>de</strong> veludo. Realmente, ele nunca a<br />
tinha visto assim, vesti<strong>da</strong> com uma pompa tão solene, um apuro tão<br />
gran<strong>de</strong> nos menores <strong>de</strong>talhes. (...) viu faiscar sobre o seu peito<br />
magro uma enorme safira. Via-se que era um colar antigo, trabalho<br />
em ouro branco, representando um ramo <strong>de</strong> folhas miú<strong>da</strong>s que ia<br />
terminar na pedra solitária. (CARDOSO, 1969:221)<br />
Tanto a simplici<strong>da</strong><strong>de</strong> fora <strong>de</strong> mo<strong>da</strong> quanto o luxo <strong>de</strong>modée indiciam o<br />
“tempo estagnado” em que as personagens cardosianas se movimentam, seja<br />
nos dramas seja no universo romanesco.<br />
Em Angélica, além do cenário com traços <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência e dos trajes já<br />
comentados, o fato <strong>de</strong> a protagonista tratar as moças como simples objetos,<br />
sem se im<strong>por</strong>tar com suas individuali<strong>da</strong><strong>de</strong>s (fato que se explicita pelos vestidos<br />
que ela passa <strong>de</strong> uma para outra apenas fazendo pequenos ajustes) também<br />
lembra o com<strong>por</strong>tamento <strong>de</strong> Aurélia que, sem qualquer interesse pela<br />
i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> do novo empregado, dá-lhe o nome do anterior, que havia morrido e<br />
<strong>de</strong> quem, <strong>de</strong>scobre-se ao longo do livro, ela recebeu atenções que também<br />
espera receber do Desconhecido.<br />
Falando-se em personagens, ao leitor <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> já são íntimas as suas<br />
criaturas “gauches”, que se sentem à margem e sempre carregam consigo a<br />
impressão <strong>de</strong> “exílio”. To<strong>da</strong>s compartilham, em maior ou menor grau, <strong>da</strong><br />
<strong>de</strong>scrição que Cláudio, protagonista <strong>de</strong> O Anfiteatro faz <strong>de</strong> si mesmo:<br />
Decerto me compreen<strong>de</strong>rão sem esforço os que tiverem sido um dia<br />
órfão <strong>da</strong>s coisas – os tristes, os ina<strong>da</strong>ptados, os que transitam em<br />
<strong>de</strong>sespera<strong>da</strong> solidão, sem <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> pactuar e sem possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fugir, fortes <strong>de</strong>mais para esta vi<strong>da</strong>, frágeis <strong>de</strong>mais para a morte<br />
prematura. (...) Fui um <strong>de</strong>sses rapazes tristes que trazem em si um
157<br />
mundo muito gran<strong>de</strong>, em choque com o pequeno e bem organizado<br />
mundo dos outros, on<strong>de</strong> diferenças são loucuras, e erros, crimes<br />
imperdoáveis. (CARDOSO, 1968:145)<br />
Se Silas sempre fora, segundo Lisa, sua viúva, um menino triste, a ele<br />
juntam-se, <strong>de</strong>ntro <strong>da</strong> própria produção <strong>dramática</strong>, Gina <strong>de</strong> quem “na sua terra”<br />
todos diziam que “não regulava bem”; Hil<strong>da</strong>, a professora, que “Sempre fora<br />
assim, diferente <strong>da</strong>s outras, sem gosto, sem interesse pelas coisas,<br />
distancia<strong>da</strong>, fria, antipática” (CARDOSO, 1969:285) ou, ain<strong>da</strong>, I<strong>da</strong>, a<br />
protagonista <strong>de</strong> Mãos Vazias, que: “Fora uma menina esquisita, a sua ausência<br />
<strong>de</strong> relações era nota<strong>da</strong> na pequena ci<strong>da</strong><strong>de</strong>.” (CARDOSO, 1969:23). E ain<strong>da</strong><br />
po<strong>de</strong>ríamos citar Pedro (A Luz no Subsolo), José Roberto (O Desconhecido) e<br />
todos os protagonistas <strong>da</strong>s obras cardosianas.<br />
E, se a forma <strong>de</strong> viver os i<strong>de</strong>ntifica, as mortes também os aproximam. A<br />
proximi<strong>da</strong><strong>de</strong> entre I<strong>da</strong> e Silas fica implícita também na sugestão <strong>de</strong> que ele<br />
tenha cometido suicídio, que foi o mesmo caminho escolhido pela mulher para<br />
pôr fim às suas angústias. Mas a morte também é o fim <strong>de</strong> Pedro, que leva<br />
Ma<strong>da</strong>lena a envenená-lo; <strong>de</strong> Angélica que, como Marcos, atira em si mesma;<br />
<strong>de</strong> José Roberto, que morre <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> assassinar Paulo...<br />
Também em O Filho Pródigo não estão ausentes as aproximações<br />
intertextuais. O anseio <strong>de</strong> Assur em partir, <strong>por</strong> exemplo, é compartilhado <strong>por</strong><br />
Paulo, <strong>de</strong> O Desconhecido, que busca, não o mar, mas a ci<strong>da</strong><strong>de</strong> com o mesmo<br />
intento <strong>de</strong> fugir ao ambiente que o oprime:<br />
“Quantas vezes, como um dínamo oculto, o pesado rumor <strong>da</strong>s<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong>sconheci<strong>da</strong>s impulsionara os seus planos, quantas vezes<br />
vira erguer na sua imaginação as silhuetas inacaba<strong>da</strong>s dos prédios<br />
altos (...) tudo enfim que compunha esse mundo maravilhoso que ele<br />
só conhecia através <strong>de</strong> informações, <strong>de</strong> fragmentos <strong>de</strong> conversas<br />
com viajantes retar<strong>da</strong>dos na estra<strong>da</strong>, <strong>de</strong> retratos entrevistos nas<br />
folhas <strong>de</strong> jornais e, finalmente, <strong>de</strong> histórias <strong>de</strong> amigos cuja vi<strong>da</strong><br />
estava marca<strong>da</strong> <strong>por</strong> uma <strong>de</strong>ssas viagens feitas na moci<strong>da</strong><strong>de</strong>, viagens<br />
<strong>de</strong> que eles falavam sempre, ao cair <strong>da</strong> noite, como <strong>de</strong> um bem<br />
perdido para sempre. Como Paulo os conhecia, esses homens<br />
<strong>de</strong>vorados pela obsessão <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong> que odiavam o campo como ele<br />
próprio odiava, o olhar brilhante fixo nas estra<strong>da</strong>s sonolentas,<br />
rasga<strong>da</strong>s infin<strong>da</strong>velmente ao sol forte do sertão, trilhas paralisa<strong>da</strong>s<br />
no impulso <strong>da</strong> fuga...” (CARDOSO, 1968: 137-138)
158<br />
A companheira <strong>de</strong> <strong>de</strong>vaneio <strong>de</strong> Assur é a cunha<strong>da</strong> Aíla, que também se<br />
ressente <strong>de</strong> um <strong>de</strong>stino compartilhado <strong>por</strong> Ana Meneses: a <strong>de</strong> ter sido cria<strong>da</strong>,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> menina, para ser esposa, sem que outro <strong>de</strong>stino lhe tivesse sido<br />
acessível. E ambas, ressentindo-se <strong>de</strong>sse fato, imaginam que, em outras vi<strong>da</strong>s<br />
– ou noutro espaço –, talvez encontrassem maior felici<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
“Des<strong>de</strong> criança fui educa<strong>da</strong> para atravessar esses umbrais que<br />
julgava sagrados, quer dizer, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que o Sr. Demétrio dignou-se<br />
escolher-me para sua companheira permanente. Eu era uma menina<br />
ain<strong>da</strong>, e <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então meus pais só trataram <strong>de</strong> cultivar-me ao gosto<br />
dos Meneses. Eu mesma (ah, padre! hoje sei disto, hoje que imagino<br />
como po<strong>de</strong>ria ter sido outra pessoa – certos dias, certos momentos,<br />
as clareiras, os mares em que po<strong>de</strong>ria ter viajado! – com que<br />
amargura o digo, com que peso secreto no coração...). (CARDOSO,<br />
1991: 120)<br />
Por outro lado, Ana também experimenta o sofrimento <strong>de</strong> Manassés,<br />
marido <strong>de</strong> Aíla. A volta do filho pródigo e a alegria que o cerca fazem nascer<br />
em seu coração a inveja e o ciúme: trabalhara arduamente para alimentar a<br />
família ume<strong>de</strong>cendo a terra ári<strong>da</strong> com o próprio suor e nunca recebera<br />
atenções semelhantes às <strong>da</strong>quele que retornava rico, exuberante e feliz,<br />
pondo em xeque o valor <strong>de</strong> sua obediência fiel <strong>de</strong> tantos anos. Ana, que<br />
<strong>de</strong>dicou to<strong>da</strong> a vi<strong>da</strong> a cui<strong>da</strong>r <strong>da</strong> casa dos Meneses, discretamente existindo<br />
para manutenção <strong>da</strong>quele clã, sentiu-se diminuí<strong>da</strong> pela presença <strong>de</strong> Nina na<br />
Chácara <strong>por</strong>que ela concentrava as atenções e elogios <strong>de</strong> todos <strong>da</strong> casa.<br />
Também n’A Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong> (CARDOSO, 1991), era a vi<strong>da</strong> e a<br />
transgressão <strong>da</strong> outra que todos admiravam, não a sua renúncia – e a inveja e<br />
o ciúme são os sentimentos que cresceram em ambos os <strong>de</strong>sprezados.<br />
Outros pontos, que apareceram sutilmente em dramas anteriores, foram<br />
realçados no último, Angélica. A insistência na doença e na fragili<strong>da</strong><strong>de</strong> do outro<br />
como motivo <strong>de</strong> <strong>clausura</strong>, que Augusta usava para assegurar o domínio sobre<br />
Isabel, em O Escravo, reaparecerá nesse drama como argumento-razão para<br />
que Lídia aceite ficar na casa <strong>da</strong> protagonista fazendo-lhe companhia; o amor<br />
<strong>de</strong> Gina, que seu marido acha estranho e pelo qual sofre:<br />
(ERGUENDO O PULSO FERIDO) Isso são modos <strong>de</strong> amar? Até<br />
parece que procura arrancar alguma coisa <strong>de</strong> mim, sugar algo que<br />
não possui, um alimento, uma razão para viver. (CARDOSO, s/d:10)
será acentuado no com<strong>por</strong>tamento vampiresco <strong>de</strong> Angélica 80 .<br />
159<br />
Gina também lembra a Peregrina <strong>de</strong> O Filho Pródigo, que pe<strong>de</strong> água<br />
<strong>por</strong>que sente “sempre uma se<strong>de</strong> que me <strong>de</strong>vora” (NASCIMENTO, 1961:49). É<br />
a mesma impressão que a protagonista <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata causa em seu<br />
marido: “Gina sempre olha para mim como se tivesse uma se<strong>de</strong> enorme”.<br />
(CARDOSO, s/d:. 13) e que simboliza a ânsia <strong>de</strong>sespera<strong>da</strong> <strong>de</strong> todos os<br />
protagonistas cardosianos em encontrar a saí<strong>da</strong> <strong>da</strong> crise que vivem.<br />
Ain<strong>da</strong> como nO Filho Pródigo, Aíla acredita que só po<strong>de</strong>rá alcançar a<br />
liber<strong>da</strong><strong>de</strong> pela qual anseia se seu marido morrer e essa é a mesma conclusão<br />
<strong>de</strong> Gina: as duas assassinam seus companheiros, atitu<strong>de</strong> que já cometera<br />
Ma<strong>da</strong>lena, em A Luz no Subsolo.<br />
E os traços homoeróticos contidos na atitu<strong>de</strong> vampiresca <strong>de</strong> Angélica<br />
trazem à memória os amores interditos do Desconhecido <strong>por</strong> Paulo e dos<br />
adolescentes <strong>de</strong> O Anfiteatro pelo professor Roberto Alves.<br />
Embora estejam enumerados tão-só alguns exemplos, eles são<br />
suficientes para mostrar que a estratégia formal <strong>de</strong>staca<strong>da</strong> em O Escravo, em<br />
que as personagens dizem e redizem as mesmas falas compondo um jogo <strong>de</strong><br />
espelhos, ganha amplitu<strong>de</strong> quando se pensa na dimensão maior <strong>da</strong> obra<br />
cardosiana. Esse mesmo jogo aparece na seleção <strong>de</strong> temas e situações, na<br />
composição <strong>da</strong>s personagens e nas soluções encontra<strong>da</strong>s, revelando que a<br />
cita<strong>da</strong> estratégia é, na ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, uma construção formal recorrente que dá<br />
indícios <strong>da</strong>s obsessões cardosianas. Por esta razão, sirvo-me <strong>de</strong>las para<br />
analisar melhor seus dramas inserindo-os, agora, no universo <strong>de</strong> preocupações<br />
<strong>de</strong> seu Autor.<br />
Em A Luz no Subsolo – que, como já se viu, marca uma divisão <strong>de</strong><br />
águas na trajetória <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> – Pedro, um dos protagonistas, dialoga<br />
com um “mendigo resignado” numa alucinação muito próxima <strong>da</strong> que Gina vive<br />
80 Quanto ao tema do vampirismo em <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>, há outras tantas referências estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s na Tese <strong>de</strong><br />
Doutorado <strong>de</strong> BARROS JR., <strong>de</strong>fendi<strong>da</strong> em 2002 na UFRJ.
com a mulher <strong>de</strong> preto. Uma <strong>da</strong>s falas, embora um pouco longa, serve como<br />
uma espécie <strong>de</strong> “construção em abismo” 81 <strong>da</strong> visão <strong>de</strong> mundo do Autor.<br />
160<br />
A cena se <strong>de</strong>senrola no quarto <strong>de</strong> Pedro que acaba <strong>de</strong> contar ao<br />
mendigo ter provocado a morte <strong>de</strong> uma menina quando também era garoto:<br />
— (...) você se arrepen<strong>de</strong>u?<br />
— Não, jamais consegui. Mas fiquei conhecendo certas coisas que<br />
eu não conhecia antes. Aprendi a caminhar <strong>por</strong> caminhos novos –<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> então, procuro avi<strong>da</strong>mente os limites <strong>da</strong> minha natureza.<br />
— Para que conhecer os limites <strong>da</strong> sua natureza? – perguntou o<br />
mendigo, <strong>de</strong>sta vez com um tom evi<strong>de</strong>ntemente sarcástico.<br />
Pedro sentiu-se chocado com a pergunta. Procurou contemplar o<br />
interlocutor nos olhos.<br />
— Nem eu mesmo sei. Mas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que temos consciência <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>termina<strong>da</strong> coisa, não po<strong>de</strong>mos mais fugir a ela.<br />
De súbito, curvou-se e concluiu apaixona<strong>da</strong>mente:<br />
— Neste caso, essa <strong>de</strong>termina<strong>da</strong> coisa é a questão dos limites. E sei<br />
que eles existem <strong>por</strong>que sou senhor <strong>de</strong> uma certa dose <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
Mas on<strong>de</strong> são esses limites e até on<strong>de</strong> vae essa liber<strong>da</strong><strong>de</strong>?<br />
(...)<br />
— Os limites! – exclamou. Só a experiencia – experiencia <strong>da</strong>s coisas<br />
que a razão não admite – po<strong>de</strong> estabelecel-os. Um homem que<br />
regressa <strong>da</strong> loucura, é um homem que sabe mais do que aquele que<br />
nunca ficou louco. (CARDOSO, 1936:175-176)<br />
Os limites <strong>da</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong> e a experiência humana: esses são os gran<strong>de</strong>s<br />
motes <strong>da</strong> escritura cardosiana, que perpassam to<strong>da</strong>s as suas produções, e o<br />
caminho para <strong>de</strong>scobri-los é a “experiencia (sic) <strong>da</strong>s coisas que a razão não<br />
admite”. No universo <strong>de</strong>ste Autor, estamos lançados num mundo <strong>de</strong> paixões e<br />
transgressões que repudiam o senso burguês <strong>de</strong> medi<strong>da</strong> e <strong>de</strong>coro, no qual as<br />
normas sociais <strong>de</strong> com<strong>por</strong>tamento são viola<strong>da</strong>s e on<strong>de</strong> o senso comum e a<br />
crença na Ciência já não fazem sentido.<br />
As visões anteriormente consagra<strong>da</strong>s na Literatura e na tradição teatral<br />
brasileira quanto à relação amorosa, tanto no casamento quanto entre pais e<br />
filhos, à amiza<strong>de</strong> leal, à inocência infantil, à própria religião ou à noção <strong>de</strong> Deus<br />
são postos em xeque. Suas personagens cultivam ódios e invejas, cometem<br />
81 Tomo esta expressão na sua <strong>de</strong>finição mais tradicional, enten<strong>de</strong>ndo-a como: “elemento <strong>de</strong> duplicação<br />
interior – a história <strong>de</strong>ntro <strong>da</strong> história –, a construção em abismo se oferece como procedimento retórico<br />
extremamente válido na produção <strong>de</strong> interessantes jogos <strong>de</strong> reflexos <strong>de</strong>ntro <strong>da</strong> narrativa. Da mesma forma<br />
que os espelhos convexos funcionam na pintura flamenga, redimensionando o espaço frontal e limitado<br />
<strong>da</strong> tela, no romance, histórias encaixa<strong>da</strong>s no discurso-tutor <strong>de</strong>sdobram, <strong>de</strong> maneira às vezes vertiginosa,<br />
os episódios <strong>da</strong> ação central, abrindo ao processo <strong>de</strong> significação uma dimensão insondável.”<br />
(CARVALHO, 1983:6-7)
assassinatos, incesto, exercitam uma vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> domínio e aniquilação <strong>da</strong><br />
vonta<strong>de</strong> dos outros e, quando falam <strong>de</strong> amor, esse sentimento significa<br />
anulação do parceiro.<br />
161<br />
No caso específico do teatro, em que as personagens costumavam ser<br />
engraça<strong>da</strong>s ou cativantes ou, ao menos, amáveis, suas criaturas causam uma<br />
estranheza ain<strong>da</strong> maior e, tanto quanto no romance, obrigam a uma tentativa<br />
<strong>de</strong> compreensão <strong>de</strong> suas ações tão irracionais. Nas palavras <strong>de</strong> Candido 82 :<br />
Tudo se passa como se alguém houvesse semeado nas pessoas um<br />
fermento que as faz viver em equilíbrio instável, numa ponta extrema<br />
em que, exasperados, acuados pela vi<strong>da</strong> e pelo seu inferno interior,<br />
aceitam to<strong>da</strong>s as soluções aspirando mesmo ao na<strong>da</strong> e à morte (...)<br />
Porque os valores estão em confusão e ninguém sabe a que se ater.<br />
(CANDIDO, 1992: 110)<br />
Eis, a meu ver, a chave <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong>: a constatação <strong>da</strong> crise. Os<br />
princípios que até então serviam como norte <strong>de</strong> com<strong>por</strong>tamento e <strong>de</strong> moral<br />
exalam, agora, um odor <strong>de</strong> corrupção. Envelheceram, como velhas estão as<br />
crenças e as idéias que justificavam o mundo que se acabava naqueles anos<br />
<strong>de</strong> transformações sociais intensas 83 .<br />
A <strong>de</strong>sagregação dos valores do passado era particularmente senti<strong>da</strong><br />
pelos que tinham conhecido, mesmo indiretamente, o universo arcaico do<br />
interior rural e seus laços tradicionais e experimentavam a reali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
industrializa<strong>da</strong> <strong>da</strong> metrópole. A constatação do fim <strong>de</strong> uma época era tão forte<br />
que reunia mesmo autores <strong>de</strong> inclinações i<strong>de</strong>ológicas diferentes. Daí as<br />
palavras <strong>de</strong> Antonio Candido sobre José Lins do Rego, que ele nomeia “Um<br />
romancista <strong>da</strong> <strong>de</strong>cadência”, servirem perfeitamente para <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>:<br />
... tem a vocação <strong>da</strong>s situações anormais e dos personagens em<br />
<strong>de</strong>sorganização. Os seus são sempre indivíduos colocados numa<br />
linha perigosa, em equilíbrio instável entre o que foram e o que não<br />
serão mais, angustiados <strong>por</strong> essa condição <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio que cria<br />
tensões <strong>dramática</strong>s, ambientes <strong>de</strong>nsamente carregados <strong>de</strong> tragédia,<br />
atmosferas opressivas em que o irremediável an<strong>da</strong> solto. Os seus<br />
heróis são <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência e <strong>de</strong> transição, tipos <strong>de</strong>sorganizados entre<br />
82 CANDIDO, A. “Paixão dos valores”. In.___. Briga<strong>da</strong> ligeira & outros escritos. SP:Unesp, 1992,<br />
p.109-117. A citação do crítico diz respeito a Bernanos, cujos escritos influenciaram os católicos<br />
brasileiros e, entre eles, <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>.<br />
83 Cf: segmento 2.1 <strong>de</strong>sta Tese.
162<br />
um passado e um presente divorciado do futuro. (CANDIDO,<br />
1992:61)<br />
Os protagonistas cardosianos se caracterizam pela inconformação, pelo<br />
ressentimento nascido <strong>da</strong> impotência <strong>de</strong> quem se reconhece sem saí<strong>da</strong> e, <strong>por</strong><br />
isso, se <strong>de</strong>sespera. Como já constataram a insignificância <strong>de</strong> tudo o que os<br />
cerca e que compõe aquilo a que os <strong>de</strong>mais chamam <strong>de</strong> reali<strong>da</strong><strong>de</strong>, sobra-lhe<br />
buscar um sentido em si mesmos:<br />
... existe sobretudo a exploração radical do próprio eu, o<br />
<strong>de</strong>sbragamento <strong>da</strong> aventura interior, que leva ao <strong>de</strong>sbragamento <strong>da</strong><br />
conduta, concebi<strong>da</strong> como uma expansão suprema do próprio eu, em<br />
busca <strong>de</strong> si. (CANDIDO, 1992: 113)<br />
Daí suas personagens se caracterizarem pelo “ato gratuito”, em que se<br />
reconhece o <strong>de</strong>samparo do eu e que se aproxima do que se convencionou<br />
chamar <strong>de</strong> Mal, mas que, num mundo em crise, justifica-se como um <strong>de</strong>svario<br />
do sujeito em busca dos próprios limites, movendo-se numa “aventura<br />
impossível <strong>de</strong> sonho e <strong>de</strong> extermínio”, nas palavras do Autor registra<strong>da</strong>s em<br />
seu Diário Completo. Está na raiz do domínio <strong>de</strong> Augusta sobre a família, do<br />
assassinato <strong>de</strong> Manassés <strong>por</strong> sua esposa, do vampirismo <strong>de</strong> Angélica e em<br />
tantos outros exemplos que se po<strong>de</strong> apontar na produção cardosiana.<br />
Girando sempre em torno <strong>de</strong>sse tema, estão as referi<strong>da</strong>s personagens<br />
“gauches” que, na impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> encontrarem um espaço acolhedor no<br />
mundo, procuram refúgio <strong>de</strong> suas angústias na dissolução <strong>de</strong> seus egos e dos<br />
que os cercam em um <strong>de</strong>sejo que transcen<strong>de</strong> qualquer relacionamento viável –<br />
e traz, para a escritura cardosiana, indisfarçáveis traços românticos:<br />
GINA (ar<strong>de</strong>nte e suplicante): Queria, Renato, que você me <strong>de</strong>sse<br />
todo o amor que lhe fosse possível. Não o amor comum, mas uma<br />
espécie <strong>de</strong> amor que não existiu ain<strong>da</strong>, um amor como só o<br />
adivinham os con<strong>de</strong>nados, ou os leprosos <strong>de</strong>sta vi<strong>da</strong>! Preciso <strong>de</strong> um<br />
pouco <strong>de</strong> chama para o meu ser gelado, para a pobre alma<br />
aprisiona<strong>da</strong> que carrego comigo! (CARDOSO, s/d:25)<br />
Para caracterizar essa busca angustia<strong>da</strong> <strong>de</strong> suas personagens, <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong> prioriza suas reali<strong>da</strong><strong>de</strong>s internas tornando-as referências prioritárias<br />
em seus cenários romanescos ou dramáticos. Não há, conseqüentemente,<br />
qualquer preocupação com a fi<strong>de</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong> espacial ou tem<strong>por</strong>al em termos <strong>de</strong>
eali<strong>da</strong><strong>de</strong> empírica: o morro carioca <strong>de</strong> Salgueiro só conhece a chuva, os<br />
dramas <strong>de</strong> Pedro e Ma<strong>da</strong>lena são vividos numa ininterrupta noite e tanto o<br />
tempo quanto o espaço <strong>de</strong> O Filho Pródigo remontam à dimensão mítica. Não<br />
ficam estranhas à sua obra, igualmente, interferências sutis do fantástico, já<br />
assinala<strong>da</strong>s, <strong>por</strong> exemplo, na “possessão” <strong>de</strong> Marcos <strong>por</strong> Silas, na presença <strong>da</strong><br />
mulher <strong>de</strong> preto (ou do mendigo resignado <strong>de</strong> A Luz no Subsolo) ou no caráter<br />
vampiresco <strong>de</strong> Angélica.<br />
163<br />
O interesse cardosiano está centrado no mundo interno do homem<br />
isolado e encerrado em si mesmo, on<strong>de</strong> o afastamento passa a ser vivido como<br />
liber<strong>da</strong><strong>de</strong>. É necessário a estes tipos <strong>de</strong> exceção, a estes “gauches”, o<br />
isolamento em relação às outras pessoas <strong>por</strong>que o mundo cotidiano se lhes<br />
apresenta <strong>de</strong>sprovido <strong>de</strong> sentido e perigoso para suas individuali<strong>da</strong><strong>de</strong>s:<br />
De novo <strong>de</strong>senhou-se aos olhos do homem a imagem <strong>da</strong> menina que<br />
ela <strong>de</strong>via ter sido. Como era perfeita a visão <strong>de</strong>ssa rapariga magra,<br />
<strong>de</strong> olhos inchados, <strong>de</strong> tranças longas e modos <strong>de</strong>sajeitados! Ele a via<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong>nha<strong>da</strong> <strong>da</strong>s companheiras, tentando ajeitar ao espelho os seus<br />
pobres cabelos rebel<strong>de</strong>s. E ela <strong>de</strong>via ter crescido assim, <strong>de</strong>via ter<br />
amado alguém em silêncio, <strong>de</strong>via ter sofrido e finalmente aprendido a<br />
ser cruel. (CARDOSO, 1968:171)<br />
O <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> dissolução, já assinalado, tem como contraparte o medo do<br />
“apagamento”, <strong>da</strong> “morte” psíquica. Daí a agressivi<strong>da</strong><strong>de</strong>, reação tão comum<br />
aos seres cardosianos, ante qualquer ameaça àquilo que construíram e que<br />
conhecem como individuali<strong>da</strong><strong>de</strong>s. Esse medo assume a forma <strong>de</strong> uma vonta<strong>de</strong><br />
absoluta que procura arrastar suas vítimas para além dos limites normais <strong>da</strong><br />
humani<strong>da</strong><strong>de</strong>:<br />
(...) Você me seguirá como um escravo. Quando estiver sozinho,<br />
lembrar-se-á <strong>de</strong> que estou presente à elaboração dos seus<br />
pensamentos mais íntimos. Se estiver dormindo, surgirei implacável<br />
nos seus sonhos. Ca<strong>da</strong> gesto que fizer, ca<strong>da</strong> emoção que germinar<br />
no seu coração, <strong>de</strong> tudo eu saberei, para mim a ver<strong>da</strong><strong>de</strong> inteira<br />
estará sempre grava<strong>da</strong> nos seus olhos. (CARDOSO, 1973:54)<br />
(...) O que as palavras <strong>da</strong>quela mulher revelavam era o mais animal<br />
dos <strong>de</strong>sejos, a mais violenta e a mais inútil <strong>da</strong>s paixões, esse<br />
absurdo e tenebroso <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> posse, essa vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> reduzir e<br />
aniquilar, que nos habita como o mais diabólico sinal <strong>da</strong> natureza<br />
humana. (CARDOSO, 1968:225)
e impossibilita qualquer sentimento <strong>de</strong> compaixão no universo do Autor.<br />
164<br />
Por isso, nesse contexto, o amor é uma busca con<strong>de</strong>na<strong>da</strong> à frustração:<br />
os relacionamentos têm sempre a marca do fracasso, seja <strong>de</strong>ntro dos padrões<br />
sociais aceitos (é o caso do <strong>de</strong>sencontro entre Ma<strong>da</strong>lena e seu marido, Pedro):<br />
Pedro voltara a <strong>de</strong>scansar junto à vidraça. “Meu Deus, como eu o<br />
amo!” pensou Ma<strong>da</strong>lena repentinamente, fixando os seus ombros e<br />
as suas mãos nervosas. Oh! se ela pu<strong>de</strong>sse, erguer-se-ia, iria até ele<br />
e, tomando-lhe as mãos, enrolaria nelas os seus cabelos. Por um<br />
instante, estariam confundidos <strong>de</strong>ntro do mesmo pensamento e, na<br />
obscuri<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> sala, não ouviriam o vento e não sentiriam senão as<br />
panca<strong>da</strong>s sur<strong>da</strong>s <strong>de</strong> seu coração. (CARDOSO, 1936:93)<br />
Era odioso que aquela creatura [Ma<strong>da</strong>lena] viesse se intrometer<br />
assim na sua vi<strong>da</strong>. Não podia su<strong>por</strong>tar que ela se colocasse acima<br />
<strong>de</strong>le próprio, esquecendo as suas faltas magnanimamente. Odiava<br />
aquela magnanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>... Pedro fitava-a. Sentia agora, pesando<br />
minuto <strong>por</strong> minuto, na sua vi<strong>da</strong>, a presença <strong>da</strong>quela mulher que não<br />
amava. Si fechasse os olhos ouviria a sua voz. Si se tratasse <strong>de</strong>ntro<br />
do quarto, ela o chamaria.<br />
Ver<strong>da</strong><strong>de</strong>, que há muito tempo a odiava... Mas só há poucos dias<br />
percebera com niti<strong>de</strong>z que a vi<strong>da</strong> entre os dois era impossível (...)<br />
(CARDOSO, 1936: 204)<br />
seja na transgressão, como é o caso do suposto incesto entre Nina e André.<br />
Aliás, a relação entre os dois remete a outro tópico, o <strong>da</strong> família. Tanto<br />
os irmãos <strong>de</strong> O Escravo quanto os Meneses (Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>),<br />
para citar apenas dois exemplos – e haveria muitos outros! –, inserem-se numa<br />
família em que os laços não são <strong>de</strong> amor, mas <strong>de</strong> ódio, inveja, <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong><br />
domínio – o que marca uma novi<strong>da</strong><strong>de</strong> na Literatura brasileira até então e<br />
encontra paralelo contem<strong>por</strong>âneo em Nelson Rodrigues, mas sem as cores<br />
fortes do dramaturgo carioca. Não tendo como recurso a máscara dos<br />
com<strong>por</strong>tamentos exagerados e grotescos do autor <strong>de</strong> Vestido <strong>de</strong> Noiva, a<br />
família cardosiana está muito mais próxima do universo do leitor/espectador e<br />
causa-lhe, <strong>por</strong> isso mesmo, o mal-estar do reconhecimento e, não raro, a<br />
rejeição.<br />
Cumpre atentar que, como se verificou, os típicos cenários cardosianos<br />
são ambientes <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ntes; suas personagens estão liga<strong>da</strong>s à “aristocracia”<br />
interiorana também <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nte ou à média burguesia – excetuando-se as que
transitam pelo bas fond carioca, não se tem registro <strong>de</strong> pobres (nem <strong>de</strong><br />
miseráveis) na produção cardosiana; também marcam seus enredos um<br />
elevado grau <strong>de</strong> violência e agressivi<strong>da</strong><strong>de</strong> que rege as relações entre as<br />
personagens cujos com<strong>por</strong>tamentos, como já se assinalou, não raro<br />
extrapolam os limites <strong>da</strong> <strong>de</strong>cência burguesa.<br />
165<br />
Formalmente, a produção cardosiana, tanto romanesca quanto<br />
<strong>dramática</strong>, apresenta: ênfase no conflito interno que, no teatro, substitui o fato<br />
objetivo; predomínio do passado, tempo em que se localizam os registros<br />
psíquicos ocultos e que vem à cena através <strong>da</strong> rememoração (no teatro) e do<br />
fluxo <strong>de</strong> consciência (nos romances e novelas – meio em que o procedimento<br />
alcança melhores resultados); hipertrofia do protagonista que, isolado, tem sua<br />
vi<strong>da</strong> interior <strong>de</strong>svela<strong>da</strong> ao público ou ao leitor; e impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> do diálogo, <strong>da</strong><br />
abertura para o outro: as falas apenas atestam a incomunicabili<strong>da</strong><strong>de</strong> entre suas<br />
personagens que parecem projeções psíquicas <strong>de</strong> solidão e carência – e <strong>da</strong>í<br />
serem muito pareci<strong>da</strong>s, fato que o próprio Autor reconhece no prefácio à novela<br />
A Professora Hil<strong>da</strong> (1968):<br />
A criatura, que hoje entrego aos olhos do público, é semelhante, <strong>por</strong><br />
vários lados, a algumas outras esparsas em meus livros. Se relevo<br />
aqui os nomes <strong>de</strong> Angélica, <strong>de</strong> I<strong>da</strong> ou <strong>de</strong> Aurélia, é para colocá-los<br />
ao lado <strong>de</strong> Hil<strong>da</strong>, esta miserável professora, cujo segredo julgo ter<br />
surpreendido e que, como estes seres passados, nascidos <strong>de</strong><br />
minhas mãos, fizeram <strong>de</strong> sua alma uma espécie <strong>de</strong> sepultura para a<br />
única salvação possível neste mundo.(CARDOSO, 1968:269)<br />
Em resumo, essa é a representação <strong>de</strong> um universo à beira do <strong>de</strong>sastre,<br />
habitado <strong>por</strong> seres no limite <strong>da</strong> humani<strong>da</strong><strong>de</strong>. Ele traduz a percepção <strong>de</strong> um<br />
mundo em crise, <strong>de</strong> um “tempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cadência” a que o Autor se refere tantas<br />
vezes em seu Diário Completo 84 . Suas personagens são seres confinados, sem<br />
horizontes e para os quais não se configura um antagonista contra o qual<br />
possam se voltar ou uma situação objetiva que possam ultrapassar. O gran<strong>de</strong><br />
adversário são elas mesmas, no ressentimento em que se afun<strong>da</strong>m. Soltas,<br />
num mundo sem Deus e sem qualquer explicação sobre o sentido <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>,<br />
apenas dão testemunho <strong>da</strong> “<strong>de</strong>composição <strong>de</strong> valores até então característicos<br />
84 Por exemplo, nas notações <strong>de</strong> 7 e 8 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1951.
<strong>da</strong> civilização cristã no Oci<strong>de</strong>nte”, como dirá Antonio Candido a respeito <strong>de</strong> um<br />
romance <strong>de</strong> Bernanos (CANDIDO, 1992: 110).<br />
166<br />
Nesse universo <strong>de</strong> <strong>de</strong>rrotados, <strong>Lúcio</strong> representa um mundo que agoniza:<br />
suas personagens são seres <strong>de</strong> um mundo <strong>de</strong>stinado à dissolução. Para<br />
superá-lo, <strong>Lúcio</strong> anseia <strong>por</strong> um <strong>de</strong>sastre <strong>por</strong>que, segundo ele, a catástrofe, o<br />
medo e o sangue acor<strong>da</strong>m o homem <strong>da</strong> inércia em que vive 85 :<br />
Defendo pois as crises violentas, as mutações que nos revolvem a<br />
estrutura do ser, como se nos alimentassem tempesta<strong>de</strong>s; são elas<br />
que nunca <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> fazer ferver o sangue pálido que erra em<br />
nossas veias. (CARDOSO, 1970:133)<br />
Entretanto, a violência que vivem e provocam suas personagens se volta<br />
contra elas mesmas, no assassinato <strong>de</strong> seus entes próximos ou no suicídio. É<br />
o auto-sacrifício do impotente, que volta contra si a hostili<strong>da</strong><strong>de</strong> que o mundo lhe<br />
inflige. Incapaz <strong>de</strong> reagir às mu<strong>da</strong>nças, a agressão aparece como um rito<br />
sacrificial do velho mundo a favor do novo tempo que vai nascer. 86 Diz o Autor:<br />
E sei o sofrimento <strong>de</strong>sses indivíduos que seguem tão<br />
encarniça<strong>da</strong>mente suas paixões, que se entregam completamente ao<br />
signo <strong>de</strong>las, esperando uma re<strong>de</strong>nção imposta às avessas, uma luz<br />
que venha <strong>de</strong> qualquer espécie <strong>de</strong> abismo, mas que seja diferente<br />
<strong>de</strong>sse acanhado mundo em que vivemos. (CARDOSO, 1970:101)<br />
Como já foi apontado no segmento 2.1 <strong>de</strong>sta Tese, as personagens dos<br />
anos 30 encarnavam algum aspecto do atraso do país que <strong>de</strong>via ser superado.<br />
Como, naqueles anos, nem to<strong>da</strong>s as pessoas pareciam ter tomado consciência<br />
<strong>da</strong> crise que se atravessava, cabia ao romancista/dramaturgo insistir nessa<br />
situação crítica, alertando, pela <strong>de</strong>smedi<strong>da</strong> <strong>de</strong> suas personagens, que “as<br />
coisas em que creram e segundo as quais viveram an<strong>da</strong>m soltas, fora dos<br />
quadros, apodrecendo sem que outras as substituam” (CANDIDO, 1992:111).<br />
E <strong>Lúcio</strong> o fará, como ele mesmo já explicitara no lançamento <strong>de</strong> A Luz no<br />
Subsolo, através <strong>da</strong> “quebra dos valores comuns”.<br />
85 Não esquecer, como já foi colocado no segmento 2.1 <strong>de</strong>sta Tese, que o Catolicismo <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> se tingia<br />
<strong>de</strong> cores messiânicas. Em seu Diário, várias passagens atestam sua concepção <strong>de</strong> que aqueles são anos<br />
que precisavam terminar para que se <strong>de</strong>scortinasse um novo tempo.<br />
86 Haquira Osakabe assinala que “Via <strong>de</strong> regra quase to<strong>da</strong> a ficção católica do período terá sua trama<br />
construí<strong>da</strong> a partir <strong>de</strong> um ato sacrificial, muito próxima do crime. E todo esforço <strong>da</strong>s obras será o <strong>de</strong><br />
especular sobre o sentido restaurador <strong>de</strong>sse sacrifício.” (FINAZZI-AGRÒ e VECCHI: 2004:80)
167<br />
Esse fascínio pela violência e pelo terror são tão fortes no Autor que o<br />
levam a admirar, em Jean Genet, características que estão na sua própria<br />
obra:<br />
A um homem <strong>de</strong>spido <strong>de</strong> objeção e mecanizado no seu mundo <strong>de</strong><br />
virtu<strong>de</strong>s burguesas e sem viço, opõe com to<strong>da</strong> a sua pujança seus<br />
sombrios e fascinantes criminosos (...) são testemunhas <strong>da</strong> sombra,<br />
<strong>da</strong> existência do pecado, do mal entranhado na natureza do homem<br />
– e compondo-o, apesar <strong>de</strong> tudo. (CARDOSO, 1970:195)<br />
Essa é a justificativa para a criação <strong>de</strong> tantas situações em que os<br />
limites <strong>da</strong> “<strong>de</strong>cência” e <strong>da</strong> “compostura”, que norteavam o bom-gosto, foram<br />
ultrapassados; em seu lugar, subiram ao palco o excesso, a <strong>de</strong>smedi<strong>da</strong>, as<br />
transgressões que <strong>de</strong>veriam, como numa “pe<strong>da</strong>gogia do terror”, prevenir os<br />
com<strong>por</strong>tamentos julgados in<strong>de</strong>sejados nos novos tempos. Nesse sentido<br />
estrito, os dramas <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> (bem como to<strong>da</strong> a sua obra) se aproximavam <strong>da</strong>s<br />
intenções originais do drama burguês. Segundo SZONDI, o drama original teria<br />
uma finali<strong>da</strong><strong>de</strong> educativa e moralizante:<br />
... a história que o drama burguês narra <strong>de</strong>ve ser um exemplo para a<br />
própria conduta na vi<strong>da</strong>, isto é, um exemplo negativo. Ela <strong>de</strong>ve nos<br />
precaver <strong>de</strong> nos tornarmos culpados ou, se já somos, ele <strong>de</strong>ve nos<br />
curar. (SZONDI, 2004:53)<br />
E, se o teatro cardosiano não conseguiu ultrapassar os limites formais<br />
do drama para representar, com plena expressão formal, o que sua temática<br />
intimista exigia, essa produção compõe e reforça as obsessões <strong>de</strong> uma poética<br />
atormenta<strong>da</strong>, que insiste nos aspectos mórbidos <strong>de</strong> um universo <strong>de</strong><br />
confinamento, <strong>de</strong> personagens solitárias <strong>por</strong>que não conseguem ultrapassar o<br />
ressentimento <strong>de</strong> que se nutrem e construir para si mesmas outras reali<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> vi<strong>da</strong>. Sua obra marca uma visão agônica que vai encontrar, <strong>de</strong> forma<br />
aprimora<strong>da</strong> e com temáticas mais <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s, uma continui<strong>da</strong><strong>de</strong> na escrita<br />
<strong>de</strong> Clarice Lispector, como indiciei em algumas notas <strong>de</strong> ro<strong>da</strong>pé do quarto
capítulo <strong>de</strong>sta Tese e que ren<strong>de</strong>riam outra Tese – <strong>da</strong>í não po<strong>de</strong>r ser um<br />
assunto <strong>de</strong>sdobrado aqui 87 .<br />
168<br />
Revisitar a obra cardosiana é, <strong>por</strong>tanto, reencontrar os escombros <strong>de</strong> um<br />
tempo <strong>de</strong> crise na transição do rural para o urbano, nos idos dos anos 30 a 50<br />
nas gran<strong>de</strong>s metrópoles brasileiras; mas também é i<strong>de</strong>ntificar traços <strong>de</strong>ssa<br />
mesma transição em tantas outras ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s do interior que, ain<strong>da</strong> hoje, não<br />
completaram essa transição e, na “mo<strong>de</strong>rni<strong>da</strong><strong>de</strong> atrasa<strong>da</strong> 88 ” em que vivem, têm<br />
também seu lado <strong>de</strong> sombra e <strong>de</strong> violência <strong>de</strong>smedi<strong>da</strong>.<br />
87 Esta é uma percepção que também ocorreu a MARTINS e está presente em sua obra “Luz e sombra em<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>”, embora ela também não a tenha <strong>de</strong>senvolvido. Cf: MARTINS, 1997:61, <strong>por</strong> exemplo.<br />
88 Nomeio assim as situações em que se encontram algumas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s do interior do país que, tendo vivido<br />
um passado <strong>de</strong> fausto baseado na economia agrária, assim se organizaram política, social, econômica e<br />
i<strong>de</strong>ologicamente e que, diante <strong>da</strong> industrialização e <strong>da</strong> mo<strong>de</strong>rnização do país, cumprem hoje a difícil<br />
travessia do rural para o urbano, com a diluição dos laços tradicionais, a substituição <strong>da</strong>s antigas<br />
oligarquias e a dissolução <strong>de</strong> valores ligados à tradição: to<strong>da</strong> aquela situação, enfim, <strong>de</strong>linea<strong>da</strong> no<br />
segundo capítulo <strong>de</strong>sta Tese.
7. Bibliografia<br />
7.1- Obras <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong><br />
1. CARDOSO, <strong>Lúcio</strong>. Maleita. 3.ed., Rio <strong>de</strong> Janeiro: Presença, 1974.<br />
2. ______ . Salgueiro. 2.ed., Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova Fronteira, 1984.<br />
3. ______ . A Luz no Subsolo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1936.<br />
4. ______ . Mãos Vazias. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1938.<br />
5. ______ . O Desconhecido. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1940.<br />
6. ______ . Dias Perdidos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1943.<br />
7. ______ . Inácio. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Oci<strong>de</strong>nte, 1944.<br />
8. ______ . A Professora Hil<strong>da</strong>. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1946.<br />
9. ______ . Anfiteatro. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Agir, 1946.<br />
10. ______ . O Enfeitiçado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1954.<br />
11. ______ . Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>. Ed crítica coord. Mário Carelli.<br />
Espanha: Unesco, 1991. (Col. Archivos, 18)<br />
12. ______ . O Viajante. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1973.<br />
13. ______ . Diário Completo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, INL, 1970.<br />
14. ______. O Escravo. RJ: Serviço Nacional <strong>de</strong> Teatro, 1973.<br />
169<br />
15. ______. O Filho Pródigo. In: NASCIMENTO, Abdias. <strong>Dramas</strong> para negros e<br />
prólogos para brancos: antologia do teatro negro-brasileiro. RJ: Teatro<br />
Experimental do Negro, 1961, pp.29-72.<br />
16. ______. A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata (1947), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui<br />
Barbosa (inédita)<br />
17. ______. Angélica (1950), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa<br />
(inédita)<br />
18. ______. O homem pálido (1961), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa<br />
(inédita)<br />
19. ______. Os <strong>de</strong>saparecidos (s/d), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa<br />
(inédita e incompleta)<br />
7.2- Artigos sobre o Autor<br />
Os artigos sem i<strong>de</strong>ntificação encontram-se nos arquivos do escritor, na<br />
Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.
1. AYALA, Walmir. “Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong> - um romance imoral?”.<br />
In: Correio <strong>da</strong> Manhã. Rio <strong>de</strong> Janeiro, 6 e 20 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1959.<br />
2. BANDEIRA, Manuel. “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>”. In: Folha <strong>de</strong> São Paulo. São<br />
Paulo, 3 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1960.<br />
3. ______ . “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> revisitado”. In: Jornal do Brasil. 2 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong><br />
19? .<br />
4. BLOCH, Pedro. “Ser ou ao ser...”. In: Fon-Fon, p. 18, 1º <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong><br />
1944.<br />
5. BOSCOLI, Geysa. “A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, pelo Teatro <strong>de</strong> Câmera, no<br />
Glória”, 23 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947.<br />
6. BRANDÃO, Roberto. “Interpretação <strong>de</strong> A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata”, “O Filho<br />
Pródigo, a maior peça <strong>de</strong> 47”<br />
7. BRITTO, Sérgio. “A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata pelo Teatro <strong>de</strong> Câmera”. In: Diário<br />
<strong>da</strong> Manhã, Rio <strong>de</strong> Janeiro, 29 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947.<br />
8. DÓRIA, Gustavo A. “O Filho Pródigo no Ginástico”.<br />
9. FUSCO, Rosário. “Filho pródigo, no Teatro Negro”. In: Diário <strong>de</strong><br />
Notícias.<br />
10. LACERDA, Jorge. “Teatro: Nesta coluna Jorge Lacer<strong>da</strong> dá sua opinião<br />
sobre – O escravo – <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>”.<br />
11. MAGALDI, Sábato. “A propósito do ‘Teatro <strong>de</strong> Câmera’”. In: Diário<br />
Carioca, Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
12. ______. “O Escravo”. In: Diário Carioca, Rio <strong>de</strong> Janeiro, 9 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong><br />
1950.<br />
13. ______. “Reabre o teatro <strong>de</strong> bolso”. In: Diário Carioca, Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
14. ______. “Angélica” (I e II). In: Diário Carioca, Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
15. ______. “<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> fala-nos <strong>de</strong> teatro”. In: Diário Carioca, Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro.<br />
16. MAGNO, Pascal Carlos. “A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata, no Glória”. In: Diário <strong>da</strong><br />
Manhã, Rio <strong>de</strong> Janeiro, 22 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1947.<br />
17. MENDES, Murilo et al. “O Teatro <strong>de</strong> Câmera – através <strong>da</strong> palavra os<br />
escritores brasileiros”. In: Letras e artes, 28 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1947.<br />
18. PONTES, Joel. “O escravo”. In: Diário <strong>de</strong> Pernambuco, Recife, 17 <strong>de</strong><br />
junho <strong>de</strong> 1961.<br />
19. PONTES, Marcos. “A presença do mal”. In: Jornal do Brasil, RJ, 27 <strong>de</strong><br />
agosto <strong>de</strong> 2005, Ca<strong>de</strong>rno Idéias, p.6.<br />
20. ______. “Da ironia <strong>de</strong> se chamar ‘Angélica’”<br />
21. VINCENT, Clau<strong>de</strong>. “Angélica”. In: Tribuna <strong>da</strong> Imprensa, Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
1950.<br />
22. ______. “O Filho Pródigo”. In: Tribuna <strong>da</strong> Imprensa, Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
170
7.3- Estudos acadêmicos sobre o Autor<br />
1. ARCO E FLEXA, Terezinha <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong>. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> e Julien Green:<br />
transgressão e culpa. Tese <strong>de</strong> doutorado. São Paulo: USP, 1990.<br />
171<br />
2. BONAPACE, Adolphina Portella. O belo posto em questão: Crônica <strong>da</strong><br />
Casa Assassina<strong>da</strong>, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> doutorado. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: UFRJ, 1980.<br />
3. BARROS, JR. Vampiros na casa-gran<strong>de</strong>: <strong>clausura</strong> e poses do gótico em<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> Doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro, UFRJ, 2002.<br />
4. COUTINHO, Luiz Edmundo Bouças. O Depoimento <strong>da</strong> Errância: a<br />
experiência <strong>da</strong> palavra entre o provisório e o permanente. Dissertação<br />
<strong>de</strong> mestrado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1978.<br />
5. ______ . O Desastre <strong>da</strong> Imortali<strong>da</strong><strong>de</strong> e a Crônica do Sujeito na Poética<br />
do Diário: um estudo do “Diário Completo”, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong><br />
doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1980.<br />
6. HERBOLD, Hil<strong>de</strong>gard. O Sagrado e o Profano na Literatura Intimista dos<br />
Anos 1930/40 no Brasil. Dissertação <strong>de</strong> mestrado. São Paulo: USP,<br />
1993.<br />
7. NASCIMENTO, Maria Terezinha Martins do. Luz e sombra em <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1992.<br />
8. PETRILLO, Regina C. P. Signos em trânsito: o roteiro <strong>de</strong> uma busca. A<br />
poética <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> Doutorado, UFRJ, 2002.<br />
9. RAIMUNDO, Marie Louise Hurel. Desejo e Perversão ou Os Atalhos <strong>da</strong><br />
Loucura. Dissertação <strong>de</strong> mestrado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: PUC, 1974.<br />
10. RIBEIRO, Ésio Macedo. O riso escuro ou o pavão <strong>de</strong> luto: um percurso<br />
pela poesia <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Dissertação <strong>de</strong> Mestrado, Orientadora:<br />
Profª. Drª. Cláudia <strong>de</strong> Arru<strong>da</strong> Campos, São Paulo: USP, 2001.<br />
11. ROSA E SILVA, Enaura Quixabeira. A equação <strong>da</strong> febre: uma leitura <strong>da</strong><br />
Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>. Dissertação <strong>de</strong> mestrado. Maceió: UFAL,<br />
1994.<br />
12. SILVA, Guilherme Ferreira. Formas <strong>de</strong> Evasão em <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>.<br />
Dissertação <strong>de</strong> mestrado. São Paulo: USP, 1972.<br />
13. SILVA, Mª. Lucilene <strong>da</strong>. Desvios <strong>da</strong> angústia: uma leitura <strong>de</strong> O escravo<br />
<strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Dissertação <strong>de</strong> Mestrado. Maceió: Universi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Alagoas, 2000.<br />
7.4- Referências bibliográficas:<br />
1. BARROS, JR. Vampiros na casa-gran<strong>de</strong>: <strong>clausura</strong> e poses do gótico em<br />
<strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> Doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro, UFRJ, 2002.
2. BERCITO, Sônia <strong>de</strong> Deus R. O Brasil na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 1940: autoritarismo<br />
e <strong>de</strong>mocracia. SP: Ática, 1999.<br />
3. BLOCH, Pedro. As mãos <strong>de</strong> Eurídice e Esta noite choveu prata! RJ:<br />
Edições <strong>de</strong> ouro, 1963.<br />
4. BOSI, Alfredo. História Concisa <strong>da</strong> Literatura Brasileira. 3ªed., São<br />
Paulo: Cultrix, 1977.<br />
5. BRANDÃO, Junito. Teatro grego: origem e evolução. SP: Ars Poética,<br />
1992.<br />
6. BRANDÃO, Ruth Silviano. <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>: a travessia <strong>da</strong> escrita. Belo<br />
Horizonte: Editora <strong>da</strong> UFMG, 1998.<br />
172<br />
7. BUENO, Luís. Uma história do romance brasileiro <strong>de</strong> 30. Campinas:<br />
UNICAMP, Instituto <strong>de</strong> Estudos <strong>da</strong> Linguagem, 2001, 989 fl. Mimeo.<br />
Tese <strong>de</strong> Doutorado em Teoria Literária.<br />
8. CAFEZEIRO, Edwaldo e GADELHA, Carmem. História do Teatro<br />
Brasileiro: <strong>de</strong> Anchieta a Eucli<strong>de</strong>s. RJ: Ed. UFRJ / EDUERJ / FUNARTE,<br />
1996.<br />
9. CANDIDO, Antonio. “Literatura e sub<strong>de</strong>senvolvimento” In:___: A<br />
educação pela noite e outros ensaios. 2ª ed. SP: Ática, 1989, p.140-162.<br />
10. ______. “A Revolução <strong>de</strong> 30 e a cultura” In:___. Educação pela noite &<br />
outros ensaios. SP: Ática, 1989, p.181-198.<br />
11. ______. “”Poesia, documento e História”. In:___. Briga<strong>da</strong> ligeira & outros<br />
escritos. SP:Unesp, 1992, p.45-60.<br />
12. ______. “Um romancista <strong>da</strong> <strong>de</strong>cadência”. In:___. Briga<strong>da</strong> ligeira & outros<br />
escritos. SP:Unesp, 1992, p.61-67.<br />
13. ______. “Uma tentativa <strong>de</strong> renovação”. In:___. Briga<strong>da</strong> ligeira & outros<br />
escritos. SP:Unesp, 1992, p.93-102.<br />
14. ______. “Paixão dos valores”. In:___. Briga<strong>da</strong> ligeira & outros escritos.<br />
SP:Unesp, 1992, p.109-117.<br />
15. ______. Literatura e socie<strong>da</strong><strong>de</strong>. 8ªed. SP: T.A.Queiroz, Publifolha, 2000.<br />
16. CARDOSO, Maria Helena. Por on<strong>de</strong> andou meu coração. RJ: José<br />
Olympio ed., 1967.<br />
17. CARDOSO, <strong>Lúcio</strong>. A Luz no Subsolo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio,<br />
1936.<br />
18. ______. Três Histórias <strong>da</strong> Província. 2ªed. RJ: Bloch Editores, 1969.<br />
19. ______. Três Histórias <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>de</strong>. 2ªed. RJ: Bloch Editores, 1969.<br />
20. ______ . Crônica <strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>. Ed crítica coord. Mário Carelli.<br />
Espanha: Unesco, 1991. (Col. Archivos, 18)<br />
21. ______ . Diário Completo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, INL, 1970.<br />
22. ______. O Escravo. RJ: Serviço Nacional <strong>de</strong> Teatro, 1973.
173<br />
23. ______. O Filho Pródigo. In: NASCIMENTO, Abdias. <strong>Dramas</strong> para<br />
negros e prólogos para brancos: antologia do teatro negro-brasileiro. RJ:<br />
Teatro Experimental do Negro, 1961, p.29-72.<br />
24. ______. A Cor<strong>da</strong> <strong>de</strong> Prata (1947), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui<br />
Barbosa (inédita)<br />
25. ______. Angélica (1950), acervo <strong>da</strong> Fun<strong>da</strong>ção Casa <strong>de</strong> Rui Barbosa<br />
(inédita)<br />
26. CARELLI, Mário. Corcel <strong>de</strong> Fogo - Vi<strong>da</strong> e obra <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong> (1912-<br />
1968). Rio <strong>de</strong> Janeiro: Editora Guanabara, 1988.<br />
27. CARVALHO, Lúcia Helena. A ponta do novelo: uma interpretação <strong>de</strong><br />
Angústia, <strong>de</strong> Graciliano Ramos. SP: Ática, 1983. (Col. Ensaios; 96)<br />
28. CAMARGO, Joracy. Deus lhe pague, Figueira do inferno, Um corpo <strong>de</strong><br />
luz. RJ: Ediouro, 1967 (Clássicos Brasileiro).<br />
29. COUTINHO, Afrânio (direção). A Literatura no Brasil. 3. ed., Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: José Olympio, 1986, v.5.<br />
30. COUTINHO, Luiz Edmundo Bouças. O Depoimento <strong>da</strong> Errância: a<br />
experiência <strong>da</strong> palavra entre o provisório e o permanente. Dissertação<br />
<strong>de</strong> mestrado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1978.<br />
31. ______ . O Desastre <strong>da</strong> Imortali<strong>da</strong><strong>de</strong> e a Crônica do Sujeito na Poética<br />
do Diário: um estudo do “Diário Completo”, <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong><br />
doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1980.<br />
32. DIONYSOS. RJ: SNT, nº 22, <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1975.<br />
33. DÓRIA, Gustavo A. Mo<strong>de</strong>rno teatro brasileiro: crônica <strong>de</strong> suas raízes.<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro: Serviço Nacional do Teatro, 1975.<br />
34. DUARTE, Ban<strong>de</strong>ira. Efeméri<strong>de</strong>s do teatro carioca. RJ: Prefeitura do<br />
Distrito Fe<strong>de</strong>ral, Secretaria Geral <strong>de</strong> Educação Cultura, s/d. (Col. Ci<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
do Rio <strong>de</strong> Janeiro, v.7)<br />
35. FARIA, João Roberto. Idéias teatrais: o século XIX no Brasil. SP:<br />
Perspectiva, FAPESP, 2001.<br />
36. FERREIRA, Adriano <strong>de</strong> Assis. Teatro Trianon: forças <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m X forças<br />
<strong>da</strong> <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>m. SP: USP, FFLCH, 2004, 208 fl. mimeo. Dissertação <strong>de</strong><br />
Mestrado em Teoria Literária e Literatura Compara<strong>da</strong>.<br />
37. GASSNER, John. “Vi<strong>da</strong> e obra <strong>de</strong> Eugene O’Neill”. In: O’NEILL, Eugene.<br />
Quatro peças. Trad. Luiz Drummond Navarro. RJ: Delta, 1964.<br />
38. LAFETÁ, João Luiz. 1930: a crítica e o mo<strong>de</strong>rnismo. São Paulo: Duas<br />
Ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, 1974.<br />
39. LEITE, Luíza Barreto. Teatro e criativi<strong>da</strong><strong>de</strong>. RJ: Serviço Nacional <strong>de</strong><br />
Teatro, 1975.<br />
40. LINS, Ronaldo Lima. O teatro <strong>de</strong> Nelson Rodrigues: uma reali<strong>da</strong><strong>de</strong> em<br />
agonia. 2ªed. RJ: Francisco Alves, 1979.
174<br />
41. ______. “O conceito <strong>de</strong> morte na era <strong>da</strong> atroci<strong>da</strong><strong>de</strong>”. In: A violência na<br />
<strong>literatura</strong>. Revista Tempo Brasileiro, n. 58, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Edições<br />
Tempo Brasileiro, 1980.<br />
42. ______. “Ver<strong>da</strong><strong>de</strong>. Que mentira...”. In: Terceira Margem. Revista <strong>da</strong> pósgraduação<br />
em Letras <strong>da</strong> UFRJ. Ano IV/V, n o . 5-6, 1997–1998.<br />
43. LISPECTOR, Clarice. Laços <strong>de</strong> família. 24 ed, RJ: Francisco Alves,<br />
1991.<br />
44. LÖWY, Michael. Re<strong>de</strong>nção e utopia: o ju<strong>da</strong>ísmo libertário na Europa<br />
Central: um estudo <strong>de</strong> afini<strong>da</strong><strong>de</strong> eletiva. Trad. Paulo Neves. SP: Cia <strong>da</strong>s<br />
Letras, 1989.<br />
45. MAGALDI, Sábato. Panorama do Teatro Brasileiro. São Paulo: Difusão<br />
Européia do Livro, 1962.<br />
46. ______. Mo<strong>de</strong>rna dramaturgia brasileira. SP: Perspectiva, 2005.<br />
47. MAGALHÃES JR. R. “Joracy Camargo e sua obra-prima” (Prefácio) In:<br />
CAMARGO, Joracy. Deus lhe pague, Figueira do inferno, Um corpo <strong>de</strong><br />
luz. RJ: Ediouro, 1967 (Clássicos Brasileiro).<br />
48. MALUF, Marina e MOTT, Maria Lúcia. “Recônditos do mundo feminino”<br />
In: SEVCENKO, Nicolau (org). História <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong> no Brasil:<br />
República: <strong>da</strong> Belle Époque à Era do Rádio. SP: Cia <strong>da</strong>s Letras, 1998<br />
(volume 3 <strong>da</strong> coleção dirigi<strong>da</strong> <strong>por</strong> Fernando A. Novais).<br />
49. MARTINS, Wilson. História <strong>da</strong> inteligência brasileira. SP: Cultrix, 1978<br />
(v.VI)<br />
50. MARTINS, Maria Teresinha. Luz e sombra em <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Goiânia:<br />
UCG; CEGRAF, 1997 (Col. Orfeu).<br />
51. MOISÉS, Massaud. Dicionário <strong>de</strong> Termos Literários. São Paulo: Martins<br />
Fontes, 1980.<br />
52. MOREYRA, Álvaro. Adão, Eva e outros membros <strong>da</strong> família. RJ:<br />
Pimenta <strong>de</strong> Mello & C., 1929.<br />
53. MOTA, Carlos Guilherme. I<strong>de</strong>ologia <strong>da</strong> Cultura Brasileira: 1933-1974.<br />
9ed, SP: Ática, 2002.<br />
54. NASCIMENTO, Maria Terezinha Martins do. Luz e sombra em <strong>Lúcio</strong><br />
<strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> doutorado. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UFRJ, 1992.<br />
55. O’NEILL, Eugene. Quatro peças. Trad. Luiz Drummond Navarro. RJ:<br />
Delta, 1964.<br />
56. ______. Electra enluta<strong>da</strong>: uma trilogia. Trad. R. Magalhães Jr. e Miroel<br />
Silveira RJ: Bloch Editores, 1970.<br />
57. OGAWA, Felícia Megumi. O Teatro Brasileiro dos anos 30: um estudo<br />
sociológico. São Paulo: USP, F.F.L.C.H., 1972, 137 fl. Mimeo.<br />
Dissertação <strong>de</strong> Mestrado em Ciências Sociais.<br />
58. OSAKABE, Haquira. “O crime como re<strong>de</strong>nção (Uma aproximação aos<br />
primeiros romances católicos <strong>de</strong> 30). In: FINAZZI-AGRÓ, Ettore &
175<br />
VECCHI, Roberto (orgs). Formas e mediações do trágico mo<strong>de</strong>rno: uma<br />
leitura do Brasil. SP: Unimarco Ed., 2004, p.79-88.<br />
59. PETRILLO, Regina C. P. Signos em trânsito: o roteiro <strong>de</strong> uma busca. A<br />
poética <strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Tese <strong>de</strong> Doutorado, UFRJ, 2002.<br />
60. PAVIS, Patrice. Dicionário <strong>de</strong> Teatro. SP: Perspectiva, 2001.<br />
61. PRADO, Décio <strong>de</strong> Almei<strong>da</strong>. Apresentação do teatro brasileiro: crítica<br />
teatral (1947-1955). SP: Livraria Martins Ed., s/d.<br />
62. ______. História concisa do teatro brasileiro. SP; Edusp, Fapesp, 2003.<br />
63. ______. O teatro brasileiro mo<strong>de</strong>rno. 2ed. SP: Perspectiva, 2003.<br />
64. ROSA E SILVA, Enaura Q. A alegoria <strong>da</strong> ruína: uma análise <strong>da</strong> Crônica<br />
<strong>da</strong> Casa Assassina<strong>da</strong>. Maceió: HD Livros, 1995.<br />
65. ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às gran<strong>de</strong>s teorias do teatro. RJ:<br />
Jorge Zahar, 2003.<br />
66. RYUNGAERT, Jean-Pierre. Ler o teatro contem<strong>por</strong>âneo. SP. Martins<br />
Fontes, 1998.<br />
67. SCHAPOCHNICK, Nelson. “Cartões postais, álbuns familiares e ícones<br />
<strong>da</strong> intimi<strong>da</strong><strong>de</strong>”. In: SEVCHENCKO Nicolau (org). História <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong><br />
no Brasil: República: <strong>da</strong> Belle Époque à Era do Rádio. SP: Cia <strong>da</strong>s<br />
Letras, 1998, p.423-512. (volume 3 <strong>da</strong> coleção dirigi<strong>da</strong> <strong>por</strong> Fernando A.<br />
Novais).<br />
68. SCHWARZ, Roberto. “Emília Galotti e o nascimento do realismo”.<br />
In:___: A sereia e o <strong>de</strong>sconfiado. 2ª ed. RJ: Paz e Terra, 1981, p.109-<br />
131.<br />
69. SILVA, Mª. Lucilene <strong>da</strong>. Desvios <strong>da</strong> angústia: uma leitura <strong>de</strong> O escravo<br />
<strong>de</strong> <strong>Lúcio</strong> <strong>Cardoso</strong>. Maceió: Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Alagoas, 2000, 102<br />
f., mimeo. Dissertação <strong>de</strong> mestrado Letras e Lingüística.<br />
70. SILVA, Regina Céli A. Vampiros com <strong>de</strong>ntes cariados: Literatura e<br />
cinema em João Gilberto Noll, João do Rio e Bram Stocker. RJ: Ágora<br />
<strong>da</strong> Ilha, 2002.<br />
71. STOCKER, Bram. Drácula, o vampiro <strong>da</strong> noite. SP: Martin Claret, 2003.<br />
72. SZONDI, Peter. Teoria do drama mo<strong>de</strong>rno [1880-1950]. SP: Cosac &<br />
Naify, 2001.<br />
73. ______. Teoria do drama burguês. SP: Cosac & Naify, 2004.<br />
74. VIANNA, Oduvaldo. Amor... In: ___ Teatro. RJ: Civilização Brasileira,<br />
1934.<br />
75. VIANNA, Renato. Sexo * Deus. RJ: Editora A Noite, s/d (Obras<br />
completas <strong>de</strong> Renato Vianna, I)<br />
76. WALDMAN, Berta. Do vampiro ao cafajeste: uma leitura <strong>da</strong> obra <strong>de</strong><br />
Dalton Trevisan. 2ª ed., SP; Hucitec, Ed. <strong>da</strong> UNICAMP, 1989.
77. WILDE, Oscar. O retrato <strong>de</strong> Dorian Gray. In: ___. Obra completa. RJ:<br />
Nova Aguilar, 1995.<br />
78. WILLIAMS, Raymond. Tragédia Mo<strong>de</strong>rna. Cosac & Naify, 2002.<br />
79. ZOLA, Emile. O romance experimental e o Naturalismo no teatro. SP:<br />
Perspectiva, 1982.<br />
176