Anais do I- EEL - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Anais do I- EEL - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Anais do I- EEL - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>Anais</strong> <strong>do</strong> I- <strong>EEL</strong><br />
I – Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários<br />
da UEMS: Literatura, História e<br />
Socieda<strong>de</strong>
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
I – Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários<br />
da UEMS: Literatura, História e<br />
Socieda<strong>de</strong><br />
07 a 09 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2010<br />
Unida<strong>de</strong> Universitária <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong><br />
Campo Gran<strong>de</strong>/MS<br />
2010
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>Anais</strong> <strong>do</strong> I-Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, 2010: Campo Gran<strong>de</strong>, MS –<br />
Literatura, História e Socieda<strong>de</strong>/ Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira ... et al. Campo Gran<strong>de</strong>:<br />
UEMS, 2010, e-book.<br />
ISBN:<br />
1. Literatura e cultura, Estu<strong>do</strong>s literários – Encontro. I. Título. II. PEREIRA, D. <strong>de</strong> C.<br />
III. <strong>EEL</strong>
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
ANAIS DO I <strong>EEL</strong><br />
I – Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS: Literatura, História e Socieda<strong>de</strong><br />
<strong>Universida<strong>de</strong></strong> <strong>Estadual</strong> <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> - UUCG<br />
De 07 a 09 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2010<br />
REITOR<br />
Gilberto José <strong>de</strong> Arruda<br />
VICE-REITOR<br />
Adilson Crepal<strong>de</strong><br />
GERENTE DA UUC<br />
Celi Corea Neres<br />
COORDENADOR DO CURSO DE LETRAS<br />
Daniel Abrão<br />
COORDENADOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIÊNCIAS DA<br />
LINGUAGEM<br />
Antonio Carlos Santana <strong>de</strong> Souza<br />
COORDENADORES DO I <strong>EEL</strong><br />
Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira<br />
Daniel Abrão<br />
COMISSÃO ORGANIZADORA<br />
Antonio Carlos Santana <strong>de</strong> Souza<br />
Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira<br />
Daniel Abrão<br />
Eliane Maria <strong>de</strong> Oliveira Giacon<br />
Marlon Leal Rodrigues<br />
COMITÊ CIENTÍFICO<br />
Ana Aparecida Arguelho <strong>de</strong> Souza(UEMS)<br />
Antonio Rodrigues Belon (UFMS)<br />
Benjamin Abdala Junior (USP)<br />
Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira (UEMS/UFMS)<br />
Daniel Abrão (UEMS)<br />
Eliane Maria <strong>de</strong> Oliveira Giacon (UEMS)<br />
Fábio Akcebrud Durão (UNICAMP)<br />
José Batista Sales (UFMS)<br />
Kelcilene Gracia Rodrigues (UFMS)<br />
Lucilene Soares da Costa (UEMS)<br />
Rauer Rodrigues (UFMS)<br />
Rogério Silva Pereira (UFGD)<br />
Romair Alves <strong>de</strong> Oliveira (UFMT/UNEMAT)<br />
Susanna Busato (UNESP)<br />
Susylene Dias Araújo (UEMS)<br />
Zélia Ramona Nolasco <strong>do</strong>s Santos Freire (UEMS)<br />
O conteú<strong>do</strong> <strong>do</strong>s artigos e a revisão linguística e ortográfica <strong>do</strong>s textos são <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong>s autores.
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
SUMÁRIO<br />
Apresentação ......................................................................................................................................5<br />
Teatro, literatura e audiovisual: linguagens em aproximação............................................................6<br />
Carlos Alberto Correia<br />
O prazer e o sofrimento nas personagens femininas <strong>do</strong> conto O corpo, <strong>de</strong> Clarice Lispector .........27<br />
Daniela Gomes Loureiro<br />
Algumas consi<strong>de</strong>rações sobre a perspectiva historiográfica .......................................................... 20<br />
Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira<br />
O monstro e seu avesso em Um rio chama<strong>do</strong> tempo, uma casa chamada terra, <strong>de</strong> Mia Couto ......................................... 37<br />
Juliana Ciambra Rahe<br />
Questionan<strong>do</strong> os papéis: a literatura na perspectiva <strong>de</strong> John Beverley e Edward Said ................ 46<br />
Keli Cristina Pacheco<br />
Will Eisner: o espírito das histórias em quadrinhos ....................................................................... 59<br />
Leilane Har<strong>do</strong>im Simões<br />
As vertentes culturais em Sob os cedros <strong>do</strong> senhor (1994), <strong>de</strong> Raquel Naveira ............................ 69<br />
Lemuel <strong>de</strong> Faria Diniz<br />
Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke: um gran<strong>de</strong> escritor fora da lista canônica brasileira ......................... 84<br />
Luciana Rueda Soares<br />
O silêncio da linguagem em A paixão <strong>de</strong> Cristo segun<strong>do</strong> G.H ..................................................... 97<br />
Luiza <strong>de</strong> Oliveira<br />
Xoxota estética, mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> representação ........................................................................................ 107<br />
Marcus Vinicius Camargo e Souza<br />
A representação da infância sob a perspectiva da nova história cultural e da literatura .......... 120<br />
Nubea Rodrigues Xavier<br />
Cu é lin<strong>do</strong> – o palavrão como recurso <strong>do</strong> erotismo na lírica contemporânea brasileira .............. 130<br />
Osmar Casagran<strong>de</strong> Júnior<br />
Tradutoras, datilógrafas e ren<strong>de</strong>iras ............................................................................................. 139<br />
Rafael Car<strong>do</strong>so-Ferreira<br />
República <strong>do</strong> livro: leitura e formação <strong>do</strong> professor-leitor no Curso <strong>de</strong> Letras ........................... 147<br />
Serley <strong>do</strong>s Santos e Silva<br />
O fazer política em Macbeth ......................................................................................................... 159<br />
Silvana Colombelli Parra Sanches
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
APRESENTAÇÃO<br />
O I – Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS – <strong>EEL</strong> – realiza<strong>do</strong> nos dias 07, 08 e 09 <strong>de</strong> abril<br />
<strong>de</strong> 2010 é resulta<strong>do</strong> <strong>de</strong> discussões realizadas no Grupo <strong>de</strong> Pesquisa Literatura, História e Socieda<strong>de</strong>.<br />
Do Grupo <strong>de</strong> pesquisa surgiu a i<strong>de</strong>ia e o tema <strong>do</strong> evento, que congrega pesquisa<strong>do</strong>res <strong>de</strong> diferentes<br />
IES <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> e <strong>do</strong> Brasil. O I – Encontro <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, realiza<strong>do</strong> em<br />
conjunto com o II- Encontro <strong>de</strong> Análise <strong>do</strong> Discurso e o I- Encontro <strong>de</strong> Sociolinguística – Sociodialeto<br />
formam o I- Seminário <strong>de</strong> Letras da UEMS. Os três eventos, conjuga<strong>do</strong>s, representam as linhas<br />
teóricas que orientam a construção <strong>do</strong> Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em Letras da UEMS, nível <strong>de</strong><br />
Mestra<strong>do</strong>, projeto sob avaliação da CAPES.<br />
A i<strong>de</strong>ia central <strong>do</strong> I-<strong>EEL</strong> é promover o diálogo plural e a proximida<strong>de</strong> das ações <strong>de</strong> pesquisa<br />
em Estu<strong>do</strong>s Literários, promoven<strong>do</strong> a valorização <strong>de</strong> diferentes linguagens. É também um momento<br />
<strong>de</strong> estimular a produção <strong>de</strong> novos conhecimentos, <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver o espírito <strong>de</strong> pesquisa e,<br />
consequentemente, <strong>de</strong> contribuir para a formação <strong>do</strong>s profissionais da área <strong>de</strong> Letras em MS, via<br />
contato como pesquisa<strong>do</strong>res <strong>de</strong> outras IES.<br />
Os artigos <strong>do</strong>s ANAIS resultam <strong>do</strong>s trabalhos apresenta<strong>do</strong>s durante o I <strong>EEL</strong> e compreen<strong>de</strong><br />
um esforço em divulgar as pesquisas apresentadas no evento, dan<strong>do</strong>, com isso, oportunida<strong>de</strong> aos<br />
congressistas <strong>de</strong> um maior contato com as pesquisas <strong>de</strong>senvolvidas e apresentadas no evento em<br />
forma <strong>de</strong> comunicações individuais.<br />
Agra<strong>de</strong>cemos a valiosa contribuição da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>,<br />
Campus <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> que, gentilmente, disponibilizou o espaço físico para a realização <strong>do</strong><br />
evento.<br />
Comissão Organiza<strong>do</strong>ra<br />
5
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
TEATRO, LITERATURA E AUDIOVISUAL: LINGUAGENS EM<br />
APROXIMAÇÃO 1<br />
Carlos Alberto Correia (PG – UFMS) 2<br />
A linguagem literária é uma arte que trabalha essencialmente com recursos da imaginação,<br />
pois <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> principalmente <strong>do</strong> potencial <strong>de</strong> seu autor na elaboração <strong>de</strong> sua narrativa, <strong>de</strong> seus<br />
personagens, <strong>de</strong> suas ações e tramas. A linguagem teatral também é um arte imaginativa, sua<br />
essência é a imaginação <strong>de</strong> seus atores metamorfosea<strong>do</strong>s que faz a magia teatral. A linguagem<br />
audiovisual, por sua vez, transforma palavras em imagens, partin<strong>do</strong> da visão <strong>de</strong> um roteirista,<br />
e da manipulação <strong>do</strong> diretor, mantém uma atmosfera mágica, se aproximan<strong>do</strong> da literatura e<br />
<strong>do</strong> teatro, por meio <strong>de</strong> um jogo concretiza<strong>do</strong> por linguagens, que seduz, e envolve seu<br />
especta<strong>do</strong>r. O leitor com sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conectar-se a esse universo criativo, acrescentalhe<br />
<strong>de</strong> maneira particular o seu mun<strong>do</strong>, e assim, ao ler comunga <strong>de</strong>sta linguagem, participa<br />
com suas próprias experiências <strong>de</strong>ste rico universo. Deste mo<strong>do</strong>, este artigo versará sobre<br />
possíveis aproximações entre as três linguagens: literária, teatral e audiovisual, preten<strong>de</strong>n<strong>do</strong><br />
estabelecer conexões, e elos que as aproximem e as façam dialogar entre si. Para tal, o foco<br />
recairá na análise da minissérie global O primo Basílio e seu processo <strong>de</strong> adaptação para<br />
linguagem audiovisual.<br />
Palavras- chave: adaptação audiovisual; teatro; literatura; aproximações; O primo Basílio<br />
Abstract<br />
The literary language is an art that works primarily with resources of imagination it <strong>de</strong>pends<br />
mainly on the potential of its author, the elaboration of its narrative, its characters, their<br />
actions and plots. The theatrical language is also an imaginative art, its essence is the<br />
imagination of its actors metamorphosed making theatrical magic. The audiovisual language,<br />
in turn, transforms words into images, starting from the vision of a screenwriter, director and<br />
manipulation, has a magical atmosphere, approaching literature and drama through a play<br />
brought about by language, which seduces, and involves his audience. The player with his<br />
ability to connect to this creative universe, adds her special way of his world, and so to read,<br />
share this language, participates with his own experience this rich universe. Therefore, this<br />
article will focus on possible similarities between the three languages: literary, theatrical and<br />
audiovisual, intending to establish connections, and links that bring them closer and make<br />
them talk to each other. To this end, the discussion focuses on the analysis of O primo Basílio<br />
global miniseries and his process of adaptation to audiovisual language.<br />
Keywords: audiovisual adaptation; theater; literature; approaches; O primo Basílio.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
1<br />
- Trabalho apresenta<strong>do</strong> ao I SEMINÁRIO DE LETRAS UEMS, inseri<strong>do</strong> no I ENCONTRO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:<br />
LITERATURA, HISTÓRIA E SOCIEDADE.<br />
2<br />
Aluno <strong>do</strong> Programa <strong>de</strong> Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Linguagens da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. Professor da<br />
re<strong>de</strong> pública Municipal e <strong>Estadual</strong> <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. E-mail: calcorreiasp@gmail.com.br<br />
6
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Há muitos questionamentos em torno <strong>do</strong> verbete teatro. Muitos tentam discutir a<br />
verda<strong>de</strong>ira essência <strong>de</strong>ssa arte. Alguns a colocam como pura arte dramática; outros a veem<br />
como uma arte coletiva, formada pela composição <strong>de</strong> diversas outras artes. E, a partir <strong>de</strong>sse<br />
último viés, a arte teatral coletiva e em constante diálogo com as <strong>de</strong>mais artes, que caminha<br />
esse trabalho, estabelecen<strong>do</strong> assim relações entre as artes audiovisual, literária e teatral.<br />
Ao referir-se a linguagem audiovisual, reaviava-se o conhecimento <strong>de</strong> que o cinema<br />
foi uma das artes fundada com técnicas <strong>de</strong> reprodução, recorren<strong>do</strong> <strong>de</strong>sse mo<strong>do</strong>, a diversas<br />
formas artísticas, tais como: a música, a literatura, a poesia e ao teatro. Para enten<strong>de</strong>rmos<br />
melhor essa complexida<strong>de</strong>, partiremos da atual condição da produção <strong>de</strong> adaptação <strong>de</strong> obras<br />
literárias para a linguagem audiovisual, fato este, que nos faz perceber as interconexões e<br />
retroalimentações entre essas linguagens, que acabam por avançar por espaços, que até há<br />
pouco tempo pertenciam a outras artes. Como diz Alain Badiou (1998), “é impossível pensar<br />
o cinema fora <strong>de</strong> um tipo <strong>de</strong> espaço geral on<strong>de</strong> apreen<strong>de</strong>mos a sua conexão a outras artes” (p.<br />
122); assim sen<strong>do</strong>, o cinema e a produção audiovisual se realizam a partir das conexões e<br />
contatos com outras artes. Por esse prisma, o teatro, assim como as produções <strong>do</strong> cinema e da<br />
televisão, presta-se também a figurar entre os elementos <strong>do</strong> espetáculo.<br />
Ao se tratar da transposição <strong>de</strong> um suporte ao outro, não se põe em dúvida a<br />
adaptabilida<strong>de</strong> dramática para tela e para o ví<strong>de</strong>o <strong>de</strong> textos literários ou teatrais. Exige-se<br />
apenas que a transposição observe as regras da nova linguagem. A utilização <strong>de</strong> um código<br />
como base para a produção <strong>de</strong> outros códigos po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> uma transcodificação. À<br />
primeira vista, esta explicação seria óbvia. Entretanto, quan<strong>do</strong> se trata da transcodificação <strong>de</strong><br />
um código literário ficcional para a linguagem audiovisual não é tão simples. Este processo <strong>de</strong><br />
adaptação, argumenta Comparato:<br />
[...] é uma transcrição <strong>de</strong> linguagem que altera o suporte lingüístico utiliza<strong>do</strong> para<br />
contar a mesma história”, equivale, portanto, à recriação da mesma obra levan<strong>do</strong> em<br />
consi<strong>de</strong>ração a linguagem própria <strong>do</strong> meio para o qual se está produzin<strong>do</strong>.<br />
(COMPARATO,1996, p. 30)<br />
Embora essas adaptações estejam em meios diversos (cinema, minissérie televisiva), e<br />
“estes”, preencham parte <strong>do</strong> espaço social ocupa<strong>do</strong> pelo anterior, no caso o romance, vale<br />
dizer que a relação entre eles <strong>de</strong>ve ser vista pela ótica da complementarida<strong>de</strong>, e não, o da<br />
substituição.<br />
Na socieda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna os meios <strong>de</strong> comunicação ocupam gran<strong>de</strong> parte <strong>do</strong> cotidiano<br />
das pessoas. A televisão é o meio <strong>de</strong> comunicação que adquiriu gran<strong>de</strong> espaço neste território,<br />
não sen<strong>do</strong> utilizada somente para o entretenimento, mas também para a formação e o contato<br />
7
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
social, tornan<strong>do</strong>-se inclusive substituto <strong>do</strong> contato com os outros e das relações face a face.<br />
Essa estrutura televisiva é composta por fluxos que enveredam por vários caminhos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
informações referentes às ativida<strong>de</strong>s cotidianas, até programas cria<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o intertexto que<br />
reafirmam os laços com outros meios <strong>de</strong> comunicação, como as adaptações <strong>de</strong> obras literárias<br />
para a televisão.<br />
Assim como as produções audiovisuais, o teatro se vale da literatura como substrato<br />
para sua elaboração, afinal, o texto teatral po<strong>de</strong> ser li<strong>do</strong> como literário. Porém essa afirmação<br />
tem gera<strong>do</strong> gran<strong>de</strong> discussão entre os estudiosos <strong>do</strong> gênero, uma vez que, a arte literária acaba<br />
que receben<strong>do</strong> por parte <strong>de</strong> alguns críticos, maior <strong>de</strong>staque.<br />
Essa temática será recorrente ao longo <strong>de</strong>ste trabalho, já que a adaptação audiovisual<br />
em análise e o próprio conceito <strong>de</strong> teatro recorrem a esta discussão. Ubersfeld (2005) ao tratar<br />
<strong>do</strong>s signos representacionais resolve esse impasse entre texto e representação, ao afirmar que<br />
um <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> conjunto <strong>de</strong> signos, tanto visuais, auditivos ou musicais constitui um senti<strong>do</strong>,<br />
ou melhor, uma pluralida<strong>de</strong> <strong>de</strong> senti<strong>do</strong>, que não se limita apenas ao campo textual, o<br />
extrapola, o consome e o faz presente (p. 3-5).<br />
A partir <strong>do</strong>s pressupostos alça<strong>do</strong>s sobre o teatro e sua linguagem, que os objetos em<br />
análise se relacionam. O diálogo entre a minissérie global e a arte <strong>do</strong> teatro se instaura a partir<br />
<strong>do</strong> texto. A minissérie tem seu script com base em um romance português <strong>do</strong> século XIX,<br />
portanto, está alicerçada na literatura para realização <strong>de</strong> sua produção. Porém, faz-se um<br />
questionamento: quan<strong>do</strong> o texto passa a ser encena<strong>do</strong> pelos atores, que propiciam voz, corpo,<br />
expressão àqueles seres <strong>de</strong> papel, essa produção ainda é consi<strong>de</strong>rada literatura? É por meio<br />
<strong>de</strong>sta perspectiva, resguardadas as <strong>de</strong>vidas proporções, que este trabalho sugere a<br />
aproximação entre a arte da adaptação e a arte teatral. A luz <strong>de</strong> Rosenfeld estabelece-se<br />
conexões entre ambas as artes, já que ao se referir ao texto teatral, o crítico o vê como um “o<br />
bloco <strong>de</strong> pedra” que molda-se com ajuda <strong>de</strong> diversos profissionais. Desse mo<strong>do</strong> relaciona-se a<br />
arte teatral e a produção audiovisual, já que ambas são concretizadas com o auxílio <strong>do</strong> diretor,<br />
ator, <strong>do</strong> público que propiciaram através da metamorfose <strong>do</strong> espetáculo, vida aos inúmeros<br />
personagens <strong>de</strong> papel. Essa suposta vida só passa a ser efetivada através <strong>do</strong> processo <strong>de</strong><br />
atualização que os profissionais <strong>de</strong>stas artes empenham. Segun<strong>do</strong> Rosenfeld (1993), a<br />
atualização é a encarnação <strong>do</strong> texto, a passagem <strong>de</strong> palavras abstratas e <strong>de</strong>scontínuas para a<br />
continuida<strong>de</strong> sensível, existencial da presença humana.<br />
A base <strong>do</strong> teatro e a fusão <strong>do</strong> autor com a personagem, a i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> um eu<br />
com outro eu – fato este que marca a passagem <strong>de</strong> uma arte puramente temporal e<br />
auditiva (literatura) ao <strong>do</strong>mínio <strong>de</strong> uma arte espaço-temporal ou audiovisual.<br />
(ROSENFELD, 1993, p. 21)<br />
8
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Talvez, por essa complexida<strong>de</strong> presente na linguagem teatral, que alguns críticos o<br />
apontem como arte para<strong>do</strong>xal. Para Anne Ubersfeld (2005), o teatro é a própria arte <strong>do</strong><br />
para<strong>do</strong>xo, já que consiste <strong>de</strong> um complexo <strong>de</strong> ações literárias que se configura em<br />
representação concreta, além <strong>de</strong> ser arte a um só tempo, <strong>de</strong> representação única, coletiva que<br />
permite participação <strong>do</strong> especta<strong>do</strong>r, sen<strong>do</strong> assim, a arte da interação, a arte da adaptação (p. 3-<br />
4).<br />
O trabalho <strong>de</strong> transcodificação elabora<strong>do</strong> pelo adapta<strong>do</strong>r e pelo próprio diretor<br />
pressupõe uma leitura crítica <strong>de</strong>sses textos. A adaptação não só efetua ampliações ou reduções<br />
na narrativa, como também mantém um diálogo com to<strong>do</strong> o universo da cultura, não apenas<br />
com a obra literária que lhe é cerne, mas com to<strong>do</strong> aparato cultural <strong>de</strong> sua época. Ao se referir<br />
a essa temática, Rosenfeld (1993), pontua que “O texto <strong>de</strong>ixa in<strong>de</strong>terminada uma infinida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> momentos. A gran<strong>de</strong> flexibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> teatro vivo está em preencher os vãos <strong>de</strong> mil<br />
maneiras, conforme a época, a nação, a concepção e o gesto” (p. 22).<br />
Portanto, ao se tratar <strong>de</strong> criação, produção, atualização ou encarnação no teatro ou<br />
televisão, po<strong>de</strong>-se conceber criar um novo texto, dar-lhe novos significa<strong>do</strong>s, <strong>de</strong>slocar alguns e<br />
subverter outros, pelo processo <strong>de</strong> transposição <strong>de</strong> linguagens. É nesse senti<strong>do</strong> que este artigo<br />
buscará discutir, em termos gerais, as relações dialógicas e intertextuais que se manifestam<br />
entre a literatura e o processo <strong>de</strong> adaptação na obra <strong>de</strong> Eça <strong>de</strong> Queirós e a arte teatral como<br />
recriação, como arte coletiva. Como estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> caso, partiremos <strong>do</strong> romance realista-<br />
naturalista O primo Basílio e sua adaptação para televisão. Levan<strong>do</strong> em consi<strong>de</strong>ração que esta<br />
adaptação foi realizada pela Re<strong>de</strong> Globo em 1988, sen<strong>do</strong> exibida em 16 capítulos <strong>de</strong> terças às<br />
sextas-feiras às 22h; ten<strong>do</strong> como escritores Gilberto Braga e Leonor Basséres e a direção<br />
ficou a cargo <strong>de</strong> Daniel Filho.<br />
2. O CONTEXTO HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO ROMANCE<br />
O século XIX, sobretu<strong>do</strong> em sua segunda meta<strong>de</strong>, perío<strong>do</strong> em que fora escrito o<br />
romance em estu<strong>do</strong>, representa uma das fases mais ativas, <strong>do</strong> ponto <strong>de</strong> vista intelectual e<br />
literário da história europeia. Nesse contexto, tem-se um Portugal regenera<strong>do</strong>, recupera<strong>do</strong> da<br />
aguda crise enfrentada principalmente pela in<strong>de</strong>pendência <strong>do</strong> Brasil na primeira meta<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
século. Essa crise econômica só iria resolver-se a partir <strong>de</strong> 1851, quan<strong>do</strong> se inicia o perío<strong>do</strong><br />
histórico conheci<strong>do</strong> como Regeneração, que pretendia reerguer o país. Verifica-se, então, ao<br />
la<strong>do</strong> <strong>de</strong> uma política liberal, um programa econômico <strong>de</strong>senvolvimentista que se dirige, em<br />
primeiro lugar, para aumento da produção agrícola. Em História social da literatura<br />
9
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Portuguesa (1985), Abdala Junior e Maria Aparecida Paschoalin, tratam <strong>de</strong>sse perío<strong>do</strong>,<br />
apontan<strong>do</strong> a formação <strong>de</strong> uma nova classe social, a <strong>de</strong>nominada pequena burguesia citadina,<br />
que saiu <strong>do</strong> campo para cida<strong>de</strong>, a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>sfrutar <strong>do</strong> progresso e <strong>do</strong>s melhoramentos<br />
materiais e sociais que lhes foram proporciona<strong>do</strong>s. Seguin<strong>do</strong> os autores<br />
A política econômica <strong>de</strong>senvolvimentista seguida pelo regime liberal trouxe gran<strong>de</strong><br />
aumento da produção agrícola, benefician<strong>do</strong> os proprietários da terra, que passaram<br />
a residir nas cida<strong>de</strong>s. Em conseqüência, temos o crescimento <strong>de</strong> uma classe média<br />
citadina, <strong>de</strong> raízes agrárias, que veio somar-se à comercial, grupo social bastante<br />
beneficia<strong>do</strong> pelo <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s novos meios <strong>de</strong> comunicação. (ABDALA<br />
JÚNIOR, PASCHOALIN, 1985, p. 99.)<br />
É nesse contexto, com o surgimento <strong>de</strong> uma nova classe social, a <strong>de</strong>nominada pequena<br />
burguesia citadina, que se inicia um novo movimento literário: o Realismo, o qual evoluiu<br />
gradativamente para o Naturalismo. A ascensão <strong>de</strong>sse estilo <strong>de</strong> literatura em Portugal foi<br />
propiciada quan<strong>do</strong> a alta burguesia já não mais assumia o controle <strong>do</strong> país. A emergência <strong>de</strong><br />
uma nova classe favoreceu o crescimento da produção literária, passan<strong>do</strong> a consumir cada vez<br />
mais jornais, revistas, romances, transforman<strong>do</strong>-se num público significativo, que queria ver<br />
seus problemas retrata<strong>do</strong>s na literatura por meio da representação da realida<strong>de</strong> em que vivia,<br />
tanto a situação social, econômica e política. E, é esse aumento significativo <strong>do</strong>s meios <strong>de</strong><br />
informação que irá propiciar aos escritores e jornalistas a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> crítica social;<br />
<strong>de</strong>ntre esses escritores, <strong>de</strong>staca-se Eça <strong>de</strong> Queirós, que através <strong>de</strong> seu estilo e crítica traçara o<br />
perfil da socieda<strong>de</strong> lisboeta <strong>do</strong> século XIX.<br />
Da mesma forma como ocorreu nos países europeus, em Portugal, o movimento<br />
romântico também remonta à evolução econômico-social e política da burguesia. A nobreza<br />
per<strong>de</strong> o po<strong>de</strong>r político e econômico e a burguesia passa então a ditar seus valores e costumes.<br />
Nessa perspectiva, surge nesse cenário um novo público-leitor, que tem sua origem na<br />
burguesa, cuja formação literária advém <strong>de</strong> leitura <strong>de</strong> jornais e <strong>de</strong> novos bens culturais<br />
vendi<strong>do</strong>s agora a preços acessíveis.<br />
Além disso, a elevação <strong>do</strong> po<strong>de</strong>r aquisitivo da classe média e um sistema <strong>de</strong><br />
impressão em escala comercial propiciaram o alargamento <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> consumi<strong>do</strong>r.<br />
Se no classicismo tínhamos um público aristocrático, palaciano, agora este é mais<br />
amplo e precisava ser motiva<strong>do</strong> para adquirir a obra <strong>de</strong> arte. Há, nesse setor, como<br />
no conjunto da socieda<strong>de</strong>, uma <strong>de</strong>mocratização da cultura. (ABDALA JÚNIOR,<br />
PASCHOALIN, 1985, p.78.)<br />
A formação <strong>de</strong>ssa nova classe social e seu êxo<strong>do</strong> para cida<strong>de</strong> contribuiu <strong>de</strong> forma<br />
incisiva para a valorização da educação e avivamento da vida cultural nos gran<strong>de</strong>s centros,<br />
além é claro, <strong>de</strong> impulsionar o aumento <strong>do</strong> consumo <strong>de</strong> jornais e bens culturais; ato que<br />
funcionou como um meio <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização cultural. Assim, os meios <strong>de</strong> informação, tais<br />
10
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
como: jornais e romances <strong>de</strong>sse perío<strong>do</strong> irão refletir a concepção geral da vida portuguesa<br />
<strong>de</strong>sta época.<br />
3. RESIGNIFICAÇÕES EM “O PRIMO BASÍLIO” – OS VÁRIOS SÍMBOLOS NA<br />
OBRA<br />
Tanto na literatura, quanto na televisão ou no teatro, o signo é um forte elemento que<br />
contribui e carrega significa<strong>do</strong> a toda ação estabelecida em cena. Via Saussure, sabe-se que<br />
signo é um elemento significante composto por duas partes indissociáveis, porém, passivas <strong>de</strong><br />
separação legítima e meto<strong>do</strong>lógica composta pelo significante e o significa<strong>do</strong>. Esta retomada<br />
é relevante, pois é por meio <strong>de</strong> análise sígnica que a personagem Juliana conclui o adultério<br />
por parte da patroa. A leitura, a interpretação que a personagem faz <strong>do</strong>s acontecimentos,<br />
sugere a ela o forte índice da traição. A passagem abaixo ilustra a conexão estabelecida pela<br />
empregada e signo analisa<strong>do</strong>.<br />
Eram <strong>de</strong>z horas, Juliana foi tomar o seu chá, á cozinha. O lume ia se apagan<strong>do</strong>; o<br />
can<strong>de</strong>eiro <strong>do</strong> petróleo estendia nos cobres <strong>do</strong>s tachos reflexos avermelha<strong>do</strong>s.<br />
- Hoje houve coisa, Sra. Joana – disse Juliana sentan<strong>do</strong>-se.<br />
- Está toda no ar! É cada suspiro! Ali houve-a e grossa. (...)<br />
- E diz que lhe faça amanhã ao almoço um bocato <strong>de</strong> presunto frito, <strong>do</strong> salga<strong>do</strong>.<br />
Quer picante.<br />
E com muito escárnio:<br />
- Sempre a gente vê coisas! Quer picantes! (Queirós, 1997, p, 123/124)<br />
Luis Prieto, cita<strong>do</strong> por Rosenfeld (1993), recorre à terminologia pierciana para<br />
distinguir signos intencionais <strong>de</strong> signos não-intencionais. Para o estudioso, os signos não-<br />
intencionais estruturam-se como “índices”. Na passagem em análise, o fato da personagem<br />
Luisa após os encontros com o primo Basílio querer presunto frito picante, sugere a<br />
empregada a relação <strong>do</strong> adultério.<br />
Pensan<strong>do</strong> na adaptação audiovisual e nos conceitos estabeleci<strong>do</strong>s por Prieto, po<strong>de</strong>mos<br />
afirmar que um signo intencional interessante estabeleci<strong>do</strong> pela adaptação foi o tratamento<br />
da<strong>do</strong> as cores referentes a cada personagem. Por exemplo, no início da narrativa, Luisa tem<br />
em sua roupagem cores claras, como o rosa e o branco, em contraste com o preto das roupas<br />
<strong>de</strong> Juliana. Com o gradativo fortalecimento da empregada, seu figurino começa a receber mais<br />
cor, que automaticamente vai <strong>de</strong>saparecen<strong>do</strong> das roupas <strong>de</strong> Luísa. Para Prieto, este signo<br />
intencional “é <strong>de</strong>nomina<strong>do</strong> por sinal, mecanismo responsável por fornecer novos significa<strong>do</strong>s<br />
a alguns elementos <strong>do</strong> texto” (PRIETO apud ROSENFELD, 1993, p. 11).<br />
Para Ubersfeld (2005) to<strong>do</strong> signo teatral é simultaneamente índice e ícone, às vezes<br />
símbolo. Segun<strong>do</strong> a autora “ícone, pois o teatro é <strong>de</strong> certo mo<strong>do</strong> a produção–reprodução das<br />
ações humanas; índice, pois to<strong>do</strong> elemento da representação insere-se numa sequência em que<br />
11
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
adquire senti<strong>do</strong>” (p. 11). Pensan<strong>do</strong> nestas relações estabelecidas entre os signos teatrais e os<br />
signos da adaptação audiovisual, far-se-á esse paralelo, uma vez que<br />
po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar que a construção <strong>do</strong> signo na representação serve para compor<br />
um sistema <strong>de</strong> representação autônomo, <strong>do</strong> qual o conjunto <strong>do</strong>s signos textuais<br />
constitui só uma parte. Essa hipótese é a mais fecunda e correspon<strong>de</strong> melhor à<br />
realida<strong>de</strong> <strong>do</strong> teatro, pois o trabalho prático da representação consiste em<br />
reconsi<strong>de</strong>rar os <strong>do</strong>is sistemas significantes e combiná-los. (UBERSFELD, 2005. p.<br />
15)<br />
Estas conexões são possíveis, pois sabemos que as representações teatrais, assim como<br />
as representações audiovisuais, são formadas por um conjunto <strong>de</strong> signos <strong>de</strong> natureza diversa<br />
que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m, se não totalmente, pelo menos parcialmente <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> comunicação,<br />
já que comportam uma série complexa <strong>de</strong> emissores, <strong>de</strong> mensagens que <strong>de</strong>stinam-se a um<br />
receptor múltiplo. Vale lembrar que o discurso teatral tem em si o falar <strong>do</strong> outro, a<br />
duplicida<strong>de</strong>, ou seja, o discurso <strong>do</strong> outro é que o habita. Sobre esse prisma, vale ressaltar a<br />
contribuição <strong>de</strong> Dominique Maingueneau (1996), que propõe o arquienuncia<strong>do</strong>r: alguém que<br />
fala o discurso <strong>do</strong> outro. Segun<strong>do</strong> Maingueneau isso é possível, pois “os atores não são os<br />
verda<strong>de</strong>iros fia<strong>do</strong>res <strong>de</strong> suas réplicas, são na verda<strong>de</strong> sujeitos falantes e não locutores” (p.<br />
161).<br />
Outro fator interessante a ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> é fato da linguagem teatral ter dupla<br />
existência, já que está presente no interior da representação, a prece<strong>de</strong>, e, a acompanha. Um<br />
exemplo clássico po<strong>de</strong> ser retira<strong>do</strong> <strong>do</strong> romance em análise. Eça <strong>de</strong> Queirós fiel ao costumes<br />
da época retrata a vida cultural <strong>do</strong> casal Jorge e Luisa, que frequentam com assiduida<strong>de</strong> os<br />
teatros portugueses. Na abertura <strong>do</strong> seu livro, Queirós relata a impressão <strong>de</strong>ixada no casal<br />
após a apreciação da ópera Fausto, no Teatro <strong>de</strong> São Carlos, Portugal. Tal qual o livro, as<br />
produções audiovisuais valorizam e propiciam o gran<strong>de</strong> espaço <strong>do</strong> teatro na vida das<br />
personagens. Uma vez que chegan<strong>do</strong> a sua casa, o personagem Jorge cantarola impressiona<strong>do</strong><br />
trechos da ópera que acabara <strong>de</strong> assistir com sua esposa. Segun<strong>do</strong> o crítico Magaldi (1997),<br />
essa reação só é possível, pois “a multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fatores artísticos conduz a síntese teatral.<br />
Arte impura, captan<strong>do</strong> aqui e ali to<strong>do</strong>s os instrumentos capazes <strong>de</strong> produzir o maior impacto<br />
no especta<strong>do</strong>r” (p. 13). Rosenfeld (1993), ao tratar da essência <strong>do</strong> teatro contempla esse<br />
fascínio que perpassa pela arte da interpretação, <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> metamorfose, da<br />
transformação e i<strong>de</strong>ntificação <strong>do</strong>s personagens. O autor afirma que:<br />
não só o ator se i<strong>de</strong>ntifica com Édipo. Também o público se fun<strong>de</strong> com ele. To<strong>do</strong>s<br />
participam da metamorfose [...]. Libertamo-nos da nossa condição particular para<br />
participar <strong>do</strong> <strong>de</strong>stino exemplar <strong>do</strong>s heróis e para, transforma<strong>do</strong>s no outro, vivermos<br />
a essência da nossa condição. (ROSENFELD, 1993, p. 23)<br />
12
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Esses receptores nunca estão sós: seu olhar, ao mesmo tempo em que abrange o<br />
espetáculo, abrange também os outros especta<strong>do</strong>res, <strong>de</strong> cujos olhares por sua vez se tornam<br />
alvo, em uma corrente se significa<strong>do</strong>s gera<strong>do</strong>s por uma coletivida<strong>de</strong>, que po<strong>de</strong> assim, criar ou<br />
condicionar uma memória coletiva. O gran<strong>de</strong> dramaturgo Brecht retoma um aspecto<br />
interessante da arte teatral ao afirmar que:<br />
O prazer teatral tem a ver, em gran<strong>de</strong> parte, com essa construção visível e tangível<br />
<strong>de</strong> um fantasma que po<strong>de</strong>m só viver por procuração, sem a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nos<br />
expormos ao perigo <strong>de</strong> vivê-lo pessoalmente”. (BRECHT apud UBERSFELD,<br />
2005, p. 28)<br />
Esse fenômeno é passível <strong>de</strong> acontecimento com as produções audiovisuais, que<br />
apesar <strong>de</strong> não proporcionarem uma integração coletiva em um mesmo recinto, po<strong>de</strong>m ter o<br />
um efeito semelhante ao <strong>do</strong> teatro, já que milhares <strong>de</strong> telespecta<strong>do</strong>res acabam que conecta<strong>do</strong>s,<br />
compartilhan<strong>do</strong> uma mesma experiência mediada pelos meios <strong>de</strong> comunicação, que<br />
funcionam com uma espécie <strong>de</strong> máscara, símbolo da arte teatral. Essa conexão po<strong>de</strong> ser<br />
estabelecida, uma vez que esse instrumento simbólico, a máscara, permite vivenciar<br />
experiências sem a real necessida<strong>de</strong> da prática. Via Gomes (2009), po<strong>de</strong>-se afirmar que alguns<br />
programas audiovisuais po<strong>de</strong>m ser usa<strong>do</strong>s como fonte <strong>de</strong> aprendiza<strong>do</strong> social, já que<br />
fornecem mo<strong>de</strong>los vistos pelos membros da audiência como socialmente úteis, seja<br />
para confirmar a interpretação dada aos papéis sociais que <strong>de</strong>sempenham, seja para<br />
apren<strong>de</strong>r sobre as experiências ligadas a eles ou para imitar os comportamentos<br />
associa<strong>do</strong>s ao êxito e à aceitação social. (GOMES, 2009, p. 153)<br />
Esta assertiva po<strong>de</strong> confirmar-se, pois os especta<strong>do</strong>res po<strong>de</strong>m se i<strong>de</strong>ntificar com os<br />
personagens em apresentação, já que como afirma Ubersfeld (2005), “O especta<strong>do</strong>r sabe<br />
perfeitamente que não lhe está sen<strong>do</strong> apresenta<strong>do</strong> uma imagem verda<strong>de</strong>ira <strong>de</strong>ste mun<strong>do</strong>, mas<br />
o que lhe está sen<strong>do</strong> proposto pela perfeita ilusão é o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> uma certa postura diante <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong>.” ( p. 24)<br />
Outro signo interessante a ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> em ambas as linguagens refere-se ao espaço<br />
físico, entendi<strong>do</strong> como: o cenário, a locação, o palco, a arena, o ambiente on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>senvolve<br />
a narrativa. Esse espaço não é meramente gratuito ou estético; ele motiva o diálogo, dinamiza<br />
a ação, liga-se à vida das personagens, suas personalida<strong>de</strong>s, projetan<strong>do</strong>-se muitas vezes, no<br />
seu comportamento e esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> espírito.<br />
Quan<strong>do</strong> está anuncia<strong>do</strong> em um “texto” mais <strong>de</strong> uma informação para <strong>de</strong>screver o que<br />
motiva <strong>de</strong>terminada ação daquele personagem, este fato acaba por ser apresenta<strong>do</strong> como um<br />
produto <strong>de</strong> múltiplos impulsos ou conflitos provenientes <strong>de</strong> diversos níveis da forma <strong>de</strong> ser da<br />
personagem. Assim, é concebida Juliana, que criada pela <strong>do</strong>r e pelo sofrimento, torna-se uma<br />
personagem amarga e fria. Nessa caracterização <strong>de</strong> Juliana torna-se muito evi<strong>de</strong>nte a teoria <strong>do</strong><br />
13
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
condicionamento da personagem tanto pelo aspecto físico quanto pelas condições sociais. As<br />
características negativas <strong>do</strong> temperamento <strong>de</strong> Juliana são <strong>de</strong>terminantes pelas condições<br />
miseráveis que sempre viveu.<br />
Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava <strong>de</strong> amos, mas não mudava <strong>de</strong><br />
sorte. Vinte anos a <strong>do</strong>rmir em cacifos, a levantar-se <strong>de</strong> madrugada, a comer os<br />
restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças, as más palavras das<br />
senhoras, a fazer <strong>de</strong>spejos, a ir ao hospital quan<strong>do</strong> via a <strong>do</strong>ença, a esfalfar-se<br />
quan<strong>do</strong> voltava a saú<strong>de</strong>! Nunca se acostumara a servir! (QUEIRÓS, 1997, p. 75)<br />
Essa condição exposta à personagem Juliana, contempla uma realida<strong>de</strong> física e<br />
material (histórico <strong>de</strong> vida, cenário, hegemonia <strong>de</strong> classe social), mas a apresentação<br />
estrutural <strong>de</strong>ssa imagem, <strong>de</strong>sse condicionamento ressalta os laços entre as i<strong>de</strong>ias e as<br />
emoções, significantes e significa<strong>do</strong>s, assim as imagens são estruturadas <strong>de</strong> forma<br />
significativa, crian<strong>do</strong> uma comunicação entre o realiza<strong>do</strong>r (pessoa ou grupo) e o público, a<br />
partir <strong>de</strong> um da<strong>do</strong> universal, o tema (a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> classe), construin<strong>do</strong> um imaginário<br />
através <strong>do</strong> audiovisual e <strong>do</strong> literário. Tal imaginário é composto pelas i<strong>de</strong>ias e escolhas <strong>do</strong><br />
realiza<strong>do</strong>r e <strong>de</strong>marca<strong>do</strong> pela sua época, já que a produção <strong>de</strong>ve interagir com a mentalida<strong>de</strong> e<br />
com a maneira <strong>de</strong> viver e pensar <strong>do</strong> público, forma<strong>do</strong> <strong>de</strong> indivíduos histórico-<br />
socioculturalmente <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s. Nessa esteira, caminha-se no viés proposto por Kellner<br />
(2001), o qual afirma que toda obra dialoga com o seu contexto histórico-social. Se a obra<br />
original assinala i<strong>de</strong>ologias da época em que foi escrita, assim também será a adaptação, que<br />
dialogará com o seu perío<strong>do</strong> histórico, visões <strong>de</strong> mun<strong>do</strong> e discursos contra-hegemônicos.<br />
O estilo concebi<strong>do</strong> por Eça <strong>de</strong> Queirós em seu romance resgata a dimensão da prosa<br />
poética na “fotografia” meticulosa e lírica que faz <strong>de</strong> seus ambientes. É possível observar que<br />
a minissérie, ao tratar <strong>do</strong> cenário, <strong>do</strong> figurino, <strong>de</strong> especificida<strong>de</strong>s queirosianas, preocupa-se<br />
com os <strong>de</strong>talhes atribuí<strong>do</strong>s à prosa <strong>de</strong>ste escritor, pois recria as imagens e as cenas <strong>de</strong>talhada<br />
no livro. O tempo e o espaço são evi<strong>de</strong>ncia<strong>do</strong>s pelos <strong>de</strong>talhes da <strong>de</strong>scrição tanto na narrativa<br />
literária quanto na televisiva, a qual se utiliza <strong>de</strong> enfoques, como o close e a abertura <strong>de</strong><br />
câmera, que convidam o receptor a interagir através <strong>de</strong> suas projeções interpretativas<br />
reavivan<strong>do</strong> o espírito da narrativa. Na produção audiovisual, a atuação e direção das cenas<br />
proporcionam a transformação das palavras em imagens. O trecho a seguir é indicativo <strong>de</strong>ssa<br />
afirmação, visto que <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ter se entrega<strong>do</strong> ao primo, Luísa amanhece assim:<br />
Ergue-se <strong>de</strong> um salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os<br />
transparentes da janela... Que linda manhã! Era um daqueles dias <strong>do</strong> fim <strong>de</strong> agosto<br />
em que o estio faz uma pausa; há prematuramente, no calor e na luz, uma certa<br />
tranqüilida<strong>de</strong> outonal; o sol cai largo, resplan<strong>de</strong>cente, mas pousa <strong>de</strong> leve, o ar não<br />
tem embacia<strong>do</strong> canicular, e o azul muito alto reluz com uma niti<strong>de</strong>z lavada; respirase<br />
mais livremente, e já se não vê na gente que passa o abatimento mole da calma<br />
14
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
enfraquece<strong>do</strong>ra [...] Foi ver-se ao espelho; achou pele mais clara, mais fresca, e um<br />
enternecimento úmi<strong>do</strong> no olhar; seria verda<strong>de</strong> então o dizia Leopoldina, que “não<br />
havia como uma malda<strong>de</strong>zinha para fazer a gente bonita” Tinha um amante, ela!<br />
(QUEIRÓS, 1997, p.179)<br />
O trecho acima é minuciosamente executa<strong>do</strong> pela minissérie: tem-se na narrativa<br />
televisiva o mesmo <strong>de</strong>talhismo na <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong>s personagens e <strong>do</strong> espaço no <strong>de</strong>senrolar da<br />
ação. Como se observa na montagem <strong>do</strong>s cenários, na disposição e organização <strong>do</strong>s objetos,<br />
se estabelece uma relação <strong>de</strong> inter<strong>de</strong>pendência entre narração e <strong>de</strong>scrição que utiliza das<br />
minúcias <strong>de</strong> Eça como um complemento diegético da ação. O texto televisivo lança mão <strong>de</strong><br />
estratégias <strong>de</strong> cortes e movimentos <strong>de</strong> câmera, que buscam enfocar os objetos que compõem<br />
os cenários, num jogo estático e ao mesmo tempo dinâmico, evi<strong>de</strong>ncian<strong>do</strong> sua simbologia<br />
através das aproximações e distanciamentos <strong>do</strong>s planos <strong>de</strong> filmagem, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com a leitura<br />
<strong>do</strong> diretor.<br />
O romance foi cuida<strong>do</strong>samente “transposto” para a minissérie, permanecen<strong>do</strong> alguns<br />
diálogos intoca<strong>do</strong>s, soma<strong>do</strong>s à encenação, ou seja, à interpretação <strong>do</strong>s atores, à composição<br />
cenográfica e <strong>de</strong>mais recursos expressivos. E é assim que, com a chegada <strong>de</strong> surpresa <strong>de</strong> Dona<br />
Felicida<strong>de</strong>, Luísa acaba jogan<strong>do</strong> no lixo a carta que escrevera para seu amante. Juliana, muito<br />
atenta, pega-a e a escon<strong>de</strong>, para então chantagear a patroa. Tem-se aqui outro exemplo <strong>de</strong><br />
plurissignificação da linguagem <strong>de</strong> O primo Basílio, que, é <strong>de</strong>sta caixa <strong>de</strong> papéis que Juliana<br />
irá furtar o rascunho da carta <strong>de</strong> Luísa para Basílio. Uma caixa que <strong>de</strong>veria ser o caixão <strong>de</strong> um<br />
segre<strong>do</strong> é afinal o lugar on<strong>de</strong> jaz a morte da tranquilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> amor adúltero. Retoman<strong>do</strong> a<br />
discussão, outro signo intencional, agora lança<strong>do</strong> pela adaptação audiovisual, que se vale <strong>do</strong><br />
jogo <strong>de</strong> imagens para atribuir significação ao cesto <strong>de</strong> lixo.<br />
Portanto, a linguagem audiovisual vale-se <strong>de</strong> recursos simbólicos, assim como a<br />
linguagem teatral, para propiciar significa<strong>do</strong>s e até criar metonímias que conecte o romance à<br />
adaptação audiovisual. Um exemplo clássico po<strong>de</strong> ser atribuí<strong>do</strong> ao <strong>de</strong>staque que é da<strong>do</strong> pelo<br />
autor aos sapatos <strong>de</strong> verniz <strong>de</strong> Basílio. O personagem Basílio <strong>de</strong> Brito tem registra<strong>do</strong> a marca<br />
<strong>do</strong> janotismo e da superficialida<strong>de</strong> em seus sapatos, acompanhe passagens <strong>do</strong> texto que se<br />
referem a esse da<strong>do</strong> “o verniz <strong>do</strong>s seus sapatos resplan<strong>de</strong>cia”, “estendia sobre o tapete<br />
comodamente, os seus sapatos <strong>de</strong> verniz”, “fitou um momento seus sapatos muito aguça<strong>do</strong>s”<br />
(QUEIRÓS, 1997, p. 51-55).<br />
Na minissérie global o conceito <strong>de</strong> superficialida<strong>de</strong> é manti<strong>do</strong> ao personagem. Em<br />
vários momentos Basílio aparece exaltan<strong>do</strong> o brilho e a beleza <strong>de</strong> seus sapatos. Em uma das<br />
cenas o personagem está localiza<strong>do</strong> em frente á casa <strong>de</strong> Luisa e em um momento <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque<br />
<strong>do</strong>bra seu joelho direito e esfrega o sapato na perna esquerda da calça, <strong>de</strong>pois repete o gesto<br />
15
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
para o outro sapato mudan<strong>do</strong> a perna. Esses gestos simbolizam a valorização <strong>do</strong>s sapatos por<br />
parte <strong>do</strong> personagem, portanto, trata-se <strong>de</strong> uma reacrição, já que muda o gesto, mas<br />
permanece a i<strong>de</strong>ia.<br />
4. LITERATURA E TEXTO TEATRAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES<br />
Uma das importantes discussões levantadas pelos textos que compõe o corpus <strong>de</strong>sse<br />
estu<strong>do</strong> é a relevância <strong>do</strong> teatro enquanto arte <strong>de</strong> significação e conteú<strong>do</strong>: Candi<strong>do</strong> (2007),<br />
Ubersfeld (2005), Rosenfeld (1993), Mangueneau(1996) e Magaldi(2004) apontam o teatro<br />
como arte para<strong>do</strong>xal, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, tanto que o crítico Rosenfeld é unânime ao afirmar que<br />
E mais adiante ele complementa:<br />
O teatro, longe <strong>de</strong> ser apenas veículo da peça, instrumento a serviço <strong>do</strong> autor e da<br />
literatura, é uma arte <strong>de</strong> próprio direito, em função da qual é escrita a peça. Esta,<br />
em vez <strong>de</strong> servir-se ao teatro, é ao contrário material <strong>de</strong>le. (ROSENFELD, 1993. p.<br />
21)<br />
Que o teatro, mesmo quan<strong>do</strong> recorre à literatura dramática como seu substrato<br />
fundamental, não po<strong>de</strong> ser reduzi<strong>do</strong> à literatura, visto ser uma arte <strong>de</strong> expressão<br />
peculiar. No espetáculo já não é a palavra que constitui e me<strong>de</strong>ia o mun<strong>do</strong><br />
imaginário. (ROSENFELD, 1993. p.27)<br />
Muito se tem discuti<strong>do</strong> a respeito da literatura e o seu papel em um texto teatral. Mas o<br />
que seria em termos <strong>de</strong> constituição um texto teatral? Essa tipologia textual é composta por<br />
duas partes distintas, mas indissociáveis: o diálogo e as didascálias. Essa relação textual<br />
diálogo-didascálias é variável <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com a história <strong>do</strong> teatro. É inquestionável a<br />
importância das didascálias em um texto teatral, pois mesmo quan<strong>do</strong> parecem inexistentes,<br />
seu lugar textual nunca é nulo, pois elas abrangem partes significativas <strong>de</strong>sse texto, tais como:<br />
o nome das personagens, não restringin<strong>do</strong>-se apenas na lista inicial, mas também, no interior<br />
<strong>do</strong> diálogo, sem contar as indicações <strong>de</strong> lugar e cenário, além <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r as perguntas<br />
cruciais em texto: o Quem? e, o On<strong>de</strong>?<br />
Por isso, o que as didascálias <strong>de</strong>signam, pertence ao contexto da comunicação;<br />
<strong>de</strong>termina, pois uma pragmática, isto é, as condições concretas <strong>do</strong> uso da fala. E são essas<br />
indicações que tornam essa tipologia tão peculiar. Acompanhe o script da minissérie O primo<br />
Basílio, adapta<strong>do</strong> pela re<strong>de</strong> Globo <strong>de</strong> televisão. Nessa passagem fica evi<strong>de</strong>nte a aplicabilida<strong>de</strong><br />
das didascálias nesse tipo <strong>de</strong> texto.<br />
(Corta para Ernestinho, que entra, recebi<strong>do</strong> por Luísa e Jorge. Vão se aproximan<strong>do</strong><br />
Acácio e Julião, até que Ernestinho torna-se o centro das atenções)<br />
Jorge: O primo está parecen<strong>do</strong> radiante!<br />
Acácio: Que nos faça partilhar o quanto antes <strong>de</strong> tão inebriante esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> espírito!<br />
Ernestinho: Estão lembra<strong>do</strong>s que eu terminava <strong>de</strong> escrever uma nova peça <strong>de</strong> teatro?<br />
16
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Julião: (goza<strong>do</strong>r) – E é coisa que se esqueça? Intitulada Honra e paixão!<br />
Luísa: Por isso talvez esse ar <strong>de</strong> cansa<strong>do</strong>!<br />
Ernestinho: Passei a noite em claro, prima Luísa. Pediu-me o empresário, o inculto,<br />
um parvo, que modificasse to<strong>do</strong> o terceiro ato, fazen<strong>do</strong> passar numa sala todas as<br />
peripécias que se passava num abismo!<br />
Reações gerais – “que pena”, etc.<br />
Ernestinho: o artista hoje em dia precisa ce<strong>de</strong>r. E tem que estar atento a tu<strong>do</strong>,<br />
envolver-se em <strong>de</strong>talhes! Acreditam que eu tive que mandar fazer, <strong>do</strong> meu próprio<br />
bolso, botas <strong>de</strong> verniz para o galã?<br />
Acácio: E fez muito bem, Sr. Le<strong>de</strong>sma! È pelas botas que se conhece um cavaleiro!<br />
(Reação <strong>de</strong> Julião envergonha<strong>do</strong>, escon<strong>de</strong> suas botas velhas e sujas.)<br />
(FILHO, 2001, p.164)<br />
Po<strong>de</strong>-se ler o trecho da adaptação como cena teatral, pois como afirma Ubersfeld,<br />
tanto o teatro quanto a literatura po<strong>de</strong>m ser lidas <strong>de</strong> forma diversas. A autora aproxima a<br />
literatura e o texto literário, pois segun<strong>do</strong> ela cada gênero tem sua especificida<strong>de</strong>, mas ambos<br />
estão passivos <strong>de</strong> troca.<br />
É verda<strong>de</strong> que sempre se po<strong>de</strong> ler um texto <strong>de</strong> teatro como não teatro, que não há<br />
nada em um texto teatral que o impeça <strong>de</strong> lê-lo como um romance. De ver, nos<br />
diálogos, diálogos <strong>de</strong> romances, nas didascálias, <strong>de</strong>scrições, sempre se po<strong>de</strong><br />
romancear uma peça como se po<strong>de</strong> inversamente teatralizar um romance<br />
(UBERSFELD, 2005, p. 6)<br />
Portanto, a relação entre literatura, televisão, sob o olhar da adaptação <strong>de</strong> obras<br />
literárias para o audiovisual, sugere a transcodificação (transformação da palavra literária em<br />
imagem cinematográfica através da transposição <strong>de</strong> um código ao outro) da narrativa em<br />
imagem para o meio audiovisual. A produção audiovisual possui o roteiro como matéria<br />
literária imbuída <strong>de</strong> imagens que cerceiam o universo audiovisual, e a literatura, a livre<br />
criação, tanto pelo leitor como pelo escritor, <strong>de</strong> símbolos mentais que proporcionam a<br />
transformação <strong>do</strong> texto escrito em imagem; o teatro que através <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> metamorfose<br />
cria espetáculo. Portanto são essas transcodificações que buscam dar novas posições ao<br />
conteú<strong>do</strong> expresso.<br />
Sabe-se que o teatro concretiza-se apenas no palco. Porém, alguns elementos são<br />
fundamentais para essa solidificação. Magaldi (2004) afirma que o fenômeno teatral não se<br />
processa sem a conjugação <strong>de</strong> uma tría<strong>de</strong>: ator, texto e público. Para o crítico é preciso que<br />
um ator interprete o texto para o público, pois para ele “o teatro só existe quan<strong>do</strong> o público vê<br />
e ouve o texto sen<strong>do</strong> encena<strong>do</strong> pelo ator” (p.15). Portanto, o ator é um gran<strong>de</strong> elemento<br />
catalisa<strong>do</strong>r na arte teatral, já que é ele quem preenche com da<strong>do</strong>s sensíveis, audiovisuais, o<br />
que o contexto verbal da peça <strong>de</strong>ixa na relativa abstração conceitual. O crítico afirma que a<br />
metamorfose <strong>do</strong> autor em personagem, nunca passa <strong>de</strong> representação, já que o gesto, as ações<br />
cênicas e a voz são reais, são <strong>do</strong>s atores, porém, o que esta arte retrata é irreal. Segun<strong>do</strong><br />
Magaldi (2004) “O <strong>de</strong>sempenho é real, ação <strong>de</strong>sempenhada é irreal” (p. 16).<br />
17
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Antonio Candi<strong>do</strong> em seu livro: Personagens da ficção (2007) ao tratar <strong>do</strong> personagem<br />
teatral atribui a este um conceito pilar na constituição da arte teatral, pois para o crítico<br />
todas as artes literárias e nas que exprimem, narram ou representam um esta<strong>do</strong> ou<br />
estória, a personagem realmente “constitui” a ficção. Contu<strong>do</strong>, no teatro a<br />
personagem não só constitui a ficção, mas “funda”, Onticamente, o próprio<br />
espetáculo (através <strong>do</strong> ator). É que o teatro é integralmente ficção, ao passo que o<br />
cinema e a literatura po<strong>de</strong>m servir, através das imagens e palavras, a outros fins<br />
(<strong>do</strong>cumento, ciência, jornal). (CANDIDO, 2007, p. 119)<br />
Na esteira <strong>de</strong> Candi<strong>do</strong>, estabelece-se um paralelo entre a produção audiovisual e teatral, pois,<br />
assim com nos romances e no teatro, as adaptações audiovisuais, ganham vida através <strong>do</strong><br />
entrelaçamento entre personagens, i<strong>de</strong>ias e enre<strong>do</strong>: os personagens encenam e representam<br />
conceitos. Eles são concebi<strong>do</strong>s a partir <strong>de</strong> conceitos que levam consigo e apresentam aos seus<br />
telespecta<strong>do</strong>res. São as i<strong>de</strong>ias, a matéria da representação, os valores, os significa<strong>do</strong>s, os<br />
intuitos a visão <strong>de</strong> mun<strong>do</strong>, <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> e <strong>de</strong> individuo, que dão vida e mobilizam os<br />
personagens, os enre<strong>do</strong>s e histórias.<br />
Desse mo<strong>do</strong>, conclui-se que a produção audiovisual e a literatura compartilhem a<br />
mesma função, transmitir imagens através <strong>de</strong> palavras, porém vale salientar que ambas<br />
diferem nos processos <strong>de</strong> produção e recepção das histórias que revelam. Portanto, não se<br />
po<strong>de</strong> negar o diálogo que se estabelece entre a cultura da palavra e da imagem, e, que toda<br />
produção audiovisual adaptada <strong>de</strong>ve necessariamente transformar e recriar o texto matriz,<br />
uma vez que se utilizará <strong>de</strong> signos e códigos diferentes em sua feitura, perpassan<strong>do</strong> por um<br />
processo <strong>de</strong> releitura muito comum nas obras da atualida<strong>de</strong>, o que propicia a forte ligação<br />
entre as linguagens teatrais e audiovisuais. Já no teatro, por sua vez, são os personagens que<br />
me<strong>de</strong>iam a palavra, e o texto passa a ser substrato <strong>do</strong> teatro, já que é o ator metamorfosea<strong>do</strong><br />
que propicia vida a esta arte tão peculiar. A partir <strong>de</strong>ssa perspectiva Rosenfeld afirma que:<br />
Na literatura são as palavras que me<strong>de</strong>iam o mun<strong>do</strong> imaginário. No teatro são os<br />
atores/personagens que me<strong>de</strong>iam a palavra. Na literatura a palavra é a fonte <strong>do</strong><br />
homem. No texto o homem é a fonte da palavra. A essência <strong>do</strong> teatro é, portanto o<br />
ator transforma<strong>do</strong> em personagem. (ROSENFELD, 1993, p. 21)<br />
A relação entre os diversos meios <strong>de</strong> comunicação se intensifica e ganha novos<br />
significa<strong>do</strong>s na socieda<strong>de</strong> contemporânea. A minissérie O primo Basílio é um exemplo <strong>de</strong>ssa<br />
mescla que conduz à interface entre literatura, arte dramática, teatro e televisão, geran<strong>do</strong> um<br />
produto com estética híbrida que transita entre as linguagens literária, televisiva e teatral. A<br />
partir <strong>de</strong> tais balizamentos, o trabalho relacionou a produção audiovisual, enfocan<strong>do</strong> as<br />
mediações entre os varia<strong>do</strong>s veículos <strong>de</strong> comunicação e os tipos <strong>de</strong> intertextos que atravessam<br />
esses produtos culturais híbri<strong>do</strong>s.<br />
18
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Portanto, a aproximação entre essas linguagens é possível, pois ambas abordam<br />
conteú<strong>do</strong>s humanos. A literatura lança mão da imaginação, a arte teatral associa a imaginação<br />
e transcen<strong>de</strong> a realida<strong>de</strong>, a linguagem audiovisual, por sua vez, transforma palavras em<br />
imagens, partin<strong>do</strong> da visão <strong>de</strong> um roteirista, e da manipulação <strong>do</strong> diretor, mantém uma<br />
atmosfera mágica, aproximan<strong>do</strong>-se da literatura e <strong>do</strong> teatro, por meio <strong>de</strong> um jogo,<br />
concretiza<strong>do</strong> por linguagens, que seduz e envolve seu especta<strong>do</strong>r. Porém, o fator <strong>de</strong> conexão<br />
maior entre elas é o receptor, o público, que com sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conectar-se a esse<br />
universo criativo acrescenta-lhe <strong>de</strong> maneira particular o seu mun<strong>do</strong>, e assim, ao ler, comunga<br />
<strong>de</strong>sta linguagem, participa com suas próprias experiências <strong>de</strong>ste rico universo.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ABDALA JÚNIOR, B.; PASCHOALIN, M. A. História social da literatura portuguesa. 3.<br />
ed. São Paulo: Ática, 1985<br />
CANDIDO, A. A personagem <strong>do</strong> romance. In: CANDIDO, A. A personagem <strong>de</strong> ficção. São<br />
Paulo: Perspectiva, 2007.<br />
FILHO, D. O circo eletrônico; fazen<strong>do</strong> TV no Brasil. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Jorge Zahar, 2001.<br />
GOMES, M. Telenovelas, Aprendizagem <strong>de</strong> Conteú<strong>do</strong>s Sociais e Entretenimento. Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
Sociologia. Revista <strong>do</strong> Programa De Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. 2009.<br />
KELLNER, D. A cultura da mídia: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e política entre o mo<strong>de</strong>rno e o pós-mo<strong>de</strong>rno.<br />
Trad. Ivone Castilho Bene<strong>de</strong>tti. Bauru: EDUSC, 2001.<br />
MAGALDI. S. Panorama <strong>do</strong> teatro brasileiro. 6. ed. São Paulo: Global, 2004.<br />
MAINGUENEAU, D. Pragmática para o discurso literário. São Paulo: Martins Fontes,<br />
1996.<br />
MOISÉS, M. A literatura portuguesa. 32. ed. São Paulo: Cultrix, 2003.<br />
QUEIRÓS, E. O Primo Basílio. 18. ed. São Paulo: Ática, 1997.<br />
O PRIMO BASÍLIO. Direção: Daniel Filho. Roteiro: Gilberto Braga e Leonor Basséres. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro: Globo Marcas, 2007. 3 DVD (160 min.)<br />
ROSENFELD, A. A essência <strong>do</strong> teatro. In: Prismas <strong>do</strong> Teatro. São Paulo: Perspectivas:<br />
Editora <strong>de</strong> São Paulo; Campinas, Editora da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> Campinas, 1993.<br />
UBERSFELD. A. Texto-Representação. In: __________. Para ler o teatro. São Paulo;<br />
Perspectiva, 2005.<br />
XAVIER, I. Do texto ao filme: a trama, a cena e a construção <strong>do</strong> olhar no cinema. In:<br />
PELLEGRINI, Tânia et. al.(Org.). Literatura, cinema, televisão. São Paulo: SENAC, Instituto<br />
Itaú Cultural, 2003.<br />
19
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA<br />
HISTORIOGRAFIA<br />
Danglei <strong>de</strong> Castro Pereira (UEMS)<br />
O trabalho apresenta uma reflexão sobre o percurso historiográfico enquanto meto<strong>do</strong>logia <strong>de</strong><br />
análise <strong>do</strong> objeto literário. A idéia central é apontar para os caminhos trilha<strong>do</strong>s pelo méto<strong>do</strong><br />
historiográfico quanto ao enfrentamento da tradição literária. Pensamos a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
revitalização constante <strong>do</strong> escopo literário em uma tradição face aos contatos da literatura<br />
com a História e a socieda<strong>de</strong>. O trabalho é, neste senti<strong>do</strong>, um percurso <strong>de</strong> discussão <strong>do</strong> limites<br />
fixos <strong>do</strong> cânone e, sobretu<strong>do</strong>, da relação entre literatura, história da literatura e tradição<br />
literária.<br />
Palavras-chave: Revisão <strong>do</strong> cânone; história da literatura; tradição literária.<br />
Abstract<br />
The paper presents a reflection on the route historiographical while factor of discussion of the<br />
literary object. The central i<strong>de</strong>a is to point to the roads trod<strong>de</strong>n by historiographical method on<br />
the confrontation of literary tradition. We fell the need of constant revitalization in the literary<br />
scope in a tradition in relation to the contacts with history of literature and society. The work<br />
is, in this sense, a discussion of the fixed limits of the canon and, above all, the relationship<br />
among literature, history of the literature and literary tradition.<br />
Keywords: Revision of the canon, history of literature; literary tradition.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o percurso historiográfico enquanto<br />
fator <strong>de</strong> discussão <strong>do</strong> objeto literário em sua relação com a tradição literária. Nesse percurso<br />
discutiremos aspectos pertinentes ao méto<strong>do</strong> historiográfico na avaliação <strong>do</strong> literário como<br />
forma <strong>de</strong> contribuir para uma reflexão sobre a relevância <strong>de</strong>ste percurso não como<br />
perpetua<strong>do</strong>r <strong>de</strong> paradigmas avaliativos fixos <strong>de</strong>ntro da tradição canônica; mas como<br />
mecanismo revitalização <strong>do</strong> cânone.<br />
Cabe lembrar que não nos preocupamos, neste trabalho, em estabelecer o papel da<br />
História ou da História Cultural <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong> contexto <strong>de</strong> avaliação historiográfica, algo muito<br />
amplo e que <strong>de</strong>ve ser retoma<strong>do</strong> oportunamente. Verificaremos os procedimentos <strong>de</strong> avaliação<br />
da diversida<strong>de</strong> literária em um contexto <strong>de</strong> interação entre valores culturais/históricos e suas<br />
representações <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong> universo da crítica literária.<br />
20
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O trabalho é, neste senti<strong>do</strong>, uma discussão da relevância da historiografia como<br />
méto<strong>do</strong> <strong>de</strong> avaliação na relação entre literatura, história da literatura, tradição literária e<br />
socieda<strong>de</strong>.<br />
2. LITERATURA, CULTURA, AVALIAÇÃO: CONSIDERAÇÕES<br />
Em Cultura e anarquismo, publica<strong>do</strong> em 1841, Matthew Arnold (1988), apresenta a<br />
i<strong>de</strong>ia da representação artística como expressão da cultura erudita, em muito, distanciada das<br />
questões imediatas e corriqueiras <strong>do</strong> real imediato. A reflexão <strong>do</strong> crítico, ainda no século XIX,<br />
compreen<strong>de</strong> uma longa discussão estética, filtran<strong>do</strong> autores como Horácio, Lisseng e<br />
Aristóteles, entre outros e caminha para a construção <strong>do</strong> conceito <strong>de</strong> “alta cultura”. Para o<br />
crítico a “alta cultura” proporciona uma percepção das manifestações artísticas em uma<br />
perspectiva erudita, condicionada aos produtos culturais em uma socieda<strong>de</strong> elitizada e<br />
altamente culta.<br />
O termo “alta cultura” estabelece em seu cerne um paralelo crítico que exclui ou<br />
dificulta a valorização positiva <strong>de</strong> manifestações culturais populares e, por vezes, burlescas e<br />
ou prosaicas entendidas, genericamente, como “cultura popular”. A <strong>de</strong>nominada “cultura<br />
popular”, segun<strong>do</strong> Cascu<strong>do</strong> (2006), é vista, muitas vezes, como <strong>de</strong> menor expressão quan<strong>do</strong><br />
discutida à luz, para retomarmos Arnold (1988), da “alta cultura”.<br />
Para Cascu<strong>do</strong> (2006), o relato oral e a transmissão <strong>de</strong> temas e valores culturais<br />
advin<strong>do</strong>s das camadas populares conferem ao literário uma varieda<strong>de</strong> temática e estética que<br />
aponta, em nível profun<strong>do</strong>, para a expressão <strong>de</strong> uma realida<strong>de</strong> social mais complexa e<br />
heterogênea <strong>do</strong> que a proposta pela “alta cultura” <strong>de</strong> Arnold. A valorização da “cultura<br />
popular” e flexibilização da erudição atribuída a “alta cultura” provoca a surgimento <strong>de</strong> novos<br />
arranjos temáticos e estilísticos, mais agu<strong>do</strong>s com o acumulo populacional e o fortalecimento,<br />
em mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XX, da chamada cultura <strong>de</strong> massas.<br />
Willans (1976) comenta a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> revitalização das relações sociais no interior<br />
das manifestações artísticas como um caminho natural para o <strong>de</strong>senvolvimento da arte no<br />
século XX e, sobretu<strong>do</strong>, o que provoca, na linha <strong>de</strong> raciocínio <strong>do</strong> crítico, a necessária<br />
transformação <strong>de</strong> procedimentos <strong>de</strong> análise e julgamento da tradição literária. Para Willans<br />
(1976), a nova or<strong>de</strong>m social no século XX re<strong>de</strong>fine a relação <strong>do</strong> sujeito com as representações<br />
artísticas, dan<strong>do</strong> maior relevância às vozes culturais no interior da tradição. Willans (1976),<br />
ao la<strong>do</strong> <strong>de</strong> Lukács (1963), Goldmann (1976) e Bakhtin (1984), é influencia<strong>do</strong> pela visão<br />
21
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
marxista e, portanto, retoma um diálogo mais profun<strong>do</strong> entre a representação literária como<br />
voz <strong>de</strong> um <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> recorte cultural.<br />
Não cabe, neste trabalho, discutir a valida<strong>de</strong> <strong>do</strong> conceito <strong>de</strong> “alta cultura” ou a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> valorização da “cultura popular” no percurso <strong>de</strong> avaliação da obra <strong>de</strong> arte,<br />
aqui, a obra literária. Nossa preocupação é verificar como os procedimentos historiográficos<br />
são importantes para o início <strong>de</strong> um percurso mais amplo na discussão <strong>do</strong>s limites e formas <strong>de</strong><br />
julgamento da obra literária.<br />
O reconhecimento da relevância <strong>do</strong> contexto social enquanto fator a ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong><br />
na análise <strong>do</strong> literário constitui uma forma <strong>de</strong> confrontação <strong>do</strong>s valores ainda aristocráticos da<br />
“alta cultura” rumo às constantes interferências não só temáticas como estilísticas <strong>do</strong>s valores<br />
populares na abordagem <strong>do</strong> texto literário no século XX. Walter Benjamin (1986) comenta,<br />
em seu artigo A obra <strong>de</strong> arte na época <strong>de</strong> suas técnicas <strong>de</strong> reprodução, que a arte ao ser<br />
produto cultural no século XX assume, problematicamente, a acepção <strong>de</strong> produto, <strong>de</strong><br />
merca<strong>do</strong>ria industrializada.<br />
O primeiro reflexo <strong>do</strong> que po<strong>de</strong>mos enten<strong>de</strong>r como maior acessibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong> público<br />
aos meios <strong>de</strong> expressão da arte, até então restritos a camadas mais cultas e elitizadas, é a<br />
popularização da expressão artística. Ainda pensan<strong>do</strong> nas colocações <strong>do</strong> crítico alemão, ao<br />
popularizar-se, a obra <strong>de</strong> arte re<strong>de</strong>fine o papel entre a cultura erudita e a cultura popular na<br />
construção <strong>do</strong> literário, induzin<strong>do</strong> uma flexibilização <strong>do</strong>s aspectos avaliativos da obra<br />
literária, agora não tão erudita como dantes.<br />
3. UM MÉTODO DE ANÁLISE ENTRE O LITERÁRIO E O HISTÓRICO<br />
A dinâmica da arte como produto histórico versus expressão individual <strong>de</strong> caráter<br />
estético após o contato <strong>de</strong> massas populacionais mais diversificadas – cultural e<br />
economicamente – com o objeto literário conduziu a novos arranjos no enfrentamento da<br />
tradição literária. Tal contato força uma reflexão sobre o méto<strong>do</strong> historiográfico como<br />
instrumento <strong>de</strong> avaliação <strong>do</strong> literário. Silvio Romero, ao organizar sua História da literatura<br />
brasileira, publica<strong>do</strong> em 1888, quan<strong>do</strong> pensa<strong>do</strong> a partir <strong>do</strong> Bosquejo da literatura no Brasil,<br />
publica<strong>do</strong> em 1865, por Joaquim Norberto (2002), proporciona um paralelo crítico<br />
interessante.<br />
Enquanto Norberto (2002, p. 34) a<strong>do</strong>ta um procedimento avaliativo permea<strong>do</strong> pela<br />
catalogação das recorrências estéticas e temáticas <strong>de</strong>ntro da tradição brasileira, buscan<strong>do</strong>,<br />
muitas vezes, construir o “resumo das produções dignas <strong>de</strong> nota na literatura brasileira”;<br />
22
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Romero parece empreen<strong>de</strong>r uma crítica direcionada à discussão <strong>de</strong> aspectos liga<strong>do</strong>s ao valor<br />
estético nas diferentes produções literárias. Esses percursos críticos, guardadas as <strong>de</strong>vidas<br />
proporções, compreen<strong>de</strong>m o perfil <strong>do</strong> percurso historiográfico <strong>de</strong> análise <strong>do</strong> objeto literário<br />
em nossa tradição.<br />
A visão historiografia em muito se confun<strong>de</strong> com a construção <strong>de</strong> paradigmas <strong>de</strong><br />
julgamento e procedimentos avaliativos que focam a heterogeneida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produções literárias<br />
para além <strong>de</strong> seu caráter estético intrínseco, valorizan<strong>do</strong>, em muitos casos, a a<strong>de</strong>quação<br />
estética <strong>de</strong> autores <strong>de</strong>ntro da tradição. Essa aparente dualida<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ra <strong>do</strong>is percursos<br />
relevantes para a abordagem historiográfica: a relação <strong>do</strong>s textos com seu meio <strong>de</strong> produção e<br />
a a<strong>de</strong>quação <strong>de</strong>stas obras a um conjunto eleito como paradigmático, quase sempre, <strong>de</strong> caráter<br />
cristaliza<strong>do</strong>, canônico.<br />
A relação entre texto e História, nesse senti<strong>do</strong>, compreen<strong>de</strong> uma das faces <strong>do</strong> perfil <strong>de</strong><br />
análise da historiografia, pois a a<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> obras aos temas <strong>do</strong> momento, ou seja, ao recorte<br />
temático propriamente dito, fornece ao historia<strong>do</strong>r da literatura um ponto <strong>de</strong> vista fixo que<br />
<strong>de</strong>limita autores e lista temas recorrentes em um da<strong>do</strong> perío<strong>do</strong> histórico. Ocorre, porém, que<br />
em <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> momento o crítico historiográfico aponta diferenças e particularida<strong>de</strong>s<br />
estéticas que fogem aos padrões estabeleci<strong>do</strong>s como mo<strong>de</strong>lares. Não se po<strong>de</strong> negar, portanto,<br />
que o percurso historiográfico <strong>de</strong> análise valoriza a tradição, ou seja, analisa e discute a<br />
produção literária levan<strong>do</strong> em conta seu espaço <strong>de</strong> produção e sua posição na História; porém<br />
aponta, também, para valores estéticos e, nesse percurso, po<strong>de</strong> discutir a tradição ao<br />
compreendê-la como heterogênea e em constante transformação.<br />
Este posicionamento po<strong>de</strong> ser percebi<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> Almeida Garrett (1978) ao discutir as<br />
obras <strong>do</strong>s árca<strong>de</strong>s mineiros e <strong>do</strong>s primeiros românticos julga negativamente o tom clássico<br />
<strong>de</strong>stes poetas ao apontar para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma literatura brasileira que fixe seu olhar na<br />
relação tradição versus pátria como fonte <strong>de</strong> afirmação <strong>de</strong> valor estético.<br />
A dinâmica <strong>de</strong> revisitação da tradição garante à crítica historiográfica um espaço <strong>de</strong><br />
registro <strong>de</strong> vozes críticas face à tradição literária. O resulta<strong>do</strong> é a discussão, por meio <strong>de</strong><br />
pesquisas em arquivos, registros – novos ou antigos – das transformações e permanências <strong>do</strong>s<br />
temas e procedimentos estéticos <strong>de</strong>ntro da tradição. A constante revisitação das produções<br />
literárias ao longo <strong>de</strong> um <strong>de</strong>curso temporal, a relação entre texto e meio <strong>de</strong> produção, a<br />
discussão da História da literatura por meio da catalogação, julgamento e discussão <strong>de</strong> pontos<br />
<strong>de</strong> vistas circunscritos em perío<strong>do</strong>s históricos anteriores ao século XXI são procedimentos<br />
importantes <strong>de</strong>ntro da abordagem historiográfica da literatura.<br />
23
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O olhar crítico direciona<strong>do</strong> à discussão da tradição e não apenas a sua perpetuação é<br />
fator relevante no méto<strong>do</strong> historiográfico. Pensar a historiografia literária, nesse senti<strong>do</strong>, é<br />
verificar mecanismos <strong>de</strong> discutir valores estanques na tradição, apontan<strong>do</strong> par seu<br />
esgotamento e, ao mesmo tempo, suas transformações. Em outros termos, o enfrentamento <strong>do</strong><br />
literário na historiografia aponta para a organicida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s temas e méto<strong>do</strong>s <strong>de</strong> análise na<br />
construção <strong>do</strong> literário e, <strong>de</strong>ve, nesse percurso, apresentar pontos relevantes para a<br />
compreensão da literatura não apenas em sua especificida<strong>de</strong> estética, mas também como<br />
ponto <strong>de</strong> contato entre o Histórico e o social.<br />
Silvio Romero (1968) fixa como méto<strong>do</strong> <strong>de</strong> análise, para lembrar Antonio Candi<strong>do</strong><br />
(1986), um procedimento que procura filtrar as influências da tradição e aponta o valor <strong>do</strong><br />
engenho individual na construção da linguagem como fator a ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> no literário. Ao<br />
introduzir um paradigma <strong>de</strong> julgamento que compreen<strong>de</strong> a elaboração <strong>do</strong> texto como<br />
resulta<strong>do</strong> <strong>de</strong> um recorte histórico face ao cultual, Romero <strong>de</strong>limita um paradigma <strong>de</strong><br />
julgamento que discute a singularida<strong>de</strong> das expressões artísticas em seu diálogo tensivo com o<br />
percurso Histórico. A percepção <strong>de</strong> Romero implica discutir, no percurso historiográfico, por<br />
um la<strong>do</strong>, a avaliação <strong>de</strong> elementos externos ao objeto literário, posto que uma <strong>de</strong> suas faces<br />
compreen<strong>de</strong> a catalogação e organização Histórica <strong>de</strong> autores e obras e, por outro, apontar<br />
para aspectos intrínsecos ao objeto literário; pensa<strong>do</strong>, nesses momentos, não mais como<br />
reflexo <strong>de</strong> seu tempo, mas como expressão da diversida<strong>de</strong> histórica <strong>de</strong>ste tempo cifradas em<br />
discurso.<br />
É esta concepção <strong>de</strong> análise que valida, por exemplo, a discussão da obra <strong>de</strong> autores<br />
com o Anchieta, Gregório <strong>de</strong> <strong>Mato</strong>s, Basílio da Gama, Tomás Antonio Gonzaga, Cláudio<br />
Manuel da Costa, entre tantos outros, para além <strong>do</strong>s limites específicos <strong>de</strong> suas respectivas<br />
correntes estéticas sem, contu<strong>do</strong>, <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> la<strong>do</strong> que foi a partir <strong>de</strong>stas que emergiram suas<br />
obras. Os autores cita<strong>do</strong>s dialogam, nesse senti<strong>do</strong>, com uma voz tensiva que filtra as<br />
influências estéticas <strong>de</strong> seu tempo para a construção <strong>de</strong> nossa tradição literária e, ao mesmo<br />
tempo a atualizam no processo individual <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> seus textos, fato que garante a<br />
relevância em consi<strong>de</strong>rar suas obras como relevantes <strong>de</strong>ntro da tradição.<br />
Discutir a perspectiva avaliativa <strong>de</strong>ntro da historiografia literária, enquanto méto<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
análise possibilita refletir, portanto, sobre a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> valorização da tradição enquanto<br />
fator <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> novos discursos. Esta possibilida<strong>de</strong> passa pela i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> valorização da<br />
obra <strong>de</strong> arte <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> seu contexto histórico, não mais como reprodução passiva <strong>do</strong>s temas<br />
recorrentes em seu meio; mas como resulta<strong>do</strong> da mediação estética na construção individual<br />
24
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>do</strong> literário. Romero (1968), nesse senti<strong>do</strong>, implementa uma visão que, por um la<strong>do</strong>, valoriza<br />
a obra literária, e, por outro, compreen<strong>de</strong> a relevância <strong>do</strong> contexto <strong>de</strong> produção como fator<br />
<strong>de</strong>terminante na valorização <strong>do</strong> aspecto estético em diferentes autores.<br />
Antonio Candi<strong>do</strong> (1976) reconhece a importância <strong>do</strong> autor <strong>de</strong> História da literatura<br />
brasileira <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong> escopo da crítica literária no Brasil. Para o crítico, o <strong>de</strong>senvolvimento da<br />
abordagem historiográfica é relevante quan<strong>do</strong> ultrapassa o paralelo autoria/contexto <strong>de</strong><br />
produção para emergir enquanto particularida<strong>de</strong>s intrínsecas <strong>do</strong> objeto literário, não o<br />
contrário.<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
As consi<strong>de</strong>rações presentes neste texto refletem uma preocupação com a revitalização<br />
<strong>do</strong>s limites entre história e crítica historiográfica no contexto da teoria e crítica literária,<br />
sobretu<strong>do</strong>, nas últimas décadas <strong>do</strong> século XX. O texto respon<strong>de</strong> a uma proposição <strong>de</strong> Alfre<strong>do</strong><br />
Bosi (2002), em Literatura e resistência. A i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> uma “historiografia renovada”, como<br />
pensada pelo crítico, em nosso ponto <strong>de</strong> vista, passa pela releitura <strong>de</strong> nossa tradição e um <strong>do</strong>s<br />
caminhos para esta releitura é a revisitação da tradição literária por meio <strong>de</strong> um olhar<br />
inquiri<strong>do</strong>r. Revisitar o passa<strong>do</strong>, não com o intuito <strong>de</strong> perpetuá-lo; mas como fonte <strong>de</strong> novas e<br />
constantes reflexões críticas po<strong>de</strong> ser o caminho para uma crítica mais ativa como proposto<br />
por Bosi (2002).<br />
Dessa forma, o texto ora apresenta<strong>do</strong>, inscreve-se como uma reflexão sobre a<br />
contribuição da crítica historiográfica enquanto mecanismo capaz <strong>de</strong> contribuir para este<br />
processo.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ARNOLD, M. Culture and anarchy. 3. ed. Belo Horizonte: Iluminuras, 1988.<br />
BENJAMIN, W. A obra <strong>de</strong> arte na época <strong>de</strong> suas técnicas <strong>de</strong> reprodução. In._____. A idéia<br />
<strong>do</strong> cinema. Rio <strong>de</strong> Janeiro, Editora Civilização Brasileira, pp. 55-95<br />
BOSI, A. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.<br />
CANDIDO, A. Literatura e socieda<strong>de</strong>. São Paulo: Editora Nacional, 1976.<br />
CANDIDO, A. O méto<strong>do</strong> crítico <strong>de</strong> Silvio Romero. São Paulo: Edusp, 1986.<br />
CASCUDO, L. da C. Literatura oral no Brasil. 2.ed. São Paulo: Global, 2006.<br />
25
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
GARRETT, A. A restauração das letras, em Portugal e no Brasil em mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XVIII.<br />
In: CESAR, G. (Org.). Historia<strong>do</strong>res e críticos <strong>do</strong> romantismo: a contribuição européia:<br />
crítica e história literária. São Paulo: Edusp, 1978.<br />
GOLDMANN, L. A sociologia <strong>do</strong> romance. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Paz e Terra, 1976<br />
LUKACS, G. Teoria <strong>do</strong> romance. Tradução Alfre<strong>do</strong> Margari<strong>do</strong>. Lisboa: presenças, 1963.<br />
ROMERO, S. História da literatura brasileira. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Paz e Terra, 1968.<br />
SILVA, J. N. S. <strong>de</strong>. História da literatura brasileira e outros ensaios. Organização,<br />
apresentação e notas por Roberto Acízelo <strong>de</strong> Souza. Publica<strong>do</strong> originalmente em 1841. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Zé Mário Editor, 2002.<br />
WILLANS, R. Literatura e socieda<strong>de</strong>. São Paulo: Cultrix, 1976.<br />
26
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O PRAZER E O SOFRIMENTO NAS PERSONAGENS FEMININAS DO<br />
CONTO O CORPO, DE CLARICE LISPECTOR<br />
Resumo<br />
Daniela Gomes Loureiro (G-UFMS)<br />
Rosana Cristina Zanelatto Santos (UFMS/CNPq)<br />
Mediante análise <strong>do</strong> conto O Corpo, <strong>de</strong> Clarice Lispector, este estu<strong>do</strong> permitiu analisar as<br />
personagens femininas tomadas pelo amor e pela ira que inundam o texto. Utilizan<strong>do</strong> o aporte<br />
teórico <strong>do</strong>s Estu<strong>do</strong>s Culturais e da Análise Literária, nota-se que o conto oferece uma<br />
visualização da socieda<strong>de</strong> patriarcal e monogâmica em que a personagem masculina assume,<br />
diante <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s, seu relacionamento com duas mulheres, fato que não é visto como falha, mas<br />
como caracterização <strong>de</strong> virilida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> força. Em outras palavras, na socieda<strong>de</strong> em que o<br />
homem dita e faz as leis, suas transgressões servem para firmar seu po<strong>de</strong>r e sua virilida<strong>de</strong>. O<br />
homem mostra esse po<strong>de</strong>r <strong>do</strong>minan<strong>do</strong> e usan<strong>do</strong> as mulheres como objetos sexuais. Seu<br />
interesse pelo sexo oposto é sexualiza<strong>do</strong>, colocan<strong>do</strong> em evidência a assimetria das relações<br />
entre as personagens femininas e a masculina; os sofrimentos, as dúvidas e os anseios<br />
femininos.<br />
Palavras-chave: sofrimento; patriarcalismo; personagem feminina.<br />
Abstract<br />
Through analysis the tale O Corpo, of the Clarice Lispector, this study allowed us to analyze<br />
the feminine personages with strong personalities taken by love and anger flooding the text.<br />
Using the theoretical framework of Cultural Studies and Literary Analysis, the tale offers a<br />
preview of the patriarchal society in which monogamous male character takes, before all, his<br />
relationship. In other words, society in which man makes the laws and dictates, their<br />
transgressions serve to establish his power and virility. The man shows that power to<br />
<strong>do</strong>minate and using women as sex objects. His interest in the opposite sex is purely sexual,<br />
highlighting that the feminine personages are subjected their sufferings, their <strong>do</strong>ubts and their<br />
concerns, putting the woman in humiliating situations.<br />
Keywords: suffering; patriarchy; female personages.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
O sofrimento feminino é assunto que instiga estudiosos <strong>de</strong> diversas áreas <strong>do</strong><br />
conhecimento, especialmente porque as mulheres conquistam cada vez mais espaço na<br />
socieda<strong>de</strong>, buscan<strong>do</strong> a igualda<strong>de</strong> e, porque não dizer, a superação <strong>de</strong> suas próprias vitórias em<br />
um mun<strong>do</strong> marca<strong>do</strong> por relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r assimétricas.<br />
Entretanto, ainda vivemos em uma socieda<strong>de</strong> pouco flexível e moralista, ainda<br />
marcada por um machismo pre<strong>do</strong>minante <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a socieda<strong>de</strong> burguesa <strong>do</strong> século XVII. Esse<br />
27
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> coisas surge nas obras <strong>de</strong> Clarice Lispector e um <strong>do</strong>s seus princípios é revelar o<br />
papel <strong>do</strong> feminino diante <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> ainda machista e patriarcal.<br />
A sujeição <strong>do</strong> feminino é <strong>de</strong>marcada no momento em que o masculino dita as regras,<br />
<strong>de</strong>seja e permite <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s <strong>de</strong>sempenhos da mulher em socieda<strong>de</strong>, alimentan<strong>do</strong> suas<br />
vonta<strong>de</strong>s, necessida<strong>de</strong> e princípios. Assim, o masculino se estabelece sob a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> ser<br />
superior (ou melhor) ao feminino.<br />
Os valores apresenta<strong>do</strong>s nos contos <strong>de</strong> Clarice Lispector, a crítica presente em seus<br />
escritos, revela<strong>do</strong>ra <strong>de</strong> uma época, mesmo em uma socieda<strong>de</strong> cada vez mais <strong>do</strong>minada pela<br />
conquistas <strong>do</strong> feminino, ressaltam, ainda, uma concepção preconceituosa <strong>do</strong> ser mulher no<br />
mun<strong>do</strong> (cf. ROSENBAUM, 2002, p. 13).<br />
Essa concepção preconceituosa foi constituída <strong>de</strong> forma gradual. O homem (o<br />
masculino) estabeleceu formas <strong>de</strong> <strong>do</strong>minação, como senhor <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> e, consequentemente,<br />
da mulher. A mulher foi tornada submissa, com sua ação restrita aos serviços <strong>do</strong>mésticos, aos<br />
favores sexuais e às práticas reprodutivas (<strong>de</strong> <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes). Está posta, então, uma relação<br />
assimétrica, com a mulher sen<strong>do</strong> relegada a um papel <strong>de</strong> submissão.<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> isso, preten<strong>de</strong>-se discutir o sofrimento e a subsequente revolta das<br />
personagens femininas, tomadas pelo amor e pela ira, ten<strong>do</strong> como foco <strong>de</strong> análise o conto O<br />
Corpo, <strong>de</strong> Clarice Lispector, buscan<strong>do</strong> estabelecer as conexões das personagens femininas em<br />
interação umas com as outras, revelan<strong>do</strong>, ao mesmo tempo, uma relação conflitante e tensa,<br />
porém, <strong>de</strong> reciprocida<strong>de</strong> entre as mulheres <strong>do</strong> conto <strong>de</strong> Lispector.<br />
2. A AUTORA: CLARICE LISPECTOR<br />
Clarice Lispector escreveu romances, contos, crônicas, livros infantis, artigos em<br />
jornais; foi também tradutora. Além da repercussão nacional, suas obras tiveram projeção<br />
internacional e foram publicadas em diversos países: Alemanha, Dinamarca, Espanha,<br />
Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s da América, França, Israel, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Polônia,<br />
Rússia, Suécia, República Tcheca, Turquia, entre outros.<br />
Lispector procura refletir em seus escritos sobre as angústias <strong>do</strong> homem, suas<br />
frustrações e seus anseios, <strong>de</strong>correntes da mecanicização e da massificação da vida. Muitos<br />
críticos ressaltam essa singularida<strong>de</strong> <strong>do</strong> estilo clariciano.<br />
A questão da epifania nas obras <strong>de</strong> Clarice Lispector é um tema recorrente na crítica<br />
brasileira. Muitos a <strong>de</strong>nominam como um “instante existencial”, um “momento privilegia<strong>do</strong>”,<br />
o “<strong>de</strong>scortino silencioso”, traduzin<strong>do</strong>-a e/ou conceituan<strong>do</strong>-a <strong>de</strong> forma diversa: ora como uma<br />
28
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
revelação interior <strong>de</strong> duração fugaz; ora como um momento excepcional, revela<strong>do</strong>r e<br />
<strong>de</strong>terminante; ou como um fenômeno no qual, no ponto maior da dualida<strong>de</strong> entre o ‘eu’ e o<br />
‘outro’, que se dissimula sob diversos disfarces, ocorre a um momento necessário e indizível<br />
<strong>de</strong> tensão na narrativa (cf. NUNES, 1989; REGUERA, 2006).<br />
Não se po<strong>de</strong> dizer que os <strong>de</strong>sfechos <strong>do</strong>s contos <strong>de</strong> Lispector apontem para a resolução<br />
<strong>do</strong>s conflitos; os conflitos são interiores, revela<strong>do</strong>s e enuncia<strong>do</strong>s na narrativa. E o retorno ao<br />
equilíbrio da situação inicial, antes <strong>de</strong> se <strong>de</strong>flagrar a revelação, é praticamente impossível.<br />
Em seus contos, a autora respeita as características fundamentais <strong>do</strong> gênero,<br />
concentradas em um núcleo narrativo, focalizan<strong>do</strong> um momento carrega<strong>do</strong> <strong>de</strong> significação,<br />
um momento <strong>de</strong>nso na vida das personagens. Suas três principais coletâneas <strong>de</strong> contos são:<br />
Laços <strong>de</strong> família, A legião estrangeira e Felicida<strong>de</strong> clan<strong>de</strong>stina. O núcleo das narrativas<br />
claricianas é um momento <strong>de</strong> “tensão conflitiva”. Em alguns contos essa tensão se dá<br />
subitamente e estabelece a ruptura das personagens com o mun<strong>do</strong> empírico; em outros, a crise<br />
mantém-se <strong>do</strong> início ao fim <strong>do</strong> conto. Essa crise po<strong>de</strong> advir <strong>de</strong> causas diversas: <strong>de</strong>vaneios,<br />
mal-entendi<strong>do</strong>s, incompatibilida<strong>de</strong> entre pessoas, embate <strong>de</strong> sentimentos. Po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>corrente<br />
<strong>de</strong> sentimentos <strong>de</strong> culpa, <strong>de</strong> cólera, <strong>de</strong> ódio ou <strong>de</strong> indícios <strong>de</strong> loucura que se manifestam<br />
diante <strong>de</strong> uma situação inesperada (cf. SÁ, 1979; KANNAN, 2003; FERREIRA, 2004).<br />
No conto O corpo, mais uma vez Clarice Lispector trata, entre outros temas, <strong>do</strong> po<strong>de</strong>r<br />
masculino sobre o feminino, especialmente o corpo feminino, e o sofrimento advin<strong>do</strong> <strong>de</strong>ssa<br />
condição. A violência silenciosa <strong>do</strong> cotidiano empresta ao lar uma aparência <strong>de</strong> harmonia, a<br />
partir da postura cordata e concilia<strong>do</strong>ra da mulher, não no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> tirar-lhe a carnadura<br />
histórica, mas como forma <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong> uma teia histórica em que o escabroso e o<br />
arbitrário são narra<strong>do</strong>s. É o discurso <strong>do</strong> submisso que dá sua versão <strong>do</strong>s fatos, fazen<strong>do</strong> ecoar,<br />
silenciosamente, os gritos <strong>de</strong> horror, <strong>de</strong>sacomodan<strong>do</strong> as camadas sedimentadas <strong>do</strong> discurso<br />
oficial masculino.<br />
As personagens <strong>de</strong> O corpo, em especial as femininas, são <strong>do</strong>tadas <strong>de</strong> forte <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong><br />
psicológica, entretecidas que são com os fios <strong>de</strong> várias re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mun<strong>do</strong>s e <strong>de</strong> culturas<br />
diversas.<br />
Assim como em outros textos <strong>de</strong> Lispector, a mulher luta por um espaço <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma relação <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência e complementarida<strong>de</strong> com o mun<strong>do</strong> masculino. As<br />
personagens femininas tentam recolocar-se no mun<strong>do</strong>, um mun<strong>do</strong> em que as mulheres têm<br />
pouco espaço, apesar <strong>de</strong> todas as suas conquistas. São mulheres que vivem em conflito com a<br />
teia sutil e repressiva que as envolve. Além disso, a autora propõe que essa teia não <strong>de</strong>riva tão<br />
29
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
somente <strong>de</strong> um sistema controla<strong>do</strong> pelo masculino, mas que, afinal, é nos laços <strong>de</strong> família que<br />
são gera<strong>do</strong>s os pequenos e os gran<strong>de</strong>s mecanismos que reprimem a mulher.<br />
3. O CONTO: O CORPO<br />
O conto O Corpo faz parte <strong>do</strong>s 13 contos que compõem o livro A Via Crucis <strong>do</strong><br />
Corpo, <strong>de</strong> Clarice Lispector, lança<strong>do</strong> em 1974 pela Editora Artenova.<br />
Já no início <strong>do</strong> conto, o narra<strong>do</strong>r revela a relação das três personagens (um homem e<br />
duas mulheres) e suas vivências sexuais. Beatriz é <strong>de</strong>scrita por seu corpo grotesco e Carmem<br />
como o seu oposto, a mulher elegante. O mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong>las é representa<strong>do</strong> por meio <strong>do</strong><br />
exagero da comida e <strong>do</strong> sexo. O físico e as ações das personagens ten<strong>de</strong>m ao grotesco e, por<br />
vezes, à náusea. “Beatriz, com suas banhas, escolhia biquíni e um sutiã mínimo para os<br />
enormes seios que tinha” (LISPECTOR, 1998, p. 22).<br />
Segun<strong>do</strong> Lucia Helena (1997), encontra-se na narrativa <strong>de</strong> Lispector não só uma<br />
crítica das formas <strong>de</strong> articulação <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r em um universo marcadamente masculino, mas<br />
também uma crítica ao sujeito burguês, com seus símbolos fortemente internaliza<strong>do</strong>s. De<br />
acor<strong>do</strong> com a autora, Lispector,<br />
[...] ao falar sobre a condição da mulher, e ao inscrevê-la como sujeito da estória e<br />
da história – não se limita à postura representacional <strong>de</strong> espelhar tal qual o mun<strong>do</strong><br />
patriarcal e <strong>de</strong>nunciá-lo, como se mergulhássemos nas águas <strong>de</strong> uma narrativa <strong>de</strong><br />
extração neonaturalista. Nela se constrói, isto sim, um campo <strong>de</strong> meditação (e <strong>de</strong><br />
mediação) em que se aprofunda o questionamento das relações entre a literatura e a<br />
realida<strong>de</strong> (HELENA, 1997, p. 109).<br />
Em meio às relações mencionadas por Lucia Helena, surge em O Corpo a relevância<br />
<strong>do</strong> elemento concupiscente retrata<strong>do</strong> na personagem masculina. No conto, o fenômeno da<br />
epifania 3 surge caracteriza<strong>do</strong> por meio da náusea. Trata-se <strong>de</strong> um instante fugaz que promove<br />
uma quebra da lógica cotidiana e conduz o ser para uma nova condição perceptiva, que se<br />
esten<strong>de</strong> ao mun<strong>do</strong> à sua volta.<br />
No conto, a náusea surge como elemento intimamente liga<strong>do</strong> à epifania que, para<br />
Nunes (1989, p. 86),<br />
[...] [é] qualificada pela náusea, que precipita a mulher num esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> alheamento,<br />
verda<strong>de</strong>iro êxtase diante das coisas, que a paralisa e esvazia, [...] que lhe dá a<br />
conhecer as coisas em sua nu<strong>de</strong>z, revelan<strong>do</strong>-lhe a existência nelas represada, como<br />
força impulsiva e caótica, e <strong>de</strong>sligan<strong>do</strong>-a da realida<strong>de</strong> cotidiana, <strong>do</strong> âmbito das<br />
relações familiares.<br />
Para Olga <strong>de</strong> Sá (1979, p.106), “[...] a epifania é um mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>svendar a vida<br />
selvagem que existe sob a mansa aparência das coisas, é um pólo <strong>de</strong> tensão metafísica, que<br />
3 Epifania em literatura, segun<strong>do</strong> Benedito Nunes (1989), significa o relato <strong>de</strong> uma experiência que a princípio se<br />
mostra simples e rotineira, mas que transforma radicalmente o ser, a partir <strong>de</strong> uma súbita revelação interior.<br />
30
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
perpassa ou transpassa a obra <strong>de</strong> Clarice Lispector”. Beatriz, uma das personagens <strong>de</strong> O<br />
Corpo, obtém súbita e nova visão <strong>de</strong> si e <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> à sua volta em <strong>do</strong>is momentos <strong>do</strong> texto:<br />
no seu encontro com Carmem e, <strong>de</strong>pois, na <strong>de</strong>scoberta da traição. Já o instante epifânico<br />
vivi<strong>do</strong> por Carmem é marca<strong>do</strong> por uma súbita revelação <strong>de</strong> si mesma, na sala <strong>de</strong> estar <strong>de</strong> sua<br />
casa, a partir <strong>de</strong> seu entendimento com Beatriz.<br />
Logo no início <strong>do</strong> conto, já se observa um triângulo amoroso bastante estável: Xavier,<br />
comerciante bem sucedi<strong>do</strong>, vive com duas mulheres que se respeitam e que aceitam a situação<br />
com (aparente) naturalida<strong>de</strong>. A estabilida<strong>de</strong> das relações amorosas entre Xavier, Beatriz e<br />
Carmem é rompida quan<strong>do</strong> elas <strong>de</strong>scobrem que existe uma outra mulher na vida <strong>de</strong> Xavier,<br />
uma prostituta que ele visita periodicamente. A partir <strong>de</strong> então, Carmem e Beatriz vão se<br />
afastan<strong>do</strong> <strong>de</strong> Xavier, ao mesmo tempo em que se tornam mais unidas. A monotonia <strong>do</strong><br />
cotidiano aliada à <strong>de</strong>cepção sofrida faz com que elas, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> uma reflexão sobre a<br />
impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> transcen<strong>de</strong>r a morte, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m antecipar o inevitável e terminam por<br />
<strong>de</strong>liberar pela morte <strong>de</strong> Xavier – plano executa<strong>do</strong> por ambas.<br />
Depois <strong>de</strong> matá-lo, Beatriz e Carmem enterram o corpo e, no local da cova, Beatriz<br />
tem a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> plantar rosas: “O pé <strong>de</strong> rosas vermelhas parecia ter pega<strong>do</strong>. Boa mão <strong>de</strong> plantio,<br />
boa terra próspera” (LISPECTOR, 1998, 27). Outro fato relevante que esse trecho apresenta,<br />
além <strong>de</strong> enfatizar a associação <strong>do</strong> corpo <strong>de</strong> Xavier à fertilização, é a relação da cor vermelha<br />
(as rosas, o sangue) e acontecimentos <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>a<strong>do</strong>s <strong>de</strong>ntro da narrativa. Isso lembra,<br />
também, as rosas vermelhas <strong>do</strong> conto A Imitação da Rosa, também <strong>de</strong> Lispector, em que a<br />
personagem Laura se aliena <strong>de</strong> si mesma e <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> à sua volta.<br />
Passa<strong>do</strong>s alguns dias <strong>do</strong> <strong>de</strong>saparecimento <strong>de</strong> Xavier, a polícia é chamada e <strong>de</strong>scobre<br />
que ele fora enterra<strong>do</strong> no jardim <strong>de</strong> sua própria casa. Surpreen<strong>de</strong>ntemente, os policiais<br />
<strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m que o melhor a fazer é esquecer tu<strong>do</strong> aquilo e sugerem a Beatriz e a Carmem que<br />
arrumem suas malas e se mu<strong>de</strong>m para o Uruguai.<br />
Xavier, o bígamo, é <strong>de</strong>scrito como um homem “truculento e sanguíneo, muito forte<br />
esse homem”, e com características que no <strong>de</strong>correr <strong>do</strong> texto se associam ao touro. Ele<br />
também aparece como um homem grosseiro e inculto, o que contribui para o efeito cômico<br />
produzi<strong>do</strong> nas ações <strong>de</strong>ssa personagem. Xavier possui um apetite voraz, tanto no que se refere<br />
à alimentação quanto à sexualida<strong>de</strong>. Há, no conto, uma relação direta entre comida e<br />
sexualida<strong>de</strong>: “Xavier bebeu vinho francês e comeu sozinho um frango inteiro” (LISPECTOR,<br />
1998, p. 28). Outra associação feita a Xavier é a <strong>do</strong> super-homem, que coinci<strong>de</strong> com a<br />
metáfora <strong>do</strong> touro, animal associa<strong>do</strong> à potência sexual, às forças da criação e da natureza.<br />
31
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Convém lembrar que, em senti<strong>do</strong> mitológico, o Minotauro <strong>de</strong> Creta era um ser ávi<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
sangue, que necessitava ser alimenta<strong>do</strong> anualmente por catorze jovens trazi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Atenas.<br />
“Xavier engor<strong>do</strong>u três quilos e sua força <strong>de</strong> touro acresceu-se” (LISPECTOR, 1998, p. 30).<br />
Ou ainda, quan<strong>do</strong> é <strong>de</strong>scrita a forma como ele se alimenta: “Xavier comia com maus mo<strong>do</strong>s:<br />
pegava a comida com as mãos, fazia muito barulho para mastigar, além <strong>de</strong> comer com a boca<br />
aberta” (LISPECTOR, 1998, p. 30).<br />
Além disso, o texto está permea<strong>do</strong> por um jogo <strong>de</strong> números que, muitas vezes,<br />
parecem ser <strong>de</strong>snecessários ao conto, mas que colaboram para que o efeito cômico se realize<br />
com mais intensida<strong>de</strong>:<br />
Xavier vivia com duas mulheres.[...] Cada noite era uma. À vezes duas vezes por<br />
noite. (p. 27).<br />
A noite <strong>do</strong> último tango em Paris foi memorável para os três. [...] almoçaram às três<br />
horas. [...] Xavier tinha quarenta e sete anos. Carmem tinha trinta e nove e Beatriz já<br />
completara os cinqüenta (p.28).<br />
Durante três dias ele não disse nenhuma palavra às duas [...] Ao teatro os três não<br />
iam. (p. 30).<br />
Às três horas da manhã Xavier teve vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> ter mulher [...] Que se arranjasse<br />
com a terceira mulher. [...] As duas <strong>de</strong> vez em quanto choravam... (p. 31).<br />
Na cozinha há <strong>do</strong>is facões [...] somos duas e temos <strong>do</strong>is facões (p. 33).<br />
[...] com o auxílio <strong>de</strong> duas pás abriram no chão uma cova (p. 34).<br />
No jardim havia ‘Sete pessoas’ (LISPECTOR, 1998, p. 36).<br />
A insistente repetição <strong>de</strong> números parece querer relativizar fatos que são fora <strong>do</strong><br />
comum, além <strong>do</strong> efeito cômico, como em: “Às seis horas foram os três para a igreja. [...] Os<br />
três na verda<strong>de</strong> eram quatro [...] Foi uma azáfema a preparação das três malas [...] Sentaram-<br />
se em banco <strong>de</strong> três lugares” (LISPECTOR, 1998, p. 29).<br />
Essa opção, em vez <strong>de</strong> outra, como, por exemplo: “No <strong>do</strong>mingo à tar<strong>de</strong> Xavier e suas<br />
mulheres foram à igreja", revela que o narra<strong>do</strong>r se esforça em fazer com que uma situação<br />
insólita se torne familiar, por meio <strong>de</strong> recursos atenuantes.<br />
Essa relativização <strong>do</strong> fato incomum, ao que parece, funciona também como um<br />
recurso <strong>de</strong> ironia. Ao menos é o que acontece quan<strong>do</strong> se diz que “[...] às seis horas da tar<strong>de</strong> os<br />
três foram para a igreja”. A bigamia é con<strong>de</strong>nada pela maioria das igrejas, no entanto, o fato<br />
<strong>de</strong> os três amantes terem i<strong>do</strong> à igreja parece não incomodar a ninguém. Há uma espécie <strong>de</strong><br />
naturalização <strong>de</strong> um costume pouco natural, talvez porque quem o transgrida seja um homem.<br />
As mulheres, apesar <strong>de</strong> diferentes, <strong>de</strong>sempenham e agregam o papel <strong>de</strong> uma, a <strong>de</strong> esposa,<br />
embora em <strong>do</strong>is corpos diferentes, e isso transparece quan<strong>do</strong> elas mantêm relações sexuais<br />
uma com a outra ao <strong>de</strong>scobrirem a traição <strong>de</strong> Xavier. Isso abre possibilida<strong>de</strong>s à hybris das<br />
32
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
personagens femininas, não por uma vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> conhecer o que não é comum <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma<br />
socieda<strong>de</strong> marcada por relações heterossexuais, porém pela cólera e pelo sofrimento causa<strong>do</strong><br />
pela <strong>de</strong>scoberta da traição <strong>de</strong> Xavier.<br />
Em um mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>mina<strong>do</strong> pelo masculino, a socieda<strong>de</strong> e a religião contribuem para<br />
fundamentar os preceitos e or<strong>de</strong>nar as coisas em papeis masculinos e femininos. No conto O<br />
Corpo, a bigamia é relativa ao sentimento <strong>de</strong> <strong>do</strong>mínio e <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r sobre as mulheres. Aliás, o<br />
texto não fornece muitas informações a respeito <strong>do</strong> comportamento alheio diante <strong>do</strong> triângulo<br />
Xavier / Beatriz / Carmem. A única informação que se tem a respeito <strong>do</strong> olhar alheio é a<br />
seguinte: “To<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> sabia que Xavier era bígamo: vivia com duas mulheres”<br />
(LISPECTOR, 1998, p. 27). O fato <strong>de</strong> as personagens femininas aceitarem tal situação, sem<br />
reclamar, evi<strong>de</strong>ncia o condicionamento da mulher pela vonta<strong>de</strong> <strong>do</strong> homem: ele <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>, ela faz.<br />
A construção das personagens Beatriz e Carmem ocorre por meio <strong>de</strong> oposições que<br />
sugerem a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> complementarida<strong>de</strong>. Xavier e as duas mulheres formam uma unida<strong>de</strong><br />
somente ameaçada com o aparecimento <strong>de</strong> um quarto elemento, a prostituta. Tal figura é a<br />
personagem que vem <strong>de</strong>sestabilizar o triângulo. Ela, a terceira, não é aceita por Beatriz e por<br />
Carmem que, entre si, não sentem ciúmes, porém não toleram um elemento alheio ao seu<br />
cotidiano. Ainda persiste uma proposição da tría<strong>de</strong> perfeita, tão cara ao universo oci<strong>de</strong>ntal e<br />
cristã. No jogo <strong>do</strong> três, não cabe um quarto.<br />
A presença <strong>do</strong> cômico-grotesco, manifestada em Xavier, é também bastante<br />
perceptível na configuração <strong>de</strong> Beatriz, personagem que não possui senso <strong>de</strong> ridículo:<br />
Beatriz comia que não era vida. Era gorda e enxudiosa. (p. 27).<br />
[...] Carmem era mais elegante. Beatriz, com suas banhas escolhia biquíni e um sutiã<br />
mínimo para os enormes seios que tinha. [...] Beatriz saiu e comprou uma minissaia.<br />
(LISPECTOR, 1998, p. 29)<br />
Como já foi menciona<strong>do</strong>, no início <strong>do</strong> conto o que transparece é uma estabilida<strong>de</strong><br />
conjugal mantida entre as três personagens. Contu<strong>do</strong>, essa estabilida<strong>de</strong> é rompida pela<br />
<strong>de</strong>scoberta <strong>de</strong> uma terceira mulher, ou melhor, <strong>de</strong> um quarto elemento. A isso, soma-se um<br />
certo dissabor provoca<strong>do</strong> pela rotina <strong>do</strong> cotidiano: “E assim era, dia após dia. [...] Passavam-<br />
se dias, meses, anos. Ninguém morria” (LISPECTOR, 1998, p. 28).<br />
A <strong>de</strong>scoberta <strong>de</strong> um quarto elemento <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia o sofrimento e o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> vingança,<br />
alia<strong>do</strong>s à reflexão da impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escapar à morte, o que contribuiu para que Beatriz e<br />
Carmem antecipem a morte <strong>de</strong> Xavier. “Vamos esperar que Xavier morra <strong>de</strong> morte morrida?<br />
[...] Acho que <strong>de</strong>vemos as duas dar um jeito” (LISPECTOR, 1998, p. 32).<br />
33
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Assim surge a i<strong>de</strong>ia da morte <strong>de</strong> Xavier, na aparente naturalida<strong>de</strong> com que Beatriz e<br />
Carmem <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m e executam o crime. É o momento em que o submisso, a mulher, se<br />
(re)volta contra seu opressor. A vítima se converte em algoz. E elas<br />
[...] foram armadas. O quarto estava escuro. Elas fraquejaram erradamente,<br />
apunhalan<strong>do</strong> o cobertor. Era noite fria. Então elas conseguiram distinguir o corpo<br />
a<strong>do</strong>rmeci<strong>do</strong> <strong>de</strong> Xavier. [...] estavam exaustas. Matar requer força. Força humana.<br />
Força divina (LISPECTOR, 1998, p. 34).<br />
Há, no entanto, um momento crucial que reduz toda a narrativa ao silêncio. É quan<strong>do</strong><br />
a polícia cava o jardim e encontra o corpo <strong>de</strong> Xavier. A solução <strong>do</strong> crime, dada pelo policial, é<br />
totalmente inusitada: “Vocês duas [...] arrumem as malas e vão viver em Montevidéu. Não<br />
nos dêem maior amolação”.<br />
A potência sexual e a energia cria<strong>do</strong>ra <strong>de</strong> Xavier eram tantas que a terra on<strong>de</strong> ele foi<br />
sepulta<strong>do</strong> tornou-se fecunda e ali floresceram rosas. E uma possível prisão <strong>de</strong> ambas as<br />
mulheres não se concretiza, haven<strong>do</strong> a alternativa da liberda<strong>de</strong> e <strong>do</strong> recomeço em outro lugar.<br />
Beatriz e Carmem agra<strong>de</strong>cem: “Muito obrigada. E Xavier não disse nada. Nada havia mesmo<br />
a dizer” (LISPECTOR, 1998, p.37).<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O conto O Corpo é narra<strong>do</strong> <strong>de</strong> forma incisiva, sen<strong>do</strong> possível perceber uma analogia<br />
com momentos que nos remetem à Paixão <strong>de</strong> Cristo, a via sacra, mostran<strong>do</strong> as estações <strong>de</strong><br />
sofrimento e <strong>de</strong> sacrifício <strong>do</strong> corpo. São as etapas em que as personagens femininas aparecem<br />
em busca <strong>de</strong> seu lugar junto ao homem e não em submissão a ele.<br />
Nesse senti<strong>do</strong>, Souza (2007, p. 74), afirma que:<br />
O <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> se igualar ao outro atinge requintes <strong>de</strong> <strong>de</strong>spersonalização, a ponto <strong>de</strong> o<br />
sujeito se apagar como indivíduo e <strong>de</strong> apelar para o reconhecimento internacional,<br />
diluin<strong>do</strong>-se na imagem alheia ao invés <strong>de</strong> se impor na sua subjetivida<strong>de</strong>.<br />
Manifesta-se, assim, o <strong>de</strong>sejo e o anseio das personagens femininas <strong>de</strong> Clarice<br />
Lispector em busca <strong>de</strong> um lugar para si, pois viviam em processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>spersonalização, como<br />
afirma Souza, o que as levou ao <strong>de</strong>sequilíbrio e à transgressão.<br />
Po<strong>de</strong>-se, <strong>de</strong>ssa forma, evi<strong>de</strong>nciar, no conto, a existência <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> marcada<br />
pelo pre<strong>do</strong>mínio da vonta<strong>de</strong> <strong>do</strong> masculino. A relação <strong>de</strong> Xavier e suas duas mulheres – mais a<br />
terceira, a prostitua – não é vista como falha moral, porém como uma caracterização da<br />
virilida<strong>de</strong> e da força masculinas. Em outras palavras, em uma socieda<strong>de</strong> on<strong>de</strong> o homem dita e<br />
faz as regras suas transgressões servem para firmar seu po<strong>de</strong>r e sua força na imposição <strong>de</strong> um<br />
papel <strong>de</strong> submissão ao feminino.<br />
34
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
A autorida<strong>de</strong> masculina caracteriza-se pela or<strong>de</strong>nação <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> em opostos<br />
hierárquicos, na qual encontramos a dualida<strong>de</strong> sexual básica entre homem/mulher,<br />
macho/fêmea. São essas <strong>de</strong>nominações fundadas no papel prepon<strong>de</strong>rante <strong>do</strong> masculino no<br />
mun<strong>do</strong> oci<strong>de</strong>ntal e cristão que <strong>de</strong>terminam os papeis sociais <strong>do</strong> homem e da mulher. Essas<br />
marcas estão presentes no sofrimento das personagens femininas <strong>de</strong> O Corpo. Nele, Beatriz é<br />
<strong>de</strong>scrita por meio <strong>de</strong> seu corpo grotesco e Carmem como o seu oposto, a mulher chique,<br />
elegante. O físico e as ações das personagens ten<strong>de</strong>m ao grotesco e, por vezes, à náusea. Já<br />
Xavier é <strong>de</strong>scrito como forte como um touro, a figura <strong>do</strong> animal, a imagem <strong>do</strong> reprodutor, que<br />
aduba e fertiliza – as rosas nascem sobre sua cova – e, para<strong>do</strong>xalmente, a semente da<br />
liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Beatriz e Carmem, “convidadas” a viajar para o Uruguai pelo policial que<br />
<strong>de</strong>scobre o corpo <strong>do</strong> amante <strong>de</strong> ambas.<br />
As mulheres, apesar <strong>de</strong> diferentes, <strong>de</strong>sempenham e agregam o papel <strong>de</strong> uma, a <strong>de</strong><br />
esposa, embora em corpos diferentes. Evi<strong>de</strong>ncia-se, pois, que a mulher, ao longo da história,<br />
teve seu papel circunscrito à vida privada e submissa às vonta<strong>de</strong>s <strong>do</strong> homem. E aquelas que,<br />
por algum motivo, ousassem transgredir essa or<strong>de</strong>m eram duramente punidas. Ontem, como<br />
ainda hoje, em um universo <strong>do</strong>mina<strong>do</strong> pelo masculino, a socieda<strong>de</strong> e a religião contribuem<br />
para fundamentar os preceitos e or<strong>de</strong>nar o mun<strong>do</strong> em binarismos, como o masculino e o<br />
feminino.<br />
Assim, este ensaio nos permite afirmar que as mulheres em O Corpo, ou seja, Beatriz<br />
e Carmem, ao longo da narrativa, não se contentam mais com os papeis impostos pela<br />
personagem masculina. Elas, então, transgri<strong>de</strong>m a or<strong>de</strong>m estabelecida pelo universo<br />
masculino. Seu corpo não mais está preso às normas sociais e/ou religiosas, mas transbordam<br />
no sofrimento e extravasam na força e na ira <strong>de</strong> tantos recalques e sofrimentos. Elas se<br />
libertam para agirem conforme seus impulsos e forjarem para si um novo lugar.<br />
REFERÊNCIAS<br />
FERREIRA, Luzilá Gonçalves. A fala feminina. Revista Continente Multicultural, Recife,<br />
ano 3, n. 37, p. 23-24, jan. 2004.<br />
HELENA, Lucia. Nem musa nem medusa: itinerários da escrita <strong>de</strong> Clarice Lispector. Niterói:<br />
EDUFF, 1997.<br />
KADOTA, Neiva Pitta. A tessitura dissimulada: o social em Clarice Lispector. São Paulo:<br />
Estação Liberda<strong>de</strong>, 1997.<br />
KANNAN, Dany Al-Behy. À escuta <strong>de</strong> Lispector: entre o biográfico e o literário, uma ficção<br />
possível. São Paulo: EDUC, 2003.<br />
35
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
LISPECTOR, Clarice. O Corpo. In: _______. A Via Crucis <strong>do</strong> Corpo. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Rocco,<br />
1998.<br />
_____. Laços <strong>de</strong> Família. Rio <strong>de</strong> Janeiro: J. Olympio; Civilização Brasileira, 1974.<br />
NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura <strong>de</strong> Clarice Lispector. São Paulo:<br />
Ática, 1989.<br />
REGUERA, Nilze Maria <strong>de</strong> Azere<strong>do</strong>. Clarice Lispector e a encenação da escritura em a Via<br />
Crucis <strong>do</strong> Corpo. São Paulo: UNESP, 2006.<br />
ROSENBAUM, Yudith. Clarice Lispector. São Paulo: Publifolha, 2002.<br />
SÁ, Olga <strong>de</strong>. A escritura <strong>de</strong> Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 1979.<br />
SOUZA, Eneida Maria <strong>de</strong>. Crítica Cult. Belo Horizonte: UFMG, 2007.<br />
36
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
O MONSTRO E SEU AVESSO EM UM RIO CHAMADO TEMPO, UMA CASA<br />
CHAMADA TERRA, DE MIA COUTO<br />
Juliana Ciambra Rahe (UFMS)<br />
Rosana Cristina Zanelatto Santos (UFMS)<br />
Este trabalho tem como objetivo analisar o monstro que tomou corpo na personagem Dito<br />
Mariano como resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong> esmorecimento <strong>de</strong> sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural, em Um rio chama<strong>do</strong><br />
tempo, uma casa chamada terra, <strong>de</strong> Mia Couto. A finalida<strong>de</strong> é analisar o nascimento <strong>do</strong><br />
monstro e a colaboração <strong>do</strong> duplo – que se manifesta fisicamente em Marianinho – no<br />
exorcismo <strong>do</strong> monstro, através da reinvenção <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural como o resulta<strong>do</strong> da<br />
negociação com novas culturas, sem que com isso os vínculos com as próprias origens e<br />
tradições sejam afrouxa<strong>do</strong>s. Para tanto, além da análise <strong>do</strong> texto literário, utilizaram-se, como<br />
subsídio para a leitura realizada, textos teóricos que abordam a questão da monstruosida<strong>de</strong>, da<br />
duplicida<strong>de</strong>, assim como teorias a respeito da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> e da tradução cultural. Observou-se<br />
que, na empresa <strong>de</strong> exorcizar o monstro, cabe ao duplo buscar o conhecimento <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> e<br />
resgatar a tradição, a fim <strong>de</strong> reinventar a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural, evitan<strong>do</strong>, contu<strong>do</strong>, um<br />
fundamentalismo cultural exacerba<strong>do</strong> que busca a recuperação <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> anterior<br />
pura. Tais observações <strong>de</strong>monstram a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reatualização <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> por meio da<br />
memória, que constitui uma maneira <strong>de</strong> tradução dialógica <strong>do</strong> passa<strong>do</strong>, bem como a<br />
assimilação da mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> mediada por processos <strong>de</strong> tradução.<br />
Palavras-chave: monstro; i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>; tradução cultural; Mia Couto.<br />
Abstract<br />
This paper aims to analyze the monster in which the character Dito Mariano turns into when<br />
acts in a way which results in annulling his cultural i<strong>de</strong>ntity, in Um rio chama<strong>do</strong> tempo, uma<br />
casa chamada terra, by Mia Couto. The object is to look into the monster’s birth and the<br />
collaboration of the <strong>do</strong>uble – whose physical manifestation is Marianinho – in the exorcism of<br />
the monster, which occurs by the reinvention of a cultural i<strong>de</strong>ntity as the result of the<br />
renegotiation with new cultures, without loosing the connections with their origins and<br />
traditions. Besi<strong>de</strong>s analyzing the literary text, it was used, as basis for reading, theoretical<br />
texts that approach the subject of monstruosity, <strong>do</strong>uble, as well as theories about i<strong>de</strong>ntity and<br />
cultural translation. It was observed, when exorcising the monster, it is the <strong>do</strong>uble's role to<br />
find previous knowledge and get the tradition, in or<strong>de</strong>r to reinvent the cultural i<strong>de</strong>ntity,<br />
avoiding a cultural fundamentalism that tries to recover a previous pure i<strong>de</strong>ntity. Such<br />
observations display the need of updating the past through memory, which constitutes a<br />
dialogical way of translation of the past, as well as the assimilation of mo<strong>de</strong>rnity, through by<br />
translation processes.<br />
Key words: monster; i<strong>de</strong>ntity; cultural translation; Mia Couto.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
37
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Segun<strong>do</strong> Julio Jeha, "[...] os monstros <strong>de</strong>sempenham, reconhecidamente, um papel<br />
político como mantene<strong>do</strong>r <strong>de</strong> regras sociais" (2007, p. 18); eles constituem uma manobra para<br />
<strong>de</strong>limitar fronteiras, estabelecen<strong>do</strong> proibições para alguns comportamentos e valorizan<strong>do</strong><br />
outros. O corpo monstruoso constitui "[...] uma narrativa dupla, duas histórias vivas: uma que<br />
<strong>de</strong>screve como o monstro po<strong>de</strong> ser e outra – seu testemunho – que <strong>de</strong>talha a que uso cultural o<br />
monstro serve" (COHEN, 2000, p. 42).<br />
Em Um rio chama<strong>do</strong> tempo, uma casa chamada terra, <strong>de</strong> Mia Couto, a personagem<br />
Dito Mariano, ao se transformar em um monstro – um morto-vivo a quem a terra rejeita – em<br />
<strong>de</strong>corrência da perda <strong>de</strong> sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, adverte <strong>do</strong>s caminhos pelos quais não se <strong>de</strong>ve seguir,<br />
chaman<strong>do</strong> atenção para fronteiras que não se <strong>de</strong>vem cruzar. Ele materializa um castigo<br />
funda<strong>do</strong> em uma transgressão.<br />
Com o intuito <strong>de</strong> realizar a tarefa <strong>de</strong> exorcizar o monstro em que se transformou Dito<br />
Mariano, cabe a Marianinho – manifestação física <strong>do</strong> duplo <strong>do</strong> avô – a reinvenção da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural, por meio <strong>do</strong> resgate <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> e das tradições, sem que com isso se<br />
conduza à recuperação <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural anterior pura, fundada em formas <strong>de</strong><br />
representação e significação imutáveis e estáveis.<br />
O monstro corporifica um momento cultural e possibilita a realização <strong>de</strong> uma leitura<br />
da cultura a partir das relações que o geram. Sen<strong>do</strong> assim, os comportamentos que<br />
<strong>de</strong>monstram o extravio da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dito Mariano e que levaram à sua transformação em<br />
um ser monstruoso revelam limites e traçam fronteiras que não <strong>de</strong>vem ser transpostas na<br />
busca pela construção <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> moçambicana.<br />
2. A MONSTRUOSA TRANSFORMAÇÃO<br />
Um rio chama<strong>do</strong> tempo, uma casa chamada terra, <strong>de</strong> Mia Couto, conta a trajetória <strong>de</strong><br />
Marianinho ao retornar à ilha <strong>de</strong> Luar-<strong>do</strong>-Chão, por motivo <strong>do</strong> falecimento <strong>do</strong> avô, Dito<br />
Mariano. Como neto preferi<strong>do</strong>, her<strong>de</strong>iro <strong>do</strong> nome, Marianinho foi escolhi<strong>do</strong> pelo avô para<br />
conduzir as cerimônias <strong>do</strong> funeral. Entretanto, o esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> faleci<strong>do</strong> – porta<strong>do</strong>r assintomático<br />
<strong>de</strong> vida – requer a postergação in<strong>de</strong>finida das cerimônias fúnebres. A dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> transição<br />
<strong>do</strong> morto transforma-o em um monstro, um ser híbri<strong>do</strong> – nem morto, nem vivo – que resiste a<br />
uma "[...] classificação construída com base em uma hierarquia ou em uma oposição<br />
meramente binária"; ele "[...] <strong>de</strong>sintegra a lógica silogística e bifurcante <strong>do</strong> 'isto ou aquilo',<br />
por meio <strong>de</strong> um raciocínio mais próximo <strong>do</strong> 'isto e/ou aquilo'" (COHEN, 2000, p. 30-32).<br />
O monstro corporifica uma advertência, uma interdição <strong>de</strong> um comportamento. Ele<br />
38
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
[...] impe<strong>de</strong> a mobilida<strong>de</strong> (intelectual, geográfica ou sexual) <strong>de</strong>limitan<strong>do</strong> os espaços<br />
sociais através <strong>do</strong>s quais os corpos priva<strong>do</strong>s po<strong>de</strong>m se movimentar. Dar um pulo<br />
fora <strong>de</strong>ssa geografia oficial significa arriscar sermos ataca<strong>do</strong>s por alguma<br />
monstruosa patrulha <strong>de</strong> fronteira ou – o que é pior – tornar-mo-nos, nós próprios,<br />
monstruosos (COHEN, 2000, p. 41).<br />
A transformação <strong>de</strong> Dito Mariano em um ser monstruoso ocorre em razão <strong>do</strong><br />
apagamento <strong>de</strong> sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural.<br />
[...] Uma das gran<strong>de</strong>s questões que eu procuro em minha escrita é a procura <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. [...] que é uma coisa que nos move como pessoas, como famílias, como<br />
nações. É ao mesmo tempo uma coisa profundamente necessária. Precisamos ter<br />
uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, não sei porquê, mas precisamos ter uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Ficamos muito<br />
nervosos com a ausência <strong>de</strong>ssa i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> COUTO, entrevista inédita realizada em<br />
27 jun. 2009.<br />
O afrouxamento da i<strong>de</strong>ntificação da personagem com a cultura nacional – "[...] uma<br />
das principais fontes <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural" (HALL, 2005, p. 47) – po<strong>de</strong> ser verificada pelo<br />
<strong>de</strong>sleixo no cumprimento <strong>de</strong> suas funções, <strong>de</strong>corrente da posição que assume no interior da<br />
instituição familiar. Como patriarca, cabe a ele a tarefa <strong>de</strong> guardar a casa e a família, e esta<br />
“[...] é coisa que não existe em porções. Ou é toda ou é nada” (COUTO, 2003, p. 126).<br />
Entretanto, a <strong>de</strong>sintegração salta aos olhos. Adivinham-se “[...] o <strong>de</strong>sabar da família, o<br />
extinguir da terra” (COUTO, 2003, p. 147). O <strong>de</strong>sencaminhamento da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Mariano<br />
evi<strong>de</strong>ncia-se na negligência com que se comportou em relação a Miserinha, <strong>de</strong>sacolhen<strong>do</strong>-a, e<br />
no segre<strong>do</strong> <strong>de</strong> que Marianinho não era seu neto, mas seu filho e <strong>de</strong> sua cunhada, Admirança.<br />
Outra evidência <strong>do</strong> <strong>de</strong>sfazimento da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural <strong>do</strong> mais velho <strong>do</strong>s Malilanes<br />
resi<strong>de</strong> em uma impostura que lhe pesa a consciência: sua contribuição na morte <strong>de</strong> seu amigo,<br />
Juca Sabão, “<strong>de</strong>sensaboa<strong>do</strong>” pela arma que Mariano roubou <strong>de</strong> Fulano e ven<strong>de</strong>u a seus netos,<br />
filhos <strong>de</strong> Ultímio. Segun<strong>do</strong> Hall,<br />
[...] uma cultura nacional é um discurso – um mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> construir senti<strong>do</strong>s que<br />
influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos <strong>de</strong> nós<br />
mesmos [...] As culturas nacionais, ao produzir senti<strong>do</strong>s sobre "a nação", senti<strong>do</strong>s<br />
com os quais po<strong>de</strong>mos nos i<strong>de</strong>ntificar, constroem i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. Esses senti<strong>do</strong>s estão<br />
conti<strong>do</strong>s nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu<br />
presente com seu passa<strong>do</strong> e imagens que <strong>de</strong>la são construídas (HALL, 2005, p. 50-<br />
51).<br />
A terra fecha-se contra a postura ambiciosa <strong>do</strong> avô Mariano, que vai ao encontro a<br />
uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> formada com base em senti<strong>do</strong>s produzi<strong>do</strong>s a partir da narrativa <strong>de</strong> um passa<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> nação colonizada.<br />
3. O MONSTRO E SEU AVESSO<br />
39
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Mais <strong>do</strong> que o neto escolhi<strong>do</strong> para conduzir as cerimônias <strong>do</strong> funeral, Marianinho<br />
corporifica a manifestação física <strong>do</strong> duplo <strong>de</strong> Dito Mariano, encarrega<strong>do</strong> <strong>de</strong> exorcizar o<br />
monstro. Para exercer a função <strong>de</strong> "anjo puro" e proteger a casa – a terra, a nação – da<br />
condição monstruosa <strong>do</strong> avô, porta<strong>do</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>sgraça, cabe a Marianinho (re)construir a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural, para que assim o avô possa se libertar da sonolência que o pren<strong>de</strong> ao<br />
lençol da mesa gran<strong>de</strong>.<br />
O duplo revela-se como projeção consciente <strong>do</strong> conteú<strong>do</strong> reprimi<strong>do</strong> pelo avô<br />
moribun<strong>do</strong>. Segun<strong>do</strong> Freud, na tentativa <strong>de</strong> lidar com o mun<strong>do</strong> externo e mediar questões<br />
internas, o ego reprime emoções provocan<strong>do</strong> uma ansieda<strong>de</strong> mórbida.<br />
[...] se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que to<strong>do</strong> afeto pertence a um<br />
impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimi<strong>do</strong>, em<br />
ansieda<strong>de</strong>, então, entre os exemplos <strong>de</strong> coisas assusta<strong>do</strong>ras, <strong>de</strong>ve haver uma<br />
categoria em que o elemento que amedronta po<strong>de</strong> mostrar-se ser algo reprimi<strong>do</strong> que<br />
retorna. Essa categoria <strong>de</strong> coisas assusta<strong>do</strong>ras constituiria então o estranho<br />
(FREUD, 1996, p. 258).<br />
O duplo refere-se ao estranho – algo estranhamente familiar, simultaneamente novo e<br />
<strong>de</strong>sagradável – tanto quanto representa essa ansieda<strong>de</strong>, isso reprimi<strong>do</strong> que o indivíduo<br />
escolheu para escon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> si mesmo (cf. GUEDES, 2007, p. 27). Segun<strong>do</strong> Freud, o "[...]<br />
estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabeleci<strong>do</strong> na<br />
mente, e que somente se alienou <strong>de</strong>sta através <strong>do</strong> processo da repressão" (FREUD, 1996, p.<br />
258).<br />
São segre<strong>do</strong>s muito guarda<strong>do</strong>s por Dito Mariano que geram o duplo Marianinho, que<br />
recebe cartas (estranhamente familiares), com a sua própria caligrafia, remetidas pelo avô,<br />
aconselhan<strong>do</strong>-o na tarefa <strong>de</strong> <strong>de</strong>scortinar mistérios e “direitar” <strong>de</strong>stinos.<br />
Tal duplicida<strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ncia-se no prenome <strong>de</strong> ambas as personagens, levan<strong>do</strong>-se em<br />
conta que “[...] O nome próprio é o atesta<strong>do</strong> visível da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> seu porta<strong>do</strong>r através <strong>do</strong>s<br />
tempos e <strong>do</strong>s espaços sociais” (BOURDIEU, 1996, p. 187): "[...] não apenas eu continuava a<br />
vida <strong>do</strong> faleci<strong>do</strong>. Eu era a vida <strong>de</strong>le" (COUTO, 2003, p. 22) – e também no sentimento que<br />
ambas nutrem por Admirança: "[...] me custa confessar mas a Tia Admirança me acen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
mais o rastilho. Tantas vezes a recor<strong>do</strong>, mulherosa, seu corpo e seu cheiro" (COUTO, 2003, p.<br />
58) e "Admirança foi a mulher em minha vida" (COUTO, 2003, p. 233).<br />
Além disso, a procura por inspiração no mais velho para <strong>de</strong>cidir o que fazer na<br />
circunstância <strong>de</strong> sua prisão revela-se como outro indício da condição <strong>de</strong> duplo <strong>de</strong> Marianinho:<br />
"O que faria o Avô naquela circunstância? E penso: é curioso eu procurar inspiração no mais-<br />
velho. Afinal, já vou me exercen<strong>do</strong> como um Malilane" (COUTO, 2003, p. 203).<br />
40
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
4. O EXORCISMO DO MORTO ADORMECIDO<br />
No projeto <strong>de</strong> reinvenção i<strong>de</strong>ntitária, a (re)<strong>de</strong>scoberta <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> apresenta-se como<br />
parte <strong>do</strong> processo. Assim, no retorno a Luar-<strong>do</strong>-Chão, para que <strong>de</strong>ixe que a casa – "que é o<br />
país inteiro" – entre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> si, Marianinho precisa resgatar a história <strong>de</strong> sua terra. Para<br />
tanto, é preciso que conheça a história <strong>de</strong> seus familiares: <strong>do</strong>s homens, representantes <strong>do</strong><br />
tempo; e das mulheres, alegorias da terra. O passa<strong>do</strong>, contu<strong>do</strong>,<br />
[...] é quase sempre uma mentira. A parte <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> que não passa é uma<br />
construção, é uma releitura. Como os sonhos, nós nunca contamos os sonhos, porque<br />
sempre reelaboramos os sonhos quan<strong>do</strong> contamos. O passa<strong>do</strong> é composto por duas<br />
partes, aquilo que não passou, que é necessário lembrar, uma espécie <strong>de</strong> convenção<br />
quase silenciosa, às vezes manipulada, que impõe limites que <strong>de</strong>pois fixam aquilo<br />
faz parte da história oficial; e outra parte <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> é esquecida, é enterrada<br />
(COUTO, entrevista inédita realizada em 27 jun. 2009).<br />
De mulungo, Marianinho passa a Malilane quan<strong>do</strong> se familiariza com a cultura da<br />
terra e com o passa<strong>do</strong> – que é sempre construí<strong>do</strong> através <strong>de</strong> memória, fantasia, narrativa e<br />
mito (cf. HALL, 1990) – e po<strong>de</strong>, assim, “direitar” os <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> sua gente.<br />
Corporificação <strong>do</strong>s tempos <strong>do</strong> colonialismo, "[...] ao mínimo pretexto, Abstinêncio se<br />
<strong>do</strong>brava, fazen<strong>do</strong> vénia no torto e no direito" (COUTO, 2003, p. 16). O mais velho <strong>do</strong>s tios,<br />
"nos tempos, se incendiara <strong>de</strong> paixão mais que proibida", apaixonara-se por Dona Conceição,<br />
personagem que alegoriza a terra sob colonização portuguesa. Amarra<strong>do</strong> a seus me<strong>do</strong>s e a<br />
seus fantasmas, ausentou-se <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> no exílio da sua moradia, para não ver a ilha morrer,<br />
para poupar-se da <strong>do</strong>r que lhe causava assistir à <strong>de</strong>cadência da terra que tanto ama.<br />
Abstinêncio, com raízes fincadas fun<strong>do</strong> em Luar-<strong>do</strong>-Chão, não consegue aban<strong>do</strong>ná-la. A<br />
maneira que encontra <strong>de</strong> “<strong>de</strong>salugarejar-se” é afundan<strong>do</strong>-se na bebida. Bêba<strong>do</strong> sente-se outra<br />
vez vivo. “Não era tanto a pobreza que o <strong>de</strong>rrubava. Mais grave era a riqueza germinada sabe-<br />
se lá em que obscuros ninhos. E a indiferença <strong>do</strong>s po<strong>de</strong>rosos para com a miséria <strong>de</strong> seus<br />
irmãos. Esse era o ódio que ele fermentava contra Ultímio” (COUTO, 2003, p. 118).<br />
Fulano Malta, pai <strong>de</strong> Marianinho, apaixonou-se por Mariavilhosa, que fora violada por<br />
Fre<strong>de</strong>rico Lopes – a terra sen<strong>do</strong> estuprada pelo colonialismo português. Fulano lutou na<br />
guerrilha contra o regime colonial e, após a libertação, "[...] com suas amarguras, seu sonho<br />
coxea<strong>do</strong>" (COUTO, 2003, p. 126), enraizou-se à “prisão sem muros” que fez da ilha e assiste<br />
ao <strong>de</strong>finhamento da terra, assim como viu <strong>de</strong>smoronarem seus i<strong>de</strong>ais e suas esperanças. “Ele<br />
que tanto lutara para criar um mun<strong>do</strong> novo, acabou por não ter mun<strong>do</strong> nenhum” (COUTO,<br />
2003, p. 225) e viu confirmada a sentença <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrença <strong>de</strong> seu pai, Mariano: “Esses que<br />
41
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
dizem querer mudar o mun<strong>do</strong> pretendiam apenas usar da nossa ingenuida<strong>de</strong> para se tornarem<br />
os novos patrões. A injustiça apenas mudava <strong>de</strong> turno” (COUTO, 2003, p. 222).<br />
Re<strong>de</strong>scobrir o passa<strong>do</strong>, entretanto, é apenas uma porção da tarefa <strong>de</strong> reinventar a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural. Tal empreitada não tem como objetivo aquilo a que Robins chama <strong>de</strong><br />
"Tradição": a recuperação <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> anterior pura, um retorno às raízes culturais;<br />
mas a (re)invenção <strong>de</strong> uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural como produto <strong>de</strong> várias histórias e culturas<br />
interligadas, como resulta<strong>do</strong> da negociação com novas culturas, sem que com isso os vínculos<br />
com as próprias origens e tradições sejam afrouxa<strong>do</strong>s, gravitan<strong>do</strong> ao re<strong>do</strong>r daquilo a que<br />
Robins <strong>de</strong>nomina "Tradução" (apud HALL, 2005, p. 87).<br />
[...] a cultura não é apenas uma viagem <strong>de</strong> re<strong>de</strong>scoberta, uma viagem <strong>de</strong> retorno.<br />
Não é uma "arqueologia". A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus<br />
recursos, seu "trabalho-produtivo". Depen<strong>de</strong> <strong>de</strong> um conhecimento da tradição<br />
enquanto "o mesmo em mutação" e <strong>de</strong> um conjunto efetivo <strong>de</strong> genealogias. Mas o<br />
que esse "<strong>de</strong>svio através <strong>de</strong> seus passa<strong>do</strong>s" faz é nos capacitar, através da cultura, a<br />
nos produzir a nós mesmos <strong>de</strong> novo, como novos tipos <strong>de</strong> sujeitos. Portanto, não é<br />
uma questão <strong>do</strong> que as tradições fazem <strong>de</strong> nós, mas daquilo que nós fazemos das<br />
nossas tradições. Para<strong>do</strong>xalmente, nossas i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s culturais, em qualquer forma<br />
acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo <strong>de</strong> formação cultural. A<br />
cultura não é uma questão <strong>de</strong> ontologia, <strong>de</strong> ser, mas <strong>de</strong> se tornar (HALL, 2008, p.<br />
43).<br />
Na empresa <strong>de</strong> reinvenção da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural <strong>de</strong> Dito Mariano, o conhecimento <strong>do</strong><br />
passa<strong>do</strong> histórico e o resgate da tradição <strong>de</strong>vem ser utiliza<strong>do</strong>s na construção da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
cultural, sem que com isso conduzam ao fundamentalismo cultural exacerba<strong>do</strong> que procura a<br />
auto-afirmação <strong>do</strong> Eu-Nação via extermínio <strong>do</strong> outro (cf. SELLIGMAN-SILVA, 2005, p.<br />
205).<br />
[...] A idéia que eu combato muito é que há agora uma gran<strong>de</strong> tendência, digamos,<br />
tradicionalista em dizer que a nossa verda<strong>de</strong>ira i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> tem que ser procurada no<br />
passa<strong>do</strong>. E isso não constrói nada. A nossa verda<strong>de</strong>ira i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> tem que ser feita<br />
por costuras. Tem que se buscar ao passa<strong>do</strong> aquilo que já sabemos que é uma<br />
operação que vai escolher, que vai selecionar aquilo que tem que ser resgata<strong>do</strong> com<br />
memória. Mas tem que se costurar isso com alguma coisa. E que coisa é essa? E aí é<br />
difícil, porque, <strong>de</strong> fato, o mun<strong>do</strong> <strong>de</strong> hoje é um mun<strong>do</strong> que oferece coisas muito<br />
fragmentadas, muito dispersas. Que mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> vamos escolher? A resposta tem<br />
que ser "nós vamos escolher aquela que nós fizermos", não po<strong>de</strong>mos escolher, não é<br />
uma coisa que se vá ao merca<strong>do</strong>, ao shopping e "vou comprar um pacote <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>" (COUTO, entrevista inédita realizada em 27 <strong>de</strong> jun. 2009).<br />
Faz-se, portanto, preciso, para a construção i<strong>de</strong>ntitária, o casamento entre tradição e<br />
mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>. A resposta, segun<strong>do</strong> Hall, "não é apegar-se a mo<strong>de</strong>los fecha<strong>do</strong>s, unitários e<br />
homogêneos <strong>de</strong> 'pertencimento cultural', mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da<br />
semelhança e diferença – que estão transforman<strong>do</strong> a cultura no mun<strong>do</strong> inteiro" (HALL, 2008,<br />
p. 45).<br />
42
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Ultímio representa a ação normaliza<strong>do</strong>ra da globalização, que "[...] nivela as<br />
diferenças, impõe um mo<strong>de</strong>lo homogeneiza<strong>do</strong> e pasteuriza<strong>do</strong> <strong>de</strong> 'cultura' transnacional on<strong>de</strong> a<br />
tradição é reduzida a uma simples coleção <strong>de</strong> imagens" (SELLIGMAN-SILVA, 2005, p. 205).<br />
O mais novo <strong>do</strong>s tios, "[...] não sabe <strong>de</strong> on<strong>de</strong> vem e só respeita os gran<strong>de</strong>s" (COUTO, 2003, p.<br />
125). Preocupa<strong>do</strong> em exibir posses, influências e po<strong>de</strong>res, guia<strong>do</strong> por cobiças e esqueci<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
suas origens, preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>sfazer-se da casa da família, ven<strong>de</strong>r Nyumba-Kaya a investi<strong>do</strong>res<br />
estrangeiros. Tal homogeneização não apresenta, contu<strong>do</strong>, risco ao projeto <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
cultural, pois, mediante processos <strong>de</strong> subversão, negociação e tradução, é possível evitar o<br />
jugo da cultura oci<strong>de</strong>ntal, crian<strong>do</strong> mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>s vernáculas.<br />
De fato, Ultímio não consegue comprar Nyembeti – a terra – que se faz tonta,<br />
indígena, recusan<strong>do</strong>-lhe o dinheiro, e escapa; não logrará nem comprar a casa da família.<br />
[...] O Tio não enten<strong>de</strong>u que não po<strong>de</strong> comprar a casa velha? [...] Essa casa nunca<br />
será sua, Tio Ultímio [...] Porque essa casa sou eu mesmo. O senhor vai ter que me<br />
comprar a mim para ganhar posse da casa. E para isso, Tio Ultímio, para isso<br />
nenhum dinheiro é bastante" (COUTO, 2003, p. 249).<br />
Assim, na tarefa <strong>de</strong> exorcizar o monstro morto-vivo, a reatualização <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> <strong>de</strong>ve<br />
ser realizada por meio da memória, que constitui uma maneira <strong>de</strong> tradução <strong>do</strong> passa<strong>do</strong><br />
dialógica, que reconhece a "[...] comunicação com o 'outro' como forma<strong>do</strong>r <strong>do</strong> 'eu'. [...] O<br />
trabalho da memória parte <strong>do</strong> pressuposto <strong>de</strong> que o embate com o passa<strong>do</strong> é guia<strong>do</strong> pela nossa<br />
situação presente" (SELLIGMAN-SILVA, 2005, p. 212). O álbum <strong>de</strong> fotografias, no qual<br />
Dulcineusa visitava lembranças, apresenta-se como metáfora <strong>do</strong> caráter dinâmico <strong>do</strong> passa<strong>do</strong>,<br />
<strong>de</strong> sua constante transformação. A inexistência <strong>de</strong> fotos no álbum, no início da jornada <strong>de</strong><br />
Marianinho, indica a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reinvenção <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> dialogicamente através da<br />
memória. "Sem remorso, empurro mais longe a ilusão. Afinal, a fotografia é sempre uma<br />
mentira. Tu<strong>do</strong> na vida está acontecen<strong>do</strong> por repetida vez" (COUTO, 2003, p. 50).<br />
Além disso, na empresa <strong>de</strong> reinvenção da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, é preciso suturar mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> à<br />
tradição, àquilo que se resgatou <strong>do</strong> passa<strong>do</strong>, já que i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural "[...] is a matter of<br />
'becoming' as well as of 'being'. It belongs to the future as much as to the past" (HALL, 1990,<br />
p. 225). A i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
[...] se faz por casamentos, por osmoses, por simbioses. E uma das diferentes<br />
simbioses é entre a oralida<strong>de</strong> e a escrita. [...] Este casamento entre a oralida<strong>de</strong> e a<br />
escrita é muito recorrente em minha obra <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Terra Sonâmbula [...] essa idéia <strong>de</strong><br />
que há alguém que tem um pé na oralida<strong>de</strong> outro tem um pé já na escrita, quer dizer,<br />
na mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>. Essa balança entre tradição e mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> é, <strong>de</strong> fato, importante<br />
para que to<strong>do</strong>s <strong>de</strong>ixem uma página on<strong>de</strong> escrever alguma coisa, on<strong>de</strong> se dizer<br />
qualquer coisa (COUTO, entrevista inédita realizada em 27 <strong>de</strong> jun. 2009).<br />
43
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Ao exorcizar o monstro em que se transformou o Avô Mariano, Marianinho liberta<br />
também seu pai Fulano e Abstinêncio, o mais velho <strong>do</strong>s tios, que se exilaram <strong>do</strong> mun<strong>do</strong><br />
pren<strong>de</strong>n<strong>do</strong>-se à Ilha. Os livros e ca<strong>de</strong>rnos que Marianinho trazia consigo eram vistos por<br />
Fulano Malta como armas apontadas contra a família, como ameaças a um mo<strong>de</strong>lo puro <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, enraizada no passa<strong>do</strong>. Esconjura<strong>do</strong> o monstro, Fulano <strong>de</strong>volve ao filho os manuais<br />
que há anos guardava (apesar <strong>de</strong> sustentar a mentira <strong>de</strong> tê-los lança<strong>do</strong> ao rio) e aban<strong>do</strong>na a<br />
farda <strong>de</strong> guerrilheiro. Liberta-se <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> da mesma maneira como lança ao ar a gaiola que<br />
se transforma em pássaro. Também Abstinêncio agora "[...] já po<strong>de</strong>ria sair, visitar o mun<strong>do</strong>.<br />
Estava <strong>de</strong> bem consigo, aplaca<strong>do</strong>s seus me<strong>do</strong>s mais antigos" (COUTO, 2003, p. 248) .<br />
Recuperada a tradição pela memória, a casa reconquista raízes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> Marianinho.<br />
Mas, embora Nyumba-Kaya fosse a casa única, indisputável, <strong>de</strong> Marianinho, Luar-<strong>do</strong>-Chão<br />
não seria o lugar <strong>de</strong> suas cinzas. Assim, Marianinho visita "o mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s mortos" e regressa<br />
"vivo ao mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s vivos" (COUTO, 2003, p. 258). Visita o passa<strong>do</strong> <strong>de</strong> sua terra, <strong>de</strong>sfia<br />
histórias e, em seguida, <strong>de</strong>spe<strong>de</strong>-se. Exorciza o monstro e converte-se "num viajante entre<br />
esses mun<strong>do</strong>s", matan<strong>do</strong> o tempo para trás. Como pertencente a uma cultura híbrida,<br />
Marianinho recupera as raízes que o pren<strong>de</strong>m à Nyumba-Kaya através da memória, mas não<br />
se enraíza na ilha e nem ao fundamentalismo culturalista e parte, sem <strong>de</strong>ixar atrás <strong>de</strong> si<br />
"criaturas que se alojam [...] nos tempos já revira<strong>do</strong>s" (COUTO, 2003, p. 259) .<br />
REFERÊNCIAS<br />
BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M. <strong>de</strong> M.; AMADO, J. (Orgs.). Usos e<br />
abusos da história oral. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Ed. da FGV, 1996.<br />
COHEN, J. J. A cultura <strong>do</strong>s monstros: sete teses. In: COHEN, J. J. (Org.). Pedagogia <strong>do</strong>s<br />
monstros. Os prazeres e os perigos da confusão <strong>de</strong> fronteiras. Trad. Tomaz Ta<strong>de</strong>u da Silva.<br />
Belo Horizonte: Autêntica, 2000.<br />
COUTO, M. Um rio chama<strong>do</strong> tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: Companhia das<br />
Letras, 2003.<br />
FREUD, S. O Estranho. In: ____. Obras psicológicas completas <strong>de</strong> Sigmund Freud. Trad.<br />
Jayme Salomão. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira).<br />
GUEDES, R. S. Secular readings of goog and evil in R. L. Stevenson's Strange Case of Dr.<br />
Jekyll and Mr. Hy<strong>de</strong>. Disponível em:<br />
. Acesso em: 10 jan. 2009<br />
HALL, S. Cultural I<strong>de</strong>ntity and Diaspora. In: RUTHERFORD, J. (Ed.). I<strong>de</strong>ntity: community,<br />
culture, difference. Lon<strong>do</strong>n: Lawrence & Wishart, 1990. p. 222-37<br />
______. Da Diáspora: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG,<br />
2008.<br />
44
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
______. A i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural na pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>. Trad. Tomaz Ta<strong>de</strong>u da Silva. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: DP&A, 2005.<br />
RAHE, J. C. Entrevista inédita com Mia Couto. São Paulo: SESC, 27 jun. 2009.<br />
SELLIGMAN-SILVA, M. Globalização, tradução e memória. In: ____. O local da diferença:<br />
ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: Ed. 34, 2005.<br />
45
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
QUESTIONANDO OS PAPÉIS: A LITERATURA NA PERSPECTIVA<br />
DE JOHN BEVERLEY E EDWARD SAID<br />
Resumo<br />
Keli Cristina Pacheco (UNICENTRO)<br />
John Beverley, no ensaio Por Lacan: da Literatura aos Estu<strong>do</strong>s Culturais, se refere ao papel<br />
ambíguo da literatura latino-americana ven<strong>do</strong>-a como partícipe da <strong>do</strong>minação cultural das<br />
colônias, e solicita, por isso, um <strong>de</strong>scentramento <strong>do</strong> literário da posição <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r imposta<br />
pelas humanida<strong>de</strong>s no sistema universitário da América Latina. Contu<strong>do</strong>, no mesmo ensaio,<br />
ele também pe<strong>de</strong> o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um conceito radicalmente historiciza<strong>do</strong> <strong>de</strong> literatura.<br />
Algo que parece ser <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> por Edward Said, em Cultura e Imperialismo, quan<strong>do</strong><br />
revela que a literatura para<strong>do</strong>xalmente, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> contingente, também contribui para a<br />
resistência cultural. Pensan<strong>do</strong> no caso brasileiro, tomamos alguns pensamentos <strong>do</strong> escritor<br />
Lima Barreto e conseguimos observar uma espécie <strong>de</strong> participação na luta pela resistência<br />
cultural, quer dizer, contra a imposição <strong>do</strong> sistema nacional.<br />
Palavras-chave: literatura; cultura; po<strong>de</strong>r.<br />
Abstract<br />
John Beverley in the essay Por Lacan: da Literatura aos Estu<strong>do</strong>s Culturais views the<br />
ambiguous role of Latin-American literature as part of the colonial cultural <strong>do</strong>mination, and<br />
asks for a <strong>de</strong>-centering of the literary from the position of power the humanities have imposed<br />
in the Aca<strong>de</strong>mia in Latin America. Notwithstanding, in the same essay he asks for the<br />
<strong>de</strong>velopment of a radically historicized concept of literature; what it seems to be <strong>de</strong>veloped by<br />
Edward Said in Culture and Imperialism, when he reveals that literature, in a contingent<br />
manner, is also part of cultural resistance. In Brazilian literature we took some of the<br />
reflections from Lima Barreto and we could observe a participation in the fight for cultural<br />
resistance, we mean, the fight against the imposition of the national system.<br />
Keywords: literary; culture; power.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
John Beverley, no ensaio intitula<strong>do</strong> Por Lacan: da Literatura aos Estu<strong>do</strong>s Culturais,<br />
propõe que se tenha um olhar agnóstico com relação à literatura, principalmente quan<strong>do</strong><br />
referimo-nos ao caso latino-americano que teve tal instituição trazida pelos europeus para o<br />
Novo Mun<strong>do</strong>. E esse fato <strong>de</strong>ixaria, para a literatura latino-americana, um lega<strong>do</strong> e um papel<br />
cultural ambíguos, pois, para Beverley, a literatura é uma instituição colonial, “uma das<br />
instituições básicas da <strong>do</strong>minação colonial espanhola nas Américas; é, porém, também uma<br />
das instituições cruciais para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma cultura crioula autônoma e, <strong>de</strong>pois,<br />
<strong>de</strong> uma cultura nacional.” (BEVERLEY, 1997, p. 17)<br />
46
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
De fato, Beverley tem razão quanto ao papel ambíguo da literatura, entretanto,<br />
po<strong>de</strong>mos ainda indicar um terceiro papel que preten<strong>de</strong>mos comprovar neste artigo através <strong>do</strong><br />
estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> alguns escritos <strong>de</strong> Lima Barreto, escritor <strong>do</strong> início <strong>do</strong> século XX. Observamos que<br />
alguns <strong>de</strong> seus textos literários e artigos críticos publica<strong>do</strong>s em jornais da época não po<strong>de</strong>m<br />
ser classifica<strong>do</strong>s como partícipes da <strong>do</strong>minação colonial portuguesa, até porque foram escritos<br />
num perío<strong>do</strong> posterior à colonização; e nem po<strong>de</strong>m ser vistos como participantes da<br />
construção da cultura nacional, pelo contrário, conforme iremos ver, seus textos parecem<br />
apresentar uma resistência a essa construção. Queremos dizer que além da literatura ser<br />
realmente um produto <strong>do</strong> coloniza<strong>do</strong>r, e também uma das responsáveis pela criação e<br />
manutenção <strong>do</strong> espaço nacional, po<strong>de</strong>, por vezes, agir contra o próprio po<strong>de</strong>r a ela instituí<strong>do</strong>.<br />
Mas, guar<strong>de</strong>mos esta discussão para mais tar<strong>de</strong> e retomemos a argumentação <strong>de</strong><br />
Beverley. Segun<strong>do</strong> o autor, o esta<strong>do</strong> na América Latina se <strong>de</strong>senvolve numa relação bastante<br />
íntima com a literatura, fato que a supervaloriza social e historicamente e que aponta para<br />
uma pressuposição “quase nunca questionada” na história literária latino-americana:<br />
[...] os escritos <strong>do</strong>s perío<strong>do</strong>s colonial e <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência constituíram uma prática<br />
cultural que mo<strong>de</strong>la o nacional. Essa pressuposição [...] tornou-se institucionalizada<br />
como parte da i<strong>de</strong>ologia das humanida<strong>de</strong>s no sistema universitário da América<br />
Latina. [...] Teria si<strong>do</strong> como estragar a festa dizer que essa i<strong>de</strong>alização da literatura<br />
[...] estava simplesmente reativan<strong>do</strong> um elemento da cultura colonial latinoamericana.<br />
Mas, notadamente ausente na celebração <strong>do</strong> “novo” romance latinoamericano<br />
<strong>de</strong>sse perío<strong>do</strong> estava boa parte da atenção para a persistência <strong>do</strong><br />
funcionamento da literatura como um aparelho <strong>de</strong> alienação e <strong>de</strong> <strong>do</strong>minação: para o<br />
“inconsciente”, por assim dizer, <strong>do</strong> literário. (BEVERLEY, 1997, P. 14-15)<br />
Apesar <strong>de</strong> não apontar a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> resistência cultural da literatura, Beverley<br />
realiza uma notável proposta ao sugerir uma espécie <strong>de</strong> psicanálise da literatura, evi<strong>de</strong>ncia<strong>do</strong><br />
pelo título <strong>de</strong> seu ensaio. A psicanálise propõe basicamente um processo <strong>de</strong><br />
‘<strong>de</strong>si<strong>de</strong>ntificação’. Po<strong>de</strong>mos ver isto na primeira fase <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Lacan, em que o<br />
inconsciente é <strong>de</strong>fini<strong>do</strong> em termos <strong>de</strong> imagos que <strong>de</strong>terminam o sujeito ou, no nosso caso, a<br />
literatura. Assim a clínica implicaria o levantamento das imagos recalcadas que <strong>de</strong>terminam<br />
senti<strong>do</strong>s para o sujeito. Isto instaura, no sujeito, um processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>si<strong>de</strong>ntificação das imagos<br />
que o <strong>de</strong>terminam inconscientemente. E este processo, como implica um sujeito, só se po<strong>de</strong><br />
dar num campo <strong>de</strong> senti<strong>do</strong>, um sujeito que se articula ao senti<strong>do</strong>. Mas, se articula ao senti<strong>do</strong><br />
porque é falta <strong>de</strong> senti<strong>do</strong>, falta <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, ou seja, é um vazio, uma variável que assume os<br />
valores das imagens (imagos) com as quais se i<strong>de</strong>ntifica.<br />
Ou seja, Lacan aponta para a queda das i<strong>de</strong>ntificações imaginárias que procuram vestir<br />
com senti<strong>do</strong> o <strong>de</strong>sabrigo radical <strong>do</strong> sujeito. Por isto po<strong>de</strong>mos dizer que as imagens que<br />
alienam o sujeito o cristalizam na ficção <strong>de</strong> ter uma unida<strong>de</strong> substâncial que o faz permanecer,<br />
47
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
no tempo, idêntico a si mesmo. Assim, justamente, o que produz a queda das i<strong>de</strong>ntificações<br />
imaginárias levadas até o limite estático <strong>de</strong> “tu és isto, tu és nada” é um efeito <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>.<br />
Esta verda<strong>de</strong>, que introduz o fim da análise, lhe revela que o seu ser é nada. Que qualquer<br />
tentativa <strong>de</strong> se afirmar eternamente numa imagem que o <strong>de</strong>fina é, com efeito, uma ficção que<br />
o <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> <strong>do</strong> vazio <strong>do</strong> seu ser. 4<br />
Esclareci<strong>do</strong> o processo clínico psicanalítico, se torna mais simples enten<strong>de</strong>r o que<br />
preten<strong>de</strong> a crítica psicanalítica da literatura que, traduzida resumidamente, propõe o<br />
<strong>de</strong>scentramento <strong>do</strong> literário, o arrancan<strong>do</strong> da posição inquestionável <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r imposta pelas<br />
humanida<strong>de</strong>s no sistema universitário da América Latina.<br />
De certa forma, o <strong>de</strong>scentramento proposto por Beverley abre espaço para a tese <strong>de</strong><br />
Martín-Barbero. Para este, na América Latina, a idéia <strong>de</strong> nação está ligada aos meios <strong>de</strong><br />
comunicação que foram <strong>de</strong>cisivos na formação e difusão da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional. Segun<strong>do</strong><br />
Martín-Barbero, a oralida<strong>de</strong> e visualida<strong>de</strong> eletrônica seriam os responsáveis por isto. Mas, a<br />
mídia opera como agente da <strong>de</strong>svalorização nacional, <strong>de</strong>sestruturan<strong>do</strong> o espaço nacional,<br />
entretanto não o <strong>de</strong>scaracteriza, já que a representação da mestiçagem se dá com o intuito<br />
homegeneiza<strong>do</strong>r, tornan<strong>do</strong> o espaço latino-americano único.<br />
Canclini também acredita que a América Latina não compartilha da narrativa cultural<br />
européia. Sua tese sobre a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> latino-americana, segun<strong>do</strong> Escosteguy, anuncia: “Se<br />
antes as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s se <strong>de</strong>finiam pelas relações com o território, tentan<strong>do</strong> expressar a<br />
construção <strong>de</strong> um projeto nacional, atualmente configuram-se no consumo.”<br />
(ESCOSTEGUY, 2003, p.179). I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> que foi inicialmente construída através <strong>de</strong> relatos<br />
funda<strong>do</strong>res, apropriação <strong>de</strong> um território e <strong>de</strong>fesa, <strong>de</strong>sse território, das invasões estrangeiras.<br />
Ou seja, o ‘<strong>de</strong>scentramento’ proposto nos permite não só um questionamento da<br />
instituição literatura, como também possibilita a visualização <strong>de</strong> outros meios <strong>de</strong> construção e<br />
difusão <strong>do</strong> espaço e da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional. Po<strong>de</strong>ríamos discutir melhor isto, porém, da<strong>do</strong> o<br />
objeto <strong>de</strong> nosso estu<strong>do</strong>, o que necessitamos enfatizar são os questionamentos acerca <strong>do</strong><br />
literário coloca<strong>do</strong>s por Beverley.<br />
No momento em que crítica uma representação poética <strong>de</strong> Neruda, o autor exemplifica<br />
a atitu<strong>de</strong> que <strong>de</strong>vemos tomar frente aos textos literários, que se resume em questionar o<br />
4 Estas informações foram obtidas através <strong>de</strong> um curso sobre Psicanálise Lacaniana ministra<strong>do</strong> pelo professor<br />
Eduar<strong>do</strong> Riaviz na UFSC e pela leitura <strong>do</strong> ensaio <strong>de</strong> Lacan intitula<strong>do</strong> O estádio <strong>do</strong> espelho como forma<strong>do</strong>r da<br />
função <strong>do</strong> eu tal como nos é revelada na experiência psicanalítica: “No recurso <strong>de</strong> preservarmos <strong>do</strong> sujeito ao<br />
sujeito, a psicanálise po<strong>de</strong> acompanhar o paciente até o limite extático <strong>do</strong> “Tu é isto” em que se revela, para ele,<br />
a cifra <strong>de</strong> seu <strong>de</strong>stino moral, mas não está só em nosso po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> praticantes levá-lo a esse momento em que se<br />
começa a verda<strong>de</strong>ira viagem”. (LACAN, 1998, p. 103)<br />
48
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
próprio âmbito da representação e “<strong>de</strong>slocar-nos para ‘além da política <strong>de</strong> representação’, para<br />
um mo<strong>de</strong>lo no qual ensaio e crítica fossem concebi<strong>do</strong>s como forma <strong>de</strong> práticas solidárias”.<br />
(BEVERLEY, 1997, p. 33)<br />
“Ver a própria literatura como outro”, este é o projeto que Beverley procura nos<br />
inculcar. Tal projeto nos leva a problematizar a própria instituição literatura no ato <strong>do</strong> ensino.<br />
Em outras palavras, para Beverley, <strong>de</strong>vemos utilizar a literatura como um meio <strong>de</strong> “chamar a<br />
atenção <strong>de</strong> nossos estudantes (e a nossa própria) para a construção <strong>de</strong> raça, classe e gênero.<br />
[...] O que creio ser possível, porém, é uma relativa <strong>de</strong>mocratização <strong>de</strong> nosso campo por meio,<br />
entre outras coisas, <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um conceito radicalmente historiciza<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
literatura”. (I<strong>de</strong>m, Ibi<strong>de</strong>m)<br />
De mo<strong>do</strong> particular, é isto que faz Edward W. Said em Cultura e Imperialismo (1995).<br />
Neste livro o autor discute as tensões políticas e culturais que há entre impérios e colônias.<br />
Analisa a maneira como o oci<strong>de</strong>nte engendra imagens <strong>do</strong> oriente e como elas transmitem sua<br />
repercussão <strong>do</strong> âmbito cultural para o político-econômico 5 . Isto evi<strong>de</strong>ncia que Said, durante<br />
to<strong>do</strong> o livro, dá importância central ao cultural 6 e, assim como Raymond Willians, um <strong>do</strong>s<br />
pais funda<strong>do</strong>res <strong>do</strong>s Estu<strong>do</strong>s Culturais, Said também vê a cultura não mais como um campo<br />
em que se impinge valores, mas como um meio <strong>de</strong> se viabilizar sua discussão <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> mais<br />
igualitário, ou seja, como um campo importante na luta para modificar a organização social na<br />
busca por uma socieda<strong>de</strong> mais justa. Para ele, as artes produzem significa<strong>do</strong>s e valores que<br />
entram ativamente na vida social, moldan<strong>do</strong> seus rumos e não só refletem uma situação<br />
<strong>de</strong>terminante. Trata-se, portanto, <strong>de</strong> uma teoria da cultura como um processo produtivo,<br />
material e social e das práticas específicas (as artes) com usos sociais <strong>de</strong> meios materiais <strong>de</strong><br />
produção 7 . Desta maneira, “o materialismo cultural abre aos estu<strong>do</strong>s culturais a possibilida<strong>de</strong><br />
5 Efetuamos essa ligação entre Said e Beverley porque a rápida leitura <strong>do</strong> poema <strong>de</strong> Neruda realizada por<br />
Beverley lembrou-nos a que Said fez da novela “O coração das trevas” <strong>de</strong> Conrad no primeiro capítulo <strong>do</strong> livro<br />
Cultura e Imperialismo. Nele Said aponta uma falha na representação e acusa Conrad “por não admitir a<br />
liberda<strong>de</strong> para os nativos, apesar <strong>de</strong> suas sérias críticas ao imperialismo que os escravizava”. (SAID, 1995, p.<br />
63).<br />
6 Essa ausência <strong>de</strong> uma consi<strong>de</strong>ração entre o âmbito cultural e o econômico, ou melhor, esse aban<strong>do</strong>no <strong>do</strong><br />
economicismo <strong>de</strong>terminista causa uma lacuna na episteme pós-colonial. Hall aponta isso no artigo “Quan<strong>do</strong> foi o<br />
pós-colonial? - pensan<strong>do</strong> no limite”. (HALL, 2003). Concordamos com o autor, e acreditamos que caberia um<br />
<strong>de</strong>bate maior sobre o assunto, que trouxessem sugestões para a junção <strong>do</strong>s <strong>do</strong>is campos, sem que houvesse um<br />
<strong>de</strong>terminante. Entretanto, o próprio Hall não faz sugestões neste artigo. Acreditamos que este assunto<br />
<strong>de</strong>mandaria uma extensa pesquisa, possivelmente a resposta po<strong>de</strong>ria estar num estu<strong>do</strong> acura<strong>do</strong> <strong>de</strong> Gramsci, algo<br />
que Hall já fez. Já fica então direcionada uma releitura <strong>de</strong> outros ensaios <strong>de</strong> Hall para encontrar esta resposta,<br />
que po<strong>de</strong>rá resultar num outro artigo ou numa reescritura <strong>de</strong>ste.<br />
7 Said segue o pressuposto <strong>de</strong> Williams que diz: “se a arte é parte da socieda<strong>de</strong>, não existe unida<strong>de</strong> sólida fora<br />
<strong>de</strong>la, para a qual nós conce<strong>de</strong>mos priorida<strong>de</strong> pela forma <strong>de</strong> nosso questionamento. A arte existe aí como uma<br />
ativida<strong>de</strong>, juntamente com a produção, o comércio, a política, a criação <strong>de</strong> filhos. Para estudar as relações<br />
a<strong>de</strong>quadamente, precisamos estudá-las ativamente, ven<strong>do</strong> todas as ativida<strong>de</strong>s como formas particulares <strong>de</strong><br />
energia humana”. (WILLIAMS apud HALL, 2003,p. 135).<br />
49
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>screver com acuida<strong>de</strong> o funcionamento da cultura na socieda<strong>de</strong> contemporânea e <strong>de</strong><br />
buscar sempre as formas <strong>do</strong> emergente, <strong>do</strong> que virá” (CEVASCO, 2003, p. 116).<br />
De certo mo<strong>do</strong>, e assim como Williams 8 , Said nega o pressuposto <strong>do</strong> marxismo<br />
clássico que vê o econômico como <strong>de</strong>terminante. Segun<strong>do</strong> Hall, a primeira tentativa <strong>de</strong> negar<br />
a <strong>de</strong>terminação <strong>do</strong> econômico foi postulada por Althusser, já que ele chegou à conclusão <strong>de</strong><br />
que o cultural/i<strong>de</strong>ológico, o político e o econômico são sobre<strong>de</strong>terminantes, contu<strong>do</strong> Althusser<br />
não conseguiu se <strong>de</strong>svencilhar <strong>do</strong> pressuposto marxista clássico, uma vez que ainda acredita<br />
que, “em última instância”, é o econômico <strong>de</strong> <strong>de</strong>termina. Gramsci seria, então, o nome que<br />
resolveria este nó teórico, já que ele, segun<strong>do</strong> Hall, tinha plena consciência <strong>do</strong> quanto “as<br />
linhas divisórias ditadas pelos relacionamentos <strong>de</strong> classe eram perpassadas pelas diferenças<br />
regionais, culturais e nacionais; também pelas diferenças nos compassos <strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
regional ou nacional.” (HALL, 2003, p. 301). Este posicionamento <strong>de</strong> Gramsci é fundamental<br />
para o nosso estu<strong>do</strong>, uma vez que é ele que permite que uma prática cultural como a literatura<br />
tenha um papel na luta pelo po<strong>de</strong>r, ou pela geografia.<br />
É basicamente isto que Said, assim como Spivak, levemente criticada por Beverley,<br />
propõe: “uma percepção da textualida<strong>de</strong> literária como um mo<strong>de</strong>lo pedagógico para práticas<br />
sociais e políticas não literárias”. (BERVERLEY, 1997, P. 12). Conforme Beverley, po<strong>de</strong>mos<br />
até afirmar que a percepção <strong>de</strong> Said, assim como a <strong>de</strong> Spivak, tem da literatura é<br />
supervalorizada quanto ao po<strong>de</strong>r que ela po<strong>de</strong>ria exercer, porém não po<strong>de</strong>mos negar que sua<br />
visão <strong>do</strong> literário é radicalmente historicizada e, portanto, extremamente politizada.<br />
Queremos com isso apontar que há uma certa convergência entre os pensamentos aqui<br />
levanta<strong>do</strong>s, e ela se dá na forma com que os autores lêem o literário, ou seja, as leituras são<br />
realizadas a contrapelo. É em cima <strong>de</strong>ssa convergência que preten<strong>de</strong>mos realizar a nossa<br />
contra-leitura. Sabidamente não é esta a proposta principal <strong>de</strong> Beverley, mas o que chamamos<br />
<strong>de</strong> contra-leitura po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> um passo importante para realizar o que o autor chama<br />
<strong>de</strong> psicanálise da literatura, que “assim como em qualquer psicanálise, não é uma questão <strong>de</strong><br />
liquidar o sujeito, nem <strong>de</strong> curá-lo <strong>de</strong> uma vez para sempre, simplesmente <strong>de</strong> reformá-lo em<br />
novas bases <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a torná-lo um pouco mais apto para a solidarieda<strong>de</strong> e o amor”.<br />
(BEVERLEY, 1997, p. 19). Dessa forma, nos comprometemos a seguir aquela proposta <strong>do</strong><br />
autor que pe<strong>de</strong> um “conceito radicalmente historiciza<strong>do</strong> <strong>de</strong> literatura”.<br />
8 Williams se posiciona contra um materialismo vulgar e um <strong>de</strong>terminismo econômico. “Ele oferece, em seu<br />
lugar, um interacionismo radical: a interação mútua <strong>de</strong> todas as práticas, contornan<strong>do</strong> o problema da<br />
<strong>de</strong>terminação. As distinções entre as práticas são superadas pela visão <strong>de</strong> todas elas como formas variantes <strong>de</strong><br />
práxis – <strong>de</strong> uma ativida<strong>de</strong> e energia humanas genéricas.” (HALL, 2003, p.137)<br />
50
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Friedman sugere também uma espécie historicização, não somente da literatura, mas<br />
<strong>de</strong> um campo amplo que envolve os estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> gênero. No ensaio Beyond Gen<strong>de</strong>r (1998), a<br />
autora nos diz que o campo <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s culturais está expandin<strong>do</strong> horizontes, movimentan<strong>do</strong>-<br />
se e <strong>de</strong>senvolven<strong>do</strong>-se continuamente, e nesse espírito multidimensional o feminismo <strong>de</strong>ve<br />
também se rearticular. Assim, o pós-colonial surgiria como um <strong>do</strong>s campos mais propícios<br />
para se estabelecer um diálogo. Já que o pós-colonial reconfigurou o terreno <strong>de</strong> tal maneira<br />
que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então, a própria idéia <strong>de</strong> um mun<strong>do</strong> composto por i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, culturas e<br />
economias isoladas e auto-suficientes tem ti<strong>do</strong> que ce<strong>de</strong>r a uma varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> paradigmas<br />
<strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s a captar essas formas distintas <strong>de</strong> relacionamento, interconexão e <strong>de</strong>scontinuida<strong>de</strong>.<br />
Ou seja, resumidamente os estu<strong>do</strong>s pós-coloniais nos obrigam a reler os antigos binarismos<br />
aqui/lá como formas <strong>de</strong> transculturação, <strong>de</strong> tradução cultural.<br />
Seguin<strong>do</strong> um pensamento <strong>de</strong> Gramsci, Friedman assinala que é preciso ressaltar que a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> ou subjetivida<strong>de</strong> das mulheres não po<strong>de</strong> ser entendida isoladamente em relação à<br />
construção <strong>do</strong> gênero (gen<strong>de</strong>r), ou seja, fenômenos como cruzamentos <strong>de</strong> fronteiras, trocas e<br />
mediações culturais, a “localização” da cultura e <strong>de</strong> seus agentes, processos <strong>de</strong> seleção e<br />
exclusão, fazem parte da interação geográfica <strong>do</strong> gênero e são também múltiplos<br />
constituintes da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, e, por essa razão, este tipo <strong>de</strong> análise tem urgência epistemológica<br />
e política. 9<br />
Assim, utilizamos os argumentos <strong>de</strong> Friedman justamente para introduzirmos a nossa<br />
hipótese <strong>de</strong> que a historicização da literatura po<strong>de</strong>ria ser, <strong>de</strong> fato, possível caso estudássemos<br />
o texto literário sob a perspectiva <strong>do</strong> campo <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s pós-colonial, ou seja, realizan<strong>do</strong> um<br />
“exame geográfico da experiência histórica.” 10 Stuart Hall, no ensaio Quan<strong>do</strong> foi o pós-<br />
colonial? – pensan<strong>do</strong> no limite, aponta que o pós-colonial po<strong>de</strong> nos ajudar a <strong>de</strong>screver ou<br />
caracterizar a mudança nas relações globais, que marca a transição (necessariamente<br />
irregular) da era <strong>do</strong>s impérios para o momento da pós-<strong>de</strong>scolonização. Po<strong>de</strong> ser útil também<br />
na i<strong>de</strong>ntificação <strong>do</strong> que são as novas relações e disposições <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r que emergem nesta nova<br />
conjuntura.<br />
Após a <strong>de</strong>scolonização acabaram-se as oposições binárias caras às ativida<strong>de</strong>s<br />
nacionalistas e imperialistas. No lugar disso, começamos a perceber que a velha autorida<strong>de</strong><br />
não po<strong>de</strong> ser simplesmente substituída, trocada, por uma nova autorida<strong>de</strong>, uma vez que estão<br />
9 Um exemplo <strong>de</strong> um estu<strong>do</strong> em que se dá a união entre os estu<strong>do</strong>s pós-colonial e <strong>de</strong> gênero, antes <strong>de</strong> Friedman,<br />
po<strong>de</strong> ser visto em Mary Louise Pratt no ensaio A crítica na zona <strong>de</strong> contato: nação e comunida<strong>de</strong> fora <strong>de</strong> foco.<br />
Travessia: Revista <strong>de</strong> Literatura, nº 38, 1999.<br />
10 Termo usa<strong>do</strong> por Said na introdução <strong>do</strong> livro. E justifica: “Assim como nenhum <strong>de</strong> nós está fora ou além da<br />
geografia, da mesma forma nenhum <strong>de</strong> nós está ausente da luta pela geografia.” (Cultura e Imperialismo, 1995,<br />
p. 37-38)<br />
51
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
surgin<strong>do</strong> novos alinhamentos in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong> fronteiras, nações e essências, e que são<br />
“esses novos alinhamentos que agora provocam e contestam a noção fundamental estática <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> que constituiu o núcleo <strong>do</strong> pensamento cultural na era <strong>do</strong> imperialismo”. (SAID,<br />
1995, p. 26-27)<br />
“Somos her<strong>de</strong>iros <strong>do</strong> estilo segun<strong>do</strong> o qual o indivíduo é <strong>de</strong>fini<strong>do</strong> pela nação” ainda<br />
nos diz Said, e isto ocorre porque “as nações inspiram amor [...], um amor profundamente<br />
abnega<strong>do</strong>”. (ANDERSON, 1989, 156-7). Conforme, Bendict An<strong>de</strong>rson, por parecer natural –<br />
como a cor da pele, o sexo, à ascendência e a época em que se nasce – nascer em uma nação<br />
também seria uma espécie <strong>de</strong> “coisa que não se po<strong>de</strong> evitar”. E esses vínculos que não são<br />
escolhi<strong>do</strong>s têm à volta um halo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sprendimento e exatamente por isso a nação po<strong>de</strong> exigir<br />
sacrifícios.<br />
Entretanto, assim como muitos nomes participaram <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong> construção das<br />
nações e <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s nacionais, outros haviam percebi<strong>do</strong> o po<strong>de</strong>r que esta construção<br />
exerce sobre os indivíduos e engendraram alguma espécie <strong>de</strong> resistência cultural. Como já<br />
dissemos anteriormente, a nossa hipótese é que Lima Barreto participou ativamente <strong>de</strong>sta<br />
resistência.<br />
2. A LUTA PELA GEOGRAFIA EM LIMA BARRETO<br />
"Não sen<strong>do</strong> patriota, queren<strong>do</strong> mesmo o enfraquecimento <strong>do</strong><br />
sentimento <strong>de</strong> pátria, sentimento exclusivista e mesmo<br />
agressivo, para permitir o fortalecimento <strong>de</strong> um maior, que<br />
abrangesse, com a terra, toda a espécie humana(...)" (Lima<br />
Barreto – Bagatelas - São capazes <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>..., p. 152)<br />
“Hoje em dia ninguém é um coisa só”, escreve Edward Said próximo ao fim <strong>do</strong> livro<br />
‘Cultura e Imperialismo’. Esta simples sentença, se consi<strong>de</strong>rada, nos impediria <strong>de</strong> atribuir<br />
valores reducionistas aos outros diferentes <strong>de</strong> nós, ou seja, nos libertaria <strong>do</strong> preconceito e nos<br />
permitiria alçar o primeiro passo em busca da concretização <strong>de</strong> um <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> Lima Barreto –<br />
fortalecer, através da união, toda a espécie humana.<br />
Resumidamente, o preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito que se<br />
antecipa, prematuro, e como existem diversos tipos – contra o negro, o homossexual, a mulher<br />
e etc. – ele acaba revelan<strong>do</strong> não o alvo <strong>do</strong> preconceito (que cala, ou melhor, é cala<strong>do</strong>), mas<br />
sim o preconceituoso (o que fala autoritariamente pelo outro, no lugar <strong>de</strong>le). A estereotipia é<br />
uma conseqüência <strong>do</strong> preconceito, e se dá quan<strong>do</strong> este passa da esfera individual e torna-se<br />
um produto cultural, matan<strong>do</strong> o outro simbolicamente, porque justamente nega o jogo da<br />
diferença. (CROCHICK, 1997). Foi através <strong>do</strong> pensamento preconceituoso que as teorias<br />
52
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
raciais <strong>do</strong> século XIX foram <strong>de</strong>senvolvidas com a intenção <strong>de</strong> tornar verda<strong>de</strong>, comprovar<br />
através da ciência, um pensamento estereotipa<strong>do</strong> (SCHWARCZ, 1993).<br />
Num breve histórico <strong>de</strong> algumas das principais <strong>do</strong>utrinas raciais vê-se que já no fim <strong>do</strong><br />
século XVIII havia um prolongamento <strong>de</strong> um <strong>de</strong>bate ainda não resolvi<strong>do</strong>: <strong>de</strong> um la<strong>do</strong> a visão<br />
humanista, her<strong>de</strong>ira da Revolução Francesa; <strong>de</strong> outro, uma reflexão tímida sobre as diferenças<br />
existentes entre os homens. Assim, “o termo raça é introduzi<strong>do</strong> na literatura mais<br />
especializada em inícios <strong>do</strong> século XIX, por Georges Cuvier, inauguran<strong>do</strong> a idéia da<br />
existência <strong>de</strong> heranças físicas permanentes entre os vários grupos humanos”. (SCHWARCZ,<br />
1993, P. 46). Resultante disto temos o surgimento <strong>de</strong> duas interpretações para se pensar a<br />
origem <strong>do</strong> homem: os monogenistas acreditavam que a humanida<strong>de</strong> era uma; e os<br />
poligenistas criam na existência <strong>de</strong> vários centros <strong>de</strong> criação, que correspon<strong>de</strong>riam às<br />
diferenças raciais, <strong>de</strong>ssa linha surge a frenologia e a antropometria, teorias que interpretavam<br />
a capacida<strong>de</strong> humana toman<strong>do</strong> em conta o tamanho e proporção <strong>do</strong> cérebro <strong>do</strong>s diferentes<br />
povos, ten<strong>do</strong> como principal nome Cesare Lombroso – este argumentava ser a criminalida<strong>de</strong><br />
um fenômeno físico e hereditário e, como tal, um elemento objetivamente <strong>de</strong>tectável nas<br />
diferentes socieda<strong>de</strong>s. Esse tipo <strong>de</strong> pesquisa também foi bastante utilizada no campo da<br />
<strong>do</strong>ença mental. Para fim <strong>de</strong> ilustração, vale dizer que, segun<strong>do</strong> Hossne, o próprio Lima<br />
Barreto, em uma <strong>de</strong> suas internações hospitalares <strong>de</strong>vidas sempre à dipsomania (alcoolismo<br />
intermitente), teve o diâmetro craniano medi<strong>do</strong>. “Concluiu-se que era braquicéfalo, com o que<br />
se divertiu muito o escritor, dizen<strong>do</strong> em crônicas que agora os que o ofendiam por discordar<br />
<strong>de</strong> suas idéias dispunham <strong>de</strong> mais um argumento que, no entanto, não o calaria.” (HOSSNE,<br />
2002, p. 54)<br />
Depois da publicação da Origem das espécies (1859) <strong>de</strong>rivam várias teorias, <strong>de</strong>ntre<br />
elas surge a “teoria das raças” que con<strong>de</strong>nava a miscigenação, criou-se também uma<br />
hierarquia racial, e isso implicou uma espécie <strong>de</strong> “i<strong>de</strong>al político”, um diagnóstico sobre a<br />
submissão das raças ou mesmo a possível eliminação das raças inferiores - a eugenia - cuja<br />
meta era intervir na reprodução das populações.<br />
Estas teorias, apesar <strong>de</strong> forjar da<strong>do</strong>s para comprovar hipóteses, segun<strong>do</strong> Lilia<br />
Schwarcz, duraram até os anos 30 no Brasil. 11 Após o aparecimento e consolidação <strong>do</strong>s<br />
estu<strong>do</strong>s culturais, <strong>de</strong> gênero, pós-coloniais e etc., quer dizer, estu<strong>do</strong>s que foram <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s<br />
a partir <strong>de</strong> movimentos sociais e movimentos <strong>de</strong> libertação nacionais nas ex-colônias, os<br />
conceitos, antes da<strong>do</strong>s como verda<strong>de</strong>s absolutas, foram relativiza<strong>do</strong>s e agora sabemos que o<br />
11 Conforme Hossne, nesse perío<strong>do</strong> os livros <strong>de</strong> Renan, Le Bon, Taine e Gobineau entre outros, eram bastante<br />
li<strong>do</strong>s no Brasil. (HOSSNE, Andrea, 2002.)<br />
53
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
conceito <strong>de</strong> raça, por exemplo, sequer existe, mas o racismo, este sim permanece, entretanto<br />
injustificadamente, conforme Robert Stam em A Companion to Cultura Studies – Cultural<br />
Studies and Race: “An emerging consensus within various fields suggests that although<br />
“race” <strong>do</strong>es not exist – since “race” is a pse<strong>do</strong>-scientific concept – racism as a set of social<br />
practices most <strong>de</strong>finitely <strong>do</strong>es exist”.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, raça ainda existe, porém não mais como categoria científica:<br />
Raça é uma construção política e social. É a categoria discursiva em torno da qual<br />
se organiza um sistema <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r socioeconômico, <strong>de</strong> exploração e exclusão – ou<br />
seja, o racismo. Contu<strong>do</strong>, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica<br />
própria. Tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão<br />
racial em termos <strong>de</strong> distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza. (HALL,<br />
2003, p. 69)<br />
O preconceito, ou estereotipia, como vimos, por ser estático, ou seja, apresentar<br />
<strong>de</strong>finições fechadas que não permitem relativizações, é um pensamento fácil, falsea<strong>do</strong> e não<br />
compensa<strong>do</strong>r. Causou e causa o sofrimento <strong>de</strong> diversos grupos étnicos 12 e raciais. Já pensar o<br />
outro como algo não <strong>de</strong>finitivo, sem tentar classificá-lo ou hierarquizá-lo, vê-lo como um<br />
diferente, enfim, adquirir uma posição anti-essencialista é aceitar o espaço híbri<strong>do</strong> da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> humana. Sen<strong>do</strong> que o hibridismo não se refere a indivíduos híbri<strong>do</strong>s, que po<strong>de</strong>m<br />
ser contrasta<strong>do</strong>s com os “tradicionais” e “mo<strong>de</strong>rnos” como sujeitos forma<strong>do</strong>s. “Trata-se <strong>de</strong><br />
um processo <strong>de</strong> tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se completa, mas que<br />
permanece em sua in<strong>de</strong>cidibilida<strong>de</strong>.” (HALL, 2003, p. 74). Se evi<strong>de</strong>ncia, então, que tomamos<br />
a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, conforme Stuart Hall, como sen<strong>do</strong> um lugar que se assume, uma costura <strong>de</strong><br />
posição e contexto, não como uma essência ou substância a ser examinada. De certa forma, o<br />
sujeito é um eterno <strong>de</strong>vir, o que nos remete novamente aos estu<strong>do</strong>s psicanalíticos <strong>de</strong> Jaques<br />
Lacan, haja vista que, para este último, o sujeito é basicamente um “caça<strong>do</strong>r” <strong>de</strong> senti<strong>do</strong>s,<br />
porque ele é exatamente a falta <strong>de</strong> senti<strong>do</strong>, é um vazio, uma fissura ontológica, on<strong>de</strong> nenhuma<br />
imagem é eterna, mas todas são eternamente mutáveis. (LACAN, 1998, p. 103).<br />
Daí surge um questionamento interessante, já que mesmo com a <strong>de</strong>struição <strong>de</strong><br />
conceitos como <strong>de</strong> raça e <strong>de</strong> gênero, por exemplo, vemos que o racismo, enfim, o preconceito<br />
ainda existe. Além disso, sabemos também que a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> é uma construção. Nestas<br />
circunstâncias como se daria o agenciamento? Bhabha sugere que<br />
o momento liminar <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação produz uma estratégia subversiva <strong>de</strong> agência<br />
subalterna que negocia sua própria autorida<strong>de</strong> através <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong><br />
“<strong>de</strong>scosedura” iterativa e religação insurgente, incomensurável. Ele singulariza a<br />
12 Tomo o conceito <strong>de</strong> etnia aqui como sen<strong>do</strong> um grupo que compartilha traços <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. É possível a um<br />
homem fazer parte <strong>de</strong> diversos grupos étnicos, sen<strong>do</strong> que ele pertence a este ou aquele grupo porque acredita que<br />
faz parte <strong>de</strong>le, ou porque o outro diz que ele faz parte.<br />
54
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
“totalida<strong>de</strong>” da autorida<strong>de</strong> ao sugerir que a agência requer uma fundamentação seja<br />
totalizada; requer movimento e manobra, mas não requer uma temporalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
continuida<strong>de</strong> ou acumulação; requer direção e fechamento contingente, mas<br />
nenhuma teleologia e holismo. (BHABHA, 1998, p. 257)<br />
“O agente, constituí<strong>do</strong> no retorno <strong>do</strong> sujeito, está na posição dialógica <strong>do</strong> cálculo, da<br />
negociação, da interrogação”. (I<strong>de</strong>m, p. 258). Ou seja, em poucas palavras, Bhabha quer dizer<br />
que <strong>de</strong>vemos assumir a categoria à qual pertencemos (raça, gênero e etc) no momento <strong>de</strong><br />
reivindicação (momento liminar – on<strong>de</strong> se dá o fechamento arbitrário <strong>do</strong> significante),<br />
saben<strong>do</strong> que os conceitos estão <strong>de</strong>finitivamente esfacela<strong>do</strong>s por <strong>de</strong>ntro.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, Hall pon<strong>de</strong>ra que esse “momento essencializante é fraco porque<br />
naturaliza e <strong>de</strong>s-histociza a diferença, confun<strong>de</strong> o que é histórico e cultural com o que é<br />
natural, biológico e genético. No momento em que o significante “negro” é arranca<strong>do</strong> <strong>de</strong> seu<br />
encaixe histórico, cultural e político, e é aloja<strong>do</strong> em uma categoria racial biologicamente<br />
constituída, valorizamos, pela inversão, a própria base <strong>do</strong> racismo que estamos tentan<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong>sconstruir” (HALL, 2003, p. 345). Para resolver esse dilema Hall utiliza um conceito <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sconstrução elabora<strong>do</strong> pelo filósofo Jacques Derridá.<br />
O momento essencializante acarreta duas oposições ou/ou (latino ou americano).<br />
Segun<strong>do</strong> Hall, o “ou” permanece num local <strong>de</strong> contestação constante, “quan<strong>do</strong> o propósito da<br />
luta <strong>de</strong>ve ser, ao contrário, substituir o “ou” pela potencialida<strong>de</strong> e pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um<br />
“e”, o que significa a lógica <strong>do</strong> acoplamento, em lugar da lógica da oposição binária.”<br />
(HALL, 2003, 345). De um mo<strong>do</strong> particular, Hall pe<strong>de</strong> um tipo <strong>de</strong> retorno à historicida<strong>de</strong> ou<br />
"geograficida<strong>de</strong>", assim como Beverley e Friedman, conforme se discutiu no inicio <strong>de</strong>ste<br />
artigo.<br />
Isto posto, agora retomamos a questão da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, já que esta envolve a alterida<strong>de</strong>,<br />
outro ponto que queremos <strong>de</strong>bater. E Hall aprofunda a discussão ao utilizar o conceito<br />
<strong>de</strong>rridiano da différance e aponta que<br />
a lógica da différance significa que o significa<strong>do</strong>/i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada conceito é<br />
constituí<strong>do</strong>(a) em relação a to<strong>do</strong>s os <strong>de</strong>mais conceitos <strong>do</strong> sistema em cujos termos<br />
ele significa. Uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural particular não po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>finida apenas por<br />
sua presença positiva e conteú<strong>do</strong> [...]. As i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, portanto, são construídas no<br />
interior das relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r (Foucault, 1986). Toda i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> é fundada sobre<br />
uma exclusão, e nesse senti<strong>do</strong>, é “um efeito <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r”. Deve haver algo “exterior” a<br />
uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. Esse “exterior” é constituí<strong>do</strong> por to<strong>do</strong>s os outros termos <strong>do</strong> sistema,<br />
cuja “ausência” ou falta é constitutiva <strong>de</strong> sua presença. (HALL, 2003, p. 85)<br />
Assim, vemos que foi usan<strong>do</strong> esta lógica que Sayad <strong>de</strong>finiu o “nacional” como sen<strong>do</strong><br />
um conceito que só existiria por oposição <strong>de</strong> seu contrário (ou na presença <strong>de</strong> seu contrário –<br />
presença afetiva ou apenas possível, presença vivenciada ou apenas pensada), o “não-<br />
55
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
nacional”. Sen<strong>do</strong> assim, somente nos movimentos <strong>de</strong> migração (a imigração e o seu duplo – a<br />
emigração) que se realiza, no mo<strong>do</strong> da experiência, o confronto com a or<strong>de</strong>m nacional, e é a<br />
partir <strong>de</strong>ste confronto que se estabelece a distinção entre “nacional” e “não-nacional”.<br />
(SAYAD, 1998).<br />
Sobre a alterida<strong>de</strong>, Said escreve que é mais compensa<strong>do</strong>r – e mais difícil – pensar<br />
sobre os outros em termos “ concretos, empáticos, contrapuntísticos, <strong>do</strong> que pensar apenas<br />
sobre ‘nós’. Mas isso também significa tentar não <strong>do</strong>minar os outros, [...] sobretu<strong>do</strong>, não<br />
repetir constantemente o quanto a ‘nossa’ cultura ou país é melhor (ou não é o melhor,<br />
também)”. (SAID, 1995, p. 411). Isto nos lembra que, além da cor da pele, <strong>do</strong> sexo ou <strong>de</strong><br />
outras características físicas serem alvo <strong>do</strong> preconceito, a nação por ser um espaço <strong>de</strong><br />
exclusão, como vimos acima na citação <strong>de</strong> Sayad, é também uma potencial fonte <strong>de</strong><br />
preconceito. E sobre isto Bogóloff, personagem <strong>de</strong> As aventuras <strong>de</strong> Doutor Bogólloff, novela<br />
<strong>de</strong> Lima Barreto publicada em jornal em 1912, diz: “a Pátria, esse monstro que tu<strong>do</strong> <strong>de</strong>vora,<br />
continuava vitoriosa nas idéias <strong>do</strong>s homens levan<strong>do</strong>-os à morte, à <strong>de</strong>gradação, à miséria, para<br />
que, sobre a <strong>de</strong>sgraça <strong>de</strong> milhões, um milhar vivesse regaladamente, fortemente liga<strong>do</strong>s num<br />
sindicato macabro”. (BARRETO, 1961, p. 226). Opinião similar tem Tagore, cita<strong>do</strong> por Said,<br />
que <strong>de</strong>fine a nação como sen<strong>do</strong> “um receptáculo aperta<strong>do</strong> e rancoroso <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r para produzir<br />
conformida<strong>de</strong>, seja britânica, chinesa, indiana ou japonesa.” (SAID, 1995, p. 272)<br />
Dada como uma fatalida<strong>de</strong>, e criada pelo homem, a nação é um absur<strong>do</strong> esqueci<strong>do</strong>.<br />
Renan nos diz que a nação se constitui pelo esquecimento coletivo, e não pela memória, isto<br />
explica o fato <strong>de</strong> as pessoas estarem dispostas a morrer por estas invenções. Benedict<br />
An<strong>de</strong>rson já <strong>de</strong>monstrou que as nações não são produtos <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s <strong>de</strong> certas condições<br />
sociológicas, como a língua, a raça ou a religião, mas são vivificadas pela imaginação e isso<br />
faz com que as pessoas compartilhem a crença <strong>de</strong> que pertencem à mesma comunida<strong>de</strong>.<br />
Porém sobre isto, Hall complementa: “Ao contrário <strong>do</strong> que se supõe, os discursos da nação<br />
não refletem um esta<strong>do</strong> unifica<strong>do</strong> já alcança<strong>do</strong>”. (HALL, 2003, p. 78), até porque “longe <strong>de</strong><br />
ser algo unitário, monolítico ou autônomo, as culturas, na verda<strong>de</strong>, mais a<strong>do</strong>tam elementos<br />
“estrangeiros”, alterida<strong>de</strong>s e diferenças <strong>do</strong> os excluem conscientemente”. (SAID, 1995, p. 46)<br />
Seu intuito [<strong>do</strong>s discursos <strong>de</strong> nação] é forjar ou construir uma forma unificada <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação a partir das muitas diferenças <strong>de</strong> classe, gênero, região, religião ou<br />
localida<strong>de</strong>, que na verda<strong>de</strong> atravessam a nação. Para tanto, esses discursos <strong>de</strong>vem<br />
incrustar profundamente e enredar o chama<strong>do</strong> esta<strong>do</strong> “cívico” sem cultura, para<br />
formar uma <strong>de</strong>nsa trama <strong>de</strong> significa<strong>do</strong>s, tradições e valores culturais que venham a<br />
representar a nação. É somente <strong>de</strong>ntro da cultura e da representação que a<br />
i<strong>de</strong>ntificação com esta “comunida<strong>de</strong> imaginada” po<strong>de</strong> ser construída. (HALL,<br />
2003, 78)<br />
56
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Assim vemos que o discurso da nação possui uma tendência homogeneizante, mas ao<br />
mesmo tempo carrega consigo o que Hall chama <strong>de</strong> “proliferação subalterna da diferença”.<br />
Diferença esta que é assimilada pela própria nação com o intuito <strong>de</strong> estabelecer princípios<br />
como a cidadania universal e a neutralida<strong>de</strong> cultural, que nada mais são <strong>do</strong> que as duas bases<br />
<strong>do</strong> universalismo liberal oci<strong>de</strong>ntal.<br />
Daí a dificulda<strong>de</strong> que Said ressalta <strong>de</strong> se pensar nos outros como nós mesmos, <strong>de</strong><br />
forma contrapuntística. Lima Barreto sente esta dificulda<strong>de</strong> e confessa:<br />
por mais que nós queiramos ficar acima <strong>do</strong>s preconceitos nacionais, eles nos<br />
marcam <strong>de</strong> uma forma in<strong>de</strong>lével... Eu que me julgo pouco patriota, não <strong>de</strong>sejo<br />
absolutamente ver o Brasil humilha<strong>do</strong> e estrangula<strong>do</strong> por outra pátria. Quero que<br />
não haja nenhuma, mas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se trate <strong>de</strong> humilhação, rebaixamento <strong>do</strong> Brasil<br />
por outro qualquer país, eu sou brasileiro. (BARRETO, 1961, p. 226)<br />
Mas, é preciso ressaltar que o sentimento patriótico surge aqui como um disfarce,<br />
porque <strong>de</strong> fato o <strong>de</strong>sejo maior é o que supera a fronteira, é o <strong>de</strong>sejo da ausência <strong>de</strong> limites e,<br />
portanto, da ausência <strong>de</strong> preconceito. Assim, Lima Barreto neste discurso não é nem um<br />
patriota, um nacionalista; e nem <strong>de</strong>smerece a pátria, o interessante posicionamento está além<br />
<strong>de</strong>sta discussão, ao dizer quero que não haja nenhuma [pátria], ele, <strong>de</strong> fato, realiza uma<br />
espécie <strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamento, que Said chama <strong>de</strong> passar <strong>de</strong> uma consciência nacional para uma<br />
consciência política e social: “Um afastamento <strong>do</strong> nacionalismo separatista em direção a uma<br />
visão, mais integrativa da comunida<strong>de</strong> e da libertação humana” (SAID, 1995, p. 247).<br />
REFERÊNCIAS:<br />
APPIAH, K. A. Na casa <strong>de</strong> meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Contraponto, 1997.<br />
ANDERSON, B. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática, 1989.<br />
BEVERLEY, J. Por Lacan: da Literatura aos Estu<strong>do</strong>s Culturais. Travessia – Revista <strong>de</strong><br />
Literatura. nº 29/30, UFSC – Florianópolis, ago1994/jul1995; 1997; p.11-42<br />
BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.<br />
BARRETO, L. Bagatelas. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961.<br />
__________. Contos e Novelas. Rio <strong>de</strong> Janeiro/Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1990.<br />
CEVASCO, M. E. Dez lições sobre estu<strong>do</strong>s culturais. São Paulo: Boitempo, Editorial, 2003.<br />
CROCHICK, J. L. Preconceito – Indivíduo e Cultura. 2.ed., São Paulo: Robe, 1997.<br />
ESCOSTEGUY, A. C. D. Cartografias <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s culturais: uma versão latino-americana.<br />
Belo Horizonte: Autêntica, 2001.<br />
FRIEDMAN, S. “Beyond gen<strong>de</strong>r: the new geography of i<strong>de</strong>ntity and the future of feminist<br />
criticism”. In: Mappings: feminism and the cultural geographies of encounter. Princeton:<br />
Princeton University Press, 1998.<br />
57
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
HALL, S. A i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural na pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>. 4.ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: DP&A, 2000.<br />
__________. Da Diáspora – I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,<br />
2003.<br />
LACAN, J. O estádio <strong>do</strong> espelho como forma<strong>do</strong>r da função <strong>do</strong> eu tal como nos é revelada na<br />
experiência psicanalítica. In: __________. Escritos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Jorge Zahar, 1998.<br />
LESSER, J. A negociação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> nacional (imigrantes, minorias e a luta pela<br />
etnicida<strong>de</strong> no Brasil). São Paulo: UNESP, 2001.<br />
PRATT, M. Louise. A crítica na zona <strong>de</strong> contato: nação e comunida<strong>de</strong> fora <strong>do</strong> centro.<br />
Travessia: Revista <strong>de</strong> Literatura, n. 38, 1997.<br />
POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicida<strong>de</strong>. São Paulo: UNESP, 1998.<br />
POWELL, J. Derrida for beginners. New York: Writers and Rea<strong>de</strong>rs, 1997.<br />
SAID, E. W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1995.<br />
SAYAD, A. A imigração. São Paulo: EDUSP, 1998.<br />
SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças. São Paulo: Cia das Letras, 1993.<br />
SCHWARCZ, L. M.; QUEIROZ, R. da S. Raça e diversida<strong>de</strong>. São Paulo: EDUSP: Estação<br />
Ciência, 1996.<br />
STAM, Robert. Cultural Studies and Race. In: __________. A Companion to Cultural<br />
Studies. Oxford: Blackwell, 2001.<br />
58
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
WILL EISNER: O ESPÍRITO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS<br />
Resumo<br />
Leilane Har<strong>do</strong>im Simões (G-UFMS) 13<br />
Edgar Cézar Nolasco (UFMS) 14<br />
Célebre cartunista e teórico <strong>do</strong>s quadrinhos, Will Eisner se <strong>de</strong>staca principalmente por sua<br />
obra magistral, a história em quadrinho The Spirit, a qual será, basicamente, o centro <strong>de</strong> nosso<br />
ensaio. A HQ (entenda-se por história em quadrinho) narra às aventuras <strong>do</strong> <strong>de</strong>tetive<br />
mascara<strong>do</strong> Spirit que protege sua cida<strong>de</strong>, Central City, <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os tipos <strong>de</strong> vilões. Será<br />
através <strong>de</strong>sse enre<strong>do</strong> que faremos relação entre a história em quadrinho e o livro teórico <strong>de</strong><br />
Eisner “Os Quadrinhos e a Arte Sequencial” (Comics and Sequential Art, 1985), livro teórico<br />
que embasa significativas pesquisas e escritores na área das Histórias em Quadrinhos. É nessa<br />
obra que o artista cunha o conceito <strong>de</strong> Arte Sequencial, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>n<strong>do</strong> as HQs como sen<strong>do</strong> uma<br />
expressão artística e literária. Buscaremos, então, trabalhar a história em quadrinho com a<br />
relevância que o Will Eisner sempre <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>u e buscou dar às suas obras.<br />
Palavras-chave: Will Eisner; arte sequencial; The Spirit;<br />
Abstract<br />
Celebrated cartoonist and comics theoretical, Will Eisner, who shines through mainly by his<br />
important work, The Spirit comics, which will be, basically, the thematic of our article. The<br />
comics narrate the mask <strong>de</strong>tective adventure Spirit who protect his city, Central City, of all<br />
villains. Through this plot, we will <strong>do</strong> the relation between The Spirit comics and the Comics<br />
and Sequential Art, a theoretical book of Eisner that there are significative researchs and<br />
writers in the area comics. It will be in this book that the artist a<strong>do</strong>pts the Sequential Art<br />
conception, making a <strong>de</strong>fense that comics are an literary and artistic expression. We will work<br />
the comics with the relevance that Will Eisner always <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>d and gave on his woks.<br />
Keywords: Will Eisner; sequential art; The spirit.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
As histórias em quadrinhos, como todas as formas <strong>de</strong> arte, fazem<br />
parte <strong>do</strong> contexto histórico e social que as cercam. Elas não<br />
surgem isoladas e isentas <strong>de</strong> influências. Na verda<strong>de</strong>, as i<strong>de</strong>ologias<br />
e o momento político moldam, <strong>de</strong> maneira <strong>de</strong>cisiva, até mesmo o<br />
mais <strong>de</strong>scompromissa<strong>do</strong> <strong>do</strong>s gibis.(...).(JARCEM apud DUTRA,<br />
2007, p. 02)<br />
13 Acadêmica <strong>do</strong> 3º ano da Graduação em Letras – Licenciatura/ Espanhol DLE/CCHS/ <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>do</strong><br />
<strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. Aluna bolsista <strong>do</strong> CNPq e membro <strong>do</strong> Projeto <strong>de</strong> Extensão NECC – Núcleo <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s<br />
Culturais Compara<strong>do</strong>s.<br />
14 Professor Doutor <strong>do</strong> curso <strong>de</strong> Letras (DLE) e da Pós-Graduação Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Linguagens CCHS/<br />
<strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r <strong>do</strong> Projeto <strong>de</strong> Extensão NECC – Núcleo <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s<br />
Culturais Compara<strong>do</strong>.<br />
59
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
As histórias em quadrinhos tiveram seu início com o aperfeiçoamento e crescimento<br />
da produção gráfica, no fim <strong>do</strong> século XIX. Suas primeiras publicações eram feitas através <strong>de</strong><br />
jornais e tinham um teor cômico, por isso são conheci<strong>do</strong>s até hoje, em inglês, por Comics. A<br />
maioria <strong>do</strong>s estudiosos <strong>do</strong>s quadrinhos consi<strong>de</strong>ra Richard Fenton Oultcalt como o pioneiro<br />
das histórias em quadrinhos, com a criação em 1896 da história sequencial <strong>de</strong>nominada The<br />
Yellow Kid. Outcalt fez sua obra em quadros usan<strong>do</strong> os mol<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s caricaturistas, porém foi<br />
com a inserção <strong>do</strong>s balões <strong>de</strong> falas, que caracterizou seu trabalho como a primeira HQ<br />
(História em Quadrinhos).<br />
De acor<strong>do</strong> com o que afirma diversos teóricos <strong>do</strong>s quadrinhos, como Álvaro <strong>de</strong> Moya<br />
e Rene Gomes Rodrigues, po<strong>de</strong>mos dividir a história das Histórias em Quadrinhos em três<br />
gran<strong>de</strong>s épocas: a Era <strong>de</strong> ouro, a Era <strong>de</strong> prata e os Quadrinhos atuais, ou a Era <strong>de</strong> bronze. A<br />
Era <strong>de</strong> ouro principiou em 1929, com a Quebra da Bolsa <strong>de</strong> Valores nos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s da<br />
América, principal produtor <strong>de</strong> HQs até os dias <strong>de</strong> hoje. Os quadrinistas <strong>de</strong>ssa fase<br />
trabalhavam principalmente com três gêneros: ficção cientifica, policial e aventura na selva;<br />
<strong>de</strong>stacan<strong>do</strong>, assim, obras como a adaptação <strong>de</strong> Tarzan para quadrinhos <strong>do</strong> cartunista Foster,<br />
Flash Gor<strong>do</strong>n cria<strong>do</strong> por Alex Raymond e o primeiro personagem uniformiza<strong>do</strong>, Fantasma,<br />
escrito por Lee Falk. Entretanto, o gran<strong>de</strong> divisor <strong>de</strong> águas das Histórias em Quadrinhos, o<br />
marco da “era <strong>de</strong> ouro”, foi o super-herói Superman cria<strong>do</strong> por Siegel e Shuster:<br />
O Superman foi cria<strong>do</strong> em 1933, mas só chegou às bancas em 1938, <strong>de</strong>pois que a<br />
dupla ven<strong>de</strong>u seus direitos para a “DC Comics” para ser publica<strong>do</strong> na revista Action<br />
Comics 1. Poucos meses <strong>de</strong>pois, teria início a Segunda Guerra Mundial, <strong>de</strong>flagrada<br />
pelas ações expansionistas <strong>de</strong> uma Alemanha comandada por A<strong>do</strong>lf Hitler <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1933. No cal<strong>de</strong>irão i<strong>de</strong>ológico daqueles anos, os quadrinhos logo <strong>de</strong>spertaram<br />
interesses políticos. (JARCEM, 2007, p. 3)<br />
Com a gran<strong>de</strong> circulação e recepção <strong>de</strong> HQs pelos norte-americanos, po<strong>de</strong>mos<br />
perceber várias histórias e super-heróis que foram “recruta<strong>do</strong>s” para homenagear e incentivar<br />
as tropas estaduni<strong>de</strong>nses e seus alia<strong>do</strong>s, <strong>de</strong>stacamos a história em quadrinhos “Capitão<br />
América”, <strong>de</strong> Jack Kirby e Joe Simon, que foi cria<strong>do</strong> para ser o ícone <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> guerra;<br />
em sua primeira edição o herói aparece lutan<strong>do</strong> contra o próprio Hitler.<br />
Com as publicações aumentan<strong>do</strong> e melhoran<strong>do</strong> a cada dia, as Histórias em Quadrinhos<br />
tornaram-se um meio <strong>de</strong> comunicação em massa: pessoas <strong>de</strong> várias faixas-etárias a<strong>de</strong>riram à<br />
leitura <strong>de</strong> HQs. Foi nessa mesma época que ocorreu a maior represálias como diz René<br />
Gomes Rodrigues Jarcem em seu ensaio “A história das Histórias em Quadrinhos”:<br />
Nos anos 50 os quadrinhos foram alvo da maior caça as bruxas que já aconteceu por<br />
este meio <strong>de</strong> comunicação <strong>de</strong> massa. O psiquiatra Fre<strong>de</strong>ric Wertham escreveu um<br />
livro, “A Sedução <strong>do</strong> Inocente” (The Seduction of the Innocent), on<strong>de</strong> ele acusava<br />
60
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
os quadrinhos <strong>de</strong> corrupção e <strong>de</strong>linquência juvenis. Nas 400 páginas <strong>de</strong> sua obra, o<br />
psiquiatra alemão esmiuçou suas i<strong>de</strong>ias sobre o “verda<strong>de</strong>iro intento subversivo” por<br />
trás <strong>do</strong>s quadrinhos. (JARCEM, 2007, p. 05)<br />
Logo em seguida <strong>de</strong> to<strong>do</strong> esse alvoroço causa<strong>do</strong> pelo Dr. Wertham, os quadrinistas<br />
foram “incentiva<strong>do</strong>s” a a<strong>do</strong>tar o Código <strong>de</strong> Ética, conheci<strong>do</strong> como “Comics Co<strong>de</strong>”, que,<br />
segun<strong>do</strong> o site oficial <strong>do</strong> “The Seduction of the Innocent”, entrou em vigor em 26 <strong>de</strong> outubro<br />
<strong>de</strong> 1954. Como po<strong>de</strong>mos ler no próprio Código <strong>de</strong> ética, o seu principal objetivo era evitar<br />
publicações que, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com o que está escrito nas normas <strong>do</strong> código, estariam<br />
envenenan<strong>do</strong> a mente da infância e da juventu<strong>de</strong> com revistas altamente prejudiciais. Quem<br />
certificava se as editoras <strong>de</strong> quadrinhos realmente cumpriam as normas era a CMAA - "Comic<br />
Magazine Association of America" (Associação das Revistas em Quadrinhos da América),<br />
que, conforme relata o código, dava o selo <strong>de</strong> permissão que garantia quais HQs po<strong>de</strong>riam ser<br />
publicadas 15 .<br />
É nesse meio conturba<strong>do</strong> pela censura que começa, em 1960, a “Era <strong>de</strong> Prata” <strong>do</strong>s<br />
Quadrinhos. A editora D.C. Comics fazia sucesso com a HQ “Liga da Justiça”, que trazia<br />
histórias <strong>de</strong> uma or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> heróis <strong>de</strong> boa ín<strong>do</strong>le, com um caráter utópico e combatente <strong>de</strong><br />
qualquer mau, ou seja, essa história em quadrinhos era um bom exemplo <strong>de</strong> como seguir a<br />
risca o Código <strong>de</strong> Ética. Ven<strong>do</strong> o sucesso que esse tipo <strong>de</strong> história fazia, a atual Marvel<br />
convocou seus cartunistas mais antigos, Stan Lee e Jack Kirby, para escreverem uma história<br />
em quadrinhos nesse mesmo estilo; porém Lee, com a HQ intitulada “Quarteto Fantástico”,<br />
acaba por escrever uma História em Quadrinhos em oposição, um tipo <strong>de</strong> paródia aos<br />
quadrinhos da concorrente, pois como relata René Jarcem em “História das Histórias em<br />
Quadrinhos” “Stan Lee e Jack Kirby <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>raram to<strong>do</strong>s os clichês das histórias <strong>de</strong> super-<br />
heróis existentes até então” (2007, p. 7), trazen<strong>do</strong> em suas histórias personagens menos<br />
maniqueístas, ou seja, sujeito a falhas.<br />
A situação em relação ao Código <strong>de</strong> Ética começou a mudar aos poucos, como escreve<br />
Rodrigo Scama em seu blog “Esquadrinhan<strong>do</strong>”:<br />
O que efetivamente prosperou no final da década <strong>de</strong> 1960 foi a contracultura, e, com<br />
ela, os quadrinhos un<strong>de</strong>rground, os chama<strong>do</strong>s Comix 16 . Seu principal artista foi<br />
Robert Crumb, que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o princípio <strong>de</strong> sua carreira <strong>de</strong>ixou claro que seu principal<br />
interesse não era necessariamente ganhar dinheiro, mas sim fazer-se ouvir através da<br />
sua arte. (SCAMA 17 )<br />
15 The Seduction of the Innocent. In: Comics Co<strong>de</strong>. Disponível em:<br />
http://www.seductionoftheinnocent.org/TheComicsCo<strong>de</strong>1954.<br />
16 Comix são as Histórias em Quadrinhos que trouxeram <strong>de</strong> volta o humor satírico e irônico, e revoluciona os<br />
Quadrinhos com sexo, nu<strong>de</strong>z, consumo <strong>de</strong> drogas e criticas duras a socieda<strong>de</strong>, tu<strong>do</strong> <strong>de</strong> forma bem explicita.<br />
17 Esquadrinhan<strong>do</strong> - The Seduction of the Innocent. In: Comics Co<strong>de</strong>. Disponível em:<br />
http://www.seductionoftheinnocent.org/TheComicsCo<strong>de</strong>1954.htm<br />
61
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Ainda segun<strong>do</strong> Scama, Robert Crumb queria ser ouvi<strong>do</strong> e conseguiu, publicava suas<br />
obras <strong>de</strong> forma caseira e as distribuía pelas ruas, <strong>de</strong>sse mo<strong>do</strong> não tinha que se preocupar em<br />
ser aprova<strong>do</strong> ou não pelo Código <strong>de</strong> Ética. Assim como Robert Crumb <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> outros<br />
cartunistas un<strong>de</strong>rground fizeram a mesma coisa, dan<strong>do</strong> força e maior visibilida<strong>de</strong> ao<br />
movimento, com isso os quadrinistas foram perceben<strong>do</strong> que o Código <strong>de</strong> Ética não era mais<br />
pre<strong>do</strong>minante e que acabava por limitar a criativida<strong>de</strong>. A censura começava per<strong>de</strong>r a força.<br />
Nos anos 80, com a censura em baixa, gran<strong>de</strong>s editoras <strong>de</strong> quadrinhos começam a<br />
investir em Histórias em Quadrinhos para adultos, o pioneiro foi Frank Miller com a volta <strong>do</strong><br />
“Batman”, através da HQ “Cavaleiro das Trevas”, a série que trazia um “Batman” mais<br />
sombrio e satírico foi um sucesso <strong>de</strong> vendas. Logo outros Quadrinhos para adultos surgiram<br />
como, por exemplo, “Watchmen” e “Sandman”. Os personagens <strong>de</strong>ssa vertente <strong>de</strong> HQs eram<br />
mais humanos, cometiam erros e possuíam caráter duvi<strong>do</strong>so. A editora <strong>de</strong> quadrinhos D.C.<br />
Comics, logo percebeu o sucesso e criou seu próprio selo para enquadrar esses tipos <strong>de</strong><br />
história, o universo “Vertigo”, que até os dias <strong>de</strong> hoje são vendi<strong>do</strong>s nas bancas <strong>de</strong> jornais.<br />
De acor<strong>do</strong> com Eisner em seu livro <strong>de</strong> 1986, História em quadrinhos e arte<br />
sequencial, muita coisa mu<strong>do</strong>u <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o fim da “era <strong>de</strong> prata” <strong>do</strong>s quadrinhos, como por<br />
exemplo, o fato das revistas <strong>de</strong> HQ não serem mais produzi<strong>do</strong>s por uma pessoa só, mas sim<br />
por uma equipe, na qual cada um possui apenas uma função especifica poupan<strong>do</strong> a sobrecarga<br />
que os cartunistas antigos tinham e a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ser bom em tu<strong>do</strong>. A tecnologia<br />
também mu<strong>do</strong>u o jeito e a qualida<strong>de</strong> das Histórias em Quadrinho. É essa tecnologia que faz<br />
com que as HQs mais populares em to<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong> graças à indústria <strong>do</strong> cinema que vem<br />
adaptan<strong>do</strong> clássicos <strong>do</strong>s quadrinhos <strong>de</strong> todas as épocas para filmes e <strong>de</strong>senhos anima<strong>do</strong>s,<br />
como, por exemplo, Constantine, V <strong>de</strong> Vingança e, mais recentemente, The Spirit.<br />
2. WILL EISNER<br />
Este século tem Picasso na pintura, Stravinsky na música,<br />
Nijinsky no balé, James Joyce na Literatura, Orson Welles no<br />
cinema, Brecht no teatro, Rodin na escultura, Gaudí na<br />
arquitetura, Pelé no esporte e Will Eisner no quadrinho.<br />
(MOYA, 1985, p. 04)<br />
Personalida<strong>de</strong> importante da cultura pop <strong>do</strong>s anos XX, ten<strong>do</strong> sua influência<br />
atravessan<strong>do</strong> o século e chegan<strong>do</strong> até os dias <strong>de</strong> hoje, Will Eisner é, como traz o título <strong>de</strong>sse<br />
ensaio, o espírito <strong>do</strong>s quadrinhos e o pai da HQ mo<strong>de</strong>rna:<br />
Qualquer coisa que eu disser sobre um cara que tem um prêmio com o seu nome é<br />
chover no molha<strong>do</strong>. Mas, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ler suas HQs e até mesmo conhecê-lo através<br />
<strong>de</strong>las - já que Eisner tem muitas obras biográficas e semi-biográficas - acho que<br />
62
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
posso dizer o mesmo que Neil Gaiman disse, na introdução <strong>do</strong> enca<strong>de</strong>rna<strong>do</strong>, lança<strong>do</strong><br />
pela Companhia das Letras, Nova York - A Vida Na Cida<strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>: "Will Eisner<br />
era amável, gentil, amigável, acessível, estimulante e, ainda assim, feito <strong>de</strong> aço". E,<br />
tu<strong>do</strong> que Gaiman diz da pessoa <strong>de</strong> Eisner, po<strong>de</strong> ser dito <strong>de</strong> sua obra, principalmente<br />
no que tange à palavra "acessível". (HONORATO, 2009, p. 03)<br />
Sua primeira e marcante obra é o <strong>de</strong>tetive Spirit, que vive e combate o crime na<br />
metrópole Nova Iorque, rebatizada <strong>de</strong> Central City. Mais que um herói sem super po<strong>de</strong>res,<br />
Spirit é um personagem engraça<strong>do</strong>, conquista<strong>do</strong>r e que não tem autoconfiança, como comenta<br />
o próprio Eisner no <strong>do</strong>cumentário feito pela cineasta Maria Furta<strong>do</strong> em 1999:<br />
No meu enten<strong>de</strong>r, Spirit era um veiculo para o tipo <strong>de</strong> história que eu queria contar,<br />
que é o drama humano, a comédia humana. Então, eu criei um personagem que não<br />
se levava realmente a sério. Eu pus uma máscara nele e lhe <strong>de</strong>i uma roupa<br />
característica por que os distribui<strong>do</strong>res insistiam em algum tipo <strong>de</strong> uniforme. O<br />
Spirit foi o veiculo para eu chegar aos jornais. (EISNER, 1999)<br />
As histórias <strong>de</strong> The Spirit sofreram gran<strong>de</strong>s mudanças ao longo <strong>do</strong>s anos, sen<strong>do</strong> assim,<br />
po<strong>de</strong>mos dividir os quadrinhos em três gran<strong>de</strong>s fases: a primeira fase teve início quan<strong>do</strong> a HQ<br />
foi lançada nos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s, em junho <strong>de</strong> 1940 e foi até o início da segunda guerra<br />
mundial quan<strong>do</strong> Will Eisner foi convoca<strong>do</strong> a servir nas forças armadas; a segunda fase pós-<br />
guerra traz histórias <strong>do</strong> Spirit mais reflexivas, Eisner amadurece suas narrativas e cria outras<br />
histórias como a primeira graphic novel (romance gráfico, posteriormente retomaremos esse<br />
termo) <strong>de</strong>nominada “Contrato com Deus”, que conta a história <strong>de</strong> personagens que vivem em<br />
um cortiço <strong>de</strong>pois da gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>pressão nos E.U.A; a terceira fase da História em quadrinho<br />
The Spirit: as novas aventuras, se esten<strong>de</strong> até os dias <strong>de</strong> hoje e é produzida pela editora D.C.<br />
comics e escrita e <strong>de</strong>senhada por outros gran<strong>de</strong>s nomes <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s quadrinhos.<br />
Indiscutivelmente sua criação mais popular foi The Spirit, porém Will Eisner escreveu<br />
muitas outras histórias e livros que também não são estuda<strong>do</strong>s com a relevância merecida,<br />
mas que mesmo assim marcam a história da cultura <strong>de</strong> massa. Eisner, em sua época, já havia<br />
percebi<strong>do</strong> a <strong>de</strong>fasagem teórica sobre as Histórias em Quadrinhos, foi então em mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s<br />
anos 80, quan<strong>do</strong> o cartunista ministrava aulas <strong>de</strong> Técnicas <strong>de</strong> Quadrinhos na Escola <strong>de</strong> Artes<br />
Visuais <strong>de</strong> Nova York, que escreveu o livro “Os Quadrinhos e a Arte Seqüencial” (Comics<br />
and Sequential Art) e mais tar<strong>de</strong> em 1996 “A Narrativa Gráfica” (Graphic Storytelling). Tais<br />
livros trazem teorias e conceitos que são referências teóricas para se estudar HQs até os dias<br />
<strong>de</strong> hoje.<br />
Will Eisner realiza o rompimento entre as Histórias em Quadrinhos como apenas uma<br />
forma <strong>de</strong> leitura infantil, sem valor e passa analisá-las mais profundamente <strong>de</strong> maneira séria e<br />
concisa. Esiner sempre esteve preocupa<strong>do</strong> em elevar suas HQs para o nível <strong>de</strong> um “veículo <strong>de</strong><br />
63
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida com a<br />
disposição <strong>de</strong> figuras e imagens para narrar uma história ou dramatizar uma i<strong>de</strong>ia” (EISNER,<br />
1985, pg. 5.). Por conta <strong>de</strong>ssa preocupação o cartunista cunha um conceito para <strong>de</strong>nominar<br />
tu<strong>do</strong> o que buscava alcançar com seus quadrinhos: Arte Sequencial.<br />
Outra gran<strong>de</strong> e importante colaboração <strong>de</strong> Eisner para as Histórias em Quadrinhos foi<br />
a popularização <strong>do</strong> termo Graphic Novel, traduzi<strong>do</strong> no português para Novela ou Romance<br />
Gráfico. Os Romances Gráficos são Histórias em Quadrinhos com narrativas compridas e em<br />
formato <strong>de</strong> livro. Como já dito anteriormente, uma das principais novelas gráficas <strong>de</strong> Will<br />
Eisner é “Contrato com Deus”, porém Eisner também reescreveu e publicou gran<strong>de</strong>s clássicos<br />
da literatura internacional como a história infantil A Princesa e o Sapo, o clássico da literatura<br />
espanhola Dom Quixote com o titulo <strong>de</strong> O último cavaleiro andante e o clássico Moby Dick<br />
intitula<strong>do</strong> pelo cartunista como A baleia branca.<br />
Will Eisner mu<strong>do</strong>u a forma como se lê e produz histórias em quadrinhos, ele é o<br />
pre<strong>de</strong>cessor <strong>de</strong> toda uma geração <strong>de</strong> cartunista e estudiosos que enten<strong>de</strong>m as HQs, ou como<br />
preferia Eisner, Arte Sequencial como um meio literário e artístico riquíssimo culturalmente.<br />
Eisner morreu em 2005, mas como diz Eloyr Pacheco em sua coluna para o site Sobrecarga, o<br />
cartunista faleceu, porém sua obra continuará sempre viva:<br />
Também soube da morte <strong>do</strong> gran<strong>de</strong> mestre das Histórias em Quadrinhos sem<br />
nenhuma preparação para receber a notícia. Olhan<strong>do</strong> para a minha coleção on<strong>de</strong><br />
meticulosamente as obras <strong>de</strong> Eisner estão reunidas, disse para o Humberto<br />
(Yashima): "Como que ele morreu... veja a obra <strong>de</strong>le!". (PACHECO, 2005, p. 04)<br />
Em sua última visita ao Brasil, em maio <strong>de</strong> 2001, Eisner é entrevista<strong>do</strong> pelo site<br />
Universo HQ. Ao lhe perguntarem sobre “(...) a sensação <strong>de</strong> ser uma "lenda viva" <strong>do</strong>s<br />
quadrinhos, uma referência aos artistas atuais?” Eisner respon<strong>de</strong> com o bom-humor e a<br />
humilda<strong>de</strong> que cativaram muitos fãs no mun<strong>do</strong> to<strong>do</strong>: “Qual a sensação <strong>de</strong> ser uma lenda viva?<br />
Bem... É um pouco melhor <strong>do</strong> que estar morto, eu lhe diria. (risadas)” (EISNER, 2001).<br />
3. ARTE SEQUENCIAL<br />
Foi Will Eisner um <strong>do</strong>s maiores colabora<strong>do</strong>res para que, aos poucos, os quadrinhos<br />
passassem a ter uma maior respeitabilida<strong>de</strong> e <strong>de</strong>ixassem <strong>de</strong> ser vistos, em <strong>de</strong>trimento<br />
aos discursos apocalípticos, como baixa-cultura. Suas colaborações no aspecto da<br />
linguagem eram visíveis nas tiras <strong>de</strong> "The Spirit" publicadas nos jornais, ainda na<br />
década <strong>de</strong> 40. (MUANIS, 2005. p. 03)<br />
Indubitavelmente Will Eisner foi um <strong>do</strong>s melhores quadrinistas <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os tempos,<br />
porém o que o <strong>de</strong>stacou <strong>do</strong>s outros cartunistas foi sua <strong>de</strong>dicação na busca por méto<strong>do</strong>s novos<br />
e revolucionários para a indústria das HQs e principalmente sua preocupação em transformar<br />
64
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
as histórias em quadrinhos em arte e literatura em quadros. E é exatamente por tomar para si<br />
essa responsabilida<strong>de</strong>, que Eisner escreveu o livro Quadrinhos e Arte Sequencial, como dito<br />
anteriormente. Na obra em questão o escritor traz passo a passo os méto<strong>do</strong>s que ele utilizava<br />
para escrever suas histórias em quadrinhos.<br />
O livro Quadrinhos e Arte Sequencial é escrito em oito gran<strong>de</strong>s capítulos, que po<strong>de</strong>m<br />
ser dividi<strong>do</strong>s em duas gran<strong>de</strong>s partes: a primeira traz os elementos que constitui as histórias<br />
em quadrinhos <strong>de</strong> maneira geral, como as imagens, o Timing, o quadrinho, a anatomia<br />
expressiva <strong>do</strong>s personagens; já a segunda parte <strong>de</strong>screve o uso da Arte Sequencial, através da<br />
sua aplicação nos quadrinhos e principalmente na criação escritural <strong>do</strong> quadrinista. Tu<strong>do</strong> isso<br />
<strong>de</strong>vidamente exemplifica<strong>do</strong> com as partes ou mesmo com histórias completas <strong>do</strong> seu gran<strong>de</strong><br />
trunfo no mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s HQs: The Spirit.<br />
A gran<strong>de</strong> preocupação <strong>de</strong> Eisner ao escrever o livro em questão era centrada no fato <strong>de</strong><br />
que o cartunista sempre acreditou que os quadrinhos mereciam ser estuda<strong>do</strong> com maior<br />
atenção, como ele mesmo revela no começo <strong>do</strong> seu livro: “A premissa <strong>de</strong>sse livro é <strong>de</strong> que,<br />
por sua natureza especial, a Arte Sequencial merece ser levada a sério pelo crítico e pelo<br />
profissional” (Eisner, 1999, p. 5). E esse estu<strong>do</strong> <strong>de</strong>ve ser feito levan<strong>do</strong> em conta o material<br />
artístico e a criação escrita <strong>de</strong> forma conjunta, como uma combinação única, pois “Na arte<br />
sequencial, as duas funções estão irrevogavelmente entrelaçadas. A arte sequencial é o ato <strong>de</strong><br />
urdir um teci<strong>do</strong>”.(EISNER, 1999, p. 122).<br />
Ann Weingarten, esposa e companheira <strong>de</strong> Will Eisner por toda sua vida, conta para<br />
Marisa Furta<strong>do</strong>, em <strong>do</strong>cumentário, que se apaixonou pelo cartunista por ele ser um homem<br />
visionário e criativo, características que o fazia enxergar o potencial das Histórias em<br />
Quadrinhos e por isso criticava a falta <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s nessa área, mas compreendia porque esse<br />
fato ocorria:<br />
Por motivos que tem muito a ver com o uso e a temática, a Arte Sequencial tem si<strong>do</strong><br />
geralmente ignorada como forma digna <strong>de</strong> discussão acadêmica. (...)Creio que tanto<br />
o profissional quanto o critico sejam responsáveis por isso.Sem dúvida a<br />
preocupação pedagógica séria ofereceria um clima melhor para a produção <strong>de</strong><br />
conteú<strong>do</strong> temático mais digno e para a expansão <strong>do</strong> gênero como um to<strong>do</strong>. Mas, a<br />
menos que os quadrinhos se ocupem <strong>de</strong> temas <strong>de</strong> maior importância, como po<strong>de</strong>m<br />
esperar por um exame intelectual sério? Não basta que o trabalho artístico seja <strong>de</strong><br />
boa qualida<strong>de</strong>.” (EISNER, 1999, p. 5)<br />
Em prefácio da novela gráfica Um contrato com Deus e outras histórias <strong>de</strong> cortiço,<br />
Eisner conta que no começo <strong>de</strong> sua carreira, para sermos mais exatos, a partir <strong>do</strong> dia 2 <strong>de</strong><br />
junho <strong>de</strong> 1940, quan<strong>do</strong> começou a publicar The Spirit <strong>do</strong>minicalmente para o jornal The<br />
Detroit News, não tinha essa noção <strong>de</strong> importância sobre o que estava produzin<strong>do</strong>, mas que<br />
65
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> quinze semanas quan<strong>do</strong> pô<strong>de</strong> parar para avaliar o que estava fazen<strong>do</strong>, percebeu a<br />
magnitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu empreendimento:<br />
Eu estava produzin<strong>do</strong> histórias curtas para uma audiência bem mais sofisticada e<br />
seletiva <strong>do</strong> que os habituais leitores <strong>de</strong> tirinhas <strong>de</strong> jornal. A realida<strong>de</strong> da tarefa e suas<br />
enormes possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ixaram-me vibran<strong>do</strong>. E avancei com o entusiasmo<br />
eufórico <strong>de</strong> um explora<strong>do</strong>r aventureiro. Nos <strong>do</strong>ze anos seguintes <strong>de</strong>sbravei esse<br />
território virgem em uma orgia <strong>de</strong> experimentação, fazen<strong>do</strong> <strong>de</strong> The Spirit uma<br />
plataforma <strong>de</strong> lançamentos para todas as i<strong>de</strong>ias que passavam pela minha cabeça.<br />
(EISNER 1995, p. 5).<br />
Foi então que Eisner percebeu que o que ele produzia era uma forma <strong>de</strong> arte capaz <strong>de</strong><br />
abordar temas muito mais significativos <strong>do</strong> que apenas super-heróis em uniformes colori<strong>do</strong>s<br />
salvan<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong> <strong>de</strong> super vilões. Mas, infelizmente, a maioria <strong>do</strong>s quadrinistas não<br />
pensavam <strong>do</strong> mesmo mo<strong>do</strong> que Eisner a respeitos das Hqs, fazen<strong>do</strong> com que as Histórias em<br />
Quadrinhos permanecessem no mesmo marasmo. Pois centenas <strong>de</strong> HQs eram produzidas, mas<br />
a gran<strong>de</strong> maioria possuíam o mesmo plano <strong>de</strong> fun<strong>do</strong>, com histórias e temáticas parecidas, o<br />
que <strong>de</strong>svalorizava culturalmente os quadrinhos.<br />
Eisner enten<strong>de</strong> essa estagnada <strong>do</strong>s Quadrinhos como um problema na criação da<br />
escrita que os quadrinistas encontravam ao produzir Arte Sequencial. O fato é que os<br />
Quadrinhos são principalmente visuais; é o trabalho artístico que chama a atenção inicial <strong>do</strong><br />
leitor, o que levava os quadrinistas várias vezes centrar to<strong>do</strong> seu trabalho nas imagens. Isso<br />
causava uma super valorização da parte visual, <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong> toda a parte escritural <strong>de</strong> la<strong>do</strong>, o que<br />
causava gran<strong>de</strong> preocupação em Eisner:<br />
A receptivida<strong>de</strong> <strong>do</strong> leitor ao efeito sensorial e, muitas vezes a valorização <strong>de</strong>sse<br />
aspecto reforçam essa preocupação e estimulam a proliferação <strong>de</strong> atletas artísticos<br />
que produzem páginas <strong>de</strong> arte absolutamente <strong>de</strong>slumbrantes sustentadas por uma<br />
história quase inexistente. (EISNER, 1999, p. 123)<br />
Aos poucos a situação foi mudan<strong>do</strong>, pois cada vez ficava mais evi<strong>de</strong>nte que muitos<br />
outros quadrinistas também produziam trabalhos <strong>de</strong> extrema competência, cartunistas bons<br />
surgiram, ao longo <strong>do</strong> século XX, <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os lugares, às vezes ven<strong>de</strong>n<strong>do</strong> suas histórias na<br />
rua, como, por exemplo, Robert Crumb. E foi-se crian<strong>do</strong>, como diz Eisner, um espaço <strong>de</strong><br />
diálogo entre a Arte Sequencial e o círculo cultural:<br />
Na época, discutir abertamente quadrinhos como forma <strong>de</strong> arte – ou mesmo<br />
reclamar-lhes qualquer anatomia ou legitimida<strong>de</strong> – era consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> <strong>de</strong> uma<br />
espantosa presunção e um convite ao ridículo. No entanto, ao longo <strong>do</strong>s anos<br />
seguintes, a aceitação e o aplauso foram facilitan<strong>do</strong> a entrada <strong>de</strong> Arte Sequencial no<br />
círculo cultural. Em um clima <strong>de</strong> serieda<strong>de</strong> alimenta<strong>do</strong> pela atenção <strong>do</strong> público<br />
adulto, os artistas pu<strong>de</strong>ram tentar novos caminhos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento num campo<br />
que antes só havia permiti<strong>do</strong> o que Jules Feiffer <strong>de</strong>finiu como arte Junk. A arte <strong>de</strong><br />
impacto e a <strong>de</strong> exploração imaginativa foram só as primeiras safras <strong>de</strong>ssa<br />
germinação. (EISNER, 1995, p. 6).<br />
66
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O reconhecimento das Histórias em Quadrinhos não veio apenas da extrema<br />
competência <strong>de</strong> quadrinistas como Eisner e Crumb, o acolhimento cultural no espaço artístico<br />
e literário <strong>de</strong>ve-se também ao contexto sócio-histórico. A arte Junk, o filme noir e o cult-hero,<br />
termos que po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finir a Arte Sequencial <strong>de</strong> Eisner, principalmente em The Spirit, foi<br />
ganhan<strong>do</strong> espaço com o surgimento <strong>do</strong> Pós-Mo<strong>de</strong>rnismo. Pois o fato é que quadrinhos, eram<br />
produzi<strong>do</strong>s freneticamente, como The Spirit que era publica<strong>do</strong> três vezes por semana,<br />
divididas em três partes: quartas, sextas e <strong>do</strong>mingos, em materiais <strong>de</strong> baixos custos o que<br />
comercialmente era um gran<strong>de</strong> negócio, mas que pelo viés da alta cultura era visto com maus<br />
olhos. O que tornou mais lenta a inserção <strong>do</strong>s Quadrinhos no meio artístico cultural.<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Apesar <strong>de</strong> não ter um lugar fixo nem na literatura nem na arte, os quadrinhos têm<br />
recebi<strong>do</strong> aos poucos alguma atenção <strong>do</strong>s intelectuais <strong>de</strong> diversas áreas. Cada vez mais livros<br />
teóricos têm si<strong>do</strong> produzi<strong>do</strong>s e publica<strong>do</strong>s sobre essa temática dan<strong>do</strong> uma maior visibilida<strong>de</strong> e<br />
valor aos quadrinhos, conforme i<strong>de</strong>alizava Will Eisner. Porém, há muito ainda para ser<br />
estuda<strong>do</strong> <strong>de</strong>ntro das Histórias em Quadrinhos ten<strong>do</strong> em vista que é um material rico<br />
culturalmente, muito bem aceito e acessível para toda a socieda<strong>de</strong>, pois nesse meio <strong>de</strong><br />
comunicação, consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> por muitos teóricos <strong>do</strong>s quadrinhos como sen<strong>do</strong> a arte mais<br />
popular <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, não há segregação <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, sexo ou social.<br />
REFERÊNCIAS<br />
EISNER, W. A baleia branca. Trad. Carlos Sussekind. São Paulo: Cia das Letras.<br />
_________. Spirit Magazine. São Paulo: Ed. Metal Pesa<strong>do</strong>, número 1, p. 1 - 64. Outubro <strong>de</strong><br />
1997.<br />
__________. Quadrinhos e arte sequencial. Trad. Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo:<br />
Martins Fontes 1999.<br />
__________. Spirit. Rio Gran<strong>de</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>: L&PM Editores, 1985.<br />
__________. Um contrato com Deus. São Paulo: Editora Devir, 2007.<br />
FURTADO, M. Will Eisner: Profissão Cartunista. In: Documentário SESC. Disponível em:<br />
http://www.youtube.com.br – acessa<strong>do</strong> em: 05 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
HONORATO, E. Uma dicotomia Freudiana. In: Blog Rapadura <strong>do</strong> Eu<strong>de</strong>s. Disponível em:<br />
http://rapadura<strong>do</strong>eu<strong>de</strong>s.blogspot.com/2009/06/uma-dicotomia-freudiana.html – acessa<strong>do</strong> em:<br />
22 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
67
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
JARCEN, R. G. R. Histórias das Histórias em Quadrinhos. In: História, imagem e narrativas.<br />
Nº 5, ano 3, setembro/2007 – ISSN 1808-9895. Disponível em:<br />
http://www.historiaimagem.com.br – acesso em: 17 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
MUANIS, F. Imagem, Cinema e Quadrinhos: linguagem e discurso <strong>do</strong> cotidiano. In: Revista<br />
online Caligrama. Disponível em: http://www.eca.usp.br/caligrama/n_4/05_FelipeMuanis.pdf<br />
- acesso em: 26 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
PACHECO, E. “I will Will: Divagações sobre o mestre. In: Colunas. Disponível em:<br />
http://www.sobrecarga.com.br/no<strong>de</strong>/view/4517 – acessa<strong>do</strong> em: 22 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
SCAMA, R. História <strong>do</strong>s Quadrinhos em 18 partes. In: Blog Esquadrinhan<strong>do</strong> Disponível em:<br />
http://jornale.com.br/esquadrinhan<strong>do</strong>/2009/03/page/2 - acessa<strong>do</strong> em: 19 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2010.<br />
WERTHAM, F. The Seduction of the Innocent. In: Comics Co<strong>de</strong>. Disponível em:<br />
http://www.seductionoftheinnocent.org/TheComicsCo<strong>de</strong>1954.htm – acessa<strong>do</strong> em: 19 <strong>de</strong><br />
março <strong>de</strong> 2010.<br />
68
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
AS VERTENTES CULTURAIS EM SOB OS CEDROS DO SENHOR, DE RAQUEL<br />
NAVEIRA 18<br />
Resumo<br />
Lemuel <strong>de</strong> Faria Diniz 19<br />
O objetivo principal <strong>de</strong>ste artigo é o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s costumes, tradições e da vida comercial,<br />
enfim, o repertório <strong>de</strong> heranças trazidas pelos imigrantes árabes e armênios, que culminaram<br />
na formação cultural <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>, a capital <strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. Para tanto, este<br />
trabalho se propõe a investigar a obra literária Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), da escritora<br />
sul-mato-grossense Raquel Naveira, pois na referida obra encontram-se versifica<strong>do</strong>s os povos<br />
orientais que a escritora sul-mato-grossense conheceu durante a infância. O imaginário<br />
literário <strong>de</strong> Naveira reelabora essa gama <strong>de</strong> lembranças e torna o seu texto poético<br />
confessional. Nesse contexto vigente, cabe dizer que neste ensaio preten<strong>de</strong>mos analisar a obra<br />
Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994) observan<strong>do</strong> como a poética fornece um lega<strong>do</strong> multicultural,<br />
isto no que tange aos costumes, à vida comercial, ou seja, às contribuições à formação cultural<br />
campo-gran<strong>de</strong>nse trazidas por armênios, sírios e libaneses. Ao constituírem a estrutura da<br />
obra naveiriana, esses influxos externos se tornam internos.<br />
Palavras-chave: poesia confessional; memória; Campo Gran<strong>de</strong>.<br />
Abstract<br />
The main objective of this article is the study of the customs, traditions and of the commercial<br />
life, at last, the repertoire of inheritances brought for the Arab and Armenian immigrants, who<br />
had culminated in the cultural formation of Campo Gran<strong>de</strong>, the capital of the <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong><br />
<strong>Sul</strong>. For in such a way, this work if consi<strong>de</strong>rs to investigate the literary composition Un<strong>de</strong>r<br />
the cedars of the Lord (1994), of the writer sul-mato-grossense Raquel Naveira, therefore in<br />
the related workmanship the eastern peoples meet who the sul-mato-grossense writer knew<br />
during infancy. The imaginary literary of Naveira rebuilds this gamma of souvenirs and<br />
becomes its confessional poetical text. In this context, it fits to say that in this assay we intend<br />
to analyze the workmanship Un<strong>de</strong>r the cedars of the Lord (1994) observing as the poetical<br />
one supplies a multicultural legacy, this in what refers to the customs, to the commercial life,<br />
that is, to the contributions to the cultural formation campogran<strong>de</strong>nse brought by Armenians,<br />
Syrians and Lebaneses. When constituting the structure of the naveiriana workmanship, these<br />
external influxes if become interns.<br />
Keywords: Confessional poetry; memory; Campo Gran<strong>de</strong>.<br />
18 Este ensaio está basea<strong>do</strong> num <strong>do</strong>s capítulos <strong>de</strong>: DINIZ, Lemuel <strong>de</strong> Faria. Vertentes histórico-regionaisculturais<br />
na poética <strong>de</strong> Raquel Naveira. Três Lagoas, 2006. 162 p. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Letras) –<br />
CPTL/UFMS, elaborada sob a orientação <strong>do</strong> Prof. Dr. Paulo Sérgio Nolasco <strong>do</strong>s Santos. Sai agora com ligeiras<br />
modificações.<br />
19 Mestre em Letras/Estu<strong>do</strong>s Literários pela UFMS.<br />
69
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Na produção pluritemática da escritora campo-gran<strong>de</strong>nse Raquel Naveira, que<br />
comporta temas históricos, regionais, místicos e metaliterários, a coletânea Sob os cedros <strong>do</strong><br />
Senhor (1994) <strong>de</strong>staca-se no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> que nessa obra o trabalho literário da poetisa com as<br />
culturas parece ser bastante “intenso”, o que, a nosso ver, justifica um olhar mais atento nesse<br />
“elemento”. Isso não nos impe<strong>de</strong>, todavia, <strong>de</strong> assinalar também a presença das vertentes<br />
histórico-regionais na referida obra literária. É curioso notar que já o subtítulo da obra –<br />
“poemas inspira<strong>do</strong>s na imigração árabe e armênia em <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>” – instiga no leitor<br />
uma curiosida<strong>de</strong> para compreen<strong>de</strong>r como se dá a presença das várias culturas no texto<br />
literário.<br />
Para expormos nossas consi<strong>de</strong>rações sobre a coletânea naveiriana, é importante<br />
<strong>de</strong>stacar algumas lições que apren<strong>de</strong>mos <strong>de</strong> Antonio Candi<strong>do</strong>, quanto à relação entre a obra e<br />
o seu condicionamento social. O crítico enuncia que só é possível “avaliar” a integrida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
uma obra “fundin<strong>do</strong> texto e contexto numa interpretação dialèticamente (sic) íntegra”, o que<br />
equivale a verificar, no fator social,<br />
se êle (sic) fornece apenas matéria (ambiente, costumes, traços grupais, idéias), que<br />
serve <strong>de</strong> veículo para conduzir a corrente cria<strong>do</strong>ra (nos têrmos [sic] <strong>de</strong> Lukács, se<br />
apenas possibilita a realização <strong>do</strong> valor estético); ou se, além disso, é elemento que<br />
atua na constituição <strong>do</strong> que há <strong>de</strong> essencial na obra enquanto obra <strong>de</strong> arte (nos<br />
têrmos [sic] <strong>de</strong> Lukács, se é <strong>de</strong>terminante <strong>do</strong> valor estético) (CANDIDO, p.5, 1965)<br />
As explanações <strong>de</strong> Candi<strong>do</strong> são bastante significativas para nossas reflexões,<br />
visto que na composição da obra Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), os fatores sociais, presentes<br />
como influxos externos, não apenas constituem a “matéria” utilizada como condução da<br />
“corrente cria<strong>do</strong>ra” naveiriana, como também atuam “na constituição <strong>do</strong> que há <strong>de</strong> essencial<br />
na obra enquanto obra <strong>de</strong> arte”. Aqui, cabe evocar outra proposição <strong>do</strong> crítico: “o [influxo]<br />
externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significa<strong>do</strong>”, senão “como<br />
elemento que <strong>de</strong>sempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornan<strong>do</strong>-se, portanto,<br />
interno.” (CANDIDO, p.4, 1965)<br />
Na esteira <strong>de</strong> Candi<strong>do</strong>, nos poemas que compõem Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor<br />
(1994), as trocas e os intercâmbios culturais <strong>do</strong>s imigrantes árabes e armênios para com a<br />
população <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>, e <strong>de</strong>sta para com aqueles, são os influxos externos <strong>de</strong><br />
dimensões sociais que <strong>de</strong>sempenham um papel fundamental na estrutura da obra poética na-<br />
veiriana (conforme veremos no <strong>de</strong>correr <strong>do</strong> trabalho), ao tornarem-se influxos internos.<br />
Outra questão importante que perpassará nossos estu<strong>do</strong>s é a memória. No<br />
ensaio “A infância revestida na literatura” (2002), Maria da Glória Sá Rosa pon<strong>de</strong>ra quão<br />
in<strong>de</strong>léveis<br />
70
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
à memória são os acontecimentos relaciona<strong>do</strong>s à aurora da vida, pois a infância <strong>de</strong>tém a<br />
magia <strong>do</strong> nosso porvir, é “quan<strong>do</strong> abrimos os olhos para o mun<strong>do</strong> e vai-se <strong>de</strong>senhan<strong>do</strong> em<br />
nosso íntimo o esboço <strong>do</strong> que vai ser nossa trajetória pelos anos afora.”(p. 15). Para Rosa, as<br />
lembranças da infância <strong>do</strong>s escritores José Lins <strong>do</strong> Rego, Graciliano Ramos, Mário Vargas<br />
Llosa e Raul Pompéia concorreram, respectivamente, para a elaboração das obras Menino <strong>de</strong><br />
engenho (1932), Infância (1945), O peixe na água (1994) e O Ateneu (1888).<br />
De mo<strong>do</strong> semelhante, ocorre com a memória da artista sul-mato-grossense. Na<br />
elaboração <strong>de</strong> Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), a memória <strong>de</strong> Naveira tem uma função<br />
importante, uma vez que, conforme assegura Maria da Glória Sá Rosa, no ensaio “A poesia<br />
como resgate da história – a propósito <strong>do</strong> livro Sob os Cedros <strong>do</strong> Senhor <strong>de</strong> Raquel Naveira”<br />
(1994, p. 5), Naveira conviveu <strong>de</strong>s<strong>de</strong> menina com libaneses, sírios e outros povos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scendência oriental, presenciou o crescimento <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> por meio “da coragem e<br />
da sensibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa brava gente, que teceu os fios <strong>do</strong> progresso e preparou os caminhos <strong>do</strong><br />
futuro”, assim como, Naveira, no “computa<strong>do</strong>r da memória foi guardan<strong>do</strong> cuida<strong>do</strong>samente os<br />
registros <strong>de</strong> cada coisa vista”. Por conseguinte, a memória da escritora campo-gran<strong>de</strong>nse é o<br />
elo pelo qual as reminiscências da infância se tornam o corpus para a sua produção poética.<br />
Como ela mesma afirmou: “A memória tem si<strong>do</strong> a matéria <strong>de</strong> minha poesia: os vestígios,<br />
sinais, as sensações submersas. Através <strong>de</strong>sse fio precioso e mágico tenho teci<strong>do</strong> e recupera<strong>do</strong><br />
um mun<strong>do</strong> perdi<strong>do</strong>: o escoar inexorável da minha vida e <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> <strong>de</strong> minha cida<strong>de</strong>.”<br />
(NAVEIRA, 1992, p.39)<br />
É bom se consi<strong>de</strong>rar também que a coletânea naveiriana é <strong>de</strong> cunho<br />
confessional. E, para justificar essa constatação, diríamos, parafrasean<strong>do</strong> Bernar<strong>do</strong> Oliveira<br />
(1988, p.74) que, na composição <strong>de</strong> Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), a memória <strong>de</strong> Naveira se<br />
torna “literária” 20 , pois na referida obra encontram-se versifica<strong>do</strong>s os povos orientais que a<br />
escritora sul-mato-grossense conheceu durante a infância. O imaginário literário <strong>de</strong> Naveira<br />
reelabora essa gama <strong>de</strong> lembranças e torna o seu texto poético confessional.<br />
Nesse contexto globalizante, cabe dizer que neste ensaio preten<strong>de</strong>mos analisar<br />
a obra Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994) observan<strong>do</strong> como a poética fornece um lega<strong>do</strong><br />
multicultural, isto no que tange aos costumes, à vida comercial, ou seja, às contribuições à<br />
formação cultural campo-gran<strong>de</strong>nse trazidas por armênios, sírios e libaneses. Ao constituírem<br />
20 De acor<strong>do</strong> com Bernar<strong>do</strong> Oliveira, “a questão <strong>do</strong> EU na literatura se torna mais clara [quan<strong>do</strong> compreen<strong>de</strong>mos<br />
que] Não há <strong>de</strong> um la<strong>do</strong> um eu exila<strong>do</strong> ou morto e <strong>de</strong> outro um poeta que é pura inspiração e técnica, o que<br />
existe é um EU que já é pura poesia, pura literatura. É a partir <strong>de</strong>sta intimida<strong>de</strong> literária que os poetas nos falam<br />
e não <strong>de</strong> suas próprias intimida<strong>de</strong>s, suas ‘vidas em si’ [...] não existe, para um poeta <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>, um EU puro e<br />
simples a confessar, e sempre que alguém incorre neste engano não produz nada além <strong>de</strong> um diário (mesmo um<br />
diário poético)”.<br />
71
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
a estrutura da obra naveiriana, esses influxos externos se tornam internos. Transcrevemos o<br />
poema “Rumo ao Centro-Oeste”, a fim <strong>de</strong> iniciarmos nossas reflexões:<br />
Enfrentan<strong>do</strong> tempesta<strong>de</strong>s,<br />
Em soturnos navios,<br />
Vieram os libaneses.<br />
No coração<br />
A ânsia da liberda<strong>de</strong>,<br />
A esperança <strong>de</strong> um novo mun<strong>do</strong>,<br />
Na maleta, cultura e coragem;<br />
Príncipes altivos e dignos.<br />
Atravessaram o Uruguai,<br />
A Argentina,<br />
Assunção,<br />
Aportaram em Corumbá<br />
No casario <strong>do</strong> Porto<br />
Entre camalotes lilases<br />
E gaviões <strong>de</strong> asas gigantes.<br />
Entre chalanas,<br />
Embarcações incômodas,<br />
Desceram o Salobra,<br />
O Miranda,<br />
O Aquidauana,<br />
Estarreci<strong>do</strong>s <strong>de</strong> imensidão.<br />
Fixaram-se em Porto Murtinho,<br />
Nioaque;<br />
(NAVEIRA, 1994, p. 9)<br />
Fugin<strong>do</strong> <strong>de</strong> agitadas questões políticas e <strong>de</strong> “conflitos religiosos fratricidas”, os<br />
libaneses vieram para a nação brasileira “Enfrentan<strong>do</strong> tempesta<strong>de</strong>s, / Em soturnos navios,”<br />
somente com sua cultura e coragem. As dificulda<strong>de</strong>s surgidas não os impediram <strong>de</strong> seguir a<br />
maratona da viagem: viajaram através <strong>do</strong> Uruguai, Argentina, Assunção e, finalmente, por<br />
Corumbá, cida<strong>de</strong> que constituía o centro comercial <strong>de</strong> to<strong>do</strong> o <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>. De acor<strong>do</strong> com as<br />
informações fornecidas por Fábio Trad (1999), no ensaio “Libaneses”, a partir daí, alguns<br />
rumaram para o sul <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> em embarcações extremamente <strong>de</strong>sconfortáveis atravessan<strong>do</strong><br />
os rios Salobra, Miranda e Aquidauana, enquanto outros estabeleceram-se em Porto Murtinho,<br />
Nioaque e Aquidauana. Nas estrofes seguintes, o eu poético <strong>de</strong>lineia a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campo<br />
Gran<strong>de</strong> em seus primórdios:<br />
[...]<br />
De carreta<br />
Chegaram a Campo Gran<strong>de</strong>,<br />
Arraial poeirento,<br />
De lama vermelha,<br />
De casas <strong>de</strong> pau-a-pique,<br />
Bafejadas pela chaminé da Maria Fumaça.<br />
72
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Sentiram o progresso nos trilhos,<br />
Abriram os baús,<br />
Mascates mágicos<br />
Que vendiam em cada peça <strong>de</strong> seda<br />
Um sonho <strong>de</strong> odalisca e <strong>de</strong> sultão.<br />
De mascates a comerciantes<br />
Surgiram as lojas na 14,<br />
A rua 14,<br />
On<strong>de</strong> havia uma casa,<br />
Ficava no meio <strong>do</strong>s libaneses,<br />
A casa da minha infância. (NAVEIRA, 1992, p.27-28)<br />
Campo Gran<strong>de</strong>, ainda arraialzinho, um vilarejo que mal disfarçava sua timi<strong>de</strong>z<br />
para o <strong>de</strong>senvolvimento, acolhe, em seu rubro chão, os libaneses, vin<strong>do</strong>s, em gran<strong>de</strong> parte, em<br />
carretas puxadas por duas ou três juntas <strong>de</strong> bois ou nos lombos <strong>de</strong> cavalos e burros em trajetos<br />
que não duravam menos que três dias. Crescen<strong>do</strong> com a capital, os libaneses presenciam a<br />
cida<strong>de</strong> em seu progresso nos trilhos, proveniente da implantação das “Marias-Fumaças” pela<br />
Estrada <strong>de</strong> Ferro Noroeste <strong>do</strong> Brasil, que ligava as bacias fluviais <strong>do</strong> Paraná e <strong>do</strong> Paraguai aos<br />
países limítrofes (a Bolívia, através <strong>de</strong> Porto Esperança, e o Paraguai, através <strong>de</strong> Ponta Porã).<br />
Desse mo<strong>do</strong>, o então <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> passou a receber um contingente significativo <strong>de</strong><br />
imigrantes libaneses, além <strong>de</strong> povos <strong>de</strong> outras nacionalida<strong>de</strong>s 21 . E Campo Gran<strong>de</strong> se firmou<br />
como um ponto <strong>de</strong> passagem obrigatório para to<strong>do</strong>s os que se dirigissem ao Pantanal, à<br />
Bolívia ou à Amazônia, tornan<strong>do</strong>-se a mais beneficiada com a estrada <strong>de</strong> ferro e<br />
transforman<strong>do</strong>-se <strong>de</strong> vilarejo periférico em cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> importante localização estratégica.<br />
Nesse ínterim, cabe ressaltar ainda que a chegada <strong>do</strong> trem e <strong>do</strong>s grupos imigrantes trazem<br />
para a cida<strong>de</strong> novas atrações e equipamentos para o divertimento público como teatro,<br />
cinematógrafo, casas <strong>de</strong> bilhar, cafés e sorveterias (MACHADO, 2000).<br />
De acor<strong>do</strong> com Sérgio Lamarão 22 , a mascateação era inicialmente a ativida<strong>de</strong><br />
abraçada pelos imigrantes sírios e libaneses ao aportarem em solo brasileiro, uma vez que a<br />
maioria <strong>de</strong>les vinha com o objetivo <strong>de</strong> permanecer temporariamente, acumular algum capital e<br />
retornar. A atuação profissional não se reduzia às cida<strong>de</strong>s: os mascates comercializavam seus<br />
produtos nas fazendas e povoa<strong>do</strong>s, razão pela qual são consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s por muitos pesquisa<strong>do</strong>res<br />
como os funda<strong>do</strong>res <strong>do</strong> chama<strong>do</strong> “comércio popular” no Brasil. Era comum que os mascates<br />
21 “ Presume-se que ao longo <strong>do</strong> tempo, pessoas <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> 40 países tenham se fixa<strong>do</strong> em Campo Gran<strong>de</strong><br />
exercen<strong>do</strong> importante influência no <strong>de</strong>senvolvimento da região, pela migração <strong>de</strong> recursos e transmissão <strong>de</strong><br />
valores culturais incorpora<strong>do</strong>s na comunida<strong>de</strong>.” (TEIXEIRA, 2004, p. 9.) Dentre os grupos imigrantes,<br />
lembramos os italianos, alemães, gregos, poloneses, portugueses, espanhóis, japoneses, paraguaios e bolivianos,<br />
conforme Trad (1999, p. 297-351).<br />
22 Lamarão ainda explicita que, em to<strong>do</strong> o território brasileiro, os sírios e libaneses, assim como seus<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes, “motiva<strong>do</strong>s pela crença <strong>de</strong> que qualquer lugarejo constituía um merca<strong>do</strong> em potencial para o<br />
mascate fixar-se como comerciante, encontraram oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabalho e experimentaram um franco<br />
processo <strong>de</strong> ascensão social.” (p.179)<br />
73
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
bem-sucedi<strong>do</strong>s abrissem uma loja <strong>de</strong> teci<strong>do</strong>s e armarinho e, parentes e conterrâneos<br />
emigrassem para o país, atraí<strong>do</strong>s pelo crescimento <strong>do</strong>s negócios. “Do varejo, sírios e libaneses<br />
partiram para o comércio atacadista e posteriormente para a indústria têxtil.” (LAMARÃO<br />
apud OLIVEIRA, 2004, p.179-182)<br />
O que se vê no <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> é uma trajetória idêntica: após<br />
mascatearem pelo interior <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> – naquela época, ainda nomea<strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> –<br />
ven<strong>de</strong>n<strong>do</strong> toda espécie <strong>de</strong> artigos <strong>de</strong> primeira necessida<strong>de</strong>, os imigrantes libaneses chegaram a<br />
Campo Gran<strong>de</strong>, on<strong>de</strong>, <strong>de</strong> “Mascates mágicos / Que vendiam em cada peça <strong>de</strong> seda / um sonho<br />
<strong>de</strong> odalisca e <strong>de</strong> sultão”, fundaram suas próprias lojas. Surgiram, assim, os centros comerciais<br />
como os da Rua 14 <strong>de</strong> Julho e da Avenida Calógeras, conforme assegura Fábio Trad (1999).<br />
Por meio <strong>do</strong>s imigrantes, a tradição comercial, responsável por um porcentual<br />
consi<strong>de</strong>rável da economia <strong>do</strong> Líbano, é assimilada por Campo Gran<strong>de</strong>. Atualmente, a cida<strong>de</strong>,<br />
preenchida por lojas, testemunha que as contribuições <strong>do</strong>s libaneses ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong><br />
comércio local ainda sobrevivem, firmes e impávidas. Em muitas das famílias libanesas, a<br />
prosperida<strong>de</strong> obtida com o comércio possibilitou aos pais provi<strong>de</strong>nciar estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong><br />
aos <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes, que se tornaram médicos, advoga<strong>do</strong>s, engenheiros, políticos <strong>de</strong> renome.<br />
Um exemplo notável pô<strong>de</strong> ser constata<strong>do</strong> na última eleição para a prefeitura <strong>de</strong> Campo<br />
Gran<strong>de</strong>, cuja vitória foi obtida pelo médico Nélson Trad Filho, filho <strong>do</strong> <strong>de</strong>puta<strong>do</strong> fe<strong>de</strong>ral<br />
Nélson Trad, ambos <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes <strong>do</strong>s libaneses que emigraram para a capital <strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong><br />
<strong>do</strong> <strong>Sul</strong>.<br />
Na última estrofe <strong>do</strong> poema, averiguamos o eu-lírico relatan<strong>do</strong> que “no meio<br />
<strong>do</strong>s libaneses”, isto é, na Rua 14 <strong>de</strong> Julho, ficava a residência on<strong>de</strong> morou durante a infância.<br />
Observamos que o conteú<strong>do</strong> <strong>de</strong>sses versos contém as penetrações biográficas <strong>de</strong> Naveira,<br />
conforme testemunhou Arlinda Cantero Dorsa (2001, p.43): “Foi na rua 14 <strong>de</strong> julho, rua da<br />
infância <strong>de</strong> Raquel Naveira que eles [os imigrantes libaneses] e a poetisa se cruzaram ... para<br />
sempre.”<br />
A presença das vertentes culturais em Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994) não<br />
po<strong>de</strong> ser ignorada, pois segun<strong>do</strong> Josenia Chisini (2004, p.176), nesta obra “comparece a força<br />
étnica conjugada por manifestações transculturais”, na qual “a construção narrativa <strong>de</strong>monstra<br />
várias facetas culturais, formas híbridas <strong>de</strong> aculturamento, empréstimos e trocas entre os<br />
costumes da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> origem portuguesa e as tradições árabes e armênias.” Dentre as<br />
“manifestações transculturais” verificadas na coletânea <strong>de</strong> Naveira, preten<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>monstrar a<br />
aculturação que ocorre no poema “Camisaria”:<br />
74
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Confeccionamos camisas,<br />
Camisas leves,<br />
De seda,<br />
De formosas estampas,<br />
Entrem senhores,<br />
madames,<br />
Entrem.<br />
Quem não precisa <strong>de</strong> camisa?<br />
Nem era mesmo feliz<br />
O homem que não usava camisa,<br />
Na camisa, a elegância,<br />
A dignida<strong>de</strong>,<br />
Aprecie esta:<br />
Que talhe!<br />
Que colarinho!<br />
Entrem senhores,<br />
madames,<br />
Conheçam nossas camisas <strong>de</strong> linho.<br />
Não falo bem o português,<br />
Nem minha irmã Laila<br />
Que veio <strong>do</strong> Líbano,<br />
Mas tenho um dicionário <strong>de</strong> francês<br />
E <strong>de</strong>pois<br />
Basta ver o artigo,<br />
Sentir a maciez<br />
Para virar freguês,<br />
Entrem senhores,<br />
madames,<br />
Entrem,<br />
Entrem. ( NAVEIRA, 1994, p. 37-38 )<br />
Para <strong>de</strong>monstrarmos as vertentes culturais nesse poema – e também nos<br />
próximos – recorremos, inicialmente, ao texto “Imigrantes em região <strong>de</strong> fronteira: condição<br />
infernal” (2004), no qual Marco Aurélio <strong>de</strong> Oliveira analisa a presença <strong>de</strong> palestinos em<br />
região <strong>de</strong> fronteira, a saber, na fronteira <strong>do</strong> Brasil com a Bolívia, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Corumbá, no<br />
Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. O autor assinala que o fator que concorre para que a<br />
aculturação <strong>do</strong> imigrante seja mais acentuada é o comércio, já que é por meio <strong>de</strong>ste que, além<br />
<strong>de</strong> se obter a sobrevivência, “aperfeiçoa-se o idioma, reconhece-se a cultura da localida<strong>de</strong>, e,<br />
principalmente, impõe-se a condição imigrante.” A imposição <strong>de</strong>sta condição está relacionada<br />
solução <strong>do</strong> dilema da transitorieda<strong>de</strong> por que passa o estrangeiro: trata-se <strong>de</strong> imigrante, <strong>de</strong><br />
exila<strong>do</strong> ou <strong>de</strong> naturaliza<strong>do</strong>?<br />
Quan<strong>do</strong> a condição imigrante é caracterizada, o comércio ajuda a “resolver” o<br />
problema concernente à “precarieda<strong>de</strong> legal e política <strong>do</strong> indivíduo”, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que “sejam<br />
coloca<strong>do</strong>s os traços que permitam distinguí-los (sic) <strong>do</strong>s <strong>de</strong>mais comerciantes ou <strong>do</strong>s <strong>de</strong>mais<br />
habitantes da localida<strong>de</strong>”. Dito <strong>de</strong> outro mo<strong>do</strong>, “o comércio somente será eficiente se a<br />
75
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
sobrevivência, o idioma e a cultura local forem apreendi<strong>do</strong>s por uma pessoa que venda<br />
diferente, fale diferente e possua elementos culturais diferentes, ou seja, por um imigrante.” É<br />
importante observar que essas reflexões <strong>de</strong> Oliveira não se restringem aos palestinos: são<br />
estendidas também aos sírios e libaneses. (OLIVEIRA, 2004, p. 195-196, 199)<br />
A nosso ver, muitas das questões sublinhadas por Oliveira “atravessam” o<br />
poema. O eu poético confecciona e ven<strong>de</strong> camisas e seu empenho para ser simpático para com<br />
os clientes é tanto um esforço que visa à sobrevivência como a aceitação, como vê-se nos<br />
versos: “Quem não precisa <strong>de</strong> camisa? / Nem era mesmo feliz / O homem que não usava<br />
camisa, / Na camisa, a elegância, / A dignida<strong>de</strong>”, “Entrem senhores, / madames, / Conheçam<br />
nossas camisas <strong>de</strong> linho.” O comerciante libanês se distingue como tal, apesar <strong>de</strong> não ser<br />
completamente fluente no idioma português, e o dilema da aceitabilida<strong>de</strong>, imposta pela<br />
condição imigrante, é soluciona<strong>do</strong> por meio <strong>do</strong> comércio. Nesses mol<strong>de</strong>s, dá-se a aculturação,<br />
isto é, a “influência recíproca <strong>de</strong> elementos culturais entre grupos <strong>de</strong> indivíduos”, conforme<br />
bem <strong>de</strong>finiu Francisco da Silveira Bueno (1986, p.46).<br />
Em Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), a aceitação <strong>do</strong>s imigrantes pela população<br />
<strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> – e agora não estamos mais nos restringin<strong>do</strong> aos palestinos, sírios e<br />
libaneses, evi<strong>de</strong>ncia<strong>do</strong>s no ensaio <strong>de</strong> Oliveira –, que se <strong>de</strong>u principalmente por meio <strong>do</strong><br />
comércio, po<strong>de</strong> ser verificada também em excertos <strong>do</strong>s textos poéticos “Passeio pela 14”,<br />
“Móveis”, entre outros.<br />
Quanto aos empréstimos e trocas entre os costumes <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> e as<br />
tradições <strong>do</strong>s imigrantes, <strong>de</strong>nota<strong>do</strong>s por Chisini (2004), estes po<strong>de</strong>m ser investiga<strong>do</strong>s no<br />
poema “Dona Tita”:<br />
Dona Tita faz quitutes<br />
Da cozinha <strong>de</strong> Beirute:<br />
Charutos <strong>de</strong> folhas <strong>de</strong> uva,<br />
Colhidas da parreira <strong>do</strong> quintal,<br />
Quibe <strong>de</strong> carne crua<br />
E trigo moí<strong>do</strong>,<br />
Tabule <strong>de</strong> hortelã,<br />
Pasta <strong>de</strong> grão-<strong>de</strong>-bico,<br />
Coalhada seca,<br />
Tu<strong>do</strong> rega<strong>do</strong> <strong>de</strong> azeite,<br />
Curti<strong>do</strong> <strong>de</strong> cebola,<br />
Acompanha<strong>do</strong> <strong>de</strong> pão branco e fino;<br />
Para sobremesa<br />
Doces oleosos<br />
De semolina<br />
E gergelim.<br />
Dona Tita sabe:<br />
Ninguém resiste<br />
76
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Aos quitutes <strong>de</strong> Beirute. (NAVEIRA, 1994, p.79)<br />
O eu-lírico se reporta a uma das mais basilares tradições culturais <strong>do</strong>s<br />
imigrantes árabes: a preparação da comida. De acor<strong>do</strong> com as pesquisas <strong>de</strong> Cecília Kemel<br />
(2000, p.58, 65-67), o preparo da comida chega a ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> um rito, que não <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
hora nem <strong>de</strong> lugar para que seja pratica<strong>do</strong>. Apesar disso, alerta a estudiosa, cada <strong>de</strong>talhe <strong>de</strong>sse<br />
rito “conduz à terra <strong>do</strong>s ancestrais”, pois, na reprodução <strong>de</strong> cada prato típico é renovada a<br />
alimentação <strong>do</strong>s antepassa<strong>do</strong>s, por meio da qual “os seus familiares reviverão a terra <strong>de</strong><br />
origem.” Por ser basicamente artesanal, a preparação das refeições é morosa, mesmo na<br />
atualida<strong>de</strong>, sen<strong>do</strong> que a mulher é a responsável por essa ativida<strong>de</strong>.<br />
Nota-se que muitos <strong>do</strong>s elementos da tradição culinária árabe, mais<br />
especificamente da libanesa, presentes na primeira estrofe (“Quibe <strong>de</strong> carne crua / E trigo<br />
moí<strong>do</strong>”, “Pasta <strong>de</strong> grão <strong>de</strong> bico”, “Doces oleosos”), estão em consonância com os estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
Kemel. 23 Essa observação é útil para en<strong>do</strong>ssar o que as pesquisa<strong>do</strong>ras Chisini (2004) e Rosa<br />
(1994) assinalaram em seus estu<strong>do</strong>s: na produção literária naveiriana a ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pesquisa<br />
histórica prece<strong>de</strong> a composição da obra artística. Chisini (2000) apontou esse aspecto ao se<br />
referir à elaboração <strong>de</strong> Guerra entre irmãos (1997) 24 , e Rosa à <strong>de</strong> Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor<br />
(1994). Ao fazê-lo, Rosa afirmou:<br />
Para transformar em poesia to<strong>do</strong> esse complexo <strong>de</strong> costumes, crenças, religão (sic),<br />
que constitui a cultura <strong>de</strong> árabes e armênios a autora fez cuida<strong>do</strong>sa pesquisa em<br />
livros <strong>de</strong> história e geografia, o que lhe permitiu navegar com segurança nos<br />
assuntos aborda<strong>do</strong>s. (ROSA, 1994, p.5)<br />
Feita essa observação, e voltan<strong>do</strong> nossa atenção para o poema “Dona Tita”,<br />
asseveramos que o eu-lírico se mostra acultura<strong>do</strong> por meio da alimentação típica <strong>do</strong> Líbano.<br />
Há um redimensionamento <strong>do</strong>s espaços: a culinária típica da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Beirute, a capital <strong>do</strong><br />
Líbano, passa a ser apreciada pela população da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>. Assim, cabe dizer<br />
que os conteú<strong>do</strong>s poéticos comportam importantes questões pertinentes à cultura, nas quais<br />
repousam noções indispensáveis ao estu<strong>do</strong> e à compreensão <strong>do</strong>s “fenômenos” culturais<br />
globais: 1) “Por to<strong>do</strong> o globo, os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão<br />
mudan<strong>do</strong> <strong>de</strong> composição, diversifican<strong>do</strong> as culturas e pluralizan<strong>do</strong> as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s culturais”<br />
(HALL, 2003, p. 44-45). “As socieda<strong>de</strong>s multiculturais não são algo novo. [...] a migração e<br />
23 Essas observações da autora, das quais nos utilizamos, não estão restritas aos núcleos imigrantes da capital<br />
gaúcha, mas estão relacionadas aos imigrantes árabes <strong>de</strong> um mo<strong>do</strong> geral.<br />
24 Nesse ensaio, a estudiosa da obra naveiriana assevera que a “inclinação para a reconstituição da História é uma<br />
marca <strong>do</strong> amadurecimento artístico da escritora”. (CHISINI, 2000, p. 27).<br />
77
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
os <strong>de</strong>slocamentos <strong>do</strong>s povos têm constituí<strong>do</strong> mais a regra que a exceção, produzin<strong>do</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s étnica ou culturalmente ‘mistas’ ”(HALL, 2003, p.55).<br />
As afirmações <strong>de</strong> Hall, relacionadas acima, são úteis para <strong>de</strong>notarmos o<br />
pluralismo cultural que caracteriza a cultura sul-mato-grossense, assim como também po<strong>de</strong>m<br />
ser estendidas à cultura da maioria, senão da totalida<strong>de</strong>, <strong>do</strong>s povos que habitam o planeta.<br />
Deve-se ter em mente que o termo hibridismo (hibridização ou hibridação) é um consenso<br />
entre os pesquisa<strong>do</strong>res quan<strong>do</strong> se referem às migrações e as socieda<strong>de</strong>s multiculturais, o que<br />
po<strong>de</strong> ser exemplifica<strong>do</strong> na resposta <strong>de</strong> Hall à indagação <strong>de</strong> Kuang-Hsing Chen no tocante à<br />
“energia criativa” da diáspora: “Acho que a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural não é fixa, é sempre híbrida.”<br />
(HALL, 2003, 432-433) . .<br />
No poema “Dona Tita”, verifica-se o testemunho literário <strong>do</strong> hibridismo que<br />
marca a contribuição da culinária árabe/libanesa para com a cultura sul-mato-grossense,<br />
<strong>de</strong>stacadamente em Campo Gran<strong>de</strong>, cida<strong>de</strong> que <strong>de</strong>teve o maior afluxo <strong>de</strong> imigrantes <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong>. Por meio da assimilação <strong>do</strong>s pratos típicos árabes/libaneses, a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural <strong>do</strong><br />
<strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> torna-se híbrida, conforme se interpreta no texto poético e lê-se “Na rota<br />
da cultura popular sul-mato-grossense”, <strong>de</strong> Sigrist (2000, p.40): “Com a chegada <strong>do</strong>s<br />
palestinos, libaneses, turcos, armênios, a partir <strong>de</strong> 1910, novos hábitos vão sen<strong>do</strong><br />
incorpora<strong>do</strong>s à cultura <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, principalmente na alimentação e formas <strong>de</strong> comercializar.”<br />
Nota-se ainda que a fala da pesquisa<strong>do</strong>ra inclui as “formas <strong>de</strong> comercializar” como uma das<br />
contribuições <strong>do</strong>s imigrantes à cultura <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, o que concorre para corroborar a presença<br />
das vertentes culturais em Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994), como procuramos <strong>de</strong>stacar nos<br />
poemas “Rumo ao Centro-Oeste” e “Camisaria”.<br />
Acreditamos que as citações <strong>de</strong> Sigrist e <strong>de</strong> Hall, com as quais vimos tentan<strong>do</strong><br />
construir nosso pensamento, fornecem também o contexto para pontuarmos que Campo<br />
Gran<strong>de</strong> é uma cida<strong>de</strong> multicultural. Enten<strong>de</strong>mos que o multiculturalismo que hoje constitui a<br />
capital <strong>do</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> originou-se na diáspora <strong>do</strong>s povos árabes e armênios rumo ao<br />
Esta<strong>do</strong>, em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> perseguições políticas ou religiosas e, ao abrigar um misto <strong>de</strong><br />
diferentes etnias – libaneses, turcos, sírios, <strong>de</strong>ntre povos <strong>de</strong> outras nacionalida<strong>de</strong>s –, na<br />
atualida<strong>de</strong>, Campo Gran<strong>de</strong> notabiliza-se pela sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> cultural híbrida, que se evi<strong>de</strong>ncia,<br />
por exemplo, nos seus costumes e na sua literatura 25 .<br />
25 Maria Adélia Menegazzo conceitua a literatura campo-gran<strong>de</strong>nse como “uma gran<strong>de</strong> colagem <strong>de</strong> estilos,<br />
linguagens e temas”. Para a estudiosa, esse “fenômeno” guarda relações com os intercâmbios culturais,<br />
provenientes da interação <strong>de</strong> diferentes povos: “Se Campo Gran<strong>de</strong> tem uma fisionomia, e <strong>de</strong>la já se ressaltou<br />
tantas vezes o caráter multifaceta<strong>do</strong>, resulta<strong>do</strong> das constantes trocas culturais que estão na base <strong>de</strong> sua formação,<br />
na literatura essa pluralida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vozes se fará ouvir e raramente encontraremos uma relação direta <strong>de</strong> ilustração<br />
ou reescritura <strong>de</strong> acontecimentos urbanos. A literatura é o espaço <strong>de</strong> todas as possibilida<strong>de</strong>s, das que<br />
78
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
No poema “Estava escrito”, que compõe a coletânea naveiriana, o eu-lírico<br />
“ce<strong>de</strong>” a voz aos imigrantes e, por meio <strong>de</strong>les, <strong>de</strong>nuncia a formação multicultural <strong>do</strong> <strong>Mato</strong><br />
<strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>, nestes versos que galgam dimensões épicas ao exporem a saga <strong>do</strong>s povos<br />
árabes e armênios no Esta<strong>do</strong>:<br />
Estava escrito,<br />
Era aqui o lugar on<strong>de</strong> aportaríamos,<br />
Imigrantes,<br />
Gente que passou provações.<br />
Esta terra disse sim<br />
A to<strong>do</strong>s nós<br />
E repartiu conosco a ternura da vida.<br />
Este cerra<strong>do</strong> vermelho<br />
Acolheu nossas nacionalida<strong>de</strong>s,<br />
Nossas preces<br />
E nos uniu numa osmose <strong>de</strong> lama e luz.<br />
Muitas histórias,<br />
Gran<strong>de</strong>s e humil<strong>de</strong>s,<br />
Construiriam este sul <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>,<br />
Estava escrito. (NAVEIRA, 1994, p.99)<br />
No prosseguimento <strong>de</strong>sta investigação, procuraremos <strong>de</strong>stacar com mais ênfase<br />
o papel da memória na coletânea naveiriana, pois até o momento este enfoque parece ter<br />
fica<strong>do</strong> mais restrito à última estrofe <strong>do</strong> texto poético “Rumo ao Centro-Oeste”. Para a empresa<br />
que ambicionamos alcançar, pensamos ser <strong>de</strong> muita valia as consi<strong>de</strong>rações <strong>de</strong> Sérgio<br />
Yonamine, inseridas no ensaio “A cida<strong>de</strong> da memória”. Na perspectiva <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> autor,<br />
Lembrar é ser cultural, porque, além <strong>do</strong> chama<strong>do</strong> tempo cósmico, este inapreensível<br />
e abstrato, ente psicológico e subjetivo que criamos para tentar enten<strong>de</strong>r o que<br />
acontece, também inventamos outras categorias <strong>de</strong> tempo, se assim po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finir.<br />
É o tempo humano, basea<strong>do</strong> justamente em nossas vivências. Po<strong>de</strong>mos também<br />
chamar <strong>de</strong> tempo-histórico porque é sempre um tempo relata<strong>do</strong>. É esse tempo<br />
relata<strong>do</strong>, fundamentalmente cultural que dá valores, escalas e significa<strong>do</strong>s aos atos e<br />
fatos e dá a eles seqüência e até uma lógica argumentada. (sic) (YONAMIME, 1995,<br />
p. 10)<br />
Os posicionamentos <strong>de</strong> Yonamine nos ajudam a pensar como da memória<br />
naveiriana emanam as vertentes culturais que permeiam a coletânea Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor<br />
(1994). As lembranças que Naveira <strong>de</strong>tém <strong>do</strong>s primórdios <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> e <strong>do</strong>s povos<br />
árabes e armênios que colaboraram, <strong>de</strong> diversas maneiras, no <strong>de</strong>senvolvimento da cida<strong>de</strong> se<br />
tornam culturais na medida em que reativam os elementos culturais “perdi<strong>do</strong>s” no tempo. O<br />
tempo humano, no qual residiam as lembranças da poetisa, é reinventa<strong>do</strong> em sua obra. Na<br />
poesia narrativa <strong>de</strong> Naveira, esse tempo é relata<strong>do</strong> e se torna “fundamentalmente cultural”,<br />
aconteceram, que acontecem e que po<strong>de</strong>rão acontecer” (MENEGAZZO, 2004, p. 55-56).<br />
79
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
pois “dá valores, escalas e significa<strong>do</strong>s aos atos e fatos e dá a eles seqüência e até uma lógica<br />
argumentada”. Nesses termos, “lembrar é ser cultural”.<br />
À explanação <strong>de</strong> Yonamine, precisamos acrescentar a lição que apreen<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong> Vani Kenski (1994, p.48), quan<strong>do</strong> consi<strong>de</strong>ra que a “lógica das lembranças é a da emoção”,<br />
tanto que, nos estu<strong>do</strong>s da memória, quan<strong>do</strong> se indaga aos <strong>de</strong>poentes sobre suas vivências, o<br />
que pre<strong>do</strong>mina nas respostas “vai dizer das relações familiares, sociais, culturais”. Trazen<strong>do</strong><br />
essas <strong>de</strong>clarações para o contexto da investigação, nos sentimos respalda<strong>do</strong>s para analisar o<br />
poema “Ruiva”. Neste, a amiza<strong>de</strong> <strong>de</strong> infância travada entre Naveira e Sônia Chinzarian 26 , esta,<br />
filha <strong>de</strong> imigrantes armênios, forneceu material para a composição <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> texto literário,<br />
que transcrevemos em seguida:<br />
Na loja Roche<strong>do</strong><br />
Refulgiam baixelas,<br />
Panelas,<br />
A<strong>do</strong>rnos <strong>de</strong> prata,<br />
Vasilhames <strong>de</strong> cobre,<br />
Faqueiros <strong>de</strong> aço.<br />
Quan<strong>do</strong> o sol passava pelas prateleiras<br />
Os metais cintilavam<br />
Entre papéis púrpuros<br />
E laços <strong>de</strong> fita.<br />
Brilho maior<br />
Eram os cabelos vermelhos,<br />
Cascata <strong>de</strong> fogo,<br />
Torrente <strong>de</strong> ferrugem<br />
Sobre os ombros<br />
Da menina armênia. (NAVEIRA, 1994, p. 49)<br />
É importante reparar que a coletânea Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor (1994) é<br />
confessional: os restos da memória naveiriana converti<strong>do</strong>s em arte constituem a obra literária.<br />
Por essa razão, a lembrança da “menina Armênia” (Sônia Chinzarian) é motivada pela relação<br />
social <strong>de</strong> amiza<strong>de</strong> que Naveira mantinha por aquela. A emoção da reminiscência é recobrada<br />
por meio <strong>do</strong> cromatismo: “Brilho maior / Eram os cabelos vermelhos”. No ensaio “Memória,<br />
esquecimento, silêncio”, Michael Pollak (1989, p.11) pon<strong>de</strong>ra que os elementos “<strong>de</strong> or<strong>de</strong>m<br />
sensorial: o barulho, os cheiros, as cores” atuam na manutenção das lembranças mais<br />
próximas, “aquelas <strong>de</strong> que guardamos recordações pessoais”, o que po<strong>de</strong> ser visto no poema<br />
“Ruiva”. Neste, a cor vermelha pre<strong>do</strong>mina sobre o cromatismo presente nas “Panelas, /<br />
A<strong>do</strong>rnos <strong>de</strong> prata, / Vasilhames <strong>de</strong> cobre”, uma vez que é o vermelho que aciona a memória<br />
literária naveiriana.<br />
26 Entrevista concedida pela escritora Raquel Naveira (no prelo).<br />
80
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Quase que simultaneamente à produção <strong>do</strong> poema por meio da elaboração<br />
artística <strong>do</strong>s fragmentos da memória da escritora, ocorre a propulsão das vertentes culturais no<br />
texto. A composição poemática recupera a trajetória da família armênia Chinzarian em <strong>Mato</strong><br />
<strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>, no que tange ao aculturamento sofri<strong>do</strong> pela mesma em virtu<strong>de</strong> das ativida<strong>de</strong>s<br />
comerciais <strong>de</strong>senvolvidas na Loja Roche<strong>do</strong>. Explican<strong>do</strong> melhor: Sônia, a menina armênia <strong>de</strong><br />
cabelos vermelhos como cascata <strong>de</strong> fogo, é <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Arthur João Chinzarian, que<br />
emigrou para o Brasil em 1911 fugin<strong>do</strong> <strong>do</strong>s vários massacres impostos pelo Império Turco-<br />
Otomano aos armênios como conseqüência da sua recusa em a<strong>do</strong>tar o islamismo 27 .<br />
Desembarcan<strong>do</strong> em Campo Gran<strong>de</strong> em 1945, a família Chinzarian monta a<br />
Funilaria Roche<strong>do</strong>, na Rua Dom Aquino, entre a Rua 14 <strong>de</strong> Julho e a Avenida Calógeras, ao<br />
la<strong>do</strong> <strong>do</strong> antigo Cine Santa Helena. O trabalho árduo e intenso na confecção <strong>de</strong> calhas e<br />
canaletas possibilitou à família inaugurar em 1947, na Rua 14 <strong>de</strong> Julho, a Casa Roche<strong>do</strong>,<br />
especializada em alumínios, louças e artigos para presente. A prosperida<strong>de</strong> alcançada nesse<br />
comércio proporcionou ao casal Muxeque e Maria Arakelian financiar a educação <strong>de</strong> seus<br />
filhos: Arthur tornou-se engenheiro civil e Sônia, que atualmente resi<strong>de</strong> em São Paulo,<br />
arquiteta 28 .<br />
Concluin<strong>do</strong>, pon<strong>de</strong>ramos que as vertentes culturais presentes em Sob os cedros<br />
<strong>do</strong> Senhor (1994) têm suas origens relacionadas à memória <strong>de</strong> Naveira, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> emergem as<br />
lembranças que serão lapidadas até se tornarem poesia confessional. Esta poética confessional<br />
busca recuperar, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> simultâneo, o lega<strong>do</strong> multicultural forneci<strong>do</strong> pelos imigrantes<br />
árabes e armênios ao <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> – principalmente à cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> – e<br />
parte da infância da escritora, conforme procuramos <strong>de</strong>monstrar por meio <strong>de</strong> nossas<br />
exposições.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ACULTURAÇÃO. In: BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário escolar da língua<br />
portuguesa. 11. ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Fundação <strong>de</strong> Assistência ao Estudante, 1986. p. 46. 1263<br />
p.<br />
CANDIDO, Antonio. Crítica e sociologia. In: __________________. Literatura e socieda<strong>de</strong>:<br />
estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> teoria e história literária. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. cap. 1, p.<br />
1-9. 230 p. (Coleção Ensaio, 3).<br />
27 A violenta perseguição religiosa empreendida pelo Império Turco-Otomano aos armênios abrange,<br />
aproximadamente, <strong>do</strong> século XIX até 1915, quan<strong>do</strong> o governo turco resolve <strong>de</strong>portar a população armênia (cerca<br />
<strong>de</strong> <strong>do</strong>is milhões <strong>de</strong> pessoas) para a Síria e a Mesopotâmia (atual Iraque). Essa <strong>de</strong>portação fica conhecida como<br />
“genocídio armênio” por provocar centenas <strong>de</strong> milhares <strong>de</strong> mortes. (CHINZARIAN, 1999, p. 327)<br />
28 CHINZARIAN, 1999, p. 328-329.<br />
81
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
CHINZARIAN, Muxeque. Armênios. In: Campo Gran<strong>de</strong> - 100 anos <strong>de</strong> construção. Campo<br />
Gran<strong>de</strong>: Matriz Editora, 1999. p. 327-329. 420 p.<br />
CHISINI, Josenia Marisa. A difusão <strong>do</strong> trabalho literário <strong>de</strong> Raquel Naveira. In: SANTOS,<br />
Paulo Sérgio Nolasco <strong>do</strong>s (Org.). Ciclos <strong>de</strong> literatura comparada. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Ed.<br />
UFMS, 2000. p. 23-40. 240 p. (Fontes Novas. Ciências Humanas).<br />
CHISINI, Josenia Marisa. Raquel Naveira: a fian<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> textos poéticos. In: RUSSEFF, Ivan;<br />
MARINHO, Marcelo; SANTOS, Paulo Sérgio Nolasco <strong>do</strong>s (Orgs.). Ensaios farpa<strong>do</strong>s: arte e<br />
cultura no Pantanal e no cerra<strong>do</strong>. 2. ed. rev. e ampl. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Ed. UCDB; Ed.<br />
Letra Livre, 2004. p. 173-187. 232 p.<br />
DORSA, Arlinda Cantero. Raquel Naveira e a literatura sul-mato-grossense. In:<br />
___________. As marcas <strong>do</strong> regionalismo na poesia <strong>de</strong> Raquel Naveira. Campo Gran<strong>de</strong>,<br />
MS: Ed. UCDB, 2001. cap. 2, p. 27-65. 122 p.<br />
HALL, Stuart. A questão multicultural. In: ____________. Da diáspora: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e<br />
mediações culturais. SOVIK, Liv (Org.). Tradução <strong>de</strong> A<strong>de</strong>laine La Guardia Resen<strong>de</strong> et al.<br />
Belo Horizonte: Ed. UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. p. 51-100.<br />
434 p. Original inglês. (Coleção Humanitas).<br />
HALL, Stuart. A formação <strong>de</strong> um intelectual diaspórico: uma entrevista com Stuart Hall, <strong>de</strong><br />
Kuan-Hsing Chen. In: ____________. Da diáspora: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e mediações culturais.<br />
SOVIK, Liv (Org.). Tradução <strong>de</strong> A<strong>de</strong>laine La Guardia Resen<strong>de</strong> et al. Belo Horizonte: Ed.<br />
UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. p. 407-434. 434 p. Original<br />
inglês. (Coleção Humanitas).<br />
HALL, Stuart. Pensan<strong>do</strong> a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In: ____________.<br />
Da diáspora: i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e mediações culturais. SOVIK, Liv (Org.). Tradução <strong>de</strong> A<strong>de</strong>laine La<br />
Guardia Resen<strong>de</strong> et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no<br />
Brasil, 2003. p. 25-50. 434 p. Original inglês. (Coleção Humanitas).<br />
KEMEL, Cecília. A Síria e o Líbano. In: _________________ . Sírios e libaneses: aspectos<br />
da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> árabe no sul <strong>do</strong> Brasil. Santa Cruz <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>: Ed. UNISC, 2000. p. 17-24. 104 p.<br />
KEMEL, Cecília. Os núcleos <strong>de</strong> Porto Alegre. In: _________________ . Sírios e libaneses:<br />
aspectos da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> árabe no sul <strong>do</strong> Brasil. Santa Cruz <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>: Ed. UNISC, 2000. p. 37-74.<br />
104 p.<br />
KENSKI, Vani Moreira. Memória e ensino. In: Ca<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Pesquisa. São Paulo: Fundação<br />
Carlos Chagas, n. 90, ago. 1994. p. 45-51.<br />
LAMARÃO, Sérgio Ta<strong>de</strong>u <strong>de</strong> Niemeyer. I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> étnica e representação política:<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> sírios e libaneses no Parlamento brasileiro, 1945-1998. Notas sobre uma<br />
pesquisa em andamento. In: OLIVEIRA, Marco Aurélio Macha<strong>do</strong> <strong>de</strong>. Imigrantes em região<br />
<strong>de</strong> fronteira: condição infernal. In: ____________ (Org.). Guerras e imigrações. Campo<br />
Gran<strong>de</strong>, MS: Ed. UFMS, 2004. p. 169-188. 204 p.<br />
MACHADO, Eduar<strong>do</strong> O. O passa<strong>do</strong>. In: Campo Gran<strong>de</strong> 2000. Campo Gran<strong>de</strong>: Sampaio<br />
Barros Editora, 2000. p. 12-31. 126 p.<br />
82
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
MENEGAZZO, Maria Adélia. Uma gran<strong>de</strong> colagem <strong>de</strong> estilos, linguagens e temas. In:<br />
REVISTA ARCA: Revista <strong>de</strong> divulgação <strong>do</strong> arquivo histórico <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>-MS. Campo<br />
Gran<strong>de</strong>, MS: Gibim, n. 10, 2004. p. 55-56. 64 p.<br />
NAVEIRA, Raquel. Poesia sociológica. In: ____________. Fian<strong>de</strong>ira. São Paulo: Estação<br />
Liberda<strong>de</strong>, 1992. p. 39-41. 95 p.<br />
NAVEIRA, Raquel. Sob os cedros <strong>do</strong> Senhor: poemas inspira<strong>do</strong>s na imigração árabe e<br />
armênia em <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>. São Paulo: João Scortecci Editora, 1994. 101 p.<br />
OLIVEIRA, Bernar<strong>do</strong>. Sobre o confessional. In: REVISTA MATRAGA. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Ed.<br />
UERJ, v. 3, n. 4/5, jan./ago. 1988. p. 70-74. 122 p.<br />
OLIVEIRA, Marco Aurélio Macha<strong>do</strong> <strong>de</strong>. Imigrantes em região <strong>de</strong> fronteira: condição<br />
infernal. In: ____________ (Org.). Guerras e imigrações. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Ed. UFMS,<br />
2004. p. 189-203. 204 p.<br />
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Tradução <strong>de</strong> Dora Rocha Flaksman. In:<br />
Estu<strong>do</strong>s Históricos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: FAPERJ, v. 2, n. 3, 1989. p. 3-15.<br />
ROSA, Maria da Glória Sá. A infância revestida na literatura. Primeira Hora, Campo Gran<strong>de</strong>,<br />
MS, 29 nov. 2002. Hora Literária, p. 15.<br />
ROSA, Maria da Glória Sá. A poesia como resgate da história – a propósito <strong>do</strong> livro Sob os<br />
cedros <strong>do</strong> Senhor <strong>de</strong> Raquel Naveira. Correio <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, Campo Gran<strong>de</strong>, MS, 23-24 jul.<br />
1994. Ca<strong>de</strong>rno B, Suplemento Cultural, p. 5.<br />
SIGRIST, Marlei. Na rota da cultura popular sul-mato-grossense. In: _____________ . Chão<br />
bati<strong>do</strong>: a cultura popular <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>: folclore, tradição. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Ed.<br />
UFMS, 2000. p. 33-44.<br />
TEIXEIRA, Célia. Essa gente campo-gran<strong>de</strong>nse. In: REVISTA ARCA: Revista <strong>de</strong> divulgação<br />
<strong>do</strong> arquivo histórico <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>-MS. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Gibim, n. 10, 2004. p. 3-14.<br />
64 p.<br />
TRAD, Fábio. Libaneses. In: Campo Gran<strong>de</strong> - 100 anos <strong>de</strong> construção. Campo Gran<strong>de</strong>, MS:<br />
Matriz Editora, 1999. p. 297-300. 420 p.<br />
YONAMINE, Sérgio. A cida<strong>de</strong> da memória. In: REVISTA ARCA: Revista <strong>de</strong> divulgação <strong>do</strong><br />
arquivo histórico <strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong> – MS. Campo Gran<strong>de</strong>, MS: Gráfica e Editora Ruy<br />
Barbosa, n. 5, out. 1995. p. 10-11. 68 p.<br />
83
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
RICARDO GUILHERME DICKE: UM GRANDE ESCRITOR FORA DA<br />
LISTA CANÔNICA BRASILEIRA<br />
Resumo<br />
Luciana Rueda Soares (PG/UFMS)<br />
Kelcilene Grácia-Rodrigues (UFMS)<br />
A presente comunicação objetiva expor uma leitura sócio-histórica <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> formação<br />
<strong>do</strong> cânone literário brasileiro. Com esse <strong>de</strong>bate, preten<strong>de</strong>-se questionar a ausência <strong>de</strong><br />
escritores marginaliza<strong>do</strong>s <strong>do</strong> cânone literário brasileiro, como é o caso <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme<br />
Dicke, e, acima <strong>de</strong> tu<strong>do</strong>, relacionar sua não-canonização como mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> distribuição <strong>de</strong>sigual<br />
<strong>do</strong>s po<strong>de</strong>res na socieda<strong>de</strong>. Dessa forma, <strong>de</strong>senvolveremos uma pesquisa voltada para a i<strong>de</strong>ia<br />
<strong>de</strong> que o processo <strong>de</strong> formação <strong>do</strong> cânone é parte <strong>do</strong>s interesses <strong>de</strong> um sistema literário<br />
tradicional, que, por sua vez, é resulta<strong>do</strong> das práticas da socieda<strong>de</strong>.<br />
Palavras-chave: cânone; literatura; socieda<strong>de</strong>.<br />
Abstract<br />
The present objective communication to display a reading partner-historical of the process of<br />
formation of the Brazilian literary rule. With this <strong>de</strong>bate, it is inten<strong>de</strong>d to question the absence<br />
of writers kept out of society of the Brazilian literary rule, as it is the case of Ricar<strong>do</strong><br />
Guillermo Dicke, and, above all, to relate its not-canonization as way of different distribution<br />
of being able them in the society. Of this form, we will <strong>de</strong>velop a research directed toward the<br />
i<strong>de</strong>a of that the process of formation of the rule is part of the interests of a traditional literary<br />
system, that, in turn, is resulted of the practical ones of the society.<br />
Keywords: rule; literature; society.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Analisar o cânone literário no Brasil é uma ativida<strong>de</strong> controversa. De um la<strong>do</strong><br />
encontram-se os que possuem uma noção fechada <strong>de</strong> cânone e <strong>do</strong> outro, os que afirmam que a<br />
existência <strong>do</strong> cânone relega à obscurida<strong>de</strong> autores <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> por motivos não literários.<br />
Neste trabalho, propõe-se um <strong>de</strong>bate sobre o processo da não - inclusão <strong>do</strong> autor Ricar<strong>do</strong><br />
Guilherme Dicke no rol da tradição literária brasileira. A escolha <strong>de</strong> um autor como cânone<br />
parte <strong>de</strong> duas posturas <strong>do</strong> ser humano, no contexto histórico: a primeira, através da<br />
observação <strong>do</strong> ambiente cultural, em que a arte é hierarquizada; a segunda, refere-se à<br />
i<strong>de</strong>ologia das diferenças e, consequentemente, a reprodução hierárquica das classes sociais.<br />
Portanto, essa divisão pressupõe que toda e qualquer atitu<strong>de</strong> <strong>do</strong> ser humano, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong><br />
sua etnia cultural e classe social, é partidária e pertence a uma única base filosófica basean<strong>do</strong>-<br />
se na <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> que rege as vidas <strong>do</strong>s indivíduos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início das civilizações.<br />
84
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Isso inclui falar sobre a mulher, o negro, o escraviza<strong>do</strong>, o ex-coloniza<strong>do</strong>, o trabalha<strong>do</strong>r<br />
explora<strong>do</strong>, enfim, personalida<strong>de</strong>s historicamente excluídas <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>bates e <strong>de</strong>cisões da<br />
socieda<strong>de</strong> e que ainda sofrem por constituir as minorias sociais e culturais. Ricar<strong>do</strong> Guilherme<br />
Dicke insere-se na segunda postura em que as personagens que integram suas narrativas<br />
refletem as inúmeras diferenças que compõem o universo dickeano, on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>staca a figura<br />
<strong>do</strong> homem <strong>do</strong> sertão brasileiro, suas atitu<strong>de</strong>s e seus anseios, com um enre<strong>do</strong> construí<strong>do</strong> ten<strong>do</strong><br />
como pano <strong>de</strong> fun<strong>do</strong> um cenário <strong>de</strong> sertão, violência e fé.<br />
2. O CÂNONE LITERÁRIO: CONCEITO<br />
A palavra cânone originou-se na Grécia antiga com a palavra “kanon”, um tipo <strong>de</strong> vara<br />
que funcionava como instrumento <strong>de</strong> verificação <strong>de</strong> medida e semanticamente refere-se a algo<br />
que <strong>de</strong>signa padrão, mo<strong>de</strong>lo ou, ainda, norma. No século IV é o primeiro século que<br />
especifica a utilização <strong>do</strong> termo cânone, pois se trata da lista <strong>de</strong> Livros Sagra<strong>do</strong>s que a Igreja<br />
<strong>de</strong>termina como sen<strong>do</strong> os alicerces da fé e da verda<strong>de</strong> da palavra <strong>de</strong> Deus, primeiramente,<br />
pelos ju<strong>de</strong>us com a Torah e em seguida pelos cristãos. Estas listas eram elaboradas a partir <strong>do</strong><br />
que a Igreja consi<strong>de</strong>rava digno <strong>de</strong> ser canônico. Assim, formou-se o cânone bíblico,<br />
esten<strong>de</strong>n<strong>do</strong>-se na história <strong>do</strong> homem universalizan<strong>do</strong> a idéia <strong>de</strong> que o texto canônico é um<br />
tipo <strong>de</strong> leitura que <strong>de</strong>ve ser feita e respeitada, sen<strong>do</strong> que também a que é aceita socialmente.<br />
Observe a seguinte afirmação sobre esta questão:<br />
O termo cânone tem origem religiosa, e não é emprega<strong>do</strong> por alusão gratuita, mas<br />
porque conota a natureza sagrada atribuída a certos textos e autores, que assumem<br />
caráter paradigmático e são consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s píncaros <strong>do</strong> espírito nacional e recolhi<strong>do</strong>s<br />
ao panteão <strong>de</strong> imortais. (KOTHE, 1997, p. 108)<br />
Na Ida<strong>de</strong> Média estabeleceu-se o clássico a partir da obra <strong>de</strong> Dante, em especial “A<br />
divina Comédia”. Mas, foi o Renascimento que instituiu para a socieda<strong>de</strong> o termo e o conceito<br />
<strong>de</strong> cânone aplica<strong>do</strong> à literatura, muitas vezes também chama<strong>do</strong> como “clássico” ou “obra-<br />
prima”. A palavra é <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> classis, que, em latim, significa classe <strong>de</strong> escola, acredita-se<br />
que por isso dá a idéia <strong>de</strong> que é norma, uma regra que <strong>de</strong>ve ser seguida.<br />
O cânone literário é flexível e está sujeito à entrada ou saída <strong>de</strong> autores e obras, mas<br />
num contexto institucional estabeleci<strong>do</strong> por uma elite intelectual <strong>do</strong>minante, se apresenta<br />
como algo firma<strong>do</strong> em nossa socieda<strong>de</strong> e mostra-se <strong>de</strong> formato inquestionável à maioria <strong>do</strong>s<br />
leitores. O cânone literário é, assim, uma relação <strong>de</strong> obras e autores socialmente consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s<br />
“universais”, transmitin<strong>do</strong> os valores éticos primordiais aos seres humanos e características<br />
85
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
estéticas i<strong>de</strong>ais <strong>de</strong> um texto. Assim, estabelece-se a tradição <strong>de</strong> repassá-lo <strong>de</strong> geração em<br />
geração. No entanto, tome-se por base a seguinte afirmação e questionamento:<br />
Originalmente, o cânone significava a escolha <strong>de</strong> livros em nossas instituições <strong>de</strong><br />
ensino, e apesar da recente política <strong>de</strong> multiculturalismo, a verda<strong>de</strong>ira questão <strong>do</strong><br />
Cânone continua sen<strong>do</strong>: Que tentará ler o indivíduo que ainda <strong>de</strong>seja ler mais que<br />
uma história? (BLOOM, 1995, p. 23)<br />
A afirmação acima levanta o questionamento comum àqueles interessa<strong>do</strong>s em saber o<br />
que o leitor da atualida<strong>de</strong> quer ler, qual temática é <strong>de</strong> seu interesse. Destaque-se que em<br />
diferentes culturas escritas existem diferentes cânones, com valida<strong>de</strong> em vários âmbitos<br />
(religioso, literário), e na nossa tradição literária oci<strong>de</strong>ntal temos um cânone amplo que aten<strong>de</strong><br />
às necessida<strong>de</strong>s da indústria editorial, no entanto rígi<strong>do</strong> na transmissão <strong>de</strong> valores i<strong>de</strong>ológicos,<br />
culturais e políticos <strong>do</strong> Oci<strong>de</strong>nte.<br />
Com as mudanças tecnológicas e político-econômicas ocorridas nos <strong>do</strong>is últimos<br />
séculos, há novas exigências culturais <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> globalizada. Valores e fenômenos<br />
como: consumismo, velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> informação, fragmentação e rompimento com a própria<br />
tradição cultural fazem com que surja um cenário para o cânone literário estabeleci<strong>do</strong> até<br />
então. Essa nova situação forma novos leitores dividi<strong>do</strong>s por interesses imediatos, fugazes e<br />
fragmenta<strong>do</strong>s, tornan<strong>do</strong> problemática a leitura <strong>do</strong> cânone instituí<strong>do</strong>: <strong>de</strong> um la<strong>do</strong>, a <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong><br />
obras e autores canoniza<strong>do</strong>s há muito tempo; <strong>de</strong> outro, a abertura a outras obras e autores<br />
contemporaneida<strong>de</strong>, que ainda não foram reconheci<strong>do</strong>s pela tradição cultural.<br />
Como conhecer e aproveitar a leitura Macha<strong>do</strong> <strong>de</strong> Assis ou Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, se o<br />
homem <strong>do</strong> povo está praticamente priva<strong>do</strong> <strong>de</strong>ssa possibilida<strong>de</strong>. Para esse homem, oferece-se a<br />
literatura <strong>de</strong> massa, as narrativas orais, a sabe<strong>do</strong>ria popular. Sabe-se que estes conhecimentos<br />
são importantes para a formação cultural e i<strong>de</strong>ntitária <strong>do</strong> povo, mas não se po<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rá-las<br />
suficientes, pois a literatura em toda a sua abrangência proporciona-nos um diálogo cultural<br />
entre povos, socieda<strong>de</strong>s, épocas e tradições.<br />
Na atualida<strong>de</strong>, as obras e autores não-canoniza<strong>do</strong>s pela tradição cultural buscam um<br />
lugar ao la<strong>do</strong> <strong>do</strong>s já consagra<strong>do</strong>s e legitima<strong>do</strong>s. É fato que o cânone literário tem si<strong>do</strong><br />
questiona<strong>do</strong> <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> à “sintomas recorrentes <strong>de</strong> <strong>de</strong>sestabilização e por contínuos alarmes <strong>de</strong><br />
crises que dizem respeito seja à indústria editorial, seja à leitura” (PETRUCCI, 1999, p. 210).<br />
Tais sintomas exerceram uma pressão sobre “as bases e as justificativas morais <strong>do</strong> que se<br />
po<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir como a i<strong>de</strong>ologia da leitura <strong>do</strong> Oci<strong>de</strong>nte” (I<strong>de</strong>m, p. 213). E mais, fazem<br />
<strong>de</strong>smoronar uma autorida<strong>de</strong> <strong>do</strong> cânone clássico que antes era inquestionável: até a escola<br />
enquanto instituição, que tradicionalmente é encarregada <strong>de</strong> manter e difundir o cânone<br />
86
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
literário e seus valores, hoje per<strong>de</strong> a força e influência que tinha sobre a socieda<strong>de</strong>. Assim,<br />
emerge na socieda<strong>de</strong> a resistência explícita ao cânone clássico. As culturas clamam pela<br />
modificação <strong>do</strong> cânone, tornan<strong>do</strong>-o menos eurocêntrico, menos fecha<strong>do</strong> e tradicional na sua<br />
seleção, abrin<strong>do</strong>-se a outras culturas e a questões da contemporaneida<strong>de</strong>.<br />
Nesse cenário que se <strong>de</strong>s<strong>do</strong>bra, a leitura que pre<strong>do</strong>mina é aquela que tem mera<br />
finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> entretenimento e lazer. A verda<strong>de</strong> é que temos assisti<strong>do</strong>, neste início <strong>de</strong> século<br />
XXI, a uma negação <strong>do</strong> cânone literário em nome <strong>de</strong> uma multiculturalida<strong>de</strong>. Dessa forma,<br />
ocorre uma invasão <strong>de</strong> textos não-consagra<strong>do</strong>s em <strong>de</strong>trimento <strong>do</strong>s textos já consagra<strong>do</strong>s na<br />
socieda<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong> <strong>de</strong> la<strong>do</strong> os critérios estéticos, característicos nas literaturas clássica e<br />
mo<strong>de</strong>rna.<br />
3. A IMPORTÂNCIA DA CRÍTICA BRASILEIRA NA FORMAÇÃO DO NOSSO<br />
CÂNONE LITERÁRIO<br />
O Brasil teve, na formação <strong>de</strong> seu povo e <strong>de</strong> sua cultura, a influência coloniza<strong>do</strong>ra <strong>do</strong>s<br />
europeus, <strong>de</strong>monstran<strong>do</strong> que vivíamos em um verda<strong>de</strong>iro ilhamento cultural. A Literatura<br />
Brasileira contribuiu para que um novo homem se formasse cultural e socialmente, fez com<br />
que os indivíduos da nação brasileira, com sua língua, costumes e tradições, tivessem voz.<br />
Diante disso, a formação <strong>de</strong> nosso cânone literário serviu e serve <strong>de</strong> instrumento para que<br />
nossas palavras e nossas idéias sejam ouvidas através <strong>do</strong>s tempos em to<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong>, como<br />
forma <strong>de</strong> divulgar e preservar nossa cultura, nossos valores e nossas tradições.<br />
A respeito da Literatura Brasileira, Candi<strong>do</strong>, em Literatura e socieda<strong>de</strong>, afirma que ela<br />
se consoli<strong>do</strong>u no Brasil a partir <strong>do</strong> século XVIII, uma vez que foi nesta época que os “letra<strong>do</strong>s<br />
brasileiros” tiveram uma “[...] tomada <strong>de</strong> consciência da jovem nação [...]” e “[...] passaram<br />
conscientemente a querer fundar ou criar uma literatura nossa [...]” (CANDIDO, 2000, p. 83).<br />
O advento <strong>do</strong> Romantismo trouxe-nos uma vasta produção literária tanto na poesia quanto na<br />
prosa. Surgiu gran<strong>de</strong> soma <strong>de</strong> escritores importantes, como, entre outros, Domingos José<br />
Gonçalves <strong>de</strong> Magalhães, José <strong>de</strong> Alencar, Gonçalves Dias, Álvares <strong>de</strong> Azeve<strong>do</strong>, Casimiro <strong>de</strong><br />
Abreu, Martins Pena, Joaquim Manuel <strong>de</strong> Mace<strong>do</strong>, Viscon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Taunay e Manuel Antonio <strong>de</strong><br />
Almeida, ajudan<strong>do</strong> a firmar a literatura brasileira, fortalecen<strong>do</strong>-a historicamente.<br />
Nesse perío<strong>do</strong>, estabeleceu-se, também, a relação entre a obra e o leitor. Eventos como<br />
cerimônias religiosas e comemorações públicas serviram para estreitar os laços. Com poemas<br />
e narrativas sen<strong>do</strong> recitadas, como na tradição oral, o público tem contato direto com o que os<br />
autores produziam, estabelecen<strong>do</strong>-se, assim, uma ligação <strong>de</strong> intimida<strong>de</strong> que se tornará mais<br />
forte com o passar <strong>do</strong>s anos. Aos poucos, cada vez mais circulavam na socieda<strong>de</strong> brasileira<br />
87
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
livros impressos, permitin<strong>do</strong> o acesso <strong>do</strong> público à obra, e, consequentemente, consolida-se o<br />
vínculo com o escritor. Com isso, aparecem idéias diferentes sobre o que se ler e <strong>de</strong>spontam<br />
vários grupos para discutir literatura no Brasil. Eis que nasce a crítica literária brasileira. A<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se <strong>de</strong>screver, interpretar, avaliar, apreciar e julgar uma obra literária fez com<br />
que surgisse uma crítica no Brasil capaz <strong>de</strong> ressaltar aspectos próprios da literatura brasileira<br />
não mais pauta<strong>do</strong>s nos parâmetros <strong>do</strong>s padrões europeus, segui<strong>do</strong>s até então.<br />
O Romantismo não tinha um aspecto uniforme, como nos mostram os manuais<br />
didáticos para o ensino da literatura canônica nas escolas, mas sim uma gama <strong>de</strong> diferentes<br />
opiniões sobre os textos literários produzi<strong>do</strong>s sob influência <strong>de</strong> diferentes abordagens sen<strong>do</strong><br />
feitas sobre os mesmos temas. Era nesse momento que a ebulição das novas idéias<br />
impulsionava a produção literária brasileira. Entre os diversos grupos que se manifestaram,<br />
<strong>de</strong>stacamos: fluminense: presença <strong>de</strong> Gonçalves e Varnhagem, apresentan<strong>do</strong> idéias<br />
passadistas e ecléticas; o paulista: Justiniano José da Rocha e Antonio Augusto Queiroga,<br />
<strong>de</strong>fendiam teses americanistas; o maranhense: João Francisco Lisboa e Sotero <strong>do</strong>s Reis<br />
personalida<strong>de</strong>s representantes <strong>de</strong> filosofias liberais no espírito e ilustradas na cultura e o<br />
pernambucano: Abreu e Lima e Pedro Figueire<strong>do</strong> discutin<strong>do</strong> a luta i<strong>de</strong>ológica e o<br />
progressismo liberal romântico.<br />
Com o disseminar <strong>do</strong> i<strong>de</strong>ário liberal, surge, aos poucos, o Realismo (segunda meta<strong>de</strong><br />
<strong>do</strong> século XIX). As idéias filosóficas <strong>de</strong> Hegel, Engels e Marx, com vertentes socialistas,<br />
eram disseminadas por meio <strong>do</strong>s textos literários. A crítica literária brasileira volta-se,<br />
mediante pesquisas, para <strong>de</strong>linear o que se tem <strong>de</strong> melhor na literatura construída na época. É<br />
o caso, por exemplo, <strong>de</strong> Silvio Romero, que enfatizou a cultura e ao folclore <strong>do</strong> povo<br />
brasileiro, Araripe Jr, que expôs em quais aspectos artísticos a literatura <strong>de</strong>via caminhar, e<br />
José Veríssimo, que valorizou o estilo elegante e os enre<strong>do</strong>s bem construí<strong>do</strong>s nas narrativas.<br />
Outros ainda combatiam as idéias correntes <strong>do</strong> Romantismo sobre o nacionalismo, ressaltan<strong>do</strong><br />
a figura <strong>do</strong> homem tropical com características como a in<strong>do</strong>lência e exaltação imprópria,<br />
maculan<strong>do</strong> assim a imagem <strong>do</strong> homem brasileiro. Também o evolucionismo <strong>de</strong> Darwin<br />
começa a ser divulga<strong>do</strong> aqui.<br />
Os simbolistas marcaram presença na literatura mundial por ter uma verda<strong>de</strong>ira paixão<br />
pelo senso estético entre o final <strong>do</strong> século XIX e início <strong>do</strong> século XX. Através <strong>de</strong> sua estética<br />
e idéias tentavam unir a parte com o to<strong>do</strong> universal, dan<strong>do</strong> senti<strong>do</strong> ao belo, ao bem e ao<br />
sagra<strong>do</strong>. No Brasil, tivemos o maior representante <strong>de</strong>ste movimento: Cruz e Souza. Segun<strong>do</strong><br />
Bosi (1986, p. 332), “[...] a crítica oficial <strong>do</strong>s fins <strong>do</strong> século XIX, representada pela tría<strong>de</strong><br />
88
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Sílvio Romero-José Veríssimo-Araripe Jr., foi em geral, hostil aos simbolistas [...]”, talvez<br />
porque o simbolismo brasileiro tentava resgatar valores espirituais e religiosos. A busca pelos<br />
mistérios que o ocultismo faz era uma das formas que os simbolistas tinham <strong>de</strong> manifestar<br />
suas i<strong>de</strong>ologias. Este, também, veio como forma, segun<strong>do</strong> críticos da época, <strong>de</strong> resgatar a<br />
estética, a forma perdida da poesia. A plástica <strong>do</strong> texto, a estrutura, era enfatizada a to<strong>do</strong> o<br />
momento, retornan<strong>do</strong> à forma <strong>de</strong> compor clássica como tentativa <strong>de</strong> revitalizar esta forma <strong>de</strong><br />
expressão literária.<br />
Muito próximo, cronologicamente falan<strong>do</strong>, temos o Pré-mo<strong>de</strong>rnismo, na narrativa,<br />
como forma <strong>de</strong> tentativa <strong>de</strong> retornar à produção <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s textos literários brasileiros. Nomes<br />
como Lima Barreto, Graça Aranha, Eucli<strong>de</strong>s da Cunha e Monteiro Lobato, segun<strong>do</strong> Bosi<br />
(1986, p. 346, grifos no original), têm “[...] o papel histórico <strong>de</strong> mover as águas estagnadas da<br />
belle époque, revelan<strong>do</strong> antes <strong>do</strong>s mo<strong>de</strong>rnistas, as tensões que sofria a vida nacional [...]”.<br />
Em 1922, ocorre um evento que causa a verda<strong>de</strong>ira ruptura na arte brasileira: a<br />
Semana <strong>de</strong> Arte Mo<strong>de</strong>rna, vista como divisora <strong>de</strong> águas no cenário literário brasileiro. Neste<br />
perío<strong>do</strong>, há experimentos ocorren<strong>do</strong> em muitos campos da arte, não só na literatura. Pela<br />
primeira vez nossos artistas experimentam estruturas e linguagens diferentes como forma <strong>de</strong><br />
expressão. Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, Oswald <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, Raul Bopp, Guilherme <strong>de</strong> Almeida,<br />
Alcântara Macha<strong>do</strong>, Menotti <strong>de</strong>l Picchia, Paulo Pra<strong>do</strong>, Sérgio Melliet, entre outros, fizeram<br />
com que a ruptura das antigas tradições literárias <strong>de</strong> nosso país nunca mais fossem vistas sob<br />
a mesma ótica. A partir daqui, a arte brasileira, em especial a literatura, <strong>de</strong>ixará <strong>de</strong> seguir as<br />
tendências estrangeiras. A literatura, no Brasil, passa a ter a “função humaniza<strong>do</strong>ra”,<br />
conforme afirma Candi<strong>do</strong> (1972, p. 806). Na literatura mundial, este conceito, a que se refere<br />
Candi<strong>do</strong>, já era reconheci<strong>do</strong> como essencial para enten<strong>de</strong>r a importância <strong>do</strong>s textos literários<br />
na formação da socieda<strong>de</strong> que surgia. A partir daqui, os problemas sociais, a forma <strong>de</strong> falar e<br />
<strong>de</strong> agir e as reflexões mais íntimas da Literatura Brasileira não serão mais relegadas a um<br />
segun<strong>do</strong> plano. Finalmente, estamos libertos <strong>do</strong>s padrões europeus <strong>do</strong> estigma <strong>de</strong> povo<br />
coloniza<strong>do</strong>.<br />
O termo contemporâneo surge, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> 30, <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> a novas realida<strong>de</strong>s econômicas,<br />
sociais, culturais que se instituem nessa nova realida<strong>de</strong> quer se apresenta <strong>de</strong>pois <strong>do</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnismo e <strong>de</strong> suas novas formas <strong>de</strong> expressão. Graciliano Ramos, José Lins <strong>do</strong> Rego,<br />
Carlos Drummond <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> elaboram uma obra amadurecida; Astrojil<strong>do</strong> Pereira, Lúcio<br />
Car<strong>do</strong>so, Jorge Ama<strong>do</strong> entre outros expressavam em seus textos uma vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> ver um<br />
Brasil mais amadureci<strong>do</strong>. Os escritores primavam por produzir textos com estéticas que<br />
89
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
surpreen<strong>de</strong>ssem e mostrassem que a ruptura <strong>de</strong> 1922 não havia si<strong>do</strong> em vão. Alceu Amoroso<br />
Lima, sob o pseudônimo <strong>de</strong> Tristão <strong>de</strong> Athay<strong>de</strong>, era um leitor <strong>de</strong> amplos horizontes que soube<br />
<strong>de</strong>finir as tendências irracionalistas e analisar à luz da ética e da i<strong>de</strong>ologia os textos<br />
produzi<strong>do</strong>s e, posteriormente, canoniza<strong>do</strong>s em sua época. Na contemporaneida<strong>de</strong>, há quatro<br />
idéias fundamentais que tanto críticos como escritores seguem para caracterizar uma obra<br />
como canônica, são elas: as idéias <strong>de</strong> Darwin, o marxismo, a psicanálise e a teoria da<br />
relativida<strong>de</strong>. Estas são a base para maioria das i<strong>de</strong>ologias e filosofias que influenciam os<br />
escritores brasileiros até a atualida<strong>de</strong> e formaram o cânone literário brasileiro atual.<br />
4. A AUSÊNCIA DE RICARDO GUILHERME DICKE NO CÂNONE<br />
CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO<br />
Dicke é filho <strong>de</strong> João Henrique Dicke, <strong>de</strong> nacionalida<strong>de</strong> alemã que fugira da Segunda<br />
Guerra para o Paraguai, com Carolina Ferreira <strong>do</strong> Nascimento Dicke, o escritor nasceu em<br />
uma vila chamada <strong>de</strong> Raizama, localizada na Chapada <strong>do</strong>s Guimarães, no Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>Mato</strong><br />
<strong>Grosso</strong>, em 16 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1936. Pouco se conhece sobre a criancice e a a<strong>do</strong>lescência <strong>do</strong><br />
escritor, apenas que cresceu cerca<strong>do</strong> pelo ronco <strong>do</strong>s aviões, caminhões e pelas idas e vindas<br />
que o processo migratório trouxe à região no início <strong>do</strong> século XX. Muitas informações<br />
per<strong>de</strong>ram-se no tempo ou simplesmente foram <strong>de</strong>ixadas <strong>de</strong> la<strong>do</strong> por aqueles que só o<br />
conheceram anos <strong>de</strong>pois, quan<strong>do</strong> já estava inseri<strong>do</strong> nos círculos <strong>de</strong> cultura mais privilegia<strong>do</strong>s<br />
<strong>de</strong> São Paulo e <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. O resto per<strong>de</strong>u-se nas memórias <strong>do</strong>s que conviveram com<br />
ele e no seio <strong>de</strong> sua família formada por homens <strong>do</strong> garimpo, homens que perseguiam o sonho<br />
da riqueza em Caxipó <strong>do</strong> Ouro.<br />
Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke surgiu no meio literário, em 1968, já no Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
quan<strong>do</strong> recebeu o Prêmio Walmap 29 , embora tenha fica<strong>do</strong> em quarto lugar no concurso, com o<br />
livro Deus <strong>de</strong> Caim, publica<strong>do</strong>, em 1968, pela Editora Edinova. Na banca <strong>de</strong> jura<strong>do</strong>s, estavam<br />
presentes nada menos <strong>do</strong> que João Guimarães Rosa, Jorge Ama<strong>do</strong> e Antônio Olinto. Isso<br />
conferiu ao escritor mato-grossense a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produzir textos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valor<br />
literário que foi reconheci<strong>do</strong> publicamente através das premiações que recebeu ao longo <strong>de</strong><br />
sua história como escritor. Observe-se a relação abaixo, das obras publicadas por Dicke e suas<br />
premiações: Deus <strong>de</strong> Caim (1968) – Romance – 4º lugar no Prêmio Walmap; Como o silêncio<br />
(1968) – Romance – 2º lugar no Prêmio Clube <strong>do</strong> Livro; Caieira (1978) – Romance – Prêmio<br />
29 O Prêmio Walmap foi cria<strong>do</strong> em 1964, pelo banqueiro José Luiz <strong>de</strong> Magalhães Lins e pelo escritor Antonio<br />
Olinto, para incentivar a divulgação <strong>de</strong> obras literárias. Na época, era consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> o mais importante <strong>do</strong> Brasil.<br />
90
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Remington <strong>de</strong> Prosa em 1977; Ma<strong>do</strong>na <strong>do</strong>s Páramos (1982) – Romance – Prêmio Nacional<br />
da Fundação Cultural <strong>do</strong> Distrito Fe<strong>de</strong>ral em 1981; Último horizonte (1988) – Romance; A<br />
chave <strong>do</strong> abismo (1989) – Romance; Cerimônias <strong>do</strong> esquecimento (1995) – Romance –<br />
Prêmio da Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras; Conjunctio Oppositorum no Gran<strong>de</strong> Sertão (1999)<br />
– Dissertação <strong>do</strong> Mestra<strong>do</strong> em Filosofia na UFRJ; Rio abaixo <strong>do</strong>s vaqueiros (2000) –<br />
Romance; O salário <strong>do</strong>s poetas (2001) – Romance; Toada <strong>do</strong> esqueci<strong>do</strong> & Sinfonia Eqüestre<br />
(2006) – Conto.<br />
Observe-se que houve um reconhecimento <strong>de</strong> valor cultural e estético em sua obra, no<br />
entanto o escritor não foi agracia<strong>do</strong> com seu nome na lista <strong>do</strong>s cânones <strong>de</strong> nossa literatura.<br />
Não é para menos que, em nosso país, poucos o conhecem, sen<strong>do</strong> que a instituição escola que<br />
seria a responsável por divulgar seus escritos ainda não fez seus papel <strong>de</strong> divulga<strong>do</strong>ra oficial<br />
<strong>de</strong> seus textos.<br />
4.1 As obras literárias <strong>de</strong> Dicke: um lega<strong>do</strong> para <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> e para o mun<strong>do</strong>.<br />
Magalhães (2001, p. 205) refere-se aos textos <strong>de</strong> Dicke da seguinte forma: “Em seus<br />
textos, céu e inferno se confun<strong>de</strong>m, fazen<strong>do</strong> emergir um perturba<strong>do</strong> país transgressor para<br />
eleger o monstruoso como forma <strong>de</strong> vida”. Este aspecto filosófico sobre a forma <strong>de</strong> narrar <strong>do</strong><br />
escritor faz com que nos voltemos para os problemas enfrenta<strong>do</strong>s pelas personagens <strong>de</strong> seus<br />
livros, que, geralmente, se encontram em situações conflitantes entre o que é real e o que é<br />
imaginário. Certa áurea <strong>de</strong> mistério as envolve como envolve a própria vida <strong>do</strong> escritor.<br />
As personagens dickeanas fazem parte <strong>de</strong> <strong>do</strong>is universos distintos ocupan<strong>do</strong> o mesmo<br />
espaço, mas se referem a um tempo em que presente/passa<strong>do</strong>/futuro fun<strong>de</strong>m-se e se<br />
completam. Magalhães (2001, p. 208), afirma que as personagens criadas por Dicke são “[...]<br />
sobreviventes <strong>do</strong> Sistema ou <strong>de</strong> si próprios, transitam entre o divino e o selvagem, o real e o<br />
surreal, sufoca<strong>do</strong>s pelo peso da existência”. O “Sistema”, cita<strong>do</strong> por Hilda Magalhães, po<strong>de</strong><br />
muito bem ser entendi<strong>do</strong> como aquele imposto ao povo <strong>do</strong> sertão pelo po<strong>de</strong>r agrário, em que<br />
os latifundiários <strong>do</strong>minam os trabalha<strong>do</strong>res, subjugam as mulheres aos seus <strong>de</strong>sejos e coagem<br />
as crianças. No final, to<strong>do</strong>s são oprimi<strong>do</strong>s pela violência.<br />
Ainda temos a questão <strong>do</strong> misticismo presente na obra <strong>de</strong> Dicke. Herança da migração<br />
<strong>de</strong> diferentes povos, <strong>de</strong> várias regiões para o sertão, culturas <strong>de</strong> diferentes tradições se<br />
misturam, o sagra<strong>do</strong> e o profano num fluxo contínuo, fican<strong>do</strong> assim a povoar o imaginário <strong>de</strong><br />
personagens que representam gente simples com seus sonhos, indagações e lutas.<br />
A linguagem utilizada nos livros <strong>de</strong> Dicke é <strong>de</strong>nsa, forte, quase agressiva. Impõe-se ao<br />
leitor, fazen<strong>do</strong> com que não consiga se dispersar enquanto lê. Tomemos como exemplo o<br />
91
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
fragmento <strong>de</strong> Toada <strong>do</strong> esqueci<strong>do</strong> & Sinfonia Eqüestre 30 : “[...] Os <strong>de</strong>sertos cansam. E a fadiga<br />
<strong>de</strong> viver nos <strong>de</strong>sertos tem o valor das a<strong>do</strong>rações sagradas a Deus, aos santos e aos anjos e<br />
arcanjos.” (DICKE, 2006, p. 137)<br />
Talvez seja pelos temas turbulentos que permeiam a obra <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme<br />
Dicke, são poucos os que se aventuram a analisar seus livros. Percebemos, ao consultar o<br />
banco <strong>de</strong> teses financiadas pela CAPES, que a maioria das pesquisas acadêmicas que utiliza<br />
as produções literárias <strong>de</strong> Dicke como objeto <strong>de</strong> estu<strong>do</strong> volta-se para os enfoques sociológicos<br />
presentes nas narrativas <strong>do</strong> escritor, como, por exemplo, os trabalhos Gilvone Furta<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
Miguel, com O entre - lugar <strong>de</strong> oposições <strong>do</strong> sertão: um estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> romance Ma<strong>do</strong>na <strong>de</strong><br />
Páramos (2001) e O imaginário mato-grossense nos romances <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke<br />
(2007), Juliano Moreira Kersul <strong>de</strong> Carvalho, com Do sertão ao litoral: A trajetória <strong>do</strong><br />
escritor Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke e a publicação <strong>do</strong> livro Deus <strong>de</strong> Caim na década <strong>de</strong> 60<br />
(2005), Wanda Cecília Correia <strong>de</strong> Mello, com De autores e autoria: um recorte acerca da<br />
construção <strong>do</strong> campo literário em <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> (2006) e Everton Almeida Barbosa, com A<br />
transculturação na narrativa <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke (2006).<br />
O escritor, além da gran<strong>de</strong> contribuição literária que fez ao esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>,<br />
ainda emprestou seu nome, conforme reportagem <strong>de</strong> Rafaela Maximiano (2008), à nova<br />
biblioteca da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Várzea Gran<strong>de</strong>/MT, que é um local <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> crianças que<br />
estão <strong>de</strong>senvolven<strong>do</strong> o prazer pela leitura <strong>de</strong> obras literárias e pela arte em geral. Pintou,<br />
também, mais <strong>de</strong> 30 telas, mostran<strong>do</strong> os seus trabalhos em exposições em Cuiabá e no Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro.<br />
4.2 A crítica e a obra dickeana<br />
Sabrina Gahyva (2006), <strong>do</strong> jornal virtual Top Cuiabá, no dia 10 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2006,<br />
citou Glauber Rocha, que afirmou que o escritor mato-grossense “É o maior escritor vivo <strong>do</strong><br />
Brasil, ninguém vê, ninguém conhece!”, para iniciar suas consi<strong>de</strong>rações sobre Ricar<strong>do</strong><br />
Guilherme Dicke.<br />
O intuito <strong>de</strong> Gahyva ao iniciar o seu artigo partin<strong>do</strong> da assertiva <strong>de</strong> Glauber Rocha é<br />
indagar a razão que leva Dicke ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> como um <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s nomes <strong>do</strong> cenário<br />
literário brasileiro por alguns, por exemplo, Nélida Pinõn e Hilda Hislt 31 , e ser tão pouco<br />
30 Esta obra foi objeto <strong>de</strong> uma resenha feita por Santos (2006).<br />
31<br />
Afirmação presente no texto O “filósofo” da Chapada – Aos 70 anos, Guilherme Dicke lança seu novo<br />
romance. Publica<strong>do</strong> em 12 nov. 2006. Disponível em:<br />
. Acesso: 14 mai. 2009.<br />
92
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
cita<strong>do</strong> pelos críticos. Quase um ano após sua morte, temos, por vezes, a impressão <strong>de</strong><br />
estarmos diante <strong>de</strong> uma novida<strong>de</strong> literária.<br />
Dicke <strong>de</strong>stacou-se como escritor e artista plástico. Exerceu a função <strong>de</strong> jornalista,<br />
revisor <strong>de</strong> textos e <strong>de</strong> tradutor no Rio <strong>de</strong> Janeiro. Após algum tempo, optou por sair <strong>do</strong> eixo<br />
Rio - São Paulo, recolhen<strong>do</strong>-se no interior. A formação filosófica <strong>do</strong> autor justifica a atitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ostracismo que alguns lhe atribuem, bem como a sua fuga da metrópole. Atitu<strong>de</strong> esta<br />
compreensível, já que, segun<strong>do</strong> Candi<strong>do</strong> (2000, p. 127), “Se não existe literatura paulista,<br />
gaúcha ou pernambucana, há sem dúvida uma literatura manifestan<strong>do</strong>-se <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> diferente<br />
nos diferentes Esta<strong>do</strong>s”. E, provavelmente, foi para fortalecer essa manifestação literária que<br />
Dicke fez essa migração às suas origens, aparentemente, não se importan<strong>do</strong> por seu nome não<br />
constar na lista <strong>do</strong>s eleitos para o cânone nacional.<br />
Os textos <strong>do</strong> ficcionista mato-grossense sempre refletem o problema <strong>do</strong> homem<br />
sertanejo, suas lutas diárias pela sobrevivência, seus anseios <strong>de</strong> perpetuar-se e não mais fazer<br />
parte <strong>do</strong>s excluí<strong>do</strong>s da socieda<strong>de</strong>. Afinal, a luta pela terra não é um fenômeno da atualida<strong>de</strong>,<br />
mas sim um fato que se repete em nosso país há séculos. Dicke, em algum momento <strong>de</strong> sua<br />
trajetória, soube disso intuitivamente, e, talvez por isso, tenha se retira<strong>do</strong> <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s centros<br />
como forma <strong>de</strong> proteger sua obra, tentan<strong>do</strong> não se <strong>de</strong>ixar influenciar pelas tendências<br />
presentes nas obras literárias produzidas pelos escritores <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s centros. Dessa forma,<br />
preservou a temática e o aspecto <strong>de</strong> sua produção literária, que dá voz a personagens que<br />
representam uma das muitas facetas que formam a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nosso povo.<br />
Alguns estu<strong>do</strong>s publica<strong>do</strong>s sobre os textos <strong>de</strong> Dicke mostram análises que enfatizam<br />
aspectos sociológico e filosófico, como, por exemplo, se constata no artigo <strong>de</strong> Madalena<br />
Aparecida Macha<strong>do</strong> (2007). Infelizmente, o aspecto estrutural da obra dickeana acabou sen<strong>do</strong><br />
relega<strong>do</strong> a um segun<strong>do</strong> plano, supera<strong>do</strong>, talvez, pelo peso <strong>de</strong> suas i<strong>de</strong>ologias e sua formação,<br />
manifestadas através da linguagem utilizada por ele.<br />
Hilda Magalhães afirma que a literatura produzida por Dicke “[...] ilustra as relações<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r que se <strong>de</strong>senvolvem na região, que se caracterizam pela presença ostensiva e<br />
repressora <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> e <strong>do</strong> Empresaria<strong>do</strong>” (MAGALHÃES, 2001, p. 54). Essas relações <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r é que proporcionaram semelhanças entre Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke e João Guimarães<br />
Rosa, conforme Macha<strong>do</strong> (2007). As narrativas sobre o homem sertanejo e suas vivências<br />
fizeram com que essa relação ficasse mais estreita e, por vezes, alguns acusassem Dicke <strong>de</strong><br />
estar à sombra <strong>de</strong> Guimarães. No entanto, esta afirmativa comete injustiça contra os <strong>do</strong>is, pois<br />
o primeiro apenas se espelhou em um mo<strong>de</strong>lo difundi<strong>do</strong> e canoniza<strong>do</strong> pela nossa própria<br />
93
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
crítica literária, para construir a sua obra. E o segun<strong>do</strong> provavelmente não tinha intenção <strong>de</strong><br />
servir <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo a ninguém, apenas como to<strong>do</strong> artista, necessitava mostrar sua arte, através<br />
<strong>do</strong> que soube fazer melhor: narrar.<br />
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A questão sobre <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke não fazer parte da tradição literária<br />
nacional é questionar apenas uma das muitas injustiças que ocorrem em uma socieda<strong>de</strong>, em<br />
que uma elite intelectual <strong>de</strong>termina o que tem valor estético ou não. São muitos os excluí<strong>do</strong>s<br />
da lista canônica, mas com o avanço e a globalização das informações é só uma questão <strong>de</strong><br />
tempo e oportunida<strong>de</strong> para que essa questão seja revista.<br />
Antonio Candi<strong>do</strong>, no artigo “Literatura e formação <strong>do</strong> homem”, afirma que “[...] um<br />
gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> mitos, lendas e contos são etiológicos, ou seja, representam um mo<strong>do</strong><br />
figura<strong>do</strong> ou fictício <strong>de</strong> explicar o aparecimento e a razão <strong>de</strong> ser <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> físico e da<br />
socieda<strong>de</strong>” (CANDIDO, 1972, p. 807). Essa afirmativa ilustra bem os costumes e as tradições<br />
mostradas através <strong>do</strong>s textos construí<strong>do</strong>s por Dicke, que preservam ao seu estilo a maneira <strong>de</strong><br />
ser <strong>de</strong> nosso povo.<br />
Parece-nos natural consi<strong>de</strong>rar que a literatura brasileira, canonizada ou não, tenha<br />
primordialmente, a função <strong>de</strong> divulgar e preservar nossa cultura e nossos valores, reforçan<strong>do</strong><br />
o aspecto multicultural, pois a diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> influências registradas na formação social,<br />
étnica e cultural <strong>de</strong> povo brasileiro reafirma-se nas várias facetas apresentadas em nossa<br />
produção literária.<br />
REFERÊNCIAS<br />
BARBOSA, Everton Almeida. A transculturação na narrativa <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke.<br />
2006. 122 f. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s da Linguagem) – <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
<strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>.<br />
BRAGA, João Ximenes. Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke: prisioneiro <strong>de</strong> um ostracismo cruel.<br />
Publica<strong>do</strong> em: 11 jul. 2008. Disponível em: < http//blog.revistabula.com>. Acesso em: 01<br />
mai. 2009.<br />
BLOOM, Harold. O cânone oci<strong>de</strong>ntal: os livros e a escola <strong>do</strong> tempo. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Objetiva, 1995.<br />
BOSI, Alfre<strong>do</strong>. História concisa da literatura brasileira. 3ª ed. São Paulo: Cultrix, 1896<br />
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ______. Vários escritos. 3. ed. São Paulo:<br />
Duas Cida<strong>de</strong>s, 1995.<br />
94
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
_________. A literatura e a formação <strong>do</strong> homem. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 24, n. 9, p.<br />
806-809, set. 1972.<br />
_________. Literatura e socieda<strong>de</strong>. 8. ed. São Paulo: Publifolha, 2000.<br />
CARVALHO, Juliano Moreno <strong>de</strong>. Do sertão ao litoral: a trajetória <strong>do</strong> escritor Ricar<strong>do</strong><br />
Guilherme Dicke e a publicação <strong>do</strong> livro “Deus <strong>de</strong> Caim” na década <strong>de</strong> 1960. 2005. 119 f.<br />
Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s da Linguagem) – <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>.<br />
DICKE, Ricar<strong>do</strong> Guilherme. Deus <strong>de</strong> Caim. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Edinova, 1968.<br />
_____. Como o silêncio. São Paulo: Clube <strong>do</strong> Livro, 1968.<br />
_____. Caieira. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Francisco Alves, 1978.<br />
_____. Ma<strong>do</strong>na <strong>de</strong> Páramos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Antares, 1982.<br />
_____. Último Horizonte. São Paulo: Marco Zero, 1988.<br />
_____. A chave <strong>do</strong> abismo. Cuiabá: Fundação Cultural <strong>de</strong> Cuiabá, 1989.<br />
_____. Cerimônias <strong>do</strong> esquecimento. Cuiabá: Editora da UFMT, 1995.<br />
_____. Conjunctio Oppositorum no Gran<strong>de</strong> Sertão. Cuiabá: Editora da UFMS, 1999.<br />
_____. Rio abaixo <strong>do</strong>s vaqueiros. Cuiabá: Secretaria <strong>Estadual</strong> <strong>de</strong> Cultura, 2000.<br />
_____. O salário <strong>do</strong>s poetas. Cuiabá: Secretaria <strong>Estadual</strong> <strong>de</strong> Cultura, 2001.<br />
_____. Toada <strong>do</strong> esqueci<strong>do</strong>& Sinfonia Eqüestre. Cuiabá: Catedral Publicações & Carlini e<br />
Caniato Editorial, 2006.<br />
FERREIRA, Eduar<strong>do</strong>. A nova literatura produzida em <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> – I – Publica<strong>do</strong> em: 09<br />
out. 2006. Disponível em .<br />
Acesso em: acesso em 14 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2009.<br />
GAHYVA, Sabrina. Exposição retrata universo pictórico <strong>do</strong> escritor Ricar<strong>do</strong> Dicke.<br />
Publica<strong>do</strong> em: 10 nov. 2006. Disponível em: < http://www.topcuiaba.com.br/conteu. php?<br />
sid=4&cid=1431&parent=4 >. Acesso em: 23 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2009.<br />
KOTHE, Flávio R. O cânone colonial: ensaio. Brasília: Editora UnB. 1997.<br />
MACHADO, Madalena Aparecida. Último horizonte no limiar <strong>de</strong> um senti<strong>do</strong>. In: XI<br />
ENCONTRO REGIONAL DA ABRALIC – LITERATURAS, ARTES E SABERES, 2007,<br />
São Paulo. E-book. Artigo disponível em:<br />
http://www.abralic.org.br/enc2007/anais/64/1437.pdf.<br />
MAGALHÃES, Hilda Gomes Dutra. História da Literatura <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>. Cuiabá:<br />
UNICEM Publicações, 2001.<br />
95
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
MELLO, Wanda Cecília Correa <strong>de</strong>. De autores e autoria: um recorte da construção <strong>de</strong><br />
campo literário em <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>. 2006. 162 f. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s da<br />
Linguagem) – <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong>.<br />
MENDONÇA, Rubens <strong>de</strong>. História da literatura mato-grossense. 2. ed. especial. Cáceres:<br />
UNEMAT, 2005.<br />
MIGUEL, Gilvone Furta<strong>do</strong>. O entre-lugar das oposições no sertão: um estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> romance<br />
Ma<strong>do</strong>na <strong>do</strong>s Páramos. 2001. 168 f. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Letras) – <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
<strong>de</strong> Goiás.<br />
_____. O imaginário mato-grossense nos romances <strong>de</strong> Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke. 2007. 312<br />
f. Tese (Doutora<strong>do</strong> em Letras) – <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Goiás.<br />
PETRUCCI, Arman<strong>do</strong>. Ler por ler: um futuro para a leitura. In: CHARTIER, Roger;<br />
GUGLIELMO, Cavallo. História da leitura no mun<strong>do</strong> oci<strong>de</strong>ntal. 2. ed. São Paulo:Ática,<br />
1999, p. 203-227.<br />
UFMT outorga título <strong>de</strong> Doutor Honoris Causa a Ricar<strong>do</strong> Guilherme Dicke. Publica<strong>do</strong> em: 13<br />
<strong>de</strong>z. 2004. Disponível <<br />
http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_<strong>de</strong>ntro<strong>do</strong>campus_bgjja.html>. Acesso em:<br />
21 mar. 2009<br />
96
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O SILÊNCIO DA LINGUAGEM EM A PAIXÃO SEGUNDO G.H.<br />
Luiza <strong>de</strong> Oliveira (PG/UFMS)<br />
Edgar César Nolasco (UFMS)<br />
Resumo<br />
O artigo visa analisar a linguagem em A paixão segun<strong>do</strong> G.H., <strong>de</strong> Clarice Lispector, ten<strong>do</strong> por<br />
estofo teórico- crítico o que propôs o filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein. Em tal<br />
estu<strong>do</strong> dar-se-á atenção especial para a questão <strong>do</strong> silêncio como um traço diferencia<strong>do</strong>r da<br />
linguagem empregada no livro. Além <strong>de</strong> Wittgenstein, outro filósofo e estudioso da obra<br />
clariciana embasará nossa discussão, Benedito Nunes, principalmente com os livros O <strong>do</strong>rso<br />
<strong>do</strong> tigre, O drama da linguagem: uma leitura <strong>de</strong> Clarice Lispector e também a Edição Crítica<br />
<strong>do</strong> romance organizada pelo autor.<br />
Palavras-chave: Clarice Lispector; silêncio; linguagem.<br />
Abstract<br />
The article aims to analize the language in A paixão segun<strong>do</strong> G.H., of Clarice Lispector,<br />
having as a base review-theoretical what the philosopher, Ludwig Wittgenstein, proposes.<br />
This study will give special attention to the silence question as a distinguish trace of the<br />
lenguage expen<strong>de</strong>d on this book. Like Wittgenstein, another philosopher and studious of<br />
Clarice Lispector’s works will be also a base on our discussion, Benedito Nunes, mainly with<br />
O <strong>do</strong>rso <strong>do</strong> tigre, O drama da linguagem books: a Clarice Lispector reading and also the<br />
novel review Edition organized by him.<br />
Keywords: Clarice Lispector, silence; language .<br />
1. INTRODUÇÃO:<br />
Segun<strong>do</strong> a teoria da linguagem <strong>de</strong> Ludwig Wittgenstein, os limites <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> são os<br />
limites da linguagem. Para o filósofo, o que se exprime na linguagem, esta não po<strong>de</strong><br />
representar em sua totalida<strong>de</strong>, ou seja, não po<strong>de</strong> exprimir por meio <strong>de</strong>la. Wittgenstein chamou<br />
<strong>de</strong> místico ao mostrar que há, na linguagem, algo que é indizível – o silêncio. Sua <strong>de</strong>fesa seria<br />
que aquilo que ele chama <strong>de</strong> místico po<strong>de</strong>, em sua terminologia, ser mostra<strong>do</strong>, porém não<br />
po<strong>de</strong> ser dito, ou seja, expresso via linguagem. Não há em Wittgenstein um misticismo<br />
particular ou <strong>do</strong>utrinário, como po<strong>de</strong>ria sugerir algum leitor “<strong>de</strong>savisa<strong>do</strong>”.<br />
2. DESENVOLVIMENTO<br />
No romance A paixão segun<strong>do</strong> G.H, Clarice Lispector coloca a linguagem num embate<br />
<strong>de</strong>cisivo com a realida<strong>de</strong>, que po<strong>de</strong> ser observa<strong>do</strong> ao longo da narrativa, on<strong>de</strong> a personagem<br />
G.H, da<strong>do</strong> o entendimento sobre a limitação da linguagem, uma linguagem que se esforça por<br />
97
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
dar conta <strong>de</strong> uma experiência que lhe escapa, tenta reproduzir a experiência da conquista <strong>do</strong><br />
que é originário, o sacrifício da perda da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> para ir em busca <strong>do</strong> indizível.<br />
O trecho <strong>do</strong> romance A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H. que transcrito a seguir, faz ver como<br />
Wittgenstein e Clarice Lispector pensam a linguagem <strong>de</strong> maneira semelhante, como o mo<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
buscar a realida<strong>de</strong>:<br />
A realida<strong>de</strong> é a matéria-prima, a linguagem é o mo<strong>do</strong> como vou buscá-la – e como<br />
não acho. Mas é <strong>do</strong> buscar e <strong>do</strong> não achar que nasce o que eu não conhecia, e que<br />
instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por <strong>de</strong>stino tenho<br />
que ir buscar e por <strong>de</strong>stino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O<br />
indizível só me po<strong>de</strong>rá ser da<strong>do</strong> através <strong>do</strong> fracasso <strong>de</strong> minha linguagem. Só quan<strong>do</strong><br />
falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. (LISPECTOR, 1988,<br />
p.113)<br />
Benedito Nunes em seu livro O Dorso <strong>do</strong> tigre, mostra a partir <strong>do</strong> conceito<br />
wittgensteniano <strong>de</strong> jogo <strong>de</strong> linguagem, que a obra literária <strong>de</strong> Clarice Lispector faz parte <strong>de</strong> um<br />
<strong>do</strong>mínio da linguagem que se dá sem pretensão <strong>de</strong> ser verda<strong>de</strong>iro ou falso, <strong>de</strong> um jogo <strong>de</strong><br />
linguagem artístico. Nunes abre o ultimo capítulo <strong>do</strong> livro com a passagem:<br />
Em A paixão segun<strong>do</strong> G.H. que Clarice Lispector leva ao extremo o jogo <strong>de</strong><br />
linguagem inicia<strong>do</strong> em Perto <strong>do</strong> Coração Selvagem, e já plenamente <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong><br />
em A Maçã no escuro. Não empregamos aqui a palavra jogo, e a expressão jogo <strong>de</strong><br />
linguagem no senti<strong>do</strong> comum, em geral <strong>de</strong>preciativo, que é o que prevalece quan<strong>do</strong><br />
nos referimos a “jogo <strong>de</strong> palavras”, “jogo verbal”, etc. A literatura, <strong>de</strong> um mo<strong>do</strong><br />
especial a poesia, comportam uma qualificação lúdica. São ativida<strong>de</strong>s cria<strong>do</strong>ras<br />
<strong>de</strong>sinteressadas, cujos produtos gozam <strong>de</strong> existência estética, aparente, <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> imaginário projeta<strong>do</strong> na expressão verbal. (NUNES, 1976, p.129)<br />
E a respeito <strong>do</strong>s jogos <strong>de</strong> linguagem também diz:<br />
Em suas Investigações Filosóficas, Wittgenstein fala-nos em “jogos <strong>de</strong> linguagem”.<br />
São esses jogos processos linguísticos, mobiliza<strong>do</strong>s pela diferentes atitu<strong>de</strong>s que<br />
assumimos, nomean<strong>do</strong> as coisas e usan<strong>do</strong> as palavras <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> com as regras<br />
que estabelecemos. (NUNES, 1976, p.130)<br />
Segun<strong>do</strong> Benedito Nunes, a mo<strong>de</strong>rna filosofia da linguagem acrescenta um aspecto<br />
ontológico ao jogo <strong>de</strong> linguagem estético, pois, por meio da imaginação, a experiência imediata<br />
das coisas dá acesso a novas possibilida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> ser, possíveis mo<strong>do</strong>s <strong>de</strong> ser que não coinci<strong>de</strong>m<br />
com nenhum aspecto <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> da realida<strong>de</strong> ou da existência humana.<br />
Se o objeto <strong>de</strong> A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H. é, como vimos uma experiência não objetiva,<br />
se a romancista recriou imaginariamente a visão mística <strong>do</strong> encontro da consciência<br />
com a realida<strong>de</strong> última, o romance <strong>de</strong>ssa visão terá que ser, num certo senti<strong>do</strong>,<br />
obscuro. A linguagem <strong>de</strong> Clarice porém, não é nada obscura. Obscura é a experiência<br />
<strong>do</strong> que ela trata. Sob esse aspecto, que analisaremos oportunamente, a atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
G.H., abdican<strong>do</strong> <strong>do</strong> entendimento claro para ir ao encontro <strong>do</strong> que é impossível<br />
compreen<strong>de</strong>r, lança a linguagem numa espécie <strong>de</strong> jogo <strong>de</strong>cisivo com a realida<strong>de</strong>, que<br />
mais reforça o senti<strong>do</strong> místico <strong>do</strong> romance <strong>de</strong> Clarice Lispector. (NUNES, 1976,<br />
p.111)<br />
98
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Já em seu primeiro romance, Clarice observa a relação entre a ação narrada e o jogo <strong>de</strong><br />
linguagem enquanto situação problemática <strong>do</strong>s personagens que estão tentan<strong>do</strong> se comunicar,<br />
se expressar. Assim, Benedito Nunes conclui que “a linguagem tematizada na obra <strong>de</strong> Clarice<br />
Lispector, envolve o próprio objeto da narrativa, abrangen<strong>do</strong> o problema da existência como<br />
problema da expressão e da comunicação”. O que se verifica em A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H., pois<br />
no romance são para<strong>do</strong>xais os enuncia<strong>do</strong>s que tentam <strong>de</strong>cifrar ou interpretar a experiência <strong>de</strong><br />
G.H, como na passagem, “Eu era a imagem <strong>do</strong> que eu não era, essa imagem <strong>do</strong> não ser me<br />
cumulava toda” (LISPECTOR, 1988, p.22) e também em:<br />
Aquilo que se vive – e por não ter nome só a mu<strong>de</strong>z pronuncia - é disso que me<br />
aproximo através da gran<strong>de</strong> larguesa <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> me ser. Não porque eu encontre o<br />
nome <strong>do</strong> nome e torne concreto o impalpável – mas porque <strong>de</strong>signo o impalpável<br />
como impalpável, e então o sopro recru<strong>de</strong>sce como na chama <strong>de</strong> uma vela.<br />
(LISPECTOR, 1988, p. 112)<br />
A oposição entre existência e linguagem se torna, nessa perspectiva, representativa <strong>do</strong>s<br />
problemas metafísicos inerentes a condição humana, e é, para Nunes, o que ocorre nos<br />
romances <strong>de</strong> Lispector. Para tornar mais clara esta tese, vejamos o que Nunes diz nessa<br />
direção:<br />
A inquietação que neles tortura o indivíduo é o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> ser, completa e<br />
autenticamente – o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> superar a aparência, conquistan<strong>do</strong> algo assim como um<br />
esta<strong>do</strong> <strong>de</strong>finitivo, realização das possibilida<strong>de</strong>s em nós latentes. Aspiração<br />
contraditória! Realizar estas possibilida<strong>de</strong>s é dar-lhes forma, e consequentemente,<br />
expressá-las. Não nos contentamos em viver, precisamos saber o que somos,<br />
necessitamos compreen<strong>de</strong>-lo e dizer, mesmo em silêncio, para nós mesmos, aquilo<br />
em que vamos nos tornan<strong>do</strong>.[...] O ser que conquistamos não é, pois aquele para o<br />
qual o nosso <strong>de</strong>sejo ten<strong>de</strong>, mas aquele que a expressão capta e constrói, e que é, <strong>de</strong><br />
qualquer mo<strong>do</strong>, uma realida<strong>de</strong> provisória, mutável, substituível, que oferecemos aos<br />
outros e a nós mesmos. Daí a relativa falência da expressão afetan<strong>do</strong> a comunicação<br />
entre os homens. (NUNES, 1976, p.132-133)<br />
Benedito Nunes encerra seu livro propon<strong>do</strong> uma réplica da escritora ao que teria<br />
<strong>de</strong>fendi<strong>do</strong> Wittgenstein:<br />
Wittgenstein escrevia, no fecho seu Tratactus Lógico-Philosophicus, que <strong>de</strong>vemos<br />
silenciar a respeito daquilo sobre o qual nada se po<strong>de</strong> dizer. Clarice Lispector rompe<br />
com esse <strong>de</strong>ver <strong>de</strong> silêncio. O fracasso <strong>de</strong> sua linguagem, reverti<strong>do</strong> em triunfo,<br />
redunda numa réplica espontânea ao filósofo. Po<strong>de</strong>mos formular assim a réplica que<br />
ela <strong>de</strong>u: “é preciso falar daquilo que nos obriga ao silencio”. Resume-se nessa<br />
resposta o senti<strong>do</strong> existencial <strong>de</strong> sua criação literária. (NUNES, 1976, p.139)<br />
Gostaria <strong>de</strong> salientar, a respeito <strong>de</strong>ssa passagem, que também Wittgenstein rompe com o<br />
<strong>de</strong>ver <strong>de</strong> silêncio e no final <strong>do</strong> Tratactus vê se obriga<strong>do</strong> a rejeitar seu próprio livro. No<br />
aforismo 6.54, escreveu:<br />
Minhas proposições elucidam <strong>de</strong>sta maneira: quem me enten<strong>de</strong> acaba por reconhecêlas<br />
como contra-sensos, após ter escala<strong>do</strong> <strong>de</strong>las - por elas – para além <strong>de</strong>las (Devo,<br />
99
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
por assim dizer, jogar fora a escada após ter subi<strong>do</strong> por ela) <strong>de</strong>ve sobrepujar essas<br />
proposições, e então verá o mun<strong>do</strong> corretamente. (WITTGENSTEIN, 2008, p.281)<br />
A “superação” <strong>do</strong> Tratactus é uma condição necessária para compreen<strong>de</strong>r a posição<br />
<strong>de</strong>fendida pelo filósofo. E, por conseguinte, se o senti<strong>do</strong> existencial da criação literária <strong>de</strong><br />
Clarice, segun<strong>do</strong> Nunes (1976, p.139) resume-se na máxima: ‘É preciso falar daquilo que nos<br />
obriga ao silêncio’, po<strong>de</strong>mos concluir que a função terapêutica presente em Wittgenstein, tanto<br />
no Tratactus quanto nas Investigações Filosóficas, <strong>de</strong> nos convidar a dissolver problemas<br />
cotidianos funda<strong>do</strong>s no mau uso da linguagem, para que esta seja um meio efetivo <strong>de</strong><br />
comunicação, que nos permita falar inclusive sobre aquilo que nos obriga ao silêncio, também<br />
se faz presente na obra <strong>de</strong> Lispector, especialmente em, A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H.. Ilustra o que<br />
estamos dizen<strong>do</strong> a passagem:<br />
Mas – como era antes o meu silêncio, é o que eu não sei e nunca soube. Às vezes,<br />
olhan<strong>do</strong> um instantâneo tira<strong>do</strong> na praia ou numa festa, percebia com leve apreensão<br />
irônica o que aquele rosto sorri<strong>de</strong>nte e escureci<strong>do</strong> me revelava: um silêncio. Um<br />
silêncio e um <strong>de</strong>stino que me escapavam, [...] Nunca então havia eu <strong>de</strong> pensar que iria<br />
<strong>de</strong> encontro com este silêncio. “Ao estilhaçamento <strong>do</strong> silêncio.” (LISPECTOR, 1988,<br />
p.18)<br />
A visão da personagem-narra<strong>do</strong>ra GH é inseparável <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> contá-la, e a consciência da<br />
linguagem enquanto o que não po<strong>de</strong> ser totalmente verbaliza<strong>do</strong> está presente na ficção. A<br />
personagem GH, ao afirmar, que viver não é relatável enten<strong>de</strong> que o momento da vivência -<br />
instantâneo - foge à palavra que o expressa. G.H sabe que o ato <strong>de</strong> narrar não compreen<strong>de</strong>, não<br />
engloba o fato vivi<strong>do</strong>. A passagem a seguir <strong>do</strong> romance, corrobora o que estamos discutin<strong>do</strong>:<br />
Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível.<br />
Terei <strong>de</strong> criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é<br />
imaginação, é correr o gran<strong>de</strong> risco <strong>de</strong> se ter a realida<strong>de</strong>. Enten<strong>de</strong>r é uma criação,<br />
meu único mo<strong>do</strong>. Precisarei com esforço traduzir sinais <strong>de</strong> telégrafo- traduzir o<br />
<strong>de</strong>sconheci<strong>do</strong> para uma língua que <strong>de</strong>sconheço e sem sequer enten<strong>de</strong>r para que<br />
valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu não estivesse não<br />
seria linguagem.<br />
Até criar a verda<strong>de</strong> <strong>do</strong> que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo <strong>do</strong> que<br />
uma escrita pois tenho mais uma reprodução <strong>do</strong> que uma expressão. (LISPECTOR,<br />
1988, p. 15)<br />
A personagem G.H. propõe criar sobre a realida<strong>de</strong>, criar a “verda<strong>de</strong>” <strong>do</strong> que lhe<br />
aconteceu, como uma reprodução <strong>do</strong>s sentimentos vivi<strong>do</strong>s, porque sabe que qualquer tentativa<br />
<strong>de</strong> relatar - através da linguagem - um momento vivi<strong>do</strong> ten<strong>de</strong>rá ao fracasso, por ser aquilo que<br />
a expressão verbal não consegue <strong>de</strong>screver em sua totalida<strong>de</strong>. E a autora reconhece que o criar<br />
literário, a imaginação no momento da escrita, é o que se faz sem pretensão <strong>de</strong> ter um valor <strong>de</strong><br />
verda<strong>de</strong> tal ou qual, como propõe Wittgenstein.<br />
100
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Segun<strong>do</strong> Wittgenstein, o trabalho essencial da linguagem é afirmar ou negar fatos.<br />
Portanto, importam-lhe as condições que teria que cumprir uma linguagem logicamente<br />
perfeita, em que uma sentença “signifique” algo bem <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>. Pois para que se afirme certo<br />
fato, <strong>de</strong>ve haver algo em comum entre a estrutura sentença e a estrutura <strong>do</strong> fato. Mas o que há<br />
em comum entre e sentença e o fato, Wittgenstein sustenta, não po<strong>de</strong> por sua vez, ser dito na<br />
linguagem. Po<strong>de</strong> em sua terminologia, ser mostra<strong>do</strong>, pois o que se queira dizer precisará<br />
também ter a mesma estrutura, a mesma figuração lógica. O que para Wittgenstein seria<br />
impossível, pois o que se exprime na linguagem, esta não po<strong>de</strong> representar, não po<strong>de</strong> exprimir<br />
por meio <strong>de</strong>la. Vê-se claramente que Wittgenstein quer abolir a metafísica, ou melhor, o<br />
discurso metafísico, isto é, a tentativa <strong>de</strong> dizer o que se mostra, mas não abolir a arte, a moral,<br />
os <strong>do</strong>mínios da linguagem humana que “mostram” sem pretensão <strong>de</strong> dizer algo verda<strong>de</strong>iro ou<br />
falso.<br />
Com efeito, a eliminação das afirmações metafísicas <strong>de</strong>sejada por Wittgenstein, no<br />
Tratactus-lógico-philosóphicus, é agora realizada nas Investigações Filosóficas <strong>de</strong> diferentes<br />
formas, sen<strong>do</strong> a principal, o esclarecimento das regras <strong>do</strong>s diferentes tipos <strong>de</strong> jogos <strong>de</strong><br />
linguagem. Po<strong>de</strong>mos concluir, então, que o objetivo <strong>de</strong> Wittgenstein em as Investigações<br />
Filosóficas é pareci<strong>do</strong> com o <strong>do</strong> Tratctus. Quer dizer, as afirmações metafísicas <strong>de</strong>vem<br />
<strong>de</strong>saparecer para que possamos ver o mun<strong>do</strong> corretamente e viver melhor. Ressaltan<strong>do</strong> que<br />
Wittgenstein, com a noção <strong>de</strong> jogos <strong>de</strong> linguagem não quer introduzir um relativismo.<br />
É verda<strong>de</strong>, que com a noção <strong>de</strong> jogos <strong>de</strong> linguagem, Wittgenstein está propon<strong>do</strong><br />
salvaguardar um lugar para arte, para a literatura, para a música e também para outros mo<strong>do</strong>s<br />
artísticos <strong>de</strong> se expressar. Pois essas são práticas que se dão através da linguagem, mas que não<br />
querem se comprometer em ter um valor <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>, não são feitas para serem postas em<br />
prova. Wittgenstein sugere, da<strong>do</strong> o entendimento <strong>de</strong> que a linguagem não expressa com<br />
precisão momentos da realida<strong>de</strong>, que essa é sua limitação, e o conhecimento <strong>de</strong> sua limitação é<br />
o que nos permite falar sobre o que quisermos, ainda mais quan<strong>do</strong> não temos pretensão <strong>de</strong> dar<br />
mo<strong>de</strong>los explicativos da realida<strong>de</strong> – <strong>de</strong> fazer ciência.<br />
É o que se verifica no romance A paixão segun<strong>do</strong> G.H: o entendimento da personagem-<br />
narra<strong>do</strong>ra sobre a limitação da linguagem é evi<strong>de</strong>nte na passagem <strong>do</strong> livro, em que a vonta<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> G. H. <strong>de</strong> aproximar-se <strong>do</strong> que é uma barata, <strong>de</strong> regressar a um esta<strong>do</strong> primitivo, originário<br />
que faz com que a personagem seja lançada para fora <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> humano, <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong>-a na<br />
“borda da vida”, com a consciência <strong>de</strong> que narrar sua experiência não engloba o fato vivi<strong>do</strong>. O<br />
<strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> encontrar o que resta <strong>do</strong> homem quan<strong>do</strong> a linguagem se esgota, é o que move a<br />
101
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
literatura <strong>de</strong> Clarice Lispector. Em termos wittgenstenianos, encontrar o que resta <strong>do</strong> homem,<br />
quan<strong>do</strong> a linguagem se esgota, seria o <strong>de</strong>svelamento <strong>do</strong> inefável, o incessante esforço da<br />
linguagem para captar aquilo que lhe foge. Para ilustrar o que acabamos <strong>de</strong> dizer vejamos mais<br />
uma passagem <strong>do</strong> livro em questão:<br />
Ah, mas para se chegar à mu<strong>de</strong>z, que gran<strong>de</strong> esforço da voz. Minha voz é o mo<strong>do</strong><br />
como vou buscar a realida<strong>de</strong>; a realida<strong>de</strong>, antes da minha linguagem, existe como um<br />
pensamento que não se pensa, mas por fatalida<strong>de</strong> fui e sou impelida a precisar saber o<br />
que o pensamento pensa. A realida<strong>de</strong> antece<strong>de</strong> a voz que a procura, mas como a terra<br />
antece<strong>de</strong> a árvore, mas como o mun<strong>do</strong> antece<strong>de</strong> o homem, mas como o mar antece<strong>de</strong><br />
a visão <strong>de</strong> mar, a vida antece<strong>de</strong> o amor, a matéria <strong>do</strong> corpo antece<strong>de</strong> o corpo, e por<br />
sua vez a linguagem um dia terá antecedi<strong>do</strong> a posse <strong>do</strong> silêncio. Eu tenho à medida<br />
que <strong>de</strong>signo – e este é o esplen<strong>do</strong>r <strong>de</strong> se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais<br />
à medida que não consigo <strong>de</strong>signar. (LISPECTOR, 1988, p.112-113)<br />
O romance A paixão segun<strong>do</strong> G.H. é, para Benedito Nunes, um <strong>do</strong>s textos mais<br />
originais da ficção brasileira e também, como escreve na introdução da Edição Crítica <strong>do</strong><br />
romance coor<strong>de</strong>nada por ele, ‘o livro maior <strong>de</strong> Clarice Lispector’, por abrir para o leitor, pelo<br />
envolvimento <strong>de</strong> sua narrativa, “a fronteira entre o real e o imaginário, entre a linguagem e o<br />
mun<strong>do</strong>, por on<strong>de</strong> jorra a fonte poética <strong>de</strong> toda ficção”. (NUNES, 1988, p. XXIV)<br />
Segun<strong>do</strong> Benedito Nunes, por um la<strong>do</strong>, A paixão segun<strong>do</strong> G.H. faz parte da linha<br />
ficcional <strong>de</strong> criação que Clarice Lispector a<strong>do</strong>tou <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o seu primeiro romance, Perto <strong>do</strong><br />
Coração Selvagem, <strong>de</strong> 1944; por outro la<strong>do</strong>, ele diz, tratar-se <strong>de</strong> um romance singular, “não<br />
tanto em função <strong>de</strong> sua história quanto pela introspecção exacerbada, que condiciona o ato <strong>de</strong><br />
contá-la”. (NUNES, 1988, p.XXIV),que se transforma, segun<strong>do</strong> o filósofo, no embate da<br />
narra<strong>do</strong>ra com a linguagem, levada a <strong>do</strong>mínios que ultrapassam o limite da expressão verbal.<br />
Sobre isso afirma:<br />
Em a paixão segun<strong>do</strong> G.H., a consciência da linguagem enquanto simbolização <strong>do</strong><br />
que não po<strong>de</strong> ser inteiramente verbaliza<strong>do</strong>, incorpora-se à ficção regida pelo<br />
movimento da escrita, que arrasta consigo os vetígios <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> pré-verbal e as<br />
marcas “arqueológicas” <strong>do</strong> imaginário até on<strong>de</strong> <strong>de</strong>sceu. G.H. tenta dizer a coisa sem<br />
nome, <strong>de</strong>scortinada no instante <strong>do</strong> êxtase, e que se entremostra no silêncio intervalar<br />
das palavras. Mas o que ela enuncia não po<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> simbolizar o substrato<br />
inconsciente da narração que, matéria comum aos sonhos e aos mitos, sobe das<br />
camadas profundas <strong>do</strong> imaginário que constituem o subsolo da ficção. (NUNES,<br />
1988, p.XXVII)<br />
Nessa perspectiva, para Nunes extrema-se o drama da linguagem, e este é o momento<br />
em que a narrativa torna-se: “o espaço agônico <strong>de</strong> quem narra e <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> sua narração – o<br />
espaço on<strong>de</strong> a narra<strong>do</strong>ra erra, isto é, on<strong>de</strong> ela se busca, buscan<strong>do</strong> o senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> real, que só<br />
atinge quan<strong>do</strong> a linguagem fracassa em dizê-lo”. (Nunes 1988, p. XXVIII). Em uma<br />
passagem <strong>de</strong> O Dorso <strong>do</strong> tigre, pertinente a esse momento, Nunes afirma:<br />
A mensagem <strong>de</strong> G.H., no fim <strong>de</strong> seu calvário, compreen<strong>de</strong>n<strong>do</strong> que a existência em si<br />
é não-humana, e que toda linguagem tem no silêncio a sua origem e seu fim, é, no<br />
102
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
que diz respeito à caracterização <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> imaginário <strong>de</strong> Lispector,<br />
verda<strong>de</strong>iramente exemplar.<br />
Clarice Lispector expõe-se, no seu A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H., ao risco <strong>de</strong> optar<br />
pelo silêncio. Lançou um <strong>de</strong>safio supremo a si mesma: jogou com a linguagem para<br />
captar o mun<strong>do</strong> pré-linguístico. E teve que admitir, no final, o fracasso <strong>do</strong> seu<br />
empreendimento. Mas foi um fracasso significativo, que acarretou para a autora a<br />
mais surpreen<strong>de</strong>nte vitória. Essa vitória, registrada nas últimas páginas <strong>do</strong> relato <strong>de</strong><br />
G.H., traduz o reconhecimento da miséria <strong>do</strong> esplen<strong>do</strong>r da linguagem, <strong>de</strong> sua<br />
falência e <strong>de</strong> sua <strong>de</strong> sua essencialida<strong>de</strong>. (NUNES, 1976, p.139)<br />
Nesta perspectiva, estamos, segun<strong>do</strong> Nunes, diante <strong>do</strong> fracasso existencial, correlato ao<br />
fracasso da linguagem. De maneira que, os <strong>do</strong>is fracassos, o da existência e o da linguagem,<br />
estão intimamente associa<strong>do</strong>s. O fracasso existencial da personagem G.H. acontece, como em<br />
to<strong>do</strong> ser humano que fracassa, por ser “incapaz <strong>de</strong> atingir pelo conhecimento, pela ação ou<br />
pelo coração a plenitu<strong>de</strong> que aspiram”. (NUNES, 1976, p. 137). E o fracasso da romancista<br />
com a linguagem, isto é, com a experiência levada ao seu limite último, é resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
confronto <strong>de</strong>cisivo entre a realida<strong>de</strong> e expressão.<br />
Para Benedito Nunes, <strong>do</strong> processo da linguagem resulta uma ficção erradia, que é, para<br />
ele, como afirma Clarice Lispector, em passagem <strong>de</strong> A paixão segun<strong>do</strong> G.H., mais um<br />
grafismo <strong>do</strong> que uma escrita. Pois, a atitu<strong>de</strong> da personagem G.H., <strong>de</strong> abdicar <strong>do</strong> entendimento<br />
claro para ir ao encontro <strong>do</strong> que é impossível compreen<strong>de</strong>r, lança a linguagem num jogo<br />
<strong>de</strong>cisivo com a realida<strong>de</strong> e reforça o senti<strong>do</strong> místico <strong>do</strong> romance. Lembramos que<br />
Wittgenstein chamou místico ao mostrar que há algo indizível – o silêncio.<br />
Para Nunes, parece-nos que o conteú<strong>do</strong> místico da experiência da personagem é<br />
fundamental para compreen<strong>de</strong>rmos as intenções <strong>do</strong> romancista:<br />
O silêncio, <strong>de</strong>sistência da compreensão e da linguagem, é o termo final da aventura<br />
espiritual <strong>de</strong> G.H., que principia pela náusea e culmina no êxtase <strong>do</strong> Absoluto,<br />
indiscernível <strong>do</strong> Nada. Mas essa aventura, não o esqueçamos, é a via crucis <strong>de</strong> uma<br />
paixão.<br />
No título que a<strong>do</strong>tou A paixão segun<strong>do</strong> G.H., Clarice Lispector sintetiza, por<br />
uma translação parodística (Paixão segun<strong>do</strong> S. Mateus, segun<strong>do</strong> S. João, etc.) o<br />
senti<strong>do</strong> místico da Paixão <strong>de</strong>ssa mulher comum a quem cabe qualquer nome<br />
<strong>de</strong>limita<strong>do</strong> pelas iniciais G.H., submetida ao sacrifício <strong>de</strong> sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> pessoal na<br />
ara da existência transformada em calvário. (NUNES, 1976, P.112)<br />
Emilia Amaral no livro O Leitor Segun<strong>do</strong> G.H, <strong>de</strong>tém-se, no terceiro capítulo <strong>de</strong> sua<br />
obra, na fortuna crítica <strong>de</strong> A paixão segun<strong>do</strong> G.H. Para ela, Benedito Nunes, em O Dorso <strong>do</strong><br />
Tigre, propõe a examinar as situações vivenciadas pelos personagens claricianos à luz da<br />
experiência sartreana da náusea, o que o leva, conseqüentemente, a discernir a “modificação”<br />
que tal experiência sofreu no romance <strong>de</strong> Lispector. Diz Amaral:<br />
Para Nunes, em A paixão segun<strong>do</strong> G.H o esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> náusea “atinge o máximo<br />
<strong>de</strong>senvolvimento”, além <strong>de</strong> ter “função espiritual marcante” e já por esta razão<br />
distinguir-se da náusea sartreana, pois enquanto em Sartre prevalece a humanização<br />
da náusea, no romance ocorre o contrário: a experiência da náusea se aprofunda,<br />
103
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
pois libera em G.H. “o impulso primitivo, mágico, <strong>de</strong> participação, abrin<strong>do</strong> para ela<br />
o caminho <strong>de</strong> acesso a realida<strong>de</strong> pura, sem princípio nem fim”.<br />
O caráter espiritual <strong>de</strong> A paixão segun<strong>do</strong> G.H. aproxima-se, segun<strong>do</strong> o crítico,<br />
da “união com o absoluto” que os gran<strong>de</strong>s místicos <strong>do</strong> oci<strong>de</strong>nte e <strong>do</strong> oriente visaram<br />
alcançar, por meio <strong>do</strong> amortecimento das impressões sensíveis exteriores, da<br />
mortificação <strong>do</strong>s <strong>de</strong>sejos e <strong>do</strong> apaziguamento da mente, os quais levam à “perda da<br />
individualida<strong>de</strong>”, ao “<strong>de</strong>slocamento <strong>do</strong> eu individual e pessoal para o núcleo secreto<br />
da alma, que se comunica como o ser e que é partícipe <strong>de</strong> sua existência universal e<br />
ilimitada”. (AMARAL, 2005, p.109)<br />
Ainda tratan<strong>do</strong> da fortuna crítica <strong>do</strong> romance <strong>de</strong> Clarice Lispector, Emilia Amaral,<br />
escreve também sobre a obra <strong>de</strong> Benedito Nunes, O Drama da Linguagem: uma leitura <strong>de</strong><br />
Clarice Lispector, no qual o autor estuda o conjunto ficcional da escritora, <strong>de</strong>dican<strong>do</strong> um<br />
capítulo A paixão segun<strong>do</strong> G.H. (“O Itinerário Místico <strong>de</strong> G.H.”). Deste capítulo, Emília<br />
Amaral <strong>de</strong>staca alguns elementos que, segun<strong>do</strong> ela, são <strong>de</strong>pura<strong>do</strong>res da compreensão <strong>de</strong>sta<br />
visada crítica sobre o romance.<br />
Emília Amaral <strong>de</strong>staca que Nunes pontua o fato <strong>de</strong> no romance “uma complexa<br />
metamorfose interior e espiritual”, resulta <strong>de</strong> um pequeno inci<strong>de</strong>nte <strong>do</strong>méstico. Pois, para o<br />
autor, a barata não se confun<strong>de</strong> com qualquer “entida<strong>de</strong> alegórica”. Para ele, o que se <strong>de</strong>staca<br />
na análise da presença <strong>do</strong> animal no livro é sua ancestralida<strong>de</strong> em relação ao homem e<br />
também o significa<strong>do</strong> que possui <strong>de</strong> “máxima oposição que engloba os <strong>de</strong>mais contrastes<br />
expostos no relato <strong>de</strong> G.H., entre humano e não-humano, o natural e o cultural”. (NUNES<br />
apud AMARAL, 2005, p.111)<br />
Para Amaral, Benedito Nunes, além <strong>de</strong> se ocupar com a análise sobre o senti<strong>do</strong> místico<br />
<strong>do</strong> caminho <strong>de</strong> G.H., <strong>de</strong>tém-se no aspecto formal <strong>do</strong> texto, procuran<strong>do</strong> mostrar como a<br />
verda<strong>de</strong> procurada por G.H <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da “veracida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua narração”. Mas para a autora, o<br />
que lhe parece central e, portanto, merece<strong>do</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque, refere-se à distância entre a palavra<br />
e a coisa, que se intensifica à medida que a experiência <strong>de</strong> G.H. progri<strong>de</strong>, “pois essa<br />
progressão a aproxima crescentemente <strong>do</strong> silêncio da materialida<strong>de</strong> da vida em sua mu<strong>de</strong>z” .<br />
E conclui:<br />
A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressar a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> ser, que prescin<strong>de</strong> <strong>de</strong> linguagem,<br />
assinala, para o crítico, “o extremo limite da introspecção e da linguagem” já que a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> pura, para a plenitu<strong>de</strong> <strong>do</strong> ser, seria o silêncio inenarrável”. Abre-se <strong>de</strong>sta<br />
forma no romance “um hiato entre o ser e o dizer”, “entre a imanência e a<br />
transcendência”, “entre a realida<strong>de</strong> e a linguagem”, “que a própria linguagem<br />
assinala e na qual ela se move”.<br />
Na medida em que necessariamente aprofunda esse hiato, por meio da própria<br />
narrativa, que caminha “à contra-corrente da experiência narrada, G.H. é um “sujeito<br />
que se <strong>de</strong>sagrega”, com ela se <strong>de</strong>sagregan<strong>do</strong> o próprio ato <strong>de</strong> narrar.Assim, à<br />
metamorfose <strong>de</strong> G.H. correspon<strong>de</strong> a metamorfose da narrativa, à perda <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> G.H. correspon<strong>de</strong> a perda <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> da narrativa, as duas coisas ocorren<strong>do</strong><br />
como um esvaziamento: “esvaziamento da alma e da narrativa”, “a <strong>de</strong>sapossada <strong>do</strong><br />
eu e a narrativa <strong>do</strong> seu objeto”.(AMARAL, 2005,p.113)<br />
104
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Emília Amaral no livro, O Leitor Segun<strong>do</strong> G.H., discute sobre a leitura <strong>de</strong> A paixão<br />
segun<strong>do</strong> G.H., feita por Olga <strong>de</strong> Sá, em sua obra intitulada Clarice Lispector: a travessia <strong>do</strong><br />
oposto. Segun<strong>do</strong> Amaral, Sá propõe-se a ler A Paixão Segun<strong>do</strong> G.H. ‘na pauta <strong>do</strong> irônico’,<br />
‘como reversão paródica’. Sua análise começa pelo título, pois o título, segun<strong>do</strong> Sá, inverte as<br />
expectativas <strong>do</strong> leitor comum, num primeiro nível, se este enten<strong>de</strong>r o termo em seu senti<strong>do</strong><br />
erótico, o que o fará ser contraria<strong>do</strong> por uma “resposta ontológica”. Num segun<strong>do</strong> nível, para<br />
Olga <strong>de</strong> Sá, o título po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>spertar “contínuas reminiscências bíblicas” no leitor, uma vez<br />
que o fará pensar nas narrativas evangélicas da Paixão <strong>de</strong> Cristo: Paixão <strong>de</strong> Jesus Cristo<br />
segun<strong>do</strong> Matheus, João etc. Neste caso, segun<strong>do</strong> ela, o leitor também terá a sua expectativa<br />
invertida, pois Clarice Lispector “<strong>de</strong>sloca a paixão <strong>de</strong> Cristo <strong>do</strong> plano da transcendência para<br />
o da imanência”, ou seja, segue um mo<strong>de</strong>lo bíblico, mas o reverte freqüentemente, na<br />
construção <strong>do</strong> seu próprio itinerário.<br />
Para Olga <strong>de</strong> Sá em A paixão segun<strong>do</strong> G.H, a paixão é vivida e narrada pela<br />
protagonista, enquanto as narrativas bíblicas constituem partes <strong>do</strong>s evangelhos que relatam os<br />
sofrimentos <strong>de</strong> Cristo como foram vistos ou conheci<strong>do</strong>s por seus discípulos. Sobre a leitura <strong>de</strong><br />
Olga <strong>de</strong> Sá <strong>do</strong> romance <strong>de</strong> Lispector, Emilia Amaral observou que a autora diferencia a<br />
paixão <strong>de</strong> G.H. da paixão segun<strong>do</strong> G.H. E diz:<br />
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Se a primeira é uma “experiência limite”, “porque a manducação da barata levará<br />
G.H. à renuncia <strong>de</strong> sua vida pessoal, <strong>de</strong> seu ser como linguagem” a segunda também<br />
o é, na medida em que “atinge a natureza <strong>do</strong> seu produtor da linguagem: o escritor”.<br />
A obra estrutura-se, portanto, entre o silêncio da imanência que será<br />
conquistada pela personagem G.H., e a transcendência da linguagem com a qual este<br />
silêncio será relata<strong>do</strong> pela personagem G.H. (AMARAL, 2005, p. 122-123)<br />
A análise <strong>de</strong> fragmentos da fortuna crítica <strong>de</strong> A paixão segun<strong>do</strong> G.H. feita por Benedito<br />
Nunes (principalmente), Olga <strong>de</strong> Sá e Emilia Amaral, exposta aqui contribui para elucidar, na<br />
esteira <strong>do</strong> que diz Wittgenstein, em seus estu<strong>do</strong>s sobre a linguagem, que neste romance <strong>de</strong><br />
Clarice Lispector o jogo entre linguagem e a realida<strong>de</strong> é o tema central. A consciência da<br />
linguagem como o que não po<strong>de</strong> ser totalmente verbaliza<strong>do</strong>, ou seja, a consciência <strong>do</strong>s limites<br />
da linguagem que se faz presente na ficção. E é justamente o embate narrativa versus<br />
consciência que da vida a protagonista G.H.: a tentação <strong>de</strong> saber, <strong>de</strong> <strong>de</strong>signar a coisa sem<br />
nome, a experiência limite <strong>de</strong> percorrer o caminho da linguagem até o silêncio ten<strong>do</strong> em vista<br />
o fracasso.<br />
105
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
REFERÊNCIAS:<br />
ABRAMOVICH, Léia Schacher. Ludwig Wittgentein e a teoria da literatura. Porto Alegre:<br />
EDIPUC-RS, 1999.<br />
ABRAMOVICH, Léia Schacher. Ludwig Wittgentein e a teoria da literatura. Porto Alegre:<br />
EDIPUC-RS, 1999.<br />
AMARAL, Emília. O leitor segun<strong>do</strong> G.H. Cotia: Ateliê Editorial,2005.<br />
CLARICE, Lispector. A paixão segun<strong>do</strong> G.H. Ed. Crítica/Benedito Nunes, coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r.<br />
Paris: Association Archives <strong>de</strong> la littérature latino-americaine, dês Caraibes et africaine du<br />
XXe siécle; Brasília, DF: CNPq, 1988.<br />
DAL’AGNOLL, Darlei. Introdução a Wittgenstein. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006.<br />
GOTLIB, Nádia Battella. Clarice: uma vida que se conta. 2. ed. São Paulo, Ática, 1995.<br />
NUNES, Benedito. A paixão <strong>de</strong> Clarice Lispector. In: Os senti<strong>do</strong>s da paixão. São Paulo:<br />
Funarte / Companhia das Letras, 1987. p. 269-281.<br />
_______. Introdução <strong>do</strong> coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão segun<strong>do</strong> G.H. Ed.<br />
Crítica/Benedito Nunes (Coord.). Paris: Association Archives <strong>de</strong> la littérature latinoamericaine,<br />
dês Caraibes et africaine du XXe siécle; Brasília, DF: CNPq, 1988.<br />
_______. O Dorso <strong>do</strong> Tigre. São Paulo: Perspectiva, 1976.<br />
_______. O Drama da Linguagem, Uma leitura <strong>de</strong> Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1995.<br />
SÁ, Olga <strong>de</strong>. A escritura <strong>de</strong> Clarice Lispector. 2. ed. Petrópolis/São Paulo, Vozes/PUC, 1993.<br />
_______. Clarice Lispector: a travessia <strong>do</strong> oposto. São Paulo, Anna-Blume, 1993.<br />
_______. Paródia e metafísica. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão segun<strong>do</strong> G.H. Ed.<br />
crítica/Benedito Nunes, coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r. Paris: Association Archives <strong>de</strong> la littérature latinoamericaine,<br />
dês Caraibes et africaine du XXe siécle; Brasília, DF: CNPq, 1988.<br />
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratactus lógico-philosophicus. São Paulo: Editora da USP, 2008.<br />
______. Investigações filosóficas. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.<br />
106
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
XOXOTA ESTÉTICA, MODO DE REPRESENTAÇÃO<br />
Marcus Vinicius Camargo e Souza (PG-UFMS)<br />
Neste ensaio traçarei um percurso teórico para enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> que maneira Silviano Santiago se<br />
representa em suas obras Histórias Mal Contadas e O Falso Mentiroso por meio da análise <strong>de</strong><br />
duas cenas <strong>do</strong>s livros cita<strong>do</strong>s. Estas obras se diferenciam das outras obras <strong>do</strong> autor visto não<br />
se tratar mais da autobiografia ficcional, on<strong>de</strong> Santiago inventava memórias para outros<br />
autores, como o caso <strong>de</strong> Em liberda<strong>de</strong>, mas inventa, nas obras citadas para si, num gesto<br />
político, memórias. Veremos, também como ele acaba aceitan<strong>do</strong> a <strong>de</strong>nominação autoficção, é<br />
claro, alteran<strong>do</strong> ou recrian<strong>do</strong> esse conceito em um ensaio publica<strong>do</strong> posteriormente às obras.<br />
O mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> representação que analiso, <strong>de</strong>nominei-o <strong>de</strong> “xoxota estética”, expressão oriunda <strong>de</strong><br />
uma das cenas em análise.<br />
Palavras-chave: Silviano Santigo; autobiografia; autoficção; representação.<br />
Abstract<br />
In this work I’ll go thought a teorical path to un<strong>de</strong>rstand how Silviano Santiago represents<br />
himself in Histórias mal contadas and O falso mentiroso by the analyses of two scenes of the<br />
books. This books are different of others author’s works for <strong>do</strong>n’t consi<strong>de</strong>r them a fictional<br />
autobiography, where Santiago create memories for others authors, like in Em liberda<strong>de</strong>, but<br />
create for himself, in a political gesture, memories. We’ll see how him accept for himself the<br />
<strong>de</strong>nomination autofiction by recreating or changing this concept in a later essay about the two<br />
books. The way Santiago represents himself I called “aesthetic pussy”, expression from one<br />
of the two analyzed scenes .<br />
Keywords: Silviano Santiago; autobiography; autofiction; representation.<br />
1. AUTOBIOGRAFIA, AUTOBIOGRAFIA FICCIONAL E AUTOFICÇÃO<br />
É Eneida Maria <strong>de</strong> Souza, em Crítica Cult (2002), especificamente no artigo<br />
intitula<strong>do</strong> Notas sobre a crítica biográfica que a<strong>do</strong>to, entre as diversas, duas tendências para a<br />
crítica sobre a (auto)biografia, a primeira <strong>de</strong>las é:<br />
a caracterização da biografia como biografema (Roland Barthes) conceito que<br />
respon<strong>de</strong> pela construção <strong>de</strong> uma imagem fragmentária <strong>do</strong> sujeito, uma vez que não<br />
se acredita mais no estereótipo da totalida<strong>de</strong> e nem <strong>do</strong> relato <strong>de</strong> vida como registro<br />
<strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> e autocontrole (SOUZA, 2002, p. 106-107)<br />
A fragmentação <strong>do</strong> sujeito é percebida nos mais diversos escritos literários, on<strong>de</strong><br />
não há mais <strong>de</strong>terminações <strong>de</strong> um sujeito clássico ou totalitário, como discutiremos no<br />
próximo tópico, porém o que nos interessa é que Silviano Santiago vai além da fragmentação<br />
107
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>do</strong> sujeito chegan<strong>do</strong> ao <strong>de</strong>scontrole ao se mostrar como mais <strong>de</strong> um sujeito, caso <strong>de</strong> O falso<br />
mentiroso, como veremos na segunda cena em análise, temos assim um sujeito múltiplo. E:<br />
a eliminação da distância entre os pólos constituintes <strong>do</strong> pensamento binário, ou<br />
seja, as categorias referentes ao exterior/interior, à causa/efeito, ao<br />
anterior/posterior, por meio da utilização da categoria espacial <strong>de</strong> superfície, imune<br />
à verticalida<strong>de</strong> que pressupõe um olhar analítico em profundida<strong>de</strong>, e ao senti<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
origem (Jacques Derrida, Gilles Deleuze) (SOUZA, 2002, p. 107)<br />
Negan<strong>do</strong> a origem ou vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> origem <strong>de</strong> toda a constituição que a<br />
autobiografia pressupõe, enten<strong>do</strong> a obra <strong>de</strong> Silviano Santiago como a eliminação <strong>de</strong>sse<br />
binarismo, não haven<strong>do</strong>, por exemplo, interior e exterior <strong>do</strong> autor, o tempo já não se<br />
<strong>de</strong>termina por anteriorida<strong>de</strong> ou posteriorida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>sfazen<strong>do</strong> ou tornan<strong>do</strong> inútil to<strong>do</strong> o senti<strong>do</strong><br />
da noção <strong>de</strong> causa e efeito.<br />
Souza (2002), portanto, nos oferece, nessas duas tendências, o suporte para minha<br />
análise e uma possível percepção da necessida<strong>de</strong> da escrita <strong>de</strong> si, seja ela a autobiografia,<br />
autobiografia ficcional e, agora, a autoficção.<br />
O sujeito fragmentário e sem binarismos constrói a narrativa sem levar em conta o<br />
conceito clássico que temos <strong>de</strong> narrativa, não há gran<strong>de</strong>s narrativas, mas pequenas paisagens,<br />
como nos mostra Souza: “[...] cenas <strong>do</strong>mésticas e aparentemente inexpressivas para a<br />
elucidação <strong>do</strong>s fatos históricos passam a compor o quadro das pequenas narrativas,<br />
igualmente responsáveis pela construção <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> subliminar da história” (2002, p. 109) E<br />
esse senti<strong>do</strong> subliminar que temos nas narrativas contemporâneas, significa que não se narra<br />
mais uma história da humanida<strong>de</strong>, mas as múltiplas histórias que compõe um quadro<br />
fragmentário <strong>de</strong> posições, on<strong>de</strong> o sujeito age politicamente e culturalmente pelas suas<br />
reflexões <strong>de</strong>sconstruin<strong>do</strong> ou sen<strong>do</strong> <strong>de</strong>sconstruí<strong>do</strong> por toda essa impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> totalização<br />
<strong>de</strong> si mesmo.<br />
Nesse ato político perante a história, Silviano Santiago, em Histórias Mal<br />
Contadas, tem como tema o migrante e sua posição como intelectual migrante, <strong>de</strong>ssa forma<br />
ele nos faz refletir sobre a xenofobia na história e <strong>de</strong>ntro da literatura. 32 “[...] A figura <strong>do</strong> autor<br />
ce<strong>de</strong> lugar à criação da imagem <strong>do</strong> escritor e <strong>do</strong> intelectual, entida<strong>de</strong>s que se caracterizam não<br />
só pela assinatura <strong>de</strong> uma obra, mas que se integram ao cenário literário e cultural recomposto<br />
pela crítica biográfica.” (SOUZA, 2002, p. 110), essa integração proposta por Souza (2002) é<br />
possível pelas pequenas narrativas, muitas vezes autobiográficas ficcionais, pelo gesto<br />
32 Cf. os trabalhos <strong>de</strong> Sylvia Molloy, Vale o escrito – a escrita autobiográfica na América hispânica (2003) e <strong>de</strong><br />
Hugo Achugar, Planetas sem boca – escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura (2006), realizam uma<br />
análise mais profunda das questões políticas nas escritas autobiográficas e da memória <strong>de</strong> autores como Silviano<br />
Santiago.<br />
108
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
político <strong>do</strong>s escritores latino-americanos, incluin<strong>do</strong> aí Santiago. Como nos propõe Hugo<br />
Achugar em Planetas sem Boca (2006) na relação entre memória e esquecimento <strong>do</strong>s povos<br />
latino-americanos ao não possuir história e necessitar da invenção, ou da ficcionalização, para<br />
uma possível reflexão <strong>de</strong> sua própria construção sem origem, como nos confirma Souza:<br />
A origem, fantasma e vazio da análise genealógica, é entendida, no seu estatuto <strong>de</strong><br />
invenção e se <strong>de</strong>scarta <strong>de</strong> qualquer ilusão <strong>de</strong> princípio funda<strong>do</strong>r ou <strong>de</strong> autenticida<strong>de</strong><br />
factual. A invenção passa a ser tributária da força <strong>do</strong>s discursos e da retórica<br />
interpretativa. (2002, p. 113)<br />
E é da força <strong>do</strong>s discursos relacionada com nossos campos <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s, agora<br />
amplia<strong>do</strong>s pela crítica cultural, que é possível justificar os atos escritos <strong>de</strong> Santiago, e <strong>de</strong><br />
muitos outros autores:<br />
Ao se consi<strong>de</strong>rar a vida como texto e as suas personagens como figurantes <strong>de</strong>ste<br />
cenário <strong>de</strong> representação, o exercício da crítica biográfica irá certamente respon<strong>de</strong>r<br />
pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> diálogo entre e teoria literária, a crítica cultural e a literatura<br />
comparada, ressaltan<strong>do</strong> o po<strong>de</strong>r ficcional da teoria e a força teórica inserida em toda<br />
ficção. (SOUZA, 2002, p. 113)<br />
O mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> representação propostos no título <strong>de</strong>ste ensaio é minha contribuição<br />
para relacionar mais uma vez os campos <strong>de</strong> estu<strong>do</strong>s literários e mostrar a força teórica que a<br />
ficção possui, a expressão “xoxota estética” passa a ganhar estatuto <strong>de</strong> conceito teórico, para<br />
po<strong>de</strong>rmos interpretá-lo. E para começar esse diálogo é preciso relacionar a autobiografia, a<br />
autobiografia ficcional e a autoficção, fazen<strong>do</strong> <strong>de</strong>sse último não um conceito <strong>de</strong>terminista<br />
para nossa análise, mas o entre-conceito que surge entre as diversas <strong>de</strong>finições como veremos<br />
adiante.<br />
Philippe Lejeune (2008), em O pacto autobiográfico, é um <strong>do</strong>s primeiros teóricos<br />
a contribuir nesse senti<strong>do</strong>, apesar <strong>de</strong> sua abordagem estruturalista, em seu artigo publica<strong>do</strong><br />
pela primeira vez em 1975, há <strong>do</strong>is conceitos que nos importam: o pacto fantasmático e o<br />
espaço autobiográfico.<br />
Seu conceito <strong>de</strong> autobigrafia retira toda e qualquer possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
ficcionalização <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> escrita, po<strong>de</strong>mos perceber esse fato em sua <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> romance<br />
autobiográfico, que vem a ser a autobiografia ficcional:<br />
Chamo assim [romance autobiográfico] to<strong>do</strong>s os textos <strong>de</strong> ficção em que o leitor<br />
po<strong>de</strong> ter razões <strong>de</strong> suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, que haja<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar essa i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
ou, pelo menos, não afirmá-la. (LEJEUNE, 2008, p. 25, grifos <strong>do</strong> autor)<br />
O caso <strong>de</strong> Santiago é interessante para opor-se a essa <strong>de</strong>finição, visto que tanto em<br />
Histórias Mal Contadas como em O falso mentiroso ele assume seu nome, é claro, sempre<br />
nos <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong> na in<strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> se tratar <strong>de</strong> si ou <strong>de</strong> mais uma criação sobre si, e mesmo assim<br />
109
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
sabemos não se tratar <strong>de</strong> nenhum fato <strong>de</strong> sua vida pessoal, por não po<strong>de</strong>rmos afirmar nada<br />
acerca <strong>de</strong> seu passa<strong>do</strong>, a não se que Santiago mesmo nos conta em algumas entrevistas 33 .<br />
Entretanto, Lejeune em sua máxima <strong>de</strong>terminista <strong>do</strong> gênero chega a nos afirmar que “[...] a<br />
autobiografia não comporta graus: é tu<strong>do</strong> ou nada” (LEJEUNE, 2008, p. 25), mesmo assim,<br />
quero resgatar textos anteriores as <strong>de</strong>finições <strong>de</strong> Lejeune, em que esse tipo <strong>de</strong> discussão que a<br />
autoficção vem a nos suscitar ainda não tinha lugar teórico, como é o caso das obras <strong>de</strong> Jean<br />
Genet ou mesmo <strong>de</strong> André Gi<strong>de</strong>, somente para citar <strong>do</strong>is exemplos. De Jean Genet, escolhi<br />
um trecho, que além <strong>de</strong> contestar a afirmativa <strong>de</strong> Lejeune, será subsídio para minha proposta<br />
baseada em Jacques Derrida sobre o tempo e a memória, como veremos na parte seguinte:<br />
Se tento recompor com palavras a minha atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> então, o leitor, não mais <strong>do</strong> que<br />
eu, se <strong>de</strong>ixará enganar. Sabemos que a nossa linguagem é incapaz <strong>de</strong> sequer lembrar<br />
o reflexo daqueles esta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>funtos, estranho. O mesmo se daria com este diário<br />
inteiro se ele tivesse <strong>de</strong> ser a notação <strong>do</strong> que eu fui. Por isso esclareço que ele <strong>de</strong>ve<br />
informar sobre quem sou hoje quan<strong>do</strong> o escrevo. Não constitui uma busca <strong>do</strong> tempo<br />
passa<strong>do</strong>, mas uma obra <strong>de</strong> arte cuja matéria-pretexto é minha vida <strong>de</strong> outrora. Há <strong>de</strong><br />
ser um presente fixa<strong>do</strong> com a ajuda <strong>do</strong> passa<strong>do</strong>, não o inverso. Saiba-se, pois, que os<br />
fatos foram o que eu <strong>de</strong>screvo, mas a interpretação que <strong>de</strong>les extraio é o que sou –<br />
agora. (GENET, 1983, p. 68)<br />
Notável é a luci<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Genet ao nos confessar que po<strong>de</strong> informar sobre o passa<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong>le com vistas ao que ele é hoje. O autor <strong>de</strong>ixa claro que não há o resgate <strong>do</strong> passa<strong>do</strong>, apesar<br />
<strong>de</strong> tratar <strong>de</strong> fatos que ocorreram em sua vida <strong>de</strong> outrora.<br />
Porém a <strong>de</strong>monstração teórica <strong>de</strong> Lejeune para negar a possibilida<strong>de</strong> da leitura <strong>de</strong><br />
uma autobiografia com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ficcionalização cria conceitos que a distanciam <strong>de</strong><br />
sua <strong>de</strong>finição <strong>do</strong> gênero, e esses conceitos têm muito a contribuir para exatamente abrir um<br />
espaço <strong>de</strong> leitura ficcionais para estes textos, o primeiro <strong>de</strong>les é o pacto fantasmático, opon<strong>do</strong><br />
ao pacto autobiográfico, fruto <strong>de</strong> suas elaborações teóricas: “[...] a[o] ler os romances não<br />
apenas como ficções remeten<strong>do</strong> a uma verda<strong>de</strong> da ‘natureza humana’, mas também como<br />
fantasmas revela<strong>do</strong>res <strong>de</strong> um indivíduo. Denominarei essa forma indireta <strong>de</strong> pacto<br />
autobiográfico, pacto fantasmático.” (LEJEUNE, 2008, p. 43, grifos <strong>do</strong> autor). Percebemos<br />
aqui uma preocupação com a verda<strong>de</strong>, porém essa verda<strong>de</strong> não existe para o sujeito<br />
fragmentário, po<strong>de</strong>ria existir verda<strong>de</strong>s, ou a verda<strong>de</strong> poética, como <strong>de</strong>terminará o próprio<br />
Silviano Santiago ao fim <strong>de</strong>sta parte. Portanto, esses fantasmas, e porque não espectros, para<br />
nos utilizarmos da <strong>de</strong>sconstrução, criam uma fissura no corpo teórico <strong>de</strong> Lejeune, o pacto<br />
fantasmático é a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma autobiografia na qual o ficcional tem espaço, mesmo<br />
33 Cf. entrevista concedida em 2 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2002 a Helena Bomery e Lúcia Lippi Oliveira com Silviano<br />
Santiago. Mesmo nessa entrevista que consi<strong>de</strong>ro como mais uma história mal contada, o escritor se permite mais<br />
<strong>de</strong> uma elaboração <strong>de</strong> si mesmo, por exemplo, ao reconsi<strong>de</strong>rar o efeito <strong>de</strong> seu trauma relaciona<strong>do</strong> a sua mãe em<br />
sua própria história.<br />
110
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
que espectral, mas mesmo assim, sen<strong>do</strong> uma possibilida<strong>de</strong>. O outro conceito que somente<br />
colabora com a questão <strong>do</strong> fantasmático, é a questão <strong>do</strong> espaço autobiográfico, vejamos:<br />
[...] Não se trata mais <strong>de</strong> saber qual <strong>de</strong>les, a autobiografia ou o romance, seria o mais<br />
verda<strong>de</strong>iro. Nem um nem outro: à autobiografia faltariam a complexida<strong>de</strong>, a<br />
ambiguida<strong>de</strong> etc.; ao romance, a exatidão. Seria então um e outro? Melhor: um em<br />
relação ao outro. O que é revela<strong>do</strong>r é o espaço no qual se inscrevem as duas<br />
categorias <strong>de</strong> textos, que não po<strong>de</strong> ser reduzi<strong>do</strong> a nenhuma <strong>de</strong>las. Esse efeito <strong>de</strong><br />
relevo obti<strong>do</strong> por esse processo é a criação, para o leitor, <strong>de</strong> um “espaço<br />
autobiográfico”. (LEJEUNE, 2008, p. 43, grifos <strong>do</strong> autor)<br />
Mais uma vez é a questão sobre a verda<strong>de</strong> que preocupa o teórico, porém avant la<br />
lettre, Lejeune nos propõe um entre-lugar entre os <strong>do</strong>is textos que <strong>de</strong>nomina <strong>de</strong> espaço<br />
autobiográfico, como o leitor é <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>r para Lejeune é somente ele que po<strong>de</strong> andar por este<br />
espaço, entretanto nos textos <strong>de</strong> Santiago, além <strong>do</strong> leitor temos o próprio escritor se<br />
permitin<strong>do</strong> andar por este espaço, ao nos propor a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ser naqueles textos ele<br />
como qualquer outra elaboração <strong>de</strong> si.<br />
Os poucos textos que temos sobre a questão da autobiografia estão, primeiro, na<br />
tese <strong>de</strong> <strong>do</strong>utoramento <strong>de</strong> Diana Irene Klinger, Escritas <strong>de</strong> si, escritas <strong>do</strong> outro: o retorno <strong>do</strong><br />
autor e a virada etnográfica (2007), porém <strong>de</strong> forma resumida, visto que seu objeto <strong>de</strong> estu<strong>do</strong><br />
não é somente a autoficção, mas toda uma produção literária contemporânea que parte das<br />
escritas <strong>de</strong> si e propon<strong>do</strong> algo que foge ao nosso objetivo ao relacionar essa produção com as<br />
questões da antropologia. E, segun<strong>do</strong>, o texto <strong>de</strong> Silviano Santiago, intitula<strong>do</strong> Meditação<br />
sobre o ofício <strong>de</strong> criar, publica<strong>do</strong> em 2008 pela revista Aletria, em que não se limita ao<br />
conceito <strong>de</strong> Doubrouvski, mas o reinventa no contexto brasileiro e <strong>de</strong> suas obras.<br />
Em Meditações sobre o oficio <strong>de</strong> criar (2008), o próprio Silviano Santiago vai<br />
assumir performaticamente Histórias Mal Contadas e O falso mentiroso como um gesto<br />
autoficcional. É a partir da discussão existente entre o que vem a ser o discurso autobiográfico<br />
e o discurso confessional que Santiago vai reler sua própria obra:<br />
Com a exclusão da matéria que constitui o meramente confessional, o texto híbri<strong>do</strong>,<br />
constituí<strong>do</strong> pela contaminação da autobiografia pela ficção – e da ficção pela<br />
autobiografia -, marca a inserção <strong>do</strong> tosco e requinta<strong>do</strong> material subjetivo meu na<br />
tradição literária oci<strong>de</strong>ntal e indica a relativização por esta <strong>de</strong> seu anárquico<br />
potencial criativo. (SANTIAGO, 2008, p. 174)<br />
Santiago (2008) faz questão <strong>de</strong> afirmar que sua obra não é confessional, visto que<br />
a elaboração entre a sincerida<strong>de</strong> e a mentira não trata <strong>de</strong> confessar nada ao leitor, seu gesto é<br />
ficcional, ou propriamente autoficcional. Consi<strong>de</strong>ro este ensaio <strong>de</strong> Santiago como mais uma<br />
das suas histórias mal contadas, visto que nos narra também alguns fatos <strong>de</strong> sua infância, até<br />
“confessar”: “na infância, já era multiplica<strong>do</strong>ramente confessional e sincero, era<br />
111
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
autoficcionalmente confessional e sincero.” (SANTIAGO, 2008, p. 177, grifos <strong>do</strong> autor), a<br />
multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu sujeito na escrita está explicita em ambas as obras, como veremos na<br />
segunda cena que analisarei.<br />
Entre o ato autobiográfico e o ficcional está o que Silviano Santiago vai<br />
<strong>de</strong>nominar <strong>de</strong> a “verda<strong>de</strong> poética”, único tipo <strong>de</strong> verda<strong>de</strong> permitida em sua obra, visto que a<br />
verda<strong>de</strong> não é um fato explicito, mas implícito:<br />
As histórias – todas elas, eu diria num acesso <strong>de</strong> generalização – são mal contadas<br />
porque o narra<strong>do</strong>r, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>do</strong> seu <strong>de</strong>sejo consciente <strong>de</strong> se expressar <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong>s<br />
parâmetros da verda<strong>de</strong>, acaba por se surpreen<strong>de</strong>r a si pelo mo<strong>do</strong> traiçoeiro como<br />
conta sua história (ao trair a si, trai a letra da história que <strong>de</strong>veria estar contan<strong>do</strong>). A<br />
verda<strong>de</strong> não está explícita numa narrativa ficcional, está sempre implícita, recoberta<br />
pela capa da mentira, da ficção. No entanto, é a mentira, ou a ficção, que narra<br />
poeticamente a verda<strong>de</strong> ao leitor. (SANTIAGO, 2008, p. 177, grifos <strong>do</strong> autor)<br />
Como vemos é o leitor e escritor que estão andan<strong>do</strong> pelo “espaço autobiográfico”<br />
on<strong>de</strong> é permiti<strong>do</strong> essa verda<strong>de</strong> poética, que diz algo sobre o autor, mas diz muito sobre ser<br />
fragmentário e sobre estar inseri<strong>do</strong> num tempo sem passa<strong>do</strong>, presente ou futuro. Contar a<br />
história, como vemos, é traição, por mais que conscientemente queria-se contar a verda<strong>de</strong>,<br />
ainda assim há uma <strong>de</strong>limitação que toda a narrativa impõe: a ficcionalização. Saben<strong>do</strong> disso<br />
é que Santiago (2008) nos mostra que: “um <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s temas que dramatizo em meus<br />
escritos, com o gosto e o prazer da obsessão, é o da verda<strong>de</strong> poética. Ou seja, o tema da<br />
verda<strong>de</strong> na ficção, da experiência vital humana metamorfoseada pela mentira que é a ficção”<br />
(SANTIAGO, 2008, p. 178), e esse prazer pela verda<strong>de</strong> poética, pela mentira que é a ficção,<br />
faz com que todas as histórias sejam mal contadas, porque contá-las bem, revesti-las <strong>de</strong><br />
verda<strong>de</strong>, é ser superficial.<br />
Dessa forma a autobiografia, estruturalmente <strong>de</strong>finida por Lejeune (2008),<br />
passan<strong>do</strong> pela autobiografia ficcional, on<strong>de</strong> há a aceitação da presença da ficção na utilização<br />
da biografia <strong>do</strong> autor, até a autoficção, já em releitura por Santiago (2008), vemos que o<br />
sujeito clássico <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> se <strong>de</strong>terminar pelo cartesianismo, Santiago mesmo joga com a<br />
expressão, não somente em Histórias mal contadas, mas em O falso mentiroso, “sou<br />
cartesiano, à minha maneira, e canhoto. Ambi<strong>de</strong>stro.” (SANTIAGO, 2004, p. 14). Preciso<br />
agora analisar a elaboração teórica <strong>de</strong> Jacques Derrida sobre o sujeito fragmentário e o tempo,<br />
para enten<strong>de</strong>r como funciona a memória <strong>de</strong>sse sujeito, como são seus mo<strong>do</strong>s <strong>de</strong><br />
representação. Para, finalmente, po<strong>de</strong>rmos assistir as duas cenas dramatizadas que proponho<br />
para análise.<br />
2. O SUJEITO FRAGMENTÁRIO E A PRESENÇA DO PRESENTE<br />
112
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Novamente Eneida Maria <strong>de</strong> Souza, nos esclarece, <strong>de</strong>sta vez ao tratar da questão<br />
<strong>do</strong> sujeito, <strong>do</strong> tempo, da escrita e da relação entre vida e ficção na literatura ao repassar sua<br />
vida acadêmica para o concurso para Professor Titular da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Minas<br />
Gerais, no livro Tempos <strong>de</strong> Pós-crítica (2007).<br />
Souza (2007) também vai <strong>de</strong>monstrar que é o fim das gran<strong>de</strong>s narrativas que vai<br />
trazer a tona essa nova elaboração <strong>do</strong> sujeito fragmentário, “a <strong>de</strong>sconstrução das gran<strong>de</strong>s<br />
narrativas se processa pelo recorte das margens e a entrada pela porta <strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s” (SOUZA,<br />
2007 p. 23), e a <strong>de</strong>sconstrução permitiu esse processo, on<strong>de</strong> nas “margens” e pelos “fun<strong>do</strong>s” o<br />
sujeito se <strong>de</strong>monstra. E a forma como o tempo se manifestas nos pequenos relatos e sua<br />
relação com o relato da vida é <strong>de</strong>terminante:<br />
[...] A reescrita <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> resgata no presente essa dimensão, ao recompor e refazer<br />
tramas, sem qualquer intenção <strong>de</strong> reconstituição <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>s ou da ilusória<br />
autenticida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um relato <strong>de</strong> vida. O sujeito, enquanto efeito <strong>de</strong> dispositivo<br />
representativo, <strong>de</strong>saparece também na representação, ven<strong>do</strong>-se impossibilita<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
ser recupera<strong>do</strong> ou restaura<strong>do</strong> como memória e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s uniformes. (SOUZA,<br />
2007, p. 29)<br />
A falta <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> uniforme é sua fragmentação, sua impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> resgatar<br />
uma memória clássica, on<strong>de</strong> o passa<strong>do</strong> é o que se manifesta em seu relato. Temos o que vimos<br />
em Genet, uma elaboração <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> pelo que somos hoje. “[...] A escrita, espaço em que a<br />
combinação das cores somente se atualiza no momento <strong>de</strong> seu fazer, revive e apaga,<br />
simultaneamente, os traços <strong>de</strong> vida <strong>do</strong> texto” (SOUZA, 2007, p. 40), o sujeito é esse traço, às<br />
vezes presente, às vezes ausente, fantasmático, como para Lejeune, ou espectral, para Derrida.<br />
Essa recomposição <strong>do</strong> sujeito pela ficção é <strong>de</strong>monstrada por ela também como a performance:<br />
A intenção <strong>de</strong> tornar menos rígida, nos meus ensaios mais recentes, a barreira entre a<br />
ficção e a vida, ou entre a teoria e a ficção, não preten<strong>de</strong> naturalizar diferenças,<br />
tampouco <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r o retorno à analogia entre discursos. Reforça-se, ao contrário, o<br />
grau <strong>de</strong> encenação e dramaticida<strong>de</strong> que constrói o cenário textual da obra assim<br />
como da existência [...]. (SOUZA, 2007, p. 110)<br />
Como em Derrida, como veremos adiante, Souza vê: “[...] a indiferença e a apatia <strong>do</strong><br />
sujeito pós-mo<strong>de</strong>rno, contamina<strong>do</strong> pelo sentimento <strong>de</strong> déja vu: o presente instantâneo se<br />
configura como lembrança, sen<strong>do</strong> evoca<strong>do</strong> ao mesmo tempo <strong>de</strong> sua realização [...]” (SOUZA,<br />
2007, p. 145), não há mais passa<strong>do</strong>, mas esse presente instantâneo, ou uma presença <strong>do</strong><br />
presente.<br />
Eveline Hoisel, em seu artigo Silviano Santiago e seus múltiplos, no livro<br />
Leituras críticas sobre Silviano Santiago (2008) organiza<strong>do</strong>r por Eneida Leal Cunha, vai nos<br />
mostrar que a multiplicida<strong>de</strong> <strong>do</strong> sujeito Silviano Santiago é construída pela relação entre<br />
verda<strong>de</strong> e mentira. Ela trata Santiago não como um autor, nem como escritor, como Souza o<br />
113
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
faz, mas como uma palavra-síntese: “[...] ‘Silviano Santiago’ é uma palavra-síntese que, como<br />
verbete <strong>de</strong> dicionário, acumula tantos disfarces e máscaras, ‘sem i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, sem rosto e sem<br />
nome próprio estável” (HOISEL, 2008, p. 145), falar Silviano Santiago é invocar toda uma<br />
conceituação da verda<strong>de</strong> poética <strong>do</strong> sujeito fragmentário.<br />
Hoisel continua sua elaboração sobre a questão política na obra <strong>de</strong> Santiago:<br />
Na pedagogia <strong>do</strong> falso e da mentira, noções como verda<strong>de</strong> e legitimida<strong>de</strong> submetemse<br />
a processos <strong>de</strong> revaloração e constroem outras possibilida<strong>de</strong>s existenciais para o<br />
sujeito dramatiza<strong>do</strong>s na escrita, pelos quais dialogam momentos distintos da história<br />
política e social <strong>do</strong> Brasil. [..] Sob a ética <strong>do</strong> falso, <strong>do</strong> simulacro, propicia<strong>do</strong> pelos<br />
processos <strong>de</strong> transmigrações narcísicas [...] Silviano Santiago monta outras<br />
possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> interpretação das histórias individuais e coletivas. (HOISEL, 2008,<br />
p. 156-7)<br />
Ele é o intelectual migrante, Histórias mal contadas trata exatamente da questão <strong>de</strong><br />
seu percurso pelos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s, França e México, fazen<strong>do</strong> <strong>de</strong> sua experiência narrativa<br />
ficcionalizada, uma possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> entendimento da história política e social, não <strong>do</strong> Brasil,<br />
visto que não há mais gran<strong>de</strong>s narrativas épicas, mas como os intelectuais <strong>de</strong> sua época<br />
estiveram em outros espaços para enten<strong>de</strong>r o valor da cultura brasileira. Santiago possui uma<br />
postura bastante impositiva perante a xenofobia americana, é o caso <strong>de</strong> seu conto Borrão, ele<br />
permanece “<strong>de</strong> costas” para to<strong>do</strong> o preconceito: “a <strong>do</strong>r não se reconheceu ferida, por isso <strong>de</strong>ve<br />
ter si<strong>do</strong> tão rápida a cicatrização. Levantei e saí <strong>do</strong> restaurante sem ter <strong>de</strong>gusta<strong>do</strong> as famosas<br />
ribs <strong>do</strong> Texas. Quan<strong>do</strong> olhos me seguiram até a porta? Não sei. Estava <strong>de</strong> costas”<br />
(SANTIAGO, 2005, p. 47).<br />
No conto Borrão, Santiago fixa seu <strong>de</strong>stino como migrante nos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s como<br />
na escolha <strong>do</strong> banheiro utiliza<strong>do</strong>s por negros e migrantes:<br />
[...] Ficar fora significa a exclusão total <strong>do</strong> sistema. A verda<strong>de</strong>ira marginalida<strong>de</strong>. O<br />
sistema era o grau zero da cidadania <strong>de</strong> primeira e <strong>de</strong> segunda classe. No sistema<br />
dual cada um tem <strong>de</strong> se encaixar – cá ou lá, lá ou cá – por sua própria conta,<br />
responsabilida<strong>de</strong> e risco. Cabia a mim me encaixar no sistema. Mel Gibson ou<br />
Morgan Freeman na luta pela sobrevivência na terra <strong>do</strong>s caubóis <strong>do</strong> velho oeste? Por<br />
que fui entrar no banheiro <strong>do</strong>s Men? Será que estava <strong>de</strong>finin<strong>do</strong> e selan<strong>do</strong> o meu<br />
<strong>de</strong>stino <strong>de</strong> estrangeiro nos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s? Estaria para sempre me encaixan<strong>do</strong><br />
numa minoria, numa nação que se organizou em sucessivas e diferentes minorias?<br />
Os banheiros. (SANTIAGO, 2005, p. 44)<br />
E o reflexo <strong>de</strong> sua escolha é não ser bem atendi<strong>do</strong> no restaurante em que saí “<strong>de</strong><br />
costas” para o preconceito. Questiona-se se realmente Santiago fora trata<strong>do</strong> com xenofobia<br />
nos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s, porém na entrevista citada afirma o contrário, quase se tornou um<br />
americano, por exigência <strong>de</strong> seus compromissos com a universida<strong>de</strong> 34 . Mentia, então? Não:<br />
34 “Começaram a jogar indiretas: ‘Por que você não se naturaliza?’ O problema era que eu tinha começa<strong>do</strong> a<br />
mexer com dinheiro. Dirigi o Departamento <strong>de</strong> Francês em Buffalo durante um semestre inteiro, e aí você liça<br />
com a reitoria, com o <strong>de</strong>canato, empregos & promoções. Foi uma época muito boa, essa em que estive na chefia<br />
114
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Entre o público e o priva<strong>do</strong>, o olhar <strong>de</strong> Silviano Santiago apreen<strong>de</strong> os jogos <strong>de</strong><br />
máscaras, as contradições, as imposturas sociais. Para<strong>do</strong>xalmente, esses jogos são<br />
dramatiza<strong>do</strong>s em um espaço que se <strong>de</strong>clara constantemente como mentiroso e falso,<br />
e ele assume como o falso mentiroso. [...] <strong>de</strong> tanto mentir, a própria mentira – a<br />
mentira crua, simples, curta – diz-se a verda<strong>de</strong> bruta. [...] (HOISEL, 2008, p. 157)<br />
Simplesmente contava a verda<strong>de</strong> bruta, a verda<strong>de</strong> poética. O gesto político <strong>de</strong> Santiago<br />
na narrativa liga<strong>do</strong> a sua afirmação na entrevista nos mostra a contrarieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> estar entre os<br />
americanos e ser um <strong>de</strong>les, e que precisa nesse jogos dramatiza<strong>do</strong>s assumir uma postura,<br />
preferiu a postura “<strong>de</strong> costas” e retornou ao Brasil. Para <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r uma cultura brasileira?<br />
Certamente, não. Santiago é o intelectual migrante, <strong>de</strong>sconstrói uma cultura pela outra para<br />
enten<strong>de</strong>r a cultura:<br />
Estou sempre <strong>de</strong>sconstruin<strong>do</strong> os Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s pela França, ou <strong>de</strong>sconstruin<strong>do</strong> a<br />
França pelos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s, ou <strong>de</strong>sconstruin<strong>do</strong> o Brasil pela França e pelos<br />
Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s. E fazen<strong>do</strong> esses jogos, <strong>de</strong> tal forma que qualquer escrito meu é<br />
inseparável da minha formação. (BOMERRY, OLIVEIRA, 2002, p. 165)<br />
Silviano Santiago é a própria representação <strong>do</strong> que vêm a ser a memória para<br />
Jacques Derrida, analisemos via Adriana Cörner Lopes <strong>do</strong> Amaral em Sobre a memória em<br />
Jacques Derrida no livro Em torno <strong>de</strong> Jacques Derrida (2000) organiza<strong>do</strong> por Evandro<br />
Nascimento e Paula Glena<strong>de</strong>l. O tempo para a <strong>de</strong>sconstrução é diferente, e a partir <strong>de</strong>ste<br />
conceito altera<strong>do</strong>, memória e sujeito po<strong>de</strong>m ser reinterpreta<strong>do</strong>s: “a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> passa<strong>do</strong> passa a<br />
ser simultânea com o presente. E ao mesmo tempo que há essa simultaneida<strong>de</strong><br />
passa<strong>do</strong>/presente, um passa<strong>do</strong> começa a ser imagina<strong>do</strong> ainda por se fazer em um futuro que<br />
ainda está por vir” (AMARAL, 2000, p. 31).<br />
Há então, para Derrida, uma presença <strong>do</strong> presente, e essa impossibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
passa<strong>do</strong> e o <strong>de</strong>sejo <strong>do</strong> <strong>de</strong>vir faz com que a memória se altere para elaboração <strong>do</strong> próprio<br />
sujeito, isso permite que Amaral conclua que: “aquilo que não é lembra<strong>do</strong> não se po<strong>de</strong> sequer<br />
se dizer que exista” (2000, p. 32).<br />
Jacques Derrida formula que cada instante é único e jamais será resgata<strong>do</strong> em seu<br />
inteiro teor e no máximo o que se conseguirá é rememorá-lo, repeti-lo, exatamente<br />
graças a memória, mas sempre o que se terá será uma reprodução, cópia que nunca<br />
será perfeita, e já sempre diferente, em diferença (sempre ficção e não a cena em si)<br />
(AMARAL, 2000, p. 38).<br />
Dessa forma conclui Amaral que estamos fada<strong>do</strong>s a uma eterna elaboração <strong>de</strong> nós<br />
mesmos: “nada está pronto, tu<strong>do</strong> está sempre se fazen<strong>do</strong>, sempre a vir, a vida, o tempo, a<br />
própria <strong>de</strong>sconstrução. “[...] Presos ao caminhar não ao chegar” (2000, p. 42). Essa conclusão<br />
<strong>do</strong> <strong>de</strong>partamento: levei Glauber Rocha a Buffalo, levei o Arena conta Zumbi, Hélio Oiticica fez uma exposição<br />
na Albright-Knox Gallery, consegui emprego ótimo para o Abdias <strong>do</strong> Nascimento. Isso só foi possível como<br />
chefe <strong>do</strong> Departamento <strong>de</strong> Francês, porque nessa posição você tem po<strong>de</strong>r. Era amigo <strong>do</strong> <strong>de</strong>cano, comecei a ter<br />
amiza<strong>de</strong>s fora <strong>do</strong> campus, a vida social era outra” (BOMERRY, OLIVEIRA, 2002, p. 162)<br />
115
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
parece <strong>de</strong>sesperançosa, mas não a vejo <strong>de</strong>ssa forma, não po<strong>de</strong>mos nos concluir como o sujeito<br />
clássico, cartesiano, não mais. Uma visão múltipla à caminho, nos permite uma melhor ou<br />
mais ampla, pelo menos, interpretação <strong>de</strong> nós mesmos. É o que Genet nos colocou ao <strong>de</strong>ixar<br />
claro para o leitor que não contava o passa<strong>do</strong>, mas que elaborava o passa<strong>do</strong> pelo presente:<br />
Este livro não preten<strong>de</strong> ser, prosseguin<strong>do</strong> no céu o seu caminho solitário, uma obra<br />
<strong>de</strong> arte, objeto <strong>de</strong>staca<strong>do</strong> <strong>de</strong> um autor e <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. A minha vida passada, eu a podia<br />
contar com outro tom, com outras palavras. Dei-lhe uma feição heroica porque tinha<br />
em mim o que é necessário para fazê-lo, o lirismo. A minha preocupação com a<br />
coerência me impõe o <strong>de</strong>ver <strong>de</strong> continuar a minha aventura a partir <strong>do</strong> tom <strong>do</strong> meu<br />
livro. Terá servi<strong>do</strong> para melhor <strong>de</strong>finir as indicações que o passa<strong>do</strong> me apresenta;<br />
[...]. (GENET, 1983, p. 257)<br />
Histórias mal contadas e O falso mentiroso são uma nova elaboração sobre essa<br />
questão <strong>do</strong> tempo para o sujeito fragmenta<strong>do</strong>. Finalmente, chego à análise das duas cenas que<br />
me interessam.<br />
3. SILVIANO SANTIAGO, (EM)CENA<br />
A primeira cena que quero analisar, após amarar todas estas pontas teóricas, é a<br />
que <strong>de</strong>nomino: xoxota estética. A cena se encontra no conto Bom dia, simpatia <strong>de</strong> Histórias<br />
mal contadas:<br />
Entrei num museu ao transpor a porta <strong>de</strong> entrada <strong>do</strong> Jeu <strong>de</strong> Paume, on<strong>de</strong> esta<br />
abrigada uma das melhores coleções <strong>de</strong> pintores impressionistas <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. (hoje a<br />
coleção faz parte <strong>do</strong> Museu d’Orsay). Diante duma tela <strong>de</strong> Van Gogh, pela primeira<br />
vez entrei <strong>de</strong>finitivamente no museu. A<strong>de</strong>ntrei-me pela porta dum pequeno <strong>de</strong>talhe<br />
numa tela. Nunca o teria surpreendi<strong>do</strong> ao examinar a reprodução <strong>do</strong> quadro.<br />
Uma parte ínfima da tela <strong>de</strong> Van Gogh não estava recoberta <strong>de</strong> tinta a óleo.<br />
Como? a tela não é feita para ser recoberta totalmente pelas cores da tinta a óleo?<br />
Aban<strong>do</strong>no ou preguiça <strong>do</strong> artista? Vi em sua niti<strong>de</strong>z e <strong>de</strong>spu<strong>do</strong>r o vão <strong>de</strong> nu<strong>de</strong>z. A<br />
tela nua. Uma xoxota estética. Um olho <strong>do</strong> cu ao ar livre da sem-vergonhice. Sem<br />
disfarce autoral ou véu artístico, sem apelo mundano ou comercial. Exposto.<br />
A sofreguidão no ato <strong>de</strong> compor, no gesto <strong>de</strong> pintar. Estatelada na tela. A<br />
sofreguidão no ato <strong>de</strong> seduzir, no gesto <strong>de</strong> amar. Estarrecida na tela. As mãos <strong>do</strong><br />
pintor, <strong>do</strong> amante, ganham novo território pelo entusiasmo das cores, <strong>do</strong> gozo.<br />
Avançam pelo espaço neutro <strong>do</strong> linho branco, <strong>do</strong> corpo virgem. Por que param no<br />
auge <strong>do</strong> prazer? Por que ribombam no grito <strong>de</strong> alegria que é pleno e oco? Naquele<br />
vácuo <strong>de</strong> tela, <strong>do</strong> corpo, não há sujeito nem objeto. Há intersecção <strong>de</strong> ais! e<br />
silêncios. Lassidão. Proclama-se a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong>stemperada da criação, da vida. A<br />
tela não é espelho, é vidro. Transparente. Nada ali é representa<strong>do</strong>. Tu<strong>do</strong> é existência<br />
a nu <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> pintar, <strong>de</strong> amar. Tu<strong>do</strong> é cor e nu<strong>de</strong>z. (SANTIAGO, 2005, p. 90-1)<br />
Santiago se pergunta se a tela não foi feita para ser recoberta pela tinta, é o mesmo<br />
que nos perguntar: a narrativa não foi feita para ser recoberta somente pela ficção? Ao lermos<br />
a autoficção <strong>de</strong> Santiago vemos ali exposto a “sofreguidão no ato <strong>de</strong> compor”, <strong>de</strong> ver o nome<br />
<strong>de</strong> Santiago no conto Vivo ou morto, ou cenas da biografia <strong>do</strong> escritor como em Ed e Tom,<br />
para citar poucos exemplos, pois a segunda cena é a <strong>de</strong>monstração <strong>do</strong> fato. Santiago nos diz<br />
116
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
que ali não há sujeito nem objeto, somente silêncios, e é nesses silêncios que o sujeito<br />
fragmentário se manifesta, ora temos a tela, ou como quero a xoxota estética, e <strong>de</strong>pois temos a<br />
tinta, ou a ficção da elaboração <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> pela vistas <strong>do</strong> presente, da presença <strong>do</strong> presente.<br />
Finalmente, a tela, ou a escrita “não é espelho” é “vidro”. Ali nada é representa<strong>do</strong>, é<br />
existência a “nu <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> pintar”, <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> escrever. A xoxota estética é a aparição <strong>do</strong><br />
escritor no texto autoficcional, que nos põe no interdito: será mesmo o escritor? Numa leitura<br />
superficial; e: o que o escritor preten<strong>de</strong> com esse jogo com sua própria vida? Numa leitura<br />
mais profunda.<br />
mentiroso, vejamos:<br />
A outra cena, é quan<strong>do</strong> Santiago se mostra pela xoxota estética em O falso<br />
Já que voltei a tocar nas circunstâncias <strong>do</strong> meu nascimento, adianto. Corre ainda<br />
uma quinta versão sobre elas. Teria nasci<strong>do</strong> em Formiga, cida<strong>de</strong> <strong>do</strong> interior <strong>de</strong><br />
Minas Gerais. No dia 29 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1936. Filho legítimo <strong>de</strong> Sebastião Santiago<br />
e Noêmia Farnese Santiago. A versão é tão inverossímil, que nunca quis explorá-la.<br />
(SANTIAGO, 2004, p. 180)<br />
Em O falso mentiroso temos cinco versões sobre o possível nascimento <strong>de</strong><br />
Samuel, o personagem principal da narrativa em primeira pessoa. Aqui temos to<strong>do</strong>s os da<strong>do</strong>s<br />
biográficos <strong>de</strong> Santiago porém, a quinta versão é inverossímil por ser a mais verda<strong>de</strong>ira? O<br />
que vem a ser a verda<strong>de</strong> não é nosso ponto <strong>de</strong> discussão, mas sim a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa<br />
manifestação tão biográfica na autoficção que o escritor faz <strong>de</strong> sua obra. Santiago, portanto, é<br />
cinco em um único cérebro, e um <strong>do</strong>s Samuel é ele mesmo, escritor, inverossivelmente. Isso<br />
acontece <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> a performance da memória, já que ela não po<strong>de</strong> ser resgatada, por não haver<br />
passa<strong>do</strong> e pela sua multiplicida<strong>de</strong> como sujeito:<br />
Não sei por que nestas memórias me expresso pela primeira pessoa <strong>do</strong> singular. E<br />
não pela primeira <strong>do</strong> plural. Deve haver um eu <strong>do</strong>minante na minha personalida<strong>de</strong>.<br />
Quan<strong>do</strong> escrevo. Ele mastiga e massacra os embriões mais fracos, que vivem em<br />
comum como nós <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> mim. (SANTIAGO, 2004, p. 136, grifos <strong>do</strong> autor)<br />
A fragmentação <strong>do</strong> sujeito em Santiago, como po<strong>de</strong>mos ver, se dá pela<br />
multiplicida<strong>de</strong> que assume em O falso mentiroso, e nos diversos narra<strong>do</strong>res que contam cada<br />
conto <strong>de</strong> Histórias mal contadas.<br />
Santiago continua sua elaboração sobre a verda<strong>de</strong> e a mentira, e sua postura <strong>de</strong> não<br />
escolher nem uma nem outra é exemplar para a construção <strong>do</strong> sujeito fragmentário:<br />
Um peso dizia verda<strong>de</strong>. Outro dizia mentira.<br />
Uma medida dizia sincerida<strong>de</strong>. Outra medida dizia <strong>de</strong>lírio.<br />
Não elegi verda<strong>de</strong> nem mentira. Sincerida<strong>de</strong> ou <strong>de</strong>lírio. Abiscoitei os quatro, <strong>do</strong>is a<br />
<strong>do</strong>is. (SANTIAGO, 2004, p. 131, grifos <strong>do</strong> autor)<br />
117
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
“Abiscoitar os quatro” é não escolher nenhum por não precisar, sua fragmentação<br />
permite a cada momento elaborar um eu, ou um fragmento <strong>de</strong> si mesmo. Como Santiago<br />
mesmo colocou, não procura-se a verda<strong>de</strong>, a mentira, a sincerida<strong>de</strong> ou o <strong>de</strong>lírio, tem-se a<br />
verda<strong>de</strong> poética. E nessa verda<strong>de</strong> temos seu gesto político, ele representa cada um <strong>de</strong> nós, não<br />
no espelho, mas no vidro. O gesto <strong>de</strong> Santiago, e <strong>de</strong> toda a autoficção é a escrita, como fica<br />
claro nos últimos parágrafos <strong>de</strong> O falso mentiroso:<br />
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Chega <strong>de</strong> mentiras. [...]<br />
Não me casei com Esmeralda. Não tive filhos com ela.<br />
Se me colocarem contra a pare<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste relato, confessarei. Tive <strong>do</strong>is filhos virtuais.<br />
Não po<strong>de</strong>ria tê-los ti<strong>do</strong>. Não os tive. Inventei-os.<br />
Inventar não é bem o verbo. Gerei-os em outro útero. Com a mão esquerda (sou<br />
canhoto) e a ajuda da bolinha metálica da caneta bic. Com tinta azul lavável.<br />
Inseminação artificial. (SANTIAGO, 2004, p. 222)<br />
Unin<strong>do</strong> as cenas, principalmente o trecho final <strong>de</strong> O falso mentiroso e as citações<br />
<strong>de</strong> Genet, temos aqui uma vida escrita, se ela tem como base a biografia ou fatos inventa<strong>do</strong>s<br />
pelo escritor, não é o problema central <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> escrever. Uma história mal contada: “[...] se<br />
auto<strong>de</strong>nominam mal contadas [e] são na maioria <strong>do</strong>s casos as que receberam melhor<br />
tratamento por parte <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r” (SANTIAGO, 2005, p. 11). Bem tratadas pelo gesto <strong>de</strong><br />
escrever as histórias ganham valor político e não somente pessoal, po<strong>de</strong>-se discutir toda a<br />
questão <strong>do</strong> imigrante e <strong>do</strong> intelectual migrante ten<strong>do</strong> como base a experiência pessoal <strong>do</strong><br />
escritor que aparece via “xoxota estética”. E seu texto não per<strong>de</strong> a valida<strong>de</strong> se ao final negar<br />
toda a narrativa, somos to<strong>do</strong>s fragmenta<strong>do</strong>s, temos o direito <strong>de</strong> esquecer e inventar, recompor<br />
o passa<strong>do</strong> como nos apresenta. A autoficção é o mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> representação política <strong>do</strong> eu, <strong>do</strong> eu<br />
que sou enquanto escritor e <strong>do</strong> eu que sou enquanto intelectual.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ACHUGAR, Hugo. Planetas sem boca – escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura<br />
(Trad. Lyslei Nascimento). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.<br />
AMARAL, Adriana Cörner Lopes <strong>de</strong>. Sobre a memória em Jacques Derrida. In:<br />
GLENADEL, Paula; NASCIMENTO, Evandro. (Orgs.). Em torno <strong>de</strong> Jacques Derrida. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro: 7Letras, 2000.<br />
BOMERRY, Helena; OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Entrevista com Silviano Santiago. Estu<strong>do</strong>s<br />
Históricos, Rio <strong>de</strong> Janeiro, n° 30, 2002, p. 147-173.<br />
118
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
GENET, Jean. Diário <strong>de</strong> um ladrão (Trad. Jacqueline Laurence). Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova<br />
Fronteira, 1983.<br />
HOISEL, Evelina. Silviano Santiago e seus múltiplos. In: CUNHA, Eneida Leal. Leituras<br />
críticas sobre Silviano Santiago. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Editora<br />
Fundação Perseu Abramo, 2008.<br />
KLINGER, Diana Irene. Escritas <strong>de</strong> si, escritas <strong>do</strong> outro. Rio <strong>de</strong> Janeiro: 7Letras, 2007.<br />
LEJEUNE, Phillippe. O pacto autobiográfico: <strong>de</strong> Rousseau à internet. (Org. Jovita Maria<br />
Gerheim Noronha; Trad. Jovita Maria Gerheim Noronha, Maria Inês Coimbra Gue<strong>de</strong>s). Belo<br />
Horizonte: Editora UFMG, 2008.<br />
MIRANDA, Wan<strong>de</strong>r Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. São<br />
Paulo: Editora da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> São Paulo; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1992.<br />
MOLLOY, Sylvia. Vale o escrito – a escrita autobiográfica na América Hispânica. (Trad.<br />
Antônio Carlos Santos). Chapecó: Argos, 2003.<br />
SANTIAGO, Silviano. Histórias mal contadas. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Rocco, 2005.<br />
__________. Meditação sobre o ofício <strong>de</strong> criar. Aletria, v. 18, jul-<strong>de</strong>z, 2008.<br />
__________. O falso mentiroso – memórias. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Rocco, 2004.<br />
SOUZA, Eneida Maria <strong>de</strong>. Crítica Cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.<br />
__________. Tempo <strong>de</strong> pós-crítica – ensaios. São Paulo: Linear B; Belo Horizonte: Veredas<br />
& Cenários, 2007. (Coleção Obras em Dobras).<br />
119
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
A REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA SOB A PERSPECTIVA DA NOVA<br />
HISTÓRIA CULTURAL E DA LITERATURA<br />
Nubea Rodrigues Xavier (PG-UFGD)<br />
Resumo<br />
O trabalho refere-se às reflexões e pesquisa obtidas durante o Programa <strong>de</strong> Pós-graduação em<br />
Educação, da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> – UFGD, sob a orientação da profª<br />
Dra. Magda. C. Sarat Oliveira, em que tal estu<strong>do</strong>, trata-se <strong>de</strong> um projeto maior <strong>de</strong> dissertação<br />
<strong>de</strong> mestra<strong>do</strong> intitula<strong>do</strong> como Memórias <strong>de</strong> infância: a representação da criança sob uma<br />
perspectiva literária. Buscou-se construir um conceito <strong>de</strong> infância, a partir das obras literárias<br />
Infância <strong>de</strong> Graciliano Ramos e Meninos <strong>de</strong> Engenho <strong>de</strong> José Lins <strong>do</strong> Rego, com propósito <strong>de</strong><br />
obter imaginário social e cultual, ten<strong>do</strong> como objetivo a apreensão <strong>do</strong> processo <strong>de</strong><br />
individualização da criança e da sua categorização social. Por meio da Nova História Cultural<br />
analisou-se, não somente, as questões econômicas ou políticas, mas também, as emoções, as<br />
percepções, os interesses e a própria cultura, obten<strong>do</strong> a heterogeneida<strong>de</strong> e as formas<br />
simbólicas sobre a infância. A relevância <strong>de</strong>sse estu<strong>do</strong> se faz pela análise das obras literárias,<br />
em conformida<strong>de</strong>, com as i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s culturais da criança, elaboradas a partir das memórias<br />
<strong>de</strong> José Lins <strong>do</strong> Rego e Graciliano Ramos. Obten<strong>do</strong> como resulta<strong>do</strong>s, a representação da<br />
criança sob as perspectivas da Histórica, Literatura e a Nova História Cultural.<br />
Palavras-chave: Representação; Infância; Imaginário cultural; Memórias.<br />
Abstract<br />
The essay´s reflections about searches Education Master <strong>de</strong>gree´s University <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong><br />
<strong>Sul</strong> - UFGD, on the teacher assistance Magda. C. Sarat Oliveira, on the research called<br />
Memories’ infancy: the representation´s child un<strong>de</strong>r a literary perspective. This is a concept of<br />
infancy from the literary compositions Graciliano Ramos called Infancy and Jose Lins Rego<br />
with Boy´s engine, getting imaginary social and culture’s apprehension process the child and<br />
your social states. The New Cultural History was analyzed, involving the economic and<br />
politics questions bringing in the emotions, the interests and the own culture, getting in the<br />
way, the infancy symbolism and meaning. The importance this study is about analysis the<br />
literary compositions, with the child cultural i<strong>de</strong>ntities, elaborated by the author Rego and<br />
Ramos. The resulted shows the child representation about Historical, Literature and New<br />
Cultural History’s perspectives.<br />
Keywords: Representation; childhood; Cultural imaginary; Memories.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
A representação social da criança na história exige abarcar a compreensão <strong>do</strong> que seja<br />
sujeito histórico. Para tal, torna-se necessário apreen<strong>de</strong>r as crianças em seu senti<strong>do</strong> como<br />
concretas, na sua materialida<strong>de</strong>, no seu nascer, no seu viver ou morrer, expressan<strong>do</strong> a<br />
120
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
inevitabilida<strong>de</strong> da história e, nela se fazer presentes, nos seus mais diferentes momentos.<br />
(KUHLMANN JR, 1998, p. 33).<br />
Ao verificarmos a histórica da criança, <strong>de</strong>tectamos que a mesma é elaborada mediante<br />
a um olhar <strong>de</strong> adulto, já que a criança não po<strong>de</strong> relatar sua própria história. Del Priori, bem<br />
enfatiza: “a história da criança, simplesmente criança, suas formas <strong>de</strong> existência cotidiana, as<br />
mutações <strong>de</strong> seus vínculos sociais e afetivos, sua aprendizagem da vida através <strong>de</strong> uma<br />
história que, no mais das vezes, não nos é contada diretamente por ela.” (DEL PRIORI, 2007,<br />
p. 37)<br />
Mediante a essa realida<strong>de</strong>, utilizaremos as obras literárias <strong>de</strong> Infância e Menino <strong>de</strong><br />
Engenho, que apresentam uma mudança aparente na narrativa, já que o relato perpassa,<br />
através da narrativa <strong>do</strong> autor, sob a visão <strong>de</strong> uma criança. Buscaremos compreen<strong>de</strong>r a função<br />
que esta criança representa na socieda<strong>de</strong>, e, por conseguinte, fazer essa relação com os nossos<br />
dias atuais. Para tal, trabalharemos com o imaginário, com as representações produzidas a<br />
partir da literatura, já que “as imagens e discursos sobre o real não são exatamente o real, não<br />
sen<strong>do</strong> expressões literais da realida<strong>de</strong> como um fiel espelho” (PESAVENTO, 1995, p. 45).<br />
Não se tem a intenção <strong>de</strong> fazer da literatura fonte para um estu<strong>do</strong> em história <strong>de</strong> educação,<br />
mas sim, pesquisar a relação existente entre as representações da infância na literatura<br />
brasileira e a história, correlacionan<strong>do</strong> a literatura com outros saberes.<br />
2. A REPRESENTAÇÃO E O IMAGINÁRIO CULTURAL<br />
Roger Chartier enfatiza que a representação é um <strong>do</strong>s conceitos mais significantes,<br />
para a compreensão da socieda<strong>de</strong> e da sua relação com o mun<strong>do</strong> social, em que a realida<strong>de</strong> é<br />
constituída por diferentes grupos, <strong>de</strong> forma que não se <strong>de</strong>va <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> validar as lutas <strong>de</strong><br />
representações entre grupos, bem como, a sua concepção <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social e os seus valores<br />
(CHARTIER, 1990, p, 123). De forma que, José Lins <strong>do</strong> Rego e Graciliano Ramos<br />
<strong>de</strong>monstrem muito bem, as relações sociais ocorridas em seu tempo. Segun<strong>do</strong> Tozoni-Reis:<br />
A literatura, apesar <strong>de</strong> ser parte <strong>do</strong> processo histórico da socieda<strong>de</strong> brasileira, tem<br />
autonomia tal que suas obras tratam os temas principalmente na perspectiva estética,<br />
embora incorporem elementos da formação social <strong>do</strong> povo. É por essa razão que as<br />
obras da literatura brasileira tomadas como fonte <strong>de</strong> investigação <strong>de</strong>vem ser<br />
compreendidas neste estu<strong>do</strong> como expressão da realida<strong>de</strong> histórica e social, embora<br />
a expressão <strong>de</strong>ssa realida<strong>de</strong> seja articulada a elementos estéticos. (TOZONI-REIS,<br />
2005, p. 09)<br />
De acor<strong>do</strong> com Pesavento, ao interpretar o imaginário através da socieda<strong>de</strong>, tem-se um<br />
novo olhar e uma nova abordagem da realida<strong>de</strong> que extermina com as verda<strong>de</strong>s absolutas e<br />
constroem uma história social e, paulatinamente, mais cultural (PESAVENTO, 1995, p, 28).<br />
121
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Sen<strong>do</strong> que, na literatura, temos <strong>de</strong>corrências tanto na estética <strong>do</strong>s romances como no<br />
<strong>de</strong>sempenho social que as obras perfazem em relação à socieda<strong>de</strong>. Em que po<strong>de</strong>mos observar:<br />
As representações mentais envolvem atos <strong>de</strong> apreciação, conhecimento e<br />
reconhecimento e constituem um campo on<strong>de</strong> os agentes sociais investem seus<br />
interesses e a sua bagagem cultural. No <strong>do</strong>mínio da representação, as coisas ditas,<br />
pensadas e expressas tem outro senti<strong>do</strong> além daquele manifesto. (BOURDIEU apud<br />
PESAVENTO, 2005, p. 15)<br />
Já Goldmann, <strong>de</strong>clara que a maior dificulda<strong>de</strong> acerca da obra literária é explicitar o<br />
que o autor <strong>de</strong>ixa na subjetivida<strong>de</strong> em que “os valores autênticos, tema permanente <strong>de</strong><br />
discussão, não se apresentam na obra sob a forma <strong>de</strong> personagens conscientes ou <strong>de</strong><br />
realida<strong>de</strong>s concretas” (GOLDMANN, 1976, p. 14). Dessa maneira, Pesavento sugere o<br />
trabalho com a linguagem, pois o imaginário é sempre representação e não existe sem<br />
interpretação “o imaginário enuncia, se reporta e evoca outra coisa não explícita e não<br />
presente” (PESAVENTO,1995, p.15). Sen<strong>do</strong> assim, as narrativas não são pretexto para este<br />
trabalho, mas sim, as representações das crianças existentes nas obras, fazen<strong>do</strong> uma relação<br />
das suas vozes com relação da história no Brasil. De acor<strong>do</strong> com Gouvea:<br />
Trabalhar com textos literários significa ter sempre em mente a originalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta<br />
produção discursiva. A análise <strong>do</strong> texto literário na investigação histórica remetenos<br />
inicialmente a interrogarmo-nos sobre as estratégias e limites <strong>de</strong>ssa<br />
interpretação. A matéria prima <strong>do</strong> texto literário são os signos, e é na flui<strong>de</strong>z e no<br />
<strong>de</strong>slizamento característico da produção semiótica que essa escrita se localiza e se<br />
locomove. Na produção literária, os signos constituem-se como representações. A<br />
literatura, entendida como prática simbólica, configura-se como a formulação <strong>de</strong><br />
uma outra realida<strong>de</strong> que, embora tenha como referente constante o real no qual o<br />
autor e leitor se inserem, guarda com a realida<strong>de</strong> a relação não <strong>de</strong> transparência, mas<br />
<strong>de</strong> opacida<strong>de</strong> própria da reconstrução. O conceito <strong>de</strong> representação significa<br />
consi<strong>de</strong>rar que o autor não reproduz o real, mas o reconstrói, ten<strong>do</strong> como matériaprima<br />
os signos. No momento <strong>de</strong> produção <strong>do</strong> texto, traz para a escrita a sua<br />
compreensão <strong>do</strong> real, bem como o projeto <strong>de</strong> realida<strong>de</strong> pretendida. Ele representa,<br />
portanto, a realida<strong>de</strong>, ten<strong>do</strong> a linguagem literária como signo. (GOUVEA, 2002, p.<br />
23)<br />
As obras, Infância e Menino <strong>de</strong> Engenho contextualizam, <strong>de</strong> forma eficiente, um<br />
<strong>de</strong>termina<strong>do</strong> perío<strong>do</strong> histórico. Apesar das obras literárias configurarem, sobretu<strong>do</strong>, uma<br />
história <strong>de</strong> uma classe social abastada, compreen<strong>de</strong>-se que, na tessitura <strong>do</strong> texto, em que há o<br />
diálogo <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r com o leitor, é possível perceber através das lembranças apresentadas por<br />
Graciliano Ramos e José Lins <strong>do</strong> Rego, a evidência <strong>de</strong> um questionamento, tanto consciente<br />
como inconsciente, das situações culturais e sociais ocorridas no <strong>de</strong>correr da história. Tal<br />
artifício permite comprovar, simultaneamente, o cotidiano da criança nor<strong>de</strong>stina e as suas<br />
representações.<br />
3. A INFÂNCIA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DE GRACILIANO RAMOS E JOSÉ<br />
LINS DO REGO<br />
122
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
A obra literária Menino <strong>de</strong> engenho é uma autobiografia sobre a sua infância, escrita<br />
em 1932, por José Lins ou o Zé Lins, em que seu personagem, um menino narra sua história<br />
<strong>do</strong>s quatro aos <strong>do</strong>ze anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, no engenho <strong>de</strong> cana <strong>de</strong> açúcar, em Pernambuco. A<br />
narrativa, não é uma obra <strong>de</strong>stinada às crianças, mas trazem em seu bojo as perspectivas,<br />
angústias, melancolia e tristezas da infância <strong>do</strong>s fins <strong>do</strong> século XIX e início <strong>do</strong> século XX.<br />
Po<strong>de</strong>mos dizer que o engenho é uma metonímia <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong> personagem Carlos,<br />
em que sua infância <strong>do</strong>s oito aos <strong>do</strong>ze anos é <strong>de</strong>scrito a partir <strong>do</strong> momento em que se propõe a<br />
narrar suas lembranças. To<strong>do</strong>s os elementos <strong>do</strong> contexto infantil <strong>do</strong> personagem como<br />
brinque<strong>do</strong>, infância, inocência, é reduzi<strong>do</strong> a uma estrutura maior, através <strong>do</strong>s termos casa <strong>de</strong><br />
correção, aban<strong>do</strong>no, seus <strong>de</strong>sejos, suplanta<strong>do</strong>s no mun<strong>do</strong> infantil lúdico e fantasioso para<br />
suportar a responsabilida<strong>de</strong> e o peso <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> a sua volta. Tal redução <strong>de</strong> mun<strong>do</strong>, às<br />
concepções da infância, potencializa a representação literária das memórias, conduzin<strong>do</strong> o<br />
leitor ao contraste entre o mun<strong>do</strong> e o engenho.<br />
Tempo e espaço estão emaranha<strong>do</strong>s e, é por sua vez, uma construção da mente<br />
humana, em que percebemos que há uma iniciação <strong>do</strong> personagem Carlos ao entrar no mun<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> engenho, em que seu tio Juca o leva, <strong>de</strong> madrugada, para banhar-se no rio, <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong> claro<br />
que, a partir daquele momento, ele começa a fazer parte <strong>do</strong> engenho e, também, na sua<br />
iniciação sexual em que passa a ser trata<strong>do</strong> pelo nome, pelos adultos, quan<strong>do</strong> adquire uma<br />
<strong>do</strong>ença sexual.<br />
O romance <strong>de</strong>monstra o <strong>de</strong>clínio <strong>do</strong>s senhores <strong>de</strong> engenho em meio às mazelas <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s adultos e, que perpassa a representação da criança, num contexto <strong>de</strong> regime<br />
escravo, <strong>de</strong> conflitos étnicos, em que a relação familiar não estava contida, somente, em<br />
relações <strong>de</strong> afetivida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>, mas também nas relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>rio econômico que<br />
permeavam as relações sociais, assim como percebemos quan<strong>do</strong> o personagem Carlinhos vai<br />
frequentar a escola, há uma visualização da escola como um castigo ou correção, o menino<br />
sem regras, vadio, atrasa<strong>do</strong>, o menino <strong>do</strong> engenho é prepara<strong>do</strong> para uma nova fase <strong>de</strong> sua<br />
vida: “o colégio amansa menino!” A escola é posta como algo que irá endireitá-lo, para o<br />
mun<strong>do</strong>.<br />
Depois mandaram-me para a aula dum outro professor, com outros meninos, to<strong>do</strong>s<br />
<strong>de</strong> gente pobre. Havia para mim um regime <strong>de</strong> exceção. Não brigavam comigo.<br />
Existia um copo separa<strong>do</strong> para eu beber água, e um tamborete <strong>de</strong> palhinha para o<br />
“neto <strong>do</strong> Coronel Zé Paulino”. Os outros meninos sentavam-se em caixões <strong>de</strong> gás.<br />
Lia-se a lição em voz alta. A tabuada era cantada em coro, com os pés balançan<strong>do</strong>,<br />
num ritmo que ainda hoje tenho nos ouvi<strong>do</strong>s. Nas sabatinas nunca levei bolo, mas<br />
quan<strong>do</strong> acertava, mandavam que <strong>de</strong>sse nos meus competi<strong>do</strong>res. (REGO, 1972, p.<br />
33)<br />
123
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O narra<strong>do</strong>r <strong>de</strong> Menino <strong>de</strong> Engenho evi<strong>de</strong>ncia certo me<strong>do</strong> que perpassa toda a obra;<br />
<strong>de</strong>monstra<strong>do</strong> pela sua constante resistência às mudanças, é como se fosse um me<strong>do</strong> à absorção<br />
pelo nada, ou ainda, pelas muitas perdas que obtivera em sua infância como a própria morte<br />
da sua mãe, pelo casamento da tia Maria e da tia Naninha, pela ausência <strong>do</strong> pai e da prima<br />
Lili. A<strong>de</strong>mais a morte o cercava, limitan<strong>do</strong> o seu ir e vir, os seus prazeres e as suas aventuras.<br />
Os acessos <strong>de</strong> asma lhe restringiam e distanciavam ainda mais, <strong>de</strong> brincar com os meninos da<br />
bagaceira e <strong>de</strong> sair <strong>de</strong> casa. Percebemos suas inquietações, suas angústias e os conflitos<br />
intensifican<strong>do</strong>-se ainda mais, surgin<strong>do</strong> além <strong>do</strong> me<strong>do</strong> da morte, um constante questionamento<br />
interior. Há <strong>de</strong>ssa forma, não apenas o questionamento <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r, mas <strong>do</strong> próprio autor, a<br />
solidão é algo almejada por ele, para se <strong>de</strong>dicar aos seus questionamentos interiores, ao que<br />
percebemos quan<strong>do</strong> o menino Carlos está caçan<strong>do</strong> passarinhos: “muitos chegavam,<br />
examinavam tu<strong>do</strong>, punham o bico quase que <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong> alçapão, e iam embora, bem senhores<br />
<strong>do</strong> que se preparava para eles. Enquanto os canarinhos vinham e voltavam, eu me metia<br />
comigo mesmo, nos meus íntimos solilóquios <strong>de</strong> caça<strong>do</strong>r. Pensava em tanta coisa... (REGO,<br />
1972, p. 94). Assim, ele percebe seus limites, e oscila entre suas possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ser criança<br />
ou <strong>de</strong> obter a felicida<strong>de</strong>. A escrita <strong>de</strong> José Lins, coloca o personagem Carlos criança, entre o<br />
silêncio e a palavra, ou ainda entre o “ser e o não ser”.<br />
O relacionar-se com os outros que é tão importante na infância era posta como uma<br />
experiência <strong>de</strong> si mesmo. A relação com o outro aparece como uma duplicação da sua própria<br />
relação consigo mesmo, como a aparição <strong>do</strong>s seus primos como <strong>do</strong>nos <strong>de</strong> si mesmos; os<br />
meninos na bagaceira e no quarto <strong>do</strong>s carros, tocan<strong>do</strong> os órgãos sexuais <strong>de</strong> si e <strong>do</strong>s outros; o<br />
flerte com a prima <strong>do</strong> Recife.<br />
Compreen<strong>de</strong>-se assim, que a forma como narra Carlos é uma transição entre o<br />
popular e o imaginário, quan<strong>do</strong> a velha Totonha narra suas histórias, temos uma relação <strong>do</strong><br />
<strong>do</strong>cumental e <strong>do</strong> real, sen<strong>do</strong> que, a própria literatura na década <strong>de</strong> 1930, que oscila entre a<br />
ficção e o social. De forma que José Lins atua como um representante da narrativa da velha<br />
Totonha, toman<strong>do</strong> conta da forma <strong>de</strong> contar das camadas menos abastadas, como se estivesse<br />
contan<strong>do</strong> uma história para um grupo <strong>de</strong> pessoas.<br />
A obra Infância <strong>de</strong> Graciliano Ramos, escrita em 1945, em que <strong>de</strong>screve um contexto<br />
histórico e social da passagem <strong>do</strong> século XIX ao XX, no interior <strong>de</strong> Alagoas e <strong>de</strong><br />
Pernambuco. Em que narra o seu perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> mudanças da sua família, que fugin<strong>do</strong> da seca,<br />
<strong>de</strong>monstra a passagem <strong>de</strong> uma economia agrária, fundamentada no cultivo da cana <strong>de</strong> açúcar,<br />
na ascensão <strong>do</strong> café, na pequena indústria e no comércio. As memórias <strong>de</strong> Infância são uma<br />
124
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
retomada <strong>do</strong> autor ao passa<strong>do</strong> com elementos subjetivos <strong>do</strong> presente. O autor reconstrói<br />
<strong>de</strong>sejos, valores e me<strong>do</strong>s <strong>de</strong> sua infância, com as memórias que vão toman<strong>do</strong> forma e caráter<br />
literário. Suas memórias condizem as pessoas e/ou fatos que fizeram parte da infância <strong>do</strong><br />
menino Graciliano aproximadamente <strong>do</strong>s 2 aos 12 anos. De acor<strong>do</strong> com Lemos:<br />
Nas narrativas memorialísticas <strong>do</strong> livro, o adulto apresenta a perspectiva da criança<br />
ao ver o mun<strong>do</strong>, situa o papel que ela ocupa no espaço com sua pequena estatura e,<br />
por conseguinte, a dimensão que ela percebe das salas, <strong>do</strong> pátio e da barba <strong>de</strong> um<br />
velho professor que <strong>do</strong>minava uma negra mesa, cheia <strong>de</strong> meninos que aprendia o<br />
alfabeto. (LEMOS, 2002, p. 50)<br />
Os relatos <strong>de</strong> suas memórias personificam a experiência infantil, <strong>de</strong>smistifican<strong>do</strong> a<br />
imagem <strong>de</strong> inocência e <strong>de</strong> infância feliz. Demonstran<strong>do</strong> a sua experiência <strong>de</strong> criança, á partir<br />
da indiferença, dureza e injustiça que <strong>de</strong>lineiam sua primeira infância, sob as atitu<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s<br />
adultos:<br />
As minhas primeiras relações com a justiça foram <strong>do</strong>lorosas e <strong>de</strong>ixaram-me funda<br />
impressão. Eu <strong>de</strong>via ter quatro ou cinco anos, por aí, figurei na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> réu.<br />
Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me <strong>de</strong>ra a<br />
enten<strong>de</strong>r que se tratava <strong>de</strong> julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto<br />
era natural. (RAMOS, 1994, p.31)<br />
Temos, também, na obra <strong>de</strong> Graciliano uma pedagogia fundamentada em castigos e<br />
numa escola distante das necessida<strong>de</strong>s das crianças:<br />
Uma interjeição me puxava à realida<strong>de</strong>, esfriava-me o sangue; a falta se revelava,<br />
erguia-me o rosto alarma<strong>do</strong>. Nenhum castigo. O professor andava no mun<strong>do</strong> da lua,<br />
as pálpebras meio cerradas, mexen<strong>do</strong>-se <strong>de</strong>vagar na ca<strong>de</strong>ira, como sonâmbulo. Não<br />
se espantara, não se indignara: a exclamação traduzia algum sentimento nebuloso,<br />
estranho à leitura. Fin<strong>do</strong> o susto, consi<strong>de</strong>rava-me isola<strong>do</strong>, continuava nas infrações<br />
sem nenhuma vergonha. Às vezes, porém o espelho nos anuncia borasca. O<br />
<strong>de</strong>sgraça<strong>do</strong> não se achava liso e alvacento, azedava-se, repentina aspereza substituía<br />
a <strong>do</strong>çura comum. Arriava na ca<strong>de</strong>ira, agitava-se, parecia mordi<strong>do</strong> <strong>de</strong> pulgas. Tu<strong>do</strong><br />
lhe cheirava mal. Segurava a palmatória como se quisesse <strong>de</strong>rrubar com ela o<br />
mun<strong>do</strong>. E nós, meia dúzia <strong>de</strong> alunos, tremíamos <strong>de</strong> cólera maciça, tentávamos nos<br />
escon<strong>de</strong>r uns por <strong>de</strong>trás <strong>do</strong>s outros. (REGO, 1972, p. 191)<br />
O me<strong>do</strong>, na obra Infância é <strong>de</strong>scrita pelo relacionamento com os pais, os<br />
caracterizan<strong>do</strong> como:<br />
Meu pai e minha mãe conservavam-se gran<strong>de</strong>s, temerosos, incógnitos. Revejo<br />
pedaços <strong>de</strong>les, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e<br />
calosas, finas e leves, transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar <strong>de</strong> esporas<br />
(...) Me<strong>do</strong>. Foi o me<strong>do</strong> que me orientou nos primeiros anos, pavor. (RAMOS, 1994,<br />
p. 13)<br />
Nas duas obras, há concepções diferentes para o brincar e para os brinque<strong>do</strong>s, na<br />
obra <strong>de</strong> Infância <strong>de</strong> Graciliano Ramos, o ambiente <strong>de</strong> suas brinca<strong>de</strong>iras ficavam entre o paiol,<br />
o muro <strong>de</strong> tijolos <strong>de</strong> copiar e as sombras da fazenda. Percebese- que o brincar, perpassava nas<br />
coisas mais simples <strong>de</strong> ser criança como o brincar com os seixos e ossos, <strong>de</strong> cabra-cega, ou<br />
125
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
simplesmente, sentar à janela da casa e observar a mata balançan<strong>do</strong> as pernas. Sabia que não<br />
podia ter brinque<strong>do</strong>s industrializa<strong>do</strong>s como os ricos, mas contentava-se em engenhar bonecos<br />
<strong>de</strong> barro. O que tinha a sua volta era o mun<strong>do</strong> adulto “feito caixa <strong>de</strong> brinque<strong>do</strong>, os homens<br />
reduzi<strong>do</strong>s ao tamanho <strong>de</strong> um polegar <strong>de</strong> crianças” (RAMOS, 1994, p. 108). Já, no Menino <strong>de</strong><br />
Engenho, a preferência ficava no banho nos açu<strong>de</strong>s, no brincar ao sol, e as caças a arribaçã, a<br />
rola sertaneja, por ser neto <strong>do</strong> senhor <strong>do</strong> engenho tinha muitos brinque<strong>do</strong>s <strong>de</strong> artesanato como<br />
o pião, contu<strong>do</strong>, seus brinque<strong>do</strong>s eram mais importantes <strong>do</strong> que aqueles confecciona<strong>do</strong>s, pois<br />
com estes sabia que não se quebrariam. Por outro la<strong>do</strong>, passava maior parte <strong>do</strong> seu tempo a<br />
observar os adultos trabalhan<strong>do</strong>, ou mesmo brincan<strong>do</strong> com coisas que não importavam mais<br />
aos adultos: “umas carabinas que guardava atrás <strong>do</strong> guarda-roupa, a gente brincava com elas<br />
<strong>de</strong> tão imprestáveis” (Rego, 1972, p. 49).<br />
Enquanto que na obra <strong>de</strong> José Lins, a <strong>de</strong>scoberta da vida pelos prazeres da infância<br />
não tinha limites, nem sequer entre mun<strong>do</strong> animal e humano, entre raças e ida<strong>de</strong>s ou classe<br />
social, pois sua experiência da infância estava no conviver <strong>do</strong>s meninos, e moleques da casa<br />
gran<strong>de</strong>, ou ainda, a observar a vida sexual <strong>do</strong>s animais da fazenda. Em Graciliano, temos a<br />
rigi<strong>de</strong>z espaço da infância é o avesso <strong>do</strong> aconchego <strong>de</strong>monstra<strong>do</strong> por Bachelard, <strong>do</strong> bem-estar<br />
da intimida<strong>de</strong>, a casa <strong>de</strong>ssa infância é comparada a um cárcere, associada a ari<strong>de</strong>z, cemitério,<br />
em que o quintal pu<strong>de</strong>sse ser seu refúgio. A obra é repleta <strong>de</strong> um lirismo represa<strong>do</strong>, escondi<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong>monstra<strong>do</strong>s numa linguagem lacônica, lacunosa, cheia <strong>de</strong> elipses. Até mesmo a figura da<br />
maternida<strong>de</strong> que é o da mãe acolhe<strong>do</strong>ra e envolvente, para ele, perpassa como uma mãe<br />
agressiva e ressacada, assim como a sua realida<strong>de</strong> construída durante a sua obra. Tal postura é<br />
repassada na vida <strong>do</strong> personagem <strong>de</strong> Graciliano, numa realida<strong>de</strong> hostil em que, a partir da<br />
relação conflituosa com a mãe, em sua infância, acaba por se repetir, com a escola e com a<br />
socieda<strong>de</strong>.<br />
Entretanto, em ambas as obras observamos uma infância representada pela solidão e<br />
pelas angústias, “pois, mesmo diante <strong>de</strong> uma heterogeneida<strong>de</strong> <strong>de</strong> protagonistas adultos e<br />
crianças” (LEMOS, 2002, p. 69), os narra<strong>do</strong>res expõem seus mun<strong>do</strong>s a partir <strong>de</strong> sua<br />
individualida<strong>de</strong> e isolamento.<br />
A partir das obras literárias, por meio <strong>de</strong> sua originalida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> seu estatuto<br />
simbólico, temos uma compreensão da infância, num <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> contexto histórico e<br />
cultural, em que Chartier as <strong>de</strong>fine como ilustração <strong>de</strong> resulta<strong>do</strong>s que partilham as fontes<br />
técnicas da histórica com um enfoque volta<strong>do</strong> a uma análise mais rica e completa. Assim, “a<br />
infância analisada é um processo <strong>de</strong> construção subjetiva e <strong>de</strong> reconstrução cultural através da<br />
126
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
atuação <strong>de</strong> uma criança nor<strong>de</strong>stina”. (I<strong>de</strong>m, p. 72). De forma que Gouvea enfatiza, “analisar a<br />
diversida<strong>de</strong> das experiências infantis indica a necessida<strong>de</strong> da ampliação <strong>de</strong> fontes, <strong>de</strong> maneira<br />
a conferir visibilida<strong>de</strong> a varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> espaços sociais <strong>de</strong> inserção e conformação da<br />
experiência histórica <strong>de</strong> ser criança” (GOUVEA, 2002, p. 19).<br />
Dessa forma, observamos que a concepção <strong>de</strong> infância, <strong>de</strong>corre por diferentes<br />
significa<strong>do</strong>s em <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s momento histórico, volta<strong>do</strong> a um da<strong>do</strong> grupo social em que<br />
tanto o contexto cultural, econômico, religioso e intelectual é extremamente relevante. Sen<strong>do</strong><br />
que a criança, por estar inserida e participar ativamente da cultura, não po<strong>de</strong> viver uma<br />
infância i<strong>de</strong>alizada e não elimina a especificida<strong>de</strong> da infância, como categoria social.<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Concluímos, <strong>de</strong>ssa maneira, que o autor <strong>de</strong> Menino <strong>de</strong> Engenho, o narra<strong>do</strong>r é<br />
consciente <strong>do</strong> seu distanciamento das condições sociais históricas, tatean<strong>do</strong> entre a narração<br />
das mesmas para fixá-las e se <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> <strong>de</strong>sfazer, como se fosse algo perdi<strong>do</strong> para sempre,<br />
tem um tom <strong>de</strong> autoquestionamento. Ao fazer a obra, o Carlos adulto, o faz <strong>de</strong> mãos dadas<br />
com a criança <strong>do</strong> engenho. A representação não ocorre <strong>de</strong> maneira fácil e pacífica, pois<br />
compartilha o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> representação. O autor não compartilha da mesma visão <strong>de</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
menino Carlos, mas há mesmo assim, uma aproximação, pois o adulto acaba por aceitar, por<br />
meio das memórias, a voz <strong>do</strong> menino. Na obra Infância, temos um sentimento frequente <strong>de</strong><br />
humilhação <strong>de</strong> menino que é, sucessivamente, machuca<strong>do</strong> pelos pais. Há uma negociação<br />
entre o próprio escritor e o menino, <strong>de</strong> forma que o menino possa simular o seu mun<strong>do</strong>, é<br />
como se tivesse uma aproximação e, ao mesmo tempo um distanciamento, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a existir<br />
uma representação.<br />
Ao arraigarmos os conhecimentos sobre as crianças e suas infâncias, possibilitamos<br />
maior visibilida<strong>de</strong> às suas representações, contribuin<strong>do</strong> assim, para uma reconfiguração <strong>do</strong><br />
conceito <strong>de</strong> infância e <strong>de</strong> sua distinção no lugar que as crianças ocupam na socieda<strong>de</strong> atual.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Trad.Dora Flaksman. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Livros técnicos e Científicos Editora. 1981<br />
BACHELARD, Gaston. A poética <strong>do</strong> espaço. Trad. Antonio <strong>de</strong> Padua Danesi. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1988.<br />
BAKHTIN, Mikhail. Questões <strong>de</strong> literatura e <strong>de</strong> estética: a teoria <strong>do</strong> romance. São Paulo:<br />
UNESP, 1998<br />
127
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinque<strong>do</strong> a educação. São Paulo:<br />
Summus, 1984.<br />
BOSI, Alfre<strong>do</strong>. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1979.<br />
BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982.<br />
CARVALHO, Eronilda Maria Góis. Educação infantil: percurso, dilemas e perspectivas.<br />
Ilhéus, BA:Editus, 2003.<br />
CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada, 3 – da Renascenças ao Século das<br />
Luzes. São Paulo, Companhia das letras, 1991.<br />
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL,<br />
1990.<br />
COUTINHO, Afrânio (Org.). A literatura no Brasil. São Paulo: Global, v. 5 (Era<br />
Mo<strong>de</strong>rnista), 2004, v.6 (Relações e perspectivas, conclusão), 2004.<br />
ELIAS. Norbert. A socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> corte. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.<br />
__________. O processo civiliza<strong>do</strong>r: uma história <strong>do</strong>s costumes. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Zahar,<br />
1994. v.1<br />
__________. A socieda<strong>de</strong> <strong>do</strong>s indivíduos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Zahar, 1994.<br />
__________. O processo civiliza<strong>do</strong>r: formação <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> e civilização. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Zahar,<br />
1993.<br />
GOLDMANN, Lucien. A sociologia <strong>do</strong> romance. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Paz e Terra, 1976<br />
GOMES, Ângela <strong>de</strong> Castro. O primeiro governo Vargas: projeto político e educacional. In:<br />
MAGALDI, Ana Maria; ALVES, Claudia; GONDRA, José G. (Orgs.). Educação no Brasil:<br />
história, cultura e política. Bragança Paulista: EDUSF, 2003.<br />
KUHLMANN, Jr. M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre:<br />
Mediação, 1998.<br />
LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Editora da Unicamp, 1990.<br />
PESAVENTO, Sandra Jatehy. Relação Entre História e Literatura e Representação das<br />
I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s Urbanas No Brasil (Séculos Xix e Xx). ANOS 90, PORTO ALEGRE, n. 4, p. 115-<br />
127, 1995.<br />
PESAVENTO, Sandra Jatehy. Em busca <strong>de</strong> uma outra história: imaginan<strong>do</strong> o imaginário.<br />
Representações. Revista Brasileira <strong>de</strong> História. São Paulo: ANPUH/Contexto, v. 5 n. 29,<br />
1995<br />
PRIORE, Mary Del. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007<br />
RAMOS, Graciliano. Infância. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Record, 1994.<br />
REGO, José Lins <strong>do</strong>. Menino <strong>de</strong> engenho. Rio <strong>de</strong> Janeiro: José Olympio, 1972.<br />
ROMANELLI, Otaiza <strong>de</strong> Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis:<br />
Vozes, 1991<br />
SANTOS, Robson <strong>do</strong>s. Socieda<strong>de</strong> e literatura no romance “Angústia” <strong>de</strong> Graciliano Ramos.<br />
Revista <strong>de</strong> Iniciação Científica da FFC. v. 4, n. 3, 2004.<br />
128
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
SARAT, Magda. Reflexões sobre infância: Elias, Mozart e memórias <strong>de</strong> velhos. Comunicação<br />
oral apresentada e publicada nos anais <strong>do</strong> ix simpósio internacional processo civiliza<strong>do</strong>r:<br />
tecnologia e civilização. Paraná. BRASIL, 24 a 26 <strong>de</strong> Novembro 2005.<br />
TOZONI-REIS, Marília Freitas <strong>de</strong> Campos. Infância, escola e pobreza: ficção e realida<strong>de</strong>.<br />
São Paulo: 2002<br />
129
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
CU É LINDO – O PALAVRÃO COMO RECURSO DO EROTISMO NA<br />
LÍRICA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 35<br />
Osmar Casagran<strong>de</strong> Júnior (PG - UFMS)<br />
Resumo<br />
Este artigo objetiva apresentar um trabalho sobre o uso <strong>do</strong> palavrão como recurso <strong>do</strong> erotismo<br />
em antologias contemporâneas <strong>de</strong> poemas brasileiros. A pesquisa será <strong>de</strong>senvolvida <strong>de</strong> mo<strong>do</strong><br />
a analisar <strong>de</strong> que maneira(s) a linguagem obscena contribui para a construção <strong>do</strong> significa<strong>do</strong><br />
erótico na produção poética selecionada pelos organiza<strong>do</strong>res <strong>de</strong>ssas obras.<br />
Palavras-chave: erotismo; poesia; palavrão.<br />
Abstract<br />
This article presents a study about the use of swearword as a mean of eroticism in<br />
contemporary anthologies of poetry in Brazil. The research will be <strong>de</strong>veloped to study the<br />
way (s) that foul language contributes to the construction of erotic meaning in these works.<br />
Keywords: eroticism; poetry; swearword.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Objeto <strong>de</strong> amor<br />
De tal or<strong>de</strong>m é e tão precioso<br />
o que <strong>de</strong>vo dizer-lhes<br />
que não posso guardá-lo<br />
sem que me oprima a sensação <strong>de</strong> um roubo:<br />
cu é lin<strong>do</strong>!<br />
Fazei o que pu<strong>de</strong>r<strong>de</strong>s com esta dádiva.<br />
Quanto a mim <strong>do</strong>u graças<br />
pelo que agora sei<br />
e, mais que perdôo, eu amo.<br />
(PRADO, 2001, p. 32)<br />
“Cu é lin<strong>do</strong>!”. A <strong>de</strong>scoberta louvável que o eu-lírico compartilha conosco em tom <strong>de</strong><br />
confissão salienta o emprego <strong>do</strong> palavrão como recurso para construção <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> erótico<br />
na poesia. Seguimos seu excitante conselho: fazer o que pu<strong>de</strong>rmos com essa dádiva.<br />
O palavrão po<strong>de</strong> ser emprega<strong>do</strong> com diversos senti<strong>do</strong>s: <strong>de</strong>ntre outros, como injúria<br />
pura e simples, como elemento <strong>de</strong> humor escatológico ou apenas como interjeição; por vezes<br />
tem sua carga <strong>de</strong> agressivida<strong>de</strong> diminuída ou até anulada e não necessariamente evoca o<br />
senti<strong>do</strong> original <strong>do</strong>s termos (cf. PRETI, 1984), chegan<strong>do</strong> a ser somente expressivo e não<br />
comunicativo (cf. BENVENISTE, 1974). Nosso estu<strong>do</strong> analisa como esses termos, através<br />
<strong>do</strong>s seus varia<strong>do</strong>s empregos, produzem o significa<strong>do</strong> erótico em poemas seleciona<strong>do</strong>s pelas<br />
35 Este artigo é a primeira versão <strong>do</strong> projeto a ser realiza<strong>do</strong> para a conclusão <strong>do</strong> Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação:<br />
Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Linguagens, da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong>.<br />
130
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
seguintes antologias: Os cem melhores poemas brasileiros <strong>do</strong> século, organizada por Ítalo<br />
Moriconi; Antologia pornográfica, organizada por Alexei Bueno; M(ai)S – Antologia sa<strong>do</strong>-<br />
masoquista da literatura brasileira, organizada por Antonio Vicente Seraphim Pietroforte e<br />
Glauco Mattoso. Tal obscenida<strong>de</strong> é manifestada ao se nomear os órgãos e práticas sexuais e<br />
na <strong>de</strong>flagração <strong>do</strong> xingamento, compon<strong>do</strong> os versos dialogais entre o eu-lírico, seus parceiros<br />
sexuais e o próprio leitor, <strong>de</strong> forma a produzir uma poética tensa, carregada <strong>de</strong> um erotismo<br />
agressivo, comedidamente (às vezes não) violento:<br />
Araras versáteis. Prato <strong>de</strong> anêmonas.<br />
O efebo passou entre as meninas trêfegas.<br />
O rombu<strong>do</strong> bastão luzia na mornura das calças e <strong>do</strong> dia.<br />
Ela abriu as coxas <strong>de</strong> esmalte, louça e ume<strong>de</strong>cida laca<br />
E vergastou a cona com minúsculo açoite.<br />
[…]<br />
(HILST, 2009, revista eletrônica Germina, s.p.)<br />
com a minha espada<br />
te arranco lágrima<br />
<strong>de</strong>sse teu fun<strong>do</strong><br />
tão nu e cru<br />
varo o aro<br />
furo-te<br />
oh! o<br />
olho<br />
<strong>do</strong><br />
cu<br />
<strong>do</strong><br />
olho<br />
oh! o<br />
furo-te<br />
varo o aro<br />
tão nu e cru<br />
<strong>de</strong>sse teu fun<strong>do</strong><br />
te arranco lágrima<br />
com a minha espada<br />
Chupan<strong>do</strong>, ajoelhada, a grossa rola<br />
<strong>do</strong> gor<strong>do</strong>, O julga ser <strong>do</strong> mesmo cara<br />
que há tempo, no castelo, a chibatara<br />
até, fraca, aceitar na boca pô-la.<br />
(TÁPIA, 2008, p. 115)<br />
No traço <strong>de</strong> Crepax, a fêmea tola<br />
e dócil foi treinada a levar vara<br />
na frente e atrás, cumprin<strong>do</strong> a regra clara<br />
que a torna mais escrava que crioula.<br />
[…] (MATTOSO, 2008, p. 58)<br />
Nesses versos já percebemos uso <strong>do</strong> palavrão não como um mero elemento da<br />
linguagem coloquial na poesia, mas com a intencionalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seduzir, às vezes como um ato<br />
<strong>de</strong> conotação violenta <strong>de</strong> interação erótica, já que “<strong>de</strong>ntro <strong>do</strong> pensamento <strong>de</strong> Bataille […] o<br />
erotismo implica um princípio <strong>de</strong> violência e <strong>de</strong> violação mais ou menos <strong>de</strong>claradas” (PAES,<br />
2006, p. 18). Nosso objetivo, então, é estudar <strong>de</strong> que maneira a utilização das ditas palavras <strong>de</strong><br />
131
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
“baixo calão” concorrem para a construção <strong>do</strong> elemento erótico na poesia, <strong>de</strong>finin<strong>do</strong>, pois, o<br />
palavrão e o erotismo como os temas <strong>de</strong> nossa análise.<br />
Para o sociolinguista Dino Preti, as regras da “boa socieda<strong>de</strong>” proíbem o uso <strong>de</strong><br />
termos explícitos com referência aos fenômenos fisiológicos e sexuais, crian<strong>do</strong> a barreira <strong>do</strong><br />
eufemismo e das reticências em substituição <strong>de</strong>sses “termos-tabus” (cf. 1984). O uso <strong>do</strong><br />
palavrão consiste, portanto, na transgressão <strong>de</strong> um interdito social no plano linguístico,<br />
remeten<strong>do</strong>-nos ao ensaio O erotismo, <strong>de</strong> Georges Bataille (1987), sobre a qual José Paulo<br />
Paes (2006) faz uma introdução esquemática:<br />
O prazer encontra seu maior estímulo não na liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> perseguir até on<strong>de</strong> quiser<br />
os seus objetivos, mas no constante interdito <strong>de</strong> fazê-lo, o 'interdito cria<strong>do</strong>r <strong>do</strong><br />
<strong>de</strong>sejo' em que Bataille vê a própria 'essência <strong>do</strong> erotismo'. […] mas o interdito<br />
sempre an<strong>do</strong>u <strong>de</strong> mãos dadas com o seu oposto, a transgressão, a qual, numa<br />
incoerência apenas aparente, serve exatamente para lembrá-lo e reforçá-lo: só po<strong>de</strong><br />
se transgredir o que se reconheça proibi<strong>do</strong>. Esse jogo dialético entre a consciência<br />
<strong>do</strong> interdito e o empenho <strong>de</strong> transgredi-lo configura a mecânica <strong>do</strong> prazer erótico,<br />
cujos caminhos são tão varia<strong>do</strong>s, in<strong>do</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as insinuações da seminu<strong>de</strong>z até o<br />
<strong>de</strong>sbragamento <strong>do</strong> nome sujo (PAES, 2006, p. 17, grifos nossos).<br />
Iniciaremos por algumas consi<strong>de</strong>rações <strong>do</strong> sociolinguista Dino Preti, para em seguida<br />
abordarmos os conceitos <strong>do</strong>s psicanalistas Arango e Stoller, valen<strong>do</strong>-nos, inclusive, das<br />
observações da professora Valeska Zanello sobre os <strong>do</strong>is últimos, que nos remeterão às<br />
reflexões <strong>de</strong> Georges Bataille sobre transgressão e violência, cerne <strong>de</strong> nosso trabalho, com<br />
a<strong>de</strong>n<strong>do</strong>s ao discurso sa<strong>do</strong>masoquista. Para D. H. Lawrence, “a in<strong>de</strong>cência po<strong>de</strong> ser saudável”<br />
36 (apud PAES, 2006). O psicanalista Arango (1991) afirma que obscenida<strong>de</strong> é uma terapia,<br />
assim como para o próprio Bataille “os nomes sujos <strong>do</strong> amor não <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> ser menos<br />
associa<strong>do</strong>s, <strong>de</strong> uma forma estreita e irremediável para nós, a essa vida secreta que levamos ao<br />
la<strong>do</strong> <strong>do</strong>s sentimentos mais eleva<strong>do</strong>s” (1987, p. 129). A poesia obscena representa uma forma<br />
<strong>de</strong> escape à socieda<strong>de</strong> da “moral e <strong>do</strong>s bons costumes”, à socieda<strong>de</strong> da vigilância hierárquica,<br />
que inflige sanções normaliza<strong>do</strong>ras, <strong>de</strong> que nos fala Foucault (cf. 2004) em Vigiar e punir?<br />
Nesse contexto, cabe a nós <strong>de</strong>scobrir o papel <strong>do</strong>s palavrões na construção <strong>do</strong> erotismo na<br />
poesia.<br />
2. CU É LINDO<br />
O uso <strong>do</strong> palavrão na poesia erótica ocupa espaço relevante na lírica brasileira<br />
contemporânea, fato notável pela produção presente nas antologias <strong>do</strong> gênero e no espaço<br />
<strong>de</strong>dica<strong>do</strong> a elas nas revistas literárias especializadas. É o caso da Antologia M(ai)S<br />
Sa<strong>do</strong>masoquista da literatura brasileira, organizada por Antonio Vicente Seraphim<br />
36 Título <strong>do</strong> poema <strong>de</strong> D.H. Lawrence, traduzi<strong>do</strong> por José Paulo Paes.<br />
132
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Pietroforte e Glauco Mattoso e das revistas literárias eletrônicas Zunai, organizada por<br />
Claudio Daniel e a Germina, da jornalista Marília Kubota, que conta com a colaboração,<br />
<strong>de</strong>ntre outros, <strong>de</strong> Affonso Romano <strong>de</strong> Sant'Anna, Claudio Daniel e Rodrigo <strong>de</strong> Souza Leão,<br />
nomes <strong>de</strong> projeção na literatura brasileira, como poetas e ensaístas. Salientamos que a<br />
Germina possui uma seção exclusiva <strong>de</strong>nominada: Eróticos e pornográficos. Essas produções<br />
contemplam autores já consagra<strong>do</strong>s, como Adélia Pra<strong>do</strong> (nossa epígrafe), Glauco Mattoso,<br />
Hilda Hilst e outros menos conheci<strong>do</strong>s, alguns novíssimos, como Victorio Verdan, Márcia<br />
Maia e Mário Cézar.<br />
O palavrão e o seu <strong>de</strong>s<strong>do</strong>bramento na fala, o xingamento, são tradicionalmente liga<strong>do</strong>s<br />
à vileza, à injúria pura e simples. Utilizá-lo para fins eróticos, mais ainda, na literatura erótica,<br />
com intuitos estéticos e artísticos, representa uma atitu<strong>de</strong> arrojada <strong>de</strong> nossos autores<br />
contemporâneos. Mas eles não estão sós, são fruto <strong>de</strong> uma tradição que acompanha a<br />
literatura <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os seus primórdios, como os poetas da Antologia palatina (da antiguida<strong>de</strong><br />
helênica), os romanos Catulo e Marcial e os Poetas-santos <strong>de</strong> Xiva, traduzi<strong>do</strong>s por Décio<br />
Pignatari em antologia pessoal, passan<strong>do</strong> por Aretino na Renascença, chegan<strong>do</strong> às vanguardas<br />
mo<strong>de</strong>rnistas com Apollinaire. Na literatura brasileira contamos com Gregório <strong>de</strong> <strong>Mato</strong>s,<br />
Bernar<strong>do</strong> Guimarães e até Manuel Ban<strong>de</strong>ira, com o poema A cópula. Vejamos essas estrofes:<br />
Você me pega, mulher, como um garoto,<br />
Vira fera, vocifera: “Por acaso,<br />
não tenho cu?” […]<br />
Para provar tão célebre caralho,<br />
Que me <strong>de</strong>rruba as orlas já da cona,<br />
Quisera transformar-me toda em cona,<br />
Mas queria que fosses só caralho.<br />
(MARCIAL, 1997, p. 66)<br />
(ARETINO, 2006, p. 73)<br />
Depois <strong>de</strong> lhe beijar meticulosamente<br />
o cu, que é uma pimenta, a boceta, que é um <strong>do</strong>ce,<br />
o moço exibe à moça a bagagem que trouxe:<br />
culhões e membro, um membro enorme e turgescente.<br />
(BANDEIRA, 2004, p. 229)<br />
Essa tradição ocupa lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque na literatura brasileira contemporânea através<br />
<strong>do</strong> próspero resgate, compilação e tradução <strong>do</strong>s textos, como nas antologias 31 poetas e 214<br />
poemas, <strong>de</strong> Décio Pignatari, Poesia erótica em tradução, <strong>de</strong> José Paulo Paes, ambas<br />
publicadas pela Companhia das letras, e na Antologia Pornográfica, <strong>de</strong> Alexei Bueno,<br />
Editora Nova Fronteira. Além disso, teóricos <strong>de</strong> diversas áreas <strong>do</strong> conhecimento possuem<br />
trabalhos relevantes sobre o tema, como o sociolinguista Dino Preti, os psicanalistas Arango e<br />
Stoller e o ensaísta Georges Bataille, com seu ensaio clássico: O erotismo. Dessa maneira,<br />
133
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
propomos um trabalho a fim <strong>de</strong> analisar esse fenômeno <strong>de</strong>leitável <strong>de</strong> nossa produção poética<br />
atual.<br />
Vejamos as acepções <strong>do</strong> dicionário eletrônico Aurélio (2005) para as seguintes<br />
palavras: palavrão: “1. palavra obscena ou grosseira”; obsceno: “1. que fere o pu<strong>do</strong>r, impuro,<br />
<strong>de</strong>sonesto”; xingar: “1. dirigir insultos ou palavras afrontosas a; <strong>de</strong>scompor, injuriar, insultar,<br />
<strong>de</strong>stratar”. Pela limitada ajuda que nos oferece o dicionário, recorremos a Arango:<br />
São obscenos [os palavrões] porque nomeiam sem hipocrisia, eufemismo ou pu<strong>do</strong>r,<br />
o que nunca <strong>de</strong>ve ser mostra<strong>do</strong> em público: a sexualida<strong>de</strong> luxuriosa e autêntica.<br />
Além disso, essas palavras possuem, muitas vezes, um po<strong>de</strong>r alucinatório. Provocam<br />
a representação <strong>do</strong> órgão ou da cena sexual da forma mais clara e fiel. Suscitam,<br />
também, fortes sentimentos libidinosos. (1991, p.14)<br />
Arango segue explican<strong>do</strong> a provável etimologia da palavra, proposta por Freud: o que<br />
<strong>de</strong>ve ficar fora <strong>de</strong> cena, coberto por uma cortina <strong>de</strong> pressões sociais que <strong>de</strong>rivam <strong>de</strong> um<br />
preconceito <strong>de</strong> purismo e pesam sobre a conceituação <strong>de</strong> um vocabulário <strong>de</strong> “boa” qualida<strong>de</strong>.<br />
Conforme Guilbert:<br />
Elas <strong>de</strong>correm <strong>de</strong> certas regras <strong>de</strong> 'savoir vivre, aquelas da 'boa socieda<strong>de</strong>', que<br />
proibem o uso <strong>de</strong> termos crus, com referências às realida<strong>de</strong>s fisiológicas e sexuais.<br />
Cria-se a barreira <strong>do</strong> eufemismo ou das reticências para evitar o emprego <strong>de</strong>sses<br />
termos-tabus. Às expressões <strong>do</strong> 'savoir vivre' juntam-se os imperativos estéticos a<br />
propósito <strong>do</strong>s quais se fundamenta a suspeita contra as palavras científicas <strong>de</strong> uma<br />
morfologia e fonologia julgadas repulsivas. (apud PRETI, 1987, p. 61)<br />
Bataille, em O erotismo, discorre que “essas palavras são interditos, pois geralmente é<br />
proibi<strong>do</strong> nomear esses órgãos [os genitais]” (1987, p. 127). Como já nos referimos na<br />
introdução, o interdito é o elemento essencial <strong>do</strong> erotismo, pois provoca o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong><br />
transgredi-lo. Buscamos, pois, analisar essa transgressão na poesia. O autor segue afirman<strong>do</strong><br />
que a linguagem suja surge <strong>do</strong> “mun<strong>do</strong> <strong>de</strong>grada<strong>do</strong>” (BATAILLE, p. 129), da “baixa<br />
prostituição e criminalida<strong>de</strong>” (BATAILLE, p. 129), on<strong>de</strong> exprime tão somente o ódio, mas<br />
que “dá aos amantes <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> honesto um sentimento próximo àquele que antigamente<br />
<strong>de</strong>ram a transgressão e, <strong>de</strong>pois, a profanação” (BATAILLE, p. 130). Assim, é preciso haver<br />
contraste: para quem participa cotidianamente da vida da baixa prostituição, os palavrões são<br />
insípi<strong>do</strong>s, mas “apresentam àqueles que se conservam puros, a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um <strong>de</strong>snível<br />
vertiginoso” (BATAILLE, p. 227). Apren<strong>de</strong>mos na escola nomes científicos para os órgãos e<br />
ativida<strong>de</strong>s sexuais, com a própria professora utilizan<strong>do</strong> as reticências em suas aulas. Os<br />
amantes inventam outros nomes, os “apelidinhos carinhosos”, que são fruto da infantilida<strong>de</strong> e<br />
<strong>do</strong> pu<strong>do</strong>r, sen<strong>do</strong> pouco duráveis, findan<strong>do</strong> inevitavelmente no disfemismo <strong>do</strong>s palavrões (cf.<br />
BATAILLE, 1987), já que gozam da privacida<strong>de</strong> da relação, on<strong>de</strong> verificamos “a incidência<br />
134
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
constante da maior parte <strong>do</strong>s xingamentos sexuais, consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s ofensivos na esfera pública,<br />
possuin<strong>do</strong> agora um caráter erótico, excitante, na esfera privada” (ZANELLO, 1998, p. 4).<br />
O crescente processo <strong>de</strong>smistifica<strong>do</strong>r <strong>do</strong> sexo vem alargan<strong>do</strong> o uso da linguagem<br />
obscena, e não necessariamente associamos a palavra ao seu referente, chegan<strong>do</strong> a per<strong>de</strong>r a<br />
conotação injuriosa quan<strong>do</strong> se preten<strong>de</strong> forçar uma certa intimida<strong>de</strong> com o leitor (cf. PRETI,<br />
1984). Se em um relacionamento heterossexual muito íntimo o homem ou a mulher usa o<br />
termo puta (ou putinha, com o diminutivo <strong>de</strong> carga semântica), não está se referin<strong>do</strong><br />
necessariamente a “meretriz: mulher que pratica o ato sexual por dinheiro” (HOLANDA,<br />
2005), mas está associan<strong>do</strong> alguns traços semânticos inerentes à palavra: libertinagem,<br />
<strong>de</strong>sinibição, submissão, experiência sexual. Há uma mo<strong>de</strong>ração da violência. Segun<strong>do</strong><br />
Bataille, tal comedimento da agressivida<strong>de</strong> é essencial para a dinâmica erótica, <strong>de</strong> forma que a<br />
transgressão, não menos que o interdito, tem suas próprias regras:<br />
muitas vezes a transgressão <strong>do</strong> interesse não está menos sujeita a regras que o<br />
interdito. Não se trata <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>: em certo momento e bem nesse momento, isto é<br />
possível, tal é o senti<strong>do</strong> da transgressão […] a preocupação com uma regra é às<br />
vezes maior na transgressão: pois é mais difícil limitar um tumulto uma vez<br />
começa<strong>do</strong>. (BATAILLE, 1987, p. 61, grifos <strong>do</strong> autor).<br />
É o que se observa no título <strong>do</strong> poema Puta, por um segun<strong>do</strong>, <strong>de</strong> Mario Cezar<br />
(revista eletrônica Germina, s.p.) ou nos versos <strong>de</strong> Márcia Maia: “<strong>de</strong> ti puta e senhora uma<br />
vez mais/ mais uma vez <strong>de</strong> novo e sempre” (revista eletrônica Germina, s.p.). Porém, há um<br />
para<strong>do</strong>xo: a violência é necessária, mas <strong>de</strong>ve ser mo<strong>de</strong>rada, mas nem sempre <strong>de</strong>ve ser<br />
mo<strong>de</strong>rada, já que “excepcionalmente a transgressão ilimitada é concebível” (BATAILLE,<br />
1987, p. 61), quan<strong>do</strong> os palavrões são usa<strong>do</strong>s com o intuito mesmo <strong>de</strong> humilhar, como no<br />
Soneto <strong>do</strong> Nhonhô, <strong>de</strong> Victório Verdan:<br />
Amá-la eu não posso mais, irei fodê-la<br />
Pois e <strong>de</strong> tal mo<strong>do</strong>, que, a maltratá-la,<br />
Ela há <strong>de</strong> se sentir uma ca<strong>de</strong>la,<br />
Uma preta fodida <strong>de</strong> senzala.<br />
Hei <strong>de</strong> quebrar-lhe os <strong>de</strong>ntes, açoitá-la,<br />
Metê-la em meu palácio n'uma cela.<br />
Puta <strong>de</strong> Exú 37 , minha fiel vassala;<br />
Toda mulher é puta, enquanto bela.<br />
[…] (VERDAN, 2008, p. 145)<br />
Na obra Excitação sexual – dinâmica da vida erótica, Stoller afirma:<br />
“sa<strong>do</strong>masoquismo, penso eu, é um aspecto central em quase toda excitação sexual. Minha<br />
idéia é que o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> ferir outros em represália por ter si<strong>do</strong> feri<strong>do</strong> é essencial sempre para a<br />
37 “Exú”, com acento, reproduz o original.<br />
135
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
maioria das pessoas” (1981, p. 138). Zanello observa, a respeito <strong>de</strong> obra posterior <strong>de</strong> Stoller<br />
(1984), que a humilhação é essencial no roteiro <strong>do</strong> erotismo humano, seja pratica<strong>do</strong>, seja<br />
fantasia<strong>do</strong>, sob pena da excitação sexual não ocorrer (cf. 2008). A esse respeito, Pietroforte<br />
comenta que o termo remete ao nome <strong>do</strong>s escritores Sa<strong>de</strong> e Masoch, mas que foram cunha<strong>do</strong>s<br />
“à revelia <strong>do</strong> primeiro, e a contragosto <strong>do</strong> último” (2008, p. 14), já que sadismo só surgiu 72<br />
anos após a morte <strong>de</strong> Sa<strong>de</strong> e o próprio Masoch protestou contra a associação <strong>do</strong> nome da<br />
família a patologias médicas. O autor se aprofunda no tema, comentan<strong>do</strong> a respeito <strong>do</strong><br />
discurso, da ética e da estética sa<strong>do</strong>masoquista (cf. 2008), mas, neste artigo, abordamos a<br />
respeito <strong>do</strong> consentimento (Masoch) e <strong>do</strong> não-consentimento (Sa<strong>de</strong>) em sofrer a violência<br />
sexual, que na poesia <strong>do</strong> gênero aparece <strong>de</strong>sprovida <strong>de</strong> moralismos, a exemplo <strong>de</strong>stes versos:<br />
“Madalena arrepen<strong>de</strong>u-se/ <strong>do</strong> próprio arrependimento/ pagou um boquete em Jesus/ quase<br />
pendurada na cruz” (CARDOSO, 2009, revista eletrônica Germina, s.p.), altamente ofensivos<br />
para o leitor cristão (ainda que não seja religioso), po<strong>de</strong>m ter caráter erótico pela sua própria<br />
violência, a qual não é só física (a crucificação), mas também violenta as possíveis crenças <strong>do</strong><br />
leitor, assim o já cita<strong>do</strong> Soneto <strong>do</strong> Nhonhô, que aborda temas como escravidão, racismo e<br />
violência contra a mulher. Estamos exatamente na esteira sa<strong>do</strong>masoquista, afinal, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong><br />
com Maurice Blanchot (1949), para Sa<strong>de</strong> “a maior <strong>do</strong>r <strong>do</strong>s outros conta sempre menos que o<br />
meu prazer” (apud BATAILE, 1987, p. 158).<br />
Bataille comenta que no mun<strong>do</strong> <strong>do</strong> trabalho (contemporâneo), o mun<strong>do</strong> da razão, o<br />
homem sofre uma gran<strong>de</strong> perda <strong>de</strong> sua “exuberância sexual”:<br />
É preciso, hoje, que cada um <strong>de</strong> nós preste conta <strong>de</strong> seus atos, obe<strong>de</strong>ça em todas as<br />
coisas às leis da razão. O passa<strong>do</strong> ainda não morreu <strong>de</strong> to<strong>do</strong>, mas só a escória,<br />
<strong>de</strong>vi<strong>do</strong> à sua violência dissimulada, escapa ao controle, conserva o excesso <strong>de</strong><br />
energia que o trabalho não absorve. (1987, p. 155)<br />
Para o autor, as manifestações <strong>do</strong> erotismo em geral possuem um caráter maldito,<br />
pois levam a um “<strong>de</strong>spertar silencioso” (BATAILLE, p. 235) em relação à socieda<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
controle social <strong>de</strong> nossos atos, que tão bem nos esclarece Foucault no seu Vigiar e punir: um<br />
mun<strong>do</strong> que se estrutura <strong>de</strong> forma semelhante ao acampamento <strong>de</strong> guerra a fim <strong>de</strong> manter uma<br />
vigilância hierárquica sobre os presentes (cf. 2004). Os palavrões não po<strong>de</strong>m ser ditos numa<br />
conversa respeitosa, nem impunemente ser reproduzi<strong>do</strong>s pela mídia, nem proferi<strong>do</strong>s por um<br />
professor na escola, pois o Códio Penal vigia e a norma paira. (cf. ARANGO, 1991). No<br />
ambiente priva<strong>do</strong>, porém, gozamos ao menos <strong>de</strong> uma barreira física à vigilância, on<strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>mos transgredir, ainda que <strong>de</strong> forma fantasiosa, as leis da razão. Assim, essa poesia<br />
136
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
chega a possuir, na socieda<strong>de</strong> que preza pela economia libidinal a favor da melhor exploração<br />
<strong>do</strong> trabalho (cf. ZANELLO, 2008) um caráter <strong>de</strong> confrontação política.<br />
A literatura possui um histórico antigo <strong>de</strong> censura: Madame Bovary é um exemplo<br />
clássico, que hoje compõe os currículos escolares. A revista Germina, a fim <strong>de</strong> evitar maiores<br />
problemas, avisa, sobre a sua seção Eróticos e pornográficos: “esta parte <strong>do</strong> site contém<br />
material consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> não recomendável para menores <strong>de</strong> 18 anos […] ainda que sejam belas<br />
expressões <strong>de</strong> pura arte” 38 .O palavrão ainda é um tabu, assim como o erotismo em geral, numa<br />
socieda<strong>de</strong> on<strong>de</strong> a liberda<strong>de</strong> sexual é apenas aparente, pois “o erotismo será sempre um tema<br />
<strong>de</strong> difícil abordagem […] <strong>de</strong>fini<strong>do</strong> pelo secreto – ele não po<strong>de</strong> ser público” (BATAILLE,<br />
1984, p. 234). Dessa maneira, a poesia obscena proporciona uma transgressão <strong>do</strong> cotidiano <strong>do</strong><br />
trabalho, da hierarquia, da prestação <strong>de</strong> contas. Se a linguagem poética põe a própria<br />
linguagem em questão e o erotismo é “na consciência <strong>do</strong> homem aquilo que põe nele o seu<br />
ser em questão” (BATAILLE, p. 27), “sen<strong>do</strong> ele talvez a nossa emoção mais intensa, na<br />
medida em que nossa existência se apresenta sob a forma <strong>de</strong> linguagem (<strong>de</strong> discurso)”<br />
(BATAILLE, p. 234, grifos <strong>do</strong> autor), não po<strong>de</strong>ríamos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicar um estu<strong>do</strong> prazeroso<br />
sobre o tema.<br />
REFERÊNCIAS:<br />
ARANGO, A.C. Os palavrões – virtu<strong>de</strong>s terapêuticas da obscenida<strong>de</strong>. Trad. Jasper Lopes<br />
Bastos. São Paulo: Brasiliense, 1991.<br />
ARETINO, P. Décimo primeiro soneto luxurioso. In: PAES, J.P. (Org. e trad.). Poesia<br />
erótica em tradução. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.<br />
BANDEIRA, M. A cópula. In: BUENO, A. (Org.). Antologia pornográfica – <strong>de</strong> Gregório <strong>de</strong><br />
Mattos a Glauco Mattoso. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova Fronteira, 2004.<br />
BATAILLE, G. O erotismo. 2. ed. Trad. Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987.<br />
CARDOSO, C. Terceiro testamento. In: KUBOTA, M. (Ed.). Germina – literatura e arte,<br />
2009. Revista eletrônica. Disponível em:<br />
. Acesso em: 10<br />
set. 2009.<br />
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 29. ed. Trad. Raquel Ramalhete. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Vozes,<br />
2004.<br />
HILST, H. Araras versáteis. Disponível em: KUBOTA, M. (Ed.). Germina – literatura e arte,<br />
2009. Revista eletrônica. http://www.germinaliteratura.com.br/erot_abrhh.htm>. Acesso em:<br />
10 set. 2009.<br />
HOLANDA, A. B. Dicionário Aurélio – versão eletrônica. São Paulo: Positivo, 2005. CD-<br />
ROM.<br />
38 Nota <strong>de</strong> advertência à seção Eróticos e pornográficos, da revista eletrônica Germina.<br />
137
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
KUBOTA, M. Germina – literatura e arte. Revista eletrônica. Nota <strong>de</strong> advertência à seção<br />
Eróticos e Pornográficos. Disponível em:<br />
. Acesso em: 10 set. 2009.<br />
MAIA, M. Em câmara ar<strong>de</strong>nte. In: KUBOTA, M. (Ed.). Germina – literatura e arte, 2006.<br />
Disponível em: . Acesso em: 10<br />
set. 2009.<br />
MARCIAL, M.V. Epigrama XI, 43. In: PIGNATARI, D. (Org. e trad.). 31 poetas 214<br />
poemas – <strong>do</strong> Rig-Veda e Safo a Apollinaire. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.<br />
MARIA, C. Puta, por um segun<strong>do</strong>. In: KUBOTA, M. (Ed.). Germina – literatura e arte.<br />
2006. Disponível em: Acesso<br />
em: 10 set. 2009.<br />
MATTOSO, G. Soneto 642. In: PIETROFORTE, A. S.; MATTOSO, G. (Orgs.). Antologia<br />
M(ai)S Sa<strong>do</strong>masoquista da literatura brasileira. São Paulo: Annablume, 2008.<br />
PAES, J. P. (Org. e trad.). Poesia erótica em tradução. São Paulo: Companhia das Letras,<br />
2006.<br />
PIETROFORTE, A. S.; MATTOSO, G. (Orgs.). Antologia M(ai)S Sa<strong>do</strong>masoquista da<br />
literatura brasileira. São Paulo: Annablume, 2008.<br />
PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 2001.<br />
PRETI, D. A linguagem proibida – um estu<strong>do</strong> sobre a linguagem erótica. São Paulo: T.A.<br />
Queiroz, 1984.<br />
STOLLER, R. J. A excitação sexual – dinâmica da vida erótica. Trad. Aydano Arruda. São<br />
Paulo: Ibrasa, 1981.<br />
TÁPIA, M. Lágrima profunda. In: PIETROFORTE, A.S.; MATTOSO, G. (Orgs.). Antologia<br />
M(ai)S sa<strong>do</strong>masoquista da literatura brasileira. São Paulo: Annablume, 2008.<br />
VERDAN, V. Soneto <strong>do</strong> Nhonhô. In: PIETROFORTE, A.S.; MATTOSO, G. (Orgs.).<br />
Antologia M(ai)S sa<strong>do</strong>masoquista da literatura brasileira. São Paulo: Annablume, 2008.<br />
ZANELLO, V. Xingamentos: entre a ofensa e a erótica. Florianópolis, SC, 2008. IESB.<br />
Disponível em: ,<br />
acesso em: 10 set. 2009.<br />
138
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
TRADUTORAS, DATILÓGRAFAS E RENDEIRAS<br />
Rafael Car<strong>do</strong>so-Ferreira (G - UFMS) 39<br />
Edgar Cézar Nolasco (UFMS) 40<br />
O ensaio visa discutir o livro A hora da estrela (1977), <strong>de</strong> Clarice Lispector, e a estratégia da<br />
qual ela se valeu para construí-lo, ten<strong>do</strong> em pano <strong>de</strong> fun<strong>do</strong> a tradução <strong>do</strong> romance francês A<br />
ren<strong>de</strong>ira (1974), <strong>de</strong> Pascal Lainé, feita por ela. Postula-se que a referida tradução serviu <strong>de</strong><br />
estofo para a criação <strong>do</strong> livro brasileiro, principalmente no tocante à temática nele<br />
<strong>de</strong>senvolvida. Tal proposição também põe em cena o papel e lugar da intelectual brasileira<br />
Clarice Lispector, uma vez que ela executou o trabalho da tradução para complementar suas<br />
reservas financeiras. Por fim, cogita-se a i<strong>de</strong>ia que esse oficio da tradução modificou<br />
significantemente o projeto literário da escritora. O ensaio proposto centrar-se-á nessas<br />
questões.<br />
Palavras-chave: Clarice Lispector; tradução; intelectual.<br />
Abstract<br />
This article discuss the A hora da estrela book (1997) of Clarice Lispector and the strategy of<br />
which the Author utilized to make the book, having in the background the translation of a<br />
French novel A ren<strong>de</strong>ira (1974), of Pascal Lainé performed by her. Posit that this translation<br />
helped her to create the Brazilian book, mainly regarding about the theme <strong>de</strong>veloped on this<br />
book. Such proposition put on scene the role and the place of Brazilian intellectual Clarice<br />
Lispector, once she did the translation work to complement hers margin finance. Eventually,<br />
some people think about the i<strong>de</strong>a of this translation work modified significantly the literary<br />
project of the writer. This proposed article will be focused on these questions.<br />
Keywords: Clarice Lispector; translation; intellectual.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Traduzir po<strong>de</strong> correr o risco <strong>de</strong> não parar nunca: quan<strong>do</strong> mais<br />
se revê, mais se tem que mexer e remexer nos diálogos.<br />
(LISPECTOR, 2005, p. 115.)<br />
Como fica explicita<strong>do</strong> na epígrafe, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r que Clarice Lispector sempre<br />
teve a consciência crítica aguçada acerca <strong>do</strong>s processos tradutórios que operacionalizou<br />
durante sua vida. Isso fica notório, já que a intelectual afirma sobre “o risco <strong>de</strong> não parar<br />
39 Acadêmico <strong>do</strong> 3º semestre <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras (DLE) <strong>do</strong> Centro <strong>de</strong> Ciências Humanas e Sociais (CCHS) da<br />
<strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> (UFMS), Bolsista <strong>de</strong> Iniciação Científica pelo PIBIC/CNPq.<br />
Atualmente, <strong>de</strong>senvolve o plano <strong>de</strong> trabalho “Entre a ren<strong>de</strong>ira e a datilógrafa: Clarice Lispector no limiar da<br />
tradução cultural/ficcional” e membro <strong>do</strong> Núcleo <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Culturais Compara<strong>do</strong>s (NECC-UFMS).<br />
40 Professor <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras (DLE) e <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Pós-Graduação Mestra<strong>do</strong> em Estu<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Linguagens <strong>do</strong><br />
Centro <strong>de</strong> Ciências Humanas e Sociais (CCHS) da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> (UFMS). É<br />
coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>r <strong>do</strong> projeto <strong>de</strong> extensão: NECC – Núcleo <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Culturais Compara<strong>do</strong>s.<br />
139
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
nunca”, quan<strong>do</strong> ela se lança ao exercício da tradução. Esse risco é ti<strong>do</strong> como o <strong>de</strong> não parar <strong>de</strong><br />
escrever e produzir, ten<strong>do</strong> em vista que a intelectual traduziu aproximadamente 40 obras,<br />
entre as décadas <strong>de</strong> 60 e 70. Quan<strong>do</strong> Clarice diz, “quan<strong>do</strong> mais se revê, mais se tem que<br />
mexer e remexer nos diálogos”, <strong>de</strong>ixa-nos enten<strong>de</strong>r que quanto mais lê o que traduziu, mais<br />
tem a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mexer na tradução feita (nos diálogos).<br />
2. APROXIMAÇÕES ENTRE: A HORA DA ESTRELA E A RENDEIRA<br />
O romance A hora da estrela foi lança<strong>do</strong> no Brasil em 1977, ano da morte <strong>de</strong> sua<br />
autora. Clarice Lispector tem reservas quanto a sua última obra, acha-a artificial e<br />
simplifica<strong>do</strong>ra. Ao menos é o que nos <strong>de</strong>ixa transparecer na <strong>de</strong>dicatória <strong>do</strong> exemplar<br />
ofereci<strong>do</strong> à sua amiga e secretária Olga Borelli: “Olga, este livro não é bom, é superficial, mas<br />
que é que se há <strong>de</strong> fazer? A inspiração vinha. Mas a preguiça e o <strong>de</strong>sânimo também. Você é<br />
que fustigou minha preguiça e <strong>de</strong>sânimo. Sem você o livro não sairia, você bem sabe disso.<br />
Eu não digo ‘obrigada’ porque é pouco. Receba-o com um abraço amigo”.<br />
Po<strong>de</strong>mos nos perguntar sobre o la<strong>do</strong> superficial que Clarice aponta em seu próprio<br />
livro. Talvez essa característica da obra, que <strong>de</strong>sagrada a Clarice esteja relacionada a uma<br />
estrutura clara, a um narra<strong>do</strong>r masculino que a impe<strong>de</strong> <strong>de</strong> resvalar, a personagens bem<br />
<strong>de</strong>linea<strong>do</strong>s. Macabéa, no entanto, parece ser o contraponto para essa superficialida<strong>de</strong>, pois<br />
<strong>de</strong>sarruma tu<strong>do</strong> com seu jeito torto <strong>de</strong> ser e <strong>de</strong> viver. Desnortean<strong>do</strong> a to<strong>do</strong>s, até ela própria,<br />
que <strong>do</strong> Nor<strong>de</strong>ste <strong>de</strong>sceu ao Rio <strong>de</strong> Janeiro para se per<strong>de</strong>r na cida<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>.<br />
Um outro romance, A ren<strong>de</strong>ira, <strong>de</strong> Pascal Lainé, também apresenta uma moça simples,<br />
chamada Pomme. A personagem trabalha num salão <strong>de</strong> beleza, tem uma vida comum, mas<br />
nela há algo <strong>de</strong> inquietante, que não po<strong>de</strong> ser explica<strong>do</strong> nem revela<strong>do</strong>, segun<strong>do</strong> o narra<strong>do</strong>r da<br />
história.<br />
Ao escrever o livro A hora da estrela (1977), Lispector apropria-se <strong>de</strong> uma tradução<br />
feita por ela nos anos 70. Trata-se <strong>do</strong> romance francês A ren<strong>de</strong>ira (1975) <strong>de</strong> Pascal Lainé, que,<br />
conforme mostraremos, po<strong>de</strong> ter si<strong>do</strong> toma<strong>do</strong> como pano <strong>de</strong> fun<strong>do</strong> no processo criativo da<br />
novela da escritora. Na verda<strong>de</strong>, postulamos que a referida tradução tenha servi<strong>do</strong> <strong>de</strong> estofo<br />
para a criação <strong>do</strong> livro brasileiro.<br />
O que Clarice Lispector faz, com maestria, é explorar a angústia que toma conta <strong>do</strong> ser<br />
humano, sua dificulda<strong>de</strong> em entrar em sintonia com um dia-a-dia que parece confrontar-se<br />
com seus sonhos e projetos. Para suas personagens, o viver no mun<strong>do</strong> é uma gran<strong>de</strong> pergunta,<br />
tornan<strong>do</strong>-as seres inquietos, mais liga<strong>do</strong>s a impressões <strong>do</strong> que a fatos. Como se vê nesta<br />
passagem <strong>de</strong> A hora da estrela:<br />
140
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Desculpai-me mas vou continuar a falar <strong>de</strong> mim que sou meu <strong>de</strong>sconheci<strong>do</strong>, e ao<br />
escrever me surpreen<strong>do</strong> um pouco pois <strong>de</strong>scobri que tenho um <strong>de</strong>stino. Quem já não<br />
se perguntou: sou um monstro ou isto é ser uma pessoa?Quero antes afiançar que<br />
essa moça não se conhece senão através <strong>de</strong> ir viven<strong>do</strong> à toa. Se tivesse a tolice <strong>de</strong> se<br />
perguntar “quem sou eu?” provoca necessida<strong>de</strong>. E como satisfazer a necessida<strong>de</strong>?<br />
Quem se indaga é incompleto. A pessoa <strong>de</strong> quem vou falar é tão tola que às vezes<br />
sorri para os outros na rua. Ninguém lhe respon<strong>de</strong> ao sorriso porque nem ao menos a<br />
olham. (LISPECTOR, 1998, p. 15)<br />
Pensan<strong>do</strong> especificamente no campo da Literatura Comparada e como a mesma<br />
articula a teoria da tradução numa perspectiva comparativista, chamamos a atenção para <strong>do</strong>is<br />
textos teóricos sobre o assunto. O primeiro trata-se <strong>do</strong> texto <strong>de</strong> Eneida Maria <strong>de</strong> Souza,<br />
intitula<strong>do</strong> “Tradução e intertextualida<strong>de</strong>”, que se encontra no livro Traço crítico. No texto,<br />
Souza mostra-nos como a teoria da tradução chegou ao campo da teoria literária. Embasada<br />
principalmente no que postula Harol<strong>do</strong> <strong>de</strong> Campos, Souza chama a atenção para o fato <strong>de</strong> que<br />
a tradução está inerentemente amarrada à tradição cultural. Também não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> esclarecer<br />
que tradução e antropofagia são intrínsecas, ou seja, estudar a tradução é também uma forma<br />
<strong>de</strong> se estudar como uma cultura, um texto alheio traduzi<strong>do</strong> contamina o outro. A autora <strong>de</strong>ixa<br />
claro que a teoria da tradução, a começar pelo título <strong>do</strong> artigo, <strong>de</strong>manda e reforça a prática <strong>de</strong><br />
uma visada trasnsdiciplinar e transcultural exigida pela Literatura Comparada e <strong>de</strong>pois pelos<br />
Estu<strong>do</strong>s Culturais.<br />
O segun<strong>do</strong> texto é o <strong>de</strong> Tânia Franco Carvalhal, intitula<strong>do</strong> “Tradução e recepção na<br />
prática comparatista”, ultimo ensaio <strong>do</strong> livro O próprio e o alheio. Totalmente centrada numa<br />
perspectiva comparatista, Carvalhal discute a tradução como criação literária (Campos), a<br />
tradução como um outro texto, mostra a relação direta entre tradução e Literatura Comparada,<br />
discute a relação entre tradução e tradição para, num último momento <strong>do</strong> texto, aproximar a<br />
prática da tradução <strong>de</strong> uma prática comparatista. Enfim, o ensaio <strong>de</strong> Carvalhal resume <strong>de</strong><br />
forma feliz o que <strong>de</strong> melhor se pensou no Brasil na última década sobre a importância da<br />
tradução no campo da Literatura Comparada.<br />
A relevância <strong>do</strong> trabalho efetua<strong>do</strong> por Clarice Lispector resume-se, como Carvalhal<br />
relata no ensaio menciona<strong>do</strong> acima, <strong>de</strong> grosso mo<strong>do</strong>, não só pela quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> obras<br />
“traduzidas”, mas também pelas práticas empreendidas: ora Clarice simplesmente “traduz”;<br />
ora faz adaptações literais; ora reescreve completamente algumas obras; ora recria basea<strong>do</strong><br />
em obra alheia. Ao agir assim, Clarice não só embaralha os processos tradutórios com os<br />
processos <strong>de</strong> criação, como subverte a noção <strong>de</strong> autoria. E é na esteira, que citamos Carvalhal<br />
que afirma como o processo tradutório interfere na própria criação literária: “Toda tradução<br />
literária é uma das possíveis versões <strong>de</strong> um das possíveis versões <strong>de</strong> um texto original. Assim,<br />
141
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
sen<strong>do</strong> o novo texto, é ainda o texto anterior”. (CARVALHAL, 2003, p.227)<br />
A tradução, que não mais é, grosso mo<strong>do</strong>, <strong>do</strong> que uma prática das diferenças entre<br />
línguas, entre povos e entre culturas, po<strong>de</strong> ser comparada à <strong>de</strong>sconstrução <strong>de</strong>rridaiana, na<br />
medida em que ambas tratam da questão diferencial que se impõe na significação (tradutória).<br />
Nesse senti<strong>do</strong>, vale a pena transcrever uma passagem <strong>de</strong> Derrida, <strong>do</strong> texto “Carta a um amigo<br />
japonês”, no qual o filósofo propõe explicar ao amigo as impossibilida<strong>de</strong>s da tradução mesma<br />
da palavra <strong>de</strong>sconstrução. O interessante é que ao fazer isso, Derrida vincula para sempre a<br />
palavra <strong>de</strong>sconstrução à palavra tradução:<br />
Então, a questão seria: o que a <strong>de</strong>sconstrução não é? ou, melhor dizen<strong>do</strong>, o que<br />
<strong>de</strong>veria não ser? Sublinho essas palavras (“possível” e “<strong>de</strong>veria”). Pois se po<strong>de</strong>mos<br />
antecipar as dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tradução (e a questão da <strong>de</strong>sconstrução é também <strong>de</strong> um<br />
la<strong>do</strong> a outro a questão da tradução e da língua <strong>do</strong>s conceitos, <strong>do</strong> corpus conceitual da<br />
metafísica dita “oci<strong>de</strong>ntal”), não <strong>de</strong>veria começar por acreditar, o que seria ingênuo,<br />
que a palavra “<strong>de</strong>sconstrução” é a<strong>de</strong>quada, em francês, a alguma significação clara e<br />
unívoca (apud Ottoni, 2005, p. 11-12).<br />
Com base no que afirma Derrida, Ottoni observa que “a tradução e a<br />
<strong>de</strong>sconstrução caminham juntas e se (con)fun<strong>de</strong>m em alguns momentos para revelar o<br />
mistério da significação, e, se levarmos ao extremo, po<strong>de</strong>mos fazer <strong>de</strong> uma o sinônimo da<br />
outra” (Ottoni, 2005, p.12). Ou seja, ao falar ao amigo da impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se traduzir a<br />
palavra <strong>de</strong>sconstrução e ao mesmo tempo traduzin<strong>do</strong>-a, Derrida mostra como uma palavra é<br />
substituível por outra numa mesma língua ou entre uma língua e outra, numa ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
substituições evi<strong>de</strong>ncian<strong>do</strong> e pratican<strong>do</strong> a diferença. (Cf. Ottoni, 2005, p. 12).<br />
São inquestionáveis as semelhanças ente A ren<strong>de</strong>ira (1975) e A hora da estrela (1977),<br />
mas o que nos chama mais a atenção são as formas similares existentes entre as protagonistas<br />
das histórias: Pomme, <strong>de</strong> A ren<strong>de</strong>ira, Macabéa, <strong>de</strong> A hora da estrela. Como acontece no<br />
<strong>de</strong>correr da narrativa <strong>de</strong> A ren<strong>de</strong>ira (1975), on<strong>de</strong> Pomme se apaixona por um estudante <strong>de</strong><br />
Letras, Aimery, que será seu namora<strong>do</strong> por toda a narrativa. Apesar <strong>de</strong> perceber em Pomme<br />
certa sensibilida<strong>de</strong>, que Olímpico, namora<strong>do</strong> <strong>de</strong> Macabéa, <strong>de</strong> A hora da estrela (1977), não<br />
sentia na jovem alagoana, havia algo in<strong>de</strong>cifrável que irritava profundamente ambos os<br />
namora<strong>do</strong>s e os narra<strong>do</strong>res das histórias. Aimery brigava com Pomme, por ela não exigir nada<br />
<strong>de</strong>le, e também por não dar o valor que o namora<strong>do</strong> queria receber. O que confundia o jovem<br />
era a dureza com que Pomme se comportava, ora ela queria jantar com o namora<strong>do</strong> e ao<br />
mesmo tempo não estava com vonta<strong>de</strong> comer nada. Esse aborrecimento <strong>de</strong> Aimery que o<br />
narra<strong>do</strong>r nos relata nesta passagem: “Acendia um Gitane com filtro. Agora, evitava passar<br />
com ela longos momentos <strong>de</strong> lazer, por causa <strong>de</strong>sses silêncios, <strong>de</strong>la, <strong>de</strong>le, e <strong>de</strong>la ainda”.<br />
(LAINÉ, 1975, p. 88 – 89).<br />
142
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Já no tocante a Macabéa, a protagonista <strong>de</strong> A hora da estrela, Olímpico reclama <strong>de</strong> seu<br />
silêncio, que até <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> um lin<strong>do</strong> passeio no Jardim Zoológico, sua namorada nem abria a<br />
boca, nem se quer um momento para reclamar ou para dizer sobre o passeio. Deixa-nos claro<br />
a “cólera” que Olímpico tinha por Macabéa: Depois da chuva <strong>do</strong> Jardim Zoológico, Olímpico<br />
não foi mais o mesmo: <strong>de</strong>sembestara. E sem notar que ele próprio era <strong>de</strong> poucas palavras<br />
como convém a um homem sério, disse-lhe: - Mas puxa vida! Você não abre o bico e nem<br />
tem assunto! (LISPECTOR, 1998, p.55).<br />
Esse silêncio alienante que marca as protagonistas faz com que Olímpico e Aimery,<br />
apesar <strong>de</strong> opostos entre si, tenham sensações análogas perante as ações ou “não-ações” das<br />
namoradas. Contu<strong>do</strong>, no caso <strong>de</strong> Macabéa, a irritação <strong>do</strong> namora<strong>do</strong> é tão gran<strong>de</strong> que ele<br />
pergunta: “(...) escuta aqui: você está fingin<strong>do</strong> que é idiota ou é idiota mesmo?”.<br />
(LISPECTOR, 1998, p.56).<br />
O ato <strong>de</strong> ter traduzi<strong>do</strong> interferiu significamente no projeto literário <strong>de</strong> Clarice<br />
Lispector. Exemplo notório é a epigrafe com que Lainé abre seu livro, traduzi<strong>do</strong> por Clarice<br />
Lispector, ao escrever o livro A hora da estrela em 1977, a intelectual possivelmente usa essa<br />
epígrafe para <strong>de</strong>sarrolhar a protagonista da história, temos então a epígrafe:<br />
Um ser que nem po<strong>de</strong> falar nem ser dito, que <strong>de</strong>saparece em voz na massa humana,<br />
pequeno rabisco nos quadros da História, um ser como um floco <strong>de</strong> neve perdi<strong>do</strong> em<br />
meio pleno verão, será ele realida<strong>de</strong> ou sonho, bom ou mau, necessário ou sem<br />
valor? (MUSIL apud LAINÉ, 1975, p.7 – grifos nossos).<br />
Esse ser “sem voz”, “um pequeno rabisco” que “não po<strong>de</strong> ser dito”, está<br />
indiscutivelmente dissemina<strong>do</strong> na construção da protagonista <strong>de</strong> A hora da estrela (1977), que<br />
tinha apenas “seu sexo como marca veemente <strong>de</strong> sua existência”, e, mais, como disse a<br />
própria Clarice/Rodrigo S.M., A hora da estrela “é um livro feito sem palavras. É uma<br />
fotografia muda. Este livro é um silêncio”.(LISPECTOR, 1998, p.17).<br />
No <strong>de</strong>correr <strong>do</strong> livro, Lispector, por meio <strong>de</strong> Rodrigo S.M., queixa-se ou muitas vezes<br />
<strong>de</strong>ixa pistas <strong>do</strong> diálogo posto em prática com a obra traduzida. Pois como disse<br />
Clarice/Rodrigo S.M.: “Eu não inventei essa moça. Ela forçou sua existência <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> mim”<br />
(LISPECTOR, 1998, p. 29). Nessa passagem vemos que a intelectual <strong>de</strong>ixa “pistas” visíveis<br />
<strong>de</strong> que esta “existência forçada” é também advinda <strong>de</strong> sua ativida<strong>de</strong> tradutória. Carvalhal<br />
afirma no texto “Tradução e recepção na prática comparatista” essa influência <strong>de</strong> as traduções<br />
literárias intervem no papel <strong>do</strong> intelectual: “Não há dúvida <strong>de</strong> que a tradução alimenta a<br />
criação literária. Isto ocorre tanto na perspectiva <strong>de</strong> que as traduções literárias enriquecem os<br />
143
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
sistemas que integram como também o trabalho individual <strong>do</strong> escritor”.(CARVALHAL,<br />
2003, p.222)<br />
Além <strong>de</strong> Pomme e Macabéa apresentarem características comuns, a narrativa <strong>do</strong>s <strong>do</strong>is<br />
romances é quase a mesma. Pomme e Macabéa vivem <strong>de</strong>sajustadas, estão <strong>de</strong>spreparadas para<br />
o mun<strong>do</strong> que as cerca. Diríamos que Macabéa ainda mais, pela dura realida<strong>de</strong> a que é exposta<br />
na vida social brasileira: órfã <strong>de</strong> pai e mãe, é criada por uma tia no Nor<strong>de</strong>ste, no Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
Alagoas. Pomme também tem uma infância difícil: é filha <strong>de</strong> uma mulher pobre, aban<strong>do</strong>nada<br />
pelo mari<strong>do</strong>, e que, além <strong>de</strong> garçonete em um bar, prostituía-se aos clientes para segurar o<br />
emprego.<br />
Pomme e Macabéa, ambas as personagens vivem <strong>de</strong> formas <strong>de</strong>sajeitadas, o que vemos<br />
é a miséria a que elas estão <strong>de</strong>stinadas, sem que haja qualquer saída para os obstáculos postos<br />
pela narrativa. No tocante das profissões subalternas das protagonistas, Macabéa não chega a<br />
ser uma ren<strong>de</strong>ira daquelas <strong>de</strong> mão cheia, como há no Nor<strong>de</strong>ste, como Pomme é <strong>de</strong>scrita no<br />
livro A ren<strong>de</strong>ira (1975), Macabéa em A hora da estrela (1977) é apenas uma cerzi<strong>de</strong>ira:<br />
A moça tinha ombros curvos como os <strong>de</strong> uma cerzi<strong>de</strong>ira. Apren<strong>de</strong>ra em pequena a<br />
cerzir. Ela se realizaria muito mais se <strong>de</strong>sse ao <strong>de</strong>lica<strong>do</strong> labor <strong>de</strong> restaurar fios, quem<br />
sabe se <strong>de</strong> seda. Ou <strong>de</strong> luxo: cetim bem brilhoso, um beijo <strong>de</strong> almas. Cerzi<strong>de</strong>irazinha<br />
mosquito. Carregar em costas <strong>de</strong> formiga um grão <strong>de</strong> açúcar. Ela era <strong>de</strong> leve como<br />
uma idiota, só que não o era. Não sabia que era infeliz. É porque ela acreditava. Em<br />
quê? Em vós, mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa - basta<br />
acreditar. Isso lhe dava às vezes um esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> graça. Nunca per<strong>de</strong>ra a fé.<br />
(LISPECTOR, 1998, p. 26)<br />
No final das narrativas as duas personagens têm <strong>de</strong>stino em comum: Macabéa recorre<br />
a uma cartomante (a conselho <strong>de</strong> Glória), que prevê para ela um futuro promissor, o encontro<br />
<strong>de</strong> um estrangeiro rico que vai amá-la; ao <strong>de</strong>ixar a cartomante, vê um Merce<strong>de</strong>s vin<strong>do</strong> em sua<br />
direção e compreen<strong>de</strong> que as previsões começam a acontecer, o moço loiro dirigin<strong>do</strong> o carro<br />
veio buscá-la. Mas o carro não pára e Macabéa é atropelada.<br />
O <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> Pomme parece menos trágico: <strong>de</strong>ixa o pequeno apartamento <strong>do</strong> estudante<br />
parisiense e volta para a casa da mãe. Per<strong>de</strong> o apetite e o brilho das bochechas lisas como a<br />
casca <strong>de</strong> uma maçã, <strong>de</strong>talhe <strong>de</strong> seu corpo que explica seu apeli<strong>do</strong>; a<strong>do</strong>ece gravemente e um<br />
dia cai também no meio da rua. Um carro é obriga<strong>do</strong> a parar para não atropelá-la. Pomme é<br />
internada em uma clínica psiquiátrica, on<strong>de</strong> recebe, mais tar<strong>de</strong>, a visita <strong>de</strong> Aimery. Ele<br />
reconhece ainda seu olhar <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ira, borda<strong>de</strong>ira ou carrega<strong>do</strong>ra <strong>de</strong> água.<br />
Em A ren<strong>de</strong>ira, Pomme é <strong>de</strong>scrita por alguém que tenta perscrutá-la, tentan<strong>do</strong><br />
adivinhar sua maneira <strong>de</strong> sentir. Com Clarice, a “pobre-<strong>de</strong>-espírito” é revelada em sua crueza.<br />
O narra<strong>do</strong>r, um intelectual, fica dividi<strong>do</strong> em relação a Macabéa. Ela o perturba porque o<br />
144
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
obriga a rever-se, a questionar seu papel social. Mas por trás <strong>de</strong>le temos a própria Clarice,<br />
misto <strong>de</strong> pesquisa<strong>do</strong>ra <strong>de</strong>nsa da alma humana diante <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. Dessa forma, ela encontra um<br />
campo comum, uma irmanda<strong>de</strong> com a personagem, tão diferentes e tão próximas ao mesmo<br />
tempo.<br />
3. A INTELECTUAL TRADUTORA<br />
A tradução feita por Clarice leva-nos à releitura crítica <strong>do</strong> papel da tradução no projeto<br />
literário e intelectual da escritora. Devi<strong>do</strong> à s dificulda<strong>de</strong>s financeiras que Clarice enfrentava,<br />
ela se vê obrigada a traduzir textos <strong>do</strong>s mais diversos gêneros e assuntos. Essa produção<br />
“transcriativa” interfere consi<strong>de</strong>ravelmente na última produção da escritora, propician<strong>do</strong>,<br />
<strong>de</strong>ssa forma, uma revisão crítica <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> em que escreve e <strong>de</strong> toda a sua produção anterior.<br />
Conforme o exposto é escusa<strong>do</strong> dizer que as condições econômicas pelas quais passa a<br />
intelectual acabam interferin<strong>do</strong> diretamente no objeto cultural então produzi<strong>do</strong>. Como reitera:<br />
[...] é o meu sustento. Respeito os autores que traduzo, é claro, mais procuro me<br />
ligar mais no senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> que nas palavras. Estas são bem minhas, são as que elejo.<br />
Não gosto que me empurrem, me botem num canto pedin<strong>do</strong> as coisas. Por isso senti<br />
um gran<strong>de</strong> alivio, quan<strong>do</strong> me <strong>de</strong>spediram <strong>de</strong> um jornal recentemente. Agora só<br />
escrevo quan<strong>do</strong> quero (apud GOTLIB, 1995, p.416).<br />
Clarice Lispector, por toda sua vida intelectual, sempre faz um tipo <strong>de</strong> tradução,<br />
muitas vezes, inclusive, dividin<strong>do</strong> o trabalho com um amigo, como nos textos dramatúrgicos,<br />
por exemplo. Mas foi na década <strong>de</strong> 70 que esse trabalho tornou-se efetivo.<br />
Também justifica o que já dissemos sobre a condição financeira da escrito o fato <strong>de</strong><br />
ela ter si<strong>do</strong> “expulsa” sumariamente <strong>do</strong> Jornal <strong>do</strong> Brasil:<br />
no dia 2 <strong>de</strong> janeiro [1974] eu recebi um envelope, e <strong>de</strong>ntro tinha minha crônicas. E<br />
uma carta seca sem nem agra<strong>de</strong>cer os serviços presta<strong>do</strong>s durante sete anos, dizen<strong>do</strong><br />
que daí em diante eu estava dispensada <strong>de</strong> trabalhar. Então eu movi uma ação. (apud<br />
GOTLIB, 1995, p.415).<br />
Diríamos que foi pela <strong>de</strong>missão, no Jornal <strong>do</strong> Brasil, como explicita Gotlib (sua<br />
biógrafa), que Clarice Lispector intensifica seu trabalho como tradutora. No ano em que<br />
Lispector foi <strong>de</strong>mitida, a intelectual aceita escrever e publicar um livro sob encomenda, A via<br />
crucis <strong>do</strong> corpo (1974). Isso só reitera que as necessida<strong>de</strong>s financeiras <strong>de</strong> Clarice Lispector<br />
interferiram em seu projeto intelectual.<br />
Em suas traduções, a intelectual não só embaralha os processos tradutórios com os<br />
processos <strong>de</strong> criação, como “borra” os limites <strong>do</strong> próprio e <strong>do</strong> alheio. Percebemos que ao<br />
“precisar” traduzir os mais diferentes tipos <strong>de</strong> texto, Clarice, valen<strong>do</strong>-se <strong>de</strong> uma relação<br />
145
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
transferencial, uma apropriação que po<strong>de</strong> ser inconsciente, incorpora tais textos<br />
disseminan<strong>do</strong>-os em sua própria literatura.<br />
Postulamos que as obras publicadas por Clarice Lispector na década <strong>de</strong> 70, como os<br />
livros A via íntima <strong>de</strong> Laura (1974), A via crucis <strong>do</strong> corpo (1974), On<strong>de</strong> estivestes <strong>de</strong> noite<br />
(1974), Visão <strong>do</strong> esplen<strong>do</strong>r: impressões leves (1975), De corpo inteiro (1975), A hora da<br />
estrela (1977), Um sopro <strong>de</strong> vida (1978), Quase verda<strong>de</strong> (1978) e A bela e a fera (1979),<br />
sofreram influência direta <strong>do</strong>s livros por ela traduzi<strong>do</strong>s. Como constatamos nas obras<br />
traduzidas pela escritora, a “tradutora” assume uma autoria múltipla e <strong>de</strong>scentrada com<br />
relação às obras alheias.<br />
REFERÊNCIAS<br />
CARVALHAL, Tania Franco. Tradução e recepção na prática comparatista. O próprio e o<br />
alheio: ensaios <strong>de</strong> literatura comparada. Editora Unisinos: São Leopol<strong>do</strong>, 2003.<br />
FERREIRA, R. M. C; NOLASCO, Edgar Cezar. A tradução em Clarice Lispector. Interletras<br />
(Doura<strong>do</strong>s), v.2, 2009.<br />
GOTLIB, Nádia Battella. Clarice: uma vida que se conta. 4. ed. São Paulo: Editora Ática,<br />
1995.<br />
LAINÉ, Pascal. A ren<strong>de</strong>ira. Trad. Clarice Lispector. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Imago Editora, 1975.<br />
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Rocco, 1998.<br />
LISPECTOR, Clarice. Traduzir procuran<strong>do</strong> não trair. In: ________. Outros Escritos. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Rocco, 2005.<br />
NOLASCO, Edgar Cezar. Clarice Lispector tradutora. Cerra<strong>do</strong>s: Revista <strong>do</strong> Programa <strong>de</strong><br />
Pós-Graduação em Literatura. Literatura e presença. <strong>Universida<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> Brasília, n.24, ano 27.<br />
146
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
REPÚBLICA DO LIVRO: LEITURA E FORMAÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR NO<br />
CURSO DE LETRAS<br />
Serley <strong>do</strong>s Santos e Silva (ANHANGUERA-UNIDERP)<br />
Resumo<br />
Nesta comunicação discute-se o projeto <strong>de</strong> extensão em andamento no Curso <strong>de</strong> Letras da<br />
<strong>Universida<strong>de</strong></strong> Anhanguera-Uni<strong>de</strong>rp, intitula<strong>do</strong> República <strong>do</strong> Livro: leitura e formação <strong>do</strong><br />
professor – leitor no Curso <strong>de</strong> Letras, que visa formar o aluno <strong>de</strong> Letras em professor-leitor.<br />
Na primeira etapa <strong>do</strong> projeto elegeu-se o gênero narrativo conto, priorizan<strong>do</strong> autores<br />
nacionais. Criou-se como ferramenta para participação <strong>do</strong>s alunos o blog “República <strong>do</strong><br />
Livro”, por meio <strong>do</strong> qual os alunos interagem com professores e colegas, postan<strong>do</strong> seus<br />
comentários. Os encontros acontecem semanalmente, no perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> uma hora, na<br />
universida<strong>de</strong>, nos quais o Professor Media<strong>do</strong>r da Leitura (PML) incentiva os alunos a<br />
apresentarem suas impressões sobre os textos. O blog dispõe ainda <strong>de</strong> links que trazem<br />
informações sobre diferentes autores da literatura, en<strong>de</strong>reços para publicações, notícias sobre<br />
cinema, cultura, artes e literatura. São disponibilizadas enquetes, fundamentais na obtenção <strong>de</strong><br />
resulta<strong>do</strong>s na pesquisa. O PML é o organiza<strong>do</strong>r <strong>do</strong> Grupo <strong>de</strong> Leitura Acadêmica (GLA), conta<br />
com o apoio <strong>do</strong> Facilita<strong>do</strong>r da Leitura (FL), aluno responsável pela coleta <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s,<br />
entrevistas, relatos e tabulação <strong>do</strong>s mesmos. O aluno <strong>de</strong> Letras, como futuro professor-leitor<br />
<strong>de</strong>sempenhará o papel <strong>de</strong> dissemina<strong>do</strong>r da leitura, forman<strong>do</strong> alunos leitores.<br />
Palavras-chave: Leitura; autonomia literária; Curso <strong>de</strong> Letras.<br />
Abstract<br />
This communication discusses the extension project un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>velopment in the Course of<br />
Letter at Anhanguera-Uni<strong>de</strong>rp University entitled The Book Republic: reading and teacher<br />
training in the Course of Letters, which aims to form stu<strong>de</strong>nts into a reading teacher. In the<br />
first stage of the project the short story was elected as the narrative genre, prioritizing<br />
Brazilian authors. It was created a blog called "República <strong>do</strong> Livro" through which stu<strong>de</strong>nts<br />
interact with teachers and classmates by posting their comments. The meetings are held<br />
weekly at the university when the Reading Mediator Teacher (PML) encourages stu<strong>de</strong>nts to<br />
present their views on the texts. The blog also has links that provi<strong>de</strong> information about<br />
different authors, addresses for publications, news about filmS, culture, arts and literature.<br />
Some quizzes are available on the blog, which are consi<strong>de</strong>red as key factors in achieving<br />
results in the research. The PML is the organizer of Aca<strong>de</strong>mic Reading Group (GLA) and he<br />
has the support of the Reading Facilitator (FL), a stu<strong>de</strong>nt responsible for data collection,<br />
interviews, reports and tabulation. The stu<strong>de</strong>nt of Letters, as a future reading teacher is<br />
supposed to act as a disseminator of reading, forming therefore reading stu<strong>de</strong>nts.<br />
Keywords: Reading; literary autonomy, Course of Letters.<br />
1. A MEDIAÇÃO E O PROFESSOR-LEITOR<br />
A leitura tem o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar em nós regiões que estavam<br />
até então a<strong>do</strong>rmecidas. Tal como o belo príncipe <strong>do</strong> conto <strong>de</strong><br />
147
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
fadas, o autor inclina-se sobre nós, toca-nos <strong>de</strong> leve com suas<br />
palavras [...] (Michéle Petit).<br />
Este artigo faz parte <strong>do</strong> projeto <strong>de</strong> extensão em andamento no Curso <strong>de</strong> Letras da<br />
<strong>Universida<strong>de</strong></strong> Anhanguera-Uni<strong>de</strong>rp, cujo objetivo é tornar o aluno <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras em um<br />
professor-leitor, consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> que o aluno em sua maioria não lê ou lê muito pouco. A<br />
inserção ativa da leitura tem o objetivo <strong>de</strong> conduzi-lo para novas <strong>de</strong>scobertas principalmente<br />
na literatura.<br />
O projeto se assenta na condição <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>do</strong>brável, pois o aluno prepara<strong>do</strong> será um<br />
continua<strong>do</strong>r ou um dissemina<strong>do</strong>r da leitura. Partin<strong>do</strong>-se <strong>do</strong> pressuposto <strong>de</strong> que quanto mais se<br />
lê, mais se apren<strong>de</strong>, adquirin<strong>do</strong>-se assim experiência <strong>de</strong> leitura, espera-se que o aluno busque<br />
uma melhor compreensão <strong>do</strong> texto literário, “[...] saber o mo<strong>do</strong> como se dá a compreensão <strong>de</strong><br />
um texto, ter claro as previsões sobre a leitura têm a ver com o repertório <strong>de</strong> conhecimentos<br />
<strong>do</strong> leitor” (MARIA, 2009, p. 84).<br />
Po<strong>de</strong>-se dizer que há um esta<strong>do</strong> angustioso e inconfessável <strong>do</strong> aluno face ao<br />
emaranha<strong>do</strong> <strong>de</strong> leituras propostas pelo professor em sala <strong>de</strong> aula. Leitores ou não, estamos<br />
inconscientemente envoltos na <strong>de</strong>nsa cortina da leitura. Lemos o tempo to<strong>do</strong>: as revistas<br />
espalhadas nas bancas <strong>de</strong> jornal, um convite, os out<strong>do</strong>ors, as placas <strong>de</strong> trânsito, as ofertas nas<br />
lojas, os painéis espalha<strong>do</strong>s pela cida<strong>de</strong>, os lembretes na fila <strong>do</strong> banco, enfim, a leitura está<br />
sempre presente, é inseparável. Temos com ela uma relação <strong>de</strong> Amor e <strong>de</strong>s(amor). O A<br />
maiúsculo confere o senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> Amor platônico na leitura. Atingir o esta<strong>do</strong> pleno <strong>do</strong> Amor na<br />
leitura supõe compreen<strong>de</strong>r o já li<strong>do</strong>; é, ao mesmo tempo, sentir-se presente no mun<strong>do</strong><br />
inteligível 41 , das i<strong>de</strong>ias puras <strong>de</strong> Platão. Buscamos a “essência” ou senti<strong>do</strong> daquilo que lemos<br />
ou mesmo respostas para nossos questionamentos. Compreen<strong>de</strong>r o que se lê se traduz num<br />
sentimento <strong>de</strong> Amor, que transcen<strong>de</strong> a intimida<strong>de</strong> <strong>do</strong> ser. Essa transcendência é o<br />
conhecimento que se agrega a outros numa união espetacular. Atingir a “plenitu<strong>de</strong>” <strong>do</strong> Amor<br />
platônico na leitura é se projetar no <strong>de</strong>-<strong>de</strong>ntro 42 pertencente ao espaço imaginário metafórico<br />
<strong>do</strong> conhecimento, o mun<strong>do</strong> inteligível das i<strong>de</strong>ias. Ao naufragarmos no mun<strong>do</strong> sensível 43<br />
<strong>de</strong>paramo-nos com sombras-reflexos <strong>de</strong>sse mun<strong>do</strong> objetivo, o <strong>de</strong>s(amor), geran<strong>do</strong> um esta<strong>do</strong><br />
<strong>de</strong> angústia pela não compreensão <strong>do</strong> li<strong>do</strong>. O ser mergulha no <strong>de</strong>s(amor) da leitura. A<br />
41 No mun<strong>do</strong> inteligível ou das i<strong>de</strong>ias puras moram os seres perfeitos: a Justiça, a Bonda<strong>de</strong>, a Coragem, a<br />
Sabe<strong>do</strong>ria, o Amor. Para atingir esse mun<strong>do</strong>, o homem não po<strong>de</strong> ter apenas “amor às opiniões” (filo<strong>do</strong>xia);<br />
precisa possuir um “amor ao saber” (filosofia). O méto<strong>do</strong> proposto por Platão para atingir o conhecimento<br />
autêntico (epistéme) é a dialética. Neste mun<strong>do</strong> das i<strong>de</strong>ias só po<strong>de</strong>mos entrar, através <strong>do</strong> conhecimento racional,<br />
científico ou filosófico. (COTRIM, 2002, p. 97-98).<br />
42 De-<strong>de</strong>ntro po<strong>de</strong> significar um lugar, um local (bojo) (NOLASCO, 2009, p. 101).<br />
43 Mun<strong>do</strong> sensível é o mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s seres incompletos e imperfeitos. Neste mun<strong>do</strong> as realida<strong>de</strong>s concretas são<br />
simplesmente sombras (ilusão) ou reflexos das i<strong>de</strong>ias puras. (COTRIM, 2002, p. 97-98).<br />
148
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
analogia platônica mostra o fenômeno da leitura principalmente no meio acadêmico,<br />
consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> as inúmeras leituras necessárias para o bom <strong>de</strong>sempenho <strong>do</strong> aluno, traduzidas,<br />
muitas vezes, nos conflitos <strong>de</strong> ler por obrigação e não pelo prazer da leitura. A<strong>de</strong>ntrar a<br />
escuridão da caverna 44 platônica é distanciar-se da luz propiciada pelo prazer da leitura. Ao<br />
<strong>de</strong>spertar para o esta<strong>do</strong> prazeroso, [...] “o leitor vai ao <strong>de</strong>serto, fica diante <strong>de</strong> si mesmo; as<br />
palavras po<strong>de</strong>m jogá-lo para fora <strong>de</strong> si mesmo <strong>de</strong>salojá-lo, <strong>de</strong> suas certezas, <strong>de</strong> seus<br />
pertencimentos”. (PETIT, 2008, p. 147).<br />
O foco em que se veicula este projeto intitula<strong>do</strong> República <strong>do</strong> Livro: leitura e<br />
formação <strong>do</strong> professor leitor no curso <strong>de</strong> Letras, objetiva tornar o aluno <strong>de</strong> Letras em um<br />
professor-leitor, por meio da leitura mediativa. A proeminência da leitura por meio da<br />
mediação agrega a figura <strong>do</strong> Professor Media<strong>do</strong>r da Leitura (PML) conferin<strong>do</strong> como primeira<br />
estratégia <strong>de</strong> leitura.<br />
A questão primeira é consi<strong>de</strong>rável no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar o aluno <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras<br />
para a leitura <strong>de</strong> diferentes textos na literatura. “Para apren<strong>de</strong>r a ler é preciso ler bem <strong>de</strong>vagar,<br />
e em seguida é preciso ler bem <strong>de</strong>vagar e, sempre, até o último livro que terá a honra <strong>de</strong> ser<br />
li<strong>do</strong> por você, será preciso ler bem <strong>de</strong>vagar” (FAGUET, 2009, p. 10). Nesse senti<strong>do</strong>, a leitura<br />
po<strong>de</strong> ser vista como arte <strong>de</strong> pensar, <strong>de</strong> analisar o li<strong>do</strong>. Ler <strong>de</strong>vagar para alcançar a mensagem,<br />
reunin<strong>do</strong> elementos para inferir uma crítica, para se instruir amplian<strong>do</strong> conhecimentos. Em<br />
tempo, po<strong>de</strong>-se pontuar os inúmeros espaços <strong>de</strong> leitura, principalmente na Internet. Ninguém<br />
está sujeito ao papel impresso, po<strong>de</strong>-se dizer que somos sujeitos internéticos 45 conecta<strong>do</strong>s<br />
com o mun<strong>do</strong> da informação em tempo real. “Ler com os <strong>de</strong><strong>do</strong>s” (FAGUET, 2009, p.11), a<br />
assertiva remonta ao passa<strong>do</strong>, o internauta po<strong>de</strong> ler com os <strong>de</strong><strong>do</strong>s, a tela é o livro eletrônico,<br />
às vezes os <strong>de</strong><strong>do</strong>s <strong>de</strong>slizam e as folhas <strong>do</strong> texto se <strong>de</strong>s<strong>do</strong>bram paulatinamente em precisos<br />
movimentos. Ler com os <strong>de</strong><strong>do</strong>s po<strong>de</strong> ser um méto<strong>do</strong> ineficiente, mas <strong>de</strong>temos hábitos<br />
explica<strong>do</strong>s na herança familiar. O importante é (<strong>de</strong>s)folhar páginas e páginas numa ação<br />
contínua. A leitura é um vício airoso indispensável na vivência humana. “[...] ler <strong>de</strong>vagar se<br />
aplica a toda e qualquer leitura. È como a essência <strong>do</strong> ato <strong>de</strong> ler. [...] Além <strong>de</strong> ler <strong>de</strong>vagar, não<br />
há uma arte <strong>de</strong> ler, há artes <strong>de</strong> ler, e muitos diferentes conforme diferentes obras”. (FAGUET,<br />
2009, p. 11).<br />
44 Mito da caverna platônica: Segun<strong>do</strong> Platão a maioria <strong>do</strong>s seres humanos se encontra como prisioneira <strong>de</strong> uma<br />
caverna, permanecen<strong>do</strong> <strong>de</strong> costas para a abertura luminosa e <strong>de</strong> frente para a pare<strong>de</strong> escura <strong>do</strong> fun<strong>do</strong>. (COTRIM,<br />
2002, p. 99)<br />
45 Internéticos ( apropriamos-nos da expressão banco internético - <strong>do</strong> inglês Internet banking), banco online,<br />
online banking, às vezes também banco virtual, banco eletrônico ou banco <strong>do</strong>méstico (<strong>do</strong> inglês home banking) (<br />
WIKIPEDIA, ONLINE, p. 1)<br />
149
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
A arte da leitura talvez seja aquela em que a mensagem produza certo significa<strong>do</strong> para<br />
o leitor, que produza um efeito tal que se agregue ao entendimento. A questão <strong>do</strong> efeito nos<br />
remonta à i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> impressão, <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong> tom, <strong>de</strong> acontecimentos que auxiliem na<br />
construção <strong>de</strong> um efeito, segun<strong>do</strong> a perspectiva <strong>de</strong> Allan Poe (2000).<br />
A leitura proposta não se configura no âmbito da perspectiva linguística, ultrapassa o<br />
senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>codificação <strong>de</strong> um <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> texto escrito, abrange outras características como<br />
a própria mensagem transmitida no texto e recepcionada pelo leitor. Reis (1976, p. 18) refere-<br />
se especificamente “ao labor <strong>de</strong> um sujeito que, assumin<strong>do</strong>-se como receptor da mensagem<br />
emitida, se afirma como termo indispensável <strong>do</strong> acto <strong>de</strong> comunicação”. Reis pontua certo tipo<br />
<strong>de</strong> leitor, aquele que infere uma leitura crítica no texto literário. A mediação é profícua nesse<br />
senti<strong>do</strong>, o alvo é uma leitura crítica e não superficial <strong>do</strong> texto literário, pois o aluno associa<br />
sua leitura com outros textos li<strong>do</strong>s, pontuan<strong>do</strong> suas percepções referentes à mensagem no<br />
texto literário.<br />
A leitura crítica é compartilhada, o aluno expõe suas i<strong>de</strong>ias, faz anotações, pontua os<br />
elementos mais importantes, sintetiza as informações forman<strong>do</strong> uma i<strong>de</strong>ia geral <strong>do</strong> texto<br />
literário. Este, às vezes, é “ambíguo por natureza, é passível <strong>de</strong> uma pluralida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leituras”<br />
(REIS, 1976, p. 19).<br />
O PML exerce um papel fundamental no <strong>de</strong>sempenho da leitura e ten<strong>de</strong> a influenciar o<br />
aluno <strong>de</strong> maneira positiva. Consi<strong>de</strong>ra-se o aluno como “aspirante” da leitura, numa primeira<br />
instância, pois, muitos alunos não têm o hábito da leitura; neste projeto conferem-se os textos<br />
<strong>de</strong> or<strong>de</strong>m ficcionais, mais especificamente o gênero narrativo conto. A seleção <strong>do</strong>s contos é<br />
previamente <strong>de</strong>finida pelos professores partícipes <strong>do</strong> projeto, já que os contos abrangem uma<br />
perspectiva no âmbito universal.<br />
[...] o conto, <strong>de</strong> origem oriental e popular, apresenta-se como um meio translúci<strong>do</strong>,<br />
porém não transparente, como uma espessura glauca na qual o leitor vê <strong>de</strong>senharemse<br />
figuras que ele jamais chega a apreen<strong>de</strong>r inteiramente (STALLONI apud DE<br />
FRANCE, 2001, p. 121).<br />
A escolha <strong>de</strong>sse gênero narrativo foi proposital no projeto, não somente pela concisão<br />
no senti<strong>do</strong> conteudístico ou <strong>de</strong> paginação, mas pela brevida<strong>de</strong> da extensão <strong>do</strong> efeito, bem<br />
característico <strong>do</strong> conto, on<strong>de</strong>, geralmente, o narra<strong>do</strong>r é breve na elocução <strong>do</strong> efeito. O conto,<br />
pela suas características concisas, torna-se mais interessante para o aluno. A inserção na<br />
leitura é menos <strong>do</strong>lorosa, uma vez que se privilegia o <strong>de</strong>spertar <strong>do</strong> prazer pela leitura no aluno<br />
<strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras.<br />
150
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Seguin<strong>do</strong> a assertiva <strong>de</strong> Poe (2000, p. 40), temos que “a brevida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve estar na razão<br />
direta da intensida<strong>de</strong> <strong>do</strong> efeito pretendi<strong>do</strong>, e isto como condição, a <strong>de</strong> que certo grau <strong>de</strong><br />
duração é exigi<strong>do</strong>, absolutamente, para a produção <strong>de</strong> qualquer efeito”. Pensamos <strong>de</strong> maneira<br />
metódica na escolha <strong>de</strong>sse gênero narrativo, por enten<strong>de</strong>rmos que o aluno que não lê, ou não<br />
tem o hábito da leitura, sofreria, em um primeiro momento, com o impacto <strong>de</strong> outro gênero<br />
narrativo mais <strong>de</strong>nso, <strong>de</strong>sestimulan<strong>do</strong>-se.<br />
Poe (2000) pensou a construção <strong>do</strong> poema O corvo calculan<strong>do</strong> matematicamente a<br />
produção <strong>de</strong> um efeito vivo no leitor. A i<strong>de</strong>ia é o aluno ler, e que essa leitura produza um<br />
efeito, um frenesi, uma espécie <strong>de</strong> alucinação, levan<strong>do</strong>-o a outras leituras, sen<strong>do</strong> receptivo a<br />
elas, as quais serão inseridas paulatinamente no projeto, como o romance. É a preparação <strong>do</strong><br />
aluno para outra etapa <strong>de</strong> leitura, mais extensa <strong>de</strong> paginação, que exigirá certo esforço físico.<br />
Embora o efeito alie-se à unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> uma obra literária, o aluno, futuro<br />
professor-leitor, terá no texto uma i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> brevida<strong>de</strong> <strong>do</strong> efeito. Pensamos tão-somente no<br />
efeito artístico que o conto produzirá no aluno <strong>de</strong>spertan<strong>do</strong>-o para a leitura. “[...] o prazer<br />
somente se extrai pelo senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> repetição” (POE, 2000, p. 42).<br />
O PML acompanha o aluno neste percurso e o encoraja <strong>de</strong>spertan<strong>do</strong> nele o prazer da<br />
leitura. “[...] os livros roubam um tempo <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, mas eles po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>volvê-lo,<br />
transforman<strong>do</strong> e engran<strong>de</strong>cen<strong>do</strong>, ao leitor. E ainda sugerir que po<strong>de</strong>mos tomar parte ativa no<br />
nosso <strong>de</strong>stino” (PETIT, 2008, 148).<br />
Para Maria (2009, p. 83) “[...] quanto mais experiente for o leitor-tanto na vida quanto<br />
nos textos - melhor leitor ele será, tanto na escrita da vida quanto nos textos escritos”. É um<br />
caminho para se chegar à “competência leitora”, pontua Maria. Uma competência conquistada<br />
mediante as várias leituras ao longo <strong>do</strong> tempo.<br />
As leituras <strong>do</strong>s contos não visam somente o (re)contar <strong>do</strong> já li<strong>do</strong>, mas a aquisição <strong>de</strong><br />
outros elementos concernentes à nossa língua, absorvi<strong>do</strong>s no momento da leitura. Enten<strong>de</strong>mos<br />
que este momento tem suas etapas, principalmente na aquisição da gramática individual, nas<br />
leituras variadas, na interação com o meio, enfim, na própria convivência diária.<br />
[...] abrir o texto, propor o sistema <strong>de</strong> sua leitura, não é apenas pedir e mostrar que<br />
po<strong>de</strong>mos interpretá-lo livremente; é principalmente, e muito radicalmente, levar a<br />
reconhecer que não há verda<strong>de</strong> objetiva ou subjetiva da leitura, mas apenas verda<strong>de</strong><br />
lúdica (BARTHES, 1988, p. 42).<br />
Barthes vislumbra a ludicida<strong>de</strong> no âmbito da leitura como um jogo conduzi<strong>do</strong> por<br />
certas regras milenares, que provém das narrativas. Po<strong>de</strong>-se inferir a percepção <strong>de</strong> uma<br />
leitura, embora não se reconheça uma verda<strong>de</strong> absoluta da leitura. Neste senti<strong>do</strong>, ela é lúdica,<br />
pois se precipita no jogo <strong>do</strong> próprio trabalho, conferi<strong>do</strong> pelo leitor. O trabalho da memória, a<br />
151
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
percepção <strong>do</strong> texto e o esforço <strong>do</strong> corpo físico. O leitor busca nas profun<strong>de</strong>zas <strong>do</strong> seu eu, a<br />
ligação com outras leituras internalizadas, que acontecem <strong>de</strong> maneira natural e prazerosa.<br />
O PML conta com o apoio <strong>de</strong> um Facilita<strong>do</strong>r da leitura (FL), aluno escolhi<strong>do</strong> entre os<br />
participantes e responsável pela coleta <strong>de</strong> da<strong>do</strong>s, como entrevistas e relatos, assim como a<br />
tabulação <strong>do</strong>s mesmos, sempre como a orientação <strong>do</strong> PML. O aluno <strong>de</strong> Letras, como futuro<br />
professor-leitor, <strong>de</strong>sempenhará o papel <strong>de</strong> dissemina<strong>do</strong>r da leitura, forman<strong>do</strong> alunos leitores e<br />
promoven<strong>do</strong> a autonomia literária e o hábito da leitura.<br />
O FL é treina<strong>do</strong> para dar suporte ao Grupo <strong>de</strong> Leitura Acadêmica (GLA),<br />
principalmente na busca <strong>de</strong> textos que permitam a articulação com os contos trabalha<strong>do</strong>s, por<br />
meio <strong>de</strong> pesquisa na biblioteca, na Internet, nos sebos, nas livrarias, entre outros espaços<br />
públicos.<br />
O FL, juntamente com o GLA, apresenta ao PML os pontos fundamentais da leitura <strong>do</strong><br />
conto. Uma discussão breve entre os alunos antece<strong>de</strong> ao encontro com o PML. Geralmente,<br />
no primeiro encontro, os alunos apresentam suas impressões e re(contam) a história <strong>de</strong><br />
maneira <strong>de</strong>scontraída. Paulatinamente o PML insere apreensões mais críticas, pontuan<strong>do</strong><br />
outras leituras que referendam o conto. O intuito não é um recorte <strong>do</strong> texto ficcional, <strong>de</strong> forma<br />
simplificada, mas conduzir o aluno a uma percepção da mensagem, preparan<strong>do</strong>-o, com<br />
critério, para uma leitura mais significativa <strong>do</strong> texto. O PML media as discussões <strong>de</strong> forma<br />
<strong>de</strong>scontraída. “[...] ler é ir <strong>de</strong> encontro <strong>de</strong> uma coisa que vai existir, mas que ninguém ainda<br />
sabe o que será (MARIA apud CALVINO, 2009, p. 65). O PML conduz, <strong>de</strong> maneira sutil,<br />
essas leituras, com as quais o aluno faz suas relações. É um primeiro passo para esboçar uma<br />
prévia <strong>de</strong> sua escritura.<br />
A leitura na mediação é um trabalho <strong>de</strong> construção, pois o media<strong>do</strong>r cria as condições<br />
para que o aluno possa conhecer os textos literários, amplian<strong>do</strong> seus conhecimentos e<br />
adquirin<strong>do</strong> sua “competência leitora”. O incentivo à leitura acontece em encontros semanais<br />
<strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s em sala <strong>de</strong> aula. Esses encontros seguem um cronograma estabeleci<strong>do</strong> no<br />
projeto, sen<strong>do</strong> que cada aula tem duração <strong>de</strong> uma hora, com duas turmas A e B. Os PMLs se<br />
revezam com as turmas ao longo das semanas, <strong>de</strong>ssa forma os mesmos contos são li<strong>do</strong>s pelas<br />
duas turmas A e B. Geralmente são três contos <strong>do</strong> mesmo autor. Cada turma tem, em média,<br />
26 alunos. Para compor as turmas foi feito um sorteio no Curso <strong>de</strong> Letras, uma vez que, o<br />
número <strong>de</strong> inscritos ultrapassou o número <strong>de</strong> vagas oferecidas. O projeto a<strong>do</strong>ta os seguintes<br />
critérios para os alunos participantes: 85% por cento <strong>de</strong> frequência, leitura <strong>do</strong> conto,<br />
152
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
participação na aula, exposição das percepções no texto, articulação das i<strong>de</strong>ias, clareza e<br />
objetivida<strong>de</strong>.<br />
[...] a leitura aproxima as pessoas, conclama-as ao diálogo, oferece provisões,<br />
palavras e mais palavras, instigações, senti<strong>do</strong>s novos e cambiantes, promoven<strong>do</strong> a<br />
interação. Quanto nos agrada, como leitores, falar <strong>do</strong> livro que acabamos <strong>de</strong> ler!<br />
(MARIA, 2009, p. 66).<br />
Nas discussões <strong>do</strong>s alunos, o PML procura induzi-los sutilmente a fazer relações com<br />
leituras anteriores, conduzin<strong>do</strong>-os a uma interação saudável, com a troca <strong>de</strong> informações,<br />
principalmente com textos ficcionais, sugerin<strong>do</strong> sempre outras leituras <strong>de</strong> diferentes<br />
modalida<strong>de</strong>s da língua.<br />
Para que haja mais abrangência no projeto República <strong>do</strong> Livro: leitura e formação <strong>do</strong><br />
professor leitor no curso <strong>de</strong> Letras, os GLAs, em semanas alternadas, têm encontros com<br />
professores convida<strong>do</strong>s <strong>de</strong> outra universida<strong>de</strong>, convite previamente estabeleci<strong>do</strong> no<br />
cronograma <strong>do</strong> projeto. Os professores convida<strong>do</strong>s seguem a mesma modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> gênero<br />
narrativo. Compreen<strong>de</strong>mos que a inserção <strong>de</strong> outros professores incentiva os alunos,<br />
valorizan<strong>do</strong>-os e contribuin<strong>do</strong> para seu aprendiza<strong>do</strong>.<br />
O projeto rompe as fronteiras da sala <strong>de</strong> aula, <strong>do</strong> círculo comum <strong>de</strong> leitura, crian<strong>do</strong> o<br />
blog República <strong>do</strong> Livro, uma ferramenta para troca <strong>de</strong> informações, postagem <strong>do</strong>s<br />
comentários <strong>do</strong>s alunos, <strong>do</strong>s professores, interação aluno-aluno e professor-aluno. No blog os<br />
alunos têm acesso aos contos a serem li<strong>do</strong>s e informações referentes ao autor e obra. O blog<br />
dispõe também <strong>de</strong> links que trazem informações sobre diferentes autores da literatura,<br />
en<strong>de</strong>reços para publicações, Currículos Lattes <strong>do</strong>s professores partícipes <strong>do</strong> projeto, notícias<br />
sobre cinema, cultura, artes e literatura.<br />
Na primeira etapa <strong>do</strong> projeto foram eleitos três contos <strong>de</strong> Macha<strong>do</strong> <strong>de</strong> Assis e três<br />
contos <strong>de</strong> Helio Serejo. No blog, os alunos postaram seus comentários e análises <strong>do</strong>s contos.<br />
Os comentários foram fundamentais para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong> projeto, os alunos<br />
apresentaram suas percepções <strong>de</strong> forma leve e <strong>de</strong>scontraída com proprieda<strong>de</strong> analítica.<br />
Observou-se na leitura <strong>do</strong>s alunos a exposição <strong>do</strong> conteú<strong>do</strong> li<strong>do</strong>, as percepções inferidas no<br />
texto e, em muitos casos, os alunos <strong>de</strong>monstraram perplexida<strong>de</strong> diante da narrativa, po<strong>de</strong>-se<br />
dizer <strong>do</strong> efeito ou impacto causa<strong>do</strong> pela leitura. Essas consi<strong>de</strong>rações nos valeram como da<strong>do</strong>s<br />
importantes e fizeram à diferença nessa primeira etapa <strong>do</strong> projeto. Houve uma participação<br />
ativa <strong>do</strong>s alunos no blog, ferramenta essa que, como meio <strong>de</strong> expressão da leitura, foi<br />
extremamente significativa na primeira etapa <strong>do</strong> projeto. Elegemos os seguintes comentários<br />
<strong>do</strong>s alunos:<br />
153
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Do autor: Helio Serejo<br />
Do autor: Macha<strong>do</strong> <strong>de</strong> Assis<br />
Aluna M. 7º semestre<br />
Não conhecia a obra <strong>de</strong> Hélio Serejo, confesso que nunca tinha li<strong>do</strong> nenhum <strong>de</strong><br />
seus contos e,pelo pouco que li, estou aman<strong>do</strong>, porque ele trata das coisas<br />
folclóricas, <strong>do</strong> regionalismo...parece que tu<strong>do</strong> é “real” e não ficção e que fazemos<br />
parte da estória.Isso que é Literatura! Amei Maria Aparecida, a "Capitoa", mulher<br />
guerreira e <strong>de</strong>stemida que "quebra" o senso comum da figura feminina da<br />
socieda<strong>de</strong> da época, os padrões sociais <strong>de</strong> que a mulher é submissa, é frágil...e ela<br />
provou o contrário com sua ousadia e personalida<strong>de</strong> única. Ela vai dar o que falar<br />
na Segunda-feira!<br />
Aluna G. M. 7ª semestre<br />
O PEÃO QUE VIU JESUS, gostei muito <strong>de</strong>sse conto, pois aborda como temática a<br />
religião, o cristianismo, a fé e também um pouco <strong>de</strong> incredulida<strong>de</strong>, porque o peão<br />
disse ter visto Jesus Cristo ao capataz, que por sinal não acreditou, talvez pelo ofício<br />
que o peão exercia, ou até mesmo pela raça, embora o escritor não <strong>de</strong>ixe<br />
transparecer; o povo só passou a acreditar no peão com o seu <strong>de</strong>saparecimento,<br />
provavelmente pensaram que ele fora arrebata<strong>do</strong>, porém para a surpresa <strong>de</strong>les, o<br />
mistério aumentou quan<strong>do</strong> pesca<strong>do</strong>res encontraram um crânio humano que<br />
provavelmente seria <strong>do</strong> tal peão, porém ficaram curiosos em saber a causa da morte<br />
<strong>do</strong> peão.<br />
Aluna G. C. 7º semestre<br />
No conto Suje-se gor<strong>do</strong>! é evi<strong>de</strong>nte a omissão, ou seria melhor falta <strong>de</strong><br />
personalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r- personagem, pois ele fica feliz em não ser responsável<br />
pela con<strong>de</strong>nação ou absolvição <strong>do</strong>s réus. No primeiro julgamento ele se sente<br />
alivia<strong>do</strong> por não ser o responsável pela con<strong>de</strong>nação, já no segun<strong>do</strong>, sua<br />
consciência não fica pesada, pois ele não é o responsável pela absolvição. É um<br />
jogo <strong>de</strong> adivinhação, em nenhum momento ele <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> sua opinião como Lopes<br />
fez no primeiro julgamento. A to<strong>do</strong> o momento estamos toman<strong>do</strong> <strong>de</strong>cisões e<br />
julgan<strong>do</strong>, pois somos humanos e temos que ter uma opinião formada sobre coisas<br />
e pessoas ao nosso re<strong>do</strong>r, não tem como pensar no futuro, a to<strong>do</strong> o momento, e<br />
imaginar que po<strong>de</strong>mos estar na mesma situação <strong>do</strong> outro. O futuro a Deus<br />
pertence, "Não julgue, para não ser julga<strong>do</strong>" é uma frase bonita, mas difícil <strong>de</strong><br />
seguir: "A carne é fraca".<br />
Percebemos que os comentários ressaltam certo amor pela leitura, o “a” minúsculo se<br />
refere ao amor que ainda não se manifestou na totalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma leitura, que converge o<br />
aluno para o <strong>de</strong>-<strong>de</strong>ntro interior <strong>do</strong> imaginário. A literatura exerce um po<strong>de</strong>r que se diferencia<br />
<strong>de</strong> indivíduo para indivíduo, “nós somos, à elaboração <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. E os escritores po<strong>de</strong>m nos<br />
ajudar a elaborar a nossa relação com o mun<strong>do</strong>” (PETIT, 2008, p. 157). Esse amor é visto sob<br />
hostes da não obrigação da leitura. A leitura obrigatória provoca uma reação adversa.<br />
Despertar o gosto pela leitura é muito complexo, pois o leitor po<strong>de</strong> exercer seu direito <strong>de</strong> não<br />
ler, reivindicar seu direito <strong>de</strong> não leitor.<br />
O projeto é um convite para compartilhar experiências, o PML coloca sua paixão pela<br />
leitura, sua curiosida<strong>de</strong>, seu <strong>de</strong>sejo, contribuin<strong>do</strong> para que o aluno <strong>de</strong>sperte para a leitura, sem<br />
<strong>de</strong>ver cultural. Inquire Benjamin (1986) “[...] qual o valor <strong>de</strong> nosso patrimônio cultural, se a<br />
experiência não mais o veicula a nós”? A leitura também faz parte <strong>do</strong> nosso patrimônio<br />
154
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
cultural, é também patrimônio estendi<strong>do</strong> a outras pessoas <strong>de</strong> maneira pulverizada na troca<br />
sincera <strong>de</strong> experiências.<br />
O blog também disponibiliza enquetes para os alunos. Nas enquetes eles respon<strong>de</strong>m a<br />
questionários referentes à leitura. Essas informações são automaticamente computadas com<br />
resulta<strong>do</strong> instantâneo. Esses resulta<strong>do</strong>s apontam as respostas e o número <strong>de</strong> participantes.<br />
Uma vez por mês os PMLs envolvi<strong>do</strong>s no projeto discutem e inserem nova enquete. Outro<br />
da<strong>do</strong> importante é o link <strong>de</strong> segui<strong>do</strong>res. Neste espaço, o aluno posta sua imagem,<br />
evi<strong>de</strong>ncian<strong>do</strong> sua participação no projeto. Em geral, os segui<strong>do</strong>res são alunos que já postaram<br />
seus comentários, portanto, leram os textos disponíveis no blog. É importante ressaltar que os<br />
PMLs, após os comentários <strong>do</strong>s alunos acerca <strong>do</strong> conto, automaticamente postam suas<br />
percepções em relação ao comentário <strong>do</strong> aluno, tornan<strong>do</strong> a interação um processo contínuo.<br />
O blog dispõe <strong>de</strong> outros links <strong>de</strong> pesquisa, como en<strong>de</strong>reços <strong>de</strong> revistas para publicação<br />
<strong>de</strong> artigos científicos e informações <strong>de</strong> vários escritores da literatura. “[...] a literatura <strong>de</strong>ve ser<br />
o meio para que possamos enfrentar a tristeza da realida<strong>de</strong>, os nossos me<strong>do</strong>s e o silêncio”<br />
(PETIT apud BARICCO, 2008, p. 136). Os textos literários disponibiliza<strong>do</strong>s por meio<br />
eletrônico ten<strong>de</strong>m a aproximar mais o aluno da leitura <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> à acessibilida<strong>de</strong>, fator <strong>de</strong>cisivo<br />
na atualida<strong>de</strong>, pois encurta a distância <strong>do</strong> aluno com o livro.<br />
O papel da mediação, neste projeto, é fundamental para que se estabeleça uma ca<strong>de</strong>ia<br />
<strong>de</strong> alunos leitores dissemina<strong>do</strong>res da leitura, num efeito <strong>de</strong> contiguida<strong>de</strong> alastran<strong>do</strong> o projeto<br />
para além das fronteiras físicas da <strong>Universida<strong>de</strong></strong> Anhanguera-Uni<strong>de</strong>rp. Embora se estabeleça<br />
um grau <strong>de</strong> media<strong>do</strong>res, conferi<strong>do</strong> na obra literária, na biblioteca, nos críticos literários, nos<br />
professores, na família, no conta<strong>do</strong>r <strong>de</strong> histórias, entre outros media<strong>do</strong>res <strong>de</strong> leitura,<br />
pontuamos a figura <strong>do</strong> professor como indispensável para a formação <strong>do</strong> professor-leitor. O<br />
PML contribui para que o aluno ultrapasse os umbrais da leitura, que se processa nas<br />
inúmeras dificulda<strong>de</strong>s aparentes para a não leitura. O PML é impulsiona<strong>do</strong>r da leitura na sala<br />
<strong>de</strong> aula, a mediação é o primeiro aspecto para vencer os óbices <strong>do</strong> aluno,<br />
[...] Não é uma biblioteca ou a escola que <strong>de</strong>sperta o gosto <strong>de</strong> ler, por apren<strong>de</strong>r,<br />
imaginar, <strong>de</strong>scobrir. É um professor, um bibliotecário que, leva<strong>do</strong> por sua paixão, a<br />
transmite através <strong>de</strong> sua relação individual (PETIT, 2008, p. 166).<br />
O professor media<strong>do</strong>r da leitura é também um apresenta<strong>do</strong>r <strong>de</strong> textos, traz para sala <strong>de</strong><br />
aula informações não somente pertinentes ao conto seleciona<strong>do</strong>, mas percepções teóricas que<br />
possibilitam ao aluno articular suas i<strong>de</strong>ias no texto literário.<br />
O PML direciona suas ações para apreciação <strong>do</strong>s alunos na leitura exploran<strong>do</strong> seus<br />
conhecimentos e olhar crítico no texto literário. Referimos-nos tão-somente à esfera <strong>de</strong> crítica<br />
155
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>do</strong>s atos literários pertinentes ao texto, numa questão mais subjetiva, respeitan<strong>do</strong> as limitações<br />
<strong>do</strong> aluno. O senti<strong>do</strong> que se remete essa assertiva configura-se numa percepção mais<br />
significativa no texto ficcional.<br />
Para que o aluno tenha embasamento teórico serão indicadas leituras mais específicas,<br />
aquelas que mais se aproximam <strong>do</strong>s textos li<strong>do</strong>s. O aluno fará suas apreensões com mais<br />
autonomia e criticida<strong>de</strong>. Cabe ao PML construir um espaço lúdico, agradável para que o ato<br />
<strong>de</strong> ler seja algo prazeroso.<br />
É importante consi<strong>de</strong>rar que, na finalização <strong>do</strong> projeto, o aluno partícipe elaborará um<br />
texto com a estrutura <strong>de</strong> ensaio, este será construí<strong>do</strong> ao longo <strong>do</strong> projeto. O aluno terá tempo<br />
suficiente para articular as teorias e escrever seu texto com a consciência leitora. A construção<br />
<strong>do</strong> ensaio partirá <strong>de</strong> suas impressões, <strong>de</strong> anotações, das leituras teóricas e outras pesquisas. O<br />
aluno po<strong>de</strong>rá a<strong>do</strong>tar o sistema <strong>de</strong> fichamento.<br />
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Conforme procuramos evi<strong>de</strong>nciar neste artigo, o intuito <strong>do</strong> projeto República <strong>do</strong><br />
Livro: leitura e formação <strong>do</strong> professor leitor no curso <strong>de</strong> Letras é <strong>de</strong>spertar o aluno para<br />
outros saberes, da aquisição <strong>de</strong> vocábulos, amplian<strong>do</strong> o seu campo lexical 46 , a flexibilida<strong>de</strong> na<br />
sua oralida<strong>de</strong>. Esses novos vocábulos aparecerão com liberda<strong>de</strong> em escrituras futuras,<br />
enriquecen<strong>do</strong> concomitantemente a fala e a escrita. “Um vocabulário rico é, sim, priorida<strong>de</strong><br />
no estu<strong>do</strong> da língua e a escola <strong>de</strong>ve se preocupar em oferecer aos alunos condições para <strong>de</strong><br />
fato conquistarem” (MARIA, 2009, p. 53).<br />
Na esteira <strong>de</strong> Maria, duas situações são facilmente reconhecidas na aquisição <strong>de</strong> novos<br />
vocábulos pelo leitor. Este possui <strong>do</strong>is vocabulários: um ativo interno, <strong>do</strong> qual ele se utiliza<br />
com facilida<strong>de</strong> porque está familiariza<strong>do</strong> com <strong>de</strong>terminadas palavras; e outro passivo, sen<strong>do</strong><br />
que neste as palavras estão sen<strong>do</strong> assimiladas, e o reflexo virá com o tempo, os vocábulos<br />
passivos <strong>de</strong> hoje serão os vocábulos ativos <strong>de</strong> amanhã. Portanto, as palavras se apresentam<br />
como [...], “capital mais precioso para o imprescindível trânsito na teia das relações humanas,<br />
no contato e no diálogo com os outros” (MARIA, 2009, p. 50-51).<br />
Este projeto privilegia vieses que se <strong>de</strong>s<strong>do</strong>bram, para que o aluno construa seus<br />
saberes, através da leitura compartilhada, da criação <strong>de</strong> textos, da interação e da participação<br />
ativa nos encontros, com o acompanhamento <strong>do</strong> PML.<br />
46 Campo lexical é o conjunto <strong>de</strong> vocábulos emprega<strong>do</strong>s para <strong>de</strong>signar, qualificar, caracterizar, significar uma<br />
noção, uma ativida<strong>de</strong>, uma técnica, uma pessoa. (FAULSTICH, 1987, p. 40-41).<br />
156
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
A leitura, com a figura <strong>do</strong> PML, caminha para o senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> ampliar as leituras <strong>do</strong><br />
aluno, consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> que cada indivíduo reserva seu conteú<strong>do</strong> <strong>de</strong> leituras particulares,<br />
conquistadas ao longo <strong>de</strong> sua vida. "Mediar leitura é fazer fluir a indicação ou o próprio<br />
material <strong>de</strong> leitura até o <strong>de</strong>stinatário-alvo, eficiente e eficazmente, forman<strong>do</strong> leitores"<br />
(BARROS, 2006, p. 17). A mediação é indispensável na vida <strong>do</strong> aluno, pois o aproxima <strong>de</strong><br />
diferentes leituras levan<strong>do</strong>-o a novas <strong>de</strong>scobertas, enriquecen<strong>do</strong> seu imaginário. Nos<br />
encontros semanais, o foco das discussões é o conto, ocasião em que o aluno apresenta sua<br />
visão <strong>do</strong> texto ficcional, ten<strong>do</strong> liberda<strong>de</strong> para expor suas i<strong>de</strong>ias.<br />
O acompanhamento com FL é outro benefício para os GLAs, que po<strong>de</strong>m contar com o<br />
apoio ao longo da semana. Os comentários no blog criam uma ambientação favorável para<br />
discussões, encorajan<strong>do</strong> principalmente aos alunos que se sentem inseguros em exporem suas<br />
leituras. “[...] a leitura, tal como é praticada atualmente, convida a outras formas <strong>de</strong> vínculo<br />
social, a outras formas <strong>de</strong> compartilhar, <strong>de</strong> socializar, diferentes daquelas em que to<strong>do</strong>s se<br />
unem” (PETIT, 2008, p. 94).<br />
A criação <strong>do</strong> blog República <strong>do</strong> Livro é o diferencial <strong>de</strong>sse projeto, é um estímulo a<br />
mais, para o que o aluno <strong>do</strong> Curso <strong>de</strong> Letras tenha contato com diferentes autores da literatura<br />
e possa ampliar seus saberes com acessibilida<strong>de</strong>, que às vezes não seria possível sem a efetiva<br />
aquisição <strong>de</strong> um livro.. No blog, o aluno po<strong>de</strong>rá postar seus comentários, trocar i<strong>de</strong>ias<br />
buscan<strong>do</strong> assim novas leituras.<br />
A questão da mediação começa na <strong>Universida<strong>de</strong></strong> com o professor (PML) e continuará<br />
com o futuro professor–leitor, que exercerá o papel <strong>de</strong> dissemina<strong>do</strong>r da leitura na escola, na<br />
comunida<strong>de</strong>, no grupo <strong>de</strong> amigos, na família, enfim, numa ação conjunta em prol <strong>de</strong> um<br />
objetivo único, a leitura. Segun<strong>do</strong> Benjamin (1986, p. 118), os homens não aspiram a novas<br />
experiências [...] “eles aspiram a libertar-se <strong>de</strong> toda a experiência, aspiram a um mun<strong>do</strong> em<br />
que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna”. Po<strong>de</strong>-se dizer<br />
que temos fome <strong>de</strong> cultura, que a pobreza literária é suprida pela leitura. Adquirir<br />
conhecimentos não basta, o importante é compartilhar com os outros nossas experiências,<br />
<strong>de</strong>voran<strong>do</strong> a “cultura” e os “homens” numa menção antropofágica, <strong>de</strong>glutin<strong>do</strong> outras culturas<br />
para que façamos o borborismo. A leitura é a mola propulsora <strong>do</strong> <strong>de</strong>vorar, num pleno<br />
processo <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong>.<br />
REFERÊNCIAS<br />
BARROS, Maria Helena T. C.; BORTOLIN, Sueli; SILVA, Rovilson José da. Leitura:<br />
mediação e media<strong>do</strong>r. São Paulo: FA, 2006.<br />
157
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
BARTHES, Roland. Escrever a leitura. In. ________. O rumor da língua. Trad. Mário<br />
Laranjeira, Ed. Brasiliense: São Paulo, 1988.<br />
BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In. _______. Magia e técnica, arte e política.<br />
Ed. Brasiliense: São Paulo, 1986.<br />
BRAIT, Beth. Bakhtin, dialogismo e construção <strong>do</strong> senti<strong>do</strong>. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994.<br />
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: História e gran<strong>de</strong>s temas. São Paulo: Saraiva,<br />
2002.<br />
FAGUET, Émile. A arte <strong>de</strong> ler. Trad. Adriana Lisboa. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Casa da Palavra, 2009.<br />
FAULSTICH, Enil<strong>de</strong> L. <strong>de</strong> J. Como ler, enten<strong>de</strong>r e redigir. Petrópolis: Ed. Vozes, 1987.<br />
HOUAISS, Antônio. Minidicionário da língua portuguesa. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Objetiva, 2004.<br />
LISPECTOR, Clarice. Felicida<strong>de</strong> clan<strong>de</strong>stina. In: MORICONI, Ítalo. (Org.). Os cem<br />
melhores contos brasileiros <strong>do</strong> século. Ed. Objetiva: Rio <strong>de</strong> Janeiro, 2001.<br />
MARIA, <strong>de</strong> Luzia. O clube <strong>do</strong> Livro. Ser leitor-que diferença faz? São Paulo: Ed. Globo,<br />
2009.<br />
NOLASCO, Edgar C. Restos <strong>de</strong> ficção: a criação biográfico-literária <strong>de</strong> Clarice Lispector.<br />
São Paulo: Annablume, 2004.<br />
POE, Edgar. A. A Filosofia da composição. In: ________. O corvo e suas traduções. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Lacerda Editores, 2000.<br />
PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. São Paulo: Ed. 34, 2008.<br />
REIS, Carlos A. A. Técnicas <strong>de</strong> análise textual. Coimbra: Livraria Almediana, 1976.<br />
REZENDE, Lucinea. Leitura: Mediação e Media<strong>do</strong>r. Disponível<br />
. Acesso em 08/ Fev. <strong>de</strong> 2010.<br />
STALLONI, Y. Os gêneros literários. Trad. Flávia Nascimento. Rio <strong>de</strong> Janeiro. Difel, 2001.<br />
WIKIPEDIA. Disponível em .<br />
Acesso em 30/ Abril <strong>de</strong> 2010.<br />
158
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Resumo<br />
O FAZER POLÍTICA EM MACBETH<br />
Silvana Colombelli Parra Sanches (IESF/FUNLEC)<br />
Este artigo propõe questionar o ato <strong>de</strong> fazer política, através da análise <strong>de</strong> uma obra <strong>de</strong><br />
Shakespeare, “Macbeth” compreen<strong>de</strong>r como o bem, o mal e a racionalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> julgamento se<br />
conjugam ou se diferem no agir político <strong>do</strong> personagem, este ato que oscila entre ser<br />
legaliza<strong>do</strong>, tradicionaliza<strong>do</strong> ou carismático, mas que, apesar <strong>de</strong> contraditório, ultrapassa<br />
milênios e subsiste em socieda<strong>de</strong>s das mais complexas. Shakespeare estruturou um<br />
personagem tirano que galgou um po<strong>de</strong>r através <strong>de</strong> um status legítimo, pois foi obti<strong>do</strong> através<br />
da sucessão “natural” ao trono; mas não po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> um po<strong>de</strong>r legal, no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />
Weber, pois foi <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início marca<strong>do</strong> por crimes. A legalida<strong>de</strong> pressupõe uma racionalida<strong>de</strong><br />
no agir político, racionalida<strong>de</strong> esta cunhada na ética profissional <strong>do</strong> político. Entretanto, o<br />
po<strong>de</strong>r tradicional monárquico impera na obra literária e nos convida a pensar sobre a tirania e<br />
a não-tirania. Busca-se em Hannah Arendt estabelecer relação entre o pensar e a capacida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> fazer o mal ao participar <strong>do</strong> cenário político. A busca pela racionalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> julgamento no<br />
agir político é uma alternativa relevante, apesar <strong>de</strong> muitas vezes expressar interesses<br />
particulares, <strong>de</strong> grupos ou categorias que exercem maior <strong>do</strong>mínio nas relações sociais e<br />
políticas.<br />
Palavras-chave: política; reflexão; racionalida<strong>de</strong>.<br />
Abstract<br />
This article aims to question the act of <strong>do</strong>ing politics, through the analysis one of<br />
Shakespeare’s masterpieces, “Macbeth” – un<strong>de</strong>rstand how the good, the evil and the<br />
rationality of the judgment unit themselves or differ in the political acting of the character, an<br />
act which oscillates among being legalized, traditionalized or charismatic, but although<br />
contradictory, transcends millenniums and subsists in the most complex societies.<br />
Shakespeare has structured a tyrannical character which ascends power through a legitimate<br />
status obtained through the “natural” succession to the throne; but in Weber’s view ,it cannot<br />
be consi<strong>de</strong>red a legal power for having been marked by crimes since its beginning. The<br />
legality presupposes rationality in the political acting, a rationality which is coined in the<br />
professional ethics of the politician. However, the monarchic traditional power reigns in the<br />
literary work and invites us to think about the tyranny and non-tyranny. We search in Hannah<br />
Arendt´s to establish the relation between the act of thinking and the capacity of <strong>do</strong>ing the evil<br />
when taking part in the political scenery. The search for the judgment´s rationality in the<br />
political acting is a relevant alternative although it very often expresses private interests of<br />
groups or categories which perform a larger <strong>do</strong>main in the social and political relations.<br />
Keywords: politics; reflection; rationality.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Quan<strong>do</strong> se toma uma <strong>de</strong>cisão, é preciso tapar os ouvi<strong>do</strong>s<br />
mesmo aos melhores argumentos contrários. É o indício <strong>de</strong> um<br />
caráter forte. Quan<strong>do</strong> oportuno, <strong>de</strong>ve-se, portanto, fazer<br />
159
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
triunfar a própria vonta<strong>de</strong> até a estupi<strong>de</strong>z. (NIETZSCHE, 2007,<br />
p. 84).<br />
A peça Macbeth foi e continua sen<strong>do</strong> objeto <strong>de</strong> análise em inúmeras disciplinas como<br />
a psicanálise, a psicologia, a história e a literatura. Preten<strong>de</strong>-se aqui analisá-la a partir <strong>de</strong><br />
idéias cunhadas pelas ciências sociais, apesar <strong>de</strong> utilizar também conceitos, noções e<br />
preocupações teóricas <strong>do</strong>s <strong>de</strong>mais campos <strong>do</strong> saber. A tragédia Macbeth, escrita entre 1603 e<br />
1606, ilustra a questão das relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r com bastante eloquência. O contexto inglês<br />
propiciava a absorção pela população <strong>de</strong> obras com esta profundida<strong>de</strong>:<br />
Em 1476 criara-se a primeira gráfica da Inglaterra; concomitantemente as pessoas se<br />
formavam intelectualmente. A socieda<strong>de</strong> que recebeu as obras <strong>de</strong> Shakespeare<br />
contava com a estabilida<strong>de</strong> da língua inglesa, maior alfabetização, maiores<br />
condições <strong>de</strong> expressivida<strong>de</strong> e o sentimento nacionalista, ten<strong>do</strong> como maior exemplo<br />
a rainha Elizabeth I e sua corte seleta e intelectualizada. Ele torna-se, portanto, uma<br />
criação <strong>de</strong>sse orgulho nacional, concretiza<strong>do</strong> no movimento em que o homem voltase<br />
para si e propõe artisticamente reflexões filosóficas acerca da socieda<strong>de</strong> e seus<br />
valores (RAMOS, 2008, p.20).<br />
Weber, sociólogo que viveu entre os séculos XIX e XX, escreveu em “A Política<br />
como vocação” que a política se faz através da participação no po<strong>de</strong>r ou através da luta para<br />
influir na distribuição <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. Para além <strong>do</strong> “fazer o bem”, a ética <strong>de</strong> um político <strong>de</strong>veria ser<br />
orientada para fins e responsabilida<strong>de</strong>s racionais, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da ética cristã. Nesse senti<strong>do</strong>,<br />
coloca que os políticos como vocação “[...] são em toda parte as únicas figuras <strong>de</strong>cisivas nas<br />
correntes cruzadas da luta política pelo po<strong>de</strong>r.” (1967, p.59) A questão po<strong>de</strong>ria ser pensada<br />
sobre como os po<strong>de</strong>res politicamente <strong>do</strong>minantes conseguem manter seu <strong>do</strong>mínio. Pela força<br />
física? Pela <strong>de</strong>magogia (no oci<strong>de</strong>nte)?<br />
Na obra <strong>de</strong> Shakespeare, o triunfo político se confun<strong>de</strong> com assassinatos, loucuras e<br />
ambição. Lady Macbeth, em certo momento da peça, lê a carta escrita pelo Macbeth, seu<br />
mari<strong>do</strong>, na qual ele revela a esperança <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ada por visões <strong>de</strong> futuro <strong>de</strong>scritas<br />
por bruxas: “Temo porém, a tua natureza cheia <strong>de</strong> leite da bonda<strong>de</strong> humana, que entrar não te<br />
consente pela estrada que vai direito à meta. Desejaras ser gran<strong>de</strong>, e não te encontras<br />
<strong>de</strong>stituí<strong>do</strong>, <strong>de</strong> to<strong>do</strong>, <strong>de</strong> ambição; porém careces da inerente malda<strong>de</strong>.” (2001, p.10) Na<br />
política, segun<strong>do</strong> Arendt (1993), atos maléficos cuja raiz não se encontra na malda<strong>de</strong>,<br />
patologia ou convicção i<strong>de</strong>ológica <strong>do</strong> agente “[...] tratam-se <strong>de</strong> uma curiosa e bastante<br />
autêntica incapacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensar.” (1993, p.145) Partin<strong>do</strong>-se <strong>do</strong> pensamento <strong>de</strong>sta autora,<br />
po<strong>de</strong>-se dizer que será este o caso <strong>de</strong> Macbeth? Arendt evi<strong>de</strong>ncia a questão <strong>de</strong> se a malda<strong>de</strong><br />
seria condição necessária para se fazer o mal, ou se também o fracasso da consciência moral<br />
levaria-nos ao mesmo fim, mesmo que esta não seja a intenção inicial. Nietzsche, que escreve<br />
160
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
no plural “as morais”, as <strong>de</strong>fine como “a linguagem figurada das paixões” (2007, p.99). Este<br />
filósofo coloca que:<br />
Toda moral é, em oposição ao laisser aller (<strong>de</strong>ixa correr), uma espécie <strong>de</strong> tirania<br />
contra a “natureza” e também contra a “razão”. Mas isso não po<strong>de</strong> servir <strong>de</strong> objeção<br />
contra ela, se não fosse preciso <strong>de</strong>cretar, em nome <strong>de</strong> outra moral, qualquer que<br />
fosse, que toda tirania e irracionalida<strong>de</strong> são interditas. O que há <strong>de</strong> inapreciável em<br />
toda moral é que é uma coação prolongada (NIETZSCHE, grifo <strong>do</strong> autor, 2007,<br />
p.99).<br />
Assim, <strong>de</strong> um mo<strong>do</strong> arbitrário e contrário à razão, para Nietzsche “a longa servidão <strong>do</strong><br />
espírito, a <strong>de</strong>sconfiada coação na comunicabilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s pensamentos, a disciplina que o<br />
pensa<strong>do</strong>r se impunha [...] se revelaram como meios <strong>de</strong> educação pelo qual o espírito europeu<br />
chegou ao seu vigor [...]” (2007, p.100). A incisiva filosofia <strong>de</strong>ste autor nos revela que é a<br />
“natureza” da moral que ensina a <strong>de</strong>preciar a excessiva liberda<strong>de</strong> e que implanta a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> horizontes limita<strong>do</strong>s e <strong>de</strong> tarefas atingíveis, é a moral que nos encolhe as<br />
perspectivas, a ambição <strong>de</strong>smedida com relação ao gozo da vida e <strong>de</strong> exercício total <strong>de</strong> nosso<br />
potencial <strong>de</strong> crescimento, seja ele material, intelectual ou <strong>de</strong> status social. Ramos afirma que,<br />
em Macbeth, “o crime é cometi<strong>do</strong> conscientemente pelo herói trágico. O remorso o inibe em<br />
um primeiro momento, mas para Macbeth sangue atrai sangue, como se uma nova morte o<br />
alimentasse, o fortalecesse. Começa aí, portanto, seu <strong>de</strong>clínio moral.” (2008, grifo da autora,<br />
p.22). Segun<strong>do</strong> esta autora Macbeth racionaliza o ato, ele pensou sobre e optou, <strong>de</strong>cidiu pelo<br />
mal. Para Ramos, apesar da “pre<strong>de</strong>stinação” anunciada pelas bruxas, o personagem teve<br />
momentos <strong>de</strong> reflexão sobre as anunciações e fez a escolha.<br />
Lady, len<strong>do</strong> a carta <strong>de</strong> Macbeth, continua: “O que <strong>de</strong>sejas com fervor, <strong>de</strong>sejaras<br />
santamente; não queres jogo ilícito, ruas queres ganhar mal. Desejaras, gran<strong>de</strong> Glamis,<br />
possuir o que te grita: <strong>de</strong>sse mo<strong>do</strong> precisarás fazer, para que o tenhas!” (2001, p.10) Nota-se<br />
que Macbeth racionaliza o ato (o assassinato <strong>do</strong> rei), antes <strong>de</strong> fazê-lo e mesmo assim o<br />
pratica. Será que ele pensou <strong>de</strong> fato? Arendt distingue pensar <strong>de</strong> conhecer, para ela, conhecer<br />
é saber algo, pensar é refletir sobre algo. Conforme a autora:<br />
A incapacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensar não é estupi<strong>de</strong>z; po<strong>de</strong> ser encontrada em pessoas<br />
inteligentíssimas; e a malda<strong>de</strong> dificilmente é sua causa, no mínimo porque a<br />
irreflexão, bem como a estupi<strong>de</strong>z, são fenômenos bem mais frequentes <strong>do</strong> que a<br />
malda<strong>de</strong>. (1993, p.149)<br />
Desta forma, Arendt aponta que diversas conjunturas políticas da história da humanida<strong>de</strong> que<br />
culminaram em genocídios, <strong>de</strong>sastres ambientais, catástrofes e tragédias po<strong>de</strong>m ter si<strong>do</strong><br />
perpetradas por atos estúpi<strong>do</strong>s sem terem si<strong>do</strong> algum dia atos mal<strong>do</strong>sos premedita<strong>do</strong>s.<br />
161
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Lady Macbeth também diz: “[...] tirai-me o sexo, cheia me <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong>, da cabeça até aos<br />
pés, da mais terrível cruelda<strong>de</strong>!” (p.10) Como se o fato <strong>de</strong> haver nasci<strong>do</strong> com características<br />
biológicas femininas lhe tornasse inerente a fraqueza, a bonda<strong>de</strong> e a <strong>do</strong>cilida<strong>de</strong>. Durante<br />
vários séculos e em várias socieda<strong>de</strong>s particularizaram-se seres humanos <strong>do</strong> sexo feminino<br />
através <strong>de</strong>stes adjetivos, e, isto foi <strong>de</strong>cisivo na história da política como um to<strong>do</strong>. Weber<br />
coloca que “O Esta<strong>do</strong> é uma comunida<strong>de</strong> humana, que preten<strong>de</strong>, com êxito, o monopólio <strong>do</strong><br />
uso legítimo da força física <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> território.” (1967, p.56) Nada mais<br />
apropria<strong>do</strong> neste cenário viril e resoluto <strong>do</strong> que a pre<strong>do</strong>minância <strong>de</strong> seres humanos <strong>do</strong> sexo<br />
masculino. E, em vista das relações sociais <strong>de</strong> gênero, até o atual século XXI não se<br />
conseguiu equiparar os <strong>do</strong>is sexos na ocupação <strong>de</strong> cargos políticos públicos em nenhum país-<br />
nação conheci<strong>do</strong>.<br />
Observa-se quan<strong>do</strong> Macbeth, em resposta à mulher, diz “Paz, te peço. Ouso fazer tu<strong>do</strong><br />
o que faz um homem; quem fizer mais, é que <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> sê-lo.” (2001, p.12) que Shakespeare<br />
cria uma situação análoga ao “peca<strong>do</strong> original” <strong>do</strong> livro Gênesis da Bíblia. Macbeth é tenta<strong>do</strong><br />
“pelo mal revesti<strong>do</strong> <strong>de</strong> feminino”, conforme esta visão <strong>de</strong> mun<strong>do</strong> hegemônica na Europa<br />
oci<strong>de</strong>ntal medieval o feminino “por ser mais fraco” é mais suscetível às investidas e<br />
incorporações <strong>do</strong> mal.<br />
Lady Macbeth diz “Tu<strong>do</strong> é perdi<strong>do</strong>, quan<strong>do</strong> o <strong>de</strong>sejo fica reparti<strong>do</strong>.” (2001, p.24).<br />
Desejo entre fazer o bem e fazer o mal na política é <strong>de</strong>cisivo e é preciso escolher entre <strong>do</strong>is<br />
pólos antagônicos, não há mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> ficar entre eles, sob ameaça <strong>de</strong> não agir, <strong>de</strong> permanecer<br />
inerte e ser leva<strong>do</strong> pelos acontecimentos ao invés <strong>de</strong> dar a tônica ao cenário em que se atua. E,<br />
para fazer o bem é necessário pensar, segun<strong>do</strong> Arendt (1993), é preciso duvidar, travar luta<br />
interna com o que a autora chama <strong>de</strong> “senso comum <strong>do</strong> homem”: “esse sexto e mais alto<br />
senti<strong>do</strong> que se ajusta nossos cinco senti<strong>do</strong>s a um mun<strong>do</strong> comum, e que nos capacita para nele<br />
nos orientar” (1993, p.150). Assim, po<strong>de</strong>-se chegar a conclusão <strong>de</strong> que a tarefa <strong>de</strong> pensar é<br />
anti-natural, mas, se buscarmos nas entrelinhas da razão, ou em Kant, o espírito humano tem a<br />
necessida<strong>de</strong> premente <strong>de</strong> metamorfosear o senso comum, <strong>de</strong> re-pensar. Kant, em “Crítica da<br />
Razão Pura” acrescenta que:<br />
A capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> receber (a receptivida<strong>de</strong>) representações <strong>do</strong>s objetos segun<strong>do</strong> a<br />
maneira como eles nos afetam, <strong>de</strong>nomina-se sensibilida<strong>de</strong>. Os objetos nos são da<strong>do</strong>s<br />
mediante a sensibilida<strong>de</strong> e somente ela é que nos fornece intuições; mas é pelo<br />
entendimento que elas são pensadas, sen<strong>do</strong> <strong>de</strong>le que surgem os conceitos. To<strong>do</strong><br />
pensamento <strong>de</strong>ve em última análise, seja direta ou indireta mente, mediante certos<br />
caracteres, referir-se às intuições, e, conseguintemente, à sensibilida<strong>de</strong>, porque <strong>de</strong><br />
outro mo<strong>do</strong> nenhum objeto nos po<strong>de</strong> ser da<strong>do</strong> (2001, p.15).<br />
162
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Kant discute aqui a capacida<strong>de</strong> “a priori” <strong>do</strong> ser-humano receber um “objeto” <strong>de</strong><br />
análise e pensar sobre ele, concentrar-se metafisicamente em questões relativas a ele,<br />
<strong>de</strong>bruçar-se sobre o que o especifica e o que o <strong>de</strong>limita. Isto, segun<strong>do</strong> ele, passa pela<br />
sensibilida<strong>de</strong> inerente a este sujeito, sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> intuir sobre algo. Lady MacBeth ao<br />
final da peça enlouquece, po<strong>de</strong>-se analisar este <strong>de</strong>stino trágico como reflexo da mentalida<strong>de</strong><br />
da época <strong>do</strong> escritor, na qual mulheres que se aventuravam em subjugar a moral às ambições<br />
tinham como <strong>de</strong>stino a loucura por penetrarem em espaços “masculinos”, difíceis <strong>de</strong> serem<br />
sustenta<strong>do</strong>s por espíritos tão fracos 47 .<br />
Po<strong>de</strong>-se também observar este final da Lady como uma evolução da própria<br />
personagem que, irrefletidamente se entregou aos <strong>de</strong>sejos <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e <strong>de</strong>pois, ao se <strong>de</strong>parar<br />
com o feito, começa a pensar sobre o ato (no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> Arendt) e se tortura a ponto <strong>de</strong><br />
mergulhar em loucura. Outra possível inquietu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Shakespeare na construção da<br />
personagem po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>scrita como as divagações da consciência moral que não ousou refrear<br />
o ato excessivo <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> que fala Nietzsche e acabou por culminar em crimes violentos<br />
e consecutivos.<br />
2. MACBETH DE SHAKESPEARE: UM TIPO IDEAL DE TIRANO<br />
Consi<strong>de</strong>ra-se aqui, para efeito <strong>de</strong> análise, a noção rousseauniana <strong>de</strong> tirano e tirania.<br />
Rousseau acredita que, quan<strong>do</strong> o Esta<strong>do</strong> se dissolve, seja qual for o abuso <strong>do</strong> governo, toma o<br />
nome <strong>de</strong> anarquia.<br />
Conforme este autor, a <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong>genera em “ociocracia” e a aristocracia em<br />
oligarquia. Seguin<strong>do</strong> esta linha <strong>de</strong> raciocínio, Rousseau irá acrescentar que a realeza <strong>de</strong>genera<br />
em tirania. O autor explica que, no senti<strong>do</strong> vulgar <strong>do</strong> termo, “o tirano é um rei que governa<br />
com violência e sem respeito à justiça e às leis. No senti<strong>do</strong> preciso, um tirano é um particular<br />
que se arroga a autorida<strong>de</strong> real sem a ela ter direito.” (2002, p.42). Observa-se que Macbeth<br />
enquadra-se perfeitamente a esta <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> tirano, utiliza a violência, e, exerce um po<strong>de</strong>r<br />
sem direito <strong>de</strong> o obter, pois comete crimes para consegui-lo. Rousseau coloca que esta<br />
<strong>de</strong>finição <strong>de</strong> tirania está <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com o que os gregos entendiam por, o po<strong>de</strong>r: “davam-no<br />
indiferentemente aos bons ou maus príncipes cuja autorida<strong>de</strong> não era legítima. Assim sen<strong>do</strong>,<br />
tirano e usurpa<strong>do</strong>r são <strong>do</strong>is termos perfeitamente sinônimos.” (2002, p.42). Aqui se vê uma<br />
diferença <strong>do</strong> personagem com o pensamento <strong>de</strong> Rousseau: Macbeth estava <strong>de</strong>sfrutan<strong>do</strong> <strong>de</strong> um<br />
po<strong>de</strong>r legítimo apesar <strong>de</strong> ilegal.<br />
47 “Mulher , mulier no latim se remetia à mollitia, que significava fraqueza <strong>de</strong> espírito, moleza, flexibilida<strong>de</strong>.”<br />
(Santos, 2005, p. 37).<br />
163
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
Rousseau chama <strong>de</strong> tirano o usurpa<strong>do</strong>r da autorida<strong>de</strong> real, e déspota o usurpa<strong>do</strong>r <strong>do</strong><br />
po<strong>de</strong>r soberano. Nesse senti<strong>do</strong>, Macbeth é tirano e também é déspota. Para este autor, “o<br />
tirano é aquele que se <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> contra as leis a governar segun<strong>do</strong> as leis; o déspota é o que se<br />
põe acima das leis. Assim, o tirano po<strong>de</strong> não ser déspota, mas o déspota é sempre tirano.”<br />
(2002, p.42).<br />
Ao comparar Shakespeare e Maquiavel, Chaia (1995, p.181) conclui que “a tragédia<br />
política é, além <strong>de</strong>sta constante reposição <strong>de</strong> energias humanas, a certeza <strong>do</strong> inespera<strong>do</strong>, o<br />
esforço para evitar o inevitável, a busca da or<strong>de</strong>m e da harmonia, em face <strong>do</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio e<br />
<strong>do</strong> caos”. Com isso, este autor acredita que o ser humano fragmenta-se ao a<strong>de</strong>ntrar na esfera<br />
política, e, <strong>de</strong>scobre em Shakespeare características <strong>de</strong> Maquiavel, como o realismo político e<br />
a necessida<strong>de</strong> da compreensão da natureza humana para melhor enten<strong>de</strong>r a política, e acaba<br />
por expressar na literatura uma visão exagerada das tensões e para<strong>do</strong>xos <strong>do</strong>s homens<br />
dividi<strong>do</strong>s entre a moral e a política e entre a paixão, a irracionalida<strong>de</strong> e a política.<br />
Para Rousseau (2002), Maquiavel, <strong>de</strong>ixan<strong>do</strong>-se crer dar lições aos reis, acabou por<br />
auxiliar aos povos, ao lhes fornecer material bibliográfico para reflexão crítica da realida<strong>de</strong> na<br />
qual se encontravam.<br />
Rousseau, no clássico “Do Contrato Social”, ao analisar o interesse <strong>do</strong> monarca<br />
escreve que o “seu interesse pessoal está, antes <strong>de</strong> mais nada, em que o povo seja débil,<br />
miserável, e jamais lhes possa resistir.” (2002, p.35). Entretanto, ele diz confessar que, ao<br />
imaginar os vassalos da época em situação submissa, lhe parecia que o interesse <strong>do</strong>s príncipes<br />
residiria na existência <strong>de</strong> um povo po<strong>de</strong>roso, <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> que o tornasse temi<strong>do</strong> <strong>de</strong> seus vizinhos:<br />
“[...] como, porém, tal interesse é secundário e subordina<strong>do</strong>, e as duas suposições se mostram<br />
incompatíveis, é natural que os príncipes dêem sempre preferência à sentença mais<br />
imediatamente útil para eles.” (2002, p.35).<br />
Tirania e <strong>de</strong>spotismo são características que vinculam o po<strong>de</strong>r político às<br />
representações que têm-se <strong>do</strong> mal e da malda<strong>de</strong>. Shakespeare personifica o mal em Macbeth.<br />
De acor<strong>do</strong> com Ramos:<br />
Em Macbeth, o mal está em sua natureza, e o próprio Macbeth sucumbe a esse<br />
temperamento maléfico, trazen<strong>do</strong> a malda<strong>de</strong> em si mesmo. A obra tem a fisionomia<br />
<strong>do</strong> seu herói, é obscura, sombria como a imagem da noite <strong>de</strong> tempesta<strong>de</strong> <strong>de</strong>scrita na<br />
peça. As tragédias shakespearianas remetem à violência política comum em sua<br />
época. Em Macbeth essa agressivida<strong>de</strong> fica explícita (2008, p.21).<br />
Macbeth: “Nós só talhamos a serpe, sem matá-la. Em pouco tempo se refará e volta a<br />
ser o que era fican<strong>do</strong> o nosso miserável ódio <strong>de</strong> novo exposto ao seu antigo <strong>de</strong>nte.” (2001,<br />
p.24) Ou seja, escolher por um <strong>de</strong>stes extremos (fazer o bem ou fazer o mal) requer um<br />
164
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar <strong>de</strong> ações semelhantes para garantir a eficácia das ações na manutenção <strong>do</strong> status<br />
e <strong>do</strong> po<strong>de</strong>r. Macbeth po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong> por nós para fins <strong>de</strong> análise como um tipo i<strong>de</strong>al <strong>de</strong><br />
tirano, ao extrair-se <strong>de</strong>le a abstração personificada e alegórica, e, absorver-se apenas a<br />
significação que este representa <strong>do</strong> real, o qual se vê enreda<strong>do</strong> em situações trágicas<br />
originadas <strong>de</strong> ações maléficas cometidas por ele próprio na busca pelo po<strong>de</strong>r e manutenção<br />
<strong>de</strong>ste.<br />
Weber concebe o tipo i<strong>de</strong>al como um mo<strong>de</strong>lo, não <strong>de</strong>ve correspon<strong>de</strong>r a realida<strong>de</strong> pura<br />
e simplesmente, mas sim, <strong>de</strong>ve orientar a reflexão sobre, <strong>de</strong>ve ser um guia para enten<strong>de</strong>r os<br />
padrões individuais concretos existentes em <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s indivíduos que agem em socieda<strong>de</strong>.<br />
Arendt escreve que:<br />
[...] a gran<strong>de</strong> vantagem <strong>do</strong> tipo i<strong>de</strong>al é justamente não ser uma abstração<br />
personificada a que se atribui algum significa<strong>do</strong> alegórico, mas ter si<strong>do</strong> escolhi<strong>do</strong><br />
em meio à multidão <strong>de</strong> seres vivos, no passa<strong>do</strong> ou no presente, em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ter<br />
uma significação representativa da realida<strong>de</strong>, que só precisava purificar-se um<br />
pouco para revelar to<strong>do</strong> o seu significa<strong>do</strong> (1993, grifo nosso, p.153).<br />
Weber (2005) conceitua po<strong>de</strong>r como a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> encontrar obediência a uma<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong>terminada. Um po<strong>de</strong>r instável para ele seria aquele assenta<strong>do</strong> em uma “situação <strong>de</strong><br />
interesses”, no “costume” e na “tendência afetiva, pessoal”. Deste mo<strong>do</strong> i<strong>de</strong>ntifica três tipos<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>res: po<strong>de</strong>r legal, po<strong>de</strong>r tradicional e po<strong>de</strong>r carismático.<br />
O po<strong>de</strong>r legal, segun<strong>do</strong> Weber (2005), tem como tipo i<strong>de</strong>al puro o po<strong>de</strong>r burocrático,<br />
apesar <strong>de</strong> não ser o único que se po<strong>de</strong> encontrar nas socieda<strong>de</strong>s. Este tipo <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r baseia-se<br />
no trabalho profissional <strong>do</strong> funcionário especializa<strong>do</strong> instruí<strong>do</strong> que possui uma obrigação<br />
oficial bem <strong>de</strong>finida e objetiva.<br />
No po<strong>de</strong>r tradicional, para Weber (2005), encontra-se como tipo mais puro a<br />
<strong>do</strong>minação patriarcal. “Obe<strong>de</strong>ce-se à pessoa por força <strong>de</strong> sua dignida<strong>de</strong> própria, santificada<br />
pela tradição: por pieda<strong>de</strong>.” (2005, p.4). Po<strong>de</strong>-se questionar aqui o caráter “santifica<strong>do</strong>” <strong>de</strong>ste<br />
governante, que não <strong>de</strong>verá ser exatamente fruto da bonda<strong>de</strong>, pois neste tipo <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r há o<br />
exercício <strong>de</strong> violência e opressão, muitos vezes em nome <strong>do</strong> “sagra<strong>do</strong>”. O que legitima este<br />
po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> man<strong>do</strong> aos servi<strong>do</strong>res individuais é o privilégio concedi<strong>do</strong> pelo bel-prazer singular<br />
<strong>do</strong> senhor, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da posição <strong>do</strong> servi<strong>do</strong>r na hierarquia <strong>de</strong> competência, ele po<strong>de</strong> ser<br />
privilegia<strong>do</strong> ou não <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com a vonta<strong>de</strong> <strong>do</strong> governante. Weber (2005) coloca que a este<br />
po<strong>de</strong>r falta o rigor da disciplina <strong>do</strong> po<strong>de</strong>r legal. Há uma <strong>de</strong>pendência pessoal <strong>do</strong> senhor: “A<br />
tradição, o privilégio, as relações feudais ou patrimoniais <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong>, a honra ligada à<br />
or<strong>de</strong>m e a ‘boa vonta<strong>de</strong>’ regem as relações globais.” (2005, p.6).<br />
165
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
O po<strong>de</strong>r carismático explicita Weber (2005), tem como tipos puros a autorida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
profeta, <strong>do</strong> herói guerreiro e <strong>do</strong> gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>magogo. Neste po<strong>de</strong>r “o eternamente novo, o fora<br />
<strong>do</strong> cotidiano, o nunca aconteci<strong>do</strong> e a sujeição emocional são [...] as fontes <strong>de</strong> rendição<br />
pessoal.” (2005, p.9). É uma relação entre chefe e discípulos, relação social puramente<br />
pessoal (inabitual), na qual o carisma possui um caráter neutro, isto é, o governante<br />
carismático não precisa ser bom, nem necessariamente parecer bom; em alguns casos, basta<br />
ter atos surpreen<strong>de</strong>ntes ao senso comum <strong>do</strong>s governa<strong>do</strong>s. Conforme Weber (2005), o po<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>ste governante é enfraqueci<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> ele é “aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>” pelo seu <strong>de</strong>us, ou <strong>de</strong>spoja<strong>do</strong> da<br />
sua força heróica e da fé das massas na sua qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> chefia.<br />
Neste senti<strong>do</strong>, para Weber (2005), em todas as relações <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r é <strong>de</strong>cisiva a coação,<br />
direta ou indireta, da sujeição à autorida<strong>de</strong>. Quan<strong>do</strong> esta coação se <strong>de</strong>sfaz o governante po<strong>de</strong><br />
estranhar o fato <strong>de</strong> que não há mais possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se respaldar no man<strong>do</strong> e obediência para<br />
continuar exercen<strong>do</strong> o po<strong>de</strong>r. Foi o que aconteceu com o personagem shakespeariano.<br />
Macbeth assusta<strong>do</strong> com a nova situação diz: “Mas os mortos, agora, se levantam com vinte<br />
fatais golpes na cabeça e <strong>de</strong> nossas ca<strong>de</strong>iras nos empurram. É mais estranho <strong>do</strong> que o próprio<br />
crime.” (p.27)<br />
Neste contexto, crimes e atos dignos são ações <strong>do</strong> político. Será esta opção uma tarefa<br />
da consciência moral? Será uma questão <strong>de</strong> reflexão e irreflexão? Será mesmo uma questão<br />
<strong>de</strong> opção? Arendt (1993, p.166) escreve que: “Não se trata aqui <strong>de</strong> malda<strong>de</strong> ou bonda<strong>de</strong>. E<br />
tampouco <strong>de</strong> inteligência ou burrice.” É como se a consciência <strong>de</strong> nossos atos fosse nossa<br />
testemunha com quem <strong>de</strong>vemos conversar cotidianamente. Arendt prossegue:<br />
Quem não conhece a interação entre mim e mim mesmo (na qual se examina o que<br />
se diz e se faz) não se incomodará em contradizer-se, e isso significa que jamais será<br />
capaz <strong>de</strong> explicar o que diz ou faz, ou mesmo <strong>de</strong>sejará fazê-lo; tampouco se<br />
importará em cometer qualquer crime, uma vez que está certo <strong>de</strong> que ele será<br />
esqueci<strong>do</strong> no minuto seguinte (1993, p.166).<br />
Neste senti<strong>do</strong>, o pensar (razão) é sim uma questão <strong>de</strong> opção. Um erudito (intelecto –<br />
cognição) po<strong>de</strong> saber muitas coisas, mas po<strong>de</strong> optar por não refletir sobre elas. Uma pessoa<br />
pouco instruída po<strong>de</strong> sim refletir sobre seus atos, conscientizar-se <strong>do</strong> bom e <strong>do</strong> justo e orientar<br />
suas ações para este fim. No entanto, po<strong>de</strong>-se dizer que as ações políticas passadas produzem<br />
repercussões benéficas ou maléficas a quem as produziu? Estas ações <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>iam<br />
consequências catastróficas para a humanida<strong>de</strong> quanto mais maléficas sejam? Arendt (1993)<br />
escreve que o pensamento trabalha com elementos invisíveis, com abstrações, coisas ausentes;<br />
o juízo envolve coisas particulares e coisas palpáveis, concretas. No entanto, os <strong>do</strong>is se<br />
conectam <strong>de</strong> forma semelhante à interligação consciência – consciência moral.<br />
166
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
3. A RACIONALIDADE DO JULGAMENTO E O FAZER POLÍTICA:<br />
NEUTRALIDADE?<br />
A personagem Lady Macduff, em certo momento da peça diz: “O me<strong>do</strong> é tu<strong>do</strong>, nada o<br />
amor, e a prudência é coisa alguma numa fuga assim fora <strong>de</strong> propósito.” (2001, p.34) É<br />
possível fazer política sen<strong>do</strong> orienta<strong>do</strong> pelo bem? Atos bons são realmente bons, ou utilizam-<br />
se <strong>de</strong>sta roupagem para mascarar a racionalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> julgamento, a prudência <strong>de</strong>rivativa <strong>do</strong><br />
me<strong>do</strong> da opinião pública ou das consequências quaisquer que incidam no plano pessoal<br />
daquele que atua no cenário político?<br />
Para Weber (1967), a neutralida<strong>de</strong> técnica auxilia na organização da <strong>do</strong>minação <strong>de</strong> um<br />
Esta<strong>do</strong> e é essencial para governar imensas massas. Ele revela que os diplomatas surgiram<br />
como conselheiros especializa<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s príncipes, sen<strong>do</strong> arte cultivada no fazer política para<br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r interesses, e, não para unir povos, isto é, fazer o “bem” em si mesmo. “A<br />
jurisprudência romana é o produto <strong>de</strong> uma estrutura política que surge da cida<strong>de</strong>-esta<strong>do</strong> para<br />
alcançar <strong>do</strong>mínio mundial” (1967, p.66).<br />
O personagem Ross, ao fazer uma conjuntura da política vigente (na peça <strong>de</strong><br />
Shakespeare) diz: “Pobre pátria, revela me<strong>do</strong> até <strong>de</strong> conhecer-se. De nossa mãe não po<strong>de</strong> ser<br />
chamada, mas nossa sepultura, porque nela só ri ainda quem ignora tu<strong>do</strong>; os gritos e suspiros,<br />
os gemi<strong>do</strong>s que os ares dilaceram, emiti<strong>do</strong>s apenas são sem serem percebi<strong>do</strong>s.” (2001, p.38)<br />
Ter a consciência <strong>do</strong>s acontecimentos vigentes, pensar sobre eles, julgar estes particulares não<br />
apenas por regras gerais <strong>de</strong>sgastadas pelo hábito, mas iluminá-los no senti<strong>do</strong> <strong>de</strong> Kant seria por<br />
<strong>de</strong>mais <strong>do</strong>loroso para indivíduos não acostuma<strong>do</strong>s a refletir sobre o “fazer política” e<br />
participação real na esfera política. Kant expõe que:<br />
To<strong>do</strong>s os juízos são funções da unida<strong>de</strong> entre as nossas representações, que, em<br />
lugar <strong>de</strong> uma representação imediata, substitui outra mais elevada que compreen<strong>de</strong><br />
em seu seio a esta e outras muitas e que serve para o conhecimento <strong>do</strong> objeto<br />
reunin<strong>do</strong> <strong>de</strong>ste mo<strong>do</strong> muitos conhecimentos possíveis em um só. Mas po<strong>de</strong>mos<br />
reduzir todas as operações <strong>do</strong> entendimento a juízos; <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> que o entendimento<br />
em geral po<strong>de</strong> ser representa<strong>do</strong> como a faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> julgar. Porque, segun<strong>do</strong> o que<br />
prece<strong>de</strong>, é uma faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensar (2001, p.39).<br />
Assim, a faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> julgar, <strong>de</strong> pensar é crucial no fazer política. De acor<strong>do</strong> com<br />
Arendt (1993), o pensamento não cria valores, nem resultará na <strong>de</strong>scoberta <strong>de</strong>finitiva <strong>do</strong> que é<br />
o bem. A importância política e moral <strong>do</strong> pensamento emerge nos momentos históricos <strong>de</strong><br />
crise, <strong>de</strong> transição. Momentos como o que o personagem Ross <strong>de</strong> Shakespeare evi<strong>de</strong>ncia: “As<br />
mais violentas <strong>do</strong>res assemelham-se a emoção cotidiana; os <strong>do</strong>bres fúnebres passam<br />
<strong>de</strong>spercebi<strong>do</strong>s e as pessoas <strong>de</strong> bem fenecem antes <strong>de</strong> murcharem as flores <strong>do</strong> chapéu e a vida<br />
167
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
per<strong>de</strong>m sem virem a a<strong>do</strong>ecer.” (2001, p.38) Quan<strong>do</strong> não se po<strong>de</strong> mais agir tradicionalmente,<br />
mecanicamente, automaticamente; o pensamento é chama<strong>do</strong> a participar.<br />
O diálogo sem som, isto é, a reflexão, <strong>de</strong>verá recompor a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s indivíduos, <strong>de</strong><br />
um povo, <strong>de</strong> uma nação, <strong>de</strong> várias nações. Ao vincular-se política com arte, além da técnica<br />
pura e simples, po<strong>de</strong>-se dizer que:<br />
A política traduz-se em arte quan<strong>do</strong> o príncipe, agin<strong>do</strong> pelo livre arbítrio, faz com<br />
que a virtu<strong>de</strong> <strong>do</strong>me a fortuna, enten<strong>de</strong>n<strong>do</strong> racionalmente os fatos circundantes, ou<br />
quan<strong>do</strong> uma cida<strong>de</strong> produz boas leis, baseadas nos bons costumes e nos canais<br />
institucionais para participação <strong>do</strong>s cidadãos, tornan<strong>do</strong> então possível a fundação <strong>de</strong><br />
um governo republicano. Tanto para o indivíduo (virtuoso) quanto para o povo<br />
(sábio), a política é, metaforicamente, uma arte <strong>de</strong> homens em liberda<strong>de</strong>, exatamente<br />
pelo esforço e pelo conhecimento exigi<strong>do</strong>s para regrar ações, gerir Esta<strong>do</strong>s e<br />
aperfeiçoar a socieda<strong>de</strong> contra as armadilhas e dificulda<strong>de</strong>s <strong>do</strong> <strong>de</strong>stino - e na política<br />
elas são intermináveis. (CHAIA, 1995, p.178).<br />
Estabelecer regras comuns e contribuir para o exercício <strong>de</strong>stas são tarefas to<strong>do</strong>s os<br />
indivíduos que compõem uma nação, to<strong>do</strong>s <strong>de</strong>vem ser seres políticos. É preciso para isso<br />
aperfeiçoar o julgamento confrontan<strong>do</strong>-o entre os <strong>de</strong>mais membros <strong>do</strong> cenário social. Weber e<br />
Arendt, apesar <strong>de</strong> terem pensamentos antagônicos em sua origem, Weber parte da idéia <strong>de</strong><br />
que o ser humano cotidianamente é capaz <strong>de</strong> praticar um mal pensa<strong>do</strong> e Arendt acredita que a<br />
maior parte <strong>do</strong> mal é gera<strong>do</strong> pela falta <strong>de</strong> reflexão sobre a realida<strong>de</strong> em que o ser se insere,<br />
vêem como um avanço <strong>do</strong> pensar a construção coletiva da racionalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> julgamento.<br />
Arendt explicita que “o juízo nada mais é que o pensamento em sua origem<br />
fenomenal, compreendida como a raiz empírica, particular e contingente da experiência em<br />
que temos acesso ao mo<strong>do</strong> transcen<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> abertura <strong>do</strong> espírito ao mun<strong>do</strong>.” (1993, p.28).<br />
Neste senti<strong>do</strong>, pensar e trocar pensamentos em coletivo é condição humana primordial para<br />
quem <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> “fazer política” e fazê-la <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> oposto ao exposto em Macbeth.<br />
Neste cenário <strong>de</strong> diluição <strong>do</strong> po<strong>de</strong>r tirânico, o personagem shakespeariano Caithness,<br />
ao referir-se ao tirano Macbeth, diz: “Mas certo é que ele sua natureza <strong>de</strong>smanchada abarcar<br />
já não consegue no cinturão da regra.” (2001, p.42) Macbeth exerceu o po<strong>de</strong>r tradicional <strong>de</strong><br />
que fala Weber (2005), legitima<strong>do</strong> pela sucessão da coroa real, e, apesar <strong>de</strong> para isso ter<br />
cometi<strong>do</strong> atos violentos e maléficos, foi um rei legítimo, mas não foi um reina<strong>do</strong> dura<strong>do</strong>uro,<br />
pois ele não obteve um po<strong>de</strong>r carismático (WEBER, 2005) que o propiciaria ter mais amigos<br />
que inimigos, e, com isso, certa estabilida<strong>de</strong> no trono real. Em sua maturida<strong>de</strong> dramática,<br />
Shakespeare construiu um monarca homicida que representa o mal também existente na<br />
pretensa neutralida<strong>de</strong> divulgada <strong>de</strong> burocratas corruptos que hoje ocupam altos escalões <strong>de</strong><br />
nossas nações e organizações internacionais.<br />
168
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Em Macbeth, Chaia (1995, p.167) coloca que “[...] o indivíduo, na sua natureza e<br />
humanida<strong>de</strong>, atravessa a vida <strong>de</strong>frontan<strong>do</strong>-se consigo mesmo e com o po<strong>de</strong>r, num<br />
enca<strong>de</strong>amento <strong>de</strong> fatos guia<strong>do</strong>s também pelo <strong>de</strong>stino.” Os acontecimentos incontroláveis no<br />
jogo político encontram eco na obra <strong>de</strong> Shakespeare com o <strong>de</strong>stino, também incontrolável e<br />
que incita Macbeth à ambição sem limites pelo po<strong>de</strong>r político. Não obstante, a pre<strong>de</strong>stinação<br />
não <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> o <strong>de</strong>senrolar <strong>do</strong>s acontecimentos, e, sim, as opções e questionamentos <strong>de</strong> Macbeth<br />
que opta refletidamente por fazer o mal, pela morte e pelos homicídios para satisfazer seus<br />
<strong>de</strong>sejos pessoais <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r.<br />
Para expressar as qualida<strong>de</strong>s e os horrores da política, Shakespeare afasta-se <strong>do</strong><br />
cotidiano da política e o alegoriza em forma <strong>de</strong> personagem tirânico para permitir ao público e<br />
ao leitor uma atitu<strong>de</strong> reflexiva e crítica.<br />
Ao <strong>de</strong>parar-se com esta obra e tentar conectá-la com o presente, nota-se que a<br />
reconciliação <strong>do</strong> pensamento com o mun<strong>do</strong> empírico no fazer política po<strong>de</strong> ser possível<br />
através da racionalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> julgamento, <strong>do</strong> juízo refleti<strong>do</strong> sobre a ação realizada ou a realizar.<br />
A experiência que se tem no mun<strong>do</strong> e o pensamento po<strong>de</strong>m estar liga<strong>do</strong>s através <strong>de</strong> regras<br />
dinâmicas, racionalida<strong>de</strong>s jurídicas que se metamorfoseiam conforme a razão assim <strong>de</strong>cidir.<br />
Não apenas a razão, mas a sensibilida<strong>de</strong> inicial <strong>do</strong> ser - humano. A <strong>de</strong>cisão entre fazer o bem<br />
ou fazer o mal é crucial para o <strong>de</strong>senrolar da história <strong>do</strong>s povos, da humanida<strong>de</strong>, <strong>do</strong> planeta<br />
enquanto um to<strong>do</strong> sistêmico. Optar pelo bem requer sensibilida<strong>de</strong>, maturida<strong>de</strong> política e<br />
<strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> bem comum.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ARENDT, H. A dignida<strong>de</strong> da política: ensaios e conferências. ABRANCHES, A. (org.)<br />
MARTINS. H. et al. (trad.) RJ: Relume-Dumará, 1993.<br />
CHAIA, M. A natureza da política em Shakespeare e Maquiavel. Estud. av. [online]. 1995,<br />
vol.9, n.23, p. 165-182.<br />
KANT, I. Crítica à razão pura. http://br.egroups.com/group/acropolis, 2001.<br />
NIETZSCHE. F. Além <strong>do</strong> Bem e <strong>do</strong> Mal. Braga, Antônio Carlos. (Trad.). 2. ed, São Paulo:<br />
Editora Escala, 2007.<br />
WEBER, M. A política como vocação. (original 1918) In: GERTH, H. H; C. WRIGHT<br />
MILLS. (Orgs.). Ensaios <strong>de</strong> Sociologia. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1967.<br />
169
REVELL – Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Literários da UEMS, Ano 01, número 1. ISSN: 2179-4456<br />
__________. Três tipos puros <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r legítimo. (Trad. Artur Morão). In: _______. Três<br />
tipos <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e outros escritos. Tribuna da História: Lisboa, 2005.<br />
RAMOS, G. F. A representação <strong>do</strong> mal em Macbeth. Revista <strong>de</strong> Estu<strong>do</strong>s Linguísticos e<br />
Literários. Patos <strong>de</strong> Minas: UNIPAM, p.20-31, ano 1, 2008.<br />
ROUSSEAU, J-J. Do Contrato Social. file:///C|/site/livros/contrato_social.htm (35 of 72),<br />
acessa<strong>do</strong> em 4/1/2002.<br />
SANTOS, A. A. O canto das mulheres – entre bailar e trabalhar: relação <strong>de</strong> gênero em<br />
narrativas orais (romances). Tese <strong>de</strong> <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>. Salva<strong>do</strong>r: UFBA/Instituto <strong>de</strong> Letras, 2005.<br />
SHAKESPEARE, W. Macbeth. file:///C|/site/livros/macbeth1.htm (49 of 49), acessa<strong>do</strong> em<br />
02/04/2001.<br />
170


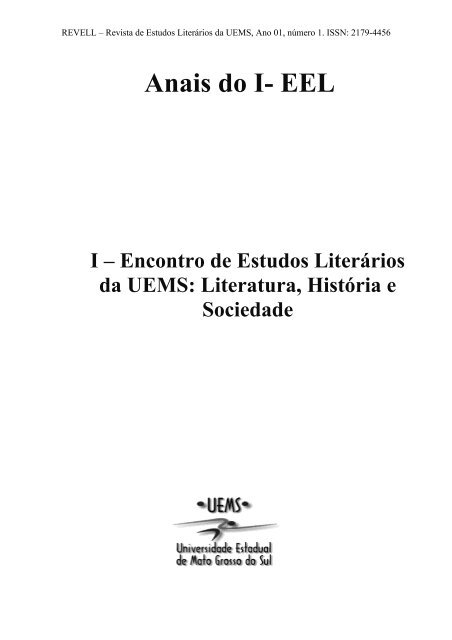



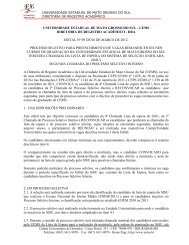



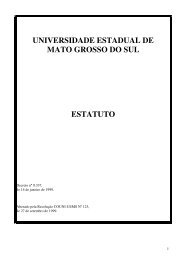


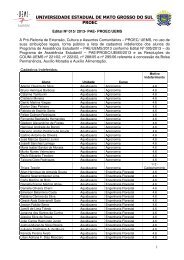
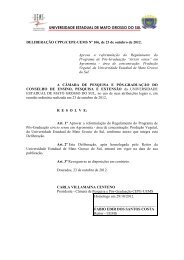

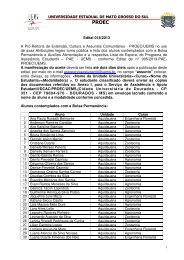
![3. Lista de Espera em ordem classificatória [informações adicionais]](https://img.yumpu.com/48035055/1/190x245/3-lista-de-espera-em-ordem-classificataria-informaaaues-adicionais.jpg?quality=85)