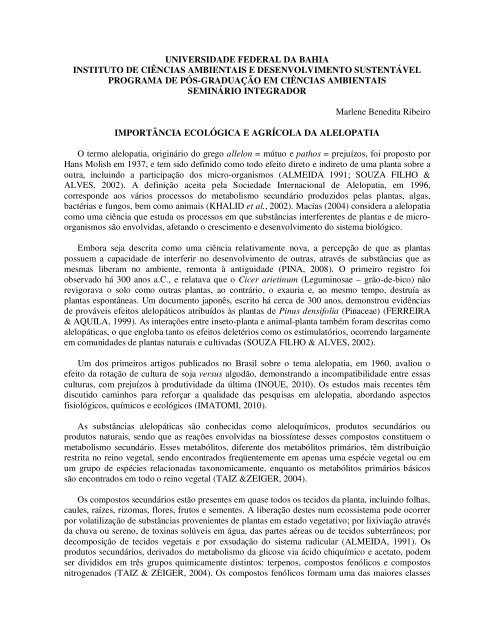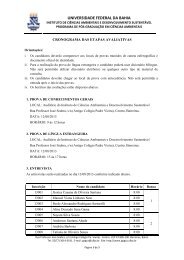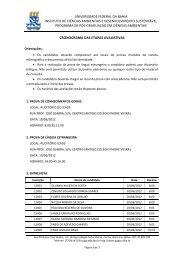Resumo do seminário “Importância ecológica e agrícola da alelopatia”
Resumo do seminário “Importância ecológica e agrícola da alelopatia”
Resumo do seminário “Importância ecológica e agrícola da alelopatia”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA<br />
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL<br />
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS<br />
SEMINÁRIO INTEGRADOR<br />
IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E AGRÍCOLA DA ALELOPATIA<br />
Marlene Benedita Ribeiro<br />
O termo alelopatia, originário <strong>do</strong> grego allelon = mútuo e pathos = prejuízos, foi proposto por<br />
Hans Molish em 1937, e tem si<strong>do</strong> defini<strong>do</strong> como to<strong>do</strong> efeito direto e indireto de uma planta sobre a<br />
outra, incluin<strong>do</strong> a participação <strong>do</strong>s micro-organismos (ALMEIDA 1991; SOUZA FILHO &<br />
ALVES, 2002). A definição aceita pela Socie<strong>da</strong>de Internacional de Alelopatia, em 1996,<br />
corresponde aos vários processos <strong>do</strong> metabolismo secundário produzi<strong>do</strong>s pelas plantas, algas,<br />
bactérias e fungos, bem como animais (KHALID et al., 2002). Macías (2004) considera a alelopatia<br />
como uma ciência que estu<strong>da</strong> os processos em que substâncias interferentes de plantas e de microorganismos<br />
são envolvi<strong>da</strong>s, afetan<strong>do</strong> o crescimento e desenvolvimento <strong>do</strong> sistema biológico.<br />
Embora seja descrita como uma ciência relativamente nova, a percepção de que as plantas<br />
possuem a capaci<strong>da</strong>de de interferir no desenvolvimento de outras, através de substâncias que as<br />
mesmas liberam no ambiente, remonta à antigui<strong>da</strong>de (PINA, 2008). O primeiro registro foi<br />
observa<strong>do</strong> há 300 anos a.C., e relatava que o Cicer arietinum (Leguminosae – grão-de-bico) não<br />
revigorava o solo como outras plantas, ao contrário, o exauria e, ao mesmo tempo, destruía as<br />
plantas espontâneas. Um <strong>do</strong>cumento japonês, escrito há cerca de 300 anos, demonstrou evidências<br />
de prováveis efeitos alelopáticos atribuí<strong>do</strong>s às plantas de Pinus densifolia (Pinaceae) (FERREIRA<br />
& AQUILA, 1999). As interações entre inseto-planta e animal-planta também foram descritas como<br />
alelopáticas, o que engloba tanto os efeitos deletérios como os estimulatórios, ocorren<strong>do</strong> largamente<br />
em comuni<strong>da</strong>des de plantas naturais e cultiva<strong>da</strong>s (SOUZA FILHO & ALVES, 2002).<br />
Um <strong>do</strong>s primeiros artigos publica<strong>do</strong>s no Brasil sobre o tema alelopatia, em 1960, avaliou o<br />
efeito <strong>da</strong> rotação de cultura de soja versus algodão, demonstran<strong>do</strong> a incompatibili<strong>da</strong>de entre essas<br />
culturas, com prejuízos à produtivi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> última (INOUE, 2010). Os estu<strong>do</strong>s mais recentes têm<br />
discuti<strong>do</strong> caminhos para reforçar a quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s pesquisas em alelopatia, abor<strong>da</strong>n<strong>do</strong> aspectos<br />
fisiológicos, químicos e ecológicos (IMATOMI, 2010).<br />
As substâncias alelopáticas são conheci<strong>da</strong>s como aleloquímicos, produtos secundários ou<br />
produtos naturais, sen<strong>do</strong> que as reações envolvi<strong>da</strong>s na biossíntese desses compostos constituem o<br />
metabolismo secundário. Esses metabólitos, diferente <strong>do</strong>s metabólitos primários, têm distribuição<br />
restrita no reino vegetal, sen<strong>do</strong> encontra<strong>do</strong>s freqüentemente em apenas uma espécie vegetal ou em<br />
um grupo de espécies relaciona<strong>da</strong>s taxonomicamente, enquanto os metabólitos primários básicos<br />
são encontra<strong>do</strong>s em to<strong>do</strong> o reino vegetal (TAIZ &ZEIGER, 2004).<br />
Os compostos secundários estão presentes em quase to<strong>do</strong>s os teci<strong>do</strong>s <strong>da</strong> planta, incluin<strong>do</strong> folhas,<br />
caules, raízes, rizomas, flores, frutos e sementes. A liberação destes num ecossistema pode ocorrer<br />
por volatilização de substâncias provenientes de plantas em esta<strong>do</strong> vegetativo; por lixiviação através<br />
<strong>da</strong> chuva ou sereno, de toxinas solúveis em água, <strong>da</strong>s partes aéreas ou de teci<strong>do</strong>s subterrâneos; por<br />
decomposição de teci<strong>do</strong>s vegetais e por exsu<strong>da</strong>ção <strong>do</strong> sistema radicular (ALMEIDA, 1991). Os<br />
produtos secundários, deriva<strong>do</strong>s <strong>do</strong> metabolismo <strong>da</strong> glicose via áci<strong>do</strong> chiquímico e acetato, podem<br />
ser dividi<strong>do</strong>s em três grupos quimicamente distintos: terpenos, compostos fenólicos e compostos<br />
nitrogena<strong>do</strong>s (TAIZ & ZEIGER, 2004). Os compostos fenólicos formam uma <strong>da</strong>s maiores classes
de metabólitos secundários encontra<strong>do</strong>s em plantas e muita atenção deve ser <strong>da</strong><strong>da</strong> ao seu potencial<br />
ecológico e alelopático (MAIRESSE, 2005).<br />
Os metabólitos secundários, após serem produzi<strong>do</strong>s e libera<strong>do</strong>s, podem causar efeitos diretos e<br />
indiretos sobre outras plantas. Efeitos diretos são caracteriza<strong>do</strong>s por alterações no metabolismo e<br />
crescimento <strong>da</strong> planta, afetan<strong>do</strong>: 1- estruturas citológicas e ultra-estruturais; 2- hormônios, tanto<br />
alteran<strong>do</strong> suas concentrações quanto o balanço entre os diferentes hormônios; 3- membranas e sua<br />
permeabili<strong>da</strong>de; 4- absorção de minerais; 5-movimento <strong>do</strong>s estômatos, síntese de pigmentos e<br />
fotossíntese; 6- respiração; 7- síntese de proteínas; 8- ativi<strong>da</strong>de enzimática; 9- relações hídricas e<br />
condução; 10- material genético, induzin<strong>do</strong> alterações no DNA. Já os efeitos indiretos<br />
compreendem alterações em proprie<strong>da</strong>des <strong>do</strong> solo, interferin<strong>do</strong> na absorção de nutrientes, como<br />
também na população e ativi<strong>da</strong>de de micro-organismos (PIRES & OLIVEIRA, 2001).<br />
Nas plantas, intermediários reativos de oxigênio (ROIs) podem ser produzi<strong>do</strong>s em decorrência<br />
de diversas perturbações ambientais, como por exemplo, excesso de luz, seca, temperaturas<br />
eleva<strong>da</strong>s, herbici<strong>da</strong>s e, até mesmo, substâncias químicas naturais como os aleloquímicos. Situações<br />
de estresses nos vegetais modulam respostas de defesa, de forma a superar tais condições e retornar<br />
ao metabolismo normal. Saber como os vegetais se protegem é essencial para obter, através <strong>da</strong><br />
bioengenharia, varie<strong>da</strong>des <strong>agrícola</strong>s mais resistentes, aumentan<strong>do</strong> a produção e a quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s<br />
plantas (PIRES & OLIVEIRA, 2001).<br />
No Cerra<strong>do</strong>, além <strong>do</strong>s fatores antrópicos, ocorrem muitas perturbações naturais como o fogo, a<br />
baixa disponibili<strong>da</strong>de de nutrientes e a exposição ao déficit hídrico sazonal. Essas condições de<br />
estresse que as plantas dessa região suportam e a ausência de <strong>do</strong>mesticação são indicativos<br />
potenciais de que a comuni<strong>da</strong>de vegetal desse <strong>do</strong>mínio fitogeográfico produz metabólitos<br />
secundários em maior escala, sen<strong>do</strong> esses compostos responsáveis por um eleva<strong>do</strong> efeito alelopático<br />
(AYRES, 2007). Em folhas e cascas de Caryocar brasiliensis (Caryocaraceae – pequi) foi<br />
encontra<strong>do</strong> alto teor de tanino, substância alelopática que afeta a ativi<strong>da</strong>de enzimática (OLIVA,<br />
2008). Essas características aumentam as interações <strong>ecológica</strong>s entre as espécies vegetais e destas<br />
com os fatores abióticos, tornan<strong>do</strong> esta fitofisionomia uma importante fonte de estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> ponto de<br />
vista alelopático.<br />
Nesse bioma, observa-se a degra<strong>da</strong>ção ambiental decorrente <strong>do</strong> aumento <strong>da</strong> agricultura e<br />
crescente desmatamento. Associa<strong>do</strong> a isto, encontra-se- o uso de agroquímicos, como os<br />
fertilizantes e herbici<strong>da</strong>s, provocan<strong>do</strong> a contaminação <strong>do</strong> ambiente. Substâncias químicas com<br />
ativi<strong>da</strong>de alelopática podem ser utiliza<strong>da</strong>s diretamente na formulação de bioerbici<strong>da</strong>s ou serem<br />
modifica<strong>da</strong>s, a fim de aumentar sua ativi<strong>da</strong>de biológica (SOUZA FILHO & ALVES, 2002).<br />
Estu<strong>do</strong>s sobre compostos alelopáticos, além de controlar plantas espontâneas, podem apresentar<br />
interesse ecológico na recuperação de áreas degra<strong>da</strong><strong>da</strong>s, no reflorestamento com espécies nativas e<br />
no manejo ecológico <strong>do</strong> solo. Além disso, propicia uma alternativa ecologicamente correta no<br />
cultivo de plantas para indústria de fitoterápicos (SILVA, 2006).<br />
Para a determinação <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de alelopática são utiliza<strong>do</strong>s bioensaios de laboratório que visam<br />
a obtenção de resulta<strong>do</strong>s rápi<strong>do</strong>s, sob condições controla<strong>da</strong>s. A germinação <strong>da</strong>s sementes é um<br />
parâmetro frequentemente avalia<strong>do</strong> em estu<strong>do</strong>s alelopáticos devi<strong>do</strong> à fácil quantificação e resposta<br />
visível. Outro critério facilmente avalia<strong>do</strong> é o efeito <strong>do</strong> aleloquímico sobre a veloci<strong>da</strong>de de<br />
germinação. A massa seca <strong>da</strong> raiz e parte aérea, o comprimento <strong>da</strong>s plântulas e a presença de pêlos<br />
absorventes são parâmetros bastante usa<strong>do</strong>s para se avaliar o efeito alelopático sobre o crescimento<br />
(FERREIRA &AQUILA, 2000).
Os bioensaios de desenvolvimento ou crescimento de plantas envolvem a incubação de placas de<br />
Petri/Gerbox por um determina<strong>do</strong> perío<strong>do</strong> de tempo, ao final <strong>do</strong> qual contam-se as sementes<br />
germina<strong>da</strong>s e medem-se ou pesam-se as raízes e o hipocótilo. Os procedimentos descritos na<br />
literatura para os bioensaios de alongamento <strong>da</strong> radícula e <strong>do</strong> hipocótilo são muito semelhantes aos<br />
descritos para a germinação de sementes, em relação à temperatura e ao tempo de exposição à luz.<br />
Seja qual for o procedimento a<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>, algumas informações importantes devem ser considera<strong>da</strong>s<br />
como, por exemplo, deformi<strong>da</strong>des na radícula, aparecimento ou não de radicelas e de pêlos nas raízes<br />
e, ain<strong>da</strong>, o surgimento de necroses, informações que podem auxiliar e ampliar o entendimento <strong>do</strong>s<br />
mecanismos de ação <strong>do</strong>s aleloquímicos (PIRES & OLIVEIRA, 2001).<br />
Algumas espécies como Lactuca sativa L.(Asteraceae - alface), Lycopersum esculentum Mill.<br />
(Solanaceae - tomate) e Zea mays L. (Poaceae - milho) são mais sensíveis a aleloquímicos que outras,<br />
sen<strong>do</strong> mais utiliza<strong>da</strong>s em bioensaios, por apresentarem comportamento germinativo conheci<strong>do</strong>, alta<br />
veloci<strong>da</strong>de de germinação e fácil aquisição. O uso de sementes nativas como espécies alvo em<br />
bioensaios alelopáticos é extremamente raro devi<strong>do</strong> à época restrita de dispersão, baixa durabili<strong>da</strong>de<br />
e por apresentarem <strong>do</strong>rmências diversas. Por outro la<strong>do</strong>, a utilização de espécies invasoras como alvo<br />
em bioensaios de germinação é relativamente comum, no intuito de fornecer novas formas de<br />
controle e manejo (AIRES, 2009). A espécie Bidens pilosa L. (Gramineae - picão preto), destaca-se<br />
entre as plantas infestantes, sen<strong>do</strong> utiliza<strong>da</strong> em testes de bioensaios de laboratório, uma vez que o<br />
controle de plantas infestantes pelo crescimento de outras plantas, capazes de exsu<strong>da</strong>r aleloquímicos<br />
têm si<strong>do</strong> pouco estu<strong>da</strong><strong>do</strong> (MANO, 2006).<br />
Portanto, a ativi<strong>da</strong>de alelopática pode ser útil na descoberta de moléculas com potencial de<br />
herbici<strong>da</strong> natural, reduzin<strong>do</strong> a degra<strong>da</strong>ção <strong>do</strong> ambiente e agregan<strong>do</strong> valor à vegetação. Além disso, é<br />
importante no processo ecológico, pois influencia a <strong>do</strong>minância vegetal, a sucessão <strong>ecológica</strong>, a<br />
formação de comuni<strong>da</strong>des e de vegetação clímax.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AIRES, S. S. Potencial alelopático de espécies nativas <strong>do</strong> Cerra<strong>do</strong> na germinação e<br />
desenvolvimento inicial de invasoras. 2007. 61f. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Botânica) - Instituto<br />
de Ciências Biológicas, Universi<strong>da</strong>de de Brasília, DF.<br />
ALMEIDA, F.S. DE. Efeitos alelopáticos de resíduos vegetais. Pesquisa Agropecuária Brasileira,<br />
Brasília, v.26, n.2, p. 221-236, 1991.<br />
FERREIRA, A. G. & AQUILA, M. E. A. Alelopatia: uma área emergente <strong>da</strong> ecofisiologia. In: VII<br />
Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, 1999, DF. Laboratório de Fisiologia Vegetal,<br />
Departamento de Botânica, Brasília, DF.<br />
IAMATOMI, M. Estu<strong>do</strong> alelopático de espécies <strong>da</strong> família Myrtaceae <strong>do</strong> Cerra<strong>do</strong>. 2011. 88f.<br />
Tese (Doutora<strong>do</strong>) - Centro de Ciências Biológicas e <strong>da</strong> Saúde. Universi<strong>da</strong>de Federal de São Carlos,<br />
SP.<br />
INOUE M. H. A história <strong>da</strong> alelopatia no Brasil – revisão. Socie<strong>da</strong>de Brasileira <strong>da</strong> Ciência <strong>da</strong>s<br />
Plantas Daninhas, v. 16, n. 2, 2010.<br />
KHALID, S.; AHMAD, T. e SHAD, R. A. et al. Use of Allelopathi in Agriculture. Asian Journal<br />
of Plant de Sciences, v.1, n. 3, p: 292-297, 2002.
MACÍAS, F. A. Allelophaty, a natural strategy for weed control. Comm. Appl. Bio. Sci, Ghent.<br />
University, v.69, n. 3, 2004.<br />
MAIRESSE, L. A. S. Avaliação <strong>da</strong> bioativi<strong>da</strong>de de extratos vegetais, enquanto excipientes de<br />
aleloquímicos. 2005. 340 f. Tese (Doutora<strong>do</strong> em Agronomia) – Facul<strong>da</strong>de de Agronomia,<br />
Universi<strong>da</strong>de Federal de Santa Maria, RS.<br />
MANO, A. R. O. Efeito alelopático <strong>do</strong> extrato aquoso de sementes de cumaru (Amburana<br />
cearensiss) sobre a germinação de sementes, desenvolvimento e crescimento de plântulas de<br />
alface, picão-preto e carrapicho. 2006. 98f. Dissertação (Mestra<strong>do</strong> em Agronomia) -<br />
Departamento de Fitotecnia, Universi<strong>da</strong>de Federal <strong>do</strong> Ceará, CE.<br />
OLIVA, K. M. F. Ativi<strong>da</strong>de alelopática de extratos de Caryocar brasiliense Camb. sobre a<br />
germinação, crescimento e aspectos bioquímicos e fisiológicos em Bidens pilosa, Glycine Max e<br />
Zea mays. 2006. 82f. Tese (Doutora<strong>do</strong> em Fisiologia vegetal) – Centro de Ciências Biológicas,<br />
Universi<strong>da</strong>de Federal de Viçosa, MG.<br />
PINA, G. O. Efeito <strong>do</strong> extrato aquoso de foliar de Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae -<br />
cagaita) na germinação, crescimento, morfo-anatomia de Sesamum indicum L. (Pe<strong>da</strong>liaceaegergelim<br />
e Raphanussativus L. (Brassicaceae-rabanete). 2008. 119 f. Dissertação. (Mestra<strong>do</strong> em<br />
Fisiologia vegetal), Instituto de Ciências Biológicas, Universi<strong>da</strong>de de Brasília, DF.<br />
PIRES, N. M.; OLIVEIRA, R. V. Alelopatia. In: OLIVEIRA, R. S.; CONSTANTIN, J. Plantas<br />
<strong>da</strong>ninhas e seu manejo. Guaíba: Agropecuária, p.99-108, 2001.<br />
SILVA, G. B. Potencial alelopático de espécies arbóreas nativas <strong>do</strong> Cerra<strong>do</strong>. Hoehnea, 33(3): 331-<br />
338, 2006.<br />
SOUZA FILHO, A.P.S. & ALVES, S.M. Aleleopatia, Princípios Básicos e Aspectos Gerais.<br />
Embrapa Amazônia oriental, 260p, 2002.<br />
TAIZ, L. & ZEIGER E. Fisiologia Vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artimed, 2004.