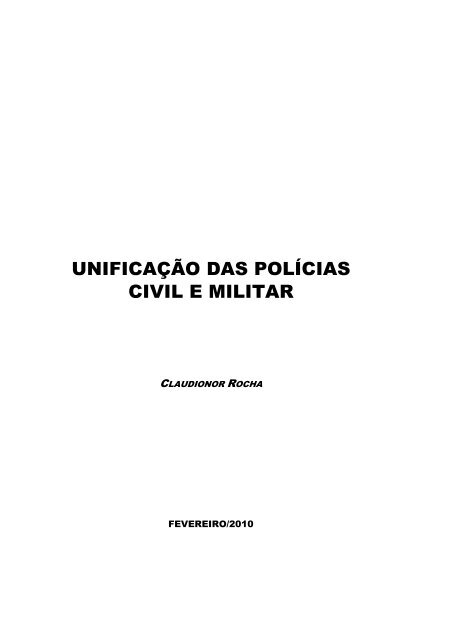Unificacao_das_policias_civil_e_militar_Fevereiro_2010
Unificacao_das_policias_civil_e_militar_Fevereiro_2010
Unificacao_das_policias_civil_e_militar_Fevereiro_2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS<br />
CIVIL E MILITAR<br />
CLAUDIONOR ROCHA<br />
FEVEREIRO/<strong>2010</strong>
Claudionor Rocha 3<br />
SUMÁRIO<br />
1. INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................<br />
2. MODELOS DE POLÍCIA ........................................................................................................<br />
3. A POLÍCIA BRASILEIRA .........................................................................................................<br />
3.1 O ciclo completo ...........................................................................................................<br />
3.2 Avaliação do trabalho policial .....................................................................................<br />
4. UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS ..............................................................................................<br />
4.1 Vantagens da unificação ...............................................................................................<br />
4.2 Resistências à unificação ...............................................................................................<br />
4.3 Desvantagens da unificação .........................................................................................<br />
4.4 Variáveis que afetariam o processo de unificação ....................................................<br />
5. PROPOSIÇÕES ...........................................................................................................................<br />
6. MODELO ADEQUADO ..........................................................................................................<br />
7. A POLÍCIA MUNICIPAL .........................................................................................................<br />
8. CONCLUSÃO .............................................................................................................................<br />
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................<br />
3
Claudionor Rocha 4<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR<br />
O tema da unificação <strong>das</strong> polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong> é recorrente na questão <strong>das</strong> refor-<br />
mas estruturais em relação ao sistema de segurança pública do país, cada vez mais tido<br />
como insuficiente para o enfrentamento da criminalidade crescente, com a consequente<br />
elevação dos índices de violência, que hoje estão dentre os maiores do mundo.<br />
Urge o aperfeiçoamento da idéia, a qual, espasmodicamente volta à discussão, com<br />
a apresentação de nova proposição legislativa, a par <strong>das</strong> várias existentes, pelo que vislum-<br />
bramos a oportunidade de externarmos considerações a respeito, na tentativa de aprofun-<br />
dar o debate.<br />
Buscaremos, neste texto, alinhavar as razões que levam parcela dos cientistas sociais<br />
a defender a unificação <strong>das</strong> polícias como parte da solução para os problemas relativos à<br />
segurança pública. Analisaremos, a seguir, as proposições em tramitação no Poder Legisla-<br />
tivo federal tendentes a esse desiderato. Traçaremos, depois, considerações acerca <strong>das</strong> su-<br />
gestões de como deveria se dar o aperfeiçoamento <strong>das</strong> estruturas <strong>das</strong> instituições policiais,<br />
para concluirmos enfocando, nesse tocante, a respeito do respectivo e adequado processo<br />
legislativo.<br />
Por se tratar de um texto de caráter técnico e não acadêmico, nos abstivemos de<br />
efetuar digressões doutrinárias ou abordar o referencial teórico visando a demonstrar o<br />
estado da arte em relação ao tema, procedimentos comuns ao trabalho acadêmico. Parti-<br />
mos do pressuposto de que os destinatários desta Nota possuem os conhecimentos básicos<br />
para a compreensão dos conceitos, termos e expressões abordados, razão porque há raras<br />
citações. Oferecemos, contudo, um referencial bibliográfico básico, mas suficientemente<br />
extenso e específico, ao final, incluindo as obras e textos por nós compulsados, bem como<br />
os reciprocamente indicados pelos respectivos autores, dando preferência à produção em<br />
vernáculo. Por fim esclareceremos, em notas de rodapé, alguns aspectos típicos a fim de<br />
auxiliar os menos afeitos à matéria.<br />
2 MODELOS DE POLÍCIA<br />
Os policiólogos são unânimes em afirmar que não existe um modelo ideal de polí-<br />
cia. Os modelos existentes variam consideravelmente, podendo-se admitir como macro-<br />
modelos os de tipo europeu continental e o anglo-saxônico, tendo como países de origem a<br />
4
Claudionor Rocha 5<br />
França e a Grã-Bretanha, respectivamente (Monet). O modelo francês, mais centralizado, e<br />
o britânico, mais descentralizado, teriam inspirado os países de cultura similar, a latina,<br />
fundada no direito romano-germânico, por um lado e a do common law, com suporte no<br />
direito anglo-saxão (direito consuetudinário). Da vertente de origem latina teriam surgido<br />
os sistemas policiais da maioria dos países latino-americanos, incluindo o Brasil.<br />
Os sistemas centralizados pressupõem uma instituição policial única, com circuns-<br />
crição sobre todo o território do país. Já os descentralizados implicam parcelas de autorida-<br />
de compartilha<strong>das</strong> por vários órgãos policiais mantidos pelos entes subnacionais, donde<br />
serem mais comuns nos países de estrutura federal. O mais comum, porém, são os sistemas<br />
mistos, em que há uma polícia de caráter nacional 1 convivendo com outras, de abrangência<br />
regional, no âmbito dos estados ou províncias, ou de competência local, nos municípios,<br />
condados, comunas e distritos.<br />
Outras polícias, ainda que seguindo modelos originários daqueles mais comuns,<br />
adotam estruturas e modos de atuação fundados, ainda, em tradições históricas ou cultu-<br />
rais, como a do Japão e, em menor grau, a do Brasil.<br />
Nesse aspecto é que observamos, em nosso país, a convivência de uma polícia de<br />
caráter federal 2 , ao lado de outras, de atuação estadual 3 , não havendo polícias municipais,<br />
como há, por exemplo, na Bélgica, nos Estados Unidos e na Holanda.<br />
Por outra óptica, independente do modelo, existem as modalidades de policiamen-<br />
to. O estudo comparado da organização policial revela que as polícias modernas realizam<br />
três atividades básicas (Bayley, 1975), como bem lembrou Medeiros 4 : (a) a investigação cri-<br />
minal; (b) o uso da força para<strong>militar</strong>, nos casos considerados necessários (distúrbios civis,<br />
repressão a movimentos sociais etc.) contra membros da própria comunidade política; e (c)<br />
o patrulhamento uniformizado dos espaços públicos, com a prerrogativa de uso da força.<br />
Dominique Monjardet, ao abordar a tipologia <strong>das</strong> polícias, descreve três modalida-<br />
des de atuação policial, segundo o enfoque se dê na polícia de ordem (política), polícia cri-<br />
minal (repressiva) ou polícia urbana (preventiva, comunitária, de proximidade). Os clientes<br />
dessas vertentes policiais seriam, respectivamente, o Estado, o criminoso e o cidadão. Dis-<br />
1 Utilizamos o termo “nacional” como sinônimo de extensão territorial equivalente ao país, pois tais instituições<br />
policiais podem tanto ter o caráter federal, nos países que adotam essa forma de Estado, como Alemanha,<br />
Estados Unidos ou Brasil; serem uma polícia estatal (no sentido da Polizia di Stato, da Itália); ou nacional<br />
propriamente dito, em países plurinacionais, em que convivem órgãos policiais da nação mais populosa do<br />
país, ao lado de outras, como na Espanha, com uma polícia presente na maior parte do território e outras nas<br />
comunidades autônomas da Catalunha e Países Bascos, por exemplo.<br />
2 Na verdade, temos o Departamento de Polícia Federal (DPF), o Departamento de Polícia Rodoviária Federal<br />
(DPRF) e a polícia ferroviária federal, esta também com assento constitucional, mas ainda não estruturada.<br />
3 No Brasil há uma polícia <strong>civil</strong> e uma polícia <strong>militar</strong> em cada Estado e no Distrito Federal, num total de 54<br />
organismos policiais de caráter regional.<br />
4 MEDEIROS, Mateus Afonso. Aspectos institucionais da unificação <strong>das</strong> polícias no Brasil.<br />
5
Claudionor Rocha 6<br />
corre o autor que “quanto mais dividida a sociedade, quanto mais conflituoso seu pluralis-<br />
mo, tantos maiores são as possibilidades de a polícia de repressão (polícia criminal) ser re-<br />
lativamente a mais desenvolvida”, complementando que “quanto mais consensual e des-<br />
centralizado o poder, mais os controles sociais internos são poderosos e limitam a delin-<br />
quência organizada, mais o aparato policial é limitado à polícia de segurança pública, vigia<br />
urbana”. Ao classificar os modelos de policiamento conforme a prevalência de uma ou<br />
outra modalidade, Monjardet aponta, dentre oito modelos, o que reputamos mais adequado<br />
à atuação cidadã, em que se “associa polícia local forte e polícia judiciária forte com um<br />
aparato policial de Estado relativamente fraco”. 5<br />
A polícia política é o que Reiner designa como “alto-policiamento”, enquanto o<br />
“baixo-policiamento” seria a voltada para a aplicação da lei e a manutenção da ordem. 6 A<br />
interpenetração dos modelos e <strong>das</strong> modalidades de policiamento é que dão o traço local de<br />
cada polícia.<br />
Outra característica marcante <strong>das</strong> polícias, que às vezes tornam seu modo de atua-<br />
ção diferenciado, é o fato de serem instituições de caráter <strong>civil</strong> ou <strong>militar</strong>. Esta é, aliás, uma<br />
<strong>das</strong> argumentações daqueles que propugnam por uma des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es<br />
no Brasil, sob a alegação de que noutros países as polícias têm feitio <strong>civil</strong>.<br />
Na verdade há várias polícias estrangeiras de cunho <strong>militar</strong>, como a Gendarmerie<br />
francesa (espécie de guarda nacional), a Guardia Civil espanhola, a Arma dei Carabinieri italia-<br />
na, os Carabineros de Chile e outros. 7 Ao lado dessas, porém, quase sempre há uma institui-<br />
ção policial de caráter <strong>civil</strong>, como a Police Nationale, na França e Los Mossos d’Esquadra, na<br />
Espanha (Catalunha).<br />
Na Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, entretanto, as forças policiais têm<br />
caráter <strong>civil</strong>. To<strong>das</strong> as referências a Military Police, por exemplo, remetem às polícias <strong>das</strong><br />
forças arma<strong>das</strong>, como é o caso, no Brasil, da Polícia do Exército (PE), Polícia da Aeronáu-<br />
tica (PA) e órgãos equivalentes da Marinha.<br />
3 A POLÍCIA BRASILEIRA<br />
Para compreendermos as características <strong>das</strong> polícias brasileiras, bem como a origem<br />
da discussão sobre unificação e as razões aponta<strong>das</strong> para tanto, é necessário conhecermos o<br />
5 MONJARDET, Dominique. O que faz a polícia: sociologia da força pública. p. 281 e seguintes.<br />
6 REINER, Robert. A política da polícia. p. 29.<br />
7 Gendarmerie vem de gens d’arme (gente de armas, isto é, <strong>militar</strong>es), sendo que o próprio policial francês dessa<br />
força é conhecido como gendarme. Não obstante o nome, a Guardia Civil tem estrutura <strong>militar</strong>. Assim como<br />
a Arma dei Carabinieri e os Carabineros de Chile, to<strong>das</strong> essas forças são vincula<strong>das</strong> a um ministério <strong>militar</strong>, como<br />
o da Defesa, enquanto as demais forças policiais de caráter <strong>civil</strong> são subordina<strong>das</strong> ao Ministério do Interior ou<br />
equivalente.<br />
6
Claudionor Rocha 7<br />
arcabouço constitucional e legal que as regula. Vejamos, pois, inicialmente, o que diz o<br />
texto constitucional sobre as polícias 8 :<br />
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,<br />
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade <strong>das</strong> pessoas<br />
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:<br />
I - polícia federal;<br />
II - polícia rodoviária federal;<br />
III - polícia ferroviária federal;<br />
IV - polícias civis;<br />
V - polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es.<br />
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em<br />
carreira, destina-se a:<br />
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e<br />
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela<br />
Emenda Constitucional n. 19, de 1998)<br />
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de<br />
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas<br />
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual<br />
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;<br />
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando<br />
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos<br />
nas respectivas áreas de competência;<br />
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;<br />
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação<br />
dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)<br />
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.<br />
§ 2º - A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se,<br />
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo <strong>das</strong> rodovias federais.<br />
§ 3º - A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se,<br />
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo <strong>das</strong> ferrovias federais.<br />
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela<br />
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo<br />
<strong>das</strong> rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de<br />
1998)<br />
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela<br />
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo<br />
<strong>das</strong> ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de<br />
1998)<br />
§ 4º Às polícias civis, dirigi<strong>das</strong> por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada<br />
a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações<br />
penais, exceto as <strong>militar</strong>es.<br />
§ 5º Às polícias <strong>militar</strong>es cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;<br />
aos corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es, além <strong>das</strong> atribuições defini<strong>das</strong> em lei, incumbe<br />
a execução de atividades de defesa <strong>civil</strong>.<br />
§ 6º As polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es, forças auxiliares e reserva<br />
do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores<br />
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.<br />
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis<br />
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.<br />
§ 8º Os Municípios poderão constituir guar<strong>das</strong> municipais destina<strong>das</strong> à proteção de<br />
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.<br />
8 O texto tachado, assim, corresponde à redação original alterada, enquanto o sublinhado não consta do original.<br />
7
Claudionor Rocha 8<br />
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados<br />
neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional<br />
n. 19, de 1998)<br />
Nesta Nota Técnica não abordaremos com maiores detalhes a situação dos bom-<br />
beiros <strong>militar</strong>es, visto realizarem atividades tipicamente de defesa <strong>civil</strong>, as quais, não obs-<br />
tante se subordinarem ao sistema de segurança pública, apenas transversalmente seriam<br />
atingi<strong>das</strong> na hipótese de unificação <strong>das</strong> polícias.<br />
É senso comum que as polícias de nível federal podem se enquadrar no gênero<br />
polícias civis, dado que não são polícias <strong>militar</strong>es, sujeitas a regime próprio em relação aos<br />
servidores em geral. Resta verificar os regimes constitucionais a que estão sujeitos os milita-<br />
res e policiais, tanto para organização e manutenção dos respectivos órgãos, quanto para se<br />
legislar a respeito.<br />
Assim, ao se referir aos servidores <strong>militar</strong>es e policiais da União, dos Estados, do<br />
Distrito Federal e dos Territórios, temos os seguintes regimes constitucionais, com a des-<br />
crição da reserva de iniciação legislativa, se houver:<br />
a) Forças Arma<strong>das</strong> (<strong>militar</strong>es <strong>das</strong> Forças Singulares: Marinha, Exército e Aeronáuti-<br />
ca) – legislação de iniciativa da União e, especificamente, exclusiva 9 do Presidente da Repú-<br />
blica (art. 142; art. 61, § 1º, inciso I e inciso II, alínea f);<br />
b) polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal – legislação<br />
de iniciativa da União e, especificamente, exclusiva do Presidente da República (arts. 144,<br />
§§ 1º, 2º e 3º; art. 22, inciso XXII; art. 61, inciso II, alíneas a e c);<br />
c) polícia <strong>civil</strong> do Distrito Federal – legislação de iniciativa da União e, especifica-<br />
mente, exclusiva do Presidente da República (arts. 144, § 7º; art. 24, inciso XVI c/c art. 21,<br />
inciso XIV; art. 32, § 4º; art. 61, inciso II, alíneas a e c);<br />
d) polícia <strong>militar</strong> e corpo de bombeiros <strong>militar</strong> do Distrito Federal (forças auxiliares)<br />
– legislação de iniciativa da União e, especificamente, exclusiva do Presidente da República<br />
(arts. 144, §§ 5º e 7º; art. 22, inciso XXI c/c art. 21, inciso XIV; art. 32, § 4º; art. 42. § 1º<br />
c/c art. 142, §§ 2º e 3º; art. 61, inciso II, alíneas a e c);<br />
e) polícias civis dos Estados e Territórios – legislação comum, não hierárquica, ca-<br />
bendo à União o estabelecimento de normas gerais (arts. 144, §§ 5º e 7º; art. 22, inciso<br />
XXI; art. 42, § 1º c/c art. 142, §§ 2º e 3º) e aos Estados e Territórios as particulares, além<br />
9 Entendem os constitucionalistas que há uma impropriedade semântica no texto constitucional, pois a iniciativa<br />
privativa é aquela que pode ser delegada, enquanto as enumera<strong>das</strong> no art. 61 seriam de iniciativa exclusiva,<br />
não delegáveis, portanto. O equívoco do legislador constituinte pode ser melhor compreendido pela comparação<br />
com a redação do art. 63, inciso I.<br />
8
Claudionor Rocha 9<br />
da competência concorrente, hierárquica, cabendo à União disciplinar normas gerais (art.<br />
24, inciso XVI e § 1º), e aos Estados e Territórios as normas próprias, de forma plena (art.<br />
144, § 6º; art. 24, § 3º c/c § 4º) ou suplementar (art. 24, § 2º);<br />
f) polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es dos Estados e Territórios (for-<br />
ças auxiliares) – legislação comum, não hierárquica, cabendo à União o estabelecimento de<br />
normas gerais (arts. 144, §§ 5º e 7º; art. 22, inciso XXI; art. 42, § 1º c/c art. 142, §§ 2º e 3º)<br />
e aos Estados e Territórios normas próprias (art. 144, § 6º), além <strong>das</strong> específicas em relação<br />
ao disposto no art. 142, § 3º, inciso X (art. 42, § 1º, in fine).<br />
Entendemos que no exercício da manutenção da ordem pública, no aspecto da se-<br />
gurança pública 10 , a polícia atua em três fases quanto ao crime (prevenção, repressão – ime-<br />
diata e mediata – e execução) e três níveis quanto à persecução criminal (polícia de investi-<br />
gação, polícia judiciária e polícia penal).<br />
Assim, a prevenção pode ser a resultante do patrulhamento ordinário e aquela de-<br />
corrente <strong>das</strong> ações de manutenção da ordem executa<strong>das</strong> pela polícia <strong>militar</strong>, além da pre-<br />
venção geral oriunda da persecução criminal efetuada pela polícia <strong>civil</strong>, no sentido de pos-<br />
sibilitar a responsabilização penal dos infratores.<br />
A repressão imediata é realizada tanto pela polícia <strong>militar</strong>, durante o policiamento,<br />
quando flagra alguém cometendo delito, quanto pela polícia <strong>civil</strong>, quando, desvirtuada-<br />
mente, executa uma espécie de policiamento preventivo a cargo de suas unidades especiais,<br />
como, por exemplo, a Divisão de Operações Especiais (DOE) do Departamento de Ativi-<br />
dades Especiais (Depate) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF); o Grupo Armado de<br />
Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Investigação sobre o Crime<br />
Organizado (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP); e a Coordenadoria de<br />
Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). É co-<br />
mum a confusão entre repressão imediata e prisão dos delinqüentes, que pode se dar du-<br />
rante a investigação realizada pela polícia <strong>civil</strong>. Entretanto, trata-se de consequência da re-<br />
pressão mediata, embora quase sempre é da repressão imediata que resulta prisão ou, ao<br />
menos, detenção da pessoa para condução dos procedimentos legais adequados.<br />
A repressão mediata, como se deduz do parágrafo anterior, consiste na investigação<br />
do evento criminoso, no sentido de apontar a autoria. No mais <strong>das</strong> vezes é conduzida no<br />
bojo de um inquérito policial instaurado, podendo se dar o contrário, ou seja, uma ligeira<br />
investigação, chamada verificação da procedência <strong>das</strong> informações 11 , pode indicar, de<br />
10 No dizer do administrativista Álvaro Lazzarini, citado por Melim Júnior, a ordem pública possui três vertentes:<br />
tranquilidade pública, segurança pública e salubridade pública.<br />
11 Nos termos do art. 5º, § 3º do Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal):<br />
“Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública<br />
9
Claudionor Rocha 10<br />
pronto, o autor da infração penal, decorrendo dela a instauração do inquérito, apenas para<br />
formalização <strong>das</strong> provas e indícios obtidos.<br />
Em geral se admite assentada a noção de que polícia preventiva, ostensiva ou admi-<br />
nistrativa é atribuição da polícia <strong>militar</strong>, enquanto polícia repressiva, velada, investigativa ou<br />
judiciária o é da polícia <strong>civil</strong>.<br />
No aspecto da persecução criminal, investigação é o mesmo que apuração <strong>das</strong> in-<br />
frações penais, competência da polícia <strong>civil</strong> – ressalvada a competência da União –, con-<br />
forme disposto no art. 144, § 4º. Verifica-se, porém, que essa competência, apesar de<br />
abrangente quanto aos tipos de crimes e o universo dos infratores, é residual, na medida em<br />
que a mesma competência cabe, de forma exclusiva, à polícia federal, nos casos expressos<br />
no art. 144, § 1º, inciso I, bem como aos órgãos <strong>militar</strong>es, por competência firmada por<br />
exclusão, nos termos do mencionado § 4º. 12<br />
Já “polícia judiciária” é uma expressão comum de conteúdo semântico parcial que<br />
algumas vezes é usada como sinônimo de polícia <strong>civil</strong> ou polícia repressiva. Aliás, é o nome<br />
da polícia portuguesa encarregada <strong>das</strong> atividades de mesma natureza da polícia <strong>civil</strong> brasilei-<br />
ra. Ocorre que o próprio texto constitucional define a competência da polícia federal e <strong>das</strong><br />
polícias civis para duas atividades principais que são a apuração <strong>das</strong> infrações penais e a<br />
polícia judiciária. Polícia judiciária é, portanto, no dizer de vários doutrinadores, a atividade<br />
que a polícia exerce em cumprimento a uma ordem judicial. Temos, como exemplo, o<br />
cumprimento de mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de reintegração de<br />
posse, de interceptação telefônica e outros, bem como requisições diversas oriun<strong>das</strong> dos<br />
órgãos judiciários. No limite, teríamos a execução <strong>das</strong> sentenças judiciais, no sentido de<br />
segregar e custodiar os sentenciados a pena privativa de liberdade.<br />
Nesse último aspecto, fala-se, também, em polícia penal, que seria a constituída<br />
pelos integrantes do sistema prisional – os estabelecimentos penais em sentido lato – isto é,<br />
agentes penitenciários, guar<strong>das</strong> carcerários e outras denominações. No nível federal, porém,<br />
há os agentes penitenciários federais, não integrantes da polícia federal, mas do Departa-<br />
mento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça. No nível estadual, contu-<br />
do, a maioria dos servidores do sistema prisional pertence à polícia <strong>civil</strong>, embora muitos<br />
policiais <strong>militar</strong>es e até bombeiros <strong>militar</strong>es prestem serviço no sistema como se agentes<br />
penitenciários fossem.<br />
poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência <strong>das</strong><br />
informações, mandará instaurar inquérito”. [sem destaque no original]<br />
12 Recorde-se que na competência da União incluem-se, também, os órgãos policiais federais vinculados ao<br />
Poder Legislativo, que são as polícias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, previstas nos arts. 51,<br />
inciso IV e 52, inciso XIII e instituí<strong>das</strong> pelas Resoluções n. 18, de 18 de dezembro de 2003, da Câmara e n.<br />
59, de 5 de dezembro de 2002, do Senado, respectivamente.<br />
10
Claudionor Rocha 11<br />
3.1 O ciclo completo<br />
Retomando, pois, o raciocínio inicial quanto aos modelos de polícia, o que diferen-<br />
cia as polícias estrangeiras <strong>das</strong> brasileiras é que aquelas executam o chamado ciclo completo<br />
de polícia, enquanto as polícias estaduais brasileiras possuem competência parcial desse<br />
ciclo, cabendo às <strong>policias</strong> <strong>militar</strong>es o policiamento preventivo e às civis, o repressivo. 13 Isso<br />
significa que, na área de sua competência, um órgão policial estrangeiro começa o ciclo<br />
com a prevenção e, caso não impeça o cometimento do crime, executa a repressão imedia-<br />
ta, prendendo o infrator ou a mediata, investigando e descobrindo de quem se trata e, em<br />
qualquer dos casos, reunindo as provas que permitirão seja ele processado e julgado pelos<br />
seus atos, podendo, afinal, ser condenado e cumprir a pena imposta.<br />
Mas qual seria a consequência da adoção do ciclo completo? Bem, alguns estudio-<br />
sos defendem a tese de que ambas as polícias, <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong>, deveriam executar o ciclo<br />
completo. Poderíamos dizer que essa idéia é uma rematada tolice, mas não vamos nos en-<br />
veredar pelo mesmo caminho de muitos que assim procedem, verberando contra a unifica-<br />
ção <strong>das</strong> polícias como se fosse a mais sacrílega heresia. Tentaremos, ao contrário, demons-<br />
trar onde estariam as dificuldades e vantagens em cada caso.<br />
Quando mencionamos as polícias de outros países, não comentamos a questão da<br />
competência. A competência pode ser, nesses casos, territorial ou material, isto é, ela é de-<br />
limitada quanto a uma área geográfica onde atua o órgão policial, ou, ainda, quanto ao tipo<br />
de crime que deve evitar ou reprimir.<br />
Assim, temos que a Gendarmerie francesa (<strong>militar</strong>) atua nas zonas rurais e cidades<br />
pequenas, enquanto a Police Nationale (<strong>civil</strong>) atua nas zonas urbanas <strong>das</strong> cidades maiores. A<br />
competência é estabelecida em razão do lugar. Atualmente ambas têm atuação nas áreas<br />
periurbanas, o que tem causado certa redução da efetividade (Lévy), circunstância que bem<br />
demonstra a insensatez de haver duas polícias na mesma base territorial com a mesma<br />
competência. Curioso notar que a polícia de feitio <strong>militar</strong> usa farda todo o tempo, enquanto<br />
a polícia de caráter <strong>civil</strong> pode estar à paisana (investigação) ou uniformizada (prevenção).<br />
A polícia dos Estados Unidos, por sua vez, também utiliza o sistema de competên-<br />
cia territorial, mas noutra óptica. Como há legislação penal federal, estaduais e até munici-<br />
pais diversas, a polícia municipal (do condado) tem competência plena na área do municí-<br />
pio. Se o crime cometido extrapola o interesse do município ou envolve várias municipali-<br />
dades, ou, ainda, trata-se de crime estadual apenas, o órgão policial competente é o do Es-<br />
tado. Tratando-se de crime federal ou que afete mais de um Estado, a competência é do<br />
13 Embora se diga que a polícia federal execute o ciclo completo, a fase de prevenção é praticamente inexistente,<br />
salvo a prevenção geral. A polícia rodoviária federal, sim, faz o policiamento preventivo, não tendo,<br />
porém, a competência repressiva mediata.<br />
11
Claudionor Rocha 12<br />
Federal Bureau of Investigation (FBI), do United States Marshals Service (USMS) ou da Drug Enfor-<br />
cement Agency (DEA). A competência pode ser de outras agências especializa<strong>das</strong>, como cor-<br />
reios, receita federal ou alfândega, por exemplo, uma vez que uma característica do sistema<br />
repressivo criminal dos Estados Unidos é a multiplicidade de órgãos e até a dificuldade de<br />
se enquadrá-los como agências policiais ou não, donde a imprecisa noção de somarem en-<br />
tre pouco mais de dez mil a mais de vinte mil.<br />
Essa multiplicidade de órgãos policiais é outro dos argumentos esgrimidos contra a<br />
unificação <strong>das</strong> polícias estaduais no Brasil, no sentido de que a existência de 54 polícias<br />
estaduais não seria empecilho para a atuação, dado o exemplo norte-americano. 14 Mais uma<br />
vez, todavia, o raciocínio é incompleto, pois nos exemplos citados não há sobreposição de<br />
competências. No Brasil, portanto, temos a atuação simultânea de duas ditas “meias-<br />
polícias” (Mariano) num mesmo território, cada uma executando uma fase anticrime. Se<br />
houvesse a extensão do ciclo completo para ambas, seriam duas polícias com competências<br />
simultâneas no mesmo território, a menos que, conforme já proposto pelos oficiais <strong>das</strong><br />
polícias <strong>militar</strong>es, fosse dividido o território entre ambas, ou, ainda, atuando no mesmo<br />
território, tivessem competências materiais distintas.<br />
Aí se avolumariam os problemas de caráter administrativo hoje tidos como dos<br />
mais fortes argumentos favoráveis à unificação, que é a multiplicação de órgãos de direção<br />
ou comando, de assessoramento e de apoio à atividade-fim, além da inexistência da inevitá-<br />
vel economia de escala decorrente da aglutinação de órgãos com o mesmo objetivo oriun-<br />
dos de instituições diversas. 15<br />
Outro problema que se vislumbra seria o acirramento da competição existente<br />
mesmo hoje, quando as competências são estanques ou, o que é pior, a omissão naquelas<br />
situações em que não haveria ganho imediato para a força que primeiro tomasse conheci-<br />
mento do evento ou para seus integrantes em particular.<br />
3.2 Avaliação do trabalho policial<br />
Vamos analisar, agora, a questão da responsabilização pelos resultados (accountability)<br />
<strong>das</strong> polícias brasileiras. As medi<strong>das</strong> comumente utiliza<strong>das</strong> para avaliação do trabalho polici-<br />
al, especialmente a partir da década de 1970 é o tempo de resposta, quanto à polícia pre-<br />
ventiva e a taxa de resolução, no tocante à repressiva (Silva Filho, 2001, p. 1). “Tempo de<br />
resposta” significa o tempo que a polícia gasta desde o acionamento até a chegada ao local<br />
14 Concordamos em parte com essa assertiva, na medida em que defendemos a existência de polícias municipais<br />
nas maiores cidades, o que, certamente aumentaria consideravelmente o número de órgãos policiais, tema<br />
que retomaremos adiante.<br />
15 Vide a análise feita a esse respeito na excelente monografia de Melim Júnior (p. 166 e seguintes).<br />
12
Claudionor Rocha 13<br />
do evento, sendo considerado ótimo o tempo de dez minutos. 16 A “taxa de resolução” (ou<br />
taxa de elucidação, ou taxa de esclarecimento, ou índices de casos resolvidos, clearance rate<br />
em inglês) refere-se ao percentual de casos resolvidos, isto é, nos quais se aponta a autoria<br />
da infração penal, para a subsequente atuação do Poder Judiciário. No Brasil considera-se<br />
que tais índices estão abaixo da média mundial, não havendo estudos ou estatísticas confiá-<br />
veis, a nível nacional, para uma efetiva comparação.<br />
O tempo de resposta está ligado a um conceito considerado ultrapassado, que é o<br />
da conduta reativa da polícia, isto é, a atuação mediante demanda, ficando as guarnições <strong>das</strong><br />
viaturas a postos, à disposição da população para o atendimento da ocorrência. Hoje se<br />
propõe um modelo de polícia proativa, em que o policiamento de proximidade aliado a<br />
uma boa gestão do sistema de informações e <strong>das</strong> técnicas de georreferenciamento ou geo-<br />
processamento <strong>das</strong> áreas de maior incidência criminal (manchas criminais) e da análise cri-<br />
minal permitiria melhor efetividade na pacificação social, na medida em que tal procedi-<br />
mento consistiria na essência da prevenção, isto é, evitar o cometimento de crimes. Quan-<br />
do se torna reativa, a polícia dita preventiva torna-se uma polícia de repressão imediata.<br />
Aliás, o equívoco é generalizado nesse aspecto, ao se perceber que a polícia preventiva<br />
conta seu sucesso pelo número de prisões que efetua. 17<br />
O equívoco se institucionaliza quando são criados os Centros Integrados de Aten-<br />
dimento e Despacho (Ciad), centrais de operação via rádio e telefone, onde servidores civis<br />
e <strong>militar</strong>es <strong>das</strong> diversas forças (polícia <strong>civil</strong>, polícia <strong>militar</strong>, corpo de bombeiros, defesa <strong>civil</strong>)<br />
atuam em conjunto no atendimento às chama<strong>das</strong>, despachando as viaturas da corporação<br />
interessada para o local do evento.<br />
Verificou-se no último quarto do século passado um rápido aperfeiçoamento <strong>das</strong><br />
instituições policiais do mundo todo, seja no aspecto do aparelhamento, com armamento<br />
mais eficiente, equipamentos mais modernos e, especialmente inserção no mundo tecnoló-<br />
gico e da informática. Aumentaram-se os efetivos, alocaram-se mais recursos, adotaram-se<br />
novos métodos e doutrinas como o policiamento motorizado, o policiamento comunitário<br />
(de proximidade), o policiamento orientado para problemas e outras inovações. Ora tendi-<br />
am a reforçar o conceito de lei e ordem (law & order), seguindo proposições do tipo “teoria<br />
<strong>das</strong> janelas quebra<strong>das</strong>” e “tolerância zero”, ora buscavam a volta às origens, no sistema de<br />
autopoliciamento <strong>das</strong> comunidades. Todos esses avanços em termos de recursos, assim<br />
16 Segundo Rondon Filho (p. 65), os oficiais da PM avaliam que o tempo resposta é prejudicado pela demanda<br />
reprimida, isto é, as ocorrências não comunica<strong>das</strong> à polícia ou que não são atendi<strong>das</strong>.<br />
17 Em nossa atividade profissional pretérita, como delegado de polícia da PCDF, conhecemos um sargento da<br />
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por sinal muito eficiente no seu mister, que se vangloriava de<br />
contar o número de prisões efetua<strong>das</strong>, no sentido de registrar seu feito no Guiness Book of the Records, sendo<br />
ponto de honra executar pela menos uma prisão em cada plantão.<br />
13
Claudionor Rocha 14<br />
como as tentativas de reforma dos métodos, entretanto, não foram suficientes para frear a<br />
criminalidade crescente.<br />
De uma forma mais tímida, as polícias brasileiras seguem a corrente, quase sempre<br />
com alguma década de atraso, havendo, no período pós-Constituição de 1988, um certo<br />
clamor para o respeito aos direitos humanos, a atuação como uma polícia cidadã, a insis-<br />
tência no uso progressivo da força e outras medi<strong>das</strong> paliativas com vistas a uma integração<br />
de forças historicamente avessas entre si, como a instituição dos Centros Integrados de<br />
Operações Policiais (Ciop), Centros Integrados de Operações de Segurança (Ciops), Cen-<br />
tros Integrados de Operações de Defesa Civil (Ciodes) etc., os quais, a exemplo dos Ciad,<br />
pretendiam conferir mais efetividade ao trabalho policial, aproximando as guarnições dos<br />
órgãos entre si, num mesmo prédio.<br />
Os resultados foram pífios, assim como aqueles voltados para a criação dos Con-<br />
selhos Comunitários de Segurança, nos níveis estaduais e municipais (Lyra, 2009). A justifi-<br />
cativa, quase sempre dissimulada pelo desinteresse <strong>das</strong> corporações policiais envolvi<strong>das</strong>,<br />
inclusive no sentido de estimular a participação da sociedade, é de que não se pode unir<br />
“água e azeite”, não vão se misturar. A perspectiva de controle <strong>das</strong> atividades policiais pela<br />
comunidade é um temor nem sempre disfarçado pelos seus dirigentes. E, assim, durante<br />
essas marchas e contra-marchas, não se descobre a solução para a insegurança pública.<br />
Quanto à taxa de resolução, na verdade ela é baixa em todo o mundo. Eventuais<br />
sucessos podem ser creditados ao trabalho de um segmento especializado em certos crimes,<br />
a um esforço concentrado de determinada equipe, à adoção de algum método novo de in-<br />
vestigação que logo é posto à prova diante da histórica inventividade dos criminosos e,<br />
assim por diante. Estudos menos criteriosos chegam ao ponto de incluir no cálculo da taxa<br />
de resolução as chama<strong>das</strong> “cifras negras” (ou obscuras), que são os casos não levados ao<br />
conhecimento da polícia, também conheci<strong>das</strong> como “subnotificações”. Como não são co-<br />
nhecidos, dificilmente poderiam ser computados, salvo estimativa muito imprecisa com<br />
base em outros dados, como falecimentos, bens recuperados, atendimentos hospitalares<br />
etc.<br />
Um exemplo comum da dificuldade de resolução é no caso do crime de furto, do<br />
qual não haja indícios iniciais. Se não aparecer o autor confessando o crime ou alguma tes-<br />
temunha até então ignorada que o tenha presenciado ou, ainda, não for recuperado o ob-<br />
jeto na posse do autor ou com alguém que possa indicá-lo, por retrospecção, não há polícia<br />
no mundo que resolva o caso.<br />
Uma avaliação do trabalho policial, portanto, que leve em conta o total de casos<br />
registrados (e daí, resolvidos ou não), bem como a quantidade de pessoas presas passa a ser<br />
14
Claudionor Rocha 15<br />
muito imprecisa. Se esses números refletem o nível de criminalidade, para simular uma<br />
baixa taxa de criminalidade bastaria mascará-los, isto é, deixar de prender, deixar de regis-<br />
trar ocorrências, deixar de instaurar inquéritos etc. 18<br />
Então, o modelo atual de seccionamento do ciclo policial faz com que uma hipoté-<br />
tica avaliação nos moldes apontados leve ao conflito entre as duas forças, que poderia ser<br />
minimizado no caso de unificação. Imaginemos que a polícia <strong>militar</strong> fosse avaliada pela<br />
redução dos índices de criminalidade, isto é, o reconhecimento da efetividade da preven-<br />
ção: onde há uma prevenção efetiva, cai o número de crimes. Bastaria fazer “vista grossa”<br />
durante a prevenção e não executar a repressão imediata para se reduzir os casos levados à<br />
delegacia pela polícia <strong>militar</strong>. Ainda que as próprias vítimas e testemunhas o fizessem, há<br />
um grande percentual delas que não teriam interesse em levar o caso a conhecimento poli-<br />
cial, por descrença no trabalho de recuperação do bem e responsabilização do autor do<br />
crime, por exemplo. Tais casos passariam a integrar as cifras negras, com reflexo na irreal<br />
redução da taxa de criminalidade.<br />
Da mesma forma, para evitar um percentual baixo de resolução, a polícia <strong>civil</strong> po-<br />
deria simplesmente não registrar casos de mais difícil apuração ou não instaurar os corres-<br />
pondentes inquéritos, de forma a incrementar os referidos índices.<br />
Numa polícia única, ainda que se utilizassem as duas formas de avaliação (redução<br />
dos crimes e taxa de resolução), não haveria competição, uma vez que os crimes ocorridos<br />
(e, por conseguinte, registrados) nada mais seriam que a natural consequência da parcela de<br />
potenciais crimes não evitados pela prevenção.<br />
4 UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS<br />
A ideia de unificação <strong>das</strong> polícias civis e <strong>militar</strong>es do Brasil encontra defensores<br />
ardorosos e outro tanto de contestadores. Se de um lado se aposta em economia de recur-<br />
sos e uma polícia mais cidadã, do outro se alega que tão simples medida, se considerada<br />
como hipótese, mas tão complexa na prática, não alterará e, pior que isso, tumultuará ainda<br />
mais os problemas da segurança pública. Veremos, agora, dentre outras, algumas <strong>das</strong> vanta-<br />
gens e desvantagens alega<strong>das</strong> por ambas as partes.<br />
4.1 Vantagens da unificação<br />
tes:<br />
Apontam-se como vantagens da unificação <strong>das</strong> polícias civis e <strong>militar</strong>es, as seguin-<br />
18 Ressalte-se que os eventos criminosos são conhecidos mediante a informação <strong>das</strong> vítimas ou testemunhas<br />
(cognição indireta, mediata ou postulatória) ou durante a atuação (preventiva ou repressiva) dos próprios<br />
policiais (cognição direta, imediata ou não-postulatória).<br />
15
Claudionor Rocha 16<br />
a) Redução dos custos de gestão<br />
A manutenção da estrutura atualmente duplicada de vários segmentos <strong>das</strong> polícias<br />
<strong>civil</strong> e <strong>militar</strong>, especialmente na atividade-meio, onera o erário, além de não permitir eco-<br />
nomia de escala. Mesmo na atividade-fim, quando percebemos a existência de frações si-<br />
milares, em geral superpondo competências, a economia de escala permitiria otimizar os<br />
efetivos e alocar considerável quantidade de policiais para a atividade primordial da polícia,<br />
que é a prevenção.<br />
res<br />
b) Des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es e dos corpos de bombeiros milita-<br />
A estrutura <strong>militar</strong> impõe certa morosidade nas decisões, dada a rígida hierarquia, a<br />
multiplicidade de cargos e o modelo dotado de pouca flexibilidade inerente às forças arma-<br />
<strong>das</strong>. Pela mesma razão não há justificativa para a manutenção da estrutura <strong>militar</strong> dos cor-<br />
pos de bombeiros. Pode-se manter a estética <strong>militar</strong>, inclusive adotando-se a taxionomia de<br />
seus cargos, como propôs Melim Júnior (p. 255), até como forma de evitar a traumatização<br />
da mudança e a perda <strong>das</strong> referências conti<strong>das</strong> nos arquétipos <strong>militar</strong>es. 19 Mesmo a multi-<br />
plicidade de cargos poderia ser paulatinamente reduzida, nos moldes da proposta do autor<br />
mencionado. Já dizer que a des<strong>militar</strong>ização acaba com os pilares da instituição, que são a<br />
hierarquia e a disciplina é um contrassenso, diante da realidade notória de que todos os<br />
órgãos públicos e mesmo empresas e entidades de natureza privada são funda<strong>das</strong> na hierar-<br />
quia e na disciplina. Concordamos que as polícias civis são aparentemente mais indiscipli-<br />
na<strong>das</strong> que as <strong>militar</strong>es. Entretanto, a adoção da estética <strong>militar</strong>, não da estrutura (Mariano,<br />
2002), aliada a outras características que podem ser estendi<strong>das</strong> a todos os policiais – que<br />
abordaremos adiante – podem dar a justa medida do necessário e suficiente grau de rigidez<br />
hierárquica e disciplinar.<br />
Exército<br />
c) Desvinculação <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es, do<br />
A destinação <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es e bombeiros <strong>militar</strong>es como forças auxiliares e<br />
reserva do Exército é uma falácia, imposta desde a Constituição outorgada por Vargas em<br />
1934. Na verdade, o Exército que é reserva <strong>das</strong> polícias. Não se trata, aqui, de desmerecer a<br />
força terrestre de defesa. Exemplifiquemos: num caso de guerra as forças arma<strong>das</strong> vão para<br />
o combate, seja em terras estranhas ou no próprio país. Enquanto isso, as forças policiais<br />
permanecem no território nacional, garantindo a tranquilidade pública. Conforme haja<br />
baixas ou necessidade de aumento do efetivo, convocam-se os reservistas (que não são os<br />
19 Um exemplo do uso <strong>das</strong> denominações dos cargos de natureza <strong>militar</strong> por órgãos de natureza <strong>civil</strong> encontra-se<br />
nos Estados Unidos, onde as polícias têm três cargos básicos: capitão, tenente e sargento.<br />
16
Claudionor Rocha 17<br />
<strong>militar</strong>es estaduais), para serem treinados e mandados para o front. A defesa do território<br />
deve ser garantida, ainda, pelas forças arma<strong>das</strong>, sob pena de se afetar o policiamento numa<br />
situação evidentemente mais gravosa que o normal, diante da insegurança e temor<br />
generalizado da população frente a uma provável retaliação do inimigo. A contribuição dos<br />
<strong>militar</strong>es estaduais na defesa do território é prosseguir na execução de suas atribuições de<br />
defesa interna e defesa <strong>civil</strong>. Se o teatro de operações se situar no país, o raciocínio é o<br />
mesmo: as forças arma<strong>das</strong> garantem a defesa do território, seja impedindo sua conquista,<br />
seja retomando áreas invadi<strong>das</strong>. Enquanto isso, cabe às forças policiais manter a segurança<br />
pública, no sentido de preservar a ordem interna, prevenindo e impedindo o<br />
recrudescimento da criminalidade, os saques, as vinganças particulares, todos facilitados<br />
pelo caos da guerra, além de adotar as medi<strong>das</strong> de defesa <strong>civil</strong> ordinárias e as decorrentes<br />
dos combates. O mesmo se pode dizer da atuação <strong>das</strong> polícias durante os eventuais estados<br />
de exceção (estado de defesa ou estado de sítio). Assim, seja na hipótese de convocação<br />
durante os estados de exceção, seja na de mobilização, no caso de guerra, o esforço <strong>das</strong><br />
forças <strong>militar</strong>es estaduais continua voltado para assuntos não bélicos. A convocação e a<br />
mobilização pode ser feita sem que se considerem as “forças auxiliares” reservas do<br />
Exército, bastando tal previsão no texto constitucional. Tanto é coerente essa lógica, que o<br />
próprio texto constitucional atribui competência às forças arma<strong>das</strong> para agir em defesa da<br />
lei e da ordem, por iniciativa dos poderes constitucionais (art. 142, in fine). Sabemos, de<br />
antemão, que essa atuação <strong>das</strong> forças arma<strong>das</strong> só se daria diante do colapso <strong>das</strong> forças<br />
policiais estaduais para cumprir seu mister ou nas hipóteses de intervenção (art. 34). Nesse<br />
contexto, como providência adotada pelo Governo Federal, no âmbito da segurança<br />
pública, está a criação, no Comando do Exército, da 11ª Brigada de Infantaria Leve (11ª<br />
Bda Inf L), em Campinas (SP), por transformação da 11ª Brigada de Infantaria Blindada,<br />
cujas atribuições foram transferi<strong>das</strong> para o Comando Militar do Sul (Paraná, Santa Catarina<br />
e Rio Grande do Sul). 20 As unidades da 11ª Bda Inf L estão sedia<strong>das</strong> nas cidades paulistas<br />
de Santos, Campinas, Lins e Pirassununga, sendo-lhe atribuída a missão complementar de<br />
garantia da lei e da ordem. 21 Noutro contexto, passou o tempo em que havia a necessidade<br />
de controle dos efetivos e meios para evitar uma superpolícia, como foi a paulista, nos idos<br />
de 1960, quando dispunha de tanques, aviação e artilharia antiaérea. A estabilidade<br />
democrática do país não se compadece mais com tais temores, mesmo porque o controle<br />
de equipamento e material de natureza controlada pode ser feito por disposição legal. 22<br />
20 Decreto n. 3.897, de 24 de Agosto de 2001, que “fixa as diretrizes para o emprego <strong>das</strong> Forças Arma<strong>das</strong> na<br />
garantia da lei e da ordem, e dá outras providências”.<br />
21 Brigada GLO (Garantia da Lei e da Ordem): Como e porquê a Força Terrestre está se preparando para<br />
cumprir mais uma tarefa. Revista Defesanet, 19 set. 2005, ed. 104. Disponível em<br />
. Acessado em 23/11/2005.<br />
22 Nos termos do disposto no Decreto n. 3.665, de 20 de novembro de 2000, que “dá nova redação ao Regulamento<br />
para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105)”, conforme o disposto na Lei n. 10.826, de<br />
22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), que “dispõe sobre registro, posse e comercialização<br />
17
Claudionor Rocha 18<br />
d) Estabelecimento do ciclo completo de polícia<br />
O ciclo completo de polícia, sonho de consumo dos policiais <strong>militar</strong>es, já que as<br />
polícias civis de certa forma o fazem, seria automaticamente adotado. Certo que o ciclo<br />
completo não significa que o mesmo policial que efetuava a prevenção vá executar a prisão<br />
ou investigar o evento, formalizar os atos procedimentais e dar por finda a persecução cri-<br />
minal no âmbito policial. Pode-se admitir circunstâncias especiais em que isso ocorresse,<br />
como acontece com os gendarmes franceses, quando a guarnição da polícia em determinada<br />
localidade é muito pequena. 23 A completude do ciclo refere-se ao organismo policial, sendo<br />
que as várias fases podem ser executa<strong>das</strong> por policiais diferentes, mas dentro de uma mes-<br />
ma lógica de continuidade, pois que realizada no âmbito do mesmo órgão, e não de forma<br />
estanque como atualmente são conduzi<strong>das</strong> tais fases.<br />
e) Fim da sobreposição de competências<br />
Estando as várias fases e aspectos do trabalho policial vinculados ao mesmo órgão,<br />
não haveria a sobreposição de competências comum nos dias de hoje, quando policiais<br />
civis fazem prevenção, em viaturas caracteriza<strong>das</strong>, uniformizados, como se fossem polícia<br />
de choque, ao mesmo tempo em que os policiais estaduais do serviço reservado <strong>das</strong> polícias<br />
<strong>militar</strong>es (PM/2 ou P/2) e dos corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es (BM/2 ou B/2) investigam<br />
crimes de competência da polícia <strong>civil</strong> a pretexto de exercerem as atividades relaciona<strong>das</strong> às<br />
informações.<br />
f) Atenuação do rigor dos regulamentos disciplinares <strong>militar</strong>es<br />
Os integrantes da base hierárquica <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es e dos corpos de bombeiros<br />
<strong>militar</strong>es são os mais entusiasmados com a unificação, tendo como discurso frequente a<br />
alteração do rigoroso regime disciplinar. Oriundo do Regulamento Disciplinar do Exército<br />
(RDE) 24 , tal regime, em algumas corporações, é a aplicação do próprio RDE. Assim, chegar<br />
atrasado, não engraxar o coturno ou não prestar continência, pode levar um soldado a ficar<br />
preso no quartel por vários dias. Se ele mata um cidadão, mesmo por engano, mas a título<br />
de exercer sua missão de “combater o inimigo”, pode até ser absolvido... Esse paradoxo<br />
demonstra a dificuldade de se alterar a cultura bélica <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es, tornando-as<br />
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências”<br />
(arts. 23 e 27) e o Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, que “regulamenta a Lei n. 10.826 (...)”<br />
(art. 2º, § 1º, inciso I, alínea b).<br />
23 Antes que se diga serem os gendarmes <strong>militar</strong>es e, portanto, que a polícia <strong>militar</strong> estaria preparada para o ciclo<br />
completo, adiante-se que a ação referida é facilitada pela circunstância de atuação na área rural, onde os laços<br />
comunitários são mais estreitos, bem como pela obrigação de o gendarme residir, com sua família, na área de<br />
atuação (Lévy).<br />
24 Decreto n. 4.346, de 26 de agosto de 2002, que “aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e dá<br />
outras providências”.<br />
18
Claudionor Rocha 19<br />
agências de proteção ao cidadão. Não por acaso, o ex-Governador do Rio Grande do Sul,<br />
José Paulo Bisol, alterou o regulamento disciplinar da Brigada Militar, equivalente naquele<br />
Estado à polícia <strong>militar</strong>, trazendo o rigor disciplinar a ser aplicado, a patamares mais condi-<br />
zentes com a atividade policial. No mesmo sentido caminha a polícia <strong>militar</strong> do Rio de Ja-<br />
neiro, para extinção da prisão administrativa.<br />
g) Estabelecimento de isonomia de remuneração<br />
Não é incomum haver diferenças substanciais de remuneração entre policiais milita-<br />
res e policiais civis nas várias Unidades Federativas, quase sempre em prejuízo daqueles.<br />
Naturalmente uma causa dessa diferença é a multiplicidade de cargos na polícia <strong>militar</strong>,<br />
com níveis salariais diferentes, enquanto na polícia <strong>civil</strong>, ainda que haja até mais cargos em<br />
algumas corporações, praticamente se resumem a três ou dois níveis de remuneração. Nes-<br />
se caso, mesmo que haja coincidência de remuneração entre os cargos do topo da carreira<br />
hierárquica de ambas as polícias, o menor número de níveis salariais na polícia <strong>civil</strong>, às ve-<br />
zes apenas dois, faz com que a remuneração do cargo de menor hierarquia se aproxime do<br />
de maior hierarquia, fenômeno de mais difícil ocorrência na polícia <strong>militar</strong>. Esse padrão,<br />
comum nas polícias civis, segue o modelo que vem sendo adotado na Administração Públi-<br />
ca, de haver três níveis hierárquicos, isto é, analistas, técnicos e auxiliares, ressalvados, evi-<br />
dentemente, os referentes a funções de confiança do topo da organização. A isonomia de<br />
remuneração, em sentido lato, de paridade ou similitude, cumpriria desiderato constitucio-<br />
nal de estabelecimento da amplitude salarial, nos termos do art. 39, § 5º.<br />
4.2 Resistências à unificação<br />
As resistências à unificação <strong>das</strong> polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong> quase sempre se baseiam em<br />
argumentos corporativistas, no sentido de defender prerrogativas e privilégios de uma ou<br />
de outra corporação, com maior ênfase entre os policiais <strong>militar</strong>es de alta patente.<br />
a) Tradição<br />
Um dos argumentos mais comumente brandidos é o da tradição, já que tanto uma<br />
como outra polícia é centenária ou bicentenária, não havendo razão para se alterar algo que<br />
“vem funcionando bem” há tanto tempo. O que fazer com Tiradentes, o patrono da PM?<br />
Ora, Tiradentes é o patrono <strong>das</strong> polícias, continuaria sendo e, além de tudo, é herói<br />
nacional, não será esquecido. A rejeição à mudança é característica da cultura policial, mas<br />
lembremo-nos que desde a criação <strong>das</strong> primeiras corporações policiais, a maioria delas já<br />
mudou a estrutura, a denominação, a sede e até as competências. Donde não seria outra<br />
mudança que causaria perda de referência, de efetividade e de prestígio.<br />
b) As atuais polícias civis e <strong>militar</strong>es passariam a ser meros departamentos<br />
19
Claudionor Rocha 20<br />
Muito pelo contrário, passariam a ser uma só polícia. Hoje são praticamente<br />
departamentos distintos, competindo por verbas, influência política, visibilidade na<br />
imprensa e reconhecimento da sociedade. Apesar de os comandantes-gerais <strong>das</strong> polícias<br />
<strong>militar</strong>es e os diretores-gerais 25 <strong>das</strong> polícias civis terem, às vezes, status de secretários de<br />
Estado, quase sempre estão subordinados ao Secretário de Segurança Pública ou pasta<br />
equivalente. A situação é tão constrangedora que geralmente o titular dessa pasta é um<br />
general da reserva do Exército, um membro do Ministério Público, um jurista ou um<br />
delegado de polícia federal, numa clara acomodação do governador diante da incômoda<br />
situação que criaria se nomeasse um coronel da polícia <strong>militar</strong> ou um delegado da polícia<br />
<strong>civil</strong> para a pasta. As próprias polícias federais são departamentos do Ministério da Justiça<br />
(Departamento de Polícia Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal), o que<br />
não lhes retira o caráter de corporações exemplares em suas atividades. Haveria, talvez,<br />
departamentos no âmbito de uma polícia estadual, assim como há no âmbito <strong>das</strong> atuais<br />
polícias civis e <strong>militar</strong>es. Não seriam, porém, com a divisão metodológica atual, preventiva<br />
e repressiva, puramente. Poderíamos ter um departamento de vigilância (prevenção), outro<br />
criminal (ou investigativo), um de repressão imediata (que poderia ser o mesmo de polícia<br />
judiciária e de intervenção tática), outro de informações, outro, ainda, de custódia e assim<br />
por diante.<br />
c) A polícia vai se transformar num bando de indisciplinados<br />
A suposta indisciplina dos policiais civis, que contaminaria os integrantes da polícia<br />
única oriundos da polícia <strong>militar</strong>, é decorrente de menor rigidez de suas normas<br />
disciplinares e à própria característica de maior liberdade de atuação que possuem. Ao<br />
contrário, os policiais <strong>militar</strong>es, com uma maior taxa de enquadramento hierárquico 26 ficam<br />
muito mais sujeitos à supervisão direta, especialmente a de primeira linha, isto é, na base.<br />
Outro aspecto que supostamente indicaria indisciplina é o fato de os policiais civis usarem<br />
roupas comuns (à paisana) durante as investigações, geralmente tendo de se confundir com<br />
o meio por meio da indumentária ou aparência, donde o cabelo grande, a barba por fazer e<br />
outras demonstrações de certo “desleixo” voluntário serem considerados indícios de<br />
indisciplina. Entretanto, a união de forças de duas corregedorias e duas ouvidorias em<br />
apenas um órgão de cada, vincula<strong>das</strong> a uma só polícia, por exemplo, pode ser o freio a ser<br />
imposto aos verdadeiros casos de indisciplina.<br />
25 Em alguns Estados a função é chamada “delegado-geral” ou “chefe de polícia”.<br />
26 Taxa de enquadramento hierárquico (TEH) é a razão entre o número de pessoas que conduz um grupo de<br />
subordinados e o número destes, comumente utilizando-se o denominador 10 e considerando-se ótima a<br />
relação até 2/10 ou 1/5 = 0,2. Um valor abaixo disso é considerado subenquadramento (exemplo: 1/10 =<br />
0,1). Vide Monet, p. 110. A TEH pode ser proporcionalmente menor desde que haja menor número de tarefas<br />
a serem executa<strong>das</strong> pelo grupo. Bittel considera razoável a equipe de um supervisor para cinco a sete subordinados.<br />
20
Claudionor Rocha 21<br />
4.3 Desvantagens da unificação<br />
Diferentemente <strong>das</strong> resistências, as desvantagens (?) da unificação <strong>das</strong> polícias civis<br />
e <strong>militar</strong>es são aquelas esgrimi<strong>das</strong>, aparentemente, sem o viés corporativista. Este,<br />
entretanto, exsurge diante de uma análise mais aprofundada.<br />
Eis as supostas desvantagens alega<strong>das</strong> pelos opositores da idéia.<br />
a) O governador não terá uma polícia para agir caso a outra pare<br />
Às polícias, a rigor, não foi deferido o direito de greve, salvo às polícias civis, como<br />
corolário do direito de sindicalização, estendido a todos os servidores públicos civis. A<br />
sindicalização e a greve são veda<strong>das</strong> aos <strong>militar</strong>es (art. 142, § 3º, inciso IV da CF/88). Em<br />
certo sentido até esse direito de greve <strong>das</strong> polícias civis é discutível, por se considerar a sua<br />
função essencial à tranquilidade pública. Na Europa, por exemplo, nenhuma polícia, seja de<br />
caráter <strong>militar</strong> ou <strong>civil</strong>, possui direito de greve e de sindicalização (Monet, p. 151). Há<br />
associações que defendem os direitos dos policiais, como poderia ocorrer no Brasil. Um<br />
problema seria o que fazer com os atuais sindicatos de policiais civis. Nada obsta, porém,<br />
que continuem reconhecidos como tais, proibindo-se, apenas, o direito de greve. Isso<br />
porque, se hoje, ao deflagrar a greve, a polícia <strong>civil</strong> é “substituída” pela polícia <strong>militar</strong>, numa<br />
hipótese de unificação não haveria essa possibilidade. Quando há paralisação <strong>das</strong> polícias<br />
<strong>militar</strong>es, como ocorreu no início deste século em vários Estados, a polícia <strong>civil</strong> é que vai<br />
para as ruas fazer a prevenção. Assim, os governadores querem manter as atuais estruturas<br />
para terem sempre uma força a contrapor-se à outra e, então, todos saírem perdendo,<br />
inclusive a sociedade. Uma polícia única, forte, bem estruturada, bem treinada, com<br />
remuneração digna, não terá razão para fazer greve, salvo motivações político-ideológicas,<br />
que estão fora do contexto desta análise. Entretanto, mesmo nessa hipótese, há sempre a<br />
opinião pública para avaliar o comportamento da polícia, além da possibilidade de<br />
instituição de órgãos de controle, de que são exemplo as “autoridades policiais” britânicas. 27<br />
b) Os policiais <strong>militar</strong>es perderão direitos previdenciários<br />
Atualmente os policiais <strong>militar</strong>es e bombeiros <strong>militar</strong>es se aposentam (são<br />
transferidos para a reserva, na linguagem <strong>militar</strong>) aos trinta anos de serviço, com proventos<br />
integrais, à maneira do regime a que estão submetidos os <strong>militar</strong>es <strong>das</strong> Forças Arma<strong>das</strong>. Os<br />
policiais civis estarão sujeitos ao mesmo regime geral da previdência, inclusive com teto<br />
previdenciário, salvo os que ingressarem no serviço antes da instituição de previdência<br />
complementar, nos termos do § 16 do art. 40 da CF/88, com a redação dada pela Emenda<br />
27 Órgãos colegiados formados por representantes <strong>das</strong> polícias e da sociedade <strong>civil</strong>, estes eleitos, cuja finalidade<br />
é definir os rumos da atuação <strong>das</strong> polícias, tanto no aspecto da alocação e aplicação dos recursos, como<br />
<strong>das</strong> prioridades, métodos e resultados.<br />
21
Claudionor Rocha 22<br />
Constitucional (EC) n. 20, de 15 de dezembro de 1998. Discute-se, ainda, sobre a recepção<br />
pela nova ordem constitucional, da Lei Complementar (LC) n. 51, de 20 de dezembro de<br />
1985, a qual confere aposentadoria voluntária ao “funcionário policial” (não especificando<br />
se federal, <strong>civil</strong> ou <strong>militar</strong>) aos trinta anos de serviço, sendo vinte de exercício em cargo de<br />
natureza estritamente policial. Verifica-se, pois, que o ideal seria a estipulação, em sede<br />
constitucional, desse parâmetro para as polícias em geral.<br />
(promoção)<br />
c) Os policiais <strong>militar</strong>es perderão o direito de ascensão funcional na carreira<br />
Tipicamente de natureza <strong>militar</strong>, a promoção é uma espécie de ascensão funcional<br />
por provimento derivado, vedada ao servidor <strong>civil</strong> em geral, incluídos os policiais civis. Ou<br />
seja, a esses é vedada qualquer forma de provimento derivado. Tanto na polícia <strong>militar</strong><br />
quanto no corpo de bombeiros <strong>militar</strong> e na polícia <strong>civil</strong> o provimento inicial é por concurso<br />
público. No passado era comum o recrutamento para o quadro de oficiais da polícia <strong>militar</strong><br />
dentre os oficiais temporários licenciados <strong>das</strong> Forças Arma<strong>das</strong> e, para o de soldados, dentre<br />
reservistas dessas forças. No âmbito <strong>militar</strong>, contudo, há praticamente duas formas de<br />
entrada por recrutamento exógeno: como soldado, na base, ou como oficial, já no<br />
segmento superior da hierarquia. 28 Por recrutamento endógeno há o acesso ao segmento<br />
dos graduados (cabos e sargentos), mediante seleção interna. 29 Na polícia <strong>civil</strong>, igualmente,<br />
há a entrada pela base (agentes, escrivães e outros cargos de mesmo nível) e pela cúpula<br />
(delegados, legistas e peritos), ambos por recrutamento exógeno. Os recrutamentos laterais<br />
existentes em países europeus, por exemplo, como exceção, com o intuito de oxigenar as<br />
forças pelo ingresso de pessoas mais jovens nos segmentos médios e superiores da<br />
hierarquia, é regra no Brasil. Assim, dificilmente um policial que entra pela base atinge o<br />
topo durante a carreira, exceto se concorrer aos certames de recrutamento exógeno. Uma<br />
<strong>das</strong> formas de restringir ainda mais essa possibilidade é a limitação etária para tais certames,<br />
dificultando o acesso a um policial de meia-idade, por exemplo. Ainda seguindo a<br />
sistemática <strong>das</strong> Forças Arma<strong>das</strong>, de forma mimética, as polícias <strong>militar</strong>es e corpos de<br />
bombeiros <strong>militar</strong>es permitem o acesso de graduados a um quadro separado de oficiais<br />
(Quadro Auxiliar de Oficiais – QAO), criaram um Quadro Complementar de Oficiais<br />
(QCO), de recrutamento exógeno, para cargos da atividade-meio e buscam criar, também,<br />
quadros de oficiais temporários e de soldados temporários. Os integrantes de tais quadros,<br />
porém, não atingem o topo, pois não têm destinação para o comando. Entendemos que há<br />
necessidade dos recrutamentos laterais exógenos, com o fito de oxigenar a média e alta<br />
hierarquia, bem como do estabelecimento dos recrutamentos endógenos, a fim de estimular<br />
28 Recrutamento exógeno é aquele a que todos os cidadãos que satisfaçam os requisitos do edital do concurso<br />
podem se candidatar. Endógeno é o recrutamento a que apenas os integrantes da força concorrem.<br />
29 No âmbito <strong>das</strong> Forças Arma<strong>das</strong>, também o acesso ao cargo (graduação) de sargento é por recrutamento<br />
exógeno, mediante concurso público.<br />
22
Claudionor Rocha 23<br />
a permanência na carreira e a motivação, pela busca contínua da excelência visando a galgar<br />
cargos superiores. Não obstante a vedação constitucional do provimento derivado, com<br />
fulcro na diferenciação <strong>das</strong> atribuições para cada cargo, entendemos que a divisão dos<br />
cargos em classes, categorias, níveis, padrões ou referências tratou-se apenas de<br />
acomodação construída pelo legislador constituinte e assimilada pela legislação<br />
infraconstitucional, sob pena de se tornarem desinteressantes as carreiras do serviço<br />
público. Assim, chame-se de promoção ou de progressão funcional (horizontal ou vertical),<br />
a única diferença diz respeito às atribuições diferentes em relação aos cargos de natureza<br />
<strong>militar</strong>, pois em ambos os casos são levados em conta tempo de serviço, interstício e<br />
avaliação de desempenho. Dizemos isso porque um dos atributos da hierarquia é a<br />
diferenciação salarial, sem a qual a escala hierárquica seria uma mera sucessão de cargos<br />
honoríficos. Assim, aquelas classes, categorias, níveis, padrões ou referências equivalem,<br />
grosso modo, aos postos e graduações <strong>das</strong> forças <strong>militar</strong>es, acessíveis, pelo menos em certa<br />
medida, por ascensão funcional (promoção). Outros institutos <strong>militar</strong>es que auxiliam a<br />
regulação do fluxo de promoções e que poderiam ser adotados são a dependência da<br />
existência de vaga, o limite de permanência no último posto (cargo mais alto da hierarquia),<br />
o limite de idade para permanência na ativa para cada posto ou graduação e a quota<br />
compulsória. 30<br />
d) Os <strong>militar</strong>es perderão seus referenciais simbólicos<br />
Esta possibilidade inexiste se forem manti<strong>das</strong> (ou adapta<strong>das</strong>) as denominações dos<br />
cargos à maneira <strong>militar</strong>, se for previsto o uso de uniformes conforme a atividade, a que<br />
todos estejam sujeitos, incluindo uniforme de gala para solenidades, a exemplo <strong>das</strong> polícias<br />
estrangeiras, a utilização de insígnias e galões, o culto ao civismo, as formaturas, os<br />
cânticos, os brados, os desfiles, ainda que em proporção menor que a atualmente utilizada<br />
pelas polícias <strong>militar</strong>es. Tais manifestações da cultura <strong>militar</strong>, são, aliás, outros<br />
componentes da disciplina, inexistentes no âmbito da polícia <strong>civil</strong>.<br />
e) O que fazer com a cavalaria, os canis, as ban<strong>das</strong> de música<br />
Da mesma forma que as manifestações simbólicas, não há problemas para a<br />
manutenção de tais segmentos. A cavalaria continuará fazendo parte da tropa de choque,<br />
assim como os cães. Mesmo algumas guar<strong>das</strong> municipais possuem atualmente tais<br />
segmentos. Já as ban<strong>das</strong> de música poderiam coexistir com o processo de unificação,<br />
abrilhantando as formaturas, homenagens, comemorações e desfiles, sendo transforma<strong>das</strong><br />
paulatinamente em atividade secundária que poderia ser exercida em tempo parcial pelos<br />
30 A quota compulsória é um complexo mecanismo de compensação de promoções entre os vários postos e<br />
graduações, mediante antecipação da passagem para a reserva, regulado no art. 96 e seguintes da Lei n. 6.880,<br />
de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares, E-1).<br />
23
Claudionor Rocha 24<br />
próprios policiais com dotes musicais.<br />
f) A unificação acabaria com a concorrência<br />
Numa análise acrítica poderia parecer que as polícias já funcionam bem e que a<br />
concorrência entre a polícia <strong>civil</strong> e a polícia <strong>militar</strong> é algo salutar, na medida em que dela<br />
resulta melhor serviço à população. Essa presumida concorrência continuaria propiciando<br />
que uma polícia prendesse os maus policiais da outra, uma vez que a unificação poderia<br />
significar o fim desse fluxo de regulação recíproca, diante do corporativismo passar a existir<br />
numa só grande corporação. Esta idéia nos levaria ao paroxismo de admitir que quanto<br />
mais polícias tivermos, melhor seria, incluindo aquela situação de mais de uma polícia<br />
realizando o ciclo completo. O que há, atualmente, não é concorrência, mas competição,<br />
dada a diferença de atribuições. A pretensa concorrência ocorre quando uma polícia arvora-<br />
se em executar atribuições da outra, não com o intuito de mostrar melhor serviço – já que<br />
não é sua competência –, mas mostrar as falhas da outra corporação. Mas o Estado não<br />
pode se dar ao luxo de manter duas ou mais polícias executando a mesma tarefa, no regime<br />
de concorrência, às custas dos tributos do contribuinte. Além disso, o instituto da<br />
concorrência pressupõe a possibilidade de falência de um dos concorrentes. A se insistir na<br />
idéia de que órgãos governamentais precisam de concorrentes, teríamos que ter dois INSS,<br />
dois Detran, duas Secretarias Municipais de Educação... Quanto aos maus policiais, sempre<br />
existirão, assim como o crime sempre existirá. É necessário, sim, corregedorias e ouvidorias<br />
prepara<strong>das</strong> e independentes, atuantes e efetivas.<br />
4.4 Variáveis que afetariam o processo de unificação<br />
Quando vem o tema da unificação à discussão algumas questões são apresenta<strong>das</strong><br />
como essenciais para o processo ou são aponta<strong>das</strong> como óbices intransponíveis, quando<br />
não esqueci<strong>das</strong> totalmente. Vejamos as mais comuns.<br />
a) Desconstitucionalização <strong>das</strong> polícias<br />
Conforme veremos, algumas proposições apresenta<strong>das</strong> nesta Casa propuseram a<br />
desconstitucionalização <strong>das</strong> polícias. O objetivo seria deixar a cargo dos governadores a<br />
tarefa de moldar a estrutura <strong>das</strong> polícias conforme as necessidades e características<br />
regionais. Entendemos que não é esse o caminho. As polícias devem ser fortaleci<strong>das</strong>. Não é<br />
pela desconstitucionalização que se conseguirá isso, mas, ao contrário, pelo estabelecimento<br />
constitucional de requisitos mínimos para a existência <strong>das</strong> polícias, tratando-as como<br />
instituições permanentes e regulares, essenciais à função de defesa da ordem pública,<br />
organiza<strong>das</strong> com base na hierarquia e na disciplina, tendo como princípios institucionais a<br />
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, com autonomia funcional e<br />
24
Claudionor Rocha 25<br />
administrativa, inclusive a de caráter orçamentário-financeira (vide arts. 127, caput e §§ 1º e<br />
2º, 133 e 142 da CF/88).<br />
b) Extinção do inquérito policial<br />
O vetusto inquérito policial ainda é garantia do cidadão contra arbitrariedades dos<br />
poderosos de plantão. Suas mazelas devem-se mais a uma cultura que precisa ser<br />
modernizada que a seu modelo em essência. Ora, no Brasil não há juizado de instrução,<br />
cabendo à polícia investigativa reunir as provas de materialidade, autoria e circunstâncias do<br />
evento infracional para que o Estado, por meio do Ministério Público, promova a<br />
responsabilização do infrator. O que se necessita é: 1) tornar o inquérito menos formal; 2)<br />
permitir o registro <strong>das</strong> inquirições e outros atos procedimentais em suporte audiovisual; 3)<br />
conceder prazo inicial razoável para a investigação; 4) acelerar a tramitação entre a unidade<br />
policial, o Ministério Público e o juízo; 5) tornar cogente a instauração imediata em<br />
determinados casos; 6) alargar o leque <strong>das</strong> provas irrepetíveis em juízo; 7) tornar a<br />
indiciação prescritível com o crime e os respectivos registros cancelados com a prescrição,<br />
a decadência por inércia do ofendido, a desindiciação, a rejeição da denúncia, a<br />
impronúncia e a absolvição, bem como após o cumprimento da sentença e qualquer outra<br />
forma de extinção da punibilidade; 8) tornar a reabilitação automática; e, 9) de forma<br />
sistemática, realizar a avaliação da efetividade da investigação e da prestabilidade do<br />
caderno probatório, inclusive quanto à celeridade, com reflexos na avaliação de<br />
desempenho dos responsáveis, repercussão no cálculo da produtividade e efeitos na<br />
progressão funcional e, por via de consequência, remuneratórios.<br />
c) Extinção da justiça <strong>militar</strong> estadual<br />
Com a des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es, não havendo, por conseguinte, razão<br />
para que os corpos de bombeiros fossem mantidos como <strong>militar</strong>es – como lembrado<br />
anteriormente, bastaria a estética <strong>militar</strong>, não a estrutura – não faria sentido a existência <strong>das</strong><br />
justiças <strong>militar</strong>es estaduais. Os crimes <strong>militar</strong>es só existiriam com relação às Forças<br />
Arma<strong>das</strong>, as quais dispõem da estrutura adequada. As estruturas <strong>das</strong> justiças <strong>militar</strong>es<br />
estaduais seriam absorvi<strong>das</strong> pela justiça estadual comum, sem maiores consequências,<br />
aplicando-se analogamente o mesmo raciocínio em relação ao Ministério Público Militar<br />
estadual. 31<br />
d) Regime previdenciário diferenciado<br />
No intuito de não se ferir direitos adquiridos nem se frustar expectativas de direito<br />
no âmbito dos privilégios e prerrogativas legais, inerentes, na maior parte, aos <strong>militar</strong>es<br />
31 Atualmente possuem justiça <strong>militar</strong> estadual os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná,<br />
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.<br />
25
Claudionor Rocha 26<br />
estaduais, por afinidade isomórfica com os <strong>militar</strong>es federais, é preciso manter o regime<br />
previdenciário dos atuais <strong>militar</strong>es, estendendo-os aos atuais policiais civis, ambos futuros<br />
policiais estaduais. Essa providência decorreria sem muito trauma na medida em que a LC<br />
n. 51/85 já prevê a aposentadoria especial ao “funcionário policial”.<br />
e) Piso salarial<br />
Um dos graves problemas que afetam as polícias estaduais é a diferença de remune-<br />
ração, visto que esta fica a cargo de cada governador e, ao longo <strong>das</strong> déca<strong>das</strong>, tal situação<br />
propiciou distorções consideráveis, tanto em relação às duas polícias de um mesmo Estado<br />
quanto – e principalmente – em relação ás polícias de Unidades Federativas distintas. A<br />
sociedade carece de dispositivo legal que estabeleça um plano de valorização salarial, a par-<br />
tir de um fundo próprio, nos termos do aprovado pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de<br />
2008, com compromissos de parte a parte, num amplo pacto federativo visando a corrigir<br />
esse grave fator gerador de outras mazelas. Uma dessas mazelas é o “bico” dos policiais<br />
que buscam complementar o parco salário na segurança privada; 32 assim são as facilidades<br />
acena<strong>das</strong> pelo canto da sereia do crime organizado, do narcotráfico e até dos favores indi-<br />
viduais que levam à leniência, à prevaricação, à corrupção total. Ao se admitir a possibilida-<br />
de de a União estabelecer tal benefício, fazendo-se analogia com a categoria dos professo-<br />
res, que obteve a garantia de um piso salarial nacional (Lei n. 11.738/2008), recorde-se que<br />
foi criado mecanismo específico de compensação, com a participação dos três níveis de<br />
poder, para o qual foram estabeleci<strong>das</strong> minuciosas regras de transição, a fim de não surgi-<br />
rem inequações de difícil solução, tanto em relação a cada nível de poder, quanto da parte<br />
do beneficiário.<br />
f) Proibição da greve<br />
Não se pode imaginar uma polícia (única ou não) fazendo greve. Pode-se vislum-<br />
brar uma ou mais polícias sérias, que desempenhem com entusiasmo e profissionalismo<br />
suas atribuições, que possuam, além de remuneração condigna, plano de carreira consis-<br />
tente; treinamento e assistência integral à saúde constantes; aposentadoria especial; auto-<br />
nomia funcional para seus dirigentes; gerentes escolhidos com fulcro no mérito; critérios<br />
objetivos para promoção e remoção; corregedorias e ouvidorias independentes, fortaleci<strong>das</strong><br />
e prestigia<strong>das</strong>; mecanismos ágeis de responsabilização e desligamento de maus policiais. Os<br />
mecanismos informais de controle, mesmo pela própria sociedade, se encarregariam de<br />
esvaziar movimentos paredistas de caráter político-ideológicos ou aquilatar da legitimidade<br />
<strong>das</strong> reivindicações. Esses cenários se tornam críveis se considerarmos a possibilidade de<br />
criação de conselhos nos moldes <strong>das</strong> “autoridades policiais” anglo-saxãs e do controle ex-<br />
32 Vide nosso estudo intitulado Bico: considerações sobre a atuação de policiais na segurança privada, disponível em<br />
.<br />
26
Claudionor Rocha 27<br />
terno exercido não apenas por um órgão, o Ministério Público, mas por um colegiado com<br />
ampla participação da comunidade cliente.<br />
5 PROPOSIÇÕES<br />
Analisaremos, agora, as proposições atinentes à matéria, apresenta<strong>das</strong> na Câmara<br />
dos Deputados, obti<strong>das</strong> em pesquisa não exaustiva, nos detendo naquelas de conteúdo<br />
mais substantivo, em geral as que tiveram tramitação relevante, sob o ponto de vista do<br />
tempo decorrido e do nível de discussão, bem como as recentes, por terem sido elabora<strong>das</strong><br />
segundo um contexto atual.<br />
Inicialmente nos debruçaremos sobre as Propostas de Emenda à Constituição<br />
(PEC), por serem as proposições volta<strong>das</strong> para a alteração do arcabouço constitucional no<br />
aspecto da segurança pública. Depois, abordaremos os Projetos de Lei (PL) os quais,<br />
basicamente, destinam-se a regular os §§ 7º e 8º do art. 144, referentes aos órgãos<br />
responsáveis pela segurança pública e as guar<strong>das</strong> municipais, respectivamente.<br />
Dentre as PEC apresenta<strong>das</strong>, destacamos em negrito as principais, relacionando as<br />
apensa<strong>das</strong> entre parênteses e as apensa<strong>das</strong> a estas, entre colchetes. Temos, pois, as PEC n.<br />
60/1990, 46/1991, 466/1997 (84/2003), 483/1997, 512/1997, 466/1997, 483/1997,<br />
512/1997, 551/1997, 496/2002, 534/2002 (95/1995 [247/1995, 343/1996, 392/1996,<br />
409/1996], 151/1995 [156/1995, 514/1997, 613/1998, 181/2003], 87/1999 [124/1999,<br />
154/1999, 240/2000, 250/2000, 266/2000, 275/2000, 276/2000, 280/2000, 284/2000,<br />
291/2000, 317/2000, 449/2001], 532/2002 [49/2003], 7/2007), 435/2005, 589/2006,<br />
143/2007, 340/2009 (356/2009, 414/2009, 425/2009) e 430/2009 (432/2009). Continuam<br />
tramitando as PEC n. 466/1997, 534/2002, 589/2006, 340/2009 e 430/2009 (sublinha<strong>das</strong><br />
acima) e respectivas apensa<strong>das</strong> e subapensa<strong>das</strong>, tendo sido as demais arquiva<strong>das</strong> ou<br />
devolvi<strong>das</strong>.<br />
Quanto à PEC 46/1991, do Deputado Hélio Bicudo (PT/SP), que “introduz<br />
modificações na estrutura policial, des<strong>militar</strong>izando a polícia, submetendo-a a fiscalização<br />
do Judiciário, e quanto à polícia judiciária a supervisão caberá ao Ministério Público” e<br />
suprimindo a justiça <strong>militar</strong> estadual, foi rejeitada na Comissão Especial.<br />
Embora a PEC 534/2002 do Senado Federal (Senador Romeu Tuma, PFL/SP),<br />
altere “o art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda<br />
municipal e criação da guarda nacional”, teve várias PEC apensa<strong>das</strong> que tratam da<br />
organização <strong>das</strong> polícias. O parecer apresentado na Comissão Especial constituída em<br />
7/8/2002, do Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), pela aprovação da PEC 534-<br />
A/2002, com emenda supressiva e pela rejeição <strong>das</strong> PEC apensa<strong>das</strong>, foi aprovado, em<br />
27
Claudionor Rocha 28<br />
26/10/2005, estando o projeto pronto para a pauta desde então. A rejeição dos apensados<br />
se baseou na exigência de mínimo populacional, não atendimento aos requisitos de<br />
autonomia operacional ou financeira e forma de normatização. Ao analisar as várias<br />
proposições, o relatório aprovado definiu pela proposta de redação final do dispositivo em<br />
alteração, suprimindo emenda aprovada no Senado para criação da Guarda Nacional, com<br />
a seguinte redação:<br />
§ 8º Os Municípios poderão constituir guar<strong>das</strong> municipais destina<strong>das</strong> à proteção de<br />
suas populações, de seus bens, serviços, instalações e logradouros públicos<br />
municipais, conforme dispuser lei federal.<br />
Como a PEC 151/1995, do Deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE) e suas<br />
apensa<strong>das</strong> não foram aprecia<strong>das</strong> na Comissão Especial que analisou a PEC 534/2002 e<br />
suas apensa<strong>das</strong>, por ter aquela sido apensada a esta somente em 16/11/2005, resta que as<br />
propostas aí conti<strong>das</strong> não foram ainda considera<strong>das</strong>. Entretanto, a própria PEC 151/1995<br />
foi objeto de Comissão Especial, cujo parecer favorável, da lavra do Deputado Alberto<br />
Fraga (PMDB/DF), foi aprovado em 13/3/2002, com substitutivo. Esta PEC tratava de<br />
assegurar a ascensão funcional para metade <strong>das</strong> vagas de cada carreira dos órgãos<br />
responsáveis pela segurança pública. Durante sua tramitação foi emendada 53 vezes, com o<br />
que a proposta inicial foi totalmente alterada. A PEC, na redação do substitutivo do relator,<br />
trata de vários assuntos relacionados à segurança publica, aos direitos fundamentais e busca<br />
inserir capítulos próprios sobre a defesa <strong>civil</strong> e a sistema penitenciário. Prevê a criação de<br />
vários fundos voltados para o financiamento da segurança pública, nos três níveis da<br />
federação, além de conselhos pertinentes. Busca centralizar as polícias federais numa só,<br />
com atribuições segmenta<strong>das</strong>, bem como a polícia estadual, des<strong>militar</strong>izada, igualmente una<br />
e segmentada por atribuições, de cunho preventivo e repressivo, respectivamente. Tece<br />
uma série de garantias e algumas vedações aos policiais e permite o estabelecimento de<br />
convênios entre os entes federados para fins de segurança pública. Enfim, pelo detalhismo<br />
apresentado, inclui disposições e casuísmos típicos de legislação infraconstitucional.<br />
Tecnicamente, sob o ponto de vista de operacionalização da atividade policial,<br />
consideramos inadequada a disposição que atribui o ciclo completo a to<strong>das</strong> as polícias.<br />
Dentre as apensa<strong>das</strong> à anterior está a PEC 514/1997, do Poder Executivo,<br />
apensada antes da constituição da Comissão Especial, que “altera os arts. 21, 22, 30, 32 e<br />
144 da Constituição”, constituindo essas alterações na alteração da competência da União,<br />
Estados e Municípios, bem como de modificação no sistema de segurança pública. O texto<br />
desconstitucionaliza os atuais órgãos estaduais, facultando a manutenção <strong>das</strong> forças<br />
auxiliares de caráter <strong>militar</strong>, como reservas do Exército, embora extinguindo a justiça<br />
<strong>militar</strong> estadual. Proíbe aos policiais a sindicalização, a greve e a atividade político-<br />
28
Claudionor Rocha 29<br />
partidária. Propõe a criação de um órgão temporário, composto de unidades integrantes<br />
dos órgãos de segurança publica, para emprego no âmbito federal, o que veio a ser o<br />
embrião da atual Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).<br />
Outra proposição apensada à PEC 151/1995 é a PEC 613/1998, apensada antes da<br />
constituição da Comissão Especial, da Deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP), a qual “dispõe<br />
sobre a estruturação do sistema de segurança pública, cria o Sistema de Defesa Civil”,<br />
estabelecendo que a União organizará a polícia federal, a polícia e o corpo de bombeiros do<br />
Distrito Federal; os Estados organizarão a polícia estadual e a defesa <strong>civil</strong>, composta do<br />
corpo de bombeiros estadual; extingue as polícias rodoviária e ferroviária federal, cujas<br />
atividades serão exerci<strong>das</strong> pela polícia federal. Estabelece certas garantias e vedações aos<br />
policiais, des<strong>militar</strong>iza as forças estaduais, pressupondo a polícia estadual única, com<br />
atribuições não cumulativas em dois segmentos, o Departamento de Polícia Judiciária e de<br />
Investigação e o de Polícia Ostensiva, com a consequente extinção da justiça <strong>militar</strong><br />
estadual. Permite convênios entre os entes federados, inclusive para ações de segurança<br />
pública pelas guar<strong>das</strong> municipais, propõe a criação de uma Secretaria Nacional de<br />
Segurança Pública, vaticínio transformado no órgão de mesmo nome (Senasp), bem como<br />
de um Fundo de Segurança Pública, também posteriormente criado com o nome de Fundo<br />
Nacional de Segurança Pública (FNSP). Acrescenta vários artigos ao Ato <strong>das</strong> Disposições<br />
Constitucionais Transitórias (ADCT) tratando <strong>das</strong> regras de transição para o<br />
estabelecimento <strong>das</strong> novas disposições, relativas a aposentadoria e paridade salarial dos<br />
inativos.<br />
A PEC 181/2003, do Deputado Josias Quintal (PMDB/RJ), que “altera o art. 144<br />
da Constituição” e acrescenta o art. 90 ao ADCT, incluindo nas competências <strong>das</strong> polícias<br />
civis e <strong>militar</strong>es a possibilidade de atuação em to<strong>das</strong> as funções policiais (polícia<br />
administrativa e judiciária) e unifica as competências <strong>das</strong> polícias estaduais, também foi<br />
apensada antes da constituição da Comissão Especial, caracterizando-se pela adoção do<br />
ciclo completo para as polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong>, com limitação para aquela, ao não poder<br />
investigar, por óbvio, os crimes <strong>militar</strong>es.<br />
A PEC 496/2002, do Deputado Aloizio Mercadante (PT/SP), que “altera a<br />
redação dos arts. 22, 24, 42, 129 e 144 da Constituição”, reestruturando o sistema de<br />
segurança pública, foi arquivada em 31/1/2003, por término de legislatura. Além de prever<br />
a investigação conduzida pelo Ministério Público e de retirar deste a exclusividade do<br />
controle externo da atividade policial, preconizava-a como atribuição de um conselho de<br />
segurança pública, com ampla participação da sociedade, estabelecendo medi<strong>das</strong><br />
doutrinário-propositivas para a atuação policial. Adotava o ciclo completo para as polícias<br />
<strong>civil</strong> e <strong>militar</strong> e autorizava os Estados a criarem outras polícias, des<strong>militar</strong>izando o corpo de<br />
29
Claudionor Rocha 30<br />
bombeiros. Regulava a ação <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais e criava as ouvidorias de polícia,<br />
desvinculando da polícia os órgãos periciais.<br />
Do Senado Federal ressaltamos como de interesse a PEC 21/2005, do Senador<br />
Tasso Jereissati (PSDB/CE), que “dá nova redação aos arts. 21, 22, 32, 144 e 167 da<br />
Constituição Federal, para reestruturar os órgãos da segurança pública”.<br />
Desconstitucionaliza as polícias estaduais, permitindo mantê-las sob o aspecto dual ou<br />
unifica<strong>das</strong>, preconizando o ciclo completo, ficando implícito o caráter <strong>civil</strong>, inclusive dos<br />
bombeiros. Como outras propostas similares, estabelece algumas garantias e vedações,<br />
estimula o intercâmbio dos órgãos policiais com as universidades e centros de pesquisa,<br />
bem como a celebração de convênios e criação de conselhos. Propõe a criação de fundos<br />
com participação de todos os entes federados, um banco de dados único e formação<br />
policial conjunta, extinguindo as justiças <strong>militar</strong>es estaduais. Sua tramitação foi suspensa<br />
por iniciativa do autor.<br />
A PEC 589/2006, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), “dá nova redação aos<br />
arts. 21, 22, 24, 32 e 144 da Constituição”, estabelecendo as instituições policiais,<br />
transferindo aos Estados e ao Distrito Federal a autoridade para criar um novo formato<br />
para as polícias de acordo com suas necessidades, autorizando os Municípios a criarem a<br />
polícia municipal e fixando atribuições para a polícia federal. Com parecer favorável<br />
prolatado em 23/6/2008, não teve este votado e, portanto, não foi instalada Comissão<br />
Especial para sua apreciação. Em geral, mantém as polícias de caráter federal e<br />
desconstitucionaliza as atuais polícias estaduais e distrital, facultando a livre constituição de<br />
novas polícias unifica<strong>das</strong> estaduais e polícias municipais, conforme estabeleçam as<br />
respectivas constituições estaduais e leis orgânicas.<br />
A PEC 143/2007, do Deputado Edmar Moreira (DEM/MG), “dá nova redação<br />
aos arts. 21, 22, 30, 32, 42, 144 e 167 da Constituição Federal, para unificar os órgãos de<br />
segurança pública”, unificando as polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong>, denominando-as polícia estadual;<br />
incorporando as polícias rodoviária federal e ferroviária federal à polícia federal;<br />
concedendo a ambas as atribuições de polícia judiciária da União; e possibilitando a<br />
vinculação de receitas de impostos para ações de segurança pública. A proposta foi<br />
devolvida ao autor, a seu pedido. A proposição, inspirada na PEC 21/2005, do Senado,<br />
des<strong>militar</strong>iza e desconstitucionaliza, em parte, as polícias, concede autonomia aos órgãos<br />
periciais, possibilita a integração entre as instituições policiais, autoriza criação de fundo de<br />
segurança pública e banco nacional de dados, cria o Conselho Nacional de Polícia e propõe<br />
a vinculação de receitas para a segurança pública.<br />
A PEC 340/2009, do Deputado Marcelo Ortiz (PV/SP), “altera a redação do § 9º<br />
do art. 144 da Constituição Federal, estabelecendo a paridade remuneratória dos servidores<br />
30
Claudionor Rocha 31<br />
<strong>das</strong> carreiras operacionais <strong>das</strong> polícias civis dos Estados e do Distrito Federal com os<br />
agentes da polícia federal”. Não foi apresentado o parecer do relator, Deputado João<br />
Campos (PSDB/GO), designado em 22/4/2009. As proposições apensa<strong>das</strong>, PEC<br />
356/2009, 414/2009 e 425/2009, “estabelece que a Secretaria Nacional de Segurança<br />
Publica complementará os salários <strong>das</strong> polícias civis, polícias <strong>militar</strong>es e bombeiros<br />
<strong>militar</strong>es”, “equipara o soldo do policial <strong>militar</strong> e bombeiro <strong>militar</strong> do Estado do Espírito<br />
Santo ao da Polícia Militar do Distrito Federal”, e estabelece “a paridade remuneratória dos<br />
servidores <strong>das</strong> carreiras <strong>das</strong> polícias civis dos Estados e os servidores <strong>das</strong> carreiras da<br />
Polícia Civil do Distrito Federal”, respectivamente.<br />
A PEC 430/2009, do Deputado Celso Russomano (PP/SP), “altera a Constituição<br />
Federal para dispor sobre a polícia e corpos de bombeiros dos Estados e do Distrito<br />
Federal e Territórios, confere atribuições às Guar<strong>das</strong> Municipais”, criando a nova polícia<br />
desses entes federados, desconstituindo (sic) 33 as polícias civis e <strong>militar</strong>es, des<strong>militar</strong>izando<br />
os corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es e instituindo novas carreiras, cargos e estrutura básica.<br />
Tanto a PEC 430/2009, quanto sua apensada PEC 432/2009 buscam resgatar o tema, nas<br />
quais se veem vários pontos em comum e outros divergentes, mas em geral, pretendem<br />
desconstitucionalizar as polícias estaduais, pressupondo a unificação e conferindo-lhes o<br />
ciclo completo de polícia, des<strong>militar</strong>izar as polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros<br />
<strong>militar</strong>es e instituir a ascensão funcional. Ambas descem a detalhismos dignos de lei<br />
ordinária, como a taxionomia dos cargos, a estrutura administrativa básica, a composição e<br />
atribuições do Conselho Nacional de Segurança Pública, assim como a forma de alternância<br />
do comando da nova polícia entre delegados e oficiais.<br />
Analisaremos, a seguir, dentre os mais relevantes, os Projetos de Lei pertinentes ao<br />
tema em estudo, obtidos igualmente de forma não exaustiva. Destacados em negrito os<br />
principais, estando os apensados, sucessivamente, entre parênteses e entre colchetes, são os<br />
seguintes: 1800/1989, 2017/1989, 2107/1989, 2146/1989, 2309/1989, 2669/1989,<br />
4009/1989, 3524/1993, 3580/1993, 759/1995, 6666/2002 (3094/2000 [3308/2000]),<br />
6038), 6690/2002 (4371/1993 [3274/2000, 1949/2007], 4363/2001 [6440/2009],<br />
6312/2002, 11/2007), 7144/2002, 686/2003, PLP 387/2006 34 , 1937/2007 (2072/2007,<br />
3461/2008, 6404/2009) e 4160/2008. As proposições ativas são os PL 6666/2002,<br />
6690/2002, 686/2003 e 1937/2007 (sublinhados acima) e respectivos apensados e<br />
subapensados; os demais já foram arquivados ou retirados. A análise privilegiará aqueles<br />
projetos oriundos do Poder Executivo federal, uma vez que implicam manifestação da<br />
União, ente destinado a formular a política nacional de qualquer sistema, aí incluído o da<br />
segurança pública. Foram selecionados, também, os projetos que apresentem conteúdo<br />
33 Na explicação da ementa consta esse termo, mas certamente se quis dizer “desconstitucionalizando”.<br />
34 Projeto de Lei Complementar, cuja sigla é PLP, no sistema de tramitação da Câmara dos Deputados.<br />
31
Claudionor Rocha 32<br />
mais elaborado e aqueles referentes à alteração do § 7º do art. 144, dando-se preferência<br />
para os que estejam em tramitação, o que não dispensa a contribuição histórica <strong>das</strong><br />
proposições já arquiva<strong>das</strong>.<br />
O PL 2146/1989, do Poder Executivo, trata praticamente da atualização do De-<br />
creto-lei n. 667/1969, conforme os ditames da novel Constituição, estabelecendo “normas<br />
gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e mobilização <strong>das</strong><br />
polícias <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es dos Estados, Distrito Federal e Territóri-<br />
os”.<br />
O PL 3524/1993, do Poder Executivo, “estabelece normas gerais de organização e<br />
funcionamento <strong>das</strong> policiais civis”, incluindo na sua estrutura básica o instituto de crimina-<br />
lística, o instituto médico-legal, o instituto de identificação e na carreira de policial <strong>civil</strong>, a<br />
categoria funcional de odontolegista.<br />
O PL 3580/1993, do Deputado Jofran Frejat (PFL/DF), que “dispõe sobre o sis-<br />
tema de segurança pública, estabelece normas gerais de organização da polícia <strong>civil</strong> nas uni-<br />
dades da federação”, regulamentando o disposto no artigo 144, § 7º da CF/88. Tendo ob-<br />
tido parecer favorável na então Comissão de Defesa Nacional (CDN), e contrário ao PL<br />
4683/1994, apensado, foi arquivado em 2/2/1995, por término de legislatura. Entretanto,<br />
só dispunha sobre normas gerais de organização da polícia <strong>civil</strong>.<br />
O PL 4371/1993, do Deputado Luiz Carlos Hauly (PP/PR), que “institui a Lei Or-<br />
gânica Nacional <strong>das</strong> Polícias Civis, dispõe sobre normas gerais para o seu funcionamento”,<br />
inclui o cargo de odontolegista na carreira da polícia <strong>civil</strong> e dispõe que poderá ser criado<br />
através de lei, um centro criminológico destinado ao estudo da violência; objetiva subsidiar<br />
a formulação de políticas de defesa social contra a criminalidade, tendo recebido 57 emen-<br />
<strong>das</strong> e sido apensado ao PL 6690/2002 em 20/5/2002.<br />
O PL 3094/2000, do Deputado Coronel Garcia (PSDB/RJ), que “regulamenta o<br />
art. 144 da Constituição Federal para disciplinar a organização e o funcionamento dos ór-<br />
gãos responsáveis pela segurança pública”, autorizando a criação da Escola Superior de<br />
Segurança Pública. Tendo recebido 22 emen<strong>das</strong> na Comissão de Relações Exteriores e De-<br />
fesa Nacional (CREDN), to<strong>das</strong> do Deputado Wanderley Martins (PSB/RJ), teve parecer<br />
favorável aprovado e, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) foi apensado ao PL<br />
6666/2002, com o qual tramita em conjunto. Reproduzindo dispositivos da Constituição, é<br />
bastante detalhado quanto às competências dos órgãos de segurança pública, prevendo<br />
princípios de ação, integração e harmonia entre os órgãos.<br />
32
Claudionor Rocha 33<br />
O PL 3274/2000, do Poder Executivo, que “estabelece normas gerais de organiza-<br />
ção e funcionamento <strong>das</strong> polícias civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”,<br />
foi apresentado em 21/6/2000 e apensado na mesma data ao PL 4371/1993, tendo recebi-<br />
do 78 emen<strong>das</strong> e, após retirada a urgência constitucional em 29/8/2000, deixou de trami-<br />
tar.<br />
O PL 3308/2000, do Deputado Abelardo Lupion (PFL/PR), que “regulamenta o §<br />
7º da Constituição Federal, dispondo sobre a organização e o funcionamento dos órgãos<br />
responsáveis pela segurança pública”, foi apensado ao PL 3094/2000, por sua vez apensa-<br />
do ao PL 6666/2002. Detalha o sistema de segurança pública, estabelecendo princípios<br />
gerais e da qualidade do serviço policial, além do funcionamento harmônico entre os ór-<br />
gãos.<br />
O PL 4363/2001, do Poder Executivo, que “estabelece normas gerais de organiza-<br />
ção, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es e<br />
corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, teve<br />
173 emen<strong>das</strong> durante sua tramitação, tendo sido apensado ao PL 6690/2002 em<br />
20/5/2002.<br />
O PL 6038/2002, do Deputado Salvador Zimbaldi (PSB/SP), que “cria o Sistema<br />
de Segurança Pública de âmbito nacional”, foi apensado ao PL 6666/2002. Cria o sistema<br />
de segurança pública, privilegiando a interconexão dos órgãos por meio dos diversos siste-<br />
mas de comunicação, imputando ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomu-<br />
nicações (Fust), instituído pela Lei n. 9.998, de 17 de agosto de 2000, as despesas decor-<br />
rentes da lei.<br />
O PL 6312/2002, do Deputado Alberto Fraga (PMDB/DF), que “estabelece nor-<br />
mas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização<br />
<strong>das</strong> polícias civis, <strong>militar</strong>es e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es dos Estados, do Distrito Fede-<br />
ral e dos Territórios” pretende substituir o DL n. 667/1969, revogando-o. Bastante minu-<br />
cioso, foi apensado ao PL 6690/2002.<br />
O PL 6666/2002, da Comissão Mista Temporária destinada a, “no prazo de 60 di-<br />
as, levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência que assola o País, ouvindo-se,<br />
para tanto, Governadores de Estados, Secretários de Segurança Pública, Comandantes <strong>das</strong><br />
Polícias Civis e Militares, Diretores de Presídios e outros especialistas e autoridades ligados<br />
à área e requisitando-se cópia de to<strong>das</strong> as proposições em tramitação em ambas as Casas,<br />
para consolidá-las em uma única proposta de emenda à Constituição ou em um único pro-<br />
jeto de lei, conforme o caso, com vista a uma tramitação em ritmo acelerado tanto na Câ-<br />
mara como no Senado”, regulamenta o § 7º do art. 144 da Constituição Federal, dispondo<br />
33
Claudionor Rocha 34<br />
sobre a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de<br />
maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra<br />
(PSDB/SP) e outros, tem um caráter essencialmente propositivo e genérico, no sentido<br />
principiológico, de controle, harmonia e integração <strong>das</strong> forças policiais, instituindo um sis-<br />
tema nacional de segurança pública, discorrendo ligeiramente sobre o armamento a ser<br />
utilizado e os sistemas de controle <strong>das</strong> atividades. Sujeita à apreciação do Plenário, em re-<br />
gime especial de tramitação, está pronto para pauta, mas teve sua discussão adiada desde<br />
26/6/2002.<br />
O PL 6690/2002, da Comissão Mista Temporária acima mencionada, estabelece<br />
normas gerais relativas ao funcionamento <strong>das</strong> polícias estaduais e do Distrito Federal, e dos<br />
corpos de bombeiros. Igualmente apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP) e<br />
outros, mais detalhado e casuísta que o PL 6666/2002, pretende atualizar o DL n.<br />
667/1969, revogando-o expressamente. Teve sua discussão adiada desde 26/6/2002.<br />
O PL 7144/2002, do Deputado Nelo Rodolfo (PMDB/SP), que “dispõe sobre as<br />
atribuições e competências comuns <strong>das</strong> Guar<strong>das</strong> Municipais do Brasil, regulamenta e disci-<br />
plina a constituição, atuação e manutenção <strong>das</strong> Guar<strong>das</strong> Civis Municipais como órgãos de<br />
segurança pública em todo o território nacional”, bastante detalhado, foi rejeitado por dis-<br />
ciplinar em lei ordinária vários aspectos de cariz constitucional.<br />
O PLP 387/2006, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), que “regulamenta o §<br />
7º do art. 144, da Constituição Federal, instituindo conjunto de ações coordena<strong>das</strong> que<br />
constituem o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”, foi arquivado em 31/1/2007,<br />
por término de legislatura.<br />
O PL 11/2007, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), também assinado pelo<br />
Deputado Manato (PDT/ES), que “regulamenta o § 7º do art. 144, da Constituição Fede-<br />
ral, instituindo conjunto de ações coordena<strong>das</strong> que constituem o SUSP”, reproduz o mes-<br />
mo texto do PLP 387/2006.<br />
O PL 1937/2007, do Poder Executivo, que “disciplina a organização e o funcio-<br />
namento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da<br />
Constituição, institui o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, dispõe sobre a segu-<br />
rança cidadã”, chamado de PAC da Segurança 35 , foi objeto de 24 emen<strong>das</strong>, tendo permane-<br />
cido por dois anos na Comissão de Educação e Cultura (CEC). De natureza propositiva, o<br />
projeto pretende positivar os princípios e diretrizes atinentes à segurança pública, dispondo<br />
sobre a organização e funcionamento do Susp, integrando ao sistema de segurança a Força<br />
Nacional de Segurança Pública (FNSP), criada pelo Decreto n. 5.289, de 29 de novembro<br />
35 Referência ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Lula.<br />
34
Claudionor Rocha 35<br />
de 2004, criando mecanismos de centralização e compartilhamento de dados, de valoriza-<br />
ção profissional e estabelecendo indicadores para avaliação do cumprimento de metas.<br />
O PL 1949/2007, do Poder Executivo, que “institui a Lei Geral da Polícia Civil”,<br />
dispondo sobre princípios e normas gerais de organização, funcionamento e competências<br />
da polícia <strong>civil</strong> dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, de atribuições e prerro-<br />
gativas dos cargos policiais civis, nos termos do inciso XVI do art. 24 e do § 7º do art. 144<br />
da Constituição, teve 26 emen<strong>das</strong>, tendo sido apensado ao PL 4371/1993 em 11/6/2008.<br />
O projeto procura uniformizar e simplificar as estruturas <strong>das</strong> polícias civis, chegando a ser<br />
um tanto minucioso na descrição de atribuições, por exemplo, mas não trata <strong>das</strong> regras de<br />
transição dos modelos diversos para o preconizado, afigurando-se-nos temerário remeter<br />
essa tarefa para eventual decreto regulamentador, de iniciativa do Poder Executivo federal.<br />
O PL 3461/2008, do Deputado Raul Jungmann (PPS/PE), que “regulamenta o §<br />
7º do art. 144 da Constituição Federal, instituindo conjunto de ações coordena<strong>das</strong> que<br />
constituem o SUSP”, foi apensado ao PL 1937/2007, que possui o mesmo objetivo, prati-<br />
camente reproduzindo o mesmo texto do PLP 387/2006 e do PL 11/2007.<br />
No tocante aos demais dispositivos atinentes à segurança pública, ainda não regu-<br />
lamentados, apresentamos no quadro a seguir a legislação anterior, as proposições apre-<br />
senta<strong>das</strong> e normas correlatas.<br />
Dispositivo Legislação anterior à CF/88<br />
Art. 144, § 1° Lei n. 4.483, de 16-11-64 PL 3516/93<br />
Art. 144, §<br />
1°, inciso I<br />
Lei n. 4.483, de 16-11-64<br />
Decreto-lei n. 2.251, de 26-2-85<br />
Art. 144, § 2° Lei n. 4.483, de 16-11-64<br />
Art. 144, § 3°<br />
Art. 144, § 5°<br />
Art. 144, § 8º<br />
Decreto-lei n. 667, de 2-7-69<br />
Decreto-lei n. 2.106, de 6-2-84<br />
6. MODELO ADEQUADO<br />
Proposições<br />
apresenta<strong>das</strong><br />
PL 887/88, PL 2002/89,<br />
PL 3531/89<br />
PL 3094/00, PL 6287/05,<br />
PL 6288/05, PL 6292/05<br />
PL 2107/89, PL 4009/89<br />
PL 759/95, PL 686/03<br />
PL 2669/89, PL 3054/89<br />
PL 5853/90, PL 358/91<br />
PL 1416/91, PL 2019/91<br />
PL 7144/02, PL 1332/03<br />
PL 3516/93, PL 5959/05<br />
Normas correlatas<br />
Lei n. 10.682, de 28-5-03<br />
Lei n. 11.095, de 13-1-05<br />
Lei n. 9.654, de 2-6-98<br />
Lei n. 11.095, de 13-1-05<br />
Não temos a presunção de apresentar o modelo adequado de polícia ou de policia-<br />
mento, algo que vem sendo buscado pelas polícias do mundo todo, sem que haja uma fór-<br />
mula mágica. Continuaremos ousando, porém, na tentativa de destrinchar as mistificações<br />
que rondam o tema.<br />
35
Claudionor Rocha 36<br />
Poderíamos esquematizar as atividades da polícia em três grandes campos, corres-<br />
pondentes, em tese, a fases sucessivas: prevenção, repressão e execução. O primeiro e mais<br />
importante do ponto de vista de redução do nível de criminalidade, abrange contato com<br />
maior número de indivíduos, pressupõe menor risco e média especialização. Pode se dar<br />
nas atividades de polícia de ordem, de proteção (patrulhamento ostensivo e de eventos) e<br />
de mediação.<br />
No segundo campo temos a repressão imediata e a mediata, o que envolve maior<br />
risco absoluto em razão do contato com o infrator ou suspeito e requer maior especialida-<br />
de. Aí temos as atividades de polícia judiciária que pode estar envolvida tanto na repressão<br />
imediata quanto na mediata; e as atividades da polícia técnica (perícia), igualmente podendo<br />
atuar nas duas situações. A fase de prevenção é a que mais se aproxima, no tempo, com a<br />
repressão imediata. Esta pode se dar como desdobramento da fase de prevenção, atuando<br />
como polícia de intervenção tática, de choque, de segregação e custódia provisória, nas<br />
quais a polícia mais usa a força. É o momento de entrada do infrator no sistema de perse-<br />
cução criminal. Já a repressão mediata, que consiste na apuração <strong>das</strong> infrações, é a que mais<br />
se distancia <strong>das</strong> demais, de resultado mais moroso <strong>das</strong> ações e, geralmente, na qual há mais<br />
liberdade e invisibilidade de conduta do policial.<br />
A fase de execução trata com um menor número de indivíduos, que possuem, en-<br />
tretanto, um potencial de risco relativo maior. Praticamente se resume a custódia. É onde<br />
se dá pouco contato com os integrantes <strong>das</strong> demais fases e que exige menor especialização,<br />
tratando-se da saída do infrator do sistema de persecução criminal.<br />
Entendemos, porém, que não existe no país uma política nacional de segurança<br />
pública claramente definida, na qual estejam expressamente estabelecidos os princípios<br />
básicos que dêem uniformidade às ações pertinentes, incluindo os pressupostos doutrinári-<br />
os para atuação dos legislativos dos diversos níveis da federação. O que se tem é um Plano<br />
Nacional de Segurança Pública (PNSP), não exaustivamente discutido com a sociedade,<br />
mas elaborado no ano 2000, a partir da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp),<br />
órgão da estrutura do Ministério da Justiça. Além desse documento, apenas aspirações pro-<br />
gramáticas esparsas em documentos diversos tratam superficialmente do tema, por meio de<br />
políticas parciais dos sucessivos governos, como a criação do Fundo Nacional de Seguran-<br />
ça Pública (FNSP), pela Lei n. 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, por conversão da Medi-<br />
da Provisória (MP) n. 2.120-9, de 26 de janeiro de 2001 (originalmente MP n. 2046-6, de 23<br />
de novembro de 2000); do Sistema Único de Segurança Pública (Susp); da Força Nacional<br />
de Segurança Pública (FNSP, criada pelo Decreto n. 5.289, de 29 de novembro de 2004);<br />
culminando com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci,<br />
criado pela Lei n. 11.530, de 24 de outubro de 2007). Conforme a redação original da MP<br />
36
Claudionor Rocha 37<br />
mencionada seriam beneficiados com destinações do FNSP, os Estados que promovessem<br />
a integração de suas polícias civis e <strong>militar</strong>es, conforme as ações preconiza<strong>das</strong> pelo Plano<br />
Nacional de Segurança Pública. 36<br />
O mencionado PNSP reconhece o esgotamento do modelo dualizado de polícia,<br />
com instituições policiais de ciclo incompleto. Propôs atualizá-lo mediante a implantação<br />
do Susp nos Estados e no âmbito da União, com interface com os municípios por meio <strong>das</strong><br />
guar<strong>das</strong> municipais.<br />
Não se tratam de mudanças profun<strong>das</strong>, mas com certa tendência a criar mais difi-<br />
culdades à ação <strong>das</strong> polícias que as observa<strong>das</strong> atualmente. Uma delas é o objetivo de cria-<br />
ção paulatina de uma “ou várias” polícias estaduais de ciclo completo. Ora, não faz sentido<br />
mais de uma polícia de ciclo completo numa mesma base territorial. Mesmo os Estados<br />
Unidos, país tido como parâmetro para a proliferação de organismos policiais, as bases<br />
territoriais são bem defini<strong>das</strong>. 37 Assim, temos as polícias de nível federal, estadual, dos con-<br />
dados e dos municípios. O que ocorre naquele país, com frequência, são operações integra-<br />
<strong>das</strong> entre as forças, mas não sobreposição de circunscrições para polícias de mesmo nível.<br />
Contraditoriamente, o PNSP estabelece as práticas implementa<strong>das</strong> no âmbito dos<br />
vários níveis de governo como parâmetros para futuras mudanças constitucionais, quando<br />
o inverso é que seria coerente: estabelecem-se os paradigmas no documento maior e, a par-<br />
tir daí, tanto o governo federal quanto os estaduais adequam suas forças policiais ao co-<br />
mando constitucional. Se, por um lado a proposição governamental tende a favorecer o<br />
caráter centrípeto da federação, por outro, vai de encontro à tradição histórica brasileira de<br />
ser uma federação centrífuga. Donde, em decorrência da multiplicidade de caracteres dis-<br />
tintivos, a impossibilidade de se criar regras doutrinárias e procedimentais paradigmáticas.<br />
Dentre as mudanças propostas mais impactantes do PNSP estão: extinção dos tri-<br />
bunais e auditorias <strong>militar</strong>es estaduais; elaboração de uma lei orgânica única para as polícias<br />
estaduais; desvinculação entre as polícias <strong>militar</strong>es e o Exército; extinção do indiciamento 38<br />
durante o inquérito policial; piso nacional de salário para as polícias; criação de ouvidorias<br />
de polícia autônomas e independentes; e desconstitucionalização do tema da segurança<br />
pública, a título de conferir liberdade aos Estados para melhor disporem sobre suas polí-<br />
cias, num pretenso reforço do princípio federativo. Estudiosos de segurança pública igual-<br />
36 Na redação original da MP constava: “Art. 1º Fica instituído no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo<br />
Nacional de Segurança Pública – FNSP, com o objetivo de apoiar projetos de responsabilidade dos Governos<br />
dos Estados e do Distrito Federal, na área de Segurança Pública, e dos Municípios, onde haja guar<strong>das</strong> municipais.<br />
Parágrafo único. O FNSP poderá apoiar, também, projetos sociais de prevenção à violência, desde que<br />
enquadrados no Plano Nacional de Segurança Pública e atendido o disposto em regulamento.”<br />
37 Consta que há, naquele país, entre catorze mil e dezessete mil órgãos, conforme o critério que se utilize<br />
para definir quais se enquadram na definição de organismo policial.<br />
38 Alguns autores preferem “indiciação”.<br />
37
Claudionor Rocha 38<br />
mente preconizam as mesmas medi<strong>das</strong> ou de caráter semelhante, como Amendola (2002),<br />
Beato, Rabelo e Oliveira Júnior (in Beato, 2008), Gomes (2000), Lemgruber, Musumeci e<br />
Cano (2003), Mariano (2004) e Soares (2006), entre outros.<br />
Considerando o princípio de solidariedade federativa (art. 241 da Constituição) que<br />
orienta o desenvolvimento <strong>das</strong> atividades do Susp, o governo federal disciplinou, por in-<br />
termédio do Decreto n. 5.289/2004, a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), a ser<br />
organizada, capacitada e utilizada em convênio com os entes federados.<br />
A FNSP atuará de forma episódica por solicitação de Governador de Estado ou do<br />
Distrito Federal, em situações emergenciais ou excepcionais, nas atividades de policiamento<br />
ostensivo destina<strong>das</strong> à preservação da ordem pública e da incolumidade <strong>das</strong> pessoas e do<br />
patrimônio. Comporão a FNSP servidores <strong>das</strong> polícias federais e dos órgãos de segurança<br />
pública dos Estados, mediante capacitação prévia, os quais, quando convocados, receberão<br />
diárias pagas pela União, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Se-<br />
nasp), do Ministério da Justiça, responsável pelo emprego da força.<br />
A Força Nacional atuou pela primeira vez em 2004, no Estado do Espírito Santo.<br />
Os policiais, de bom grado, se voluntariam para forças desta natureza, bem como àquelas<br />
destina<strong>das</strong> a missões de paz da Organização <strong>das</strong> Nações Uni<strong>das</strong> (ONU) a que o Brasil ade-<br />
re, como uma forma de incrementar seus salários.<br />
É sintomático, entretanto, que a par dessa iniciativa, por tudo inconstitucional e<br />
ilegal, talvez diante da dificuldade de se dar cabo <strong>das</strong> proposições encaminha<strong>das</strong> pelo pró-<br />
prio Poder Executivo ou levar adiante as proposições origina<strong>das</strong> no próprio Congresso<br />
Nacional, outras medi<strong>das</strong> governamentais possam não gerar o efeito esperado, diante da<br />
calamidade em que se vê a “insegurança pública”. O exemplo é o resultado do último refe-<br />
rendo, quando uma proporção inicial de dois terços dos eleitores favoráveis à proposta de<br />
desarmamento foi invertida, pela aparente prevalência do voto de protesto sobre o ideoló-<br />
gico, provavelmente pela vinculação do tema ao governo federal, acossado por denúncias<br />
de corrupção. Vê-se, contudo, que a medida adotada de controle do armamento, ainda que<br />
parcialmente, produz resultados no decréscimo <strong>das</strong> taxas de homicídio, sobretudo em São<br />
Paulo, fato que corrobora a tese de que a disponibilidade da arma de fogo favorece os cri-<br />
mes passionais, entre familiares e vizinhos, no trânsito, nos acidentes e suicídios.<br />
O sintoma da inabilidade dos sucessivos governos em lidar com o problema da<br />
insegurança pública é, pois, a constante capitulação diante <strong>das</strong> pressões sofri<strong>das</strong> toda vez<br />
que pretende alterar o sistema de segurança pública, seja por emenda constitucional, seja<br />
pontualmente por lei ordinária.<br />
38
Claudionor Rocha 39<br />
Tratam-se, portanto, de macropolíticas, que não descem ao detalhamento que seria<br />
obtido por meio de uma consolidação <strong>das</strong> políticas regionais e locais que atenda a to<strong>das</strong> as<br />
variáveis atinentes à segurança pública nos vários rincões do país. Embora propondo algu-<br />
mas mudanças louváveis, não parece priorizar o aperfeiçoamento do sistema de segurança<br />
pública do país, senão alterar questões pontuais que propiciem o controle da polícia, mas<br />
que não dão os instrumentos necessários para que a polícia controle o crime. Exemplo<br />
típico dessa “política” foi a recente celebração, entre as autoridades máximas dos três Po-<br />
deres, no nível federal, do “II Pacto Republicano por um Sistema de Justiça mais Acessível,<br />
Ágil e Efetivo”, em que as boas idéias acerca da efetividade da Justiça colidem com a restri-<br />
ção ao uso de instrumentos investigativos da polícia, o que tende a beneficiar os infratores<br />
poderosos.<br />
O ideal do Estado democrático brasileiro pressupõe uma polícia de Estado mínima,<br />
ou seja, a que atua numa sociedade heterogênea com controle social difuso, onde as opini-<br />
ões são ouvi<strong>das</strong>, a oposição é parte essencial do processo político e as manifestações pacífi-<br />
cas, tolera<strong>das</strong>. Entretanto, para que uma polícia mereça esse nome, é preciso uma atuação<br />
preventiva e repressiva fortes, de forma a dissuadir e reprimir as infrações penais e os<br />
atentados contra os padrões de <strong>civil</strong>idade, dotando o meio ambiente de sensação de segu-<br />
rança em seu nível máximo possível.<br />
Como vimos linhas atrás, alguns dos critérios utilizados para a aquilatação da efeti-<br />
vidade do trabalho policial são o percentual de resolução de crimes. As formas de medir a<br />
produtividade da polícia são conflitantes ao se considerarem duas meias polícias. Embora a<br />
diminuição da criminalidade pela aplicação correta e ágil da lei penal implique uma preven-<br />
ção geral, a missão do policiamento preventivo em si é reduzir os crimes. Quando a polícia<br />
<strong>militar</strong> não consegue conciliar a avaliação mediante estatísticas sobre número de prisões<br />
efetua<strong>das</strong>, por exemplo, comparados à diminuição da criminalidade como um todo, verifi-<br />
ca-se o grande dilema da dualidade policial. À polícia <strong>civil</strong> bastaria ser avaliada segundo a<br />
correção, celeridade na condução dos procedimentos e efetividade na produção de provas,<br />
uma vez que a utilização de outros dados, como registro de ocorrências e instauração de<br />
procedimentos policiais cartorários (inquéritos policiais e termos circunstanciados) esbar-<br />
ram no mesmo dilema. Fica-se entre a omissão, visando a impactar as estatísticas de redu-<br />
ção do crime, e a superprodução, procurando demonstrar a produtividade da corporação.<br />
Dito isso, parece-nos mais adequado um modelo de polícia única em que segmen-<br />
tos diversos se encarregariam do patrulhamento preventivo, da repressão imediata e da<br />
repressão mediata. A integração dos segmentos, perfeitamente possível sob comando unifi-<br />
cado – e não a integração entre polícias historicamente hostis entre si – poderia permitir a<br />
otimização <strong>das</strong> metas, mediante a alocação de recursos para investimento e até para incre-<br />
39
Claudionor Rocha 40<br />
mento nos vencimentos dos policiais, segundo os percentuais de superação <strong>das</strong> metas. 39<br />
A tendência seria a redução da criminalidade ao longo do tempo, favorecendo o<br />
segmento preventivo. Entretanto, um comando único teria condições de remanejar seus<br />
quadros conforme a necessidade, de forma a manter todo o efetivo motivado, alocando aos<br />
segmentos mais “rentáveis” os melhores policiais, segundo resultado de avaliações objeti-<br />
vas periódicas.<br />
7 A POLÍCIA MUNICIPAL<br />
Não é de todo desarrazoada a idéia de se criar polícias municipais ou metropolita-<br />
nas, nos moldes <strong>das</strong> existentes nos Estados Unidos, como proposto por Mariano (2004).<br />
As polícias metropolitanas seriam ligeiramente equivalentes às polícias dos condados norte-<br />
americanos, se bem que restritas justamente às áreas metropolitanas brasileiras, quase to<strong>das</strong><br />
conurba<strong>das</strong> em torno de uma capital.<br />
Segundo Bayley (2006, p. 20), a polícia se distingue, não pelo uso real da força, mas<br />
por possuir autorização para usá-la. Essa assertiva nos leva a induzir que algumas guar<strong>das</strong><br />
municipais, por estarem autoriza<strong>das</strong> a usar a força, teriam, na sua concepção, características<br />
de forças policiais.<br />
Essas polícias, entretanto, fariam apenas – e tem potencial para fazê-lo muito bem –<br />
o policiamento comunitário, de proximidade, tão em voga há algumas déca<strong>das</strong> e, quando<br />
bem executado, de resultados mais que satisfatórios. Naturalmente continuariam com suas<br />
atribuições principais de vigilância dos próprios municipais, escolas, parques, áreas de con-<br />
servação, mananciais, além de atuação educativa no trânsito e outras volta<strong>das</strong> para as voca-<br />
ções locais de controle formal da comunidade, com intensa interação com os mecanismos<br />
informais de controle.<br />
Cumpre observar que qualquer guarda municipal, assim como qualquer pessoa,<br />
dispõe do “poder de polícia” às vezes pleiteado, que é o de executar a repressão imediata<br />
sem a necessidade de se acionar a polícia <strong>militar</strong> ou a polícia <strong>civil</strong>. É o que estabelece o art.<br />
301 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal – CPP):<br />
“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão<br />
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (sem destaque no original). O<br />
poder de repressão imediata, portanto, já existe.<br />
39 Exemplos de polícia unificada e de ciclo completo, que funcionam, não obstante o pequeno efetivo, são as<br />
polícias legislativas. Como ex-diretor do Departamento de Polícia Legislativa (Depol), da Câmara dos Deputados,<br />
verificamos que embora o caráter edilício e o reduzido efetivo, as atribuições são inúmeras e a clientela<br />
pode chegar a vinte mil pessoas num só dia.<br />
40
Claudionor Rocha 41<br />
Resta abordar a questão do ciclo completo e do porte de arma de fogo, assuntos<br />
sempre presentes na abordagem <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> (ou polícias) municipais. Como não existe uma<br />
Justiça municipal, é evidente que eventual polícia municipal não pode formar o inquérito<br />
para entregá-lo à Justiça estadual, seja mediante investigação, seja por formalização da pri-<br />
são em flagrante, donde a desaconselhável extensão do ciclo completo a essa força. Quan-<br />
do muito, poderia encaminhar ao juizado especial criminal as partes envolvi<strong>das</strong> em infra-<br />
ções penais de menor potencial ofensivo, em situação flagrancial. Essa medida, porém, é<br />
defendida como prerrogativa própria pelas polícias civis, que detêm a competência para a<br />
repressão penal, sob o argumento de que a autoridade policial deve lavrar o termo circuns-<br />
tanciado, conforme determina o art. 69 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos<br />
Juizados Especiais). E nisso têm razão, por se tratar de comando legal. Trata-se, contudo,<br />
basicamente, de repressão imediata, que as polícias <strong>militar</strong>es podem efetuar e, por essa<br />
mesma razão, também reivindicam a prerrogativa. Tal descompasso é gerado mais pelo<br />
centenário conflito entre as duas “meias polícias” e pela discussão acerca de quem pode ser<br />
considerado “autoridade policial” a que alude o art. 4º do CPP. Enfim, se nem às polícias<br />
<strong>militar</strong>es foi deferida competência para tanto, muito menos o seria para as polícias munici-<br />
pais, em tese, visto que o juiz e o promotor, sendo agentes do Estado (estaduais, do ente<br />
federado), não poderiam fazer determinações a um agente de outro nível de governo (Mu-<br />
nicípio), especialmente no tocante às atividades de polícia judiciária. O mesmo raciocínio se<br />
aplica à eventual atuação da polícia municipal diante do juizado especial federal.<br />
Quanto ao porte de arma de fogo, trata-se de requisito básico para que alguma for-<br />
ça atue como polícia repressiva, com o poder de “parar e prender” e encaminhar o infrator<br />
aos órgãos judiciais ou policiais pertinentes, sob pena de se presenciarem situações vexami-<br />
nosas e até arbitrárias, se, para conduzir um preso, por exemplo, a polícia municipal neces-<br />
sitasse do apoio de outras polícias. Assim, a transformação <strong>das</strong> atuais guar<strong>das</strong> municipais<br />
em polícias municipais, só poderia ocorrer quanto àquelas que detêm o direito de porte de<br />
arma, seja ele em caráter permanente, nos municípios com mais de quinhentos mil habi-<br />
tantes, seja em caráter temporário, isto é, durante o serviço, nos municípios que possuem<br />
entre cinquenta mil e quinhentos mil habitantes (incisos III e IV, respectivamente, do art.<br />
6º da Lei n. 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento). 40<br />
Essa discriminação legal é suficiente para se evitar que proliferem pelo país polícias<br />
de efetivo mínimo, nas cidades interioranas onde manda o “coronel” oligárquico, que delas<br />
fariam sua guarda pretoriana, quando não para isso utilizasse em seus quadros jagunços e<br />
pistoleiros de aluguel, nesse caso como servidores públicos, sustentados pelo contribuinte.<br />
Nas regiões metropolitanas, porém, seria possível a criação de polícia municipal nos muni-<br />
40 As guar<strong>das</strong> municipais mineiras e a da cidade do Rio de Janeiro, exemplificativamente, não utilizam arma de<br />
fogo.<br />
41
Claudionor Rocha 42<br />
cípios com menos de cinquenta mil habitantes, pois esses também podem utilizar arma de<br />
fogo durante o serviço, nos termos do § 7º do mesmo art. 6º do Estatuto do Desarma-<br />
mento. Essa restrição ao uso da arma de fogo apenas durante o serviço pode ser, porém,<br />
em tese, uma restrição à transformação de tais guar<strong>das</strong> em polícias municipais. O risco ci-<br />
tado anteriormente, quanto aos demais municípios interioranos de diminuta população, é<br />
minimizado pela proximidade da mídia, dos formadores de opinião, da complexidade da<br />
cidade grande que não se coaduna com a apatia presente frente aos desmandos dos grotões.<br />
Sobre o tema próprio <strong>das</strong> polícias municipais em contraste com as guar<strong>das</strong> munici-<br />
pais, relembramos a análise do item 5 (Proposições) desta Nota, no qual verificamos várias<br />
proposições em andamento, tratando transversalmente da questão da unificação <strong>das</strong> polici-<br />
as, mas que originalmente se destinavam a normatizar as guar<strong>das</strong> municipais, como a PEC<br />
534/2002.<br />
No aspecto da regulamentação constitucional, verificamos que a matéria figura<br />
dentre os dispositivos não regulamentados, mas com proposições apressenta<strong>das</strong>, conforme<br />
descrição constante da página da Câmara na internet. Com efeito, no Capítulo “Da Defesa<br />
do Estado e <strong>das</strong> Instituições Democráticas (arts. 136-144), não foram regulamentados os<br />
art. 139, inciso III; art. 144, § 2º; art. 144, § 3º; art. 144, § 8º, este último, o de interesse<br />
neste tópico, conforme quadro abaixo.<br />
Dispositivo Texto constitucional Proposições apresenta<strong>das</strong><br />
Art. 144,<br />
§ 8º<br />
Os Municípios poderão constituir guar<strong>das</strong><br />
municipais destina<strong>das</strong> à proteção de seus<br />
bens, serviços e instalações, conforme<br />
dispuser a lei.<br />
PL 2669/89, PL 3054/89, PL 5853/90, PL<br />
358/91, PL 1416/91, PL 2019/91, PL<br />
7144/02, PL 1332/03, PL 3516/93, PL<br />
5959/05<br />
Para informações mais aprofunda<strong>das</strong>, remetemos à leitura dos seguintes trabalhos,<br />
de autoria dos consultores legislativos desta Casa, os quais abordam o tema em apreço:<br />
Obrigatoriedade de Criação de Guar<strong>das</strong> Municipais em todos os Municípios Brasileiros (Souza, 2000a),<br />
Municipalização da Segurança Pública (Souza, 2000b), Situação <strong>das</strong> PECs que Tramitam na Câmara<br />
dos Deputados, Tratando do Emprego <strong>das</strong> Guar<strong>das</strong> Municipais em Atividades de Segurança Pública<br />
(Rocha, 2005), Funcionamento <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais nas principais capitais do país (Rocha, 2007),<br />
Guar<strong>das</strong> municipais (Rocha, 2008) e Considerações sobre a criação de novos órgãos policiais (Rocha,<br />
2009).<br />
Outros documentos de interesse que tratam do tema são o Relatório Descritivo Pesqui-<br />
sa do Perfil Organizacional <strong>das</strong> Guar<strong>das</strong> Municipais, editado em 2003, pela Secretaria Nacional de<br />
Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, e o Perfil dos Municípios Brasileiros, de<br />
2006, editado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no capítulo sobre<br />
a Guarda Municipal.<br />
42
Claudionor Rocha 43<br />
Dentre as variáveis que se põem quando se trata <strong>das</strong> atribuições <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> muni-<br />
cipais, tornam-se relevantes as seguintes questões, algumas polêmicas, para as quais há opi-<br />
niões divergentes e às vezes conflitantes, as quais foram aborda<strong>das</strong> durante análise nossa a<br />
respeito da PEC 534/2002:<br />
a) Falta de inserção <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais como um dos órgãos responsá-<br />
veis pela segurança pública<br />
Esse desejo é oriundo da situação topológica <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais no § 8º do art.<br />
144 da Constituição, nos seguintes termos: “Os Municípios poderão constituir guar<strong>das</strong><br />
municipais destina<strong>das</strong> à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a<br />
lei”. O texto aprovado na Comissão Especial, mediante alteração do § 8º e acréscimo do §<br />
10, é o seguinte:<br />
§ 8º Os Municípios poderão constituir guar<strong>das</strong> municipais destina<strong>das</strong> à proteção de<br />
suas populações, de seus bens, serviços, instalações e logradouros públicos muni-<br />
cipais, conforme dispuser lei federal.<br />
§ 10. Compete à União criar, organizar e manter a guarda nacional, com atribuição,<br />
além de outras que a lei estabelecer, de proteger seus bens, serviços e instalações.<br />
Desse texto depreende-se que se quer estender a proteção proporcionada pelas<br />
guar<strong>das</strong> municipais às populações e logradouros públicos dos Municípios. A referência a<br />
“lei federal” em vez de “lei”, simplesmente, é um preciosismo desnecessário e incompatível<br />
com o texto constitucional. Primeiramente porque quando se refere a lei, em sentido gené-<br />
rico, o texto magno não a qualifica como federal, como resultado da interpretação integra-<br />
tiva constitucional. Em segundo lugar, entendemos que a especificação da lei só pode ocor-<br />
rer em relação aos entes de hierarquia inferior, o que decorre da observação de outros dis-<br />
positivos que impõem esse entendimento, cujo exemplo é o texto do § 1º do art. 42, quan-<br />
do faz referência a “lei estadual específica”. Outro desiderato da proposição, albergado<br />
mediante emenda acatada, é a criação da guarda nacional, para proteção dos bens da União,<br />
o que, de certa forma, vem sendo cumprido pela Força Nacional de Segurança Pública,<br />
órgão não previsto constitucionalmente, criada pelo Decreto n. 5.289/2004.<br />
b) Transferência da competência da segurança pública para os Municípios<br />
Essa providência é temerária, na medida em que essa competência, atualmente dos<br />
Estados e Distrito Federal, não é desincumbida com efetividade, faltando um mecanismo<br />
que envolva todos os entes nessas ações, com a supervisão da União. A simples transferên-<br />
cia para os Municípios não resolveria as questões estruturais que atingem principalmente os<br />
Municípios com grandes populações ou integrantes <strong>das</strong> regiões metropolitanas e periferias<br />
43
Claudionor Rocha 44<br />
<strong>das</strong> grandes cidades. Além disso, criaria uma dificuldade a mais para os Municípios de pe-<br />
queno porte, à míngua de recursos orçamentários.<br />
c) Exercício, pelas guar<strong>das</strong> municipais, da função de polícia judiciária e<br />
apuração de infrações penais e ações de polícia ostensiva e de preservação da or-<br />
dem pública, concorrentemente com as polícias civis e <strong>militar</strong>es<br />
Seria a simples criação de mais uma polícia, de nível municipal, com o chamado<br />
ciclo completo, o que, igualmente não solucionaria os problemas da violência e criminali-<br />
dade nas grandes cidades. Quanto às pequenas cidades do interior, teme-se a criação de<br />
verdadeiras guar<strong>das</strong> pretorianas dos prefeitos.<br />
d) Criação <strong>das</strong> polícias municipais<br />
Somos favoráveis a essa medida, desde que feita de forma progressiva, paulatina,<br />
com base em experiências exitosas, iniciando-se pelos Municípios de maior população (ou<br />
pelas capitais, conforme uma <strong>das</strong> propostas) e limitada quanto ao número mínimo de ha-<br />
bitantes, bem como a delimitação constitucional da competência, em termos do alcance <strong>das</strong><br />
ações policiais. Seriam polícias exclusivamente ostensivo-preventivas, proativas, de caráter<br />
comunitário, dentro da filosofia da polícia de proximidade. Assim, mediante autorização e<br />
implantação seletiva <strong>das</strong> polícias municipais, de forma facultativa, ficaria restrita aos Muni-<br />
cípios que satisfizessem alguns critérios sociais preestabelecidos, como, por exemplo, de-<br />
sempenho econômico capaz de sustentar a atividade, presença demográfica que justificasse<br />
a iniciativa, participação política e social da população municipal, dentre outros.<br />
e) Criação de policiais civis e policiais <strong>militar</strong>es municipais<br />
Idéia complementar à da alínea d), mas que peca ainda mais que a da alínea b), ao<br />
perpetuar a existência de polícias <strong>militar</strong>es.<br />
alínea b).<br />
f) Absorção <strong>das</strong> polícias civis e <strong>militar</strong>es pelos Municípios<br />
Além de juridicamente impraticável, esbarra na mesma dificuldade apontada na<br />
g) Subordinação <strong>das</strong> polícias civis e <strong>militar</strong>es aos prefeitos<br />
Potencializa a possibilidade de uso pretoriano <strong>das</strong> forças policiais. A solução é polí-<br />
cias municipais para os grandes Municípios e guar<strong>das</strong> municipais para todos.<br />
h) Extinção <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais, adicionalmente, com a absorção destas<br />
pelas forças policiais estaduais<br />
44
Claudionor Rocha 45<br />
Sugestão evidentemente corporativista, que defende interesses do segmento da se-<br />
gurança privada.<br />
Ao se decidir, portanto, pela criação <strong>das</strong> polícias municipais, se se adotasse o parâ-<br />
metro de 500 mil habitantes como a população mínima para que o Município fosse autori-<br />
zado a criar a – ou transformar a guarda municipal em – polícia municipal, cerca de qua-<br />
renta Municípios seriam contemplados; se o parâmetro fosse 250 mil habitantes, conforme<br />
o texto original do Estatuto para o porte permanente, cerca de 100 Municípios atenderiam<br />
o requisito; adotando-se o limite de 50 mil habitantes, o número já sobe para cerca de seis-<br />
centos Municípios. Boa parte desses Municípios, contudo, integram as regiões metropolita-<br />
nas.<br />
Considerando-se a inexperiência nacional quanto a polícias municipais, cuida-se que<br />
a implantação devesse ser paulatina, iniciando-se pelos Municípios mais populosos, acima<br />
de um milhão de habitantes, por exemplo (quinze municípios) e a partir da criação <strong>das</strong> po-<br />
lícias em um percentual desses municípios (e.g. dois terços), abrir-se-ia a faculdade aos mais<br />
populosos seguintes, acima de quinhentos mil habitantes, por exemplo, e assim, sucessiva-<br />
mente. Essa metodologia permitiria avaliar, ao longo do processo, o sucesso da medida e<br />
corrigir rumos quanto a práticas inadequa<strong>das</strong>, especialmente as tendentes a contornarem os<br />
requisitos legais.<br />
Outro requisito que poderia ser exigido é só autorizar a criação de polícias a partir<br />
de certo prazo de instalação daquelas considera<strong>das</strong> paradigmas: segundo o critério de dois<br />
terços, por exemplo, desde que a polícia criada mais recentemente já estivesse funcionando<br />
há pelo menos um ano. Outro, ainda, poderia ser o de o Município só poder criar sua polí-<br />
cia, mesmo atendendo aos demais requisitos, desde que tivesse a experiência da guarda<br />
municipal há pelo menos dois anos, por exemplo. Uma medida salutar a partir da criação<br />
<strong>das</strong> primeiras polícias municipais ou metropolitanas, seria designá-las como órgãos forma-<br />
dores <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais e não como é, atualmente, quando acabam assimilando toda a<br />
doutrina bélica <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es.<br />
A transformação <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais em polícias municipais não se pode dar,<br />
porém, por mera disposição legal, sem o estabelecimento, ainda a nível constitucional, de<br />
alguns pressupostos para sua atuação conforme esse novo paradigma. Assim é que, a par de<br />
não considerarmos racional a existência de mais de uma polícia em cada esfera de governo<br />
atuando sobre o mesmo território ou executando tarefas inerentes à mesma clientela, no<br />
dizer de Monjardet, ou, ainda, e mais precisamente, mais de uma polícia de ciclo completo<br />
nessas mesmas circunstâncias, não é recomendável que uma polícia municipal tenha a prer-<br />
rogativa de atuar em ciclo completo.<br />
45
Claudionor Rocha 46<br />
8 CONCLUSÃO<br />
Vimos que dentre medi<strong>das</strong> preconiza<strong>das</strong> em estudos e proposições várias, são a<br />
desconstitucionalização dos órgãos de segurança pública, a des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> forças poli-<br />
ciais e a unificação <strong>das</strong> competências <strong>das</strong> polícias estaduais, no chamado ciclo completo.<br />
Quanto à desconstitucionalização, vemos como um retrocesso, na medida em que a<br />
inserção do sistema de segurança pública na Constituição é considerado um avanço, ainda<br />
que tímido, na tentativa de resolução dos problemas pertinentes, com a participação de<br />
todos.<br />
A des<strong>militar</strong>ização, embora repudiada pelos escalões superiores <strong>das</strong> polícias milita-<br />
res e corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es, está em consonância com a alegada desnecessidade de<br />
vinculação dessas forças ao Exército, do qual são considera<strong>das</strong> reservas, como Forças Au-<br />
xiliares. Submetem-se, porém, por determinação constitucional, ao controle daquela Força<br />
Singular, inclusive quanto a efetivos, armamentos e outros itens de logística. Durante o<br />
regime <strong>militar</strong>, mesmo os comandantes <strong>das</strong> Forças Auxiliares eram oriundos <strong>das</strong> Forças<br />
Arma<strong>das</strong>, circunstância que reforçava essa <strong>militar</strong>ização, que atendeu às preocupações do<br />
regime com a eventual formação de forças estaduais numerosas e poderosas. A própria<br />
<strong>militar</strong>ização dos corpos de bombeiros, que atuam na área de defesa <strong>civil</strong>, é completamente<br />
descabida. Entretanto, alguns desses órgãos até hoje são vinculados às polícias <strong>militar</strong>es e,<br />
portanto, às Secretarias de Segurança Pública. 41<br />
Já a extensão <strong>das</strong> atuais competências parciais <strong>das</strong> polícias estaduais para ambas,<br />
visando a detenção do denominado ciclo completo, seria o coroamento do erro primário<br />
de haver duas polícias no nível estadual. Se atualmente a dicotomia existente funda-se<br />
numa pretensa competência diversa, embora com frequência as polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong><br />
invadam as competências uma da outra, a existência de duas polícias com as mesmas<br />
competências seria a “incompetência” administrativa levada ao paroxismo. O que se perde<br />
em economia de escala com a existência de duas polícias, que mal conseguem cumprir as<br />
suas próprias atribuições, seria multiplicado pela agregação de nova competência. Tal<br />
situação poderia tensionar ainda mais os conflitos de atribuições entre as duas corporações,<br />
incrementando a taxa de atrito. 42<br />
41 São vinculados às polícias <strong>militar</strong>es os corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es dos Estados da Bahia, Paraíba, Paraná,<br />
Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.<br />
42 No dizer de Rondon Filho (p. 74) “A taxa de atrito é o indicador utilizado para se medir o percentual de<br />
perda que ocorre em cada instância do Sistema de Justiça Criminal, a partir do número de crimes cometidos,<br />
culminando com o número de infratores que recebem uma pena de prisão, sendo comprovado em outros<br />
países que quanto mais fases existirem maior será a taxa de atrito, ou seja, mais crimes deixarão de ser resolvidos.<br />
A unificação do ciclo policial excluirá uma fase, podendo com isso diminuir a taxa de atrito”.<br />
46
Claudionor Rocha 47<br />
Quanto às guar<strong>das</strong> municipais, o entendimento com o qual comungamos é de que<br />
estão executando serviços de policiamento indevidamente, visto que não há previsão cons-<br />
titucional para tanto. Muitos Municípios legislaram nesse sentido, o que vem causando in-<br />
segurança jurídica entre os cidadãos, entre as forças públicas de segurança e mesmo em<br />
relação à validade dos atos praticados. Entendemos, contudo, que poderiam atuar nessa<br />
vertente, como dito, desde que expressamente previsto constitucional e legalmente, segun-<br />
do certos critérios, como, por exemplo, de atuar na prevenção e repressão imediata <strong>das</strong><br />
infrações de menor potencial ofensivo, desde que sejam estatutárias, arma<strong>das</strong> (ainda que<br />
com armas menos letais) e uniformiza<strong>das</strong>. 43<br />
As guar<strong>das</strong> municipais têm vocação, além do que fazem com amparo no texto<br />
magno, para o policiamento de proximidade, para o acompanhamento da execução <strong>das</strong><br />
penas alternativas, para identificação e encaminhamento de pessoas em situação de risco,<br />
para monitoramento de áreas de risco quanto à degradação dos espaços públicos, infrações<br />
de trânsito, posturais e ambientais e outras atividades não abrangi<strong>das</strong> pela fiscalização ordi-<br />
nária. Dentre essas atividades extraordinárias estariam os atendimentos sociais, hoje presta-<br />
dos pelas polícias, que, só em São Paulo, representam mais de 25% dos recursos humanos<br />
e materiais empregados, só na polícia <strong>militar</strong>, em detrimento do combate à criminalidade.<br />
Nas grandes cidades poderiam coexistir polícia municipal e guarda municipal, em-<br />
bora acreditemos que o ideal fosse um ou outro modelo, segundo os critérios a serem defi-<br />
nidos. Sua atuação poderia se limitar a complementar as ações <strong>das</strong> polícias atuais, atuando<br />
previamente à chegada dessas, como ocorrem com as briga<strong>das</strong> contra incêndio em relação<br />
aos corpos de bombeiros.<br />
Outro ponto de vista defendido é a atuação <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais em atividades<br />
de segurança pública, desde que haja convênio com os órgãos de segurança estaduais. Essa<br />
situação, porém, condiciona a própria existência do convênio, cuja celebração pode ficar ao<br />
arbítrio do poder público estadual, especialmente considerando-se questões ideológicas e<br />
político-partidárias eventualmente envolvi<strong>das</strong>.<br />
Entende-se que, como os problemas sociais se manifestam no Município, sendo aí<br />
onde as pessoas nascem, criam-se e desenvolvem suas atividades, ali é o lugar onde o poder<br />
público deve centralizar a excelência do serviço à coletividade e ao indivíduo.<br />
Embora o sistema policial brasileiro se insira dentre os denominados centralizados,<br />
cujo paradigma é o adotado na França, nada impede que se caminhe para um sistema mais<br />
descentralizado, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, mediante a criação de polí-<br />
cias municipais nas grandes cidades.<br />
43 O conceito de arma não-letal está superado, pois a letalidade depende da forma como a arma é utilizada.<br />
47
Claudionor Rocha 48<br />
Nos estudos mencionados, de autoria dos consultores legislativos desta Casa,<br />
apontaram-se aspectos positivos para a criação <strong>das</strong> polícias municipais, como: o controle da<br />
atividade policial pela sociedade local; o controle da polícia sobre a sociedade local (na<br />
forma de guar<strong>das</strong>-quarteirão, similar aos guar<strong>das</strong> da paz, no sistema japonês) e a colabora-<br />
ção da população com a instituição policial. Como aspectos negativos citados: a ausência de<br />
magistratura e de promotorias municipais, na hipótese de ciclo completo (mas, emendaría-<br />
mos, embora haja Poder Judiciário apenas nos níveis federal e estadual, os diplomas penais<br />
e processuais são apenas federais); o desvio de emprego (polícias paroquiais envolvi<strong>das</strong> em<br />
quartela<strong>das</strong> em meio a dissídios político-eleitorais); as despesas de custeio transferi<strong>das</strong> aos<br />
municípios (o que pode ser contraposto pela possibilidade de criação <strong>das</strong> polícias munici-<br />
pais facultativamente, como hoje o é quanto às guar<strong>das</strong>); a falta de unidade de doutrina<br />
(que implica a necessidade de criação de um órgão suprainstitucional que gerisse o sistema<br />
<strong>das</strong> polícias e mesmo <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais); e a permanência dos vícios anteriores, espe-<br />
cialmente o modelo <strong>militar</strong>izado, a direção desses órgãos por ex-<strong>militar</strong>es e o treinamento<br />
por corporações <strong>militar</strong>es.<br />
Consta que algumas guar<strong>das</strong> municipais possuem até tropas de choque, o que, no<br />
estágio atual, não se coaduna com suas missões. Está tão arraigado o perfil <strong>militar</strong> que a<br />
própria imprensa trata as instalações <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> como batalhões. O risco que envolve a<br />
falta de estabelecimento de um perfil cidadão, com unidade de doutrina e uniformidade de<br />
procedimentos – também observável quanto às demais polícias – pôde ser constatado em<br />
recente acontecimento em que guar<strong>das</strong> municipais se envolveram com tiroteio desnecessá-<br />
rio do qual resultou vítima fatal.<br />
Por fim, remetemos à leitura de nosso estudo mencionado, 44 em cujo subitem 6.4<br />
tratamos da polícia municipal e em cuja conclusão (item 7) sobre órgãos policiais opinamos<br />
da forma transcrita a seguir.<br />
Ante o exposto, consideramos adequado, portanto, a existência dos seguintes or-<br />
ganismos policiais, previstos constitucionalmente:<br />
1) uma polícia federal, instituída por lei como órgão público permanente,<br />
organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, com as atribuições atuais da<br />
polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal, atuando em ciclo<br />
completo, podendo dispor, em sua estrutura, de um ou mais segmentos próprios voltados à<br />
polícia de ordem, à polícia preventiva e à polícia repressiva, cujos procedimentos e controle<br />
externo seriam vinculados à Justiça Federal e Ministério Público Federal, respectivamente;<br />
44 Considerações sobre a criação de novos órgãos policiais, disponível em .<br />
48
Claudionor Rocha 49<br />
2) uma polícia estadual em cada Estado e Distrito Federal, instituída por lei<br />
estadual como órgão público permanente, organizada e mantida pelo Estado 45 e estruturada<br />
em carreira, com as atribuições atuais da polícia <strong>civil</strong> e da polícia <strong>militar</strong>, atuando em ciclo<br />
completo, podendo dispor, em sua estrutura, de um ou mais segmentos próprios voltados à<br />
polícia de ordem, à polícia preventiva e à polícia repressiva, cujos procedimentos e controle<br />
externo seriam vinculados à Justiça Estadual e Ministério Público Estadual,<br />
respectivamente 46;<br />
3) uma polícia municipal, no nível do Município, instituída facultativamente apenas<br />
por aqueles que disponham de guarda municipal com a prerrogativa de porte de arma de<br />
fogo, nos termos dos art. 6º, incisos III e IV da Lei n. 10.826/2003, por transformação<br />
dessa guarda municipal, como órgão público permanente, organizada e mantida pelo<br />
Município e estruturada em carreira, com as atribuições atuais <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais,<br />
atuando como polícia preventiva e repressiva imediata, podendo dispor, em sua estrutura,<br />
de segmentos próprios voltados à polícia de guarda patrimonial e de equipamentos<br />
públicos, polícia comunitária ou de proximidade, polícia de trânsito, polícia ambiental e<br />
outras, conforme as necessidades de interesse local; e, ainda, podendo celebrar convênios<br />
para atuar em municípios limítrofes que não possam instituir sua polícia municipal.<br />
Tais polícias possuiriam em suas estruturas órgãos centrais de informação<br />
capilarizados o suficiente para abastecer as unidades e subunidades de dados necessários<br />
para a execução de suas atividades. Além disso, teriam corregedoria e ouvidoria<br />
independentes, a primeira com carreira própria e ambas com possibilidade de investigação.<br />
Nessa perspectiva, os corpos de bombeiros <strong>militar</strong>es ficariam vinculados aos<br />
organismos de defesa <strong>civil</strong>, também adotando a natureza de força <strong>civil</strong>, ainda que<br />
autorizados ao uso da força em nome da incolumidade pública.<br />
Outra opção com relação às polícias municipais é, igualmente atuando em ciclo<br />
completo, realizar a prevenção e repressão dos crimes de menor potencial ofensivo. Pode<br />
ser difícil convencer os mais céticos a passar de uma guarda patrimonial para uma polícia<br />
com poderes praticamente equivalentes aos <strong>das</strong> polícias estaduais atuais. O máximo que se<br />
concede, nas proposições tratando <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais, é sua ação complementar à <strong>das</strong><br />
polícias <strong>militar</strong>es, atuando apenas preventivamente. Entretanto, o mesmo raciocínio que<br />
leva as polícias <strong>militar</strong>es a advogarem para si a repressão dos crimes de menor potencial<br />
ofensivo e, até, o ciclo completo mantendo-se a estrutura atual, pode ser transposto para a<br />
tese da polícia municipal. Não faria muito sentido, na verdade, a guarda municipal poder<br />
45 Nos termos da justificativa que manteve as polícias do Distrito Federal organiza<strong>das</strong> e manti<strong>das</strong> pela União,<br />
tal situação poderia ser preservada (art. 21, inciso XIV da Constituição).<br />
46 O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) integra o Ministério Público da União<br />
(MPU), conforme disposto no art. 128 da Constituição.<br />
49
Claudionor Rocha 50<br />
atuar preventivamente, em complemento à atividade da polícia <strong>militar</strong>, se não pudesse<br />
realizar a repressão imediata. É o mesmo que imaginar a polícia <strong>militar</strong> realizando a<br />
prevenção e solicitando a presença da polícia <strong>civil</strong> para executar a prisão. Por tal razão<br />
lógica, certamente, é que hoje, mesmo sem competência expressa para tal, as guar<strong>das</strong><br />
municipais executam a repressão imediata, o que, aliás, é facultado a qualquer pessoa.<br />
A coexistência dessas polícias, em três níveis, federal, estadual e municipal, seria<br />
possível mediante o estabelecimento, em sede constitucional, <strong>das</strong> respectivas competências.<br />
A competência seria definida segundo dois critérios, o territorial e o material. Assim, a<br />
polícia federal, com circunscrição em todo o território do país, manteria a competência<br />
atual de polícia preventiva, judiciária e investigativa da União, isto é, nas hipóteses em que<br />
estejam envolvidos interesses da União ou nos considerados “crimes federais”, de<br />
repercussão transnacional ou transestadual. 47 A polícia estadual, com competência no<br />
território do respectivo Estado, coibiria crimes de médio e grande potencial ofensivo que<br />
não estivessem na competência da polícia federal. As polícias municipais, com competência<br />
na área do Município (e também nas dos vizinhos, na hipótese de convênio) se<br />
encarregariam dos crimes de menor potencial ofensivo.<br />
Cuidamos igualmente que, à exceção <strong>das</strong> polícias municipais, com a adoção <strong>das</strong><br />
cautelas menciona<strong>das</strong>, não é aconselhável a criação de novos órgãos policiais onde já<br />
existem forças próprias do ente federado, dentro de cada Poder, especialmente mais de<br />
uma polícia atuando em ciclo completo segundo os mesmos critérios geográfico ou<br />
funcional. As necessidades de provimento de policiamento ou atividades especiais em<br />
determinados segmentos podem ser providos pela polícia federal, no âmbito da União,<br />
sendo desnecessária, portanto, a criação de polícia universitária, polícia marítima, polícia<br />
aquaviária e outras modalidades, uma vez que as forças públicas existentes já atuam nessas<br />
frentes, segundo suas competências constitucionais. O que pode ser feito é o<br />
aparelhamento <strong>das</strong> forças existentes, incluindo o incremento do aporte orçamentário, o não<br />
contingenciamento e até a garantia de aplicação mínima em segurança pública da receita<br />
apurada em cada ente da federação.<br />
Consideramos uma providência essencial a discussão exaustiva do modelo que se<br />
pretende, de início não restringindo direitos, mas os ampliando, ao alargá-los de uma<br />
polícia à outra no momento da unificação. Essa providência nada mais seria que o singelo<br />
reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados pelos bravos <strong>militar</strong>es e policiais<br />
estaduais e distritais que tantas agruras enfrentam na tentativa de superar as mazelas<br />
47 Insistimos, aqui, na preservação da competência <strong>das</strong> polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do<br />
Senado Federal, bem como <strong>das</strong> polícias legislativas estaduais eventualmente cria<strong>das</strong>, sem descurar do caráter<br />
de terem circunscrição edilícia, ou seja, suas competências não vão além <strong>das</strong> áreas edifica<strong>das</strong> ou sob administração<br />
<strong>das</strong> respectivas casas legislativas.<br />
50
Claudionor Rocha 51<br />
potencializa<strong>das</strong> pela atual dicotomia. Na mesma vertente, eventual discussão deve alinhavar<br />
a legislação infraconstitucional decorrente da atualização constitucional, como medida<br />
preventiva ao hiato legislativo que sói ocorrer nessas circunstâncias. De inegável utilidade<br />
no sentido da repercussão favorável às medi<strong>das</strong> a serem implementa<strong>das</strong> é o<br />
estabelecimento de regras de transição o mais claras, abrangentes e equitativas possíveis, de<br />
modo a não discriminar violentamente, por uma vírgula, situações quase similares.<br />
Lembramos que quase to<strong>das</strong> as variáveis aqui menciona<strong>das</strong> foram objeto de<br />
discussão e sugestões durante a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada em<br />
Brasília, de 27 a 30 de agosto de 2009. Em período pretérito se tentou mudar a estrutura da<br />
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), com a instituição da Nova Polícia, sem<br />
grande sucesso, porém, além do que o projeto não contemplava mudanças necessárias na<br />
coirmã polícia <strong>militar</strong>. Desta, ressalte-se as atuais Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP),<br />
que retomam dos narcotraficantes o controle social dos morros cariocas, num claro<br />
simbolismo de que a polícia deve significar serviço e proteção.<br />
9 REFERÊNCIAS<br />
ADORNO, Sérgio. Insegurança versus direitos humanos – entre a lei e a ordem. Tempo<br />
Social, Revista de Sociologia da USP, v. 11, n. 2, 2000.<br />
______. Monopólio estatal da violência na sociedade brasileira contemporânea. In: MICE-<br />
LLI, S. (Org.). O que ler na ciência social brasileira. 1970-2002. São Paulo: Anpocs. Ed. Sumaré;<br />
Brasília: Capes, 2002.<br />
ADORNO, Sérgio & PERALVA, Angelina. Estratégias de intervenção policial no Estado<br />
contemporâneo. Tempo Social, São Paulo, 1997.<br />
ALONSO, Annibal Martins. Organização Policial. História. Legislação. Administração. Rio de<br />
Janeiro: Freitas Bastos,1959.<br />
ALVES, Emilia. A face oculta do ensino policial <strong>militar</strong> e a formação do jovem policial. Dissertação<br />
de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Educação, Ufes, 2004.<br />
AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Direito e Segurança Pública: a juridicidade operacional da<br />
polícia. Brasília: Consulex, 2003.<br />
AMENDOLA, Paulo. Segurança pública: a proposta de como aumentar a capacidade pre-<br />
ventiva da polícia. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.<br />
51
Claudionor Rocha 52<br />
ANDRADE, Euclides & CAMARA, Hely Fernandes da. A Força Pública de São Paulo: esbo-<br />
ço histórico – 1831-1931. Sociedade Impressora Paulista, São Paulo, 1931.<br />
ANISTIA INTERNACIONAL. Relatório Eles entram atirando: policiamento de comunida-<br />
des socialmente excluí<strong>das</strong> no Brasil (Índice AI: AMR 19/025/2005).<br />
ANJOS, Erly E. Ordem, compreensão, transformação social e a violência hoje. Vitória: CEG/Edufes,<br />
1999.<br />
ARANTES, Rogério B. e CUNHA, Luciana G. S. “Polícia <strong>civil</strong> e segurança pública: pro-<br />
blemas de funcionamento e perspectivas de reforma”. In: M. T. Sadek (org.), Delegados de<br />
Polícia. São Paulo, Sumaré, 2003, pp. 96-139.<br />
ARAÚJO, Flamarion Vidal. Polícia única. Disponível em . Consultado em 15 jan. <strong>2010</strong>.<br />
ARAÚJO, Paulo Magalhães. Implantação da polícia estadual. Disponível em<br />
. Consultado em 15 jan. <strong>2010</strong>.<br />
ARAÚJO FILHO, Wilson de (2003). “Ordem pública ou ordem unida? Uma análise do<br />
curso de formação de soldados da Polícia Militar em composição com a política de segu-<br />
rança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro: possíveis dissonâncias”. In: Políticas<br />
públicas de justiça criminal e Segurança Pública. Universidade Federal Fluminense, Núcleo Flu-<br />
minense de Estudos e Pesquisas, NUFEP, Instituto de Segurança Pública, RJ. – Niterói:<br />
EdUFF: Instituto de Segurança Pública, mimeo.<br />
ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. Ed. Jerone Kohn. Rev. técnica Bethânia<br />
Assy e André Duarte. Trad. Rosaura Einchenberg. São Paulo: Companhia <strong>das</strong> Letras, 2004.<br />
______. Sobre a violência. Trad. de André Duarte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.<br />
ASHENHUST, Paul H., La policia y la sociedad, México, Editorial Limusa-Wiley, S.A., 1964.<br />
BALESTRERI, Ricardo Brisolla. Direitos humanos: coisa de polícia. Passo Fundo, RS: Capec<br />
– Pater Editora, s/d.<br />
BARBOSA, Edson Martim & SOUZA, Expedito Manoel Barbosa de. Polícia Estadual e o<br />
"Complexo do Zorro": a competição na atividade operacional. s/d, s/l.<br />
BARCELLOS, Caco. Rota 66: a história da polícia que mata. Rio de Janeiro: Record, 2003.<br />
BARREIRA, C. (org.). 2004. Questão de segurança: políticas governamentais e práticas<br />
sociais. Rio de Janeiro: Relume Dumará.<br />
52
Claudionor Rocha 53<br />
BARREIRA, César. Trilhas e atalhos do poder – conflitos sociais no sertão. Rio de Janeiro: Rio<br />
Fundo Editora, 1992a.<br />
______. “Le pistolet et la politique (La mort sur ordonnance)”. Cahiers du Brésil Contempo-<br />
rain. Paris, n. 17, 1992b.<br />
______. “Os pactos na cena política cearense: passado e presente”. Revista do Instituto de<br />
Estudos Brasileiros. São Paulo, v. 40, p. 31-50, 1996.<br />
______. Crimes por encomenda – violência e pistolagem no cenário brasileiro. Rio de Janeiro: Relume<br />
Dumará Editora, 1998a.<br />
______. “Lugar de policial é na política? estratégias simbólicas de afirmação e negação”. In:<br />
BARREIRA, I.; PALMEIRA, M. (Orgs.). Candidatos e candidaturas – enredos de campanha eleito-<br />
ral no Brasil. São Paulo: Anna Blume Editora, 1998b.<br />
______. “Massacres: monopólios difusos da violência”. Revista Crítica de Ciências Sociais.<br />
Coimbra, n. 57-58, p. 169-186, 2000.<br />
______. “Em nome da lei e da ordem: a propósito da política de segurança pública”. São<br />
Paulo em Perspectiva, 18(1): 77-86, 2004.<br />
BARRETO, Mascarenhas. História da polícia em Portugal, Braga – Lisboa: Braga Editora,<br />
1979.<br />
BASTOS, Manoel de Jesus Moreira. Para onde querem nos levar? Direito Militar, Revista da<br />
Associação dos Magistrados <strong>das</strong> Justiças Militares Estaduais – AMAJME. Florianópolis: [s.<br />
ed.], 1999, ano IV, n. 20, p. 9/10.<br />
BAYLEY, David H. Padrões de policiamento: uma análise comparativa internacional. Trad.<br />
Renê Alexandre Belmonte. – 2. ed. 1. reimpr. – São Paulo: Edusp, 2006. – (Série Polícia e<br />
Sociedade; n. 1).<br />
______. (1975), "The Police and Political Development in England", in C. Tilly (ed.), The<br />
Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, pp. 328-<br />
379.<br />
______. (1994), Police for the Future. New York: Oxford University Press.<br />
______. What works in policing. New York: Oxford University Press, 1998.<br />
53
Claudionor Rocha 54<br />
______ & SKOLNIK, Jerome H. Nova polícia: inovações nas polícias de seis cidades<br />
norte-americanas. Trad. Geraldo Gerson de Souza. – 2. ed. 1. reimpr. – São Paulo: Edusp,<br />
2006. – (Série Polícia e Sociedade; n. 2/Organização: Nancy Cardia).<br />
BEATO, Claudio, RABELO, Karina & OLIVEIRA JÚNIOR, Almir de. “Reforma policial<br />
no Brasil”. In: Compreendendo e avaliando: projetos de segurança pública. Org. Claudio Beato.<br />
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 167-217.<br />
BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Ação e estratégia <strong>das</strong> organizações policiais. Belo Horizonte.<br />
UFMG, mimeo, 1999. Disponível em .<br />
BELLI, Benoni. Tolerância zero e democracia no Brasil: visões de segurança pública na década<br />
de 90. São Paulo: Perspectiva, 2004.<br />
BICUDO, Hélio. O Brasil cruel e sem maquiagem. São Paulo: Editora Moderna, 1994.<br />
______. “Unificação <strong>das</strong> Polícias no Brasil”. In: Estudos Avançados, vol. 14, n. 40, sept./dec.<br />
2000. Brasil: dilemas e desafios III. pp. 91-106.<br />
BISCAIA, Antônio Carlos (Coord). Plano de Segurança Pública para o Brasil. Instituto Cidada-<br />
nia. Fundação Djalma Guimarães. s.l. : [s. ed.], 2003.<br />
BITTEL, Lester R. Supervisão eficaz. Trad. de Auriphebo Berrance Simões. São Paulo:<br />
McGraw Hill, 1982.<br />
BITTNER, Egon. Aspectos do trabalho policial. São Paulo: Edusp, 2003. – (Série Polícia e So-<br />
ciedade; n. 8/Organização: Nancy Cardia).<br />
______. The functions of police in modern society: a review of background factors, current prac-<br />
tices, and possible role models. New York : Janson Aronson, 1975.<br />
BLANCO, A. “Sistemas e funções de segurança pública. Fórum de debates criminalidade,<br />
violência e segurança pública no Brasil: uma discussão sobre as bases de dados e questões<br />
metodológicas”. 1º Encontro: Conceituação de sistema de justiça criminal...: as bases de<br />
dados policiais. Revista Instituto de Pesquisas Econômicas Aplica<strong>das</strong> – Ipea, 2000.<br />
______. “Prevenção primária, polícia e democracia”. In: Das políticas de segurança pública às<br />
políticas públicas de segurança. s. l.: Illanud, 2002.<br />
______. “GPAE: uma experiência de polícia comunitária”. In: O galo e o pavão. s. l.: Comu-<br />
nicações do Iser, 2003.<br />
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 3. reimp. Rio de Janeiro: Elvesier, 2004.<br />
54
Claudionor Rocha 55<br />
BORGES, Lívia. A sombra do guerreiro: o impacto dos estados anômicos na imagem do poli-<br />
cial <strong>militar</strong>. Brasília: Fortium, 2008.<br />
BRANDÃO, Alaor Silva. Crônicas da Força Pública. São Paulo: Legnar Informática & Edito-<br />
ra, 1999.<br />
BRASIL, Maria Glaucíria. A segurança pública no “Governo <strong>das</strong> Mudanças”: moralização, mo-<br />
dernidade e participação. Tese (Doutorado) – São Paulo, 2000.<br />
______ e ABREU, Domingos. “Uma experiência de integração <strong>das</strong> polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong>:<br />
os distritos-modelo em Fortaleza”. Sociologias, Porto Alegre, ano 4, n. 8, jul/dez 2002, pp.<br />
318-355.<br />
BRASIL. Ministério da Justiça. Bases curriculares para a formação dos profissionais da área de segu-<br />
rança do cidadão. – Brasília: Ministério da Justiça, 2000.<br />
______. Plano de segurança pública para o Brasil. Brasília: Governo Federal, 2001.<br />
______. Ministério do Exército. Sistema de assuntos civis <strong>das</strong> Polícias Militares. Inspetoria Geral<br />
<strong>das</strong> Polícias Militares, 1973.<br />
BRETAS, Marcos Luiz. A guerra <strong>das</strong> ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de<br />
Janeiro, Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1997.<br />
______. “Observações sobre a falência dos modelos policiais”. Tempo Social. São Paulo.<br />
Revista de Sociologia da USP, v. 9, n. 1, maio 1997.<br />
______. “A polícia carioca no Império”. Rio de Janeiro: Revista Estudos Históricos, n. 22, vol.<br />
12, p. 219-234, 1998.<br />
______ & PONCIONI, Paula. “A cultura policial e o policial carioca”. In: PANDOLFI,<br />
Dulce Chaves et al. (Orgs.) Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio<br />
Vargas, 1999, pp. 149-164.<br />
BRODEUR, Jean-Paul. “La police en Amérique du Nord: modèles ou effets de mode?”,<br />
Les Cahiers de la Sècurité Intèrieure, [s.l.], n. 28, 2 trimestre, 1997.<br />
______. Como reconhecer um bom policiamento: problemas e temas. São Paulo: Edusp, 2002. –<br />
(Série Polícia e Sociedade; n. 4/Organização: Nancy Cardia).<br />
BRYETT, Keith. “The policing dynamic”. Policing: An International Journal of Police Strategies<br />
& Management. v. 22, n. 1., 1999, p. 30-44.<br />
55
Claudionor Rocha 56<br />
CALDEIRA, Cesar. “Política de segurança pública no Rio. Apresentação de um debate<br />
público”. Archè Interdisciplinar, Faculdades Integra<strong>das</strong> Cândido Mendes, Rio de Janeiro,<br />
1998.<br />
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São<br />
Paulo. São Paulo: Edusp, 2000.<br />
CANO, Ignacio & SANTOS, Nilton. Violência letal, renda e desigualdade social no Brasil. Rio de<br />
Janeiro: 7 Letras, 2001.<br />
CANAVÓ FILHO, José & MELO, Edilberto de Oliveira. Asas e Glórias de São Paulo. São<br />
Paulo: IMESP, 2. ed., 1978.<br />
CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência: a polícia da Era Vargas. Brasília: EdUnB, 1993.<br />
CARDIA, Nancy. “A violência urbana e os jovens”. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio et al.<br />
São Paulo sem medo: um diagnóstico da violência urbana. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.<br />
______. Atitudes, normas culturais e valores em relação à violência em dez capitais brasileiras. Brasília:<br />
Ministério da Justiça, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 1999.<br />
CARDOSO, Dirceu Gonçalves. “O risco da des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es”. Di-<br />
reito Militar, Revista da Associação dos Magistrados <strong>das</strong> Justiças Militares Estaduais – AMAJME.<br />
Florianópolis: [s.ed.], 1999, ano IV, n. 19, p. 32/33.<br />
CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial. Brasília: Edi-<br />
tora UnB, 1981.<br />
______. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia<br />
<strong>das</strong> Letras, 1987.<br />
______. A Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.<br />
______. Forças Arma<strong>das</strong> e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.<br />
CARUSO, H. G. C. Das práticas e dos saberes: a construção do “fazer policial” entre as praças da<br />
PMERJ. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Ciên-<br />
cia Política da Universidade Federal Fluminense como requisito para obtenção do grau de<br />
Mestre, 2004.<br />
CASTRO, Jeanne Berrance de. A Milícia Cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. São<br />
Paulo: Editora Nacional, 1977.<br />
56
Claudionor Rocha 57<br />
CASTRO, Celso. O espírito <strong>militar</strong>: um estudo de antropologia social na Academia Militar<br />
<strong>das</strong> Agulhas Negras. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.<br />
CAUS, Douglas, GOMES, F. L & RAMOS JUNIOR, M. F. A atuação da polícia <strong>militar</strong> do<br />
estado do Espírito Santo nas ocorrências assistenciais e sua influência na comunidade: visão dos princi-<br />
pais atores. Vitória: Ufes/CCJE/Ciesp, 2001.<br />
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Políticas de Segurança Pública para um Estado<br />
Democrático de Direito Chamado Brasil”. In: Discursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade,<br />
ano 1, n. 2, 1996, pp. 191-211.<br />
______. “Re<strong>militar</strong>ização da segurança pública: a operação Rio”. In: Discursos Sediciosos –<br />
Crime, Direito e Sociedade, ano 1, Rio de Janeiro: Relume & Dumará, 1996.<br />
______. Políticas de segurança pública para um estado de direito chamado Brasil: o futuro de uma<br />
ilusão – o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: s. n., 1998. (Col. Polícia Amanhã).<br />
______. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos<br />
Editora, 2001. (Coleção Polícia Amanhã).<br />
CHAN, Janet. B. L. Changing police culture: polincing in multicultural society. Cambridge:<br />
Cambridge University Press, 1997.<br />
CHEVIGNY, Paul. “Definindo o papel da polícia na América Latina”. In: PINHEIRO,<br />
Paulo Sergio, MENDEZ, Juan & O’DONNELL, Guilherme (Orgs.). Democracia, violência e<br />
injustiça. São Paulo: Paz e Terra, 2000.<br />
CINTRA, Antônio Octávio. “A Política Tradicional Brasileira: Uma Interpretação <strong>das</strong> Re-<br />
lações entre o Centro e a Periferia”. In: Cadernos do Departamento de Ciência Política da UFMG,<br />
n. 1, 1974, pp. 59-112.<br />
CLEAVER, Ana Julieta Teodoro. As polícias: uma narrativa do quartel e da delegacia. Dis-<br />
sertação apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília como<br />
requisito para obtenção do grau de Bacharel. Orientadora: Mireya Suárez. Brasília, 2000.<br />
COELHO, Edmundo Campos. Em Busca de Identidade: o Exército e a política na sociedade<br />
brasileira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976.<br />
______. “Constituição e Segurança Pública”. Indicador, v. 7, n. 28, 1989, pp. 1.003-1.006.<br />
______. A oficina do diabo e outros estudos sobre criminalidade. Rio de Janeiro: Record, 2005.<br />
57
Claudionor Rocha 58<br />
COMBLIN, Joseph. A ideologia da segurança nacional: o poder <strong>militar</strong> na América Latina. Rio<br />
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.<br />
CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILI-<br />
TARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL. “Declaração ao povo<br />
brasileiro e, em especial, às autoridades responsáveis pela segurança pública do país”. Di-<br />
reito Militar, Revista da Associação dos Magistrados <strong>das</strong> Justiças Militares Estaduais – AMAJME.<br />
Florianópolis: [s. ed.], 1999, ano IV, n. 19, p. 5<br />
______. Declaração ao povo brasileiro e, em especial, às autoridades responsáveis pela segurança pública<br />
do país. Carta de Brasília. Brasília: [s. ed.], 2002.<br />
COSTA, Arthur & MEDEIROS, Mateus. "A des<strong>militar</strong>ização <strong>das</strong> polícias: policiais, solda-<br />
dos e eemocracia". Teoria e Sociedade, v. 1, n. 11, 2003, pp. 66-89.<br />
COSTA, Naldson Ramos da. O paradoxo: o Estado Democrático de Direito e a violência.<br />
Cuiabá: [s. ed.], 2003.<br />
COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas polícias<br />
do Rio de Janeiro e Nova York. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004.<br />
COUTINHO, Ana Helena Cardoso. Controle social, violência urbana e direitos humanos: políticas<br />
de segurança pública, CNPq/PIBIC. Disponível em . Consultado em 16/3/2008.<br />
COUTINHO, Leonardo. “Pânico em Salvador”. Revista Veja, ed. de 18 jul. 2001, Editora<br />
Abril, São Paulo.<br />
CRANK, John P. & LANGWORTHY, Robert. "An institutional perspective of policing".<br />
The Journal of Criminal Law & Criminology, v. 83, n. 2, 1992, pp. 338-363.<br />
CUNHA, Altair de Freitas. “Sistema Policial Espanhol”. In: Unidade Revista de Assuntos Téc-<br />
nicos de Polícia Militar, ano XVIII, n. 43, Porto Alegre: Gráfica Santa Rita, 2000.<br />
DALLARI, Dalmo de Abreu. "Organização policial integrada". In: Revista Trimestral de Di-<br />
reito Público, n. 4, 1993, pp. 161-171.<br />
DELPHINO, Plínio. “USP quer o Corpo de Bombeiros separado da PM”. Diário de São<br />
Paulo. São Paulo. 2. ed. de 21 out. 2001.<br />
58
Claudionor Rocha 59<br />
DEMONER, Sonia Maria. História da polícia <strong>militar</strong> do Espírito Santo 1835–1985. Vitória, ES,<br />
1985.<br />
DIAS, Mário Gomes. “Limites à actuação <strong>das</strong> forças e serviços de segurança”. In: Direitos<br />
Humanos e Eficácia Policial – Seminário Internacional, Lisboa, IGAI, 1998.<br />
DIAS NETO, Theodomiro. Policiamento comunitário e controle sobre a polícia: a experiência<br />
norte-americana. São Paulo: IBCCRIM, 2000.<br />
DORNELLES, João Ricardo W. Conflitos e segurança: entre pombos e falcões. Rio de Janei-<br />
ro: Lumem Júris, 2003.<br />
D’URSO, Luiz Flávio Borges. “Unificação <strong>das</strong> Polícias”. Revista Prática Jurídica. s.l.: Editora<br />
Consulex, 2003, ano II, n. 14, 31 maio 2003, p. 30.<br />
ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia <strong>das</strong> relações de poder a partir de<br />
uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.<br />
ENGEL, S. T. & BURRUSS, G. W. “Human rights in the new training curriculum of the<br />
police service of Northern Ireland”. Policing: An International Journal of Police Strategies &<br />
Management. v. 27, n. 4., 2004, p. 498-511.<br />
FEGHALI, Jandira, MENDES, Candido & LEMGRUBER, Julita (Orgs.). Reflexões sobre a<br />
violência urbana: (in) segurança e (des) esperanças. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006.<br />
FERNANDES, José. “O policiamento em zonas de intervenção prioritária”. In: Controlo<br />
Externo da Actividade Policial, Lisboa, IGAI, 1998.<br />
FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Política e Segurança. São Paulo: Alfa-Ômega, 1974.<br />
FERRET, Jérôme & OCQUETEAU, Frédéric. Évaluer la Police de proximité? Problèmes,<br />
concepts, méthodes. Paris: IHESI, 1998.<br />
FITZGERALD, G.E. Report of inquiry into possible illegal activities and associated police misconduct.<br />
Brisbane: State Government Printer, 1989.<br />
FOLHA DE SÃO PAULO. “Pesquisador defende a estrutura hierárquica”. São Paulo, 17<br />
abr. 2001. Caderno1.<br />
______. “PM quer aprender com gays a lidar com gays”. Caderno Cotidiano. 30 dez. 2005.<br />
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11. reimpr. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1995.<br />
59
Claudionor Rocha 60<br />
______.Vigiar e punir: a história da violência nas prisões. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora<br />
Vozes, 1996.<br />
FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. Formação Policial. Breve Diagnóstico: Desafios e<br />
Perspectivas. Disponível em . Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
FRADE, Laura. Quem mandamos para a prisão?: visões do parlamento brasileiro sobre a cri-<br />
minalidade. Brasília: Liber Livro Editora, 2008.<br />
FRAGA, Cristina Kologeski. “Peculiaridades do trabalho policial <strong>militar</strong>”. Revista Virtual<br />
Textos & Contextos. n. 6, ano V, dez. 2006. Disponível em<br />
. Consultado em 26 jan. <strong>2010</strong>.<br />
FREITAS, Geovani Jacó de. Ecos da violência: narrativas e relações de poder no nordeste<br />
canavieiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará : Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ,<br />
2003. – (Coleção Antropologia da política ; 20).<br />
GARLAND, D. The culture of control: crime and social order in contemporary society. Chica-<br />
go: The University of Chicago Press, 2001.<br />
GIULIAN, Jorge da Silva. “O conflito da dicotomia policial estadual caracterizado nas ati-<br />
vidades repressivas típicas de Estado”. Direito Militar, Revista da Associação dos Magistrados<br />
<strong>das</strong> Justiças Militares Estaduais – AMAJME. Florianópolis: [s. ed.], 1998, ano II, n. 12, p.<br />
29/32.<br />
GLEIZAL, Jean-Jacques, “Sécurité, Modernisation et Institutions”, in Les Cahiers de la Secu-<br />
rité Interieure, n. 2, Paris, IHESI, Juillet-Septembre, 1990.<br />
GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.<br />
GOLDSTEIN, Herman. Policiando uma sociedade livre. Trad. Marcello Rollemberg. Rev. da<br />
trad. Maria Cristina P. da Cunha Marques. São Paulo: Edusp, 2003. – (Série Polícia e Socie-<br />
dade; n. 9/Organização: Nancy Cardia).<br />
GOMES, Heraldo. Vestígios de inteligência policial. Rio de Janeiro: Espaço e Tem-<br />
po/Garamond, 2000.<br />
GOUVEIA, Joilson Fernandes de. “Unificação <strong>das</strong> polícias: ar-<br />
dil perigoso e enganador”. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 38, jan. 2000. Disponível em<br />
. Consultado em 7 fev. <strong>2010</strong>.<br />
60
Claudionor Rocha 61<br />
GRAEFF, Beatriz Porfírio. O policial <strong>militar</strong> em tempos de mudança: ethos, conflitos e solidarie-<br />
dades na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado apresentada ao<br />
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia da<br />
Universidade de Brasília. Orientadora: Profa. Dra. Carla Costa Teixeira. Brasília, 2006.<br />
GRAEF, Roger. Talking blues: the police in their own words. London: Collins Harvill, 1989.<br />
GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro, Editora<br />
UFRJ, 1997.<br />
GREENE, Jack R. (Org.) Administração do trabalho policial: questões e análises. Trad. Ana<br />
Luísa Amêndola Pinheiro. São Paulo: Edusp, 2002. – (Série Polícia e Sociedade; n.<br />
5/Organização: Nancy Cardia).<br />
HAZENBERG, Anita. Programa “Polícia e Direitos Humanos 1997-2000”, in Direitos Hu-<br />
manos e Eficácia Policial – Seminário Internacional, Lisboa, Inspecção Geral da Administração<br />
Interna, 1998.<br />
HENRY, V. E. The CompStat Paradigm. Flushing, NY: Looseleaf Law Publications, 2003.<br />
HERBERT, S. “The end of the territorially-sovereign state? The case of crime control in<br />
the United States”. Political Geography, [s.l.], v. 18, n. 2, p. 149-172, 1999.<br />
HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do<br />
século XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997.<br />
HUGGINS, Martha K. Polícia e Política: a relação Estados Unidos / América Latina. São<br />
Paulo: Cortez, 1998.<br />
______. “A crise do paradigma dual de polícia e a deslegitimação policial como instru-<br />
mento de controle social”. Disponível em . Consultado em 13 jan. <strong>2010</strong>.<br />
KAHN, Túlio. Velha e nova polícia: polícia e políticas de segurança pública no Brasil atual.<br />
São Paulo: Sicurezza, 2002.<br />
KARSENTY, Jean-Claude. “Introduction”. In: FROMENT, J.C., GLEIGAL, J.J. &<br />
KALUSZYNSKI, M. (Orgs). Les etats à l’èprouve de la sécurité. Grénoble: PUG, 2003. p. 7-12.<br />
KELLING, G. L. Fixing Broken Windows: restoring order and reducing crime in our com-<br />
munities. New York: The Free Press, 1996.<br />
KLEBER, Leandro. Proposta de des<strong>militar</strong>ização e unificação da polícia está parada no Senado. Dis-<br />
61
Claudionor Rocha 62<br />
ponível em . Consultado<br />
em 23 nov. 2009.<br />
KLEINIG, John. Handled with discretion: ehical issues in police decision making. Lanhan:<br />
Rowman & Littlefield Publishers, 1996.<br />
KLINENBERG, Eric. “Patrouilles conviviales à Chicago”. Le Monde Diplomatique, [s.l.] n.<br />
563, p. 1;18-19, fev. 2001 (Dossiê: L’Obssession Sécuritaire).<br />
______. “The ethics of policing”. Security and Defense Studies Review, Vol. 1 Winter 2001 196<br />
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.<br />
KRASKA, Peter B. & CUBELIS, Louis J. "Militarizing Mayberry and beyond: making<br />
sense of american para<strong>militar</strong>y policing". Justice Quarterly, v. 14, n. 4, 1997, pp. 607-629.<br />
KLOCKARS, Carl B. The Idea of Police. v. III, London, Sage Publications, 1985.<br />
KRATCOSKI, Peter, DUKES, DUANE, Issues in community policing. ACJS Series Editor,<br />
1995.<br />
KROK, Jan Tadeusz. O vínculo constitucional entre o Exército e as Polícias Militares: reflexos na<br />
estrutura organizacional, formação e prática profissional (1934 – 1988). Dissertação apre-<br />
sentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social <strong>das</strong> Relações Políticas, do Cen-<br />
tro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, como re-<br />
quisito parcial para obtenção do grau de Mestre em História. Orientadora: Profa. Dra. Wa-<br />
nia Malheiros Barbosa Alves. Vitória, 2008.<br />
LAZZARINI, Álvaro. “Da segurança pública na Constituição de 1988”. Revista “A Força<br />
Policial”, São Paulo, n. 3, IIMESP, 1994.<br />
______. “Polícia de manutenção da ordem pública”. Direito Administrativo da Ordem Pública.<br />
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.<br />
______ et al. Direito Administrativo da Ordem Pública. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.<br />
LEIRNER, Piero de Camargo. Meia-volta, volver: um estudo antropológico sobre a hierarquia<br />
<strong>militar</strong>. Rio de Janeiro: FGV, 1997.<br />
LEITÃO, José Carlos Bastos. “Causas da proximidade policial – I”, in Polícia Portuguesa, n.<br />
119, ano LXII, II série, bimestral, Lisboa, DNPSP, set/out, 1999.<br />
______. “Causas da Proximidade Policial – III”, in Polícia Portuguesa, n. 121, ano LXIII, II<br />
série, bimestral, Lisboa, DNPSP, jan/fev, 2000.<br />
62
Claudionor Rocha 63<br />
LEITE, M. M. A trajetória do policiamento feminino. Monografia apresentada ao Centro de<br />
Aperfeiçoamento de Estudos Superiores como exigência para conclusão do Curso de Aper-<br />
feiçoamento de Oficiais (CAO II/96). São Paulo: PMESP, 1996.<br />
LEMGRUBER, Julita, MUSUMECI, Leonarda e CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? Um<br />
estudo sobre controle externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003.<br />
LEMLE, Marina. Unificação <strong>das</strong> polícias emperra em Brasília. Disponível em<br />
. Consultado em 23 nov. 2009.<br />
LEMOS-NELSON, Ana Tereza. Criminalidade policial, cidadania e Estado de Direito. Salvador,<br />
Caderno CEAS, n. 197, 2002.<br />
LÉVY, René. A crise do sistema policial francês hoje: da inserção local aos riscos europeus.<br />
Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, 9(1): 53-77, maio. São Paulo: USP, FFLCH,<br />
1997.<br />
LIMA, Cristiane do Socorro Loureiro. Direitos humanos e trabalho policial na ordem democrática<br />
brasileira. Universidade Federal do Rio Grande do Norte- Doutoranda PPGCS. V Encontro<br />
Anual da ANDHEP - Direitos Humanos, Democracia e Diversidade 17 a 19 de setembro<br />
de 2009, UFPA, Belém (PA) Grupo de Trabalho 7: Violência, Políticas de Segurança Públi-<br />
ca e Direitos Humanos.<br />
______. Policial-<strong>militar</strong> ser ou não ser-cidadão: uma vivência na Polícia Militar do Pará. Mono-<br />
grafia (Programa de Pós-Graduação Serviço Social na Gestão de Políticas Sociais) – Uni-<br />
versidade Federal do Pará, Belém, 1997.<br />
______. Ações e relações sociais dos profissionais de serviço social na Polícia Militar do Pará. Disserta-<br />
ção (Programa de Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal do Pará, Belém,<br />
2001.<br />
______ e MENDES, Ivone da Silva. Reflexões sobre as relações sociais na Polícia Militar do Pará.<br />
2003. 83 f. Monografia. (Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública) – UCAM, Rio<br />
de Janeiro, 2003<br />
LIMA, Roberto Kant de. A polícia da cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e paradoxos. Rio<br />
de Janeiro, Forense, 1995.<br />
______. “Polícia e exclusão na cultura judiciária”. Tempo Social. São Paulo. Revista de Soci-<br />
ologia da USP, v. 9, n. 1, 1997.<br />
63
Claudionor Rocha 64<br />
______. “O sistema de justiça criminal no Brasil: dilemas e paradoxos”. Fórum de debates<br />
criminalidade, violência e segurança pública no Brasil: uma discussão sobre as bases de<br />
dados e questões metodológicas, 1º Encontro: Conceituação de sistema de justiça crimi-<br />
nal...: as bases de dados policiais. Revista Instituto de Pesquisas Econômicas Aplica<strong>das</strong> – Ipea,<br />
2000.<br />
______. "Direitos civis, estado de Direito e 'cultura policial': a formação policial em ques-<br />
tão". Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 11, n. 41, 2003, pp. 241-256.<br />
______, MISSE, Michel & MIRANDA, Ana Paula Mendes de. “Violência, Criminalidade,<br />
Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil: Uma Bibliografia”. RBIB – Revista Brasileira<br />
de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 50, 2000, pp. 45-123.<br />
LIN, Nan. Social capital: a theory of social structure and action. New York, Cambridge Uni-<br />
versity Press, 2001.<br />
LINO, Dirceu. “Unificação <strong>das</strong> Polícias”. Revista Dimensão, Cuiabá: Gráfica Print, 2000. ano<br />
II, n. 2, p. 9.<br />
LORD, Vivian B. “Swedish police selection and training: issues from a comparative per-<br />
pective”. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. v. 21, n. 2, 1998, p.<br />
280-292.<br />
LOURENÇO, N. & LISBOA, M., “Crime e insegurança: delinquência urbana e exclusão<br />
social”. In: Subjudice – Justiça e Sociedade, n. 13, Lisboa, Docjuris, 1991.<br />
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Democracia e Ensino Militar. São Paulo: Cortez, 1998.<br />
LUENGO, André Luís. “A efetividade da polícia cidadã no combate à criminalidade”. Re-<br />
vista Eletrônica da Faculdade de Direito da PUC-SP, São Paulo.<br />
LYRA, Rubens Pinto (Org.). Direitos humanos: os desafios do século XXI; uma abordagem<br />
interdisciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2002.<br />
______. (Org.). Participação e segurança pública no Brasil: teoria e prática. João Pessoa : Editora<br />
Universitária da UFPB, 2009.<br />
MACÉ, Éric. “L’exigence de sécurité, une question politique”. Etat, Société, et Délinquance –<br />
Cahiers Français, [s.l.], v. 308, p. 19-25, mai-juin, 2002.<br />
64
Claudionor Rocha 65<br />
MACHADO, F. & CABRAL, J. Segurança e vitimação na cidade de Lisboa. Universidade Católi-<br />
ca Portuguesa, Lisboa, Observatório de Segurança de Lisboa, 1999 (trabalho não publica-<br />
do).<br />
MACHADO, L.A. Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade violenta no<br />
Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro, 2003. Mimeografado.<br />
MAGALHÃES, Ruyrillo de. Direito e segurança pública. Campinas: Editora Átomo, 2000.<br />
MARCH, James G. & OLSEN, Johan P. Rediscovering institutions: the organizational basis of<br />
politics. New York, The Free Press, 1984.<br />
MARCO FILHO, Pe. Luiz de. História Militar da PMMG. 6. ed. Belo Horizonte: Gradual<br />
Editora e Gráfica, 1999.<br />
MARIANO, Benedito Domingos. “Dicotomia estrutural e violência policial”. Folha de São<br />
Paulo, 24.9.1997.<br />
______. “Criar uma polícia democrática”. Revista Teoria e Debate, ano 15, n. 50, p. 8-13,<br />
fev/mar/abr 2002.<br />
______. Por um novo modelo de polícia no Brasil: a inclusão dos municípios no sistema de segu-<br />
rança pública. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. – (Coleção Brasil Urgente).<br />
______ e FREITAS, Isabel (Orgs.). Polícia. Desafio da democracia brasileira. Coleção<br />
Estado e Sociedade. Porto Alegre: Editora CORAG, 2002.<br />
MARION, Nancy. “Police academy training: are we teaching recruits what they need to<br />
know?” Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. v. 21, n. 1., 1998, p.<br />
54-79;<br />
MARRECA, Orvácio Deolindo da Cunha. Histórico da polícia <strong>militar</strong> do Pará. Belém: Oficinas<br />
Gráficas do Instituto Lauro Sodré, 1940.<br />
MARX, Gary T. “La société de sécurité maximale”. In: Les Cahiers de la Sècurité Intèrieure.<br />
[S.l.], Hors-série, p. 371- 396, 2003.<br />
MATHIEU, J. L’Insécurité? Que sais je?, 1. ed., Paris, Puf, 1995.<br />
McCORMICK, Kevin R.E. & VISANO, Livy A. Understanding Policing. Toronto: Canadian<br />
Sholars’ Press, 1992.<br />
65
Claudionor Rocha 66<br />
MCKENZIE, Ian & GALLAGHER, G. P. Behind the Uniform: Policing in Britain and America.<br />
New York: Harvester Wheatsheaf, 1989.<br />
MEDEIROS, Léo Gonzaga. “A polícia que fazemos”. Revista Sentinela do Nortão. Alta Flo-<br />
resta: [s.ed.], 1999.<br />
MEDEIROS, Mateus Afonso. “Aspectos institucionais da unificação <strong>das</strong> polícias no Bra-<br />
sil”. Revista Dados, v. 47, n. 2, Rio de Janeiro: 2004.<br />
MENDEZ, Juan E., O’DONNELL, Guillermo & PINHEIRO, Paulo Sérgio (Orgs.). De-<br />
mocracia, violência e injustiça: o estado de não-direito na América Latina. São Paulo: Paz e Ter-<br />
ra, 2002.<br />
MELIM JUNIOR, José Antonio de. Causas da dicotomia policial na segurança publica brasileira:<br />
proposta de unificação. Monografia apresentada como requisito parcial de conclusão de<br />
curso para obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Prof. MSc. Marcelo<br />
Agamenon Goes de Souza. Faculdades Integra<strong>das</strong> Antonio Eufrásio de Toledo/Faculdade<br />
de Direito de Presidente Prudente, SP, 2002.<br />
MELO, Edilberto de Oliveira. Raízes do Militarismo Paulista. IMESP. São Paulo, 1982.<br />
MENDONÇA, Kátia. “Outras vere<strong>das</strong> para pensar a ação política: a não-violência”. In:<br />
COSTA, Maria José Jackson (Org.), Sociologia na Amazônia: debates teóricos e experiências de pes-<br />
quisa. Belém: UFPA.<br />
MENDONÇA, Ricardo e outros. “Somos todos reféns”. Revista Veja, edição de 7 de feve-<br />
reiro de 2001, Editora Abril, São Paulo.<br />
MESQUITA NETO, Paulo. “Violência policial no Brasil: abordagens teóricas e práticas de<br />
controle”. In: CARVALHO, J. M. et al. Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Fundação<br />
Getúlio Vargas, 1999.<br />
MEYER, John & ROWAN, Brian. "Institutionalized organizations: formal structure as<br />
myth and ceremony", in W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The New Institutionalism in<br />
Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp. 41-62.<br />
MINAYO, Maria Cecília de Souza & SOUZA, Edinilsa Ramos de. Missão investigar: entre o<br />
ideal e a realidade de ser policial. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.<br />
MINGARDI, G. Tiras, gansos e trutas: segurança pública e polícia <strong>civil</strong> em São Paulo (1983-<br />
1990). Porto Alegre: Corag, 1991.<br />
66
Claudionor Rocha 67<br />
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Modernização da<br />
polícia <strong>civil</strong> brasileira - aspectos conceituais, perspectivas e desafios - Senasp. Grupo de tra-<br />
balho – Portaria n. 2, de 21 de dezembro de 2004.<br />
MIR, Luís. Guerra <strong>civil</strong>: estado e trauma. São Paulo: Geração Editorial, 2004.<br />
MISSE, Michel. “Criminalidade urbana violenta no Brasil: o problema <strong>das</strong> causas”. In: Co-<br />
municação e política: mídias, drogas e criminalidade. s. l.: s. n., s. d.<br />
MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros.<br />
– 2. ed. 1. reimpr. – São Paulo: Edusp, 2006. – (Série Polícia e Sociedade; n.<br />
3/Organização: Nancy Cardia).<br />
MONJARDET, Dominique. O que faz a polícia: sociologia da força pública. Trad. Mary<br />
Amazonas Leite de Barros; posfácio de Jean-Marc Erbès. Ed. rev. 2002. São Paulo: Edusp,<br />
2003. – (Série Polícia e Sociedade; n. 10/Org: Nancy Cardia).<br />
MONKKONEN, E. H. “História da polícia urbana”. In: TONRY, M. & MORRIS, N.<br />
(Orgs.). Policiamento moderno. São Paulo: Edusp, 2003.<br />
MORAES, Alberto Motta. “Polícia: problemas e soluções”. Revista Arquivos da Polícia Civil<br />
de São Paulo, V. XXXVI, 1. sem./81.<br />
MORAES, Bismael Batista de. A polícia à luz do Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tri-<br />
bunais, 1991.<br />
______. (Coord.). Segurança pública e direitos individuais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira,<br />
2000.<br />
MORAES, Waldir Rodrigues de. "Bosquejo Histórico da Milícia Paulista". A Força Policial,<br />
n. 30, 2001, pp. 51-98.<br />
MOREIRA, Rômulo de Andrade. A unificação <strong>das</strong> polícias. 6 de março de 2009. Disponível<br />
em .<br />
Consultado em 30 nov. 2009.<br />
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “A segurança pública na Constituição”. A Força<br />
Policial, São Paulo, n. 3, IMESP, 1994.<br />
MORGAN, R. & NEWBURN, T. The Future of Policing. Oxford: Clarendon Press, 1997.<br />
67
Claudionor Rocha 68<br />
MOTA, Paula Poncioni. A polícia e os pobres: negociação e conflito em delegacias de polícia<br />
do Rio de Janeiro. Disponível em .<br />
Consultado em 16 set. 2003.<br />
MUCCHIELLI, Laurent & ROBERT, Philippe (Orgs.). Crime et sécurité: l’état des savoirs.<br />
Paris: Editions la Découverte, 2002.<br />
MUIR JUNIOR, Willian Ker. Police streetcorner politicians. Chicago: University of Chicago<br />
Press, 1977.<br />
MUNIZ, Jacqueline & PROENÇA JÚNIOR, Domício. “Perguntas sem respostas”. Jornal<br />
do Brasil, 7 maio 1996, p. 9.<br />
_______. “A Crise Desnecessária”. Coluna Opinião, Jornal O Globo; 26/07/1997a.<br />
_______. “Administração Estratégica da Ordem Pública”. Lei e Liberdade. Comunicações<br />
do Iser. Rio de Janeiro, 1997b.<br />
______. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Es-<br />
tado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999. Tese apresentada ao Instituto Uni-<br />
versitário de Pesquisas do Rio de Janeiro como requisito para obtenção do grau de Doutor<br />
em Ciência Política. Disponível em http://.<br />
Consultado em jan. 2008.<br />
______. A crise de identidade <strong>das</strong> polícias <strong>militar</strong>es brasileiras: dilemas e paradoxos da formação<br />
profissional. Trabalho apresentado à REDES 2001. Washington, DC, Center for Hemis-<br />
pheric Defense Studies, 22-25 de maio 2001. Disponível em
Claudionor Rocha 69<br />
______ & SOARES, Bárbara Musumeci. “Polícia e gênero: presença feminina nas PMs<br />
brasileiras”. In: Boletim Segurança e Cidadania. Centro de Estudos em Segurança e Cidadania,<br />
ano 2, n. 4, abr. 2004.<br />
NEDER, Gizlene et alli. A polícia na Corte e no Distrito Federal, 1831–1930. Rio de Janeiro,<br />
Série Estudos n. 3, PUC/RJ, 1981.<br />
NESS, J. J. “The relevance of basic law enforcement training – does the curriculum prepare<br />
recruits for police work: a survey study”. Journal of Criminal Justice, v. 19, n. 2, 1991, p.181-<br />
193.<br />
NEVES, Paulo Sérgio da Costa. “Qual polícia para qual sociedade? O policiamento comu-<br />
nitário em Sergipe”. Caderno CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 447-459, set./dez. 2005.<br />
______, RIQUE, Célia & FREITAS, Fábio (Orgs.). Polícia e democracia: desafios à educação<br />
em direitos humanos. Recife: Bagaço, 2002.<br />
NILSSON, Márcio de Castro. “Unificação <strong>das</strong> polícias e alteração do sistema nacional de<br />
segurança pública”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 7, n. 28, Editora RT, São<br />
Paulo, out/dez 1999.<br />
NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA, USP. “A unificação <strong>das</strong> polícias Civil e Mi-<br />
litar é a solução para melhorar o desempenho <strong>das</strong> forças de segurança?” Folha de S. Paulo:<br />
Unificação <strong>das</strong> polícias Civil e Militar, 24/01/2002. Disponível em<br />
. Consultado em 23 nov. 2009.<br />
NUMMER, Fernanda Valli. Ser polícia, ser <strong>militar</strong>: o curso de formação na socialização do<br />
policial <strong>militar</strong>. Niterói: Eduff, 2004.<br />
NUNES, Aline & PROSCHOLDT, Eliane. “Denúncias de tortura na PM”. A Tribuna.<br />
Vitória, 4 jan. 2008, p. 2-3.<br />
OHLIN, Lloyd E. & REMINGTON, Frank J. (Coord.). Discretion in criminal justice: the ten-<br />
sion between individualization and uniformity. Albany: State University of New York<br />
Press, 1993.<br />
OLIVEIRA, Dijaci David de, SANTOS, Sales Augusto dos & SILVA, Valéria Getúlio de<br />
Brito e (Orgs.). Violência policial: tolerância zero? Goiânia: Ed. da UFG; Brasília: MNDH,<br />
2001.<br />
69
Claudionor Rocha 70<br />
OLIVEIRA, Eleonora Paulo de. O processo de integração entre as polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong> do Estado de<br />
Santa Catarina em face do Plano Nacional de Segurança Pública: um passo para a unificação. Mono-<br />
grafia apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Direito,<br />
sob a orientação de conteúdo do Professor Moacir José Serpa e orientação metodológica<br />
do Professor MSc. Argemiro Cardoso Moreira Martins. Biguaçú, Santa Catarina, novembro<br />
de 2001.<br />
OLIVEIRA, Luciano de. “Práticas judiciárias em comissariados de polícia em Recife”. In: J.<br />
Lemgruber (org.), A Instituição Policial. Rio de Janeiro, Departamento de Publicações da<br />
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), 1985, pp. 187-206.<br />
OLIVEIRA, Nilson Vieira (org). Insegurança pública: reflexões sobre a criminalidade e a vio-<br />
lência urbana. São Paulo: Nova Alexandria, 2002.<br />
PAIXÃO, Antônio Luiz. “A organização policial numa área metropolitana”. Dados, vol. 25,<br />
n. 1, 1982, 1982, pp. 63-85.<br />
______. “A distribuição da segurança pública e a organização policial”. In: J. Lemgruber<br />
(org.), A Instituição Policial. Rio de Janeiro, Departamento de Publicações da Ordem dos<br />
Advogados do Brasil (OAB-RJ), 1985, pp. 167-186.<br />
______. “O ‘problema da polícia’”. In: Violência e participação política no Rio de Janeiro. IU-<br />
PERJ (Série Estudos, 91), agosto de 1995, p. 11.<br />
______, BEATO, F. Cláudio C. “Crimes, vítimas e policiais”. São Paulo, Tempo Social. Rev.<br />
Sociol. USP, n. 9, p. 233-248, 1997.<br />
PASSOS, Gleise da Rocha. Vinho velho em garrfas novas?: dilemas e implicações do policia-<br />
mento comunitário num bairro de Aracaju-SE. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)<br />
- Universidade Federal de Sergipe, 2005.<br />
PATURY, Felipe e outros. “Para o Brasil não sair dos trilhos”, Revista Veja, ed. de 3 jul.<br />
2002, São Paulo.<br />
PEDRAZZINI, Yves. A violência nas cidades. Trad. de Giselle Unti. – Petrópolis, RJ : Vozes,<br />
2006.<br />
PEDROSO, Regina Célia. Estado autoritário e ideologia policial. São Paulo: Associação Editori-<br />
al Humanitas, Fapesp, 2005.<br />
PERALVA, Angelina. Violence et démocratie: le paradoxe brésilien. Paris: Balland, 2001.<br />
70
Claudionor Rocha 71<br />
PEREIRA, Juracy José. Polícia estadual única. Artigo apresentado para o fim de avaliação<br />
final, do Curso de Especialização em Segurança Pública, Área de Concentração Coordena-<br />
ção de Pós-Graduação lato sensu, convenio UCG/SSPJ. Orientador: Prof. Antônio Gonçal-<br />
ves Pereira dos Santos. Goiânia, GO, 2004.<br />
PEREIRA, Márcia Guerra. Casablanca tropical: a polícia política e a espionagem britânica.<br />
Rio de Janeiro: IFCH/Uerj, 2001.<br />
PEREIRA, Murilo de Macedo. “Inquérito policial, juizado de instrução e realidade brasilei-<br />
ra”. Revista da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, n. 14, São Paulo, 1987.<br />
______ e outros. “Segurança pública – polícia”, Revista da Associação dos Delegados de Polícia do<br />
Estado de São Paulo. São Paulo, 1987.<br />
PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janei-<br />
ro: Editora FGV, 2000.<br />
PINHEIRO, Paulo Sérgio. “Violência, crime e sistemas policiais em países de novas demo-<br />
cracias”. São Paulo, Tempo Social. Rev. Sociol. USP, n. 9, p. 43-52, 1997.<br />
PINTO, Moreira. “O Valor da Imagem Pública”, in Polícia Portuguesa, n. 119, ano LXII, II<br />
série, bimestral, Lisboa, DNPSP, set/out, 1999.<br />
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO. Planejamento estratégico participativo: Sociedade <strong>civil</strong><br />
organizada & PMMT. Cuiabá: [s. ed.], 2003.<br />
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. Manual básico de policiamento ostensivo. s.l.:<br />
CSM/Int., [s.d.]<br />
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ. A unificação <strong>das</strong> polícias. Publicado em Fri 09 Apr 2004<br />
(4770 leituras internas). Disponível em . Consultado em 23 nov. 2009.<br />
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. Diretriz geral de ensino e instrução. Rio de Ja-<br />
neiro: Boletim da PM, n. 076, 2004.<br />
PONCIONI, P. Tornar-se policial: a construção da identidade profissional do policial do Rio<br />
de Janeiro. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia,<br />
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.<br />
PORTO, Maria Stela Grossi. “O novo endereço da violência”. UnB Revista, Brasília, Uni-<br />
versidade de Brasília, ano 3, n.7, jan./mar. 2003.<br />
71
Claudionor Rocha 72<br />
______. “Polícia e violência: representações sociais de elites policiais do Distrito Federal”.<br />
São Paulo em Perspectiva, 18(1): 132-141, 2004. Disponível em<br />
. Consultado em 13 jan. <strong>2010</strong>.<br />
______ . “Violência e segurança: a morte como poder”. In: OLIVEIRA, Dijaci David de,<br />
SANTOS, Sales Augusto dos & SILVA, Valéria Getúlio de Brito e (Orgs.). Violência policial:<br />
tolerância zero? Goiânia: Ed. da UFG; Brasília: MNDH, 2001.<br />
______ . “Entre a política e a religião: caminhos da contribuição weberiana à análise da<br />
violência”. Sociologias, Porto Alegre, PPGS/ UFRGS, ano 1, n. 1, jan./jun. 1999. (Número<br />
especial).<br />
POWELL, Walter W. “Expanding the scope of institutional analysis”. In: W. W. Powell e<br />
P. J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University<br />
of Chicago Press, 1991, pp. 183-203.<br />
______ e DIMAGGIO, P. J. “The iron cage revisited: institutional isomorphism and col-<br />
lective rationality in organizational fields”. In: W. W. Powell e P. J. DiMaggio (eds.), The<br />
New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp.<br />
63-82.<br />
PRADO JUNIOR, Caio. Formação política do Brasil: Colônia. São Paulo, Publifolha, 2000.<br />
PROENÇA JÚNIOR, Domício & DINIZ, Eugênio. Política de defesa no Brasil: uma análise<br />
crítica. Brasília. Edições Humanidades, Universidade de Brasília, 1998.<br />
______ et alli. Guia de estudos de estratégia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.<br />
QUIAR, Caetano (aluno da República de Angola). Modernização na prestação de serviços<br />
da PSP: o atendimento ao público nas esquadras. Tese de mestrado do Instituto Superior<br />
de Ciências Policiais e Segurança Interna. Orientador: Dr. Norberto Rodrigues. INSTITU-<br />
TO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURAN INTERNA, Lisboa, 2001.<br />
Disponível em .<br />
RAMOS, Sílvia & MUSUMECI, Leonarda. Elemento suspeito: abordagem policial e discrimi-<br />
nação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.<br />
REZNIK, Luís. Democracia e segurança nacional: a polícia política no pósguerra. Rio de Janei-<br />
ro: FGV, 2004.<br />
ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e segurança pública no século<br />
XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.<br />
72
Claudionor Rocha 73<br />
REVISTA DIMENSÃO. Reforma da segurança pública nacional. Cuiabá: Gráfica Print, 2000. p.<br />
30/34.<br />
REVISTA ISTO É, “A PM no limite”. Ed. de 7 jun. 2000. São Paulo, Editora Três.<br />
REVISTA VEJA, “A mesma arma dos bandidos”. Edição de 25 de julho de 2001, Editora<br />
Abril, São Paulo.<br />
REINER, Robert. A política da polícia. Trad. Jacy Cardia Ghirotti. São Paulo: Edusp, 2004. –<br />
(Série Polícia e Sociedade; n. 11/Organização: Nancy Cardia).<br />
REY, Jorge Antônio Penna, et al. O ciclo completo de polícia como estratégia de segurança pública.<br />
Porto Alegre: BM, APM, CAAPM/II, 1998.<br />
RICCIO, Vicente & BASÍLIO, Márcio Pereira. As diretrizes curriculares da Secretaria Nacional<br />
de Segurança Pública (SENASP) para a formação policial: a polícia <strong>militar</strong> do Rio de Janeiro e a<br />
sua adequação às ações federais. In: XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Refor-<br />
ma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7-10 nov. 2006.<br />
RICO, José Maria. Delito, insegurança do cidadão e polícia: novas perspectivas. Trad. Mina Sein-<br />
feld de Carakushansky. Rio de Janeiro: Polícia Militar, 1992.<br />
RIO DE JANEIRO, Decreto-lei n. 92, de 6 de maio de 1975. Lei de organizações básicas da<br />
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ: Governo do Estado.<br />
ROBERG, Roy & BONN, Scott. “Higher education and policing where are we now?”<br />
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. v. 27 n. 4., 2004, p. 469-486.<br />
ROCHA, Claudionor. Mandato e escolha do chefe de polícia. Disponível em<br />
. Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
______. As mazelas da polícia. Disponível em . Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
______. Unificação <strong>das</strong> polícias. Disponível em . Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
______. Aposentadoria de servidores policiais. Disponível em .<br />
Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
73
Claudionor Rocha 74<br />
______. Considerações sobre a criação de novos órgãos policiais. Câmara dos Deputados, 2009. Dis-<br />
ponível em . Consultado em 27/1/<strong>2010</strong>.<br />
______. “A questão da segurança”. Correio Braziliense, Brasília, n. 13567, 10 jul. 2000. Caderno<br />
Direito e Justiça, p. 4.<br />
ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Situação <strong>das</strong> PECs que Tramitam na Câmara dos Depu-<br />
tados, Tratando do Emprego <strong>das</strong> Guar<strong>das</strong> Municipais em Atividades de Segurança Pública. Câmara<br />
dos Deputados, 2005. Disponível em .<br />
______. Funcionamento <strong>das</strong> guar<strong>das</strong> municipais nas principais capitais do país. Câmara dos Deputa-<br />
dos, 2007. Disponível em . Consultado em 27 jan.<br />
<strong>2010</strong>.<br />
______. Guar<strong>das</strong> municipais. Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em<br />
. Consultado em 27/1/<strong>2010</strong>.<br />
ROCHÉ, Sebastian. Tolérance zero: in<strong>civil</strong>ités et insécurité. Paris: Odile Jacob, 2002.<br />
RODRIGUES, Alex. Unificação <strong>das</strong> polícias e financiamento da segurança serão destaques na Conseg,<br />
diz Tarso. Disponível em . Consultado em 27/1/<strong>2010</strong>.<br />
RODRIGUES, Antonio E. Martins et alli. A Guarda Nacional no Rio de Janeiro, 1831-1918.<br />
Rio de Janeiro, Série Estudos n. 5, PUC/RJ, sem data.<br />
ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e segurança pública no século<br />
XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; Oxdfor, Inglaterra : University of Oxford, Centre for<br />
Brazilian Studies, 2006.<br />
RONDON FILHO, Edson Benedito. Unificação <strong>das</strong> polícias civis e <strong>militar</strong>es: ciclo completo de<br />
polícia. Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Especialização em Gestão de<br />
Segurança Pública como requisito obrigatório para a conclusão do curso e obtenção do<br />
grau de Especialista em Gestão de Segurança Pública. Orientador: Prof. Ms. Naldson Ra-<br />
mos da Costa. Cuiabá, MT, 2003.<br />
ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Competência dos órgãos policiais e Constituição Federal. Disponí-<br />
vel em < http://jusvi.com/doutrinas_e_pecas/ver/15524>. Consultado em 13 nov. 2007.<br />
74
Claudionor Rocha 75<br />
______. “O outro lado da unificação <strong>das</strong> forças policiais”. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n.<br />
41, maio 2000. Disponível em .<br />
Consultado em 22 nov. 2009.<br />
______. Repensando a unificação <strong>das</strong> polícias. Disponível em . Consultado em 13 nov. 2007.<br />
ROSMANINHO, Teresa. As Polícias e as vitimas de crime: uma outra atitude, uma nova acção.<br />
Lisboa: Ministério da Administração Interna, Setembro de 1996.<br />
SÁ, Leonardo Damasceno de. Os filhos do Estado: auto-imagem e disciplina na formação dos<br />
oficiais da Polícia Militar do Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará 2002.<br />
SADEK, Maria Tereza (Org.). Delegados de Polícia. São Paulo, Sumaré, 2003.<br />
SANT’ANNA, Lourival. “Motins: o país a beira do conflito armado”. O Estado de São Paulo,<br />
edição de 22 de julho de 2001, São Paulo.<br />
SANTORO, Emilio. “As políticas penais na era da globalização”. In: LYRA, Rubens Pinto<br />
(Org.). Direitos humanos: os desafios do século XXI. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 57-71.<br />
SANTOS, José Nunes dos. “A polícia <strong>civil</strong>: ligeiro escorço histórico”. In: J. Lemgruber<br />
(Org.), A Instituição Policial. Rio de Janeiro, Departamento de Publicações da Ordem dos<br />
Advogados do Brasil (OAB-RJ), 1985, pp. 15-26.<br />
SANTOS, José Vicente Tavares dos. “A arma e a flor: formação da organização policial,<br />
consenso e violência”. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 9, n. 1, 1997, pp. 155-<br />
167.<br />
SAPORI, L. F. “O treinamento como ferramenta da reforma policial na sociedade brasilei-<br />
ra: perspectivas e limitações”. In: Seminário Interpretações da Violência Urbana no Brasil. Rio de<br />
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001.<br />
______ & SOUZA, Silas Barnabé de. “Violência policial e cultura <strong>militar</strong>: aspectos teóricos<br />
e empíricos”. Teoria e Sociedade, n. 7, 2001, pp. 173-214.<br />
SCOTT, W. R. & MEYER, J. W. “The Organization of Societal Sectors”. In: W. W. Powell<br />
& P. J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: Univer-<br />
sity of Chicago Press, 1991, pp. 108-140.<br />
75
Claudionor Rocha 76<br />
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO<br />
GROSSO. Planejamento estratégico participativo. Coletânea de informações sobre segurança pública.<br />
Cuiabá: [s. ed.], 2003.<br />
______. Plano Estadual de Segurança Pública. Encarte à SENASP. Cuiabá: [s. ed.], 2003.<br />
SENADO FEDERAL. Unificação <strong>das</strong> polícias <strong>civil</strong> e <strong>militar</strong> será tema de audiências na próxima<br />
semana. Comissões/Segurança Pública, 24/11/2009 - 21h20. Disponível em<br />
. Consultado em 30/11/2009.<br />
SENTO-SÉ, J. T. “Imagens da ordem, vertigens do caos: o debate sobre as políticas de<br />
segurança pública no Rio de Janeiro, nos anos 80 e 90”. Archè Interdisciplinar, Rio de Janeiro,<br />
1998.<br />
______. Perfil dos jovens em conflito com a lei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Cesec/Ucam e<br />
LAV/UERJ, 2003.<br />
SILVA, Adriana Souza e. “Barbárie”. Revista Isto é, ed. de 30 jan. 2002, Editora Três, São<br />
Paulo.<br />
SILVA, Germano Marques da. Seminário sobre “Actuação Policial e Direitos Humanos”,<br />
in Polícia Portuguesa, n. 125, ano LXIII, II Série, Bimestral, Lisboa, DNPSP, set/out, 2000.<br />
SILVA, H. A. Proposta de implantação de um sistema operacional de policiamento comunitário em Cia<br />
PM através da Rosa dos Ventos. Monografia apresentada ao Centro de Aperfeiçoamento de<br />
Estudos Superiores como exigência para conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-<br />
ciais (CAO I/99). São Paulo: PMESP, 1999.<br />
SILVA, Jorge da. Controle da criminalidade e segurança pública na nova ordem constitucional. Rio de<br />
Janeiro. Forense, 1990.<br />
______. “Militarização da segurança pública e a reforma da polícia: um depoimento”. In:<br />
BUSTAMANTE, Ricardo & SODRÉ, Paulo César. Ensaios Jurídicos: o Direito em revista.<br />
Rio de Janeiro. IBAJ, 1996, pp. 497-519.<br />
______. “Violência policial e ideologia dos algozes-vítima”. In: D. Oliveira et alii, Violência<br />
Policial: Tolerância Zero? Goiânia, Editora UFG, 2001, pp. 69-84.<br />
______. Segurança pública e polícia: criminologia crítica aplicada. Rio de Janeiro: Companhia<br />
Editora Forense, 2003.<br />
76
Claudionor Rocha 77<br />
SILVA, José Fernando Siqueira da. “‘Justiceiros’ e violência urbana. São Paulo: Cortez, 2004.<br />
SILVA, Gilvan Ventura da, FRANCO, Sebastião Pimentel & LARANJA, Anselmo L.<br />
(Org.). Exclusão social, violência e identidade. Vitória: Flor & Cultura, 2004.<br />
SILVA FILHO, José Vicente. “Fundamentos para a Reforma da Polícia”. 2001. Disponível<br />
em . Consultado em 27 jan.<br />
<strong>2010</strong>.<br />
______. Fundamentos para a reforma da polícia. Disponível em<br />
. Consultado em 03 out. 2003.<br />
SILVER, Allan. “The demand for order in <strong>civil</strong> society: a review of some themes in the<br />
history of urban crime, police, and riot”. In: D. J. Bordua (ed.), The police: six sociological es-<br />
says. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1967, pp. 1-24.<br />
SINDEPO – Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal. Deputado destaca inves-<br />
timento e unificação da polícia. Agência Câmara. Disponível em . Consultado em 23 nov. 2009.<br />
SKOLNICK, Jerome H. Justice without trial: law enforcement in democratic society. New<br />
York: Macmillan College Publishing Company, 1994.<br />
______ & BAYLEY, David H. Policiamento comunitário: questões e práticas através do mun-<br />
do. Trad. Ana Luísa Amêndola Pinheiro. São Paulo: Edusp, 2002. – (Série Polícia e Socie-<br />
dade; n. 6/Organização: Nancy Cardia).<br />
SOARES, Gláucio Ary Dillon. Não matarás: desenvolvimento, desigualdade e homicídios.<br />
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.<br />
SOARES, G. & MUSUMECI, L. (Org.) Base nacional de estatísticas criminais: avaliações e pro-<br />
postas para o aperfeiçoamento do sistema de coleta e registros de informações. Senasp,<br />
Ministério da Justiça, UNDCP, 2003.<br />
_______. Violência e criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Hamas, 1998.<br />
_______. Plano nacional de segurança pública. São Paulo: Instituto de Cidadania, 2002.<br />
SOARES, Luiz Eduardo. “Uma Interpretação do Brasil para Contextualizar a Violência”.<br />
In: C. A. M. Pereira et alii, Linguagens da Violência. Rio de Janeiro, Rocco, 2000, pp. 23-46.<br />
______. Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança pública do Rio de Janeiro. São<br />
Paulo: Companhia <strong>das</strong> Letras, 2000.<br />
77
Claudionor Rocha 78<br />
______. Segurança tem saída. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.<br />
______. Segurança pública: presente e futuro. Disponível em . Consultado em 27 jan. <strong>2010</strong>.<br />
______. “Novas políticas de segurança pública: alguns exemplos recentes”. Jus Navigandi,<br />
Teresina, a. 7, n. 65, mai. 2003. Disponível em . Consultado em 30 ago. 2005.<br />
______. Relatório final do projeto “Arquitetura Institucional do Sistema Único de Segurança<br />
Pública”, formulado, implantado e, inicialmente, dirigido por Luiz Eduardo Soares, como<br />
secretário nacional de segurança pública, patrocinado pela Firjan e pelo PNUD, coordena-<br />
do por Renato Lessa e Antonio Carlos Carballo Blanco, do qual participaram como coor-<br />
denadores de grupos de trabalho: Antônio Rangel Bandeira, Cláudio Beato, José Vicente<br />
Tavares, Firmino Fecchio, Heitor M. Caulliraux e Adriano Proença, Julita Lemgruber, Ma-<br />
rília Mota, Miriam Guindani e Paulo Mesquita. 2004. (Mimeogr.).<br />
______. “Segurança municipal no Brasil: sugestões para uma agenda mínima”. In: SEN-<br />
TO-SÉ, J. T. Prevenção da violência: o papel <strong>das</strong> cidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,<br />
2005, p. 17-44.<br />
_______. Legalidade Libertária. Rio de Janeiro: Lúmen-Juris, no prelo.<br />
______, MV BILL & ATHAYDE, Celso. Cabeça de porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.<br />
______ et al. Violência e política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iser, 1996.<br />
SOARES, Rogério Mateus. Violência conjugal: uma abordagem policial deste fenómeno soci-<br />
al. Lisboa, ESP, 1998 (trabalho não publicado).<br />
SODRÉ, M. “Violência urbana – em busca do sentido perdido”. Observatório da Imprensa.<br />
Disponível em: .<br />
Consultado em 2003.<br />
SODRÉ, Nelson Werneck. História <strong>militar</strong> no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Bra-<br />
sileira, 1965.<br />
SOUZA, Benedito Celso de. A Polícia Militar na Constituição. São Paulo: Livraria e Editora<br />
Universitária de Direito, 1986.<br />
78
Claudionor Rocha 79<br />
SOUZA, César Alberto. Ciclo completo de polícia: uma proposta. Disponível em<br />
. Consultado em 13<br />
jan. <strong>2010</strong>.<br />
SOUZA, João Ricardo Carvalho de. Obrigatoriedade de criação de guar<strong>das</strong> municipais em todos os<br />
municípios brasileiros. Câmara dos Deputados, 2000. Disponível em . Consultado em 27 jan.<br />
<strong>2010</strong>.<br />
______. Municipalização da segurança pública. Câmara dos Deputados, 2000. Disponível em<br />
<br />
SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a <strong>militar</strong>ização da questão<br />
urbana. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2008.<br />
STONE, C. & MARKOVIC, J. Crime mapping and the policing of democratic societies. New York:<br />
Vera Institute of Justice, 2002.<br />
SUNG, Hung-En. “Police effectiveness and democracy: shape and direction of the rela-<br />
tionship”. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. v. 29 n. 2., 2006, p.<br />
347-367.<br />
SWANSON, Charles R., TERRITO, Leonard & TAYLOR, Robert W. Police administration:<br />
structures, processes and behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.<br />
TERRA, Nelson Freire. “A segurança pública e o direito constitucional brasileiro”. A Força<br />
Policial. n. 4, São Paulo: IMESP, 1994.<br />
TONRY, Michael & MORRIS, Norval (Orgs.). Policiamento moderno. Trad. Jacy Cardia Ghi-<br />
rotti. São Paulo: Edusp, 2006. – (Série Polícia e Sociedade; n. 7/Organização: Nancy Car-<br />
dia).<br />
VALENTE, Manuel. “A Crítica”. In: Polícia Portuguesa, n. 115, ano LXII, II série, bimestral,<br />
Lisboa, CGPSP, jan/fev 1999.<br />
VELHO, Gilberto. Mudança, crise e violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.<br />
VIÁ, Marcelo da. Historia da polícia. Site do Jornal da Tarde. Monografia.<br />
______. “As polícias não se unem e quem paga somos nós”. Jornal da Tarde, 2000.<br />
VIANA, Gilney & FLORES, João Orlando. Mapa da violência de Cuiabá. Coleção Eco-<br />
cidadania n. 02. Cuiabá: Gabinete Dep. Est. Gilney Viana, 2000.<br />
79
Claudionor Rocha 80<br />
VIANNA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. 2 v. Belo Horizonte, Itatiaia, Niterói, Ed.<br />
UFF, 1987.<br />
VICKERS, Margaret H. “Australian police management education and reseach: a comment<br />
from ‘outside the cave’”. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. v.<br />
23 n. 4., 2000, p. 506-524.<br />
VIOLANTI, John M. “Padrões de estresse no trabalho policial”. In: Revista Policial do Estado<br />
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1993<br />
VÍTOLA, João Coelho. A defesa social no século XXI: uma nova conquista. Brasília: Editora<br />
do Autor, 2002.<br />
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.<br />
WEIR, Margaret. “Ideas and the Politics of Bounded Innovation”. In: S. Steinmo, K. The-<br />
len & F. Longstreth (eds.), Structuring politics: historical institutionalism in comparative analysis.<br />
New York: Cambridge University Press, 1992.<br />
WIEVIORKA, Michel. “O novo paradigma da violência”. Tempo Social, Revista de Sociolo-<br />
gia da USP, FFLCH, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 5-52, maio, 1997.<br />
______. (Coord.). Violence en france. Paris: Seuil, 1999.<br />
XI CONGRESSO NACIONAL DE DELEGADOS DE POLÍCIA. Carta de Rio Quente.<br />
Pousada do Rio Quente: [s. ed.], 2001.<br />
ZALUAR, A. Da revolta ao crime S.A. São Paulo: Moderna, 1996.<br />
______. “Violência e crime”. In: MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na ciência social brasileira<br />
(1970-1995). São Paulo: Anpocs; Sumaré, 1999,<br />
ZAVERUCHA, Jorge. “As prerrogativas <strong>militar</strong>es nas transições brasileira, argentina e es-<br />
panhola”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 7, n. 19, 1992, pp. 56-65.<br />
______. Polícia Civil de Pernambuco: o desafio da reforma. Recife: Editora Universitária, 2003.<br />
______. FHC, forças arma<strong>das</strong> e polícia: entre o autoritarismo e a democracia (1999-2002). Rio<br />
de Janeiro: Record, 2005.<br />
80