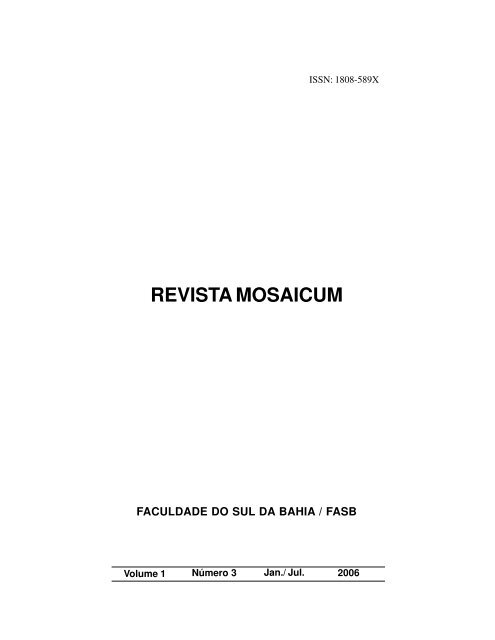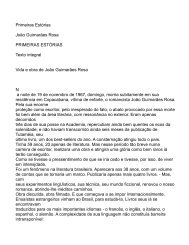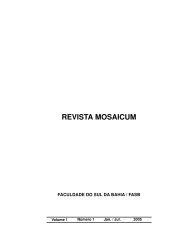Desenvolvimento local sustentável e educação - fasb
Desenvolvimento local sustentável e educação - fasb
Desenvolvimento local sustentável e educação - fasb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REVISTA MOSAICUM<br />
ISSN: 1808-589X<br />
FACULDADE DO SUL DA BAHIA / FASB<br />
Volume 1<br />
Número 3 Jan./ Jul. 2006
Revista<br />
Mosaicum<br />
FACULDADE DO SUL DA BAHIA / FASB<br />
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E<br />
EXTENSÃO - NUPPE<br />
REVISTA MOSAICUM<br />
Teixeira de<br />
Freitas, BA v. 1 n. 3 p. 1 - 100<br />
2006
FUNDAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS<br />
Presidente: Lay Alves Ribeiro<br />
FACULDADE DO SUL DA BAHIA - FASB<br />
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DA BAHIA - ISESB<br />
Diretor-acadêmico: Valci Vieira dos Santos<br />
Diretor-administrativo: Fábio Zanon Dall’Orto<br />
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO:<br />
Wilbett Rodrigues de Oliveira<br />
Whelligton Renan da Vitória Reis<br />
CONSELHO EDITORIAL:<br />
Sélcio de Souza Silva (UNEB/FASB)<br />
Valci Vieira dos Santos (UNEB/FASB)<br />
Wilbett Rodrigues de Oliveira (FASB)<br />
CONSELHO CIENTÍFICO:<br />
Enelita de Souza Freitas (UNEB)<br />
João Adorís Pandolf (Unilinhares)<br />
Lenice Amélia de Sá Martins (UNEB)<br />
Maria Bernardete Pereira Bezerra (UESC)<br />
Miguel Bahl (UFPR)<br />
Olga Suely S. de Souza (UNEB / CESESB)<br />
Sélcio de Souza Silva (UNEB/FASB)<br />
Valci Vieira dos Santos (UNEB/FASB)<br />
Wellington Renan da V. Reis (FASB/Unilinhares)<br />
CAPA:<br />
Wilbett Rodrigues de Oliveira<br />
PROJETO EDITORIAL / DIAGRAMAÇÂO<br />
Wilbett Oliveira / Caroline Duarte S. Zôrzo<br />
REVISTA MOSAICUM é uma publicação do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão<br />
da Faculdade do Sul da Bahia e do Instituto Superior de Educação do Sul da Bahia.<br />
Os artigos apresentados são de inteira responsabilidade de seus autores.<br />
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)<br />
(Biblioteca Santa Clara da Faculdade do Sul da Bahia, BA, Brasil)<br />
R454 Revista Mosaicum – Faculdade do Sul da Bahia<br />
Ano 2, n. 3 (jan./jul. 2006). – Teixeira de Freitas, BA.<br />
100p.<br />
Semestral<br />
ISSN: 1808-589X<br />
1. Cultura – Periódicos. I. Faculdade do Sul da Bahia.<br />
Revista Mosaicum<br />
Rua Graciliano Viana, 79 - Bela Vista -<br />
Teixeira de Freitas, BA - 45995-050<br />
(73) 3292 4820 - Fax (73) 3292 4819<br />
E-mail: nuppe@ffassis.edu.br<br />
CDD 050
APRESENTAÇÃO<br />
Mosaicum é uma revista transdisciplinar editada pelo Núcleo de Pós-<br />
Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade do Sul da Bahia (Fasb) e tem como<br />
principal objetivo reunir, em um único veículo, uma síntese do que se produz de<br />
mais representativo no âmbito do ensino superior. Dessa forma, torna-se muito<br />
mais que um simples e tradicional periódico de divulgação científica, pois marca a<br />
posição da Faculdade do Sul da Bahia como instituição que já esboça seus traços<br />
de relevante produtividade e dinamismo.<br />
Em seu terceiro número, a Mosaicum traz amplas discussões com vistas<br />
a permitir uma leitura diversificada pelo nosso leitor: a primeira é sobre<br />
desenvolvimento <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do<br />
planejamento municipal eficaz. O seu autor discute desenvolvimento <strong>local</strong><br />
<strong>sustentável</strong>, tendo como sustentáculo e base a questão educacional como<br />
fundamento e oferece as premissas básicas para a elaboração de um planejamento<br />
municipal responsável, de longo prazo e que busque atender necessidades e não<br />
vontades. O planejamento estratégico se apresenta como a ferramenta ideal. Em<br />
seguida, no âmbito literário, a professora da UNEB (campus X), Enelita de Sousa<br />
Freitas, trata da ironia romântica na literatura portuguesa, tomando para análise o<br />
romance Outrora Agora, de Augusto Abelaira, em que considera a ironia como o<br />
jogo, a instauração do reino da dúvida. A literatura se faz presente novamente em<br />
O quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler, texto de Ester<br />
Abreu Vieira de Oliveira (UFES). A autora faz um resumo da obra e da atuação do<br />
personagem principal, mostrando que a técnica da ironia predomina na obra.<br />
Apresenta ainda importância dos personagens, o seu valor simbólico e o relevo<br />
que dão às qualidades que ressaltam no personagem principal e discute a importância<br />
que a obra dá ao ato de ler e reescrever e salienta a ambigüidade da linguagem e o<br />
valor da leitura como estímulo criativo. A recuperação e preservação de nascentes<br />
na microbacia hidrográfica do rio Peruípe sul – região extremo sul da Bahia ganha<br />
enlevo no texto da professora Joana Farias dos Santos, que discute a recuperação<br />
e conservação de duas nascentes pertencentes à Microbacia Hidrográfica do Rio<br />
Peruípe Sul. O texto do professor Sélcio de Souza Silva versa sobre a filologia e a<br />
crítica textual e pretende mostrar a importância da interpretação e explicação de<br />
textos como atividades básicas aos estudos filológicos. Já a mestranda da UFES,<br />
Vanda Luiza de Souza Netto, destaca alguns aspectos do estudo onomástico em
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, selecionando o nome<br />
da personagem Plácida e as possíveis implicações significativas percebidas na<br />
obra e nos múltiplos recursos utilizados na construção da personagem, dentre elas<br />
a escolha do nome. A discussão seguinte se volta para o contexto religioso em que<br />
o professor Sélcio de Souza Silva discorre sobre a forte influência do espírito<br />
merdadológico invadindo o espaço religioso. A professora Bernardina Leal faz<br />
uma imersão na obra O mestre ignorante, de Jacques Rancière. Para a professora<br />
Bernardina Leal, o mestre ignorante é “aquele que está sempre a procurar, aquele<br />
que emancipou-se e consegue reconhecer suas competências intelectuais e sabe<br />
aperfeiçoá-las. Este mestre emancipado pode emancipar outros, pois reconhece<br />
nas virtualidades intelectuais de todos inúmeras possibilidades de realizações. Ele<br />
auxilia o aluno a manter sua atenção dirigida aos atos intelectuais que descrevem<br />
caminhos a serem percorridos e que possibilitam avanços”. Em seguida, a<br />
professora Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes resenha o texto O tempo<br />
vivo da memória: ensaios de psicologia social, de Ecléa Bosi, em que chama a<br />
atenção para a importância do estudo do passado recente e mostra que a memória<br />
oral é um precioso instrumento na constituição da crônica do cotidiano, à medida<br />
que pode funcionar como uma espécie de elo entre diferentes tempos. O poeta<br />
Waldo Motta resenha o livro Gemagem: poemas, de Marcos Tavares, que, “por<br />
força de sua consciência ética, de sua luta pela dignidade humana, MT aborda<br />
temas de interesse social, alguns recorrentes, tais como: violência, guerra,<br />
militarismo, arbítrio, destruição, morte, ecologia; negritude; religião; trabalho; vício;<br />
amor erótico e fraterno, incluindo poemas homoeróticos”. O professor Wilbett<br />
Oliveira encerra este número com a resenha do texto Paródia, paráfrase e Cia, de<br />
Afonso Romano Sant´Anna, cujo objetivo é ampliar o estudo da paródia e da<br />
paráfrase ao lado da estilização e da apropriação, o que permite ao leitor um<br />
esclarecimento do que é “literário” e um entendimento da formação ideológica por<br />
meio da linguagem.<br />
Reiteramos nossos agradecimentos a Fundação Francisco de Assis, pelo<br />
incentivo à produção acadêmica e o apoio incondicional para a publicação da<br />
Revista Mosaicum.<br />
Conselho editorial
ARTIGOS<br />
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento<br />
do planejamento municipal eficaz, 9<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
Artifícios da construção textual: a representação em Outrora Agora,<br />
de Augusto Abelaira, 23<br />
Enelita de Sousa Freitas<br />
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler, 31<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica<br />
do Rio Peruípe Sul – região extremo sul da Bahia, 47<br />
Joana Farias dos Santos<br />
A filologia e a crítica textual: comentários de textos regionais, 59<br />
Sélcio de Souza Silva<br />
Uma personagem que deu o que falar, 67<br />
Vanda Luiza de Souza Netto<br />
ENSAIO<br />
Religião: uma visão mercadológica desfigurando a imagem verdadeira<br />
de Deus, 73<br />
Sélcio de Souza Silva<br />
RESENHAS<br />
SUMÁRIO<br />
Um saber que não se explica: notas sobre O Mestre Ignorante, de Jacques<br />
Rancière, 77<br />
Bernardina Leal<br />
O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social, 85<br />
Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes<br />
Gemagem: poesia de alto quilate, 91<br />
Waldo Motta<br />
De paródia, paráfrase, estilização e apropriação: e intertextualidade, 97<br />
Wilbett Oliveira
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO:<br />
OBJETIVO E FUNDAMENTO DO PLANEJAMENTO<br />
MUNICIPAL EFICAZ<br />
Introdução<br />
RESUMO<br />
Antonio Genilton Sant’Anna*<br />
O desenvolvimento <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong>, tendo como sustentáculo<br />
e base a questão educacional, é o fundamento deste trabalho. O<br />
objetivo é oferecer as premissas básicas para a elaboração de um<br />
planejamento municipal responsável, de longo prazo e que busque<br />
atender necessidades e não vontades. Assim, o planejamento<br />
estratégico se apresenta como a ferramenta ideal. Além disso, o<br />
conceito de responsabilização é colocado como o balizador do<br />
processo, sendo apresentados os instrumentos legais que o<br />
respaldam.<br />
Palavras-chave: <strong>Desenvolvimento</strong> <strong>sustentável</strong>; planejamento<br />
estratégico.<br />
O administrador público, no exercício de suas funções, depara-se<br />
com freqüência com questões que envolvem decisões complexas. Tal fato<br />
fundamenta-se, principalmente, na premissa de que este profissional só pode<br />
fazer aquilo que a lei determina, ao contrário do administrador privado que tem<br />
a liberdade de fazer tudo o que a lei não proíbe. Assim, o administrador público<br />
comumente vê-se ante situações que envolvem o ideal, o necessário e o possível.<br />
Na busca de instrumentos auxiliares à tomada de decisões, em situações que<br />
envolvam tal grau de complexidade, este trabalho apresenta o planejamento<br />
estratégico como uma alternativa viável e fundamenta-se em temas ligados à<br />
administração, economia e <strong>educação</strong>. Alguns cuidados, porém, devem ser<br />
* Antônio Genilton Sant’Anna é especialista em Gestão Empresarial e Docência Superior.
10 tomados no trato das questões aqui consideradas, conforme assegura Mishan<br />
(1976):<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
Sem dispor de seguros antecedentes sob a forma de princípios da<br />
disciplina, um autor fica obviamente mais exposto. Maior ainda é a sua<br />
tentação de retirar-se para a generalidade abstrata, em torno da qual há<br />
sempre alguma penumbra de ambigüidade e alguma liberdade de<br />
interpretação (MISHAN, 1976, p. 20).<br />
Na busca destes seguros antecedentes e tentando evitar a<br />
generalidade abstrata, buscou-se um forte respaldo na teoria, consagrada e<br />
em autores reconhecidos. Um grande número de citações é colocado de forma<br />
a não haver margem a nenhuma penumbra de ambigüidade. Assim, ao se<br />
considerar a <strong>educação</strong> como premissa para o desenvolvimento <strong>sustentável</strong>, há<br />
que se dar, cientificamente, respaldo a tal asserção. Raw (1996) fornece tal<br />
respaldo, conforme se pode constatar no texto a seguir:<br />
Ainda há quem encontre motivação para se guiar pelo racionalismo e<br />
pela ciência – e para mudar. E há muito que fazer. É preciso combater o<br />
irracionalismo e as mistificações, onde quer que eles se manifestem: na<br />
televisão, nos locais de trabalho, nas faculdades. Podemos começar<br />
pela <strong>educação</strong>. Hoje, as pessoas passam um terço da vida nas salas de<br />
aula sem aprender e ninguém se importa. Criamos robôs que nos permitem<br />
ter uma produção cada vez maior de bens, mas ficamos prisioneiros de<br />
uma sociedade cada vez menos justa. Numa sociedade em que a ciência<br />
expandiu a longevidade do homem, não oferecemos à maioria da<br />
população segurança física nem acesso ao que a medicina moderna<br />
pode oferecer – nem mesmo a garantia de teto e comida [...] Está na hora<br />
de quebrar a insensibilidade dos governos e das lideranças para tentar<br />
corrigir isso (RAW, 1996).<br />
Neste contexto, a temática do desenvolvimento municipal<br />
<strong>sustentável</strong>, calcado na <strong>educação</strong> e racionalmente planejado é o foco central<br />
desta discussão. Dentro deste quadro, e principalmente para o caso dos<br />
municípios brasileiros, a questão da desigualdade e da inserção social deve ser<br />
alçada para o centro do debate. Este trabalho se insere dentro deste contexto.<br />
Sua preocupação básica é discutir o desenvolvimento <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> com<br />
ênfase no município como unidade elementar de análise, apresentando uma<br />
proposta de utilização do planejamento estratégico como instrumento para se<br />
alcançar os objetivos idealizados. Só assim poderá, o administrador público<br />
responsável, decidir com ponderação e profissionalismo, entre um ideal<br />
almejado, uma necessidade premente e aquilo que efetivamente é possível de<br />
ser realizado.
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong><br />
A palavra desenvolvimento, por significar ampliação, progresso,<br />
comumente é associada a um processo de crescimento quantitativo puro e<br />
simples, sem se associar a ela, quando se referindo ao desenvolvimento<br />
econômico, as características qualitativas que, em seu fundamento, os<br />
beneficiários desse processo devem usufruir. Para Buarque (1999, p. 9),<br />
“<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> é um processo endógeno registrado em pequenas<br />
unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo<br />
econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”. Para tanto, faz-se<br />
necessário que as bases econômicas e as de organização social, em nível <strong>local</strong>,<br />
sofram as adaptações necessárias para que se possa explorar as suas<br />
capacidades e potencialidades específicas. Assim, considerando-se esse prérequisito<br />
qualitativo, o planejamento do desenvolvimento <strong>local</strong> deve buscar<br />
viabilizar a competitividade da economia, visando primordialmente ao aumento<br />
da renda, tentando conservar, o máximo possível, os recursos naturais. Vale<br />
ressalvar, para o claro entendimento da questão, que renda está aqui sendo<br />
considerada conforme a seguinte definição:<br />
O conceito de renda tributável que obteve aceitação crescente entre os<br />
teoristas fiscais é o de acréscimo total. A renda é definida como igual ao<br />
consumo durante um dado período, mais o acréscimo em valor líquido.<br />
De acordo com este conceito, são incluídos todos os acréscimos à<br />
riqueza, qualquer que seja a forma com que sejam recebidos ou qualquer<br />
que seja sua proveniência (MUSGRAVE, 1974, p. 212).<br />
Busca-se, assim, aumentar as oportunidades, promovendo e<br />
ampliando o processo de inclusão social, de forma consistente e <strong>sustentável</strong>,<br />
ou seja, satisfazendo as necessidades do presente, sem, no entanto, comprometer<br />
a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades.<br />
Não se pode, porém, desconsiderar o fato de que a parcela da população atual<br />
que sofre os efeitos da pobreza ou mesmo da total exclusão social não possa<br />
ser sacrificada em função de um futuro imprevisível, imponderável e, aos seus<br />
olhos, impossível de ser alcançado em condições dignas por seus filhos e netos,<br />
assumindo um compromisso com as gerações futuras sem sequer ter esperança<br />
no presente.<br />
Educação e desenvolvimento <strong>local</strong><br />
Peter Drucker, em 1992, já chamava a atenção para o seguinte<br />
fato: a chave do sucesso empresarial não está mais no capital, nas matériasprimas<br />
ou na terra; agora o que realmente conta é o conhecimento. Assim, o<br />
conhecimento tem sido considerado um fator crucial para o desenvolvimento<br />
socioeconômico, pois<br />
11<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
12 No novo paradigma, as vantagens competitivas se deslocam da abundância<br />
de recursos naturais, dos baixos salários e das reduzidas exigências<br />
ambientais – predominantes no ciclo expansivo do Pós-guerra – para a<br />
liderança e domínio do conhecimento e da informação (tecnologia e<br />
recursos humanos) e para a qualidade e excelência dos produtos e serviços<br />
(PEREZ; PEREZ, 1984 apud BUARQUE, 1999, p. 12).<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
É por esta razão que se convencionou chamar a fase atual do<br />
desenvolvimento capitalista de economia do conhecimento ou de economia<br />
do aprendizado. A economia do conhecimento é caracterizada por um<br />
ambiente competitivo, globalizado produtiva e financeiramente, e liberalizado<br />
comercialmente. Entretanto, o conhecimento e os processos de aprendizagem<br />
e de construção de competências a eles relacionados, na medida em que são<br />
processos essencialmente interativos e incorporados em pessoas, organizações<br />
e relacionamentos, são influenciados pela disponibilidade de <strong>educação</strong> formal<br />
e pela proximidade geográfica.<br />
A <strong>educação</strong>, enquanto formadora de mão-de-obra qualificada e<br />
de empreendedores, exerce papel de fundamental importância para o<br />
desenvolvimento <strong>local</strong>. Na medida em que gera conhecimento e cria as bases<br />
do empreendedorismo, atua como fator primordial para o sucesso dos arranjos<br />
produtivos locais.<br />
Para Orlando Caliman,<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
[...] o conceito de arranjo produtivo pode ser considerado um instrumento<br />
metodológico adequado para a melhoria das condições de<br />
competitividade de regiões e municípios. A constatação de que os<br />
chamados fatores intangíveis adquirem maior importância na<br />
determinação da capacidade de competir de uma <strong>local</strong>idade, e, na medida<br />
em que esses fatores surgem com maior facilidade em ambientes<br />
representados por empresas com forte interação entre si, reforça a<br />
argumentação acima. Se de um lado, o poder público pode prover as<br />
<strong>local</strong>idades da infra-estrutura necessária para gerar o desenvolvimento,<br />
de outro, o setor privado, sobretudo organizado na forma de arranjo e<br />
com capacidade de liderança, faculta a formação dos chamados fatores<br />
intangíveis, como a capacidade de inovar, a cultura para os negócios e a<br />
propensão para a cooperação. Já a cooperação entre ambos pode<br />
promover a qualificação para a gestão de negócios e a capacitação para<br />
a pesquisa e desenvolvimento. Na verdade é o arranjo produtivo que dá<br />
a devida consistência material e de motivação para o crescimento de<br />
uma região (CALIMAN, 2005).<br />
A disponibilidade de <strong>educação</strong>, na forma de escolas e<br />
universidades, formando profissionais competentes, aptos a ingressarem no<br />
mercado de trabalho, favorece a atração de investimentos, além de manter o<br />
nível de emprego dentro de curvas ascendentes, favorecendo a empregabilidade<br />
de quem dela se favorece e o sucesso de quem empreende. Por isso, tem-se<br />
tornado uma busca constante de governos socialmente responsáveis e do setor
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
privado como mecanismo para elevação de emprego, renda e produto.<br />
Localmente, o desenvolvimento empresarial deve envolver um<br />
conjunto de atividades destinadas a estimular o espírito empreendedor em uma<br />
sociedade, favorecer a criação de novas empresas e oferecer condições de<br />
desenvolvimento e perpetuidade às já existentes. Para Cândido e Abreu (2000),<br />
as Pequenas e Médias Empresas (PME’s) são grandes geradoras de empregos<br />
e renda, consideradas o motor do desenvolvimento econômico de uma região.<br />
Os empreendedores têm um papel muito importante nesse<br />
processo, pois eles são capazes de perceber as janelas de oportunidades que<br />
surgem no mercado e para onde devem seguir. O desenvolvimento de uma<br />
região está muito associado ao sucesso dos seus empreendedores e a chamada<br />
virtualidade dos mercados, serve como fator de inserção desses empreendedores<br />
no mercado mundial, conforme apresentado por Buarque (1999) no texto abaixo:<br />
As formas novas e baratas de comunicação e transporte – com destaque<br />
para a telemática – permitem que empresas dos países e regiões mais<br />
atrasados possam acessar mercados em larga escala e em todo o mundo,<br />
ampliando as oportunidades econômicas e comerciais. A virtualidade<br />
dos mercados criada pela telemática permite que pequenos negócios se<br />
integrem em grandes mercados, articulados pelo sistema de informação,<br />
de modo que podem acessar compradores nos mais distantes espaços,<br />
com baixo custo e volume de capital (BUARQUE, 1999, p. 14).<br />
As <strong>local</strong>idades terão que ser cada vez mais capazes de suprir as<br />
necessidades de mão-de-obra qualificada a fim de produzirem bens e serviços<br />
de alta qualidade, capazes de atender às necessidades de seus usuários e de<br />
serem ágeis no oferecimento de serviços menos padronizados, uma exigência<br />
do mercado atualmente, o que só se consegue com boa formação. Pode-se<br />
concluir que cada comunidade terá de encontrar soluções próprias para orientar<br />
o seu desenvolvimento e que estas soluções passem, necessariamente, pela<br />
questão educacional.<br />
<strong>Desenvolvimento</strong> municipal<br />
Trazido para o contexto das especificidades do município,<br />
circunscrição administrativa em que se exerce a jurisdição de uma vereação, o<br />
desenvolvimento deste pode ser considerado um caso particular de<br />
desenvolvimento <strong>local</strong>, inserido em um espaço delimitado pela sua circunscrição<br />
geográfica. Buarque (1999) fornece a seguinte proposição:<br />
As perspectivas e alternativas de desenvolvimento do território, nos<br />
mais diferenciados espaços, estarão, cada vez mais, dependentes das<br />
características dominantes na economia mundial, nos modelos<br />
produtivos e, principalmente, nos padrões de competitividade que devem<br />
13<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
14 prevalecer em escala mundial e nacional, diante das quais cada<br />
comunidade e cada município respondem com suas condições endógenas<br />
específicas, mediando e processando os impactos externos (BUARQUE,<br />
1999, p. 14).<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Para Porter (1993), a vantagem competitiva é criada e mantida<br />
por meio de um processo altamente <strong>local</strong>izado. Assim, a <strong>local</strong>ização das indústrias<br />
globais tem sido determinada mundialmente, de acordo com as condições de<br />
cada <strong>local</strong>, em função das suas diversidades e particularidades. “O global se<br />
alimenta do <strong>local</strong>, se nutre do específico” (CHESNAIS, 1996 apud BUARQUE,<br />
1999, p. 13) . O mesmo Buarque completa:<br />
As tendências futuras parecem apontar para uma intensificação do<br />
processo combinado e contraditório de descentralização políticoadministrativa<br />
– reforçando as responsabilidades dos municípios –,<br />
com uma reconcentração regional da economia. E, embora os dois<br />
processos tenham uma relativa autonomia, decorrentes de fatores<br />
diferentes, a descentralização e a municipalização da gestão pública<br />
podem levar a reforçar e potencializar a concentração econômica, caso<br />
seja acompanhada de uma redução dos instrumentos de reorientação do<br />
desenvolvimento macroespacial, de responsabilidade da União e seus<br />
organismos regionais (supramunicipais) (BUARQUE, 1999, p. 21).<br />
É certo, portanto, que para se ter uma experiência bem-sucedida<br />
de desenvolvimento municipal, necessário se faz que exista um ambiente político<br />
e social favorável, expresso por um plano de governo consistente, e,<br />
principalmente, de um planejamento bem elaborado, em que se priorizem<br />
orientações básicas de desenvolvimento, cujo cerne esteja calcado nos conceitos<br />
anteriormente discutidos.<br />
Pode-se considerar, portanto, que o desenvolvimento municipal<br />
<strong>sustentável</strong> é o resultado de um processo administrativo eficiente e solidamente<br />
planejado, que induz a um aumento continuo da qualidade de vida, baseado<br />
numa economia eficaz e competitiva, com relativa autonomia das finanças<br />
pública, e efetiva, uma vez que também tem que ser combinada com a<br />
conservação dos recursos naturais e do meio ambiente.<br />
Planejamento municipal<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar.<br />
Jim Rohn<br />
De tão importante, o planejamento foi lembrado pelos legisladores<br />
e colocado na lei maior da nação brasileira, a Constituição, conforme retrata o
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
artigo abaixo:<br />
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado<br />
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e<br />
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo<br />
para o setor privado (BRASIL, 2003).<br />
Para tratar das especificidades do planejamento municipal, faz-se<br />
necessária uma abordagem teórica da função administrativa de planejamento,<br />
sem a qual o perfeito entendimento da questão pode ser comprometido.<br />
Assim, levando-se em conta os grandes níveis hierárquicos, três<br />
tipos de planejamento podem ser considerados: o estratégico, o tático e o<br />
operacional. A Figura abaixo mostra a associação dos tipos de planejamento<br />
aos níveis de decisão em uma pirâmide organizacional:<br />
NÍVEL<br />
ESTRATÉGICO<br />
NÍVEL<br />
TÁTICO<br />
NÍVEL<br />
OPERACIONAL<br />
EXECUÇÃO<br />
DECISÕES ES TRATÉGICAS<br />
DECISÕES TÁTICAS<br />
DECISÕES<br />
OPERACIONAIS<br />
Figura 1: Pirâmide organizacional X Tipos de planejamento<br />
Fonte: Buarque (1999)<br />
PLANEJAMENTO<br />
ES TRATÉGICO<br />
PLANEJAMENTO<br />
TÁTICO<br />
PLANEJAMENTO<br />
OPERACIONAL<br />
O planejamento municipal nada mais é do que a aplicação, para o<br />
município, da metodologia e das técnicas já consagradas na teoria e na prática<br />
do planejamento governamental. Deve-se, porém, adaptar e ajustar estes<br />
métodos e técnicas às concepções contemporâneas de planejamento e de<br />
desenvolvimento, incorporando a eles os postulados do planejamento estratégico,<br />
uma vez que este é o processo administrativo que oferece o ferramental<br />
metodológico utilizado para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pelas<br />
instituições.<br />
De responsabilidade daqueles que ocupam os níveis hierárquicos<br />
mais altos, o planejamento estratégico deve cuidar da formulação dos objetivos<br />
e dos cursos de ação que devam ser seguidos para a consecução dos mesmos.<br />
O planejamento estratégico governamental é a maneira pela qual a sociedade,<br />
através de seus representantes, exerce o poder sobre o seu futuro, rejeitando o<br />
15<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
16 comodismo resignado e estabelecendo parâmetros e iniciativas que irão definir<br />
o seu destino. Para tanto, faz-se necessário que esses representantes detenham<br />
o conhecimento detalhado de uma metodologia de elaboração e implementação<br />
do planejamento estratégico, pois só esse embasamento teórico propicia a<br />
otimização da sua aplicação.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
De acordo com Urwick,<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
Nada podemos fazer sem a teoria. Ela sempre denotará a prática por uma<br />
simples razão: a prática é estática. Ela realiza bem o que conhece. Contudo,<br />
ela não tem nenhum princípio com que possa lidar no caso do que não<br />
conhece [...] A prática não está adaptada aos rápidos ajustamentos<br />
oriundos de mudanças no meio ambiente. A teoria é versátil. Ela<br />
adapta-se a mudanças de circunstâncias, descobre novas possibilidades<br />
e combinações, perscrutando o futuro (1952 apud OLIVEIRA, 2004, p. 65).<br />
No que concerne ao planejamento estratégico governamental,<br />
portanto, o administrador público deve ter o domínio, tanto da teoria quanto da<br />
prática, ou então ser assessorado por quem o tenha.<br />
Buarque (1999) deixa claro o caráter político, enquanto arte do<br />
possível, do planejamento governamental:<br />
De um modo geral, o planejamento governamental é o processo de<br />
construção de um projeto coletivo capaz de implementar as<br />
transformações necessárias na realidade que levem ao futuro desejado.<br />
Portanto, tem uma forte conotação política. E no que se refere ao<br />
desenvolvimento <strong>local</strong> e municipal, o planejamento é um instrumento<br />
para a construção de uma proposta convergente dos atores e agentes<br />
que organizam as ações na perspectiva do desenvolvimento <strong>sustentável</strong><br />
(BUARQUE, 1999, p. 36).<br />
O planejamento estratégico municipal não pode se deixar dominar<br />
pelo curto prazo, pelo urgente. Deve-se, isso sim, encadear as prioridades numa<br />
perspectiva de desenvolvimento a médio e longo prazo. Sem ignorar as<br />
necessidades e carências do município, deve-se estabelecer o vínculo entre<br />
estas e os fatores estruturais do desenvolvimento desejado, procurando evitar<br />
o imediatismo e a mera resolução dos problemas conjunturais. Castro (2005)<br />
fundamenta esta idéia:<br />
Nas sociedades desenvolvidas, o tempo é organizado de forma mais<br />
complexa. Mais ainda, tais sociedades estão sempre preocupadas com<br />
problemas e obstáculos que estão mais à frente no tempo. Em vez de<br />
resolver as crises do presente, resolvem-se as do futuro, para que não<br />
cheguem a ocorrer (CASTRO, 2005, p. 24 ).<br />
Na análise ambiental, elemento de fundamental importância no<br />
processo de planejamento, é necessário identificar os fatores e os componentes<br />
mais relevantes e determinantes das questões que condicionam o futuro.
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
Geralmente as questões mais urgentes e indesejáveis não são as mais<br />
importantes e relevantes na determinação do que ocorre na realidade cotidiana.<br />
É de fundamental importância processar os dados da realidade, interpretar as<br />
informações decorrentes e, com o conhecimento adquirido, distinguir o urgente<br />
do importante – este sim, determinante do desenvolvimento <strong>sustentável</strong>. A<br />
Figura 2 procura expressar a distinção entre o urgente e o importante:<br />
I<br />
M<br />
P<br />
O<br />
R<br />
T<br />
A<br />
N<br />
T<br />
E<br />
I - Centrando<br />
no<br />
estratégico<br />
III - Atuando<br />
no<br />
supérfluo<br />
URGENTE<br />
Figura 2: Importância X Urgência<br />
Fonte: Buarque (1999), com adaptações<br />
II -<br />
Administrando<br />
crises<br />
IV - Correndo<br />
atrás<br />
do prejuízo<br />
Da análise da Figura acima, deduz-se o que segue: no quadrante<br />
I encontramos os problemas de grande importância e pouca urgência. São os<br />
que devem ser enfrentados com tranqüilidade, visando à sustentabilidade futura.<br />
Segundo Buarque (1999), as ações estratégicas devem ser concentradas nestes<br />
problemas, criando as bases para a reestruturação socioeconômica da realidade<br />
e evitando o acúmulo e a formação de novos problemas e urgências no futuro.<br />
Os problemas que se enquadram no quadrante II são também de<br />
muita importância, além de muito urgentes. Isto é o resultado da falta de<br />
planejamento, no passado, de problemas do quadrante I, que acabaram se<br />
tornaram mais graves e inadiáveis. Desta forma, as ações acabam se voltando<br />
para a administração de crises herdadas de um passado não planejado, exigindo,<br />
no presente, uma ação imediata e prioritária, para evitar o estrangulamento de<br />
curto prazo e os desdobramentos de médio e longo prazo. Neste ponto se faz<br />
presente o planejamento tático.<br />
Os problemas do quadrante III são de pouca importância e pouca<br />
urgência e podem ser ignorados quanto às prioridades de ação, não se gastando,<br />
portanto, energias, que atuam sobre o supérfluo.<br />
Quanto aos problemas do quadrante IV, estes têm pouca<br />
importância e muita urgência, representando fatores indesejáveis e graves da<br />
17<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
18 perspectiva da sociedade <strong>local</strong>, mas que não são estruturais e determinantes<br />
do desempenho futuro da realidade. Decorrem, em geral, de ações conjunturais<br />
e de distorções estruturais do modelo de desenvolvimento e do acúmulo de<br />
problemas formados pela ausência de ações estratégicas no passado, voltadas<br />
para o desenvolvimento <strong>sustentável</strong>. Estes problemas exigem iniciativas<br />
imediatas, de forma a se correr atrás do prejuízo, enquanto amadurecem as<br />
transformações resultantes da intervenção sobre os quadrantes I e II. É aqui<br />
que o planejamento operacional deve atuar.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
Cabe, porém, ressaltar o que segue: o princípio da legalidade, no<br />
Brasil, estabelece que a Administração pública nada pode fazer senão o que a<br />
lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a<br />
lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei antecipadamente<br />
autorize. Donde, administrar o que é público significa prover aos interesses<br />
públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e<br />
formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. O<br />
princípio da legalidade é um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito,<br />
entendendo-se este como o princípio “da completa submissão da Administração<br />
pública às leis”. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em<br />
prática. Pode-se inferir, portanto, que planejar, na administração pública, passa<br />
necessariamente pela elaboração de leis.<br />
O Plano Plurianual – PPA é o instrumento legal de planejamento<br />
que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública,<br />
promovendo a identificação clara dos objetivos do governo, a integração do<br />
planejamento e do orçamento, a garantia da transparência, o estímulo às<br />
parcerias, a gestão empreendedora orientada para resultados e a organização<br />
das ações de governo em programas. Tais assertivas são claramente<br />
identificadas por Resende (2001) conforme texto a seguir:<br />
A Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece que a iniciativa<br />
das leis orçamentárias – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei<br />
Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) – é de competência<br />
exclusiva do Poder Executivo. Há integração das três leis: o PPA<br />
estabelece o planejamento de médio prazo (quatro anos), a LDO faz a<br />
ligação entre o plano e o orçamento do ano e a LOA é o orçamento<br />
propriamente dito, com a previsão de todas as receitas e a fixação das<br />
despesas. A LDO deve ser compatível com o PPA e a LOA não pode<br />
divergir do PPA e da LDO (REZENDE, 2001, p. 99-100).<br />
Balizando esse complexo processo temos a Lei de<br />
Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de<br />
2000) - que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a<br />
responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e<br />
corrijam os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,<br />
destacando-se a obrigatoriedade do planejamento, do controle, da transparência
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
e, principalmente, a responsabilização como premissas básicas.<br />
Os anglo-saxões, menos afeitos à burocracia e, conseqüentemente,<br />
às suas disfunções, incorporaram ao serviço público o conceito de<br />
accountability (responsabilização). Este conceito traz embutida a idéia de<br />
responsabilidade com autonomia. É um conceito que se dissemina entre os<br />
especialistas brasileiros em gestão pública empreendedora e a LRF é uma<br />
legitima expressão desse conceito. Assim, necessário se faz que os envolvidos<br />
no processo de planejamento municipal sejam profundos conhecedores do<br />
arcabouço legal que o rege, sob pena de se elaborar um planejamento em que<br />
se expresse o melhor da vontade, sem, no entanto, atender às reais necessidades<br />
e, pior, contrariando o princípio da legalidade, uma vez que nem sempre a boa<br />
intenção é a expressão da razão.<br />
Conclusão<br />
Quando se almeja o desenvolvimento <strong>local</strong>, especialmente o<br />
desenvolvimento municipal, <strong>sustentável</strong>, a <strong>educação</strong> aparece como fator<br />
primordial no processo. Isso porque, até mesmo o processo de planejamento<br />
desse desenvolvimento apresenta alto grau de complexidade, o que o torna<br />
impossível se o município não dispuser de pessoas formalmente qualificadas<br />
para a sua elaboração. Castro (2005) deixa isso claro:<br />
[...] tem maiores chances de se desenvolver economicamente quem lida<br />
melhor com a complexidade. Terão poucas chances aquelas sociedades<br />
em que cada um lida com poucos elementos. O desenvolvimento requer<br />
abraçar a complexidade, principalmente nas dimensões que afetam direta<br />
ou indiretamente o processo produtivo... Igualmente, nos países<br />
avançados as relações humanas se pautam por regras complexas,<br />
impessoais e estruturadas. Além disso, são regras diferentes para regular<br />
momentos e funções diferentes da vida, com claras distinções entre<br />
família, organizações e Estado (CASTRO, 2005, p. 24 ).<br />
Como decorrência dessa complexidade, aliada à forte regulação<br />
imposta pela LRF, temos que, aqueles candidatos incompetentes, ainda que<br />
hábeis em suas práticas personalistas, que ainda sobrevivem nos municípios do<br />
interior brasileiro, se eleitos, ficam, cada vez mais, vulneráveis e passíveis das<br />
sérias punições que esta lei estabelece. Isto já é um fato consumado, sendo<br />
inúmeros os exemplos neste sentido. Com o fortalecimento e aparelhamento<br />
cada vez maior das instituições, principalmente do Ministério Público, a elevação<br />
do nível educacional e a conseqüente conscientização político-eleitoral da<br />
população, esta classe política tende à extinção.<br />
Ações no campo educacional são, geralmente, ações de médio e<br />
19<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
20 longo prazo. Por envolver recursos que já chegam ao município como verba<br />
com destinação legal obrigatória – no caso da <strong>educação</strong> isso representa 25%<br />
(vinte e cinco por cento) das receitas - cabe ao gestor decidir, estrategicamente,<br />
a destinação desse dinheiro. Promover o acesso universal à <strong>educação</strong>, com<br />
eqüidade e, principalmente, qualidade, é fator de primordial importância no<br />
processo, devendo, portanto, ser uma premissa básica na elaboração do PPA.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
As questões relativas ao planejamento, apresentadas neste<br />
trabalho, concentram-se apenas na fase preliminar de elaboração dos planos.<br />
Não contempla metodologias referentes às etapas de execução e de<br />
acompanhamento, entendendo que a definição sobre a forma e os mecanismos<br />
a serem utilizados nestas duas fases constitui um dos produtos do planejamento<br />
e, portanto, cabe aos partícipes do processo estabelecê-las.<br />
No que concerne ao processo de planejamento acima abordado,<br />
especial atenção deve ser dada à LRF, principalmente aos artigos 12 a 17.<br />
Deve-se redobrar a atenção quanto a um importante detalhe destes: às DOCC<br />
(Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado). Vale ressaltar que o não<br />
cumprimento do conteúdo explicitado nos referidos artigos, além das punições<br />
de caráter político-eleitoral – perda de mandato, inelegibilidade – implica,<br />
também, em punições de caráter penal, que variam de 1 (um) a 4 (quatro) anos<br />
de prisão. Recomenda-se aos interessados para que se busque o seu detalhado<br />
conhecimento.<br />
Referências<br />
Antonio Genilton Sant’Anna<br />
BRASIL. Constituição (1988). Constituição (da) República Federativa do<br />
Brasil. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003.<br />
BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.<br />
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na<br />
gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: < http://<br />
siops.datasus.gov.br/Documentacao/lei_comp_101.pdf>. Acesso em: 04 set.<br />
2005.<br />
BUARQUE, Sérgio C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento<br />
<strong>sustentável</strong>. IICA, Recife, 1995.<br />
______. Metodologia de planejamento do desenvolvimento <strong>local</strong> e<br />
municipal <strong>sustentável</strong>. PCT – INCRA/IICA, Brasília, 1999.<br />
CALIMAN, Orlando. Espírito Santo competitivo: uma estratégia de<br />
desenvolvimento com base em arranjos produtivos. Artigo disponível em: . Acesso em 18 fev.<br />
2005.<br />
CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde; ABREU, Aline França de. Aglomerados
<strong>Desenvolvimento</strong> <strong>local</strong> <strong>sustentável</strong> e <strong>educação</strong>: objetivo e fundamento do planejamento municipal eficaz<br />
industriais de pequenas e médias empresas como mecanismo para a<br />
promoção de desenvolvimento regional. REAd –Revista Eletrônica de<br />
Administração. Porto Alegre, 18. ed., n.6, v.6, dez. 2000.<br />
CASTRO, Cláudio de Moura. O desafio da complexidade. VEJA. ed. 1912, n.<br />
27, ano 38, 6 jul. 2005 (artigo).<br />
DRUCKER, Peter F. Uma era de descontinuidade, orientações para uma<br />
sociedade em mudança. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.<br />
______. Administrando para o futuro. São Paulo: Pioneira Thomson, 1992.<br />
MISHAN, E. J. Análise de custos-benefícios: uma introdução informal. Rio<br />
de Janeiro: Zahar, 1976.<br />
MUSGRAVE, Richard A. Teoria das finanças públicas: um estudo de<br />
economia governamental. São Paulo: Atlas, 1974.<br />
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico:<br />
conceitos, metodologia e práticas. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2004<br />
PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. Rio de Janeiro,<br />
Campus, 1993.<br />
RAW, Isaias. Em defesa da razão. Disponível em: < http://www.str.com.br/<br />
Str/defesa.htm>. Acesso em 20 de julho de 2006.<br />
REZENDE, Fernando Antonio. Finanças públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas,<br />
2001.<br />
21<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
ARTIFÍCIOS DA CONSTRUÇÃO TEXTUAL:<br />
A REPRESENTAÇÃO EM OUTRORA AGORA, DE AUGUSTO<br />
ABELAIRA<br />
Enelita de Sousa Freitas*<br />
[...] a literatura veicula a ironia não tanto por ser<br />
‘representação’, mas porque, nessa qualidade, é<br />
fortemente comunicativa.<br />
RESUMO<br />
Maria de Lourdes Ferraz<br />
O presente estudo trata da ironia romântica na literatura<br />
portuguesa, tomando para análise o romance Outrora Agora, de<br />
Augusto Abelaira. Considerando a ironia como o jogo, a<br />
instauração do reino da dúvida, é possível compreender que a<br />
presença desse artifício na construção textual propicia uma efetiva<br />
comunicação entre o texto e o leitor. A leitura aqui apresentada<br />
mostra que toda a obra se constrói e se afirma como representação,<br />
permitindo ao leitor um diálogo constante com o texto, buscando<br />
construir sentido(s) possíveis, a partir de pistas às vezes<br />
enganosas, as quais configuram um território textual escorregadio,<br />
o que significa não se poder falar de certezas em nenhuma obra<br />
literária.<br />
Palavras-chave: Ironia; literatura; dúvida; comunicação.<br />
Estudiosos da ironia, como André Bourgeois (1994) e Maria de<br />
Lourdes Ferraz (1987), mostram a complexidade existente na definição desse<br />
termo e afirmam que o discurso irônico vai além do “dizer o contrário do que<br />
pensamos”, caracterizando-se pela instauração do reino da dúvida, marcado<br />
pela ambigüidade.<br />
* Enelita de Sousa Freitas é mestre em Literaturas de Língua Portuguesa.
24 Guido Almansi (1978) explica a ironia chamando a atenção para o<br />
tongue-in-cheek, expressão ligada especificamente à língua inglesa e que<br />
significa “uma cerimônia secreta que se desenvolve em um compartimento<br />
muito privado da cavidade oral do locutor.” , imperceptível ao espectador. Na<br />
literatura, a sutileza do tongue-in-cheek supera a piscadela do autor, exigindo<br />
do leitor um grande esforço para detectá-lo, o que nem sempre é possível,<br />
limitando-se este apenas à busca, através de caminhos tortuosos com pistas<br />
enganosas. É nessa tentativa de se desfazer a ambigüidade que, segundo os<br />
três teóricos acima citados, reside a importância da ironia, como artifício que<br />
possibilita o texto literário se afirmar como tal, propiciando a efetivação do<br />
processo comunicativo. Para Maria de Lourdes Ferraz (1987, p. 7) a ironia se<br />
constitui como um “princípio necessário e inevitável da expressão estética.”<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Enelita de Sousa Freitas<br />
O jogo irônico, pelo não-dito, pela relação entre o ser e o parecer,<br />
provoca no leitor a busca de um sentido (im)possível na obra, estabelecendose,<br />
desse modo, uma relação dialógica entre o autor e o leitor, a qual só é<br />
possível devido à existência de um “eu” enunciador, representado pelo narrador<br />
implicado, e que, por sua vez, pede a presença de um “tu” receptor – o narratário<br />
– considerado por Maria de Lourdes Ferraz como complemento textual.<br />
O romance Outrora Agora, de Augusto Abelaira, através da<br />
representação desse “eu” enunciador evidencia a visão irônica que o Autor<br />
tem do mundo. Sem esconder os artifícios da representação, o narrador cria<br />
um ambiente teatral, como a dizer ao leitor que não se iluda. Desse modo,<br />
cumpre-se o que propôs Bertold Brecht para o teatro – Vida de Galileu: “[...]<br />
a decoração do palco não deve ser de molde a fazer o público julgar que se<br />
encontra num quarto da Itália Medieval ou do Vaticano. O público deve ser<br />
mantido na convicção de que se encontra num teatro” (1977, p. 48)<br />
A rejeição ao ilusionismo, defendida por Brecht, é visível em<br />
Outrora Agora. Toda a narrativa está centrada na representação. O espaço<br />
físico onde se desenrolam as ações transfigura-se num espaço teatral. Não<br />
parece aleatória a escolha do Algarve como ambiente, pois esta província, pelo<br />
seu relevo constituído de serras dispostas em arco, é comparada a um grande<br />
anfiteatro voltado para o Sul. Além desse aspecto físico, a região tem como<br />
principais indústrias modernas a hotelaria e o turismo . Vai-se ao Algarve para<br />
ver o Algarve, como se vai ao teatro para ver a peça teatral. É no palco do<br />
anfiteatro algarvio que Jerónimo, aos sessenta e tantos anos, encena a peça de<br />
sua vida.<br />
Impossível ler Outrora Agora sem considerar esse aspecto e,<br />
conseqüência disso, sem considerar a presença da ironia romântica. O narrador<br />
deixa clara a consciência da representação, seja descrevendo os gestos teatrais<br />
dos personagens (“Pula para a praia e cai-lhe cinematograficamente nos braços”<br />
– p. 84 e “E como as gelosias estão fechadas e acendeu a luz, pode ver –
Artifícios da construção textual: a representação em Outrora Agora, de Augusto Abelaira<br />
autêntico teatro de sombras chinesas – a sombra da Filomena projectada na<br />
parede do hall, seguir os movimentos dos braços ao tirar o vestido, o recorte<br />
súbito do corpo nu.”, p. 253); seja criando diálogo e situações reveladoras da<br />
mentira e do fingimento (“simpático, embora continuando a mentir” – p. 24 e<br />
“Escondeu-se sempre do pai” – p.68) ou discutindo a relação realidade-ficção<br />
(“A imaginação, isto é, a vida que não foi, a vida que gostaria de ter vivido ou<br />
de vir a viver. A vida vive-se, não dá jeito escrevê-la, é sempre desinteressante.”<br />
– p. 172) ou ainda dizendo que a vida é um teatro (“Embora a comédia faça<br />
parte da vida, seja metade da vida. Ou mais.” – p. 260) 1 .<br />
Em Outrora Agora nada se afirma definitivamente. Tudo se<br />
desdobra no disfarce, na representação, confirmando-se a todo instante o caráter<br />
fictício da obra. Não há nenhuma intenção por parte do narrador em afirmá-la<br />
como realidade.<br />
Esse jogo enganoso é possível graças à consciência de que o<br />
texto se elabora enquanto linguagem, que permite ao homem disfarçar, esconder<br />
a verdade, e que, ao mesmo tempo, seduz e encanta. Vivemos num mundo de<br />
metáforas e símbolos, onde se torna difícil perceber em que terreno estamos<br />
pisando, se no da verdade ou no da mentira. O signo lingüístico, em Outrora<br />
Agora, serve inclusive para explicar o caráter teatral da obra, evidenciando a<br />
possibilidade do jogo: “Representar pode ser uma forma de sinceridade, o<br />
modo de dizer as coisas, de torná-las mais vivas. Não é isso a arte? [...]<br />
Teatraliza o tom:”, (p. 96) “Tinha subido definitivamente no palco.” (p. 169 -<br />
grifos acrescentados)<br />
Além de expressões dessa natureza, o narrador faz uso de rubricas,<br />
que reforçam a característica dramática do romance. Aparecem, por exemplo,<br />
as expressões “Irônica:” (várias vezes) “Ousado” (p. 100) “Após uma pausa:”<br />
(p. 149), como se as personagens da narrativa fossem atores que devessem<br />
ser orientados para o modo como reagir na encenação da peça.<br />
Outrora Agora é uma obra por demais irônica. Como se não<br />
bastassem os artifícios usados para construir o texto, o narrador discute<br />
constantemente a questão do jogo irônico, apontando a ironia das personagens,<br />
como se pode notar no fragmento “[...]embora ficcionando para si própria a<br />
hesitação (a hesitação é irônica)” (p. 183). O narrador tanto mostra a presença<br />
da ironia como convida o leitor a descobri-la, estabelecendo-se, desse modo, a<br />
comunicação entre as duas instâncias narrativas: “Qual? Pensar nisto mais<br />
tarde. Talvez irônica, mas por que irônica? E onde está a ironia?” (p. 257).<br />
Sustentada na representação, a comunicação com o leitor se<br />
estabelece em toda a obra. Página após página, este é convidado a refletir<br />
1 Abelaira, 1996. – Todas as citações com indicação de página referem-se à obra em estudo<br />
25<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
26 sobre a leitura, a atribuir um sentido ao texto, enfim, a participar do ato criador.<br />
Várias interrogações são feitas ao narratário, como se o narrador estivesse<br />
sempre a pedir sua participação na construção textual. Diante dessas<br />
interrogações, a posição do leitor é instável, de acordo com os vários fatores<br />
que vão determinar sua condição de dialogar com a obra.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Enelita de Sousa Freitas<br />
Não só através de interrogações o narrador se dirige ao narratário.<br />
Em todo o texto se evidencia o processo comunicativo, que acontece também<br />
por meio dos monólogos interiores da personagem. O autor implícito alerta o<br />
leitor para a situação de comunicação neles instalada. É da boca da personagem<br />
que ouvimos sobre isso:<br />
Falar com o outro. Quando julgo falar comigo própria, quando julgo falar<br />
de mim para mim, com quem falo? Explico: quem é o meu interlocutor<br />
solitário? O ou os, posso ter vários. – Professoral: – Nunca é conosco<br />
que falamos, está dito e redito, o monólogo é uma ilusão, há sempre um<br />
diálogo. O diálogo que não temos no mundo real (p. 163).<br />
É, sem dúvida, mais pelos monólogos de Jerónimo que o leitor fica<br />
por dentro da sua história, facilitando-se, assim, a compreensão do texto. Além<br />
disso, sabendo-se ser a criação literária um ato solidário, ela não passa de um<br />
(suposto) monólogo que, vindo a público, transforma-se num diálogo com<br />
inúmeros receptores.<br />
O diálogo em Outrora Agora dá-se também, e em larga escala,<br />
com outras obras e com a história sócio-política de Portugal. O fenômeno da<br />
intertextualidade está presente em todo o texto de Augusto Abelaira e falar<br />
dele, fazendo as relações intertextuais, constitui objeto de estudo para outra<br />
análise. Entretanto, não podemos deixar de observar o diálogo existente com<br />
um poema de Fernando Pessoa, cuja última estrofe foi usada como epígrafe do<br />
romance. Segundo o próprio Abelaira, em entrevista a Márcio Serelle , esse<br />
poema causou-lhe profunda impressão, sobretudo pela expressão “outrora<br />
agora” que veio dar título à sua obra. Em ambos os textos as lembranças do<br />
passado vêm à tona, o que provoca, tanto no eu-poético (em Fernando Pessoa)<br />
como na personagem (em Abelaira), um desejo de revivê-lo. Sem nenhuma<br />
certeza de felicidade passada ou futura, os textos mergulham no espaço da<br />
dúvida, marcado em Outrora Agora pelo vasto teor de ambigüidade que<br />
percorre a narrativa, a começar pelo seu título.<br />
Além dos artifícios dos quais já falamos, Outrora Agora afirma<br />
seu caráter ficcional pela metaliteratura. A personagem Cristina está a escrever<br />
um livro, sobre o qual discute com Jerónimo. Em suas falas transparecem<br />
alguns mecanismos da criação, podendo o leitor ouvir, através desse jogo,<br />
novamente a voz do autor implícito que, como em outras obras de Abelaira,<br />
segundo Lélia Duarte, “mostra-se por trás das personagens, revelando o estatuto<br />
da metaliteratura de sua criação e alertando o leitor para que não se deixe
Artifícios da construção textual: a representação em Outrora Agora, de Augusto Abelaira<br />
enganar pelas manobras de personagens e narradores não confiáveis.” É o<br />
próprio narrador que, através dos monólogos de Jerónimo diz: “Os romancistas,<br />
a liberdade de dizer asneiras, disfarçando-se atrás das personagens.” (p. 47).<br />
É no plano do enunciado que acontecem essa manobras, as quais,<br />
vistas atentamente, revelam o jogo irônico montado pelo sujeito da enunciação.<br />
O leitor atento pode observar que no começo (p. 11) e no final (p. 270) da<br />
narrativa, Jerónimo mostra-se preocupado por ter-se esquecido de pagar a<br />
conta de telefone. É possível notar que ele revela tal preocupação no início, no<br />
Algarve e, no final, a caminho do Algarve, quando volta para encontrar Cristina.<br />
Afinal, Jerónimo tinha mesmo estado antes no Algarve e, ao voltar, assalta-o o<br />
mesmo pensamento? Ou não tinha estado? Situação ambígua. Na segunda<br />
hipótese, pode-se dizer que tudo não passou do desejo da personagem,<br />
reafirmando-se o caráter fictício da obra.<br />
O surgimento da mosca também no início e no final da narrativa<br />
desperta igual suspeita. Atentando para o discurso, vê-se que na página 45<br />
aparece a expressão “uma mosca” que passa a ser “A mosca” na página 278.<br />
A definitivização leva o leitor a perceber que se trata da mesma mosca,<br />
levantando-se a possibilidade de Jerónimo não ter vivido a história no Algarve,<br />
mas apenas abriu o baú de lembranças pessoais. A morte o surpreendeu quando<br />
a caminho da felicidade desejada.<br />
Uma leitura possível. Não se pode, porém, pensar em certeza em<br />
nenhuma obra literária, muito menos na que estamos analisando. Falar de<br />
Outrora Agora é falar de ambigüidade, presente no título da obra, na construção<br />
do narrador, nos sentimentos e ações das personagens, nos mecanismos da<br />
narração. Aquilo que é dito pelo narrador ou pensado pela personagem é, muitas<br />
vezes, posto em dúvida entre parênteses, revelando uma divisão do “eu” e<br />
introduzindo uma nova perspectiva do sujeito da enunciação através de um<br />
constante desdobramento desse sujeito. A narração é feita ora em 3ª pessoa,<br />
por um narrador onisciente, com diálogos diretos das personagens, ora em 1ª<br />
pessoa, passando pela intensa utilização do discurso indireto livre. Nesse jogo<br />
de foco narrativo, a fala da personagem confunde-se com a do narrador, como<br />
se pode observar no fragmento seguinte:<br />
[...] foi com uma moto que o Fernando teve o desastre – e aquilo que me<br />
prende às longínquas origens da vida desligou-me do futuro, deixou-me<br />
sozinho, vazio, diante do universo. Agora ele (ele, o Jerónimo) ali à<br />
varanda, trinta anos depois, a gozar o sol, os olhos no mar (p. 11).<br />
Esse modo de construção textual reitera o caráter enganoso da<br />
obra, mostrando que há outra voz atrás das falas do narrador e das personagens.<br />
Através do processo de comunicação instalado na narrativa via<br />
representação e ambigüidade, o Autor chama a atenção do leitor para o<br />
27<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
28 mecanismo da língua(gem) – esse organismo vivo – que, de forma oral ou<br />
escrita, transmite a história e a cultura de um povo a gerações futuras. Todo o<br />
esforço do autor em dialogar com o leitor, de várias maneiras, exprime o seu<br />
desejo de livrar da morte a linguagem.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Enelita de Sousa Freitas<br />
A produção literária de Augusto Abelaira, percorrendo os caminhos<br />
da ironia romântica, mostra um mundo fantasioso, onde nada se explica e tudo<br />
deve ser relativizado e onde as relações humanas podem não passar de uma<br />
representação. Cada homem é ator e espectador de sua própria história (cf.<br />
fala de Jerónimo, p. 204). Lélia Duarte (1994), em estudos sobre a construção<br />
irônica em As boas intenções, Bolor e O bosque harmonioso, deste mesmo<br />
autor, discute essa questão, afirmando:<br />
Com essa ironia revela a sua convicção de que o mundo é um vácuo<br />
(in)significante, onde se realiza a fusão do trágico e do cômico, e em que<br />
qualquer riso esboçado é logo suspenso, transformando-se na universal<br />
linguagem da ironia. [...] é impossível afirmar algo definitivamente, já<br />
que o homem, o mundo e a própria linguagem não existem de forma<br />
absoluta, mas são relativizados pela necessidade de estabelecimento de<br />
uma situação de comunicação (DUARTE, 1994, p. 73).<br />
Através da representação consolida-se o fazer literário em<br />
Outrora Agora. Abrem-se as cortinas do “teatro”, em prol de uma maior<br />
cumplicidade com o leitor, e tem início a comunicação. O leitor não pode perder<br />
nenhum gesto das personagens, tendo ainda que ficar atento aos ditos e nãoditos<br />
do narrador, pois neles pode aparecer a piscadela do autor implícito. As<br />
artimanhas da construção em Outrora Agora exigem, portanto, bastante<br />
perspicácia do leitor. Trata-se de uma obra que quebra as barreiras dos gêneros<br />
literários e a seu respeito, pergunta-se: romance ou teatro? Sem possibilidade<br />
de certezas.<br />
Fingimento, jogo de contrários, como em Blablalie . O mágico aqui<br />
se chama Augusto Abelaira. Ele, como todos os mágicos da linguagem, sabe<br />
construir sereia de papel que encanta e seduz o leitor para aprofundar-se nas<br />
águas do texto literário, cujo leito é escorregadio e movediço. Jogos enganosos<br />
levam-no (o leitor) para o fundo em busca de um terreno firme (o sentido), que<br />
pode ou não ser encontrado, pois também este é relativo. É preciso que o leitor<br />
seja um bom detetive e tenha cuidado com as muitas pistas falsas que estão<br />
pelo caminho. Enquanto ele investiga, invisivelmente, debaixo da língua do<br />
narrador, pode estar acontecendo o tongue-in-cheek.
Artifícios da construção textual: a representação em Outrora Agora, de Augusto Abelaira<br />
Referências<br />
ABELAIRA, Augusto. Outrora Agora. Lisboa: Presença, 1996.<br />
ALMANSI, Guido. L’affaire mystérieuse de l’abominable tongue-in-cheek.<br />
Trad. Luiz Morando. Poétique. Paris, Seuil, n. 36, nov. 1978, p. 413-426.<br />
BOURGEOIS, André. L’ironie romantique. Grenoble: Presses Universitaires<br />
de Grenoble, 1974. Trad. Luiz Morando. In: Cadernos do NAPq, n. 22. Belo<br />
Horizonte: CESP/FALE/UFMG, p. 55-80, dez. 1994.<br />
BRECHT, Bertold. Vida de Galileu. São Paulo: Abril Cultural, 1977.<br />
CARA, Salete de Almeida. Fernando Pessoa: um detetive leitor e muitas<br />
pistas. São Paulo: Brasiliense, 1988.<br />
DUARTE, Lélia Maria P. De boas intenções... – a construção irônica de alguns<br />
romances de Augusto Abelaira. In: Quinto Império. – Revista da Cultura e<br />
Literaturas de Língua Portuguesa. Salvador: Centro de Estudos Portugueses,<br />
v. 1, p. 126-129, 1º Sem. 1996.<br />
DUARTE, Lélia Maria P. Ironia, humor e fingimento literário. In: Cadernos<br />
do NAPq. n.º 15. Belo Horizonte: FALE/UFMG, p. 54-78, fev. 1994.<br />
FERRAZ, Maria de Lourdes, Ironia. In: A ironia romântica. Lisboa: IN-CM,<br />
1987.<br />
NIESTZSHCE, F. Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral. 1873.<br />
In: Obras Incompletas. Col. Os Pensadores, 2. ed. Trad. Rubens Rodrigues<br />
Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1978.<br />
REIS, Carlos. Dicionário de narratologia. Coimbra: Almedina, 1987.<br />
SANTOS, Jussara. O triunfo da morte ou o triunfo do tongue-in-cheek? In:<br />
Cadernos CESPUC de Pesquisa. Belo Horizonte: PUC MINAS, n. 3, p. 7-<br />
16, abr. 1998.<br />
SERELLE, Márcio. Entrevista a Augusto Abelaira. In: SCRIPTA – Revista do<br />
Programa de Pós-Graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-Afro-<br />
Brasileiros da PUC MINAS. Belo Horizonte, V. 1, n. 1, p. 283-287, 2º Sem.<br />
1997.<br />
29<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
O QUIXOTE: IMPORTÂNCIA, UTOPIA, PERSONAGENS E O<br />
PRAZER DE LER<br />
RESUMO<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira*<br />
Para falar da técnica narrativa de Cervantes, no Quixote, faz-se<br />
um resumo da obra e da atuação do personagem principal. Mostrase<br />
que a técnica da ironia predomina na obra. Apresenta-se a<br />
importância dos personagens, o seu valor simbólico e o relevo<br />
que dão às qualidades que ressaltam no personagem principal.<br />
Procura-se mostrar a importância que a obra dá ao ato de ler e<br />
reescrever e salienta-se a ambigüidade da linguagem e o valor da<br />
leitura como estímulo criativo.<br />
Palavras chaves: Quixote; utopia; personagens.<br />
O livro O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, de<br />
Miguel de Cervantes Saavedra, narra a história de um fidalgo, Alonso Quijano,<br />
de poucos recursos, que vivia em uma perdida aldeia da Mancha 1 e que saiu<br />
de sua casa mal equipado para uma batalha contra o mal, devido a seu grande<br />
e exagerado gosto pela leitura de livros de cavalaria, gênero cultivado na Idade<br />
Média, de aspecto idealista, em que um cavaleiro aventureiro, fiel amante de<br />
uma dama, fazia proezas guerreiras, não se preocupando muito com as coisas<br />
materiais e ajudando os necessitados, sobretudo se se tratasse de uma mulher.<br />
Assim, o desejo utópico de Alonso Quijano de modificar o mundo e o seu sonho<br />
de acreditar em uma vida melhor, não temendo ser ridicularizado e ser chamado<br />
*<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira é Pós-doutora de Teatro Espanhol Contemporâneo<br />
(UNED-Madrid), Doutora em Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas (UFRJ).<br />
1 Segundo os cervantistas, o Campo de Montiel, na Mancha, região de Castilha, é o<br />
indicado como “aquele lugar da Mancha de cujo nome não quero lembrar-me [...]”,<br />
frase que inicia a obra. Ali os turistas podem visitar o Campo de Criptana, onde ainda se<br />
encontram moinhos de vento, semelhantes aos que o fidalgo converteu em gigantes,<br />
ou, ainda, bem perto, os turistas podem visitar o Toboso, terra de origem da bela amada<br />
Dulcinéia.
32 de louco, fazem desse personagem o símbolo da fé e de seu nome a filosofia do<br />
quixotismo.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
Esse fidalgo, de quase 50 anos de idade, para manter a disparatada<br />
paixão pela leitura, vendia pedaços de terras cultivadas. De tanto ler livros de<br />
cavalaria, confundiu a fantasia, a ficção, com a realidade, colocou na cabeça a<br />
idéia de ser um cavaleiro andante e pôs o seu plano em ação. Segundo o<br />
narrador,<br />
[...] Encheu-se-lhe a fantasia de tudo que acha nos livros, assim de<br />
encantamentos, amores, tormentos e disparates impossíveis; e assentouse-lhe<br />
de tal modo na imaginação que era verdade toda aquela máquina<br />
de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia outra história<br />
mais certa no mundo” (1981, p. 30).<br />
Para dar vida às aventuras das histórias que havia lido, antes de<br />
sair de casa, primeiro limpou as armas que tinham sido de seu bisavô, adotou o<br />
nome de Dom Quixote de la Mancha e, depois, deu a seu cavalo o nome de<br />
Rocinante e a uma jovem camponesa, dona de seu amor em pensamento, o<br />
nome de Dulcinéia del Toboso.<br />
Imaginando que suas enferrujadas armas eram invencíveis, armado<br />
cavaleiro em uma taberna pelo taberneiro a quem julgava ser um castelão,<br />
procurou, para ser o seu escudeiro, um rústico aldeão de sua terra, Sancho Panza,<br />
seduzindo-o com a promessa de que seria o governador de uma ilha que ele<br />
conquistaria. Pensando em um mundo, como narravam os livros que lia, povoado<br />
de feiticeiros, endemoniados, gigantes, malfeitores, donzelas sofredoras, e vendo<br />
a necessidade de ressuscitar a glória da imortal cavalaria para reparar injustiças,<br />
defender os fracos e lutar para que, no mundo, reinassem o heroísmo, a bondade,<br />
o amor e a justiça, saiu de sua casa. Porém seus nobres ideais só lhe deram<br />
desventuras, pois, pelos caminhos percorridos, veio a encontrar, a realidade de<br />
cada dia: muitas injustiças para reparar e, também, uma humanidade zombeteira<br />
e egoísta. Mas não desanimou, sustentou seus sonhos até o leito de morte, quando<br />
renegou o mundo de sua loucura.<br />
No Quixote, Cervantes aponta o triunfo da injustiça e da trapaça,<br />
transformando o fidalgo num modelo de aspiração a um ideal ético e estético de<br />
vida, idealizando-o como o cavaleiro andante Dom Quixote 2 , defensor da justiça.<br />
Molda-o em personagens literários da antiga cavalaria. Coloca-o aspirando a<br />
viver a vida como uma obra de arte, julgando a ficção com mais ou igual realidade<br />
que a própria vida. Em várias partes do livro comprova-se essa assertiva, por<br />
exemplo, no Cap. L, na 1ª parte, quando D. Q. fala sobre livros impresso de<br />
2 A partir daqui, ao referir-se ao personagem Dom Quixote se usará a sigla D. Q.
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
cavalaria, sobre o prazer de lê-los e sobre a beleza e a verossimilhança dos<br />
relatos, “em qualquer parte que se leia de qualquer história de cavaleiro andante<br />
há de causar gosto e maravilha a quem a ler” (1981, p. 291). Suas leituras<br />
“desterram a melancolia”. Assim, a leitura dá prazer e sabedoria ao herói,<br />
estimula-lhe a criação e conforma o seu caráter. No Cap. I, da 2ª parte, ele<br />
descreve a imagem dos heróis dos livros de cavalaria que depreende da leitura:<br />
[...] vi com meus próprios olhos Amadis de Gaula, que era um homem alto<br />
de corpo, branco de rosto, de barba formosa e negra, de olhar entre brando<br />
e rigoroso, curto de razões, tardio em irar, e pronto em depor a ira; e do<br />
modo que eu delineei Amadis, poderia, penso eu, pintar e descrever todos<br />
quantos cavaleiros andantes se encontram nas histórias do orbe, que pela<br />
idéia que tenho, formam como as suas crônicas narram. E pelas façanhas<br />
que praticavam, e condições que tiveram, se podem tirar por boa filosofia<br />
as suas feições, a sua cor e a sua estatura (1981, p. 318).<br />
Para dar realidade à ambição do protagonista, Cervantes vai utilizar,<br />
entre outros recursos, o da metaficção, isto é, uma ficção que serve para<br />
descrever uma ficção ou analisá-la. A função dessa marca narrativa é dar<br />
mais realidade e independência aos entes de ficção. Por exemplo, quando<br />
D. Q. discute sobre o personagem do livro apócrifo 3 de Avellaneda (LIX, II<br />
parte), ou quando, na gruta de Montesinos (Cap. XXII, II parte), põe em ridículo<br />
o mundo das novelas de cavalaria, ou quando lá na gruta vê famosos personagens<br />
de novelas de cavalaria como Berna, amada de Durandarte, um dos pares da<br />
França de hoste de Carlos Magno, Cervantes está utilizando essa técnica.<br />
Cervantes mostra o seu poder criador genial ao criar um<br />
protagonista louco, protótipo de amor e virtude. Porque é por meio da emoção<br />
estética que o homem de letras escreve uma verdade camuflada, forjando um<br />
novo objeto, fonte de um sentimento simulado para legá-lo ao leitor. O objeto<br />
estético, gerado do seu inconsciente, se valoriza quando quem o considera o vê<br />
como o receptáculo de uma mensagem a ele endereçada. Ele se instala no<br />
vazio (que corresponde ao apelo do olhar, da voz) onde faltam palavras. Quanto<br />
mais seu sentido permanece opaco, mais aumenta a interrogação daquele que<br />
lê ou ouve e, paradoxalmente, mais ele sente prazer. Segundo Roland Barthes,<br />
no momento em que o leitor experimenta prazer, ele é um contra-herói. Para<br />
Barthes, todo texto produzido com prazer proporciona o prazer. A fruição que<br />
nos oferece a obra de arte é motivada pela sua duplicidade de linguagem. E, no<br />
3 Há um Quixote, o não autêntico, publicado em 1614, que aparece designado como<br />
autor Alonso Fernández de Avellaneda e editado em Tarragona com o título de Segundo<br />
tomo del Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha, em cujo prólogo havia um<br />
ataque a Cervantes. Essa obra fez com que saísse rapidamente o segundo tomo do<br />
Quixote, em 1615.<br />
33<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
34 artifício de linguagem dupla, aparece quem vai dar unidade à obra. Se se adentra<br />
ao centro da esfera artística e se permanece dentro da obra de arte, logo nas<br />
primeiras linhas, se deparará, com o nascer de um herói que surpreenderá pela<br />
instabilidade do nome: Quijada, Quesada o Alonso Quijano? Depois de batizado<br />
o herói, ainda, continuam as variações onomásticas: Don Quixote de la Mancha;<br />
Cavaleiro da Triste Figura; Cavaleiro dos Leões e Alonso, Alonso, O Bom.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
A loucura de D. Q. não afetava o seu saber, observado por vários<br />
personagens e, até, por seu escudeiro Sancho, que lhe disse: “mais de predicador<br />
era ele que de cavaleiro”, pois só a sua interpretação de leitura era uma fuga<br />
da realidade, já que acreditava que eram verdades as disparatadas invenções<br />
dos livros de cavalaria.<br />
À medida que as aventuras de D. Q. vão se sucedendo, ele é<br />
vítima de agressões físicas e de zombarias. No desenrolar da narrativa, pela<br />
imaginação do protagonista, Cervantes consegue transformar as mais baixas<br />
manifestações da vida em seres do mundo ideal: as prostitutas se transformam<br />
em princesas, o pícaro, em homem leal, o taberneiro, em nobre senhor dono de<br />
um lindo castelo, os moinhos, em gigantes, os criminosos, em vítimas inocentes<br />
da autoridade, a bacia de um rústico barbeiro, no elmo de Mambrino, rebanhos,<br />
em exército, a lavradora Aldonza Lorenzo, em Dulcinéia del Toboso, a imagem<br />
do amor perfeito, da glória e da imortalidade, logo, o ideal de perfeição, a busca<br />
de todos os homens.<br />
Cervantes foi um escritor de pouco sucesso em sua época,<br />
comparado com o destaque que tiveram os seus contemporâneos: Lope de<br />
Vega e Calderón de la Barca. Foi, também, um homem de poucos estudos<br />
universitários, apesar de ter um grande conhecimento humanístico, adquirido<br />
muito mais como autodidata que como freqüentador de cátedras universitárias,<br />
devido às precárias finanças paternas. Contudo, aos 57 anos, ofereceu à<br />
humanidade o Quixote (o de 1605, a primeira parte) que, ao ser lançado, já lhe<br />
deu a maior fama e, posteriormente, com a publicação da segunda parte em<br />
1615, obteve a imortalidade.<br />
No Quixote, o autor separa o romance da esfera do ideal e do<br />
real, mostra a disparidade entre o mundo livresco dos cavaleiros andantes –<br />
com os seus valores – e o mundo da realidade quotidiana, a dos personagens (e<br />
a dos leitores) e mostra, ainda, um mundo real cruel com um sonhador.<br />
Essa obra marcou o início do romance moderno e, segundo a<br />
UNESCO, é a obra mais traduzida no mundo depois da Bíblia e das obras<br />
completas de Lenin. Com base em sua narrativa, já se fizeram filmes e peças<br />
teatrais, já se conceberam danças, e concertos musicais, exposições, pinturas,<br />
gravuras, ilustrações, conferências, seminários, teses doutorais, poesias e<br />
romances. É um livro escrito com técnica irônica. Por essa razão, Cervantes<br />
não conclui nada, mas somente propõe, insinua, para que o leitor tire, por si
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
mesmo, toda espécie de conclusão. A obra torna-se lúdica e o jogo entre ficção<br />
e realidade alimenta-a. Esse jogo permite fazê-la uma teoria do romance. Em<br />
todo o texto estão difundidas as idéias estéticas do autor e, também, as<br />
filosóficas. Só uma análise e uma leitura atenta deixam entrever o pensamento<br />
cervantino.<br />
Cervantes apresenta um panorama, ao mesmo tempo, satírico e<br />
burlesco da vida privada, política e social de seu tempo, porque seria sumamente<br />
arriscado atacar uma nobreza arrogante, clérigos doutrinários e, inclusive,<br />
a pessoa do rei. Por isso, ele se serve de duas manhas geniais com respeito a<br />
seus ataques ao rei, não recorrendo ao sentido literal, mas empregando<br />
o alegórico, para que, em caso de vir a ser julgado, pudesse negar as acusações<br />
mediante o papel de um néscio inocente. Quanto a tratar os assuntos sérios e<br />
arriscados, como os referentes à nobreza e ao clero, Cervantes procura mesclar<br />
elementos burlescos. Porém, o fascínio que teve o seu personagem dominante,<br />
D. Q., atraiu tanto a atenção para si que encobriu os aspectos mordazes sobre<br />
a Espanha.<br />
Aproximadamente 700 personagens aparecem nessa obra de um<br />
complexo mundo social. Mas D. Q. e Sancho Pança, a princípio personagens<br />
não acabados, são os que vão se transformando à medida que avança a obra;<br />
inclusive a loucura do protagonista acaba no final da obra. Ele é uma das<br />
figuras mais conhecidas da literatura. Junto com Sancho e Dulcinéia, é um<br />
mito hispânico.<br />
Dulcinéia é o centro do mundo imaginário, o símbolo do amor,<br />
força grandiosa que transforma o homem em outro. E, para a literatura de<br />
cavalaria, a mulher é uma fonte de abnegação e sacrifício, de renovação moral<br />
do herói, figura importante das convenções utópicas do mundo pastoril. Como<br />
o amor faz o amante perder a razão, ele é um grande instrumento para a<br />
renovação do homem e faz o amante refletir-se na amada. É por isso que diz<br />
de Dulcinéia: “Ela luta em mim e vence em mim e eu vivo e respiro nela e<br />
tenho vida e ser” (Cap. XXIII, II parte). É este novo ser, mantido pelo amor,<br />
que tem a força para o herói afrontar os perigosos serviços do bem, em ajuda<br />
dos fracos e necessitados e para se lançar nas mais audaciosas façanhas. É<br />
por isso que recorre a Dulcinéia quando se vê em apuros. Assim, se pede o<br />
socorro de sua dama, não é por real e externo auxílio, mas porque com a sua<br />
lembrança, as suas energias se renovam. O seu amor por Dulcinéia, iguala-o<br />
aos heróis dos romances que deseja imitar e o código da cavalaria faz com que<br />
se mantenha à distância de Dulcinéia: “Ó Princesa Dulcinéia”, ele exclama no<br />
começo do romance, “senhora deste cativo coração, muito agravo me fizestes<br />
em despedir-me e vedar-me com tão cruel rigor que aparecesse em vossa<br />
presença.”. (Cap. II, 1ª parte).<br />
Afastamento, ordem e ofensa, puramente, imaginários. O que<br />
35<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
36 D. Q. temia era o contato feminino e se protegia no nome de Dulcinéia. Essa<br />
é a razão de ter dito, quando se deparou com Maritornes, na penumbra do<br />
dormitório da venda - a primeira tentação de D. Q. -, que só a Dulcinéia serviria.<br />
Ali explicou que fora demasiadamente golpeado e estava envergonhado de<br />
tantas pauladas recebidas para render-lhe uma homenagem condigna. E disse,<br />
ainda mais, que tinha feito uma promessa de fidelidade à sem “par Dulcinéia<br />
del Toboso, a única senhora de [seus] mais ocultos pensamentos.”: “A não se<br />
me pôr isto diante, não seria eu cavaleiro tão sandeu, que deixasse fugir a<br />
venturosa ocasião que a vossa grande bondade me faculta”(Cap. XVI. 1ª parte).<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
Outro exemplo de terror ao feminino e de declaração de sua<br />
“virgindade”, aparece no Cap. XLIII, 1ª parte, quando Maritornes, acompanhada<br />
da filha da taberneira, amarrou as mãos do leal cavaleiro em um cabresto para<br />
dele zombar. Quando ela lhe solicitou que pusesse as mãos na janela para que<br />
a princesa daquele palácio pudesse admirá-las, D. Q. disse:<br />
Tomai, senhora, essa mão, ou, para melhor dizer, esse verdugo dos<br />
malfeitores do mundo; tomai senhora, essa mão, em que não tocou mão<br />
de mulher alguma, nem a daquela que tem inteira posse de todo o meu<br />
corpo. Não vo-la dou para que a beijeis, mas para que lhe mireis a<br />
contextura dos nervos, a travação dos músculos, a grossura e espaçado<br />
das suas veias, por onde vereis que tal será a força do braço que uma tal<br />
mão possui (1981, p. ).<br />
Maritornes é todo o contrário da Dulcinéia imaginada por (castelã,<br />
bonita, de classe social elevada), é uma empregada de uma taberna, baixa,<br />
corcunda, de cara comprida, cangote curto, imensas narinas e olho torto. Figura<br />
esperpêntica, trágico-cômica, que se entregava aos hóspedes arrieiros, por<br />
“compaixão”, segundo o narrador, e se contrapõe, por tanto, às virtudes de<br />
honestidade e formosura de Dulcinéia, mas serve para reforçá-las. Se Dulcinéia<br />
representa o lado espiritual feminino, a beleza unida à virtude e à elevada<br />
posição social, qualidades que condizem com a da ideologia renascentista,<br />
Maritornes, por outro lado, representa o lado feminino do instinto carnal. Unidas<br />
às qualidades dessas personagens, teremos a dualidade própria do barroco, o<br />
feio junto com o bonito, e, ainda, o jogo dos opostos, característico dessa obra<br />
cervantina e de sua técnica ilusivo-extremista, colocando uma em um extremo<br />
de perfeição e outra no da imperfeição e do grotesco. Com esse recurso<br />
Cervantes aproxima a sua obra a dois estilos e gêneros: o do medieval idealismo<br />
dos romances de cavalaria e o da cruel realidade dos romances picarescos do<br />
renascentista-barroco.<br />
A atitude de D. Q. ver o mundo, interpretando-o, é muito própria<br />
do ser humano, mas o valor literário de Cervantes está em converter a realidade<br />
em um livro de cavalaria e tornar o personagem um ser ativo que interpreta o<br />
que vê. O seu ver é olhar. Por essa razão a asturiana é vista como uma
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
princesa e a sua rude roupa se transforma em seda; seu “bafo”, de resto de<br />
carne, em “hálito suave e aromático”; suas pulseiras de contas de vidro, em<br />
pérolas e seus cabelos duros, em “fios de luzentíssimo ouro de Arábia”, cujo<br />
esplendor “escurecia o próprio sol”. O personagem vê em profundidade e não<br />
na superfície.<br />
Também, quando D. Q. é hóspede dos duques, o tema da rejeição<br />
à mulher se repetirá, para assinalar a fidelidade do herói. Contudo, essa aventura<br />
não é espontânea, como foi a com Maritornes, pois foi forjada, isto é, foi uma<br />
farsa, idealizada pelos duques. Assim aconteceu: uma noite, ouviu girar<br />
a chave da porta de seu quarto e imaginou que fosse Altisodora, uma bela aia<br />
da duquesa que tivesse vindo tentá-lo contra a sua virtude e incitá-lo a trair<br />
a sua dama Dulcinéia del Toboso. Era ela a beleza-tentação, imitação<br />
aos livros de cavalaria, mas ele não estava disponível. Porém, em um desses<br />
suspenses de ação próprios da narrativa de Cervantes, não era a formosa<br />
aia que havia entrado, senão a anciã dona Rodríguez. A conversação se<br />
estabeleceu, mas como toda mulher assustava a D. Q., ele teve a prudência<br />
de agachar-se e cobrir-se, deixando apenas o rosto descoberto. (Cap. XLVIII,<br />
II parte).<br />
As mulheres que aparecem são reveladoras, mas nenhuma tem o<br />
espírito elevado, como Dulcinéia, a musa de D. Q. Para o personagem basta<br />
pensar e crer que a boa Aldonza Lorenzo é formosa e honesta, porque, explicando<br />
a Sancho, quanto à linhagem pouco importava, “pois faço de conta que é a<br />
mais importante princesa do mundo”:<br />
Porque tens de saber, Sancho, se já não sabes, que duas coisas só<br />
incitam a amar mais que outras; que são a muita formosura e a boa fama,<br />
e estas duas coisas se encontram consumadamente em Dulcinéia, porque<br />
em ser formosa, nenhuma lhe iguala; e na boa fama, poucas lhe alcançam<br />
(1981, p. 145).<br />
Refugiado na serra Morena, (Cap. XXV, 1ª parte) D. Q. escreve<br />
uma carta e a envia ao Toboso, por intermédio de Sancho:<br />
Soberana e alta senhora:<br />
O ferido do gume da ausência e o chagado nas teias do coração,<br />
dulcíssima Dulcinéia del Toboso, te envia a saúde que a ele lhe falta. Se<br />
a tua formosura me despreza, se o teu valor me não vale, e se os teus<br />
desdéns se apuram com a minha firmeza, não obstante ser eu muito<br />
sofrido, mal poderei com estes pesares, que, além de muito graves, já<br />
vão durando em demasia. O meu bom escudeiro Sancho te dará inteira<br />
relação, ó minha bela ingrata, amada inimiga minha, do modo como eu<br />
fico por teu respeito. Se te parecer acudir-me, teu sou: e, se não, faze o<br />
que mais te aprouver, pois com acabar a minha vida terei satisfeito à tua<br />
crueldade e ao meu desejo.<br />
37<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
38 Teu até à morte.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
O Cavaleiro da Triste Figura (1981, p. 146).<br />
As duas partes do Quixote se diferenciam na apresentação do<br />
personagem e na quantidade dos capítulos. Na primeira parte é quem<br />
transforma a realidade. Ela contém 52 capítulos. Nessa parte, vê sempre<br />
a realidade transformada de um ponto de vista subjetivo: o seu. Na segunda<br />
parte, que contém 74 capítulos, são os outros que pretendem que D. Q.<br />
veja a realidade inventada para zombarem dele. Porém, a base da primeira<br />
parte são os livros lidos e interpretados por D. Q., enquanto a da segunda<br />
é a idéia que palpita de que a história foi publicada, lida, interpretada e continuada.<br />
Cita-se um exemplo quando a duquesa quer saber de Sancho Panza<br />
se era o personagem de uma obra que ela tinha lido. Vários personagens lêem<br />
ou escrevem; muitos lêem a história de D. Q. e lêem livros de cavalarias,<br />
na taberna, nos momentos de ócio. No prólogo do Quixote, sobre o ato de<br />
escrever, encontra-se a seguinte narração:<br />
Não tenho, pois, remédio senão dizer-te que, apesar de me haver custado<br />
algum trabalho a composição dessa história, foi, contudo, o maior de<br />
todos fazer essa prefação que vais agora lendo. Muitas vezes peguei na<br />
pena para escrevê-la, e muitas a tornei a largar por não saber o que<br />
escreveria; e estando em uma das ditas vezes suspenso, com o papel<br />
diante de mim a pena engastada na orelha, o cotovelo sobre a banca, e a<br />
mão debaixo do queixo, pensando no que diria, entrou por acaso um meu<br />
amigo, homem de bem entendido, e espirituoso, o qual, vendo-me tão<br />
imaginativo, me perguntou a causa, eu, não lha encobrindo, lhe disse<br />
que estava pensando no prólogo que havia de fazer para a história de<br />
D.Q., e que me via tão atrapalhado e aflito com este empenho que nem<br />
queria fazer tal prólogo, em dar à luz as façanhas de um tão nobre<br />
cavaleiro[...] (1981, p. )<br />
Nessa obra, Cervantes se vale do romance de cavalaria, cujo<br />
empenho era a divulgação dos bons costumes cultivados pela sociedade, com<br />
base em uma prosa expositiva e uma linguagem nobre, agradável, que repelia<br />
qualquer sinal de harmonia dialógica. Esse estilo literário era o modelo do bem<br />
falar, que refletiria o refinamento e a <strong>educação</strong> do convívio social para recuperar<br />
vínculos históricos. No interior do discurso elevado do romance de cavalaria,<br />
Cervantes inseriu expressões vivas da língua interativa, processo que já tinha<br />
sido realizado, um pouco rusticamente, no passado, nas obras La Celestina,<br />
de Fernando Rojas, e Lazarillo de Tormes, de onde saiu, do mesmo fundo<br />
moral, psicológico e social, o Quixote. Como o Lazarillo, o Quixote parodia<br />
os velhos livros de cavalaria, principalmente o Amadis de Gaula. Mas a<br />
verdadeira essência do Quixote não está em ser o filho espiritual do Amadis,<br />
mas na concepção e composição do mundo picaresco. Cervantes elevou o<br />
gênero picaresco ao dar ao solitário rebelde o ideal de uma finalidade redentora,
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
tirando-o dos estreitos limites de uma vulgar luta pela existência, pois tanto nas<br />
narrativas picarescas quanto nas do Quixote, o herói está em rebelião com o<br />
mundo e a sociedade. Eles são uns inadaptados que se evadem da vida normal,<br />
lutam contra as normas que regulam a sociedade e não reconhecem outra lei<br />
que a determinada por sua própria individualidade. No Quixote, Cervantes<br />
soube fazer o equilíbrio entre o mundo ideal e o real, introduzindo um novo<br />
gênero narrativo que resulta da fusão de vários gêneros. A mordacidade que<br />
se observa nesse escritor, ao longo de sua obra, está presente nas sátiras a<br />
valores, nos temas, nas atitudes, nos personagens e nas convenções literárias<br />
que caracterizam os romances de cavalaria e a própria Espanha.<br />
Segundo opiniões de alguns cervantistas, a primeira intenção de<br />
Cervantes seria escrever uma narrativa breve, para parodiar os livros de<br />
cavalaria. Só depois planejou uma segunda saída, em busca de aventuras, mas<br />
com o escudeiro Sancho. Nessa saída vivem os protagonistas as tão conhecidas<br />
aventuras dos leitores: a luta contra os moinhos-gigantes, a batalha com o<br />
vascaíno, a libertação dos homens que iam para as galeras e a fuga de para a<br />
Serra Morena, onde pretende levar uma vida retirada e onde ele faz o famoso<br />
discurso das armas e das letras. Nessa caminhada dos protagonistas, para<br />
evitar a monotonia e o aborrecimento do leitor, Cervantes insere novelas curtas<br />
de temas variados, mudando a estrutura narrativa. Na terceira saída, na segunda<br />
parte da obra, a de 1615, ele suprime essas novelinhas e apresenta episódios<br />
menos grotescos, tais como: enfrentamento com o bacharel Sansón Carrasco,<br />
como o Cavaleiro dos Espelhos, a cova de Montesinos, o cavalo Clavilenho, a<br />
Ínsula Barataria.<br />
Se, na primeira parte, os diálogos amistosos entre e Sancho Panza,<br />
com uma linguagem viva, repleta de filosofia popular, com o emprego dos refrãos<br />
de Sancho, dão um toque moderno à narrativa, na segunda parte, a conversação<br />
se aprimora, enriquecendo os capítulos. Os protagonistas são mais reflexivos,<br />
as aventuras já não acontecem nos caminhos, mas dentro das casas ou nos<br />
castelos. Aparece um personagem com o desejo de curar a loucura do fidalgo:<br />
Sansón Carrasco, o Cavaleiro da Branca Lua, que o vence em uma batalha<br />
campal em Barcelona. Derrotado, volta para a sua casa, onde morre. Cervantes,<br />
ao articular a narrativa com recurso do processo dialógico, dando à linguagem<br />
culta um aspecto grotesco, no anacronismo do discurso do personagem que<br />
reflete um discurso lido, mas não vivenciado, inova o aspecto formal, rompendo<br />
com os cânones tradicionais do romance. A mudança de técnica narrativa<br />
se observa não só nas ações dos personagens, como também na maneira de<br />
apresentar o prólogo, eliminando o supérfluo suprimindo excessos do relato,<br />
como por exemplo, as citações bíblicas e latinas sem representatividade<br />
no relato, mas de moda em sua época, ainda que haja, no discurso, reflexos<br />
de normas do passado como as da Bíblia e do Alcorão.<br />
39<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
40 Na segunda parte da obra, a mesma realidade se apresenta<br />
mitificada. Vários personagens ouviram falar de ou leram as suas aventuras,<br />
conhecem as suas fantasias e lhe preparam o terreno para a sua realização<br />
com uma cenografia adequada, apresentando-lhe uma fingida realidade, tudo<br />
para dar realidade às aventuras das que costumam participar os cavaleiros<br />
andantes, conforme as histórias que lia, em sua biblioteca, nas suas mal dormidas<br />
noites.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
Se se focaliza nos protagonistas, observa-se que, no princípio,<br />
Sancho e são antagônicos e, à medida que o livro avança, eles vão se unindo.<br />
Na segunda saída, Sancho o acompanha por interesse, desejando ser governador<br />
de uma ilha, mas, na terceira saída, acompanha-o por amor. Não mais havia<br />
entre eles uma relação de cavaleiro e escudeiro, mas uma relação entre dois<br />
homens que se necessitam reciprocamente, porque Sancho foi descobrindo<br />
a coragem e firmeza no atuar de e foi percebendo que o mundo deste cavaleiro<br />
representava a encarnação do ideal no homem, o amor ao próximo,<br />
o desinteresse, a luta contra a hipocrisia e a fantasia, a encarnação da mais<br />
nobre condição humana.<br />
Sempre se atribuiu ao texto escrito um poder absoluto. Haja vista<br />
o decálogo escrito na pedra que Jeová entregou a Moisés. A pedra ficava bem<br />
guardada dentro de uma arca e era vista com o maior respeito. Isso porque a<br />
palavra escrita conserva esse ar sagrado, seja na pedra, no papiro, no barro ou<br />
no papel. Ela tem em si um ar sagrado de magia. E os livros são portas abertas<br />
para o sonho, em qualquer idade que se tenha acesso a eles. Eles nos permitem<br />
elaborar um mundo próprio e dar forma à experiência, ao proporcionar-nos<br />
conhecimentos e ampliar nossos horizontes. Manejar a linguagem escrita e ler<br />
um livro trazem prestígio e nos fazem sonhar, nos mostram que há saídas e que<br />
nem tudo está estagnado. E foi esse processo mágico da leitura que Cervantes<br />
nos apontou em O engenhoso fidalgo Dom Quxote de la Mancha (1ª. Parte)<br />
ou O engenhoso cavaleiro Dom Quxote de la Mancha (2ª. Parte). Daí a<br />
afirmação que toda obra leva, em seu interior, um Quixote.<br />
Os livros imóveis na biblioteca não nos impõem idéias, imagens<br />
ou histórias, mas nos fazem ver possibilidades, alternativas, que proporcionarão<br />
uma relação profunda em nossa vida. E foram os livros da biblioteca de, segundo<br />
ele, mais de trezentos os sobre histórias de cavaleiros andantes, que despertaram<br />
a fantasia do fidalgo Alonso Quijano, impulsionando-o a agir, tornando a sua<br />
história, contada pelo mouro Cide Hamete Benengeli, traduzida por um árabe e<br />
recontada por um espanhol, uma intercessão entre a poesia e a realidade, na<br />
medida em que faz com que a sua vontade de aventura, como observou Ortega<br />
y Gasset em Meditaciones del Quijote, entre para fazer parte da realidade e<br />
faz com que o imaginário poético da cavalaria participe da lógica redutível e<br />
previsível do real. Dessa forma, o grande mérito de Cervantes para a
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
posteridade foi fazer o seu herói viver as coisas imaginárias e significativas.<br />
Saber que a sua história foi lida, pois ler livros é possuir os signos de um código;<br />
é pôr em movimento um sistema; é encontrar sentido e dar nomes a eles, que,<br />
por sua vez, atrairão outros e outros numa cadeia circular; é reviver o livro; e<br />
é fazê-lo adquirir existência. A literatura fechada é morte. Assim os livros em<br />
uma biblioteca não têm vida, daí caber ao leitor dar vida à história narrada e<br />
fazê-la eterna, como fez o fidalgo manchego, Alonso Quijano, criando um<br />
personagem e dando-lhe ação.<br />
Ao colocar Cervantes a história de seus protagonistas, na segunda<br />
parte, a de 1615, sendo lida e contada por personagens, responde à ficção<br />
estética da obra literária no sentido de seu acolhimento por parte do leitor.<br />
Miguel de Unamuno, escritor espanhol do final do século XIX e<br />
princípio do XX, escreveu que colocar os pensamentos, os devaneios, os<br />
sentimentos no papel é matá-los, mas a ação de ler revive-os e faz eterna a<br />
obra. Nos versos a seguir, ele resume esse pensamento: “Leer, leer, leer, vivir/<br />
la vida que otros soñaron/ Leer, leer, leer, el alma olvida las cosas que pasaron”.<br />
Logo, ler um livro é fazer do passado um presente eterno, pois são os leitores<br />
que dão vida a esse Lázaro (alma, idéia, sonho) jacente no texto de um livro.<br />
A obra Dom Quixote de la Mancha se apóia na fé dos valores<br />
que o homem cria, sustenta e difunde, junto com a mesma vida. O protagonista<br />
é o protótipo do leitor e, na obra, há um paralelismo entre as reações que<br />
provoca sobre o leitor durante a sua vida e sobre o conjunto dos leitores no<br />
desenrolar da história. Daí vem o qualificativo “ingenioso”.<br />
Nessa obra, Cervantes dá conteúdo e perenidade a ela pela<br />
representação, pois, se o atuar aloucado de D. Q. não corresponde ao real, ela<br />
revela a realidade mesquinha com a qual convive o herói.<br />
O autor de Quixote, sugerindo, enganando o leitor, põe em dúvida<br />
se é ou não é verdade o que lê, da mesma forma duvidosa como D. Q. se põe<br />
em sua leitura dos acontecimentos nos quais vive. Nesse sentido, D. Q. escreve<br />
o seu livro ficcional, estabelece a mimese do “real”, faz literatura, tornando-se<br />
um mito, uma imagem, uma metáfora da criação artística, projetando a obra<br />
para a modernidade. E, com o seu atuar, representando as fábulas, as ações e<br />
a essência dos livros de cavalaria, estimula os seres ficcionais de sua biblioteca<br />
à ação e à perenidade.<br />
Cervantes, ao colocar D. Q. criando um mundo de ficção, ao<br />
parodiar livros de cavalaria, tendo a realidade (por exemplo, a dos moinhos)<br />
como ponto de partida, faz uma teoria-poética do que é uma obra literária, pois<br />
a realidade ficcional que cria se articula com o mundo “real” por semelhança<br />
ou contigüidade. Nesse processo, o conceito de mimese no Quixote, é uma<br />
prática, o que também torna a obra um modelo de romance para a posteridade.<br />
41<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
42 Cabe relembrar que, ao ler essa obra, nos colocamos diante de<br />
um discurso ideologicamente irônico, por isso é difícil saber quando ele é sério<br />
ou não, quando há humor ou o autor pretende apresentar-nos a sua real opinião<br />
ou combate uma idéia, pois o discurso literário se aproveita da alegoria, para<br />
romper normas: religiosas, políticas, sociais, literárias, etc.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
A leitura, como produto valorizado, como função social<br />
e discriminadora do saber prévio de cada leitor, de sua experiência de<br />
leitura, é vista no Quixote desde o seu prólogo até o fim do livro, no último<br />
pronunciamento do narrador, quando ele alude ao término de sua empresa<br />
e aos leitores e escritores futuros que poderiam vir a profaná-la: “Aqui ficarás<br />
pendurada desta espeteira, ó pena minha, que não sei se foste bem ou mal<br />
aparada, e aqui longos séculos viverás, se historiadores presunçosos e<br />
malandrinos te não despendurarem para te profanar [...]” (1981, p. 603).<br />
O tema da leitura no Quixote é uma atividade ambígua, pois lemos<br />
nós, leitores de carne e osso, e lêem outros, leitores de sonho. Esse processo já<br />
é uma teoria de leitura, uma arte de recepção do ato de ler, pois indica que uma<br />
obra literária se direciona a diferentes destinatários. São os leitores que buscam<br />
a distração ou a cultura intelectual e não o leitor-consumidor-indiferente. É ao<br />
leitor idealizado, aquele que se entrega à leitura por prazer, a quem Cervantes<br />
chama “desocupado” e nos fala no prólogo da primeira parte:<br />
Desocupado leitor, não preciso prestar juramento para que creias que<br />
com toda a minha vontade quisera que este livro, como filho do<br />
entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo e discreto que<br />
pudesse imaginar: porém não esteve na minha mão contravir á ordem da<br />
natureza, na qual cada coisa gera outra que lhe seja semelhante […]<br />
(1981, p. 12).<br />
Por isso, não se pode deixar de lado o destinatário, diretamente<br />
idealizado pelo escritor, o leitor desocupado, de carne e osso. Também não se<br />
pode ignorar o personagem central da narrativa, o ocioso fidalgo manchego, o<br />
compulsivo leitor o qual não soube separar o mundo que o circundava do<br />
ficcional, o Cavaleiro Don Quixote, ou Alonso Quijano, o Bom, que afirmava<br />
que tinha uma grande biblioteca, mais de trezentos livros. Nem se pode desviar<br />
a vista dos personagens que, no interior da história, encontram, na leitura, uma<br />
terceira dimensão. Na superfície, para o leitor, está transparente a intenção de<br />
Cervantes de parodiar as novelas de cavalarias, apoiando-se na obra Amadis<br />
de Gaula. Essa função superficial é importante e se realiza por meio da ênfase<br />
que o escritor dá a esse fato, ao humor que provoca a paródia e à comicidade<br />
da aventura. Cervantes nos explica, indiretamente, o sentido profundo de sua<br />
obra, unindo teoria ou significação simbólica e execução artística, eliminando<br />
explicações diretas ou indiretas. Ele explicita a teoria, o que aproxima essa<br />
obra à arte contemporânea. É inquestionável a importância do livro para a
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
história da literatura, não pela história que conta, mas pela sua essência e pela<br />
representatividade de seus protagonistas, na metáfora da humanidade, revestida<br />
de ideal e de realidade.<br />
São testemunhas do êxito alcançado por essa obra não somente a<br />
variedade de reimpressões e traduções, mas os vários estudos que surgiram<br />
com base nela, pois, desde sua apresentação ao público, estimulou a leitura e<br />
adquiriu fama. Assim, não é exagerada a afirmativa do personagem Sansón<br />
Carrasco, na segunda parte, de que já haviam sido impressos mais de doze mil<br />
livros e que já era conhecido em Portugal, Barcelona e Valência e que, no seu<br />
modo de pensar, “não haveria nenhuma nação nem língua onde não fosse<br />
traduzido”.<br />
Repete-se: muitos dos personagens da obra lêem ou escrevem.<br />
Lêem a história de D. Q. e lêem livros de cavalarias no momento de ócio no<br />
palácio ou na taberna. Cervantes anteviu a leitura como prazer, regulando os<br />
processos anímicos, antes de Freud escrever Além do princípio do prazer,<br />
em que apresentou a teoria das sensações concretas do prazer e desprazer,<br />
ligadas ao EGO. Assim, durante a leitura de sua obra ou na leitura e (re)leitura<br />
dela, percebe-se que o prazer em alto grau é perigoso para a afirmação do<br />
organismo diante das dificuldades do mundo exterior. Prova disso é o processo<br />
mental pelo qual passou Alonso Quijano, por não saber substituir o princípio do<br />
prazer pelo princípio da realidade. E, não conseguindo o equilíbrio necessário<br />
para a conservação do EU, passou a adotar um outro EU, o do Quixote, em<br />
que reinava o princípio do prazer, que será atingido somente por forças malignas,<br />
insólitas, produzidas por alguma magia. Um exemplo de um processo mágico<br />
de desprazer está nos cap. V, VI e VII, da primeira parte, em que se narram os<br />
acontecimentos que anteciparam e os que se pospuseram à queima dos livros<br />
da biblioteca desse fidalgo manchego. Havia D. Q. voltado para casa, ferido e,<br />
enquanto dormia, os seus amigos e familiares (o clero, o bacharel, a ama e a<br />
sobrinha) queimaram quase todos os seus livros e fizeram uma parede fechando<br />
a porta da biblioteca. Quando despertou e verificou o desaparecimento de seu<br />
ambiente de maior prazer, foi informado de que o sábio Frestón havia levado<br />
todos os seus livros. Resignadamente, explicou que esse sábio encantador era<br />
um seu grande inimigo, por saber que ele deveria ter uma grande batalha com<br />
um cavaleiro, um protegido desse mago, e que, como o venceria, a despeito de<br />
todo o seu poder mágico, ele o perseguia.<br />
Cervantes não desconhecia a força que o leitor tem para o sucesso<br />
de uma obra. Assim, se a palavra escrita sustenta o processo de vida e um<br />
exemplo é a Bíblia, é o leitor que eterniza a escritura em sua leitura e (re)leitura<br />
no decorrer dos séculos. E, desde o prólogo, Cervantes não se esquece de<br />
seus leitores, mostrando-lhes o desejo de lhes ser agradável e de obter deles<br />
um julgamento sincero. Esse temor também aparece, quando o prologuista se<br />
43<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
44 refere à dificuldade que tem de escrever.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Ester Abreu Vieira de Oliveira<br />
No final do livro, o narrador, leitor do historiador Cide Hamete, de<br />
quem diz recontar a história, narra a morte de Alonso Quijano e aponta a sua<br />
vontade. O narrador não só reproduz o diálogo de D. Q. com a sua sobrinha,<br />
no qual declara que o seu juízo voltou e que reconhece “os disparates e os<br />
embelecos” da leitura de livros de cavalaria, mas também descreve o ato do<br />
testamento, narra os acontecimentos que antecedem à morte do herói e a sua<br />
atitude de renegar tais livros.<br />
Como todos os homens buscam a eternidade (na maioria das vezes,<br />
pela forma mais vital do homem: a da reprodução, pois a paternidade é uma<br />
maneira de não morrer), o escritor encontra, no destinatário, a sua forma de<br />
perenidade, que só existe pela leitura, e o leitor é o seu elemento estrutural.<br />
Logo, para ler o Quixote, naturalmente, necessita-se aproximar de sua época,<br />
não só pelo código lingüístico e historicidade do conteúdo próprio da época em<br />
que foi escrita a obra, mas também porque nela existem muitas referências<br />
a fatos, pessoas, obras, leituras, enfim, à vida da época do autor.<br />
Contudo, a distância histórica que, às vezes, dificulta a interpretação do leitor<br />
pode ser abrandada, se se procura decodificar a leitura com base nas<br />
características formais do texto. A estética da recepção demonstra que uma<br />
obra, no decorrer do tempo, traz novas e diferentes respostas para aqueles que<br />
a lêem, de acordo com a sua experiência e pensamento. Jorge Luis Borges<br />
afirma e teoriza que o diálogo, que o livro estabelece com o leitor, é infinito, e<br />
Ortega y Gasset, por sua vez, declara que a obra se consuma “completando a<br />
sua leitura”. Se, no princípio do século XVII, quase não se editavam livros de<br />
cavalarias, ainda que fossem muito lidos, Cervantes, lendo a sua essência,<br />
transfigura e enaltece a sua poesia, levando-a à sua obra, purificando-a,<br />
completando-a, revivendo-a. Coloca um leitor consumista 4 e dá vida a um<br />
gênero anacrônico e a aventuras inverossímeis. São os personagens secundários<br />
e o principal que valorizam o livro. No Cap. L, 1ª parte, discorda da opinião do<br />
canônico e fala sobre livros impressos de cavalaria e sobre o prazer que dá a<br />
sua leitura. No Cap. XXV, 1ª parte, na aventura na Sierra Morena, D. Q.<br />
explica a Sancho a liberdade poética e a técnica da representação mimética,<br />
com base num ponto “real”. Explica que assim como os vários nomes de heroínas<br />
dos romances de cavalaria, Amarílis, Filis, Diana, e outros nomes que os poetas<br />
designam, assim como os dramaturgos, não são pessoas de carne e osso, mas<br />
apoio poético, essa é a razão de ele poder transformar Aldonza em princesa e<br />
em pessoa de suma beleza: “tudo o que digo é assim, sem um til de mais nem<br />
menos; pinto-a na fantasia como a desejo [...]”. (1981, p. 145)<br />
4 Na primeira parte, Cap. VI, há uma referência a cem livros grandes e muito bem<br />
encadernados e outros pequenos da biblioteca de D. Q., só sobre o tema da cavalaria.
Terminamos afirmando que a importância que Cervantes dá à<br />
leitura pode-se observar, também, na organização da narrativa. No primeiro<br />
capítulo, o narrador faz, em um parágrafo, a caracterização do herói. Descreve<br />
os seus gostos, hábitos e familiares, seu nível social, sua idade, seu físico e seu<br />
nome. Nos sete parágrafos restantes do mesmo capítulo, apresenta a obsessão<br />
do protagonista pela leitura e as conseqüências dessa no seu comportamento,<br />
ou seja, faz a interação entre texto e leitor. A leitura afeta a vida de Alonso<br />
Quijano e de outros personagens que a valorizam de acordo com a sua<br />
experiência de vida ou identificação com a história. Quando lia o nosso fidalgo?<br />
O narrador diz que lia nos momentos de ócio e que esses eram muitos durante<br />
o ano. Logo a sua vida era só ler e por isso pôde desenvolver o seu poder<br />
criativo, dando vida às histórias que lia dia e noite nas numerosas páginas dos<br />
apinhados livros de sua biblioteca. Logo, a leitura é um instrumento de estímulo<br />
produtivo, desenvolve o intelecto, ativa células cerebrais, favorece a formulação<br />
de perguntas e o desenvolvimento da capacidade crítica e do processo onírico,<br />
próprio do ser humano.<br />
Referências<br />
O Quixote: importância, utopia, personagens e o prazer de ler<br />
CERVANTES, M. Saavedra. Dom Quixote de la Mancha. Tradução de<br />
Vizcondes de Castilho e Azevedo. São Paulo: Abril Cultural, 1981.<br />
FREUD, Sigmund. Más allá del principio del placer. In: ______Obras<br />
completas. Traducción del alemán por Luis Lopez-Ballesteros y de Torres.<br />
Madrid: Biblioteca Nueva, 1981. tomo 3, p. 2507-2541.<br />
OLIVEIRA, Ester A.V. de. Um estudo cervantino. UFES - Revista de Cultura,<br />
Vitória, ano 15, n. 41-42, 1989, p. 25-50.<br />
ORTEGA Y GASSET, J. Meditaciones del Quijote. Comentario por Julián<br />
Marías. 2. ed. Madrid: Revista de Occidente, 1966.<br />
45<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES NA<br />
MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PERUÍPE SUL –<br />
REGIÃO EXTREMO SUL DA BAHIA<br />
Joana Farias dos Santos*<br />
A natureza está todo momento a serviço da humanidade,<br />
basta que o homem tenha sabedoria ao usar os recursos<br />
naturais.<br />
Henry David<br />
RESUMO<br />
A água é um dos elementos da natureza indispensável à da vida,<br />
sendo atualmente motivo de preocupação mundial. Frente ao<br />
exposto, o presente estudo objetivou recuperar e conservar duas<br />
nascentes pertencentes à Microbacia Hidrográfica do Rio Peruípe<br />
Sul. Escolheu-se duas nascentes, da bacia, em Ibirapuã/Ba, fezse<br />
o cercamento, da área de preservação permanente e em uma<br />
delas, a recomposição vegetal. Uma terceira nascente foi a<br />
testemunha. Analisou-se a qualidade da água com o Ecokit<br />
técnico, para os parâmetros OD, pH, Dureza Total e Amônia.<br />
Mediu-se a vazão com a Caixa Medidora; fez-se a recomposição<br />
vegetal com prática de covas. Os resultados foram OD, 2,5 a 7,0<br />
mg/l. pH, 6,5 a 7,0. Dureza Total, 20,0 a 70 de CaCO3. Amônia 0,5<br />
mg/l. Precipitação 5,8 a 206,2 mm. A vazão variou de 320 a 1000<br />
cm3/s. Conclui-se que os valores médios de Dureza Total, pH e<br />
Amônia encontram-se dentro dos padrões para água de<br />
nascentes; com base na Resolução CONAMA nº 20/86, as águas<br />
das nascentes estão fora dos padrões estabelecidos para OD.<br />
Nota-se uma correlação direta entre a precipitação e a vazão das<br />
nascentes. O cercamento pode contribuir na melhoria da infiltração<br />
de água no solo. Quanto à recomposição vegetal, como as mudas<br />
estão germinando, impossibilita uma análise efetiva dos<br />
resultados desta intervenção.<br />
Palavras-chave: Preservação de nascentes; Microbacia<br />
Hidrográfica; Rio Peruípe.<br />
* Joana Farias dos Santos é mestre em <strong>Desenvolvimento</strong> Regional e Meio Ambiente<br />
(Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC).
48 Apresentação<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Joana Farias dos Santos<br />
A água é um elemento natural fundamental para a manutenção da<br />
vida de todos os seres vivos e possui usos diversos. Diante dos fenômenos<br />
naturais e dos graves problemas ambientais, o homem passa a refletir sobre os<br />
seus atos; a escassez da água associada à sua degradação torna-se um fato<br />
relevante. A escassez de água, tanto em qualidade quanto em quantidade, será<br />
um dos graves problemas a serem enfrentados pela humanidade.<br />
Hoje existe uma quantidade suficiente de água para atender à<br />
demanda mundial. Entretanto, não havendo uma política de preservação dos<br />
mananciais de abastecimento que estão sendo ameaçados – o que provoca<br />
alteração no ciclo hidrológico – num futuro bem próximo, tal situação constituirá<br />
em uma ameaça de extinção desse recurso, às civilizações futuras.<br />
Na questão ambiental, a região do extremo sul da Bahia, área de<br />
inserção do projeto, por ser próxima do litoral, apresentava, no passado, Mata<br />
Atlântica como vegetação predominante e área de Restinga. É também uma<br />
região influenciada por questões culturais abrangentes, envolvendo a cultura de<br />
três estados, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, uma vez que a região do<br />
extremo sul da Bahia faz fronteira com Minas Gerais e Espírito Santo.<br />
Visto que o recurso natural “água”, no que diz respeito à quantidade<br />
e à qualidade, é de fundamental importância a recuperação das nascentes em<br />
propriedades rurais no extremo sul da Bahia, na Bacia Hidrográfica do Rio<br />
Peruípe. No entanto, percebe-se que estas nascentes encontram-se atualmente<br />
degradadas pela intervenção intensa dos proprietários rurais.<br />
Nas propriedades rurais, as nascentes são principalmente utilizadas<br />
como bebedouros para a dessedentação do gado. Nas áreas do entorno (área<br />
de preservação permanente das nascentes) são implantadas pastagens, algumas<br />
inclusive com gramíneas da espécie Brachiaria humidicola, que são pouco<br />
exigentes em relação à fertilidade do solo.<br />
Outro fator relevante é que a presença do gado, nas áreas de<br />
preservação permanente das nascentes, causa compactação do solo, pelo seu<br />
pisoteamento constante.<br />
A recuperação das nascentes é algo relevante para a<br />
sustentabilidade das propriedades rurais e melhoria na qualidade de vida das<br />
comunidades locais. O projeto “Recuperação e Preservação das Nascentes<br />
em propriedades rurais do extremo sul da Bahia”, na bacia do Rio Peruípe é<br />
promissor porque se insere no complexo contexto de degradação ambiental<br />
desenvolvido pelos habitantes da região que, sem conhecimento científico sobre<br />
as conseqüências da extração da madeira, superpastejo e queimadas, continuam<br />
explorando erroneamente as nascentes entre os diferentes municípios.<br />
O presente estudo teve, a priori, o objetivo de propor a recuperação
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica do Rio Peruípe Sul –<br />
região extremo sul da Bahia<br />
e conservação de duas nascentes pertencentes à Microbacia Hidrográfica do<br />
Rio Peruípe Sul, que encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Peruípe,<br />
com intuito de ser um estudo piloto para ser empregado em outras bacias,<br />
projeto ou pela comunidade <strong>local</strong>, bem como utilizar os resultados da pesquisa<br />
para difusão de eventos. Possuindo, a posteriori, os seguintes objetivos<br />
específicos: delimitar a área de abrangência das nascentes, com posterior<br />
isolamento da área de entorno; levantar espécies vegetais nativas nas APP´s<br />
degradadas; monitorar a qualidade da água e vazões das nascentes; identificar<br />
as espécies que melhor se adeqüem às diferenças de umidade do solo<br />
(encharcados, úmidos, bem drenados); realizar a recomposição vegetal de<br />
espécies nativas pioneiras e clímax e de mudas depois do plantio, quando<br />
necessário.<br />
A área de estudo, geograficamente inseriu-se na Microbacia<br />
Hidrográfica do Rio Peruípe Sul, que encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica<br />
do Rio Peruípe. Esta bacia envolve cinco municípios da região extremo sul da<br />
Bahia, sendo: Medeiros Neto, Ibirapuã, Caravelas, Teixeira de Freitas e Nova<br />
Viçosa, com uma população total estimada de 187.996 habitantes (IBGE, 2000),<br />
abrangendo uma área de 6.905 km 2 . Sendo georeferenciada de acordo com as<br />
coordenadas 39º a 41º de longitude e 17º a 18º de latitude Sul (BAHIA, 1997).<br />
As nascentes estudadas encontram-se georeferenciadas de acordo<br />
com as seguintes coordenadas: Fazenda Baronesa UTM 386438 e 8036408 L-<br />
W, com 178m de altitude; Fazenda Diamante UTM 387156 e 8038084 L-W e<br />
altitude 168m; Fazenda Cachoeirinha UTM 383868 e 8038312 L-W e 168m de<br />
altitude, conforme figura abaixo:<br />
Figura 1. Mapa de Localização das Nascentes<br />
Fonte: Roberto Carlos Fonseca (2005)<br />
A Bacia Hidrográfica do Rio Peruípe tem uma densa malha de<br />
drenagem em forma de leque, possui muitos tributários, destes, destacam-se o<br />
Rio Peruípe Sul e Peruípe Norte. O Rio Peruípe Norte, que nasce perto da<br />
cidade de Medeiros Neto, tem em seu sentido de escoamento Sudeste até o<br />
ponto de confluência com o Rio Peruípe Sul. Já O Rio Peruípe Sul nasce na<br />
49<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
50 cidade de Ibirapuã e possui sentido de escoamento Nordeste até sua confluência<br />
com Peruípe Norte. O ponto de confluência dos dois rios acontece<br />
aproximadamente há cinco quilômetros, a montante da cidade de Helvécia.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Joana Farias dos Santos<br />
Segundo Munõz (2000), a água doce e limpa é um recurso limitado.<br />
Mais de 97% da água da terra é salgada e encontra-se nos mares e oceanos.<br />
Aproximadamente dois terços da água disponível encontra-se distribuídas em<br />
geleiras e calotas polares. A água doce representa menos de 1% to total da<br />
terra e distribui-se na atmosfera, lagos, rios, riachos, terras úmidas e águas<br />
subterrâneas.<br />
Santos et al. (1992) afirmam que o consumo global de água está<br />
aumentando consideravelmente devido ao crescimento populacional e ao<br />
aumento da agricultura e da indústria. Em 1950, eram 1360 quilômetros cúbicos<br />
por ano, em 40 anos aumentou para 4.130 quilômetros cúbicos, sendo a agricultura<br />
a atividade que mundialmente apresenta o maior consumo, são gastos para a<br />
mesma, 69% da água doce contra 23% para a indústria e 8% para o uso<br />
doméstico). Por tanto, atualmente concentra-se os estudos que dizem respeito<br />
à recuperação da disponibilidade e conservação de águas nas áreas de<br />
abrangências das bacias hidrográficas que, segundo o Código das águas de 10/<br />
07/1934, e a Lei n° 9.433, de 08/01/1997, em seu CAPÍTULO V, referente a<br />
nascentes Art. 89, para efeitos deste Código, consideram-se “nascentes”, as<br />
águas que surgem naturalmente ou por indústria humana e segundo o Capítulo<br />
único, Art. 98 da referida Lei, são expressamente proibidos construções capazes<br />
de poluir ou inutilizar para o uso ordinário, a água do poço ou nascente alheia,<br />
a elas preexistentes.<br />
De acordo com o Código Florestal Brasileiro Lei Nº 4.771, de 15<br />
de Setembro de 1965, uma bacia hidrográfica é composta por vários pequenos<br />
cursos d’água, que definem as microbacias hidrográficas (ou sistemas naturais<br />
de drenagem). Nas partes altas de bacia existem pontos em que se pode<br />
encontrar as nascentes de rios. Normalmente estas áreas não poderiam ser<br />
ocupadas, devido à legislação de proteção ambiental; e é fundamental priorizar<br />
a arborização das áreas de cabeceira dos rios, uma vez que a vegetação tem<br />
grande capacidade de regular o impacto das chuvas, mantendo as águas nas<br />
partes altas da cidade e não provocando enchentes nas partes baixas.<br />
Mascarenhas (2005) afirma que o calor do sol, direto sobre o solo<br />
provoca o secamento do húmus e a eliminação de seus nutrientes. No solo<br />
seco, as partículas, sem a coesão exercida pela água, desprendem-se facilmente<br />
e são transportadas pelo vento, na forma de poeira, ou pelas chuvas. Já o<br />
desmatamento irracional facilita o desgaste do solo pela ação erosiva do vento e<br />
da água, e em grande escala traz outros prejuízos aos seres vivos; prejudica, por<br />
exemplo, à sobrevivência de animais da região, adaptados às condições da mata<br />
em que vivem.
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica do Rio Peruípe Sul –<br />
região extremo sul da Bahia<br />
Assim, recuperação de nascentes é um instrumento relevante e<br />
consistente para a preservação do meio ambiente. Apesar de não solucionar o<br />
problema da poluição dos grandes rios, sem as nascentes limpas, é impossível<br />
implantar um projeto de despoluição dos grandes cursos d´água com efetivo<br />
sucesso. Recuperar nascentes é também uma maneira de proteger o meio<br />
ambiente urbano. Dentre os méritos de uma ação voltada à recuperação de<br />
nascentes está também a valorização, do ponto de vista econômico e social, de<br />
áreas até então deterioradas (OLIVEIRA, 2004).<br />
Escolheu-se, aleatoriamente, duas nascentes da Microbacia<br />
Hidrográfica do Rio Peruípe Sul, com vários estágios de degradação. Estas<br />
nascentes devem situar-se em pontos eqüidistantes de propriedades rurais.<br />
A área de cada nascente foi cercada num raio de 50 metros de<br />
área de preservação permanente em seu entorno, como salienta o Código Florestal<br />
Brasileiro – Lei nº 4771 (1965). Após o cercamento, foi feito o isolamento das<br />
áreas de entorno usando equipamentos topográficos (teodolito, bússola etc.).<br />
Fez-se o cercamento das duas nascentes e em uma delas, fez-se também a<br />
recomposição vegetal com espécies nativas da região. Uma terceira nascente<br />
pareada foi usada como testemunha.<br />
Fez-se o levantamento de espécies nativas através de metodologias<br />
florestais, as quais serão comparadas com os bancos de dados da Comissão<br />
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC/Bahia, para identificação<br />
das espécies a serem introduzidas na área.<br />
Para a qualidade de água, as análises foram realizadas empregandose<br />
o uso de equipamento de campo (usando o Ecokit técnico, da Alfa<br />
Tecnoquímica) seguindo técnicas científicas internacionais, recomendadas pelo<br />
Standet Metod (APHA-1996), totalizando uma coleta para cada estação do ano<br />
para análise dos parâmetros pH, Oxigênio Dissolvido, Dureza Total e Amônia.<br />
As vazões foram monitoradas por técnicas de hidráulica, utilizando<br />
o método da caixa, onde calculou-se o tempo gasto para preencher um recipiente<br />
(caixa), de 20 litros. Pode-se, também, calcular a vazão pela metodologia de<br />
Ferraz (2001).<br />
Na recomposição vegetal utilizou-se a prática de covas, respeitando<br />
o espaçamento recomendado por Pinto (2003), sendo aproximado de 3,0 x 2,6m,<br />
dependendo do banco de sementes da área e do estágio de degradação. As<br />
covas terão dimensão de 30x30x30 ou 50x50x50 (Davide et. al. 2002).<br />
Os dados encontrados serão analisados utilizando-se o pacote<br />
estatístico SPSS e Excel, correlacionando-se os dados de qualidade de água<br />
com os valores legalmente estabelecidos e a diversidade de espécies pioneiras<br />
e clímax.<br />
51<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
52 Analisou-se a qualidade da água quanto aos seguintes parâmetros:<br />
Oxigênio Dissolvido, pH, Dureza Total e Amônia.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
a) Oxigênio Dissolvido (OD), encontrou-se para os meses analisados, um<br />
resultado que variou de 2,5 a 7,0 mg/l alcançando uma média geral de 5,2 mg/<br />
l para OD. Conforme Tabela 1 e Figura 2.<br />
TABELA 1<br />
RESULTADO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO (MG/L) POR<br />
PONTOS DE COLETAS<br />
Meses N1 N2 N3 Média<br />
Out 2,5 6,0 3,5 4,0<br />
Nov 3,0 7,0 7,0 5,7<br />
Dez 6,0 6,3 5,5 5,9<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
Oxigênio Dissolvido (PPM)<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Joana Farias dos Santos<br />
Out Nov Dez<br />
Figura 2. Variação do Oxigênio Dissolvido (OD)<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
b) Potencial Hidrogeniônico – pH, encontrou-se para os meses analisados,<br />
uma variação de 6,5 a 7,0 e uma média geral de 6,5. Conforme Tabela 2 e<br />
Figura 3.<br />
N1<br />
N2<br />
N3<br />
Média
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica do Rio Peruípe Sul –<br />
região extremo sul da Bahia<br />
TABELA 2<br />
RESULTADO DO POTENCIAL HIDROGENIÔNICO – PH POR<br />
PONTOS DE COLETAS<br />
Meses N1 N2 N3 Média<br />
Out 6,5 6,5 6,5 6,5<br />
Nov 6,5 6,5 6,5 6,5<br />
Dez 7,0 6,5 6,5 6,5<br />
Jan 6,5 6,5 6,5 6,5<br />
Fev 6,6 6,5 6,5 6,5<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
Ph<br />
7,2<br />
7,0<br />
6,8<br />
6,6<br />
6,4<br />
6,2<br />
6,0<br />
Out Nov Dez Jan Fev<br />
Figura 3. Variação do Potencial Hidrogeniônico – pH<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
c) Dureza Total, encontrou-se para os meses analisados, uma variação de<br />
20,0 a 70,0 com uma média geral de 43,3 mg/l de CaCO 3 .para Dureza Total.<br />
Conforme Tabela 3 e Figura 4.<br />
TABELA 3<br />
RESULTADO DA DUREZA TOTAL (MG/L DE CACO 3 ) POR<br />
PONTOS DE COLETAS<br />
N1<br />
N2<br />
N3<br />
Média<br />
Meses N1 N2 N3 Média<br />
Out 70,0 50,0 40,0 53,3<br />
Nov 50,0 20,0 30,0 33,3<br />
Dez 60,0 40,0 30,0 43,3<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
53<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
54<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Dureza<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Out Nov Dez<br />
Figura 4. Variação da Dureza Total<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
d) Amônia (mg/l), encontrou-se para os meses analisados, uma média geral<br />
de 0,5 mg/l para Amônia. Conforme Tabela 4 e Figura 5.<br />
TABELA 4<br />
RESULTADO PARA AMÔNIA (MG/L) POR PONTOS DE<br />
COLETAS<br />
Amônia (Mg/L)<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Joana Farias dos Santos<br />
Out Nov Dez<br />
Figura 5. Variação da Amônia (mg/l)<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
N1<br />
N2<br />
N3<br />
M édia<br />
Meses N1 N2 N3 Média<br />
Out 1,0 0,5 0,5 0,7<br />
Nov 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
Dez 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
N1<br />
N2<br />
N3<br />
M édia
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica do Rio Peruípe Sul –<br />
região extremo sul da Bahia<br />
e) Precipitação(mm), a precipitação de maio/2004 a maio/2005 variou de<br />
5,8mm a 206,2mm com uma média geral de 82mm. De acordo com a Tabela 5<br />
e Gráfico 1.<br />
TABELA 5<br />
RESULTADO PARA PRECIPITAÇÃO(MM) DE MAIO/03 À<br />
MAIO/04<br />
250,0<br />
200,0<br />
150,0<br />
100,0<br />
50,0<br />
0,0<br />
Meses Precipitação(mm)<br />
Mai 38,3<br />
Jun 59,6<br />
Jul 82,3<br />
Ago 9,7<br />
Set 5,8<br />
Out 34,2<br />
Nov 83,3<br />
Dez 206,2<br />
Jan 95,7<br />
Fev 133,0<br />
Mar 106,7<br />
Abr 52,6<br />
Mai 158,6<br />
Fonte: CEPLAC, Escritório Local (2004)<br />
Mai<br />
Jul<br />
Set<br />
Nov<br />
Jan<br />
Mar<br />
Mai<br />
Gráfico 1. Variação da Precipitação (mm)<br />
Fonte: CEPLAC, Escritório Local (2004)<br />
Precipitação(mm)<br />
f) Vazão(cm3/s): encontrou-se para os meses analisados, valores para a vazão<br />
que variou de 320 a 1000 cm3/s, com uma média geral de 660 cm3/s. De<br />
acordo com a Tabela 6 e Gráfico 2.<br />
55<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
56 TABELA 6<br />
RESULTADO PARA VAZÃO(CM3/S) POR PONTOS DE COLETAS<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
N1 N2 N3 M édia<br />
Gráfico 2. Vazão (cm 3 /s)<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
Joana Farias dos Santos<br />
Vazão das Nascentes (cm3/s)<br />
Meses N1 N2 N3 Média<br />
Out 320 700 330 450<br />
nov 330 330 330 330<br />
Dez 860 860 860 860<br />
Abril 1000 1000 1000 1000<br />
Fonte: Dados da pesquisa (2004)<br />
Após tabulação e análise dos resultados, conclui-se que os valores<br />
médios de Dureza Total, pH e Amônia encontram-se dentro dos padrões normais<br />
estabelecidos para água de nascentes brasileiras, de acordo com Esteves (1998);<br />
com base na Resolução CONAMA nº 20/86, as águas de tais nascentes<br />
encontram-se fora dos padrões estabelecidos para Oxigênio Dissolvido, para<br />
águas brasileiras, cujo valor deve ser superior a 6 mg/O 2 . Resultados que se<br />
justificam em razão de as nascentes apresentarem um volume de água represada<br />
e por haver o carreamemto de matéria orgânica das encostas por falta de uma<br />
efetiva cobertura vegetal, assim como, presença de matéria orgânica em<br />
decomposição imersa na água em virtude do não-raleamento das espécies<br />
freatóficas presentes.<br />
Observou-se ao analisar as precipitações na área estudada, a<br />
existência de uma correlação direta entre a precipitação e a vazão das nascentes,<br />
resultados que podem ser nitidamente percebidos ao se comparar os dados de<br />
vazão e precipitação para os meses de outubro, novembro e dezembro.<br />
Out<br />
nov<br />
Dez<br />
Abril
Recuperação e preservação de nascentes na microbacia hidrográfica do Rio Peruípe Sul –<br />
região extremo sul da Bahia<br />
Quanto ao cercamento, observa-se que, ele por si só, representa<br />
possibilidade de melhoria na infiltração de água no solo, em função de não<br />
haver pisoteio do gado e compactação na área de entorno da nascente.<br />
Com relação à recomposição vegetal, conclui que, em função das<br />
mudas plantadas se encontrarem em fase de germinação, não possibilita que<br />
se faça uma análise efetiva dos resultados desta intervenção.<br />
Referências<br />
AMERICAN PUBLIC HEALTHASSOCIATION, AMERICAN WATER<br />
WORKS ASSOCIATION AND WATER POLLUITION CONTROL<br />
FEDERATION. Standard methods for the examination of wastwater and<br />
water 18 th. Edition. Washington, 1991. 1587 p.<br />
BAHIA, Secretaria de Recursos Hídricos. Plano Diretor de Recursos<br />
Hídricos: Bacia do Extremo Sul. Hydros, 1997. v. 1, 489 p.<br />
BARROS, Antônio A.A. Economia de Recursos Hídricos: aspectos<br />
conceituais da tributação pelo uso da água no Brasil, antecedentes e perspectivas<br />
e a experiência internacional. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos<br />
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal / Secretaria de Recursos Hídricos,<br />
1998.<br />
BRASIL. Código Florestal Brasileiro. Lei Nº 4.771, de 15 de Setembro de<br />
1965. Publicado em D.O.U. de 16/09/65.<br />
BRASIL. Resolução n.º 20. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, no uso<br />
das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IX, do Decreto 88.351, de 1º de<br />
junho de 1983, e o que estabelece a Resolução/CONAMA/Nº 003, de 05 de<br />
junho de 1984. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 18<br />
jun. 1986.<br />
BRASIL, Política do Meio Ambiente, Recursos Hídricos. Lei 9433 de 08/<br />
01/1997 - Lei Ordinária. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria<br />
o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta o inciso<br />
XIX do artigo 21 da Constituição Federal, e altera o artigo 1 da lei 8.001, de 13<br />
de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Pub<br />
09/01/1997 000470 1 Diário Oficial da União.<br />
DAVIDE, A. C. ; PINTO, L. V. A. ; MONNERAT, P. F. ; BOTELHO, S. A.<br />
Nascente: o verdadeiro tesouro da propriedade rural: o que fazer para conservar<br />
as nascentes nas propriedades rurais. Lavras, MG: UFLS/CEMAC, 2002.<br />
FERRAZ, Epaminondas S. B( Coord. ); MARTINELLI, Luiz A.; VICTÓRIA,<br />
Reynaldo Luiz. Coletânea do “Notícias PiraCena”: a bacia do Rio Piracicaba.<br />
Piracicaba – SP: C.N., 2001. 182 p.<br />
57<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
58 MASCARENHAS, Sérgio P. Água. Disponível em http://www.geocities.com/<br />
irrigafertil/. Acessado em 05 de setembro de 2004.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Joana Farias dos Santos<br />
MUNÕZ, Héctor Raúl (organizador); BARTH, Flávio T; SANTOS, José L.;<br />
MACIEL FILHO, Albertino Alexandre. Interfaces da gestão de recursos<br />
hídricos: Desafios da Lei das Águas de 1997. 2 edição . Brasíli: Secretaria de<br />
Recursos Hídricos, 2000. 421 p.<br />
OLIVEIRA, Patrícia Laczynski; Fernanda, MORETTI, Ricardo.<br />
<strong>Desenvolvimento</strong> urbano. Disponível em http://www.polis.org.br/publicacoes/<br />
dicas/. Acessado em 31 ago. 2004.<br />
PINTO, L. V. A. Caracterização física da sub-bacia do ribeirão Santa<br />
Cruz, MG: Universidade Federal de Lavras, 2003.<br />
______. Propostas de recuperação de suas nascentes. Universidade Federal<br />
de Lavras, 2003, 165 p. Dissertação de Mestrado.<br />
SANTOS, H.F.; MORITA, D. M., GRULL, D., RODRIGUES, J.M.C.<br />
PIMENTEL, J.S., et. al. Reuso de águas. Revista DAE. SABESP. 1992.
A FILOLOGIA E A CRÍTICA TEXTUAL:<br />
COMENTÁRIOS DE TEXTOS REGIONAIS<br />
Sélcio de Souza Silva*<br />
RESUMO<br />
Este artigo pretende mostrar a importância da Interpretação e<br />
Explicação de Textos como atividades básicas aos estudos<br />
filológicos. É o filólogo quem, ao debruçar-se sobre um texto, um<br />
manuscrito antigo ou uma edição moderna, nos garantirá não só<br />
a autenticidade do documento quanto à segurança das<br />
informações para outros pesquisadores, a exemplo dos literatos<br />
e críticos da literatura. Buscar-se-á, ao desenvolver este texto,<br />
evidenciar a estreita relação que há entre língua e literatura,<br />
filologia e crítica textual. Na verdade, quando o filólogo tece<br />
comentários ou explicação de textos, tarefa da Filologia, ciência<br />
que abrange diversas atividades, principalmente as de ordem<br />
lingüística e de conteúdo, ele está “abrindo caminhos” para a<br />
garantia de informações seguras e imprescindíveis à Literatura.<br />
Palavras-chave: Filologia; crítica textual; língua; interpretação e<br />
explicação de textos literários.<br />
Considerações iniciais<br />
Antes mesmo de abordar o assunto em questão, gostaria de<br />
mencionar, como fala introdutória, a relevância que têm a história literária e<br />
suas pesquisas. Estas, além de serem objeto da preocupação da Filologia são,<br />
de certa forma, amparadas pelas atividades desta, considerando que todos os<br />
textos interessam à Filologia, principalmente os literários, uma vez que esta<br />
ciência, desde a sua origem, tem como missão a explicação de textos.<br />
Até o fim do século XVIII, a crítica estética ainda se fazia valer,<br />
sempre alegando como deveria ser uma obra de arte de um determinado gênero,<br />
em um determinado período. Geralmente, esse modelo tendia ser imutável e<br />
absoluto, fornecendo preceitos e regras para a poesia e prosa, sempre levando<br />
* Sélcio de Souza Silva é mestre em Gestão Educacional.
60 em consideração o modelo a ser imitado dentre um grupo de obras consideradas<br />
perfeitas.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Sélcio de Souza Silva<br />
Com o surgimento do Romantismo, a antiga crítica estética, cuja<br />
preocupação era simplesmente com métodos e regras, deixa efetivamente de<br />
imperar, dando lugar a outros sentidos e formas, sobretudo, ao sentido histórico,<br />
bem como suas expressões populares e, passa-se a reconhecer não só o belo<br />
fixo e determinado, mas, além disso, uma nova concepção do belo das obras<br />
artísticas de cada época e região, a partir da relação que se faz com os povos<br />
e sua cultura.<br />
Nosso interesse, nesse trabalho, é mostrar que, a partir do texto<br />
literário, seja ele a prosa ou a poesia, os elementos lingüísticos e de conteúdo,<br />
presentes nesses textos, são explicados, de forma mais segura pela crítica<br />
textual. Torna-se, assim, mais fácil o entendimento de alguns aspectos<br />
geográficos, históricos e cultural, presentes nos referidos poemas, quando o<br />
crítico textual faz uso da interpretação e explicação de textos de difícil<br />
entendimento, principalmente em se tratando de textos manuscritos antigos,<br />
muitas vezes deteriorados.<br />
Sabemos também que a explicação ou comentário de textos sempre<br />
foi tarefa da Filologia porque, na verdade, quando se trata de textos de difícil<br />
compreensão, sejam eles de ordem lingüística (língua pouco conhecida,<br />
neologismos, conteúdo) ou de conteúdo, como o caso de textos religiosos ou<br />
literários (v. g., Os Lusíadas), sua leitura dificulta a compreensão daquele leitor<br />
que, desprovido, muitas vezes, de conhecimentos prévios de fatos históricos,<br />
geográficos, mitológicos, etc, não consegue fazer as inferências necessárias<br />
para a sua compreensão.<br />
Podemos afirmar que a Crítica Textual é a tarefa fundamental<br />
para os estudos filológicos, isto é, ela oferece à Filologia informações sobre o<br />
estabelecimento dos textos de acordo com a forma mais próxima possível da<br />
vontade do autor.<br />
Nesse sentido, os historiadores, literatos e pesquisadores, de modo<br />
geral, que têm por objeto ou ponto de partida a investigação do texto, precisam<br />
das informações obtidas através da edição crítica e da interpretação dos textos;<br />
o que lhes garantem maior segurança às suas teorias.<br />
Para melhor ilustrarmos o que queremos expor, valemo-nos do<br />
exercício que os alunos fazem rotineiramente na aprendizagem da língua. Ao<br />
exercitá-la (referimo-nos à escrita), o professor de língua faz uso da explicação<br />
e interpretação de textos, atividades não-estranhas aos alunos e professores<br />
desde as séries iniciais do Ensino Fundamental.<br />
Em se tratando dos textos regionais, percebemos que, ao fazer a<br />
leitura dos textos poéticos, o leitor deparar-se-á diante de termos e vocábulos
A Filologia e a crítica textual: comentários de textos regionais<br />
desconhecidos da grande maioria brasileira que, por se tratar de uma<br />
determinada região, e trazer em suas construções, significados próprios – além<br />
do estilo do autor – tornam-se, muitas vezes, desconhecidos.<br />
Pressupõe-se que, ao ler, esse leitor adquira conhecimentos<br />
culturais, geográficos e históricos, por meio de uma leitura descritiva, como é o<br />
caso dos textos literários, embora muitas vezes isso não é garantia de uma<br />
leitura cabal. Por outro lado, quando se faz explicação ou comentário de textos,<br />
com base lingüística, não significa necessária e simplesmente um meio de facilitar<br />
a vida do leitor, como um fastfood, mas, pelo contrário, para torná-lo mais bem<br />
informado sobre o assunto que, pensamos, já sê-lo adquirido como leitura prévia.<br />
Assim, não é puramente para que se compreenda o conteúdo material desses<br />
textos, mas, conforme Silva “apreender-lhes as bases psicológicas, sociológicas,<br />
históricas e sobretudo estética” (SILVA, 2005, p. 14).<br />
Quando nos referimos à poesia, a questão se dificulta mais, pois<br />
como o texto poético dá margem a infinitas interpretações, percebe-se também<br />
que a sua construção é muito mais marcada de vocábulos rebuscados ou de<br />
terminologia equivocada, o que nem sempre significa o que o dicionário define.<br />
Daí, o uso da linguagem figurada, onde, intencionalmente, o autor oculta-nos o<br />
verdadeiro sentido do seu texto sob várias aparências. Utiliza-se de recursos<br />
da estilística, dando vazão a múltiplas interpretações. Percebemos em algumas<br />
interpretações de textos bíblicos que dão margem, ausentes de fatores culturais<br />
ou ao cargo da livre interpretação, a várias interpretações e, conseqüentemente,<br />
se justifica o surgimento da pluralidade de movimentos religiosos e seus variados<br />
credos.<br />
Além disso, cabe ao filólogo alguns questionamentos, ao depararse<br />
com um manuscrito com texto literário e buscar explicações de ordem<br />
lingüística, se o vocabulário ou os termos, de caráter regional, que são usados,<br />
são de leituras prévias e adquiridos de outros autores. E quais seriam esses<br />
autores que, possivelmente, poderiam ter influenciado na construção dos textospoéticos?<br />
Quais são, possivelmente, suas leituras? Como tecer comentários a<br />
uma obra de 1ª/2ª edição, cujo espaço de tempo ainda é pequeno e não<br />
precisamos reconstruir o texto como acontecem com alguns manuscritos antigos<br />
que, ao serem salvos, precisam ser, minuciosamente, reconstruídos? Em o<br />
autor estando em vida, neste caso, provavelmente, poderia estar nos<br />
respondendo ou, a partir de uma entrevista escrita já feita, poderíamos estar<br />
nos informando? Mas quando não se encontra mais conosco o autor, e este,<br />
por outras razões nunca deu entrevista, ou pouca coisa deixou-nos de registros<br />
manuscritos? Por onde começar? Pela obra? Na verdade, os textos modernos,<br />
com edições modernas, também são motivos de análise da Filologia e, para<br />
isso, faz-se mister que o filólogo tenha em mãos o maior número de informações,<br />
sejam elas, no atual contexto, através da mídia, da Internet, ou de informações<br />
61<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
62 que, aparentemente, contrariam aos tradicionais manuscritos, quando estes<br />
muitas vezes nos faltam, para textos mais próximos de nós, assessorados<br />
tecnologia, descartando até mesmo o papel.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
A explicação de textos e a filologia<br />
Sabemos que a explicação de textos já foi praticada desde a<br />
Antigüidade, principalmente na Idade Média e Renascença, onde boa parte<br />
dos textos escritos foram classificados como comentários. Podemos perceber<br />
isso nos manuscritos ou em livros religiosos, à direita ou à esquerda, acima ou<br />
abaixo da página, em letras menores. O professor José Pereira da Silva, em<br />
artigo intitulado “Critica Textual e Literatura”, nos explica que o “comentário”<br />
pode conter toda sorte de coisas: explicações de termos difíceis; resumos<br />
ou paráfrases do pensamento do autor; remissões a outras passagens onde<br />
o autor diga algo de parecido; referências a outros autores que falaram do<br />
mesmo problema ou empregaram um torneiro de estilo semelhante;<br />
desenvolvimento do pensamento, em que o comentador faz entrar suas<br />
próprias idéias ao explicar as do autor; exposição do sentido oculto, se o<br />
texto for, mesmo presumidamente, simbólico (SILVA, 2005, p. 16).<br />
E mais adiante:<br />
Sélcio de Souza Silva<br />
Um comentador moderno fornece, em primeiro lugar, explicações<br />
lingüísticas das passagens em que uma palavra ou uma construção as<br />
exijam; discute as passagens cujo teor seja duvidoso; dá esclarecimentos<br />
sobre os fatos e personalidades mencionadas no texto; tenta facilitar a<br />
compreensão das idéias filosóficas, políticas, religiosas, assim como<br />
das formas estéticas que a obra contém e, naturalmente, se servirá do<br />
trabalho daqueles que o precederam no mesmo afã, citando-os, amiúde,<br />
textualmente (SILVA, 2005, p. 17).<br />
A Filologia é a ciência que cuida da cultura dos povos, preservada<br />
através de sua língua registrada em textos cientificamente editados. Estes textos,<br />
por sua vez, devem impreterivelmente ser editados ou reproduzidos de acordo<br />
com as técnicas do trabalho filológico da Crítica Textual.<br />
Não nos resta dúvida que é através da Filologia que se estuda a<br />
etimologia, a evolução histórica das palavras, etc, no propósito de que, a partir<br />
dessas informações, possamos compreender a evolução do conhecimento e do<br />
pensamento humano. Sem a Filologia, portanto, não teríamos hoje as edições<br />
dos antigos textos sagrados, tão importantes para a preservação da cultura e<br />
da religião de uma nação, nem mesmo a literatura clássica dos gregos e dos<br />
romanos, a exemplo de Ilíada, Odisséia e Eneida, etc.<br />
César Nardelli Cambraia cita-nos, segundo o dicionário Houaiss,<br />
quatro definições para o termo filologia. Buscamos, aqui, aquela definição mais<br />
próxima da nossa proposta defendida, ou seja, o estudo do texto ou interpretação
do texto (não necessariamente antigos) e a utilização da literatura e sua história<br />
como uma das técnicas imprescindíveis para a investigação filológica:<br />
estudo científico de textos (não obrigatoriamente antigos) e<br />
estabelecimento de sua autenticidade através da comparação de<br />
manuscritos e edições, utilizando-se de técnicas auxiliares (paleografia,<br />
estatística para datação, história literária, econômica etc.), esp. para a<br />
edição de textos (CAMBRAIA, 2005, p. 14).<br />
Não podemos negar a dificuldade que ainda temos da compreensão<br />
mais clara da definição do termo filologia, principalmente em se tratando da<br />
crítica textual, uma vez que sua função é basicamente a restituição da forma<br />
genuína dos textos, bem como sua transmissão, fixação, interpretação e edição.<br />
Por outro lado, não podemos negar a preocupação da filologia com o estudo de<br />
história da língua. Na verdade, desde a Grécia antiga essa dificuldade de<br />
compreensão era também evidente, pois o termo já apresentava sentido diversos<br />
uma vez que Philologia é a parte das ciências que tem por objeto as palavras e<br />
sua propriedades.<br />
Ainda no século XVIII, o termo continua abrangente, ganhando<br />
sentidos polissêmicos, adquirindo significados como o estudo das letras humanas,<br />
começando da gramática, caminhando pela eloqüência Oratória, pela Poética,<br />
pela História antiga e moderna, pela interpretação, pela crítica literária.<br />
Resta-nos, portanto, a definição de Herrero (Apud CAMBRAIA,<br />
2005, p. 16) para filologia como “estudo do que é necessário para conhecer a<br />
correta interpretação de um texto literário”.<br />
Já no século XX, segundo Cambraia, ao citar Vasconcelos, esse<br />
termo é utilizado, sobretudo com enfoque “no estudo da língua, ficando a<br />
interpretação dos textos como parte acessória.” Nesse sentido, trata-se do<br />
“estudo da língua em toda a sua amplitude, no tempo e no espaço, e<br />
acessoriamente o da literatura, olhada sobre tudo como documento formal da<br />
mesma língua” (Vasconcelos, apud CAMBRAIA, 2005, p. 17).<br />
diz que<br />
A Filologia e a crítica textual: comentários de textos regionais<br />
E, por fim, o mesmo autor, na definição de filologia portuguesa, no<br />
o estudo científico, histórico e comparado da língua nacional em toda a<br />
sua amplitude, não só quanto à gramática (fonética, morfologia, sintaxe)<br />
e quanto à etimologia, semasiologia, etc., mas também como órgão da<br />
literatura e como manifestação do espírito nacional (Apud CAMBRAIA,<br />
2005, p. 17).<br />
A preservação da cultura dos povos através da língua<br />
Nenhuma ciência como a Filologia e a Lingüística se preocuparam<br />
63<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
64 tanto, desde suas origens, com a preservação da cultura dos povos. Isso se<br />
deve ao estudo, em particular, da língua. Para a última, a preocupação envolve<br />
a língua em seu aspecto oral, enquanto que para a primeira, a preocupação é<br />
de âmbito textual.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Sélcio de Souza Silva<br />
A Filologia, desde a sua origem, edita, interpreta e explica textos<br />
de ordem literária e filosófica, a partir de manuscritos antigos ainda bem<br />
conservados. Ela é, por sua vez, disciplina auxiliar a todas outras, pois é através<br />
dela que a memória cultural de um povo se preserva ou se redescobre na<br />
sutileza da interpretação dos textos preservados em edições tratadas<br />
cientificamente.<br />
Ao estudar a etimologia das palavras, os filólogos buscam os seus<br />
significados mais primitivos, reinterpretando as diversas alterações que sofreram<br />
na forma e no sentido para se adaptarem às diversas comunidades de falantes<br />
(no espaço, no tempo e nas diversas classes sociais), para mostrar que a língua<br />
é a expressão mais legítima da cultura de um povo, tanto que as palavras que<br />
se tornam desnecessárias em cada geração caem no esquecimento e surgem<br />
espontaneamente outras para suprirem as novas necessidades.<br />
Do ponto de vista geográfico, a Filologia se preocupa em interpretar<br />
os valores culturais de cada comunidade de falantes, registrando os fatos<br />
lingüísticos (ou dialetais) que lhes são mais peculiares e oferecendo grande<br />
contribuição aos estudos etnográficos e de diversas outras especialidades. A<br />
Filologia, em seu estudo diacrônico, se ocupa da história da língua propriamente<br />
dita (a gramática histórica) e da história de seus falantes ou dos fatos culturais<br />
que mais tiveram relevância e atuaram na aceleração e retardamento da sua<br />
evolução.<br />
O filólogo e a filologia se põem a refletir sobre as diversas formas<br />
de criação de novas palavras, como, por exemplo, o empréstimo de uma língua<br />
de especialidade para outra, de estrangeirismos tomados das línguas dos povos<br />
que se destacarem em cada área do conhecimento ou em cada especialidade,<br />
etc.<br />
Os textos filologicamente trabalhados fornecem dados que tornam<br />
possível o fomento de uma política do idioma com vistas a garantir a identidade<br />
nacional, uma vez que a língua é o fator preponderante na definição de uma<br />
nacionalidade ou mesmo restabelecer elos comuns de povos que já conviveram<br />
num mesmo espaço geográfico, como é o caso dos textos galegos, portugueses<br />
e galego-portugueses. A gramaticalização das línguas vernáculas e seu ensino<br />
valoriza língua, assim como a crítica literária, ambas preocupadas com a<br />
descrição segura e simples dos dialetos e dos estilos mais prestigiados.<br />
A língua, como um produto da ação humana, nos proporciona a<br />
construção da história de um povo e sua identidade cultural. Partindo do
pressuposto de que ela é um produto social, e jamais deixará de sê-lo, nas suas<br />
múltiplas diferenças, damos-lhe um caráter de unidade (quando reconhecida<br />
oficialmente) e de diversidade (quando usadas nos diversos espaços sociais e<br />
geográficos e em situações histórico-político-culturais.<br />
Sabemos que as expressões regionais expressam a mentalidade,<br />
costumes, crenças, religiosidade, as histórias de um determinado povo e são<br />
registrados em sua literatura. É por meio dos termos regionais que percebemos<br />
os fatos sociais, o aspecto geográfico, a cultura e a história de cada um que<br />
domina determinado dialeto <strong>local</strong>. Para Bragança Jr., o conhecimento da história<br />
de um povo, o que ele pensa, ou como se expressa resumem-se no grande<br />
número de expressões populares, “portadoras das vivências de uma ou mais<br />
geração que funcionam como instrumentos de conduta aptos para ser aplicados<br />
no cotidiano” (1977, p. 240).<br />
Em suma, ao estudarmos a língua, torna-se imprescindível o<br />
conhecimento de dois aspectos lingüísticos: o lexical e o semântico, para a<br />
formação lingüística de um determinado povo, ponto indiscutível para o processo<br />
de comentário à explicação de textos. O primeiro (lexical) depende<br />
exclusivamente do dinamismo da língua que, em seu processo de evolução,<br />
permite o surgimento de novas palavras e, conseqüentemente, novos<br />
significados. O segundo (semântico) ampara-se no estudo do significado que<br />
atribuímos às palavras de acordo com sua evolução, pois são várias as<br />
transformações ou criações que um determinado termo perde ou ganha no<br />
decorrer de tempo, a depender da sua contextualização. Nesse sentido, ao<br />
analisarmos determinado termo, inserido dentro de textos literários regionais,<br />
torna-se necessário que verifiquemos, a priori, suas raízes etimológicas, a<br />
partir dos estudos filológicos.<br />
Referências<br />
A Filologia e a crítica textual: comentários de textos regionais<br />
CAMBRAIA, César Nardelli. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins<br />
Fontes, 2005.<br />
ELIA, Sílvio. A crítica textual em seu contexto sócio-historico. In.: Anais do<br />
III Encontro Ecdótica e Crítica Genética. João Pessoa, 1993, pp. 57 – 64.<br />
PICCHIO, Luciana STEGAGNO. A Lição do texto: filologia e literatura. São<br />
Paulo: Martins Fontes, 1979.<br />
SILVA, José Pereira da. Critica textual e edições de textos. Rio de Janeiro:<br />
Edição do Autor, 2005.<br />
SPAGGIARI & PERUGI, Bárbara & Maurizio. Fundamentos da crítica<br />
textual. Rio de Janeiro: Lucerna. 2004.<br />
SPINA, Segismundo. Introdução à edótica. São Paulo: Ars Poética, 1994.<br />
65<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
UMA PERSONAGEM QUE DEU O QUE FALAR<br />
RESUMO<br />
Vanda Luiza de Souza Netto*<br />
Este artigo pretende destacar alguns aspectos do estudo<br />
onomástico em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado<br />
de Assis, selecionando o nome da personagem Plácida e as<br />
possíveis implicações significativas percebidas na obra e nos<br />
múltiplos recursos utilizados na construção da personagem,<br />
dentre elas a escolha do nome.<br />
Palavras–chave: Onomástico; significado; plácida; dependência;<br />
contexto social.<br />
A análise onomástica tem sido objeto de estudo desde a<br />
Antigüidade, o que podemos atestar pelo texto de Platão, intitulado Crátilo.<br />
Este registro clássico tornou-se célebre nos meios literários, justamente por<br />
relatar as considerações sobre “a justeza dos nomes”, num extenso diálogo<br />
entre Sócrates, Hermógenes e Crátilo. A discussão gira em torno de dois<br />
pontos de vista: se os nomes são criados por convenção ou se pela natureza do<br />
sujeito. Sócrates usa de seus recursos retóricos para conduzir seus interlocutores<br />
pelos meandros da reflexão a respeito das “justeza dos nomes”. Para o mestre<br />
grego o nome é instrumento para informar a respeito das coisas e para<br />
separá-las, tal como a lançadeira separa os fios da teia. (2001, p.152). O<br />
vocábulo onomástico, que significa relativo aos nomes próprios, tem justamente<br />
uma origem grega “ónoma”(nome), que deu origem ao vocábulo “onomaston”<br />
(a ser denominado), e Sócrates (2001, p.218) defende o princípio de que os<br />
nomes devem assemelhar-se tanto quanto possível à coisa representada.<br />
Esta perspectiva clássica, à qual o leitor comodamente se<br />
acostumou, ditou as regras na literatura, o que facilitava bastante o entendimento<br />
de uma obra. Machado desconstrói estes princípios várias vezes em suas obras,<br />
pois nem sempre seus personagens têm afinidades com seus nomes próprios,<br />
* Vanda Luiza de Souza Netto é mestranda em Estudos Literários (UFES).
68 são o contrário de seu significado, criando um jogo de opostos, levando o leitor<br />
à estranheza, com objetivos de chocar, ridicularizar ou com a intenção em que<br />
é um expert: de dissimular suas reais intenções.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Vanda Luiza de Souza Netto<br />
A proposta deste artigo é de investigar as estratégias de Machado,<br />
com um olhar dedicado a uma das personagens femininas, em Memórias<br />
Póstumas de Brás Cubas. Não é uma tarefa simples escolher algum aspecto<br />
da obra de Machado, tal a riqueza de sua construção literária. Além disso a<br />
fortuna crítica do autor é das mais variadas, despertando novas e estimulantes<br />
abordagens, o que amplia muito as possibilidades mas também pode levar à<br />
paralisia, pela dificuldade em escolher em meio a tantos textos críticos ou<br />
teóricos. A riqueza da obra machadiana pode ser comparada ao ato de colar o<br />
olho a um caleidoscópio e admirar as 1001 possibilidades do Bruxo. Investigar<br />
as personagens principais, aquelas que carregam a história nas costas seria<br />
muito óbvio, especialmente o célebre auto-defunto/Brás. Por isto dirigimos o<br />
olhar para os personagens periféricos, e, com surpresa, ao efetuar uma leitura<br />
de garimpo, verificamos que a personagem Dona Plácida, a alcoviteira, é citada<br />
cerca de dezoito vezes, a partir do capítulo 67 até o capítulo 150. Definitivamente<br />
Dona Plácida é uma personagem secundária bem importante, uma falsasecundária,<br />
ainda que ocupe na narrativa um cargo de serviçal. No capítulo 67,<br />
ela é apresentada ao leitor, como uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja<br />
casa fora costureira e agregada. Aqui ela não tem nome ainda, apenas o<br />
designante uma mulher.<br />
Dona Plácida atinge os limites da peculiaridade sem atingir a<br />
deformação caricatural. Roberto Schwarz,(1990, p. 100) ao falar sobre Dona<br />
Plácida em “A sorte dos pobres”, reflete sobre a desconsideração dos serviços<br />
prestados pelas pessoas pobres, no contexto social em que a obra de Machado<br />
está inserida. Não se trata de uma personagem escrava, e sim de uma prestadora<br />
de serviços livre, mas ainda assim em uma situação de dependência de favores,<br />
que a classe dominante sempre fez questão de manter inalterada em nosso<br />
país.<br />
O nome Plácida, de acordo com o Dicionário etimológico da língua<br />
portuguesa, de Antenor Nascentes (1952, p. 246) 1 , nos diz o seguinte: origem<br />
no Latim, “placidia”, adjetivo que sugere tranqüilidade, o que é confirmado<br />
pelo dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, que fala em pessoa serena,<br />
mansa, sossegada, pacífica. A personagem Plácida criada por Machado traz<br />
estes atributos, mas ao longo da narrativa apresenta algumas atitudes que a<br />
fazem especial, talvez daí venha a freqüência com que nos deparamos com a<br />
agregada de Virgília.A mulher é pessoa resignada que trabalhou muito, sofreu<br />
1 Todas as citações com apenas indicação de página referem-se à obra em estudo.
Uma personagem que deu o que falar<br />
com doenças e dificuldades as mais variadas. Ganhou o sustento com trabalhos<br />
de costura, fazendo doces para fora, além de ensinar crianças do bairro. A<br />
personagem lutou com dignidade até onde foi possível. Derrotada talvez pelo<br />
cansaço desta luta inglória, é levada à degradação moral. O narrador/defunto/<br />
Brás se diverte com o processo meticuloso realizado por ele para conquistar<br />
a simpatia de Dona Plácida, o que é descrito no capítulo 70. A personagem<br />
sente-se humilhada ao perceber o arranjo feito pelos amantes Brás e Virgília,<br />
mas graças ao pecúlio de cinco contos de réis, Dona Plácida vendeu-se,<br />
e nas palavras de seu benfeitor “foi assim que lhe acabou o nojo”<br />
(ASSIS, 2001, p. 121). Agrados e dinheiro conseguiram destruir a resistência<br />
da caseira/alcoviteira, sendo que em uma leitura mais atenta percebemos nunca<br />
ter sido muito firme. Suas características casam perfeitamente com o nome,<br />
uma pessoa pacífica, que aceita as vicissitudes da vida com resignação, com<br />
certos pudores, mas nada que agrados e dinheiro não resolvam.<br />
O autor-defunto dedica o capítulo 74 a contar a vida da alcoviteira,<br />
e o título é História de Dona Plácida, capítulo que é fruto de uma pratinha<br />
colocada na algibeira do vestido da serviçal. A pratinha estimula o relato da<br />
vida difícil que levou, e lembra-se que desde a infância lidava com os tachos de<br />
doces. Depois de longo tempo conheceu a família de Virgília e lá foi bem<br />
recebida, e revela ao final do relato que seu maior medo é terminar os dias na<br />
rua, pedindo esmolas. Brás, impiedosamente, não se comove com a história de<br />
Plácida, tanto que fala com seus botões: se Dona Plácida tivesse perguntado<br />
aos pais(um sacristão da Sé e uma doceira que freqüentava a igreja),<br />
para que me chamastes? Eles responderiam: - chamamos-te para queimar<br />
os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer,<br />
andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de<br />
tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora logo desesperada, amanhã<br />
resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até<br />
acabar um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te chamamos, num<br />
momento de simpatia (p. 75).<br />
No capítulo seguinte Brás continua a tecer considerações sobre<br />
Dona Plácida, ao levar um “repelão” de sua consciência. Reflete alguns<br />
segundos sobre a torpeza de seu ato em degradar uma pessoa tão sofrida, mas<br />
logo cala a voz da consciência com o aforismo cínico e desaforado: o vício é<br />
muitas vezes o estrume da virtude, já que, de uma situação humilhante para<br />
Dona Plácida, o estrume tornou-se adubo para uma vida melhor, ao mesmo<br />
tempo em que levava Brás a sentir-se uma pessoa caridosa e de boas intenções.<br />
A personagem D.P. é, sem dúvida, uma personagem aparentemente plácida,<br />
pois sob a superfície há uma variedade de referências históricas e sociais,<br />
contradizendo sua aparente calmaria. Sabemos que o nome é apenas um dos<br />
elementos que contribuem para a construção de uma personagem, mas o fato<br />
de ser o primeiro dado de individualização dá a medida de sua importância. Há,<br />
69<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
70 segundo Cunha (1984, p. 116), uma conexão íntima do nome com a personalidade,<br />
o que torna o nome especial, pois designa, evoca e sugere. No capítulo 84,<br />
Dona Plácida revela-se uma personagem regida pelo senso-comum, típico das<br />
classes mais humildes, repleta de ingenuidade e aceitação:<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava<br />
não poder ver um sapato voltado para o ar:<br />
- Que tem isso? Perguntava-lhe eu.<br />
- Faz mal, era sua resposta.<br />
Vanda Luiza de Souza Netto<br />
Brás cita o caso da criação de verrugas, resultante do ato de<br />
apontar uma estrela com o dedo, todas estas superstições que fazem parte da<br />
personagem. Em outro capítulo, o 103, chega ao requinte de dar razão a Dona<br />
Plácida, que o repreende pelo atraso de uma hora em um encontro de amor<br />
com Virgília. Em um mesmo parágrafo refere-se à mulher por duas vezes<br />
como “coitada de Dona Plácida! Com a ênfase de pontos de exclamação, ao<br />
perceber a aflição da alcoviteira com os arrufos dos apaixonados. No capítulo<br />
104 exerce, com especial sabedoria e competência, seu encargo de guardiã<br />
dos amantes, ao perceber que o marido traído vinha chegando. – Virgem Nossa<br />
Senhora! aí vem o marido de Iaiá! Prontamente, Dona Plácida (nem tão plácida<br />
assim, na verdade cheia de expedientes) assume-se como dona da casa e<br />
informa a Lobo Neves a presença de Virgília que veio lhe fazer uma visita.<br />
Brás está escondido na alcova, e após a partida do casal, a alcoviteira deixa-se<br />
cair em uma cadeira, esgotada pela tensão do acontecimento.<br />
Virgília não esquece de sua agregada e, ao partir com o marido<br />
recomenda a Brás que não a desampare. No entanto , tempos depois, ao receber<br />
um bilhete de Virgília pedindo que leve Dona Plácida para a Santa Casa de<br />
Misericórdia, por estar muito doente, declara: Que maçada! Não vou. (capítulo<br />
143) Tudo porque ele achava que já tinha feito muito pela alcoviteira/doceira/<br />
costureira, ao dar-lhe os cinco contos de réis no passado. Após refletir durante<br />
à noite, no entanto, decide visitar a mulher e ajudá-la; após uma semana<br />
internada na Misericórdia, Plácida vem a falecer. Nas palavras secas de Brás,<br />
sua morte foi lacrada assim: Minto: amanheceu morta; saiu da vida às<br />
escondidas, tal qual entrara (capítulo 198), como se unisse as pontas de um<br />
laço, fechando a história da personagem. Brás reflete sobre a utilidade da vida<br />
de Dona Plácida: apenas para servir aos amores com Virgília. A última<br />
referência à personagem está no capítulo 150, em que Brás compara a morte<br />
de seu jornal, com apenas seis meses de vida à morte clandestina e discreta de<br />
Dona Plácida.<br />
Ao contemplar uma personagem secundária com tantas citações<br />
e dar-lhe o nome de Plácida, uma pessoa serena e ingênua, mas possuidora da<br />
esperteza dos sobreviventes, dos que passam a vida apenas mantendo-se à
tona, não estaria Machado querendo “dizer” por meio de ”outro dizer”? Ou<br />
seja , não seria esta personagem um modo de sutilmente mais uma vez mostrar<br />
a espoliação da dignidade a que tantas pessoas humildes são submetidas? A<br />
discussão está aberta, pois entendemos que este é mais um dos inúmeros<br />
piparotes de Machado, que saltam de sua obra e atingem o leitor.<br />
Referências<br />
Uma personagem que deu o que falar<br />
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 5. ed. Rio de<br />
Janeiro: Editora Record, 2001.<br />
CHALHOUB, Sidney. Ciência e ideologia em Memórias Póstumas de Brás<br />
Cubas. In: ______. Machado de Assis historiador. São Paulo: Cia das Letras,<br />
2003.<br />
CUNHA, Celso. Poética e onomástica em Os Lusíadas. In: ______. Língua<br />
e Verso. 2. ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1984.<br />
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Plácida. In: ______. Novo<br />
dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1975. p. 1097.<br />
NASCENTES Antenor. Plácida. In: ______. Dicionário Etimológico da<br />
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1952. p.246.<br />
PLATÃO. Crátilo. In: Teeteto-Crátilo. 3. ed. Belém: EDUFPA, 2001.<br />
SCHWWARZ, Roberto. A sorte dos pobres (Eugenia, Dona Plácida,<br />
Prudêncio). In: ______. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado<br />
de Assis. São Paulo: Livraria duas cidades, 1990.<br />
71<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
RELIGIÃO: UMA VISÃO MERCADOLÓGICA<br />
DESFIGURANDO A IMAGEM VERDADEIRA DE DEUS<br />
RESUMO<br />
Sélcio de Souza Silva*<br />
Neste ensaio discute-se a forte influência do espírito<br />
merdadológico invadindo o espaço religioso. Daí, por exemplo, o<br />
grande crescimento de movimentos religiosos no atual contexto<br />
de mundo globalizado e, porque não, secularizado. Nesse sentido,<br />
pretendemos, a partir da leitura prévia de Weber, Durkeim e,<br />
recentemente, Pierucci as trágicas conseqüências que as<br />
Instituições de Tradições Religiosas tem enfrentado e vão ter<br />
que enfrentar nesse terceiro milênio.<br />
Palavras-chave: Religião; espírito mercadológico; movimentos<br />
religiosos; secularização.<br />
O que fazermos, quando, na modernidade em que vivemos, o<br />
que se privilegia é a liberdade, a sensação de bem-estar, a racionalidade,<br />
motivados pela urbanização, pela tecnologia, pelo consumismo, pela<br />
democracia, pelo poder econômico e pela consciência da subjetividade da<br />
pessoa humana? Contexto em que o mercado e religião acabam fazendo um<br />
jogo de marketing e deus nada mais é que a própria razão mercadológica,<br />
cujos templos são os bancos, os shopping-centers, com suas romarias de<br />
adoradores e devotos. O poder do mercado relegou a religião para a esfera<br />
do intimismo e privacidade, características do individualismo. As pessoas<br />
fizeram da religião meramente “fetiche de desejo” ou “tábua de salvação”,<br />
destronando Deus do templo subjetivo da mente humana, e usurpando-lhe<br />
até mesmo o domingo, considerado como o dia do Senhor (die Domini),<br />
resultado do fenômeno secularismo.<br />
* Sélcio de Souza Silva é mestre em Gestão Educacional
74<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Na verdade, estamos contaminados pelo vírus da modernidade<br />
e, como garante Pierucci (1997), não temos como fugir dela, pois dela não<br />
podemos correr. A humanidade nunca presenciou, em tamanha proporção, o<br />
desemprego, o inchaço das cidades, a exclusão dos pobres, a violência,<br />
doenças sem soluções, drogas, alcoolismo, etc. Grupos fundamentalistas não<br />
se limitam mais a regiões específicas, mas pertencem a uma rede de conexões.<br />
Há o aumento da insegurança e do medo e grande insatisfação, paralelamente<br />
a um vazio existencial. Tudo isso forçou, de certa forma, a volta da religião,<br />
dos movimentos religiosos, que crescem aceleradamente, do misticismo, o<br />
que chamamos de “a volta do sagrado”, a volta da religião, conseqüência<br />
sine qua non, da lógica do mercado. Estamos na pós-modernidade? Depende<br />
da leitura que se faça de sobre pós-modernidade até porque há divergência<br />
de pensamento entre alguns estudiosos, pois nesses primeiros anos do século<br />
XXI ainda se discute se houve a passagem do paradigma da modernidade<br />
para um paradigma da pós-modernidade. Por outro lado, não há como negar<br />
o fato de que realmente vivemos num momento de transformações de valores,<br />
contextualizado pelo capitalismo avançado, de uma sociedade de consumo<br />
desenfreado.<br />
Percebe-se que as pessoas querem Deus, mas não querem a<br />
Instituição religiosa, nem a vontade de Deus, nem muito menos cumprir os<br />
seus mandamentos. O discurso fiat lux de Deus passou a ser, no mundo<br />
atual, o fiat lux na voz humanizada do homem. Por outro lado, as pessoas<br />
querem um Deus, que a religião preencham seus vazios, carências e<br />
necessidades. A religiosidade atual é mais busca de tranqüilidade e equilíbrio<br />
emocional que verdadeira fé. É uma religião mais terapêutica que ética. Todos<br />
estamos em busca de satisfação pessoal, da libertação do pânico, de<br />
segurança psicológica. A vida moderna desestabiliza as pessoas, deixandoas<br />
inseguras, desesperançosas, medrosas e angustiadas. Este é o momento<br />
propício para a volta da religiosidade, do pluralismo religioso, do misticismo.<br />
Estamos diante de um mercado variado de religiões das mais diversas.<br />
Podemos escolhê-las às nossas conveniências, pois queremos uma nova<br />
religiosidade, Religião sem Instituição, deveres ou compromissos. Igreja não.<br />
Religiosidade sim, compromisso não.<br />
Nesse pluralismo religioso, temos o esoterismo, com seus gurus<br />
iluminados, que nos apresenta a razão, o conhecimento como Deus. A Nova<br />
Era, sob a direção dos astros, que apresentando-nos um mundo diferente. O<br />
pentecostalismo que sobressai pela cura das doenças e todos os males dos<br />
quais se oriundam os vícios. O espiritismo que se apresenta como a invocação<br />
da sorte para alguns e de feitiço para outros. As religiões orientais que são<br />
sinônimas de paz, harmonia, relax e satisfação. O catolicismo que, perdendo<br />
o espaço para outras religiões, tem se destacado através da Renovação<br />
Carismática Católica, situando-se no movimento pentecostal católico.
Estamos diante de um mercado religioso que, muitas vezes, não<br />
nos apresentam uma verdadeira conversão de pessoas, pois não se percebem,<br />
nesses grupos, a vivência comunitária ou uma verdadeira mudança de vida,<br />
de engajamento eclesial, de transformação social e libertação política,<br />
econômica, cultural e social fica difícil falarmos de Religião.<br />
Em suma, respondermos à pergunta inicial parece-nos um pouco<br />
difícil, embora as maiores dificuldade sejam as ações necessárias de retomada<br />
evangelizadora dentro das estruturas, primeiramente, da Igreja Católica, como<br />
tentativas de resistência à cultura secular que nos fomenta modelos de vida<br />
sem Deus. Não adianta pregarmos uma nova evangelização com um novo<br />
ardor missionário sem, a priori, não existir intra Igreja, sejam-nos fieis-leigos<br />
da “Igreja Carismática”, os quais se disparam significativamente à frente do<br />
clero e religiosos, até mesmo dentre os demais movimentos e pastorais<br />
católicas. Por outro lado, conforme a irreversibilidade dos processos de<br />
globalização, nesse contexto de capitalismo avançado, sem a cooperação do<br />
Alto, não poderíamos nadar contra a correnteza, pois, a intervenção divina,<br />
em sua mais digna onipresença, fez, a partir do Vaticano II, em comunhão<br />
com a Igreja instituída, surgir no seio da sua Igreja, uma nova etapa de<br />
maturidade espiritual e porque não eclesial.<br />
Dentre os movimentos religiosos que surgem, constantemente<br />
no mundo atual, o movimento da Renovação Carismática Católica trouxe à<br />
luz dos grandes teólogos, o significado que nos faltava, embora os textos<br />
bíblicos sempre nos instruíssem. Faltava-nos o Espírito Santo com uma unção<br />
e efusão de seus carismas, assim como ocorrera no início da Igreja Primitiva,<br />
que pudessem, alimentando-nos a fé, fazermo-nos homens ousados e<br />
desbravadores de novos tempos difíceis que a Igreja há de passar. A<br />
providência divina fez brotar um movimento eclesial, dentro da Igreja que<br />
pudesse buscar a unidade tão sonhada de Cristo, em sua oração no<br />
Getsemani, contrariando toda a lógica dos movimentos atuais que buscam<br />
combater o tradicional, a tradição apostólica e dogmática de uma Igreja duomilenar.<br />
Referência<br />
PIERUCCI, Antônio Flávio. Interesses religiosos dos sociólogos da religião.<br />
In: Globalização e religião. São Paulo: Vozes, 1999.<br />
75<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
UM SABER QUE NÃO SE EXPLICA: NOTAS SOBRE O MESTRE<br />
IGNORANTE, DE JACQUES RANCIÈRE<br />
Bernardina Leal*<br />
Cada sujeito falante é o poeta de si próprio e das coisas.<br />
Jacques Rancière<br />
Entre o ensinar e o aprender há muito mais do que meras ou<br />
mesmo elaboradas explicações. É possível, até mesmo, que as explicações<br />
constituam o maior fator impeditivo do aprender. Inversamente ao que é comum<br />
se pensar, pode ser que as explicações criem apenas uma série progressiva,<br />
ordenada e hierárquica de condicionantes para que o entendimento necessário<br />
ao saber seja pesquisado de modo inalcançável, posto que sempre adiado para<br />
um momento posterior. Este adiamento coincide com a situação supostamente<br />
superior daquele que detém os mecanismos do ensino e decide qual é o momento<br />
adequado à aprendizagem do aprendiz, conseqüentemente colocado em situação<br />
de inferioridade.<br />
É neste sentido que uma denominada “ordem explicadora” estaria<br />
a colocar em funcionamento uma série de dispositivos capazes de organizar a<br />
estrutura considerada necessária para a aprendizagem. Do mesmo modo esta<br />
“ordem explicadora” elaboraria meios de legitimar tal estrutura e também modos<br />
de relações de poder que a manteriam inalterada. Assim sendo, a sociedade<br />
pedagogizada prescindiria de instituições escolares que abrigassem uma<br />
quantidade cada vez maior de alunos situados ordenada, seqüencial e<br />
hierarquicamente em um continuum instrucional continuadamente reforçado e<br />
mantido pela lógica explicadora que lhe daria sentido. Este é o modo de pensar<br />
a <strong>educação</strong> desde os seus princípios fundantes. Esta é a busca de sentido para<br />
o ato educativo travada por Jacques Rancière em sua obra intitulada “O Mestre<br />
Ignorante” - Cinco Lições sobre a Emancipação Intelectual. Neste livro o<br />
*<br />
Bernardina Leal é mestre em Educação pela UnB.
78 autor resgata a relação pedagógica de um professor chamado Jacotot com um<br />
grupo de alunos de outra nacionalidade, falantes de uma língua diferente da<br />
sua. O desafio de ensinar sem a condição prévia da existência de uma língua<br />
comum que pudesse mediar a transmissão dos conhecimentos da parte do<br />
professor para os alunos fez com que Jacotot experienciasse uma situação de<br />
ensino e aprendizagem inusitada. Esta situação nova apresentava um problema<br />
que impelia Jacotot a buscar o princípio do aprendizado como forma de possibilitar<br />
a relação pedagógica que se impunha necessária. Tensionado pelas<br />
contingências, Jacotot chegou à ideia basilar do que viria a ser o fundamento<br />
do seu ensino: aqueles alunos já sabiam algo e a este saber deveriam relacionar<br />
todo o resto. Afinal, todos eram igualmente inteligentes, inclusive ele, o professor.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Bernardina Leal<br />
O princípio da igualdade das inteligências seguido por Jacotot em<br />
sua experiência de ensino, destacada por Rancière na figura do mestre ignorante,<br />
configura uma oposição à ordem explicadora que mantém o tipo de <strong>educação</strong><br />
que se mantém na contemporaneidade. Jacotot havia antecipado a ideia de<br />
que a escola e a sociedade pedagogizada em vez de reduzir a distância entre o<br />
saber e o não-saber a ampliava. Na verdade, seria esta distância a base em<br />
que ambas instâncias se sustentariam a fim de crescer e manter esta condição<br />
sempre necessária. Nesta lógica, a transmissão do conhecimento dos<br />
possuidores do saber para os ignorantes se daria segundo um sistema progressivo<br />
adequado aos diferentes níveis de aprendizagem possíveis àqueles que estariam<br />
hierarquicamente separados por distinções em estágios intelectuais, cargos,<br />
funções e saberes. O princípio deste tipo de organização educacional seria a<br />
existência da desigualdade intelectual que se desdobraria em desigualdades<br />
sociais e culturais, entre outras. A escola e a sociedade pedagogizada, instituídas<br />
com a finalidade de diminuir estas diferenças, paradoxalmente garantiriam suas<br />
estruturas nestas mesmas desigualdades e nelas fundamentariam sua<br />
organização seqüencial, ordenada, progressiva e hierarquizada de ser e de<br />
produzir dispositivos de perpetuação. Este paradoxo postergaria a igualdade<br />
na forma de um objetivo a ser atingido por meio de uma sucessão infinitamente<br />
progressiva de estágios educacionais. Conseqüentemente, as diferenças<br />
deveriam permanecer a fim de que as agências educacionais enquanto instâncias<br />
mediadoras se tornassem sempre necessárias.<br />
A única forma de romper esta ordenação seria modificar o<br />
pressuposto da desigualdade pelo princípio da igualdade das inteligências. Isto<br />
permitiria supor que qualquer aprendiz seria sabedor de uma infinidade de coisas<br />
e sobre este saber é que deveria estruturar-se todo o ensino. Ensinar seria,<br />
assim, reconhecer a capacidade que todos têm de aprender, destacar a<br />
positividade do aprendiz, a potência do que já se sabe em um processo relacional<br />
com outros saberes e direcionar a vontade para a busca do que se quer aprender.<br />
Seria o mesmo que pressionar o aprendiz a assumir uma capacidade préexistente<br />
em si mesmo, bem como as consequências do desenvolvimento desta
Um saber que não se explica: notas sobre o Mestre Ignorante, de Jacques Ranciére<br />
capacidade. Esta não seria uma questão apenas metodológica, mas filosófica e<br />
política. O importante, neste caso, não seria organizar formas mais ou menos<br />
adequadas ao aprendizado. O fundamental estaria no tipo de relação a ser<br />
estabelecida entre mestre e aprendiz -uma relação de respeito recíproco em<br />
função do reconhecimento da igualdade das inteligências de ambos e do destaque<br />
dado à potência das vontades orientadas para um fim. Seria ainda uma questão<br />
política - um posicionamento frente ao outro a partir de uma igualdade a ser<br />
verificada, não de uma desigualdade a ser reduzida.<br />
O princípio da igualdade das inteligências suscitado por Jacotot e<br />
resgatado por Rancière coloca em questão aquilo que é considerado o grande<br />
mérito da instrução - constituir-se um meio, um elo, a possibilidade de mediação<br />
entre pontos antagónicos de uma escala progressiva - uma concessão aos<br />
pobres, aos menos capacitados ou menos instruídos, um auxílio àqueles social<br />
e culturalmente inferiorizados. A instrução, alardeada como um meio redutor<br />
das desigualdades preexistentes, estaria a naturalizar as desigualdades<br />
pressupostas e, portanto, estaria, contraditoriamente, perpetuando-as. A única<br />
forma de ascender, de melhorar o nível de aprendizagem, de reduzir a diferença<br />
constitutiva das relações desiguais, seria a instrução. Tal instrução seria<br />
possibilitada por meio dos dispositivos pedagógicos, nos espaços escolares,<br />
pela mediação dos mestres.<br />
A escola seria, deste modo, o <strong>local</strong> eleito e legitimado por todos, a<br />
partir do qual o exercício do poder do professor sobre o aluno ocorreria de<br />
modo considerado natural. A razão explicadora colocaria a serviço das<br />
desigualdades pressupostas, um ordenamento hierárquico e disciplinador<br />
constituído por categorizações e classificações que enquadrariam tanto o<br />
professor quanto o aluno numa escala progressiva linear. Inserida nesta lógica,<br />
a instituição educacional seria o <strong>local</strong> privilegiado para as mediações entre o<br />
saber e o não-saber, o mestre e o ignorante, o adulto e a criança. A partir do<br />
pressuposto da desigualdade, as instâncias educativas estariam empenhadas<br />
em diminuir as distâncias assumidas.<br />
Contudo, para Jacotot e Rancière, a igualdade não é um fim a ser<br />
atingido por meio de dispositivos pedagógicos, mas um princípio a ser assumido<br />
filosófica e politicamente na relação com o outro. A assunção deste princípio<br />
provoca uma consequente e inevitável ruptura nos modos de organização e<br />
controle da sociedade. A igualdade estaria fora do alcance da pedagogia, fora<br />
do âmbito de projetos elaborados por grandes pensadores e dirigidos a um<br />
grande grupo de incapacitados. A igualdade, enquanto princípio, implicaria na<br />
emancipação intelectual, no ato individual de ruptura com o embrutecimento<br />
gerado pela lógica da explicação. Tal emancipação não se limitaria a formas<br />
constitucionais, não se disporia como um produto a ser consumido ou um método<br />
a ser aplicado. A autonomia intelectual seria fundante, posto que inventiva. Ela<br />
79<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
80 inauguraria modos de verificação de sua existência. Qualquer tipo de<br />
dependência ou subordinação seria uma contradição.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Bernardina Leal<br />
A emancipação intelectual vislumbrada por Rancière a partir da<br />
experiência de Jacotot rivaliza gritantemente com a organização pedagógica<br />
seguida pelas instituições de ensino. Desde a acepção primeira de que o processo<br />
de aprendizagem ocorre sempre em decorrência do ensino que o precede até<br />
a ideia de que para compreeender um texto escrito o aluno prescinde de notas<br />
explicativas, de um estudo dirigido ou mesmo da explicação de um mestre, o<br />
princípio regente desta organização é, para Rancière, o embrutecimento. A<br />
ideia basilar definidora da relação professor-aluno seria, neste caso, aquela<br />
que associaria ao professor a condição de possuidor do saber, logo, ensinante e<br />
ao aluno a situação de desprovido, logo, incapaz ou carente, um aprendiz. Neste<br />
contexto ensina aquele que sabe; aprende aquele que ignora. Rancière se opõe<br />
a esta lógica e apresenta a figura do mestre que ignora - o mestre ignorante.<br />
Este mestre não mantém segredos seus em relação aos alunos.<br />
Não guarda para si compreensões que os alunos só possam adquirir através de<br />
seus ensinamentos. Não crê em sua superioridade frente aos outros. Este mestre<br />
assume uma postura diante do aprendiz de reconhecimento da potência da<br />
inteligência de ambos. Ele reconhece a capacidade intelectual que lhes é comum,<br />
não hierárquica. É a tomada de consciência dessa igualdade de natureza que<br />
se denomina emancipação e que possibilita a aventura do saber. O saber é,<br />
então, procurado por quem o ignora, inclusive o mestre. O mestre ignorante<br />
não sabe mais do que seu aluno, não se antecipa ao aprendiz e pode, portanto,<br />
perguntar mais e verdadeiramente sobre as coisas, pode ainda exercer<br />
autonomamente sua inteligência. Este mestre pode até mesmo ensinar o que<br />
ignora na medida em que questiona sobre tudo o que ignora. O que este mestre<br />
ensina é a busca. E o que ele pode verificar não é se o aluno descobriu o que<br />
havia sido planejado encontrar, mas se o aluno buscou, se o aluno estava atento<br />
ao que encontrou. O poder da igualdade de suas inteligências é o laço comum<br />
entre ambos, o que os une.<br />
O mestre ignorante é, enfim, aquele que está sempre a procurar,<br />
aquele que emancipou-se e consegue reconhecer suas competências intelectuais<br />
e sabe aperfeiçoá-las. Este mestre emancipado pode emancipar outros, pois<br />
reconhece nas virtualidades intelectuais de todos inúmeras possibilidades de<br />
realizações. Ele auxilia o aluno a manter sua atenção dirigida aos atos intelectuais<br />
que descrevem caminhos a serem percorridos e que possibilitam avanços. Ele<br />
não fornece a chave do saber ao aluno, mas a consciência do poder de sua<br />
inteligência na busca do saber que lhe é próprio conquistar. A emancipação é a<br />
consciência dessa igualdade, da reciprocidade desta relação, da possibilidade<br />
de verificação da igualdade das inteligências entre semelhantes. A preocupação<br />
do mestre emancipado e emancipador é a de que o aprendiz conceba-se digno,
Um saber que não se explica: notas sobre o Mestre Ignorante, de Jacques Ranciére<br />
tenha consciência de sua capacidade intelectual e possa deliberar quanto a seu<br />
uso. Este mestre trabalha com a vontade do aluno a fim de que ele racionalmente<br />
se esforce e autodetermine suas atividades no exercício de sua inteligência<br />
expressa na atenção e busca daquilo que queira aprender. A vontade é esta<br />
potência de mobilidade, esta capacidade de agir segundo um movimento próprio.<br />
Apostar na vontade própria e na vontade do aluno, na potência<br />
intelectual de si mesmo e do outro, tanto quanto no ato decisivo emancipador,<br />
requer uma ruptura com a disciplina pedagógica. A disciplina, a ordem e a<br />
hierarquização do processo de ensino e aprendizagem em vez de possibilitar a<br />
busca do saber pelo despertar da vontade servida pela inteligência, produz a<br />
distração, a ausência. Na maioria das vezes o aluno age sem vontade, sem<br />
reflexão. O resultado não se traduz como ato intelectual, mas como certo<br />
idiotismo. A insignificância das tarefas escolares faz com que nada se passe<br />
no professor, tampouco no aluno. Não há emancipação, mas embrutecimento.<br />
A imagem reproduzida ao final deste texto lustra bem a ideia do<br />
embrutecimento que os mecanismos pedagógicos têm impostos aos professores<br />
e alunos. A figura revela uma tela pintada por um aluno em um curso de desenho<br />
e pintura. Inserido na lógica explicadora de um tipo de ensino sequencialmente<br />
progressivo, o professor exigiu que os trabalhos dos alunos obedecessem uma<br />
determinada ordem de aprendizagem de técnicas e tipos de pintura em tela. A<br />
despeito da vontade do aluno, mesmo contra seu posicionamento e habilidade<br />
na arte da pintura, o mestre ordenara que a primeira obra a ser produzida fosse<br />
uma “natureza morta”. A contra-gosto o trabalho foi realizado e logo guardado<br />
em um canto qualquer, bem escondido de qualquer exposição. Passado algum<br />
tempo, após a desistência do curso dado o desinteresse do aluno, a tela foi<br />
casualmente reencontrada. Mofada, a pintura em tela ficara diferente, havia<br />
sido alterada, nem parecia mais tão morta. A “natureza morta” revivia aos<br />
olhos do aluno naquele mofo que nascia sobre a tela e agregava ao desenho<br />
original novas imagens. Foi assim que o aprendiz reviu sua obra e decidiu falar<br />
dela nela mesma. A partir daquele instante a tarefa pedagógica realizada como<br />
mera obrigação escolar passou a revestir-se de novos sentidos. Intrigado com<br />
o mofo na tela e atraído pêlos desenhos ali inscritos pela natureza reavivada, o<br />
aluno escreveu sobre a pintura o poema que acabara de criar:<br />
A Natureza<br />
Morta.<br />
Mofada<br />
A podre cida.<br />
A podre sendo.<br />
Não era mais uma natureza morta. Era uma natureza viva,<br />
vivificada nas circunstâncias criadoras vislumbradas por aquele aluno que havia<br />
se emancipado. O processo embrutecedor que havia imposto a superioridade<br />
81<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
82 da inteligência de seu professor sobre a sua vontade e sua subserviência ao<br />
modelo hierarquizado de ensino da pintura se rompera. A emancipação intelectual<br />
do aluno, inibida pelo processo pedagógico que intentava ensiná-lo a pintar<br />
pressupondo sua incapacidade, naquele momento se manifestava. De modo<br />
abrupto, o rompimento com o modelo embrutecedor de ensino propiciou o efeito<br />
oposto: a criação poética. O aluno conseguiu traduzir na forma de um curto<br />
poema o significado anterior da realização daquela tarefa pedagógica e a<br />
posterior ruptura com o embrutecimento imposto.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Bernardina Leal<br />
Esta capacidade de relacionar coisas e provocar novos sentidos,<br />
este fluxo e refluxo de idéias é entendida por Rancière como a arte de<br />
improvisar. O autor destaca a importância deste exercício como uma virtude<br />
poética: “A impossibilidade que é a nossa de dizer a verdade, mesmo quando a<br />
sentimos, nos faz falar como poetas, narrar as aventuras de nossos espíritos e<br />
verificar se são compreendidas por outros aventureiros, comunicar nosso<br />
sentimento e vê-lo partilhado por outros seres sencientes”. Improvisar seria,<br />
neste caso, o mesmo que criar poeticamente, a partir de nossa impossibilidade<br />
de identificar com exatidão a verdade das coisas ou mesmo de fixar a verdade<br />
presumida em algum lugar. É por isso que tentamos traduzir a verdade que<br />
sentimos na forma de palavras, figuras e comparações como forma de contála<br />
a outros. Neste sentido a palavra estaria a ser utilizada menos para expressar<br />
um saber, mais para poetizar, traduzir e convidar outros a fazê-lo. A palavra<br />
seria a própria emancipação na medida em que cada um estaria a falar da arte<br />
que sabe ou quer aprender.<br />
Neste sentido, qualquer arte poderia ser compreendida e falada<br />
por qualquer um, desde que cada um se sentisse capaz de fazê-lo. No caso da<br />
pintura, o que interessaria não seria a formação de grandes pintores, mas de<br />
homens emancipados, capazes de proferir a afirmação: “Eu também sou pintor”.<br />
Isto significaria reconhecer o justo poder de exprimir uma capacidade e a<br />
possibilidade de comunicar sentimentos aos semelhantes, além do<br />
reconhecimento nos outros da mesma potencialidade. O mesmo poderia ser<br />
dito em relação a qualquer um: cada um é também pintor, posto que todos têm<br />
em comum a capacidade de experimentar sentimentos e decidir como expressálos.<br />
Por isso é preciso aprender. Aprender a comunicar a emoção. Aprender<br />
com aqueles que conseguiram articular sentimento e expressão, que<br />
conseguiram associar a “linguagem muda da emoção e o arbitrário da língua”.<br />
Conhecer a obra de um mestre da pintura, da literatura ou de qualquer outra<br />
arte se faria necessário, não para distingui-lo hierarquicamente no campo<br />
intelectual, mas ao contrário, para percebê-lo na igualdade das inteligências e<br />
na potência realizadora de sua vontade de expressão artística. Nas palavras de<br />
Rancière, “A lição emancipadora do artista, oposta termo a termo à lição<br />
embrutecedora do professor, é a de que cada um de nós é artista, na medida<br />
em que adota dois procedimentos: não se contentar em ser homem de um
Um saber que não se explica: notas sobre o Mestre Ignorante, de Jacques Ranciére<br />
ofício: não se contentar em sentir, mas buscar partilhá-lo. O artista tem<br />
necessidade de igualdade, tanto quanto o explicador tem necessidade de<br />
desigualdade” (2002, p. 104).<br />
Enquanto houver uma razão explicadora pretensamente científica,<br />
estratificadora e mantenedora das pressupostas desigualdades intelectuais entre<br />
os homens, não haverá espaço para a aventura poética. O ato poiético, criador,<br />
não se explica. A organização lógica da ideia de desenvolvimento linear,<br />
progressivo e consecutivo que mantém alunos presos a um sistema de ensino<br />
hierarquizador impossibilita o surgimento abrupto do entendimento poético. A<br />
regulação do processo de aprendizagem, seu controle e monitoramento ocupa<br />
o tempo do trabalho docente na realização de tarefas pouco ou nada inventivas.<br />
Em decorrência dos atos meramente tarefeiros, o fazer docente torna-se um<br />
trabalho embrutecedor tanto do aluno quanto do professor. É nesta lógica que<br />
se insere a última frase da citação de Ranciere.<br />
Apostar na capacidade comum a todos de serem afetados, de se<br />
comoverem reciprocamente, assume, assim, um caráter ético. Ranciere alerta<br />
para o risco de que os homens tornem-se estrangeiros uns aos outros, dispersos<br />
de si mesmos e dos seus semelhantes se não tiverem essa faculdade igual e se<br />
não puderem partilhá-la. O exercício desta potência auto-poiética seria um<br />
doce prazer, além de uma imperiosa necessidade para todos nós. O sentimento<br />
de alteridade, o respeito ao outro e a consciência das implicações de cada ato<br />
individual na vida de outrem dimensiona o campo ético do reconhecimento da<br />
igualdade das inteligências. Uma postura que se expressa não por meio de leis<br />
ou da força, mas pelo reconhecimento de uma virtude que se assume e<br />
potencializa todas as outras presentes em cada um. A igualdade, neste contexto,<br />
não seria decretada, tampouco concedida ou recebida, mas verificada em ato.<br />
Em uma constante atenção a si mesmos, os homens estariam a realizar uma<br />
infinita busca pelo saber. A potência de se fazer compreender seria verificada<br />
na relação entre iguais. Este tipo de convívio requereria, entretanto, disposição<br />
e coragem diante da enorme tarefa que cada um teria de assumir-se racional,<br />
de respeitar-se a si próprio e aos outros. Não mais apoiar-se em supostas<br />
autoridades, não mais submeter ao outro a própria vontade ou inteligência.<br />
Empregar a inteligência própria na vontade de realização, no esforço de<br />
superação das dificuldades, sem distração ou desvio. Sem a necessidade de<br />
fazer calar o outro, mas de comunicar-se. Sem a retórica que levaria o sujeito<br />
a falar por intermédio de coisas alheias à sua obra. Com a convicção de que<br />
“cada sujeito falante é o poeta de si próprio e das coisas”.<br />
De volta à tela mofada, apostando com Jacotot e Ranciere na<br />
emancipação intelectual possibilitadora do ato poético, estamos resgatando a<br />
idéia de um saber que não se explica. Um saber que se aprende, mas que,<br />
talvez, não se ensine. A arte da pintura, o ato de pintar, já se fazia presente na<br />
83<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
84 vontade daquele aluno. Ele havia aprendido sozinho a pintar, sem um mestre<br />
explicador. A submissão a um curso programado para ensiná-lo quase o paralisou.<br />
Contudo, a tensão de seu próprio desejo e as contingências da situação o fizeram<br />
relacionar àquilo que já sabia a construção das palavras no jogo poético do<br />
poema. Na brincadeira semântica com as palavras utilizadas para identificar<br />
aquele tipo de pintura e nas palavras empregadas no verso criado, expressa-se<br />
a experiência da aprendizagem, o acontecimento urgente do novo. A “natureza<br />
morta”, assim classificada na história da arte, a partir da contingência do mofo,<br />
da situação paradoxal de apodrecimento, refazia-se na mente do artista.<br />
Apodrecida, não seria mais a mesma. Transformada, mofada, era percebida<br />
outra. Estava sendo podre. Não estava mais morta.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Esta parece ser uma imagem bastante representativa da lógica<br />
embrutecedora dos sistemas de ensino convencionalmente aceitos. A tela<br />
mofada, recriada, agora solenemente exposta na parede da sala, passava a<br />
anunciar a potência da vontade exercida e o reconhecimento da própria<br />
inteligência. Capaz de exercer sua inteligência, sentindo-se confiante,<br />
emancipado, o pintor falava na tela de sua obra e espalhava sua emancipação<br />
a outros, anunciava seus benefícios e, assim, levava outros a se reconhecerem<br />
como tais. O pintor havia buscado seu próprio caminho e anunciava sua decisão<br />
na tela. Inventava o que queria realizar. Esta é, para Rancière, a vantagem da<br />
emancipação intelectual _ a convicção de que cada um é capaz de realizar<br />
uma obra. Que cada um possui um saber que não carece de explicações, mas<br />
que se faz, que acontece. É deste modo que cada manifestação intelectual<br />
exprime o todo da inteligência humana.<br />
Referências<br />
Bernardina Leal<br />
RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante: cinco lições sobre a emancipação<br />
intelectual. Tradução de Lílian do Valle. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
O TEMPO VIVO DA MEMÓRIA: ENSAIOS DE PSICOLOGIA<br />
SOCIAL<br />
Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes*<br />
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São<br />
Paulo, Ateliê Editorial, 2003.<br />
Ecléa Bosi, no livro O tempo vivo da memória: ensaios de<br />
psicologia social, chama a atenção para a importância do estudo do passado<br />
recente e mostra que a memória oral é um precioso instrumento na constituição<br />
da crônica do cotidiano, à medida que pode funcionar como uma espécie de elo<br />
entre diferentes tempos. A autora faz indagações acerca da valorização atual<br />
da tradição oral e afirma que a formação de identidade se alimenta dos vínculos<br />
com o passado. Ressalta também, que essa história cotidiana não deve ser<br />
entendida como o avesso da história política hegemônica e muito menos como<br />
uma história que vá substituir um conceito ou uma teoria da História. A riqueza<br />
em se dar a palavra às pessoas “comuns” para falarem de suas memórias<br />
consiste no fato de que elas expressam suas paixões individuais. Paixões essas<br />
que não são contempladas na história que se estuda na escola e que trazem em<br />
seu bojo elementos distintos e por vezes contraditórios, constituintes da cultura<br />
à qual pertencem.<br />
O fato de a memória oral não tender para uma construção<br />
monocromática não implica dizer que ela seja mais autêntica que a versão<br />
oficial ou ainda, que não sofra influência de ideologias que representem a<br />
memória coletiva. Ecléa Bosi, em suas pesquisas, teve a oportunidade de<br />
comprovar a influência da narrativa coletiva, trabalhada pela ideologia, sobre a<br />
memória de indivíduos que participaram e testemunharam fatos e que, portanto<br />
poderiam enriquecer suas falas a partir dessas vivências. Entretanto não o<br />
fizeram. Ao contrário, usaram a narrativa coletiva como forma de legitimar e<br />
explicar o poder do grupo ao qual pertenciam.<br />
*Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes é especialista em Docência Superior.
86 A narrativa coletiva apresenta-se assim como se fora em si mesma<br />
mais legítima, trazendo portanto, no seu bojo, elementos significativos para<br />
validar aquilo que fora vivenciado pelo próprio sujeito, que, muitas vezes, em<br />
sendo convidado a falar do acontecido, ao invés de fazer uso de suas memórias,<br />
recorre aquilo que coletivamente institui-se como a memória constituída de um<br />
dado episódio ou situação. Vê-se assim a força da ideologia na construção e<br />
valorização dessa memória coletiva.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes<br />
A cada momento do livro a autora nos brinda com exemplos<br />
comprovadores da riqueza da memória oral. Chamo a atenção para o fato de<br />
que neste sentido também os esquecimentos e omissões apresentam-se como<br />
significativos na construção do acontecimento histórico cotidiano, bem como a<br />
diversidade de visões de mundo a partir de experiências diferentes de pessoas<br />
que compartilharam a mesma época histórica. Dessa forma, a narrativa mostra<br />
a complexidade dos acontecimentos, o que exige do pesquisador uma atitude<br />
sensível neste processo de recomposição constante de dados, visto que a<br />
memória não pode ser compreendida como algo estanque, pronto. Ao contrário,<br />
ela se mostra, em razão de ser construída por homens e mulheres, plena de<br />
lembranças e esquecimentos, apta a todo e qualquer tipo de atravessamento<br />
social que os seres humanos experienciam.<br />
Pode-se inferir que, ao trazer para o leitor o valor significativo,<br />
aparentemente paradoxal, dos esquecimentos da memória, a autora esteja<br />
referendando as afirmações de Pierre Nora, que ao diferenciar memória de<br />
história faz ver o dinamismo típico da primeira quando afirma que<br />
[...] a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse<br />
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança<br />
e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas,<br />
vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas<br />
latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução<br />
sempre problemática do que não existe mais. A memória é um fenômeno<br />
sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história uma<br />
representação do passado (1993, p. 9).<br />
Ecléa apresenta também, com muita propriedade, a problemática<br />
do desenraizamento como condição desagregadora da memória, pois a<br />
mobilidade imposta aos indivíduos pelo sistema econômico capitalista tende a<br />
fazer com que os espaços e objetos tenham basicamente a função de consumo,<br />
dificultando a permanência nas casas ou bairros, que guardam em si<br />
experiências, emoções individuais, sons e imagens que possuem um significado<br />
único, especial. A dispersão das pessoas por diferentes espaços cria de algum<br />
modo dificuldades à memória coletiva, visto que a dimensão humana do espaço<br />
e do tempo tem sido paulatinamente expurgada pela roda-viva das grandes<br />
cidades, onde as velhas casas com varandas, quintais e cadeiras nas calçadas<br />
cedem lugar aos arranha-céus, no processo conhecido como verticalização.
O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social<br />
Entretanto, ainda que de forma esporádica, como por exemplo, em datas<br />
especiais, normalmente comemorativas e associadas à memória coletiva, as<br />
pessoas se reencontram e reconstroem o mapa afetivo da cidade.<br />
O sistema capitalista faz-se presente não só na organização do<br />
espaço. O próprio tempo teve seu ritmo subjugado à lógica do mercado, idéia<br />
claramente explicitada no dito burguês popularmente divulgado: “tempo é<br />
dinheiro”, em detrimento da orientação do tempo pelas tarefas. O ritmo das<br />
fábricas se impõe e rompe os ritmos sociais.<br />
A autora também nos fala sobre as diferenças e relações cotidianas<br />
entre memória-hábito, aquela em que o corpo faz uso automático de mecanismos<br />
motores e a memória de eventos únicos, singulares. A respeito dessa última,<br />
Ecléa Bosi conta que nos depoimentos orais por ela escutados, o narrador<br />
dava voz às suas memórias e vivia no presente e com uma nova intensidade a<br />
experiência rememorada, o que significa dizer que não se trata somente de um<br />
reviver de imagens do passado, mas sim da memória bergsoniana, ou seja, da<br />
“Memória como atividade do espírito, não repositório de lembranças” (p. 52).<br />
Cabe ao ouvinte perceber as imagens produzidas pela fala do narrador, imagens<br />
essas que podem inclusive ter a conotação de duração de tempo a partir daquilo<br />
que é intuído pelo próprio sujeito que narra, a esse tempo a autora chama de<br />
“[...] tempo concreto e qualificado das lembranças” (p. 51).<br />
Ainda no que diz respeito ao tempo, a autora ressalta que a<br />
memória é um trabalho sobre o próprio trabalho, só que sobre o tempo vivido<br />
de cada pessoa e que este é influenciado pela cultura a qual o indivíduo pertence,<br />
por esse motivo o tempo social acaba por se sobrepor ao individual. Essa<br />
sobreposição não implica a negação do olhar individual, mas sim o fato de que<br />
ao narrar uma situação singular, o narrador fala também de suas relações com<br />
outras pessoas, utiliza referências de acontecimentos temporais que marcaram<br />
época, faz uso de crenças adquiridas na coletividade da qual faz parte e constrói,<br />
por assim dizer, um tempo original, onde a ordenação utilizada obedece a<br />
critérios afetivos.<br />
Um dos mais ricos ensaios do livro é intitulado “Sugestões<br />
para um jovem pesquisador”, em que fica evidente o cuidado e a preocupação<br />
da autora com a ação de ouvir o outro. Há aqui uma espécie de alerta acerca<br />
da necessidade de que o pesquisador saiba respeitar o narrador em todos os<br />
momentos, o que inclui desde o seu preparo anterior, sobre o universo do<br />
narrador, no sentido de que o pesquisador possa efetivamente formular questões<br />
significativas e que despertem no narrador o interesse pelo ato de rememorar,<br />
até a tessitura de uma relação entre ambos pautada na amizade, entendida<br />
aqui como uma aproximação entre pessoas que se mostrem desarmadas dos<br />
rótulos sociais, isto é, o pesquisador não deve ir ao encontro do narrador como<br />
se fosse, em virtude de diferenças de classe ou instrução, superior àquele.<br />
87<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
88 No mais, o texto, de forma poética, convida o “jovem ouvinte” a se<br />
permitir viajar através da narrativa do outro, respeitando os silêncios e valorizando<br />
as rupturas, as construções nem sempre bem arrumadas. Vejamos na fala da<br />
própria Ecléa:<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes<br />
[...] Os lapsos e incertezas das testemunhas são o selo da autenticidade.<br />
Narrativas seguras e unilineares correm sempre o perigo de deslizar para o<br />
estereótipo. [...] Nos idosos, as hesitações, as rupturas do discurso não<br />
são vazios, podem ser trabalhos da memória. [...] A fala emotiva e<br />
fragmentada é portadora de significações que nos aproximam da verdade.<br />
Aprendemos a amar esse discurso tateante, suas pausas, suas franjas<br />
com fios perdidos quase irreparáveis (p. 64-5).<br />
A riqueza da narrativa para o historiador, ao desenvolver um projeto<br />
que coerentemente faça uso de entrevistas, não consiste numa simples coleta de<br />
dados, mais sim na possibilidade de fazer leituras críticas dos depoimentos, visto<br />
que as testemunhas dos fatos históricos são de uma riqueza ímpar na medida em<br />
que trazem consigo um discurso plural, pontuado pela coletividade, pela realidade<br />
em que se deu a experiência vivida, por isso mesmo propensa a terem também<br />
suas falas e memórias indagadas. Um outro aspecto relevante diz respeito<br />
certamente à possibilidade de se estabelecer, a partir das entrevistas, comparações<br />
e análises entre diferentes tempos históricos. Não é papel do historiador, buscar<br />
invalidar testemunhos em razão da inexatidão dos mesmos ou inquirir o narrador<br />
como se este fosse um réu, afinal, a oralidade, como já foi dito, traz em si a<br />
opulência também dos silêncios. Também não se trata de uma busca da verdade<br />
histórica, é bom lembrar que a experiência humana traz em si possibilidades para<br />
diferentes verdades.<br />
Em decorrência desse campo de possibilidades que se abre ao<br />
conhecimento humano a partir da utilização de entrevistas em que se valorize a<br />
memória de homens e mulheres, espera-se uma postura ética do pesquisador, o<br />
que em linhas gerais significa respeitar o ritmo do narrador, bem como dar a este<br />
a condição de ler, e se necessário modificar, aquilo que foi escrito a partir de sua<br />
fala, de sua vivência, de sua criação.<br />
Um dos ensaios do livro (sobre o campo de Terezin) chama a atenção<br />
pelo poder que a autora tem de levar o leitor a sentir todo o peso da emoção de<br />
uma história de dominação e resistência. Fica explicitado que no campo de Terezin<br />
construiu-se uma imagem pelos nazistas, à época da Segunda Guerra Mundial,<br />
para convencer a Cruz vermelha de que aquela era apenas uma cidade comum.<br />
Os registros indicam que este objetivo foi alcançado, a propaganda conseguiu<br />
camuflar a realidade e esconder a dor e miséria dos judeus que ali habitavam e<br />
cotidianamente eram vítimas de todo tipo de barbarismo e autoritarismo. A<br />
resistência se expressa na teimosia desses habitantes que diante dessa situação<br />
de opressão insistiam em simplesmente continuar vivos.
O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social<br />
A experiência dos indivíduos se inscreve em um espaço e tempo<br />
determinado, o que implica dizer que conhecemos partes do todo e muitas<br />
dessas partes se tornam conhecidas para nós a partir da confiança que temos<br />
em registros feitos por outras pessoas que experienciaram tais fatos. Mesmo<br />
em relação aos fatos por nós vivenciados é comum a existência de construções<br />
distorcidas, tais construções são alinhavadas por aspectos culturais e por vezes,<br />
tais alinhavos, implicam num processo, denominado por Ecléa de estereotipia,<br />
onde resistimos às novas possibilidades ofertadas pela percepção e nos<br />
deixamos enredar por aquilo que já está previsto, padronizado, modelado pelos<br />
grupos de poder instituídos. Neste processo acaba-se por simplificar a realidade<br />
e dessa maneira perde-se a riqueza que a mesma traz em si, naquilo que ainda<br />
não foi, por assim dizer, codificado no estereótipo veiculado pelos meios de<br />
informação. O conhecimento requer de cada um a ruptura, não só com os<br />
estereótipos, mas também com as limitações da opinião que constitui uma<br />
representação subjetiva. Esse movimento de ruptura pressupõe um desejo de<br />
conhecer, de se lançar em busca de algo que não está dado. Tal movimento<br />
requer afinidade, vontade de ir além da superficialidade das opiniões e da<br />
segurança dos modelos, que por mais opressores que sejam não dão conta de<br />
destruir a originalidade dos indivíduos. É exatamente esta vontade que é<br />
responsável pelas transformações históricas a partir de ações que não aceitam<br />
a submissão e assumem posturas de rebeldia, através do enfrentamento do<br />
status quo.<br />
No sentido de anunciar a desobediência ao status quo, temos no<br />
livro a ilustração, construída de forma a acenar ao leitor com a possibilidade de<br />
uma viagem poético-visual da resistência cultural, relatos de experiências de<br />
operários e operárias, onde revela-se a grandeza da complexidade do ser<br />
humano, ressaltando-se a importância do fazer cotidiano e a beleza dos<br />
movimentos de oposição e reconstrução daquilo que está dado, a princípio,<br />
como pronto e acabado. É neste movimento de resistência que as pessoas, a<br />
partir de suas vontades e necessidades, constroem e mostram sua essência,<br />
através do jeito de se organizarem e viverem. É assim que vemos um espaço<br />
padrão ganhar vida, pois<br />
[...] A casa vai crescendo junto ao poço, ganhando cômodos de tijolo,<br />
alterando sua fachada. Isto pode levar dez, quinze anos. A rua vai<br />
ganhando uma fisionomia tão peculiar que às vezes já não identificamos<br />
uma série de casas planejadas e outrora idênticas. [...] Há uma<br />
composição paciente e constante da casa no sentido de arrancá-la à<br />
‘racionalização’ e ao código imposto. Em abril e maio algumas ruas mudam<br />
de cor: o milho e as abóboras estendem sua folhagem amarelada nos<br />
mínimos espaços possíveis. Se o bairro pudesse, ele seria semi-rural,<br />
pois ainda vive tão atraído pelo rural que resiste muito ao cimento, ao<br />
cimentado no quintal que cobre a terra, que amordaça a planta, que<br />
queima a sola dos pés, preferindo o terreiro bem batido, onde um dia<br />
poderá nascer uma roseira, um pé de laranja, um capim (p. 160).<br />
89<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
90 A toda hora, na sociedade contemporânea, pessoas são obrigadas<br />
pelas circunstâncias econômicas a se deslocarem de seus lugares de origem<br />
em busca de trabalho. Este processo traz em si o desenraizamento cultural que<br />
é traduzido pelas perdas que os migrantes têm de seus espaços, objetos,<br />
convívios, fazendo com que suas raízes fiquem partidas, quebradas. A memória,<br />
através das palavras e ações possibilita uma nova vida a partir desses<br />
fragmentos, sendo de fundamental importância para a história social às<br />
experiências transmitidas e tecidas por esses indivíduos e sua coletividade que<br />
teima em ser aquilo que em essência são e desejam ter sua identidade<br />
reconhecida num processo permanente de construção e reconstrução, onde a<br />
tradição não se deixa cristalizar e se reinventa cotidianamente.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
A leitura do referido livro se faz importante para o estudante da<br />
área de ciências sociais que deseja valorizar a memória de indivíduos e<br />
coletividades, lançando mão em suas pesquisas da fonte oral através da coleta<br />
de depoimentos. A obra irá contribuir na construção/ elaboração de<br />
questionamentos pertinentes, frente a respostas a perguntas bem como ao<br />
silêncio do narrador frente às mesmas. De forma conexa, coerente com aquilo<br />
que foi apresentado, também é abordada no livro a necessidade premente de<br />
uma postura efetivamente ética do entrevistador/pesquisador frente ao<br />
entrevistado/entrevistada. Salienta-se aqui que a leitura do livro O tempo vivo<br />
da memória: ensaios de psicologia social, ganha relevância para os estudiosos<br />
da história social quando, com um estilo de escrita simples e sedutor, trata de<br />
forma séria da importância da memória sem contudo divinizá-la.<br />
Referências<br />
Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes<br />
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São<br />
Paulo, Ateliê Editorial, 2003.<br />
MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. A história, cativa da memória? Para um<br />
mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In.: Revista Inst.<br />
Est. Bras., SP, 1992.<br />
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In.:<br />
Revista do programa de estudos pós-graduados em história e do departamento<br />
de história – Projeto história nº 10, PUC/SP, 1993.<br />
THOMPSON, E. P., Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular<br />
tradicional. São Paulo, Companhia das Letras, 2005.
GEMAGEM: POESIA DE ALTO QUILATE<br />
Waldo Motta*<br />
TAVARES, Marcos. Gemagem: poemas. Vitória, ES: Flor & Cultura, 2006.<br />
Com um atraso de uns 20 anos, o escritor Marcos Tavares, 49<br />
anos, nascido numa antiga casa de pedra, na Vila Rubim, em Vitória, e hoje<br />
radicado em Guaçuí, por insistência de amigos ora traz à lume a edição de seus<br />
antológicos poemas, no livro Gemagem, publicado através da Lei Rubem Braga.<br />
Enquanto contista, em 1987 publicara o livro “No Escuro, Armados”, que veio<br />
a conquistar a admiração de críticos de renome e de exigentes leitores. “Entre<br />
os muitos que escrevem por aqui (...), salvam-se tão poucos, com domínio de<br />
técnicas de linguagem, com algum conhecimento da língua, com realmente<br />
algo a dizer. Marcos Tavares é um deles.”, escreveu a jornalista Sandra Aguiar<br />
sobre “No Escuro, Armados”, em A GAZETA, Caderno Dois, 23-07-1987.<br />
Por analogias fonéticas e semânticas, a palavra gemagem nos<br />
lembra: gemação, gema, gen, genética, gênio, engenharia. E tudo isso está<br />
presente nos poemas deste livro. Chama-se gemagem o processo pelo qual se<br />
retira dos vegetais a resina, ou o látex. E gemação é o processo de formação<br />
de gemas nos três reinos da natureza: animal (ovo), mineral (pedras) e vegetal<br />
(brotos). Com este título o autor alude à produção de suas jóias poéticas, do<br />
ovo de ouro, da pedra filosofal, em suas retortas operações verbais, alquímicas,<br />
matemáticas. Marcos burila palavras, fá-las gemas gemidas, germinadas nas<br />
minas da alma, qual pedras viventes, jóias da língua. O título do livro vincula-se<br />
ao poema “Gema Gemido” (dedicado a Oscar Gama, outro poeta, cujo<br />
sobrenome serviu de mote a essa jogada criativa).<br />
Como bem o demonstram os avançados estudos científicos, a<br />
Natureza obedece a um plano matemático na construção de formas nos reinos<br />
Waldo Motta é poeta, autor de “Eis o Homem”, “Poiezen”, “Bundo e outros poemas” e<br />
“Recanto”.
92 mineral, vegetal e animal, que revela uma ordem cósmica: padrões de simetria<br />
e harmonia assombrosos, tanto em níveis macro quanto micro. Demiurgo, o<br />
poeta cria seres de linguagem em que aparecem esses sinais da arquitetura<br />
divina.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Diálogo<br />
Escritos entre 1976 e 1984, uns já publicados nas revistas capixabas<br />
Letra e Ímã, outros premiados em concursos literários daqui, e alguns inéditos,<br />
os poemas de Gemagem revelam um poeta consciente e atento às ideologias<br />
políticas e estéticas. Daí que a maioria dos poemas é construída segundo os<br />
padrões formais da poesia concreta, do poema processo, do poema práxis, da<br />
arte engajada, da literatura popular e erudita. Ou seja: ciente de que está numa<br />
aldeia global, Marcos dialoga com várias correntes da poesia brasileira.<br />
Nessa linha da relação dialética com outras vozes estão os poemas<br />
intertextuais, em que o poeta dialoga com os seus pares, através de paródias,<br />
da apropriação, da mímese estilística à Drumonnd e à Cabral, de concretistas,<br />
de praxistas, de autores anônimos da literatura popular, do folclore (formas<br />
simples), exibindo seus dotes camaleônicos. O poeta é um fingidor? Melhor, o<br />
poeta é um ator que se desdobra em “trezentos e cinqüenta” eus e outros em<br />
constantes assembléias e diálogos. Por isso, dos 50 poemas de Gemagem, 17<br />
são intertextuais e metalingüísticos.<br />
Nos poemas metalingüísticos o poeta nos apresenta a sua poética,<br />
e diz o que pensa de sua arte, seus instrumentos e limitações. Confiram-se:<br />
“Da isenção do instante” (p. 25), “Do linguajar das pedras” (p. 48),<br />
“Poetílico”(p.50), “Canto outra vez adiado” (p. 53-55), “Mundo versus palavras”<br />
(p. 82), “Saudação à ave que passará” (p. 86), “Do desencanto do poemador”<br />
(p. 87) – este, sintomaticamente, o último poema.<br />
Ciência e arte<br />
Waldo Motta<br />
Embora o pai o quisesse engenheiro, e sendo esportista e exestudante<br />
de Matemática e de Economia, na Ufes, o poeta incorporou em seus<br />
poemas a disciplina, as harmonias, a construção verbal, a condensação, o<br />
exercício formal, a reflexão social. Observem-se, por exemplo, as simetrias e<br />
os detalhes formais presentes no título Gemagem e no poema “Gema gemido”<br />
(tanto na forma do poema, quanto no verso “a bala abala a rara arara” – onde<br />
se pode notar desde o impacto do projétil, representado pelo som da letra b, até<br />
a própria bala, representada pela letra a atravessando o verso de um lado ao<br />
outro). Seria fantasioso demais observar que o título Gemagem é a combinação<br />
de 4 letras (o tetragrama G-E-M-A), que lembram as bases químicas (o<br />
tetragrama A-C-G-T ), e que “Gema gemido”, poema nuclear do livro, com 46
versos, é dividido em duas estâncias de 23 versos – lembrando os cromossomos?<br />
Em tempos de decifração de um possível Código DaVinci, tudo é possível.<br />
Nesse poema, que alude ao título, o assunto é a morte de uma ave<br />
(“rara arara”), que é clara metáfora do poeta. É interessante observar como o<br />
“poemador” (MT prefere assim) vincula essas imagens e se identifica com as<br />
aves, almas penosas neste mundo ímpio, avoado, nos poemas “Visita do anjo”<br />
(p. 60-61 ), “Saudação à ave que passará” (p. 86), “Gema gemido” (p. 21-22),<br />
“Da metafísica do ovo e da galinha” (p. 23-24 ), todos metaforizando a figura<br />
e a situação do poeta, “potencial marginalizado numa sociedade materialista e<br />
consumista”, conforme diz MT no Prefácio. Isso nos remete à velha discussão<br />
sobre a função ou utilidade da poesia, o desprezo burguês aos poetas, e também<br />
a linguagem dos pássaros, ou anjos, ou deuses. Que, no final da conta, é a<br />
poesia.<br />
Contexto<br />
No seu prefácio intitulado “Ruminações ao redor do ovo”, Tavares<br />
nos informa sobre o contexto de sua escritura, e cita um caso de patrulhamento<br />
ideológico que sofreu. Também revela seu relacionamento com quase todos os<br />
nomes expressivos da literatura daqueles anos: sobretudo Oscar Gama e Miguel<br />
Marvilla (do grupo Letra), Fernando Tatagiba, o autor deste artigo, Gilson Soares,<br />
Deny Gomes e os adeptos de oficina literária, Paulo Sodré, Francisco Grijó,<br />
Adilson Villaça, Alvarito Mendes, Benilson Pereira etc.<br />
Por força de sua consciência ética, de sua luta pela dignidade<br />
humana, MT aborda temas de interesse social, alguns recorrentes, tais como:<br />
violência, guerra, militarismo, arbítrio, destruição, morte, ecologia; negritude;<br />
religião; trabalho; vício; amor erótico e fraterno, incluindo poemas homoeróticos.<br />
Num momento em que muitos poetas bandearam para o verso<br />
fácil, quase fala em estado bruto (referimo-nos à poesia marginal) e outros<br />
refugiaram-se no formalismo estéril, ele aprofundou-se na pesquisa de forma e<br />
de conteúdo, sem abrir mão da inteligibilidade. Tornou-se, sem alarde, não<br />
apenas um poeta do seu tempo, mas também contra o seu tempo.<br />
Conclusão<br />
Gemagem: poesia de alto quilate<br />
A recorrência de temas, motivos, abordagens, imagens, técnicas<br />
e recursos dá uma coerência e equilíbrio ao conjunto dos poemas, revelando<br />
um plano de construção, uma intencionalidade, um pensamento pautado numa<br />
ética e num projeto de vida em que sobressaem justiça e dignidade.<br />
Marcos Tavares dá uma bela lição de competência e talento, de<br />
largueza de espírito, de consciência da aliança entre arte e vida, entre ética e<br />
93<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
94 estética. Por isso, recomendo a leitura não só dos poemas, mas também do dito<br />
prefácio e dos aspectos biográficos do autor em foco.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Waldo Motta<br />
GEMA GEMIDO<br />
a Oscar Gama, poeta<br />
dia a dia, adiado o tardio parto, perto.<br />
festa a floresta porque flore a manhã.<br />
alvorada, a ave vê alvo o céu e alto<br />
voa à luz do sol. seu par de asas sobrevoa<br />
a verde mata – matutino vôo,<br />
sem meta. no ar, vão batendo vão<br />
batendo vão, as asas – feixe de penas.<br />
à hora nona, ora evola céu afora<br />
ora parte da altura em raso vôo<br />
em volta ao ninho, meteórica partida<br />
a seu nicho ecológico – auriverde área.<br />
breve pausa, ao meio-dia, pousa brava.<br />
via oral, via aérea, ousa sua selvagem<br />
melodia – maviosa voz ao véu alvianil.<br />
e logo após impõe às asas o movimento.<br />
céu, vôo – seu ovo. clara metáfora.<br />
seu vôo, arauto de uma nova eva, aérea.<br />
finda o voar ao fim da parda tarde.<br />
pôr-do-sol, a dor do pôr-o-ovo:<br />
adorado ardor de ave ávida à vida.<br />
após posto o ovo, o vôo suave.<br />
de árvore em árvore, o ar de amar,<br />
mãe solteira na tarde, solitária.<br />
mas desalmado a dor da bela ave caça.<br />
bélica, sua mão destra mune a arma<br />
a ar comprimido e opressora bala.<br />
enquanto olho nu por fresta a vê.<br />
de par a par, pára e mira. depara-a<br />
em vôo. agora pouso. pára e mira.<br />
a ave alça vôo fora da alça de mira.<br />
respira o ar em volta. volta e meia,<br />
cessa o respirar. aponta. a ponte,<br />
entre alvo e mão, dura o tiro. demora.<br />
tempo do rito embora breve gera ira.<br />
duro dedo indicador, à vera, aguarda.<br />
quarto de hora, envolto em ar, respira.<br />
aorta em rota, fiel ator, o cão espreita.<br />
rota da ave quieta a mão. enfim o tiro.<br />
reto trajeto de projétil rasga o vôo.<br />
a bala abala a rara arara.<br />
ex-alada, exala findo suspiro.<br />
força da bala o grave repouso forja.<br />
as asas apenas ar: onde há penas.<br />
o corpo: o orpo o rpo o po o o.<br />
agora só o ovo: gema e clara.<br />
gemido imposto por própria arara.<br />
(Outubro, 1979)
Perto ao porto, não<br />
sei se parto, ou não:<br />
beiro o caos.<br />
Perto ao porto, não<br />
sei se rapto, ou não,<br />
parte da ilha.<br />
Partilho a antes-dor<br />
do ex-ilhado:<br />
meu ser é cacos.<br />
Em si, não me importo<br />
se parto ou não :<br />
a nau é o acaso.<br />
Se parto, levo a bordo<br />
parte da ilha<br />
qual clandestina.<br />
Se me abordarem em<br />
alto mar o contrabando,<br />
grito mais alto<br />
que as ondas.<br />
E, rápido, o embrulho<br />
desfaço, e o passaporte,<br />
e, oco, mergulho<br />
na morte.<br />
Gemagem: poesia de alto quilate<br />
PARTILHA<br />
(1980)<br />
95<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
96 DAS PULSAÇÕES<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
O coração pulsa<br />
em tic-tac maluco<br />
qual relógio de pulso<br />
que, diário, pulsasse<br />
à parede do tórax<br />
pelo lado ocluso.<br />
Waldo Motta<br />
À parede, sim (sem ser cuco<br />
que, horário, avisasse<br />
o passar da hora,<br />
que voasse num impulso<br />
de voar, sem verdugo<br />
tal o relógio – à chave<br />
preso e preso às cordas<br />
de seu mecanismo de não-ave).<br />
Que o cuco não-relógio<br />
só se ata às suas asas,<br />
às chaves do bico, às cordas<br />
vocais, e não canta nos móveis<br />
nem nas paredes das casas<br />
na hora em que acorda .<br />
Mas o coração pulsa.<br />
Seu tic-tac ilógico<br />
mede o tempo de uso,<br />
de vida – não o necrológico,<br />
da inércia dos músculos,<br />
e do conjunto ósseo.<br />
Mas o coração pulsa.<br />
Seu tic-tac, o arranque,<br />
ouve-se no peito, sob a blusa,<br />
onde, em artérias de sangue,<br />
mede a oferta e a recusa<br />
de outro coração que bate<br />
no mesmo compasso,<br />
em pulsações convulsas.<br />
(16-08-1977)
DE PARÓDIA, PARÁFRASE, ESTILIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO<br />
E INTERTEXTUALIDADE<br />
Wilbett Oliveira*<br />
SANT’ANNA, Afonso Romano de. Paródia, paráfrase e cia. 6. ed. São<br />
Paulo: Ática, 1988. (Série princípios, v. 1)<br />
Credenciais do autor<br />
Affonso Romano de Sant’Anna é doutor em Literatura Brasileira<br />
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Poeta de constante preocupação<br />
social e existencial participou dos principais movimentos de renovação da poesia<br />
brasileira nas décadas de 50 e 60 e é autor de uma obra em constante processo<br />
de auto-questionamento como linguagem e como revelação de realidade. Nesta<br />
área, publicou Canto e palavra (1965), Poesia sobre poesia (1975), A grande<br />
fala do índio guarani perdido na história e outras derrotas (1980). Professor<br />
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é autor de estudos críticos<br />
como Drummond, Análise da obra (1972) (nova edição de sua tese, antes<br />
publicada com o título Drummond, o gauche no tempo), Análise estrutural<br />
de romances brasileiros (1973), Por um novo conceito de Literatura<br />
Brasileira (1977) e Música popular e moderna poesia brasileira (1978).<br />
Como professor e escritor convidado, já esteve em muitos centros estrangeiros,<br />
entre eles universidades da Califórnia. Iowa, Texas, Colônia (Alemanha) e<br />
Aix-en-Provence. Tem inúmeros artigos publicados em revistas e jornais.<br />
Resumo da obra<br />
Em Paródia, paráfrase e cia, o objetivo do autor é ampliar o<br />
estudo da paródia e da paráfrase ao lado da estilização e da apropriação, o que<br />
permitirá ao leitor um esclarecimento do que é “literário” e um entendimento<br />
* Wilbett Oliveira é especialista em Literatura Brasileira (UNIVERSO), mestrando em<br />
Estudos Literários (UFES).
98 da formação ideológica por meio da linguagem. Apresenta modos de articulação<br />
dos termos por meio da análise de poemas de Manuel Bandeira, Oswald de<br />
Andrade, Jorge de Lima, Drummond etc.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Wilbett Oliveira<br />
O autor estabelece uma consonância entre paródia e Modernidade,<br />
apontando-a como efeito sintomático e freqüente desta. O re-aparecimento da<br />
paródia na modernidade se dá devido à especialização da arte: a paródia tornouse<br />
um efeito metalingüístico, intra e intertextualmente.<br />
Sant’Anna amplia os estudos realizados por Bakhtin e Tynianov<br />
sobre os conceitos de paródia, paráfrase, estilização e apropriação estendendoos<br />
aos estudos da semiologia em geral (Arte, dança, música).<br />
A partir dos aspectos históricos da paródia (de Aristóteles a<br />
Bakhtin), o autor aponta os seus significados e tipos básicos: a) verbal (alteração<br />
de um termo), b) formal (ironia por meio do estilo e dos efeitos técnicos), e;<br />
c)temática (caricatura da forma e do espírito do autor). Autores<br />
contemporâneos definiam paródia por contigüidade (sinônimo) de pastiche.<br />
Sant’Anna, no entanto, estabelece um paralelo entre paródia e estilização a<br />
partir das definições de Tynianov, que afirma haver na paródia um ponto de<br />
discordância e na estilização, ponto de consonância. Para Bakhtin, na paródia<br />
como na estilização, o autor emprega a fala de um outro, mas em oposição.<br />
A estilização se aproxima da paródia: na paródia os planos se<br />
deslocam (tragéda/comédia), na estilização, os planos se convergem. Tanto na<br />
estilização quanto na paródia o autor insere a fala de um outro. Na paródia, há<br />
uma intenção oposta à fala original.<br />
Quanto à definição, paráfrase “é a reafirmação em palavras<br />
diferentes, do mesmo sentido de uma obra escrita. [..] Em geral ela se aproxima<br />
do original em extensão” (p. 65).<br />
A partir desse conceito, paráfrase é vista como tradução ou<br />
transcrição. Na música, equivale-se ao arranjo e ao intérprete. Como tradução,<br />
John Dryden difere paráfrase de metáfrase, que não é totalmente literal.<br />
Para os lingüistas, todas as paráfrases possíveis de um enunciado<br />
podem ser previstas porque “à descrição de uma língua comporta como parte<br />
integrante a construção de um procedimento mecânico” (p. 20).<br />
Na Psicanálise, é Freud quem se utiliza da paráfrase, a partir do<br />
resumo do romance Gadiva, de Jeisen.<br />
Segundo Sara Koffman, são tênues os limites entre interpretar e<br />
resumir. O resumo já seria uma paráfrase pura e a tradução já seria uma<br />
interpretação.<br />
O autor retoma os termos apresentados exemplificando as<br />
relações parafrásticas e parodísticas entre os textos de Gonçalves Dias,
De paródia, paráfrase, estilização e aprorpiação: e intertextualidade<br />
Drummond, Cassiano Ricardo e Oswald de Andrade. Ao final, afirma que<br />
estas articulações somente serão percebidas por um leitor bem informado,<br />
com um repertório cultural e literário amplo.<br />
Sintagmaticamente, a paródia é tida como um novo discurso, como<br />
uma linguagem inauguradora, enquanto a paráfrase é ocultadora de um velho<br />
paradigma, pois repousa na camada da semelhança (condensação, substituição<br />
superficial). A paráfrase é continuidade, retomada; a paródia é descontinuidade,<br />
ruptura, deslocamento, enquanto a estilização é inserção.<br />
Ideologicamente, a paródia “foge ao jogo de espelhos denunciando<br />
o próprio jogo e deslocando as coisas de seu lugar. A paráfrase é um discurso<br />
sem voz. É a repetição da voz do outro. É angelical, enquanto a paródia é<br />
demoníaca, misticamente falando”.<br />
A relação entre a paródia e representação se dá pela<br />
complementaridade nas peças dramáticas, visto que sua origem é musical.<br />
Tem uma função catártica (interlúdio/cômico com a peça principal).<br />
Na verdade, a paródia vai além da representação. O texto<br />
parodístico faz uma re-apresentação do que estava subjugado; uma desleitura<br />
do texto, instauração de um novo discurso, tomada de consciência crítica.<br />
Psicanaliticamente, o estágio do espelho corresponde à paráfrase,<br />
marcada pela indeterminação do autor do discurso. Na paródia, não há um<br />
jogo de espelhos, pois ela associa-se à lente pelo exagero com que re-apresenta<br />
o elemento focado.<br />
Sant’Anna ao reformular os conceitos de Tynianov e de Bakhtin<br />
acrescenta algumas nuanças intermediárias por meio de um modelo triádico<br />
para se entender melhor paródia x estilização. Neste modelo, o elemento<br />
estilização não é mais opositivo a um texto original, mas uma técnica geral que<br />
tem como efeitos a paródia e a paráfrase.<br />
O autor apresenta outro tipo de raciocínio diferente da proposta<br />
de Tynianov e Bakhtin: o desvio. Para Sant’Anna, “a paráfrase surge como<br />
desvio mínimo, a estilização como desvio tolerável e a paródia como desvio<br />
total” (p. 38), considerando as relações intra e intertextuais. Na literatura e na<br />
música, a estilização pode ser medida como desvio tolerável e a paráfrase<br />
como desvio mínimo. Num segundo modelo, a paródia é vista como deformação,<br />
a paráfrase como conformação e a estilização como reforma. Assim, a paráfrase<br />
e a estilização fazem parte de um mesmo conjunto em oposição à paródia.<br />
Esta oposição, no entanto não é tão intensa quando se admite que a estilização<br />
possa ser um liame entre a paráfrase e a paródia.<br />
Apropriação é uma técnica artística que utiliza o deslocamento<br />
para re-apresentar os objetos do cotidiano em sua estranhidade (recurso usado<br />
pelo ready-made, pop art e happening).<br />
99<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
100 A apropriação se opõe à paródia e diverge da estilização. É uma<br />
espécie de paródia que chega ao paroxismo. O artista apropriador não releva a<br />
propriedade dos textos e objetos.<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006<br />
Wilbett Oliveira<br />
O terceiro modelo de análise apresentado pelo autor pressupõe o<br />
encadeamento de quatro elementos: paráfrase e estilização (no plano das<br />
similaridades), paródia e apropriação (no plano das diferenças). A gradação<br />
entre os dois conjuntos se dá da seguinte forma: a) o grau mínimo de alteração<br />
do texto é a paráfrase; o desvio tolerável é a estilização, o que confirma o eixo<br />
das similaridades; e b) a inversão do significado é a paródia, exemplo máximo<br />
na apropriação.<br />
A paráfrase e a apropriação têm pontos de convergências<br />
diferenciados. Aquela é uma quase não-autoria. A apropriação se configura<br />
um conjunto das diferenças por ser variante da paródia (não reproduz, produz<br />
algo novo).<br />
O eixo parafrásico relaciona-se à ideologia totalitarista, momento<br />
em que a arte passou a ser sinônimo de reprodução. O espírito criador passa a<br />
súdito. Na mesma ordem, associa paródia à decadência de acordo aos estudos<br />
de Bosi. Assim, a obra de arte é vista como “ruínas”, desocultamento,<br />
desvelamento das coisas, de sua realidade aparente.<br />
Manuel Bandeira, diferentemente de Jorge de Lima, cultiva as<br />
formas clássicas dentro de um espírito de “imitação” de forma aleatória, nãolinear<br />
(O poema ...E. E. Cummings, serve de exemplo). Sant’Anna afirma ser<br />
difícil separar estilização de paródia, pois onde se veria ou se pode ver sátira,<br />
da mesma forma que não se pode negar no texto a existência da paráfrase.<br />
Então, os limites da estilização, paráfrase e paródia estariam diluídos. Para<br />
Sant’Anna, “Em Bandeira, é possível encontrar uma série de comportamentos<br />
peculiares quanto à intertextualidade” (p. 62). Antologia, por exemplo, é um<br />
poema em que se verifica a autotextualidade: síntese da poética do próprio<br />
poeta, em que se observa o cruzamento de vários poemas do próprio Bandeira.<br />
A identificação da paródia, paráfrase, estilização e apropriação<br />
pressupõe a noção de semelhança e diferença entre os textos. Não se pode<br />
conceber a literariedade de um texto sem considerar seu aspecto ideológico e<br />
estético, tendo em vista a noção de valores de determinada escola ou<br />
manifestação cultural, pois “as linguagens são formuladas em espaços diversos<br />
dentro do cotidiano” (p. 66) e a literatura tem o poder de ser apropriar dessas<br />
linguagens. Assim, é que se percebe em Poema tirado de uma notícia de<br />
jornal a presença do cotidiano (linguagem comum jornalística) bem como, a<br />
transposição de aspectos literários para o jornal. A literatura, dessa forma, se<br />
apropria e se permite ser apropriada.<br />
Para Sant‘Anna, a automatização e a desautomatização da cultura
se relacionam com a paródia e com a paráfrase por meio do reconhecimento e<br />
refutação da linguagem. A automatização caracteriza-se pela desconcentração<br />
ou desvelamento e é o meio por que se pode ensinar e aprender uma língua. O<br />
seu uso como recurso de aprendizado da literatura requer o conhecimento das<br />
técnicas do escritor (texto original). A desautomatização é uma ruptura do<br />
cotidiano que se apresenta outro código social, outra lógica. Pode ser observada<br />
tanto na literatura quanto na pintura, no cinema, na moda (carnavalização).<br />
O capítulo conclusivo retoma o escopo inicial: inserir ao binômio<br />
paródia e paráfrase outras nuanças e/ou desdobramentos que seriam sua<br />
relação com a apropriação e a estilização a serem observados na intra e<br />
intertextualização que se dá por intertextualidade da semelhança e<br />
intertextualidade da diferenciação.<br />
O autor enfatiza que o efeito modernista da paródia xxxx mas<br />
antigo como distorção xxx sobre o presente. Ressalta também a coexistência<br />
dos quatro elementos no discurso e sugere a exaltação de um e de outros<br />
elementos como fatores excludentes e, em seguida, aponta exemplos clássicos<br />
de como os elementos são operados em versos de Horácio, Camões, Petrarca<br />
etc.<br />
Além disso, destaca o papel do crítico ante às noções de identidade<br />
e semelhança de obras e discute alguns modelos de análise literária por<br />
periodização e por semelhanças e diferenças (relações parodísticas,<br />
parafrásicas e estilizações). Para ele, até o século XVIII a literatura brasileira<br />
viveria um período de imitação, no século XIX, uma fase de estilização e<br />
atualmente um período parodístico.<br />
Ao final do livro, o autor apresenta um valioso vocabulário crítico<br />
(tópico 15) e bibliografia comentada (16).<br />
Indicações do resenhista<br />
O texto, por estender a análise da paródia, paráfrase, estilização e<br />
apropiação aos diversos campos da arte – música, dança, cinema, moda – é<br />
indicado aos estudiosos da Arte em geral, pois permite estabelecer relações de<br />
semelhança e diferença desses campos em sua história e evolução.<br />
Conclusão<br />
De paródia, paráfrase, estilização e aprorpiação: e intertextualidade<br />
Por possuir um cunho didático (uso extensivo de exemplos e<br />
retomada dos percursos realizados), o autor permite o entendimento dos<br />
conceitos de paródia, paráfrase, estilização e apropriação e sua inter-relação.<br />
A obra constitui elemento fundamental a quem se introduz nos estudos da Arte,<br />
principalmente da Literatura.<br />
101<br />
Revista Mosaicum - Ano II, n. 3 - Jan./Jul. 2006
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO<br />
1 REVISTA MOSAICUM é uma publicação semestral do NUPPE/FASB/<br />
ISESB, de trabalhos originais classificados em uma das seguintes modalidades:<br />
a)resultados de pesquisas sob a forma de artigos; b) ensaios; c) resumos de<br />
teses, dissertações ou monografias, e d) resenhas críticas, dissertativas e<br />
literárias.<br />
2 Os trabalhos devem ser encaminhados para a Coordenação do Núcleo de<br />
Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE/FASB/ISESB: Rua Graciliano<br />
Viana, 79, Bela Vista – 45995-000, Teixeira de Freitas, BA, em três vias, digitados<br />
em folha com tamanho A4 210 x 297mm, em espaço duplo, fonte Times New<br />
Roman, tamanho 12, margem 3 superior e esquerda e 2 inferior e direita,<br />
parágrafo justificado e sem recuo da margem esquerda (primeira linha). O<br />
número máximo de páginas será: 15 para artigos científicos e resenhas críticas,<br />
20 para revisão bibliográfica e 8 para ensaios, resenhas literárias e/ou<br />
dissertativas, incluindo tabelas, gráficos e ilustrações. Enviar a forma digitalizada<br />
somente quando solicitada.<br />
3 Na primeira página devem constar: título do artigo; nome(s) do(s) autor(es),<br />
endereço, telefone, e-mail para contato; instituição a que pertence(m) e cargo<br />
que ocupa(m).<br />
4 Resumo (português) e Abstract (língua estrangeira): com no mínimo 100<br />
palavras e no máximo 250, cada um, de acordo com a NBR 6028. Logo em<br />
seguida, as Palavras-chave (português) e Keywords (língua estrangeira), cujo<br />
número desejado é de no mínimo três e no máximo cinco.<br />
5 As figuras, gráficos, tabelas ou fotografias, quando apresentados em folhas<br />
separadas, devem ter indicação dos locais onde devem ser incluídos, ser titulados<br />
e apresentar referências de sua autoria/fonte. Para tanto devem seguir a Norma<br />
de apresentação tabular, estabelecida pelo Conselho Nacional de Estatística e<br />
publicada pelo IBGE em 1979.<br />
6 As notas numeradas devem vir no rodapé da mesma página em que aparecem,<br />
assim como os agradecimentos, apêndices e informes complementares.
7 0 sistema de chamada adotado por este periódico é o de autor-data. O uso<br />
de citações deverá obedecer à NBR 10520:2002<br />
8 As referências deverão ser efetuadas conforme ABNT (NBR 6023:2000).<br />
9 As colaborações encaminhadas à revista são submetidas à análise do Conselho<br />
Editorial, atendendo critérios de seleção de conteúdo e normas formais de<br />
editoração, sem identificação da autoria, para preservar isenção e neutralidade<br />
de avaliação. A aceitação da matéria para publicação implica na transferência<br />
de direitos autorais para a revista. Os trabalhos não aprovados não serão<br />
devolvidos.<br />
Conselho Editorial