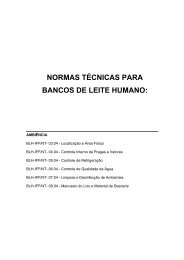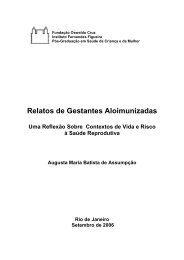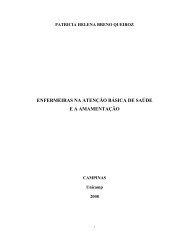Instituto Fernandes Figueira - Biblioteca Virtual em Saúde - Fiocruz
Instituto Fernandes Figueira - Biblioteca Virtual em Saúde - Fiocruz
Instituto Fernandes Figueira - Biblioteca Virtual em Saúde - Fiocruz
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ministério da Saúde<br />
FIOCRUZ<br />
Fundação Oswaldo Cruz<br />
<strong>Instituto</strong> <strong>Fernandes</strong> <strong>Figueira</strong><br />
Miriam Schenker<br />
VALORES FAMILIARES E USO ABUSIVO DE DROGRAS<br />
Rio de Janeiro<br />
2005
VALORES FAMILIARES E USO ABUSIVO DE DROGRAS<br />
Miriam Schenker<br />
Tese apresentada ao Programa de Pós-<br />
Graduação <strong>em</strong> Saúde da Criança e da<br />
Mulher do <strong>Instituto</strong> <strong>Fernandes</strong> <strong>Figueira</strong> da<br />
Fundação Oswaldo Cruz para obtenção do<br />
título de Doutor <strong>em</strong> Ciências.<br />
Prof a<br />
Orientadora:<br />
Dr a Maria Cecília de Souza Minayo<br />
Rio de Janeiro<br />
2005
À m<strong>em</strong>ória de meu pai, hom<strong>em</strong> justo e correto, um Mensch, que me ensinou valores<br />
humanistas com afeto e autoridade.<br />
À m<strong>em</strong>ória de minha mãe, mulher de fibra, de onde retiro ex<strong>em</strong>plos de vida auxiliada<br />
pelo derramamento de seu afeto.<br />
A minha irmã Gisela, pela relação de intimidade e respeito que desenvolv<strong>em</strong>os na<br />
maturidade, apesar e por causa de nossas diferenças.<br />
Aos meus filhos, pelo simples fato de existir<strong>em</strong>.<br />
A Mateus, pela vivacidade, humor, curiosidade e cuidado, atributos <strong>em</strong> construção<br />
ao longo de sua bela vida.<br />
A Gabriel, pela garra, bom senso, afeto e zelo, com um misto de saudades e<br />
felicidade.
AGRADECIMENTOS<br />
A construção de minha tese de doutorado foi possível graças à participação efetiva<br />
de algumas pessoas. Com elas, inicio os meus agradecimentos. Lá nos primórdios<br />
de minhas reflexões, Cecília me sugeriu procurar um profissional que me auxiliasse<br />
com o t<strong>em</strong>a família. Isto porque eu queria ampliar meus horizontes para além da<br />
psicologia e adentrar o campo da antropologia e da sociologia. As indicações<br />
convergiram para o nome de Myriam Lins de Barros, a qu<strong>em</strong> devo conversas e<br />
sugestões de leituras importantes para a elaboração do meu estudo. Outra presença<br />
fundamental foi a de Suely Deslandes que me introduziu nos meandros da<br />
sociologia e me auxiliou com seus comentários argutos na época da qualificação do<br />
projeto.<br />
Os professores que escolhi para a composição dessa Banca, com anuência de<br />
minha orientadora, são dignos de meu reconhecimento. Fátima Gonçalves<br />
Cavalcante me auxiliou através da leitura de seu livro de histórias-de-vida sensíveis<br />
que me estimularam na forma de compor as histórias que aqui descrevo. Evelyn<br />
Eisenstein, médica de adolescentes com vasta experiência, pessoa sensível às<br />
questões deles e também de suas famílias. Marcelo Santos Cruz, colega de trabalho<br />
de longa data, atento à complexidade que envolve os adictos e suas famílias.<br />
Francisco Inácio Pinkusfeld Bastos fez parte da qualificação do meu projeto e antes<br />
mesmo daquela data, já me atendia nas dificuldades que eu enfrentava na tradução<br />
de expressões <strong>em</strong> inglês de artigos que lia para a construção de outros. Sua<br />
contribuição central na qualificação do projeto resultou na construção da parte<br />
teórica da metodologia de minha tese.
Por último quero afirmar que meu esforço ao longo do doutorado resultou na<br />
construção de três artigos e na elaboração dessa tese porque eu caí nas graças de<br />
Maria Cecília Minayo, minha orientadora, mulher inteligente, sensível, firme e que<br />
“coloca a mão na massa”, constrói junto com, que me auxiliou a refletir, flexibilizar,<br />
modificar rumos, com paciência, vontade e dedicação.<br />
Agradeço ao Nepad/Uerj, na figura de sua diretora Maria Thereza Aquino, por ter me<br />
permitido fazer o doutorado que, tenho certeza, muito irá contribuir para a prevenção<br />
e o tratamento das famílias com adictos. À Zélia Freire Caldeira, por ter<br />
compartilhado minha ansiedade com a construção das primeiras idéias do projeto e<br />
me auxiliado a pensar e operacionalizar, nos primórdios, a metodologia de<br />
investigação. Agradeço também à equipe de família do Nepad/Uerj, encabeçada por<br />
Ana Angélica Santos Carvalho e Virginia Barbosa, pelo seu genuíno interesse e<br />
também à Lígia Bittencourt, pela recomendação de uma das famílias desse estudo.<br />
Agradeço a toda a equipe do Centra-Rio, na figura de sua diretora Anna Simões, por<br />
ter “garimpado” com interesse e sensibilidade a maioria das famílias que compõ<strong>em</strong><br />
essa investigação.<br />
E às famílias do estudo que me abriram as portas de suas casas e de suas vidas<br />
para uma conversa permeada por uma intimidade sofrida, o meu agradecimento do<br />
coração.
Quero referir a paciência que vêm d<strong>em</strong>onstrando os meus clientes do consultório<br />
com os horários “espartanos” e as férias coletivas “compulsórias” que precisei lhes<br />
dar para a elaboração da tese.<br />
Agradeço a minha amiga Rosana Lanzelotte pelas reflexões quanto à forma de<br />
escrita de artigos e do projeto. E também a Nair Abreu, pelas horas que passamos<br />
juntas computando os dados de “minhas famílias” e por seus comentários<br />
pertinentes ao t<strong>em</strong>a. Agradeço à amiga Regina Jardim pela paciência e dedicação<br />
na consulta e <strong>em</strong>préstimo de livros na biblioteca da PUC. Por último, mas não <strong>em</strong><br />
importância, Bacy Bilyk, minha querida prima, que prontamente atendeu minhas<br />
solicitações de livros e sites sobre o assunto, o meu muito obrigada.<br />
Quero agradecer a minha família por ter suportado quatro anos de muitas ausências<br />
<strong>em</strong> sua vida. Ao Jorge Moraes, meu companheiro, meu “consultor para idéias<br />
inteligentes”, reconheço a paciência e a ajuda <strong>em</strong> momentos de angústia que foram<br />
desde a falta de t<strong>em</strong>po, real ou fantasiosa, passando pelos trajetos até à casa de<br />
quase todas as famílias do estudo, ao momento presente, um t<strong>em</strong>po de alegria pela<br />
quase conclusão da tese. Agradeço a Mateus, meu filho mais velho, pela<br />
compreensão e pelo bom humor <strong>em</strong> tratar a mãe que mais vivia <strong>em</strong> frente ao<br />
computador do que conversando com ele, atividade que nós dois gostamos muito,<br />
gerindo a casa ou acompanhando a sua trajetória profissional dos últimos t<strong>em</strong>pos; e<br />
a Gabriel, meu caçula, pela leveza no entendimento das “horas roubadas” de<br />
nosso convívio diário que, entretanto, acabamos privados quase que completamente<br />
devido ao seu vôo solo no exterior.
Agradeço também a minha irmã Gisela pelo carinho, dedicação e compreensão com<br />
a sua mana nesses últimos t<strong>em</strong>pos.
RESUMO<br />
Interessei-me por estudar nessa tese se os valores familiares influenciam o<br />
desenvolvimento da drogadição <strong>em</strong> um, ou mais de um, de seus m<strong>em</strong>bros.<br />
Privilegiei diferentes t<strong>em</strong>as, que constituíram minhas hipóteses, nas três categorias<br />
norteadoras do estudo: no âmbito dos valores familiares, os ensinamentos<br />
considerados importantes passar para filhos e netos, b<strong>em</strong> como o significado do<br />
conceito família. Na esfera do conflito entre gerações, pesquisei a forma de<br />
organização da família, os sonhos e os modelos de comportamento. Finalmente, no<br />
domínio do processo educativo, investiguei o estilo de educação, o estabelecimento<br />
de limites e as figuras de autoridade na família.<br />
As famílias pesquisadas pertenc<strong>em</strong> às camadas médias da população urbana e<br />
provêm de duas Instituições especializadas no atendimento à drogadição.<br />
Escolhi <strong>em</strong>preender a pesquisa dos valores familiares seguindo a narrativa das três<br />
gerações de algumas famílias do campo pesquisado e a partir de uma entrevista<br />
s<strong>em</strong>i-estruturada e gravada com o consentimento dos participantes, dentro do marco<br />
referencial sistêmico-cibernético. Utilizei alternadamente três dimensões para a<br />
operacionalização dos t<strong>em</strong>as: opinião, comportamento e expectativa.<br />
Os resultados dessa abordag<strong>em</strong> compreensiva da tecedura das histórias familiares<br />
são amplos e complexos e respond<strong>em</strong> afirmativamente à questão inicial porque:<br />
(a) Há uma inversão na hierarquia familiar que influencia o estilo de educação, a<br />
construção da autonomia e os modelos familiares todos eles fundamentais<br />
para a promoção dos valores familiares;
(b) Vínculos dependentes, de apego, que estimulam a infantilização dos filhos e<br />
netos não configuram condições de possibilidade para a internalização dos<br />
valores familiares no sentido almejado pelas famílias;<br />
(c) Há expectativas conflitantes através das gerações porque avós e pais, ao não<br />
perceber<strong>em</strong> a defasag<strong>em</strong> entre a idade cronológica e a <strong>em</strong>ocional de seus<br />
filhos e netos elaboram projetos distantes da realidade desses últimos;<br />
(d) Os atributos de avós e pais são de tal ord<strong>em</strong> que auxiliam a construção de<br />
modelos s<strong>em</strong> sustentação para os jovens;<br />
(e) Os estilos de criação autoritária e permissiva dos avós e pais não<br />
contribuíram para o desenvolvimento sócio-<strong>em</strong>ocional da maioria dos filhos e<br />
de todos os jovens, influenciando a aquisição dos valores pelos participantes<br />
da geração dos pais e dos filhos.<br />
A conclusão também contém reflexões sobre a prevenção e o tratamento do uso<br />
abusivo de drogas pautadas no trabalho com os valores familiares, de acordo como<br />
eles são descritos nessa tese. A educação para valores familiares deve ser incluída<br />
no tratamento do uso abusivo e na prevenção ao uso indevido de substâncias.<br />
ABSTRACT<br />
This thesis objective is to answer if the familiar values influence the development of<br />
drugaddiction in one, or more, of its m<strong>em</strong>bers. I have privileged different th<strong>em</strong>es that<br />
composed my hypothesis, on three categories that guided the study: on the family<br />
values domain, the instructions considered important to teach to children and<br />
grandchildren, as well as the meaning of the family concept. On the conflict between<br />
generations range I have searched for family organization form, dreams, and
ehavior models. Finally, on the educational process domain I have investigated<br />
educational style, limits setting and authority figures in the family.<br />
The research was made with families from urban middle-class population that came<br />
from two Institutions specialized in drugaddiction care.<br />
I have chosen to undertake family values research following a three generational<br />
narrative of some families, chosen from the researched field, using a s<strong>em</strong>i-structured<br />
interview taped with participants agre<strong>em</strong>ent, inside a syst<strong>em</strong>ic-cybernetic referential<br />
approach. I have used alternatively three dimensions to accomplish the th<strong>em</strong>es:<br />
opinion, behavior and expectation.<br />
The comprehensive approach results from the family stories <strong>em</strong>broidery are vast and<br />
complex and answer affirmatively the initial question. The main reasons are:<br />
(a) There is a family hierarchy inversion that influences educational style,<br />
autonomy construction and family models, all of th<strong>em</strong> fundamental to family<br />
values promotion;<br />
(b) Dependent, attachment bonds that stimulate children and grandchildren<br />
childishness don’t configure possibility circumstances to family values<br />
internalization in the sense aimed by the families;<br />
(c) There are conflicting expectations through generations because grandparents<br />
and parents elaborate projects that are distant from their children reality once<br />
they don’t perceive the difference between their children and grandchildren<br />
chronological and <strong>em</strong>otional age;<br />
(d) Grandparents and parents attributes are such that help construct models<br />
without sustenance to their youth;<br />
(e) Grandparents and parents authoritarian and permissive education style didn’t<br />
contribute to the children majority and all youth socio-<strong>em</strong>otional development,
thus having an influence on parents and children generation values<br />
acquisition.<br />
The thesis conclusion contains reflections about abusive drug use prevention and<br />
treatment based on family values work, in accordance with their description in this<br />
study. Family values education must be included on drug abuse use treatment and<br />
substance use prevention.
SUMÁRIO<br />
Introdução........................................................................... xiv<br />
Primeira Parte. Introdução ao marco referencial................ 1<br />
Categorias Centrais de Análise.......................................... 6<br />
Valores Familiares ............................................................ 7<br />
Conflito entre Gerações ................................................... 12<br />
Processo Educativo .......................................................... 18<br />
Segunda Parte. Abordag<strong>em</strong> metodológica e<br />
operacionalização............................................................... 24<br />
1. Fundamentação Teórica................................................. 24<br />
2. Natureza da Pesquisa ................................................... 37<br />
3. Método de Abordag<strong>em</strong>.................................................. 40<br />
4. Operacionalização ......................................................... 41<br />
Terceira Parte. Trajetórias das famílias............................. 44<br />
1. A Família Zoar .............................................................. 44<br />
2. A Família Mimar .......................................................... 70<br />
3. A Família Ciumeira .................................................... 96<br />
4. A Família Devanear .................................................... 124<br />
Conclusão........................................................................ 152<br />
Referências...................................................................... 170<br />
Apêndices....................................................................... 182
INTRODUÇÃO<br />
Este estudo trata dos valores familiares <strong>em</strong> famílias de camadas médias urbanas<br />
onde há ou houve uso abusivo de drogas no contexto sócio-cultural da cidade do Rio<br />
de Janeiro. Elaborei esta pesquisa a partir de uma visão ampla e compreensiva do<br />
universo desses valores e sua influência para a constituição do sujeito.<br />
O uso abusivo de drogas pode ser considerado um probl<strong>em</strong>a de saúde pública, por<br />
acarretar ônus ao sujeito, à família e à sociedade, na forma de: repetência na<br />
escola, perda de <strong>em</strong>prego, rupturas familiares e violência, crimes, acidentes e<br />
encarceramentos. Uma questão tão ampla e controversa como essa é aqui pensada<br />
do ponto de vista de prejuízos para os jovens, r<strong>em</strong>etendo ao fato de que o início do<br />
uso de drogas se dá, geralmente, na adolescência, fase de extr<strong>em</strong>a curiosidade, de<br />
movimentos de individuação, da especial valorização do grupo de amigos, e do<br />
conhecido comportamento rebelde, muitas vezes necessário para iniciar seu corte<br />
do cordão umbilical familiar.<br />
Geralmente, nessa etapa, muitas famílias estão atentas para o tamanho da crise<br />
existencial e de crescimento que se instaura, mas sent<strong>em</strong> uma certa impotência<br />
quanto à possibilidade de controle da situação. Como os atributos da mudança se<br />
combinam com a experimentação das drogas? O resultado poderá ser mais uma<br />
incorporação de experiência na vida do jov<strong>em</strong> ou resultar no início de um doloroso<br />
processo de dependência.<br />
xiv
Ser dependente significa consumir excessivamente qualquer substância psicoativa<br />
de forma que ela passe a acarretar danos físicos, psicológicos e/ou sociais para si<br />
próprio. O uso abusivo de drogas é assunto complexo, sendo estudado nos mais<br />
variados campos do conhecimento: antropologia, sociologia, política, educação e<br />
psicologia e outros.<br />
O presente estudo t<strong>em</strong> proximidade com minha experiência de vida. Trabalho há<br />
quase duas décadas no Núcleo de Estudos e Pesquisas <strong>em</strong> Atenção ao Uso de<br />
Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEPAD/UERJ) como<br />
terapeuta de famílias com algum m<strong>em</strong>bro adicto, na sua maioria às drogas ilícitas<br />
– maconha e cocaína – conjugadas, ou não, às lícitas – álcool, tabaco ou<br />
tranqüilizantes. Nessa prática terapêutica s<strong>em</strong>pre me chamou atenção a<br />
dinâmica das inter-relações dessas famílias e como elas se organizam. A partir<br />
de tal interesse busquei formular uma questão básica a que tentarei responder:<br />
Será que os valores vivenciados na dinâmica interna dessas famílias<br />
influenciam o desenvolvimento da drogadição <strong>em</strong> algum de seus m<strong>em</strong>bros?<br />
Minha narrativa a seguir cont<strong>em</strong>pla a intimidade dos vínculos, da educação, das<br />
expectativas entre avós, pais e filhos que constitu<strong>em</strong> a dinâmica dessas famílias<br />
com adictos que reconheço a partir de minha prática clínica.<br />
Não se pode duvidar que a sociedade vive um t<strong>em</strong>po de transição <strong>em</strong> vários níveis,<br />
inclusive de um padrão de educação autoritária para uma forma mais d<strong>em</strong>ocrática<br />
(Zagury, 2000). Essa mudança se relaciona com as inúmeras transformações sociais<br />
que vêm ocorrendo desde a década de 60, imprimindo maior flexibilização e<br />
relativismo às práticas educativas. Entretanto, nessa transposição, vários probl<strong>em</strong>as<br />
xv
vão surgindo e tenho observado alguns bastante sérios nas famílias que atendo: os<br />
pais adotam uma postura indulgente ou permissiva quanto à colocação de limites e<br />
regras para seus filhos ao mesmo t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que se questionam sobre a forma<br />
melhor de educá-los. Inúmeras vezes sent<strong>em</strong>-se culpados e inseguros. A<br />
insegurança desses adultos leva a que tudo ou nada seja conversado sobre as<br />
normas de dentro e de fora de casa; adicionada ao pouco t<strong>em</strong>po de que dispõ<strong>em</strong><br />
para dedicar aos filhos, por causa do trabalho ou por outros motivos. Daí v<strong>em</strong> a<br />
minha primeira hipótese:<br />
o estilo de criação dos pais, que se traduz nas práticas educacionais, influencia<br />
a aquisição dos valores familiares.<br />
Nesse processo de mudanças sociais, freqüent<strong>em</strong>ente se evidencia na família uma<br />
tendência à exacerbação do consumismo: os avós e os pais costumam não negar<br />
nada aos filhos e netos. Dessa forma, se estabelece uma espécie de elo entre o<br />
afeto e os bens de consumo, com pouca ênfase no valor pessoal do indivíduo. Não<br />
se trata de culpabilizar pais ou avós, uma vez que o saber que envolve as práticas<br />
das relações primárias é adquirido, principalmente, na experiência de relações na<br />
família e na sociedade, por mais livros informativos que os pais consult<strong>em</strong>. O mais<br />
dramático dessa situação é que a insegurança e a frouxidão ating<strong>em</strong> exatamente o<br />
núcleo e a fonte do processo sócio-educativo <strong>em</strong> que se dá a aquisição de valores<br />
importantes para a formação de uma sociedade ética.<br />
Outro aspecto intrigante que venho detectando nessas famílias é a discrepância<br />
entre as expectativas dos pais relativas à vida pessoal e profissional e as de seu<br />
filho adicto. Os progenitores costumam pensar que existe sintonia entre a idade<br />
xvi
cronológica e a idade <strong>em</strong>ocional de seu filho, quando na realidade isso não ocorre.<br />
Com base <strong>em</strong> tal pressuposto, esperam que ele cumpra expectativas para as quais<br />
não está preparado ou não são coincidentes com os seus desejos pessoais. Tais<br />
discrepâncias são regidas por um mecanismo de rejeição dos pais <strong>em</strong> relação à<br />
forma como o filho se vê. Isso alimenta uma revolta no adicto por não se perceber<br />
aceito e valorizado, frustrando-o <strong>em</strong> relação a suas ambições pessoais (Schenker,<br />
1993). A partir dessa reflexão formulo uma segunda hipótese:<br />
a expectativa dos pais quanto à realização pessoal e profissional do adicto são<br />
conflitantes.<br />
A percepção que os adultos significativos 1 têm de suas crianças e jovens contribui<br />
para a construção de sua auto-imag<strong>em</strong> (Nolte e Harris, 1998). A forma negativa que<br />
internalizam de como são percebidos pelos adultos contribui para a o<br />
desenvolvimento de uma relação de dependência do adicto. Mas essa relação<br />
poderá estar a serviço do não enfrentamento da solidão do ninho vazio (Haley,<br />
1980). Os pais, s<strong>em</strong> filhos para criar, costumam se voltar para questões de relações<br />
intra-familiares que causam sofrimento e com as quais é difícil lidar como, por<br />
ex<strong>em</strong>plo, o enorme fosso aberto entre o casal ao longo dos anos; ou o fato da<br />
mulher sair <strong>em</strong> busca de novos relacionamentos adultos após a separação; ou ainda<br />
os pais do adicto ter<strong>em</strong> de lidar com a dependência <strong>em</strong>ocional e com a infantilização<br />
que eles próprios sofr<strong>em</strong> <strong>em</strong> relação a seus próprios pais. Nesse processo difícil, o<br />
adicto habitualmente não se esforça <strong>em</strong> conquistar a sua autonomia, conservandose<br />
também infantilizado na trama familiar. Trata-se de um jogo de interesses, cujo<br />
1 Adulto significativo refere-se àquele que cria os filhos sendo, por isso, por eles considerado como uma pessoa<br />
mais relevante e expressiva <strong>em</strong> sua vida (NA).<br />
xvii
objetivo primordial é a dependência <strong>em</strong>ocional entre as gerações, que se pauta nas<br />
dificuldades <strong>em</strong>ocionais desse sist<strong>em</strong>a familiar. Em relação a essa situação, levanto<br />
a minha terceira hipótese:<br />
a infantilização dos filhos contribui para a não internalização dos valores<br />
familiares.<br />
No exercício da clínica também t<strong>em</strong> me chamado atenção a forma como estas<br />
famílias se organizam. Apesar de cada caso ter as suas particularidades, percebo<br />
um ponto comum entre todas elas. Seria de se esperar que, na hierarquia familiar,<br />
os avós cumpriss<strong>em</strong> funções socialmente esperadas da primeira geração e os pais<br />
foss<strong>em</strong> os responsáveis das relações primárias com o adicto. Na realidade, porém,<br />
os papéis costumam ficar confusos. A segunda geração é desqualificada pela<br />
primeira nas funções materna e paterna; <strong>em</strong> conseqüência, esses pais continuam<br />
sendo mais filhos do que pais, seja porque precisam da aprovação constante da<br />
primeira geração, seja porque qu<strong>em</strong> acaba criando os netos são os avós. As<br />
justificativas são várias, dentre as quais, muitos pais [segunda geração] portam<br />
sintomas graves como depressão e alcoolismo. A partir de tais constatações,<br />
formulo minhas últimas duas hipóteses:<br />
a organização da hierarquia no sist<strong>em</strong>a familiar fornece informações sobre a<br />
forma como os valores familiares são construídos através das gerações e o uso<br />
de drogas por parte de um dos pais, ou por ambos, comunica valores<br />
conflitantes para os m<strong>em</strong>bros da família.<br />
xviii
Mesmo levando <strong>em</strong> conta as mudanças sociais profundas da sociedade atual,<br />
entendo que não há determinismo quanto aos valores culturais repassados nas<br />
relações primárias, <strong>em</strong>bora seu papel seja fundamental na formação dos jovens. Há<br />
s<strong>em</strong>pre a liberdade dos sujeitos frente a essa e as muitas outras influências que<br />
receb<strong>em</strong> do contexto social mais amplo: existe uma dialética nas relações entre<br />
indivíduo e sociedade e que também está presente no processo de drogadição.<br />
Elaborei junto com minha orientadora uma ampla e extensa revisão bibliográfica da<br />
literatura científica de 1995 a 2003, visando ao aprofundamento da probl<strong>em</strong>ática<br />
aqui tratada. Esse esforço redundou <strong>em</strong> três artigos: o primeiro aborda a interrelação<br />
entre a adolescência, a família e o uso indevido ou abusivo de drogas<br />
(Schenker e Minayo, 2003) 2 ; o segundo versa sobre uma vasta revisão dos diversos<br />
tratamentos baseados na família com adictos (Schenker e Minayo, 2004) 3 ; e o<br />
terceiro, contribui para o entendimento da prevenção ao uso indevido de drogas a<br />
partir de fatores individuais, familiares e sociais (Schenker e Minayo, 2005) 4 .<br />
No entanto, nesse material não encontrei artigos que se referiss<strong>em</strong> ao t<strong>em</strong>a que<br />
escolhi pesquisar: valores familiares. Portanto este estudo é original e configura um<br />
esforço teórico-metodológico e <strong>em</strong>pírico.<br />
Entendo que a tessitura dos valores na família se constrói diacrônica e<br />
sincronicamente. No primeiro caso, quando se refere aos valores da cultura e da<br />
sociedade como um movimento que acompanha os momentos históricos<br />
específicos. Neste sentido, a filósofa marxista Agnes Heller oferece uma excelente<br />
2 Apêndice I.<br />
3 Apêndice II.<br />
4 Apêndice III.<br />
xix
contribuição filosófica quando diz que “a moral [se configura] como uma relação<br />
entre atividades humanas”, e é por meio da ação que a moral “conecta a<br />
particularidade com a universalidade humana” (Heller, 2000, 5). No segundo caso,<br />
ou seja, do ponto de vista sincrônico, a família decodifica os valores sociais e a<br />
construção de novos valores por meio da educação (que se dá no seu seio), dos<br />
vínculos e modelos que segue. Aqui também é fundamental a contribuição de Heller<br />
que afirma, “os homens jamais escolh<strong>em</strong> valores... Escolh<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre idéias<br />
concretas, finalidades concretas, alternativas concretas. Seus atos concretos de<br />
escolha estão naturalmente relacionados com sua atitude valorativa geral, assim<br />
como seus juízos estão ligados à sua imag<strong>em</strong> de mundo. E reciprocamente: sua<br />
atitude valorativa se fortalece no decorrer dos concretos atos de escolha” (Heller,<br />
2000, 14).<br />
Por fim, ao encerrar esta introdução, considero que este estudo poderá contribuir<br />
para a prevenção e o tratamento do uso de drogas porque os valores constitu<strong>em</strong> os<br />
princípios que norteiam a família geração após geração, a partir de suas práticas<br />
sociais. Trabalhar valores das famílias nas suas formas diacrônica e sincrônica<br />
poderá resultar numa negociação dos inúmeros aspectos socialmente considerados<br />
positivos que precisam <strong>em</strong>ergir da insegurança que se instaurou <strong>em</strong> muitos desses<br />
núcleos, a favor da promoção de sua saúde e de sua qualidade de vida.<br />
Escolhi efetuar a busca e a compreensão dos valores a partir da narrativa de<br />
algumas famílias percorrendo os três eixos norteadores: valores familiares, conflito<br />
entre gerações e processo educativo. Na Parte 1 desenvolvo a introdução ao marco<br />
referencial onde cont<strong>em</strong>plo idéias de autores que discorr<strong>em</strong> sobre o uso abusivo de<br />
xx
drogas e sobre as três categorias básicas que compõ<strong>em</strong> essa investigação. A<br />
segunda parte comporta a abordag<strong>em</strong> metodológica, com a fundamentação da parte<br />
teórica pelo pensamento sistêmico-cibernético e a narração dos caminhos de<br />
operacionalização do estudo. Na terceira parte conto as histórias das famílias,<br />
privilegiando a hermenêutica, e efetuo uma tecedura com idéias dos autores do<br />
marco referencial e da parte teórica da metodologia. A conclusão, última parte desse<br />
estudo, contém minhas reflexões sobre as questões abordadas, retomando as<br />
hipóteses referidas na introdução.<br />
xxi
PRIMEIRA PARTE<br />
INTRODUÇÃO DO MARCO REFERENCIAL<br />
Decidi refletir sobre as trajetórias de famílias de jovens adictos seguindo os fios<br />
narrativos de algumas histórias geracionais a partir de três categorias que<br />
constituíram a coluna vertebral do estudo: Valores Familiares, Conflito entre as<br />
Gerações e Processo Educativo. O material colhido nas entrevistas com as nove<br />
famílias poderá referendar, ou não, as cinco hipóteses por mim formuladas no<br />
início do trabalho e sobre esse assunto é preciso ressalvar que todas elas não<br />
serão necessariamente cont<strong>em</strong>pladas integralmente por cada uma das famílias do<br />
estudo.<br />
O processo social do uso de drogas é o meu primeiro objeto de reflexão. O<br />
conceito droga será utilizado aqui para designar as substâncias psicoativas que<br />
alteram o funcionamento do sist<strong>em</strong>a nervoso central (SNC) do indivíduo, quer<br />
deprimindo-o, estimulando-o ou perturbando-o. Faço também um breve relato das<br />
representações do uso de drogas ao longo da história com o intuito de<br />
contextualizar a situação dos entrevistados. A UNESCO (Organização das Nações<br />
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) propõe a seguinte classificação dos<br />
usuários:<br />
“a) Experimentador: limita-se a experimentar uma ou várias drogas,<br />
<strong>em</strong> geral por curiosidade, s<strong>em</strong> dar continuidade ao uso;<br />
1
) Usuário Ocasional: utiliza uma ou várias substâncias, quando<br />
disponível ou <strong>em</strong> ambiente favorável, s<strong>em</strong> rupturas nas relações<br />
afetivas, sociais ou profissionais;<br />
c) Usuário Habitual ou Funcional: faz uso freqüente, ainda que<br />
controlado, mas, no seu comportamento já se observam sinais de<br />
rupturas;<br />
d) Usuário Dependente ou Disfuncional também comumente<br />
designado toxicômano, drogadicto, adicto, dependente químico: vive<br />
pela droga e para a droga, de forma descontrolada, apresentando<br />
rupturas <strong>em</strong> seus vínculos sociais, e tendendo à marginalização e ao<br />
isolamento” (Bucher, 1995, 9).<br />
Ao proceder às narrativas, nenhuma família e nenhum de seus m<strong>em</strong>bros será<br />
identificado pelo nome. As denominações fictícias permit<strong>em</strong> mostrar os<br />
movimentos e dinâmicas entre interações, práticas e representações que, se são<br />
individuais, também diz<strong>em</strong> respeito a um universo muito mais abrangente. São<br />
tantas histórias! Em cada uma delas há aspectos recorrentes e singulares que<br />
deverão ser ressaltados.<br />
O uso abusivo de drogas constitui um t<strong>em</strong>a central desse estudo. Inicio<br />
privilegiando a descrição e a análise das representações desse fenômeno na<br />
geração dos pais e dos filhos das famílias. Dialogarei com autores que<br />
escreveram sobre o t<strong>em</strong>a <strong>em</strong> diferentes momentos, principalmente com Gilberto<br />
Velho, Joel Birman, Richard Bucher, Carlos Alberto Plastino e Gilberta Acselrad.<br />
2
A maioria dos pais dos usuários desse estudo viveu a juventude entre as décadas<br />
de 60 e 70. Nessa época, ocorria o que se convencionou chamar de movimento<br />
da contracultura nas camadas médias da população (Velho, 1997), <strong>em</strong> que o uso<br />
de drogas se caracterizava, de uma forma compl<strong>em</strong>entar, por uma rejeição frontal<br />
ao modo de vida convencional, e pela ênfase na liberdade sexual e na vida <strong>em</strong><br />
comunidade, <strong>em</strong> detrimento dos bens materiais. “Sua originalidade residia na<br />
ênfase que dava ao aperfeiçoamento e liberdade individuais associadas às<br />
preocupações sociais mais ou menos sist<strong>em</strong>áticas” (p. 11). Na década de 60 a 70<br />
(Birman, 1997, Bucher, 1992, Velho, 1993), os valores vigentes diziam respeito à<br />
contestação crítica da ord<strong>em</strong>, tanto familiar quanto social, e à descoberta e<br />
construção de um admirável mundo novo no dizer de Huxley (2001). As drogas,<br />
notadamente a maconha e o LSD, permitiram que os jovens experimentass<strong>em</strong> <strong>em</strong><br />
grupo novas percepções e sensações de vida, propondo uma possível alternativa<br />
ao modelo competitivo de vida heg<strong>em</strong>ônica no sist<strong>em</strong>a vigente. Elas também<br />
significavam a contra-cultura da guerra, especialmente a que se travava à época,<br />
a do Vietnam, com os slogans paz e amor; faça amor, não faça a guerra,<br />
configurando idéias pacifistas e de protesto. Naquele momento havia “uma<br />
absoluta convicção de engajamento no projeto de um modo de vida melhor”<br />
(Mourão, 2003, 110).<br />
Como b<strong>em</strong> situa Acselrad: “Em um mesmo momento histórico, as substâncias são<br />
legais <strong>em</strong> alguns países e proibidas <strong>em</strong> outros; <strong>em</strong> um mesmo território, usos<br />
tolerados, legais outrora, ficam obscurecidos; há tolerância diante do consumo de<br />
3
certas drogas lícitas, <strong>em</strong> que pes<strong>em</strong> os altos índices de danos à saúde e à<br />
sociedade, decorrentes de seu uso banalizado (caso do uso abusivo de bebidas<br />
alcoólicas); discut<strong>em</strong>-se pouco os prejuízos da auto-medicação, na medida da<br />
legalidade do produto”(2000,164).<br />
Fato é que a representação sobre o uso de drogas muda com o t<strong>em</strong>po. Portanto<br />
os seus significados são transitórios, passando pelo seu sentido recreativo,<br />
ocasional até ao de dependência. No registro cultural e antropológico seus valores<br />
simbólicos se modificam ao longo da história. Na cont<strong>em</strong>poraneidade o consumo<br />
se articula ao modo de ser e de pensar da sociedade ocidental globalizada, onde<br />
se localizam as famílias desse estudo.<br />
Conforme pontua Plastino: “a toxicomania não pode ser analisada como um<br />
fenômeno isolado, sendo conveniente considerá-la como um aspecto específico<br />
de um conjunto mais abrangente de comportamentos sociais caracterizados por<br />
um imaginário social fort<strong>em</strong>ente individualista” (2003,133).<br />
Um dos valores sociais também enfatizados na atualidade é o glamour, aliado ao<br />
brilho, ambos necessários para que os atores sociais vivam a vida b<strong>em</strong> e com<br />
prazer, este sim um imperativo nos t<strong>em</strong>pos atuais. Esses valores não se<br />
coadunam com tristeza ou depressão. Por isso, muitas pessoas buscam, entre<br />
outros, a medicalização, as pílulas da felicidade como uma forma de adequação<br />
ao modelo vigente. A droga de eleição, nesse caso, é a cocaína, codinome brilho.<br />
Também o ecstasy assegura a moda eletrizante do prazer.<br />
4
Descreverei quatro famílias ao longo de suas representações e ações relativas ao<br />
uso abusivo de drogas, concentrando-me nas palavras dos usuários uma vez que<br />
eles foram o foco principal da interlocução.<br />
Ao selecionar as quatro famílias para situar as minhas reflexões reparei que todos<br />
os usuários eram adolescentes. Os usuários de drogas das outras cinco, cujas<br />
histórias não foram aqui detalhadas, quatro são adultos jovens e um é<br />
adolescente, segundo o critério de idade cronológica. Entretanto, verifico uma<br />
adequação entre idade e maturidade <strong>em</strong> somente um dos usuários desse estudo.<br />
De qualquer forma, o início do uso de drogas ocorre neste grupo e, na maioria dos<br />
casos, na adolescência, podendo ainda aqui derivar para a dependência. Por isso,<br />
antes de passar às narrativas das famílias, me deterei nessa fase turbulenta de<br />
<strong>em</strong>oções na vida social.<br />
Neste estudo entendo a adolescência tendo <strong>em</strong> conta as observações de<br />
Eisenstein: “Devido às características de variabilidade e diversidade dos<br />
parâmetros biológicos e psicossociais que ocorr<strong>em</strong> nesta época [adolescência]<br />
denominadas de assincronia de maturação, a idade cronológica, apesar de ser o<br />
critério mais usado [pela OMS, ONU e ECA 1 ], muitas vezes não é o melhor critério<br />
descritivo <strong>em</strong> estudos clínicos, antropológicos e comunitários ou populacionais”<br />
(2004,1).<br />
1 OMS – Organização Mundial de Saúde; ONU – Organização das Nações Unidas; e ECA – Estatuto da<br />
Criança e do Adolescente (NA).<br />
5
A adolescência se caracteriza por mudanças biológicas, sociais e psicológicas e é<br />
marcada por uma labilidade <strong>em</strong>ocional decorrente das instabilidades do processo<br />
de transição (Bucher, 1992) vivido pelo adolescente entre o desejo de ainda<br />
querer ser criança pouco cobrada nas suas responsabilidades e deveres,<br />
protegida pelos adultos da família, e o adulto jov<strong>em</strong> que se desprende<br />
paulatinamente da casa dos pais e se lança para o mundo dos pares. Trata-se de<br />
um processo <strong>em</strong>ocionalmente doloroso porque ambivalente.<br />
O prazer invade o adolescente na descoberta da sexualidade, da afetividade, das<br />
amizades e também no compartilhar do uso de drogas. Essa é uma experiência<br />
que geralmente se dá <strong>em</strong> grupo, ou com um amigo. Os adolescentes estão <strong>em</strong><br />
busca de novas sensações e não têm, muitas vezes, noção dos perigos (Giddens,<br />
1991) que rondam a busca dos resultados almejados. Fato é que ao consumir<strong>em</strong><br />
drogas, eles buscam prazer, extroversão, compartilhamento grupal, diferenciação,<br />
autonomia e independência de sua família. O lado negativo da busca do prazer é<br />
o risco de se tornar adicto, comprometendo a sua trajetória de vida (Schenker e<br />
Minayo, 2005). A dependência às drogas é mediada pela interdependência de<br />
fatores de risco individuais, familiares e sociais. Nesse estudo, foco minha lente<br />
nos fatores familiares, a despeito de saber que eles faz<strong>em</strong> parte de um<br />
entrelaçamento de circunstâncias que explicam o uso abusivo de drogas pelo<br />
adolescente.<br />
Categorias Centrais de Análise.<br />
6
1. Valores Familiares<br />
São duas as questões centrais que desenvolvo neste tópico, assim resumidas:<br />
quais são os valores - princípios de comportamento e de ensinamentos –<br />
transmitidos para os filhos e netos, considerados importantes pelas famílias de<br />
usuários de drogas? Esses princípios são ensinados? São vivenciados? Como?<br />
Interesso-me pela construção do conceito família, perguntando aos entrevistados<br />
sobre o significado dessa instituição para eles. Dialogando também com alguns<br />
autores, privilegio a noção de desmapeamento e a ampliação que Nicolaci-da-<br />
Costa faz do conceito de socialização secundária desenvolvido por Berger e<br />
Luckmann.<br />
Numa perspectiva sociológica (Ribeiro e Ribeiro, 1993), a categoria valores é aqui<br />
compreendida no interior da relação entre princípios e práticas, acompanhando a<br />
movimentação do modelo de referência 2 familiar de camadas médias urbanas que<br />
apresentam um probl<strong>em</strong>a de adicção ao longo de sua história intergeracional.<br />
Então, nesta proposta de discussão de valores, enfoco a relação entre os<br />
princípios organizadores, conformadores e as propensões à permanência,<br />
juntamente com as práticas, as conjunturas e as alterações de diferentes períodos<br />
2 Utilizo a expressão Modelo de Referência no sentido de Ribeiro e Ribeiro, significando “instâncias<br />
respaldadoras ou referenciadoras dos princípios e das práticas que viabilizam a <strong>em</strong>ergência, a consolidação<br />
e a difusão dos Valores vigentes e/ou subjacentes, seja <strong>em</strong> direção às preservações ou às mudanças,<br />
enquanto processos desenrolados na vida cotidiana” (Ribeiro e Ribeiro, 1993, 39).<br />
7
e de diferentes fontes no interior das representações de modelos culturais da<br />
família e da sociedade.<br />
Do ponto de vista antropológico, Geertz e Velho articulam a discussão do conceito<br />
de valores ao debate existente sobre cultura, como um lugar privilegiado de<br />
realização da produção social e de manifestação da subjetividade. Geertz (1989)<br />
parte da idéia de que existe uma produção simbólica e um sist<strong>em</strong>a de símbolos –<br />
a cultura –, que fornec<strong>em</strong> indicações e contornos de grupos sociais e das<br />
sociedades específicas. Para Velho (1999c), os seres humanos <strong>em</strong> interação<br />
social participam de um sist<strong>em</strong>a de crenças, valores e visão de mundo que<br />
formam a sua rede de significados e “defin<strong>em</strong> a própria natureza humana”. As<br />
culturas são diversas, pois há inúmeros modos de construção social da realidade,<br />
que confirmam padrões e normas peculiares a cada cultura (Velho, 1999f).<br />
Dentre as várias maneiras de situar o conceito de cultura, Geertz escolhe a sua<br />
aproximação com a idéia de ethos 3 , que engloba “os aspectos morais e estéticos<br />
e os el<strong>em</strong>entos valorativos” e se refere à visão de mundo e aos “aspectos<br />
cognitivos e existenciais” (1989, 93). Velho chama a atenção para a dicotomia<br />
inscrita no conceito de cultura de Geertz – ethos e visão de mundo – pontuando<br />
que: “Parece-me que a noção de sist<strong>em</strong>a cognitivo é indissociável da de sist<strong>em</strong>a<br />
de crenças e esta, por sua vez, implica imediatamente <strong>em</strong>oção e sentimento”. O<br />
3 O ethos de um povo é o tom, o caráter, a qualidade de vida, seu estilo moral e estético; e sua disposição, é a<br />
atitude subjacente <strong>em</strong> relação a ele mesmo e ao seu mundo.<br />
8
que há é uma “indissolúvel vinculação entre conhecimento e <strong>em</strong>oção e<br />
afetividade” (Velho, 1999e, 51) 4 .<br />
Há, portanto, na definição de cultura de Gilberto Velho e também na de Geertz<br />
uma idéia de complexidade que vincula o meio sócio-cultural, os valores e a sua<br />
inscrição na subjetividade, apresentando-se estes el<strong>em</strong>entos indissociavelmente<br />
imbricados.<br />
Minayo e colaboradores defin<strong>em</strong> a versatilidade que dá corpo à família como “uma<br />
organização social complexa, um microcosmo da sociedade, onde ao mesmo<br />
t<strong>em</strong>po se viv<strong>em</strong> relações primárias e se constro<strong>em</strong> processos identificatórios. É<br />
também um espaço onde se defin<strong>em</strong> papéis sociais de gênero, cultura de classe e<br />
se reproduz<strong>em</strong> as bases do poder. É ainda o lócus da política misturada no<br />
cotidiano das pessoas, nas discussões dos filhos com os pais, nas decisões sobre<br />
o futuro, que ao mesmo t<strong>em</strong>po t<strong>em</strong> o mundo circundante como referência e o<br />
desejo e as condições de possibilidade como limitações. Por tudo isso, é o espaço<br />
do afeto e também do conflito e das contradições” (1999,89).<br />
O processo de identificação se organiza, no seio da família, através da<br />
socialização primária e da socialização secundária, conceitos enunciados por<br />
Berger e Luckmann (2002). A socialização primária t<strong>em</strong> lugar na infância, sendo<br />
mediada pelas pessoas significativas da família <strong>em</strong> sua interseção com o mundo<br />
4 Esta concepção de cultura aproxima-se da explicação que Maturana (Maturana et al, 2002b) propõe para o<br />
binômio <strong>em</strong>oção e razão.<br />
9
social; é a partir dela que o sujeito torna-se m<strong>em</strong>bro da sociedade. Desta forma o<br />
mundo social é filtrado para a criança que o interioriza como sendo o mundo único<br />
existente e concebível. Esse processo não é unilateral. Implica uma “dialética<br />
entre a identidade objetivamente atribuída e a identidade subjetivamente<br />
apropriada” (2002,177). A socialização secundária introduz o sujeito já socializado<br />
<strong>em</strong> novos setores do mundo objetivo da sociedade <strong>em</strong> que vive.<br />
O processo de tornar-se m<strong>em</strong>bro da sociedade implica num contexto carregado de<br />
<strong>em</strong>oção e de fortes laços afetivos, condição necessária para a internalização do<br />
sist<strong>em</strong>a simbólico de seus agentes socializadores. Por tudo isso, para Berger e<br />
Luckmann o sist<strong>em</strong>a simbólico internalizado por meio do processo de socialização<br />
primária é muito mais persistente e resistente à erradicação do que os mundos<br />
assimilados nos vários processos de socialização secundária. Estes últimos se<br />
refer<strong>em</strong> aos diferentes setores da sociedade aos quais o sujeito se liga durante a<br />
sua vida.<br />
Nicolaci-da-Costa (1985) expande a noção de socialização secundária. Pelo fato<br />
do sujeito se identificar com seus iniciais agentes socializadores que constitu<strong>em</strong> a<br />
sua família, o sist<strong>em</strong>a simbólico internalizado na socialização primária t<strong>em</strong> sua<br />
existência garantida. E os sist<strong>em</strong>as simbólicos derivados das socializações<br />
secundárias também estão presentes por ser<strong>em</strong> mais recentes e contar<strong>em</strong> com o<br />
apoio de um consenso razoável.<br />
10
Ora, do ponto de vista histórico, a instituição família paga um preço alto pelo fato<br />
da modernização na sociedade ocidental, <strong>em</strong> particular na sociedade brasileira,<br />
ocorrer <strong>em</strong> ritmo muito veloz; <strong>em</strong> planos dissociados, entrelaçando antigos e<br />
novos ideais e identidades. Os antigos, vistos como arcaicos, permanec<strong>em</strong><br />
invisíveis porque inconscientes <strong>em</strong> sua maior parte, mas muito eficazes <strong>em</strong> sua<br />
oposição ao modelo vigente. Essa dinâmica cambiante conforma a noção de<br />
desmapeamento, desenvolvida por <strong>Figueira</strong> <strong>em</strong> diferentes momentos (1981, 1985,<br />
1987). Tal conceito abarca o sujeito e sua família, ao sublinhar que, <strong>em</strong> ambos,<br />
conviv<strong>em</strong> valores e mapas conflitantes. Formas atuais e visíveis de organização<br />
familiar interag<strong>em</strong>, <strong>em</strong> estado de conflito potencial, com formas historicamente<br />
mais antigas 5 , supostamente abandonadas no decurso de mudanças sociais.<br />
Entretanto, estes antigos valores que permanec<strong>em</strong> invisíveis não são<br />
abandonados pelo sujeito que os internalizou <strong>em</strong> algum momento de seu<br />
desenvolvimento e de sua formação (<strong>Figueira</strong>, 1985, 1987).<br />
O conflito do e no sujeito, explica Ana Maria Nicolaci-da-Costa, “ocorre entre as<br />
suas representações primitivas de inserção no mundo adulto, cujas raízes se<br />
encontram no sist<strong>em</strong>a simbólico internalizado durante o processo de socialização<br />
primária, e suas representações mais recentes e concretas de participação real na<br />
reprodução da ord<strong>em</strong> social oriundas de sist<strong>em</strong>as simbólicos internalizados<br />
através de socializações secundárias” (1985,159). Cabe ressaltar que “o sujeito<br />
passa a se relacionar institucionalmente com um outro a partir de posições nas<br />
quais viu seus agentes socializadores estar<strong>em</strong> – isto é, <strong>em</strong> posições de<br />
5 Ver Heller (2000,10).<br />
11
eprodutores da ord<strong>em</strong> social” (Nicolaci-da-Costa, 1985, 157-158). É justamente<br />
neste momento que ele poderá experimentar conflitos entre as suas expectativas<br />
ou representações de inserção no mundo adulto e as que traz internalizadas e<br />
arraigadas do processo de socialização primária, porque “é forçado a definir uma<br />
linha de conduta coerente” (Nicolaci-da-Costa, 1985, 165).<br />
Ivete Ribeiro e Ana Clara Ribeiro (1993) destacam a relação necessária entre os<br />
valores e os processos sociais, culturais e históricos sublinhando que, “os níveis<br />
de inadequação entre valores referidos à Família e suas expressões históricas (as<br />
normas, as regras), as margens de não-correspondência de objetivos coletivos até<br />
então cristalizados como agentes socializadores (os princípios) e formas<br />
inovadoras de sociabilidade (as práticas), certamente alcançaram graus de<br />
visibilidade ampliados – a partir dos anos sessenta” (grifo meu, 1993,99). A<br />
velocidade dos processos sociais de mudança fragmentou os perfis heg<strong>em</strong>ônicos<br />
da família dando lugar à profunda quebra de padrões ocorrida nos anos setenta.<br />
Tais dinâmicas se mostram através de “desenraizamentos expressos <strong>em</strong> fluxos<br />
migratórios para os espaços urbano-metropolitanos do país; transformações no<br />
mercado de trabalho urbano, com incorporação crescente do trabalho f<strong>em</strong>inino;<br />
rupturas do universo familiar <strong>em</strong> decorrência de novos Valores e do recuo <strong>em</strong><br />
matrizes culturais tradicionais” (Ribeiro e Ribeiro, 1993, 160).<br />
2. Conflito entre Gerações<br />
12
A questão central que desenvolvo neste tópico versa sobre os conflitos entre as<br />
gerações porque a forma como são negociados influencia a passag<strong>em</strong> dos valores<br />
familiares ao longo da história familiar. Terei acesso aos conflitos através das<br />
formas como, no interior da família, se desdobram os conceitos de hierarquia,<br />
infantilização e expectativa.<br />
A sociologia da organização familiar, de acordo com os postulados de Dumont<br />
(1970, 1974, 1985), apresenta uma classificação que ajuda a diferenciar seus<br />
modos de apresentação, que combinam aspectos diacrônicos e sincrônicos:<br />
modelos hierárquicos e igualitários. A família de organização hierárquica (<strong>Figueira</strong>,<br />
1987) prevalece nas camadas populares cont<strong>em</strong>porâneas. Relativamente<br />
organizada, mapeada, apesar de conflitos internos, este modelo de família se<br />
pauta pela diferença entre hom<strong>em</strong> e mulher, com formas de comportamentos<br />
próprios a cada sexo. As funções e papéis familiares são nitidamente delineados,<br />
prevalecendo tanto a superioridade do hom<strong>em</strong> devido à sua relação com o<br />
trabalho fora de casa, quanto à expectativa do exercício da monogamia ser<br />
somente referido à mulher. Do ponto de vista da autoridade, o indivíduo, nesse<br />
modelo, encontra-se incluído ou incorporado no grupo, que s<strong>em</strong>pre t<strong>em</strong><br />
precedência e preferência, se traduzindo, portanto, <strong>em</strong> sacrifícios dos desejos<br />
pessoais para o b<strong>em</strong> coletivo.<br />
Gilberto Velho sublinha, com propriedade, a dialética existente entre os ideais<br />
hierarquizantes e os individualistas: “insisto que mesmo nos sist<strong>em</strong>as<br />
hierarquizantes, holistas, tradicionais, mais fechados, pod<strong>em</strong> ocorrer fenômenos<br />
13
usualmente alocados à sociedade moderna. Creio que a tensão permanente entre<br />
a hierarquia e processos de individuação, que pod<strong>em</strong> estar associados a<br />
ideologias individualistas, surge nos diferentes segmentos sociais e culturais”<br />
(1999g,104-05).<br />
A família de organização igualitária (<strong>Figueira</strong>, 1987), que segue a ideologia do<br />
igualitarismo, veio a reboque de transformações históricas, econômicas e sóciopolíticas.<br />
Sua raiz é a Declaração Universal dos Direitos do Hom<strong>em</strong>. A aceleração<br />
da modernização t<strong>em</strong> impactos na organização da família brasileira <strong>em</strong> geral e<br />
das camadas médias <strong>em</strong> particular, aliados a vários outros fatores, conforme já<br />
apontados nesse estudo: crescimento e concentração de renda nas décadas de<br />
60 e 70, maior acesso ao ensino superior e mais escolarização, avanço do<br />
movimento f<strong>em</strong>inista e crescente influência da mídia na formação de valores<br />
sociais. A organização da família vai se fluidificando, aliada à aceitação do<br />
divórcio, da maternidade fora do casamento e do exercício libertário da<br />
sexualidade fora dos objetivos de uma relação estável (Heilborn, 2004, 108).<br />
Todos os aspectos citados contribu<strong>em</strong> para o crescimento do valor do indivíduo e<br />
da progressiva transformação da família extensa <strong>em</strong> nuclear. Tal modelo, que vai<br />
se firmando nas classes médias do Brasil industrial, paga o preço de uma<br />
instabilidade quanto às tradições anteriores, valorizando a igualdade como ideal<br />
regulador das relações formais entre pessoas diferentes. Na família igualitária,<br />
teoricamente, a identidade respeita as idiossincrasias, na medida <strong>em</strong> que hom<strong>em</strong><br />
e mulher são diferentes, mas iguais enquanto indivíduos e sujeitos de direitos.<br />
14
Nesta perspectiva, as estereotipias das diferenças entre hom<strong>em</strong> e mulher tend<strong>em</strong><br />
ao desaparecimento e as diferenças são marcadas como questão de gosto<br />
pessoal. A noção de desvio se esfumaça, já que a palavra de ord<strong>em</strong> é o respeito à<br />
individualidade. Mesmo que a família moderna, a caminho da pós-moderna, não<br />
siga à risca esses traços culturais, o modelo igualitário permanece para elas,<br />
como referência no plano ideal.<br />
É no interior da proposta de ideais igualitários que se instala a visão de que a<br />
família é uma instituição opressora e dominadora para os seus indivíduos, como<br />
Sônia, uma das “mães” entrevistadas, definiu a sua na década de 60 6 . No entanto,<br />
a tensão entre os dois ideais continua, pois o mecanismo que opera na hierarquia<br />
é o englobamento e a fragmentação no individualismo.<br />
A categoria hierarquia é importante para o estudo por dois motivos: <strong>em</strong> primeiro<br />
lugar tenho a hipótese de que a organização da hierarquia no sist<strong>em</strong>a familiar<br />
influencia a constituição dos valores familiares. Em segundo lugar, considero<br />
importante saber se houve conflitos entre as gerações na educação dos filhos e<br />
netos e, <strong>em</strong> caso afirmativo, como estes conflitos foram encaminhados e<br />
solucionados. Conforme apontei na Introdução, penso que a organização da<br />
hierarquia deve lançar luz sobre a forma como os valores são construídos através<br />
das gerações. Inicio a pesquisa dessa hipótese interessando-me por qu<strong>em</strong> da<br />
família cuidou dos jovens e os educou: a geração dos avós, a geração dos pais ou<br />
ambas? Que influências essa criação pode ter na aquisição dos valores<br />
6 Sônia é a mãe do primeiro grupo familiar descrito – a família Zoar.<br />
15
familiares? Que influências esses conflitos pod<strong>em</strong> ter na aquisição dos valores<br />
familiares pelos filhos e netos?<br />
Formulo a hipótese de que a infantilização dos filhos contribui para o não<br />
cumprimento dos valores familiares e sociais. Entendo infantilização como o<br />
processo <strong>em</strong> que os adultos significativos da família não estimulam o<br />
desenvolvimento autônomo de seus filhos. A infantilização também engloba a nãoelaboração<br />
e o não-cumprimento de metas para a vida pessoal e profissional ao<br />
longo do desenvolvimento do sujeito. A questão <strong>em</strong> pauta versa sobre o binômio<br />
responsabilidade e independência: consideram filhos, netos e si próprio(a)<br />
responsáveis? Alguma possibilidade de modificação ou transformação desse<br />
binômio?<br />
O conceito expectativa diz respeito aos projetos que os avós e os pais tinham ou<br />
têm para a vida pessoal, profissional e de amizades dos seus filhos e netos. A<br />
pergunta central gira <strong>em</strong> torno dos sonhos que pais e avós tiveram para seus<br />
filhos e netos e sobre as possibilidades de modificação ou transformação desses<br />
sonhos. A hipótese delineada é de que: a expectativa dos pais quanto à realização<br />
pessoal e profissional dos filhos é conflitante com a dos últimos.<br />
Gilberto Velho apóia-se <strong>em</strong> Schutz (1971) ao dizer que o projeto é “conduta<br />
organizada para atingir fins específicos” e não um fenômeno puramente interno e<br />
subjetivo (1999c,107). O projeto lida com des<strong>em</strong>penho e opções que se<br />
fundamentam <strong>em</strong> definições da realidade, s<strong>em</strong>pre negociadas e construídas,<br />
16
formando a trama da vida social conectada aos códigos culturais e aos processos<br />
históricos de longa duração. O projeto é elaborado dentro de um campo de<br />
possibilidades, circunscrito histórica e socialmente e com o potencial interpretativo<br />
da cultura (Velho, 1999d, 28).<br />
A época da geração dos avós foi marcada por uma certa estabilidade na visão<br />
generalizada da família. Partia do casamento monogâmico, da hierarquia definida<br />
<strong>em</strong> termos dos papéis de gênero e do código moral que ditava comportamentos.<br />
Já os anos 60 e 70 foram o t<strong>em</strong>po do milagre econômico brasileiro. Os pais tinham<br />
projetos de ascensão social para seus filhos, uma vez que existia forte vínculo<br />
entre a ideologia modernizante capitalista, que enfatizava o consumo e o sucesso<br />
material e o ideário das famílias das camadas médias nessas duas décadas.<br />
Os anos 80 foram marcados pela crise econômica e social, abalando os sonhos<br />
das classes médias e acirrando as diferenças sociais. Do ponto de vista cultural,<br />
porém, a família continua passando por transformações sobretudo na expansão e<br />
no aprofundamento da individualidade. A angústia da individualização, o próprio<br />
não saber o que querer é uma constatação da pouca clareza do projeto. E na<br />
sociedade moderna cada vez mais se cobra isso – é preciso definir e descobrir o<br />
que se quer (Velho, 1999a, 44). “Quão diferente são os valores que reg<strong>em</strong> a<br />
identidade de nossos cont<strong>em</strong>porâneos! Hoje, mal toleramos o peso dos papéis<br />
sociais 7 – as obrigações acarretadas pelo status de esposo e de filho. Considera-<br />
7 Papel social “é o conjunto de normas, direitos, deveres e expectativas que envolv<strong>em</strong> uma pessoa no<br />
des<strong>em</strong>penho de uma função junto a um grupo ou dentro de uma instituição” (Costa, 2001, 326).<br />
17
se que cada um t<strong>em</strong> o direito (senão a obrigação) de buscar a ‘auto-realização’, de<br />
desenvolver sua individualidade – de se descobrir enquanto ‘indivíduo singular,<br />
inimitável, insubstituível” (Fonseca, 1995, 76).<br />
3. Processo Educativo<br />
A terceira categoria norteadora desse estudo versa sobre o processo educativo<br />
que perpassa as gerações visto que os valores familiares são adquiridos através<br />
da educação. Encaminho essa discussão para a análise de vínculos, modelos,<br />
responsabilidades e limites.<br />
A educação é um processo que ocorre durante toda a vida e t<strong>em</strong> efeitos<br />
conservadores de longa duração que não se modificam facilmente, pois<br />
constitu<strong>em</strong> parte integrante do sist<strong>em</strong>a de formação dos sujeitos. “Todo sist<strong>em</strong>a é<br />
conservador naquilo que lhe é constitutivo, ou se desintegra” (Maturana, 1999,<br />
30). A congruência do sist<strong>em</strong>a familiar, o modo de viver com a família, provém de<br />
climas <strong>em</strong>ocionais diversos entre os seus m<strong>em</strong>bros: de aceitação (amor), rejeição<br />
(raiva), desconfirmação (indiferença) da forma como os m<strong>em</strong>bros do sist<strong>em</strong>a se<br />
perceb<strong>em</strong>. Esses momentos <strong>em</strong> família criam as diversas possibilidades de<br />
recepção dos ensinamentos familiares. Então, quando avós ou pais apontam para<br />
uma maior ou menor receptividade de seus filhos e netos, estão se referindo ao<br />
fluir de suas conversações num clima de maior ou menor aceitação e respeito<br />
mútuos. Nesse sentido a aprendizag<strong>em</strong> deriva de um compartilhamento dos<br />
sujeitos nela implicados.<br />
18
Se um adulto significativo vê a seu filho como bom ou mau e a relação se<br />
estabelece de acordo com essa visão, a criança se desenvolverá de acordo:<br />
respeitando-se ou não se aceitando, porque “seu devir depende de como surge –<br />
como criança boa, má, inteligente ou boba – na sua relação conosco” (Maturana,<br />
1999, 30). A criança que não foi ensinada a encarar os seus erros como<br />
oportunidades para a mudança, mas foi castigada por errar, não desenvolve o<br />
respeito e a aceitação de si.<br />
A categoria vínculo é uma das forças motrizes para a referência de transmissão de<br />
valores. A qualidade da relação que se estabelece entre avós, pais, filhos e netos<br />
influencia a orientação de princípios, atitudes e práticas familiares. A qualidade da<br />
relação se refere ao clima <strong>em</strong>ocional que flui das interações, o grau de aceitação,<br />
respeito, afeto mútuo e de diálogo entre os comunicantes, gerando intimidade,<br />
comunicação ou conflito. A aprendizag<strong>em</strong> deriva de um compartilhamento das<br />
experiências dos sujeitos nela implicados. No processo de entrevista pedi que<br />
cada m<strong>em</strong>bro da família falasse sobre como avaliava sua relação com cada<br />
m<strong>em</strong>bro da família.<br />
O vínculo entre pais e filhos se modifica durante o ciclo vital, mas permanece<br />
importante ao longo da vida. Ele reflete o grau de confiança do sujeito no outro<br />
significativo (geralmente, m<strong>em</strong>bros da família), pois se alimenta do apoio e da<br />
proteção que recebe, permanecendo próximo <strong>em</strong>ocionalmente (Liddle e Schwartz,<br />
2002). O vínculo baseado <strong>em</strong> envolvimento, apoio, afeto entre pais e filhos é uma<br />
19
pré-condição para que se identifiqu<strong>em</strong> com os valores dos pais, aumentando a<br />
probabilidade de tê-los como modelos de comportamento (Brook et al, 1990).<br />
Mesmo na adolescência, quando cresc<strong>em</strong> <strong>em</strong> autonomia e aprofundam os laços<br />
com os amigos, os adolescentes permanec<strong>em</strong> conectados com a sua família. É<br />
razoável que haja um afastamento maior dos pais nesse período porque sua<br />
atenção se volta para fora de casa. Contrariamente a um mito dessa fase, o<br />
aumento dos laços sociais do jov<strong>em</strong> e seu desejo por uma maior autonomia não<br />
imped<strong>em</strong> que as relações familiares permaneçam fortes (Brook et al, 1990). O que<br />
se modifica entre a infância e a adolescência é o grau de dependência <strong>em</strong>ocional<br />
que o jov<strong>em</strong> apresenta com relação aos pais.<br />
A categoria modelo refere-se à identificação dos filhos com os pais que ocorre, na<br />
maioria das vezes, de forma inconsciente. Os filhos absorv<strong>em</strong> quaisquer valores<br />
transmitidos pelos pais através de seu comportamento, suas atitudes, sua<br />
expressão de sentimentos na vida cotidiana (Nolte e Harris, 1998). Eles são o seu<br />
primeiro modelo influente. É sobejamente conhecido que uma das formas de<br />
transmissão de valores se dá através da educação familiar, que t<strong>em</strong> como um dos<br />
objetivos a socialização do sujeito. E também é verdade que o amplo universo de<br />
valores sociais é re-elaborado por cada família de forma específica e particular.<br />
Por ex<strong>em</strong>plo: a solidariedade humana pode ser vivida por meio de práticas sociais<br />
mais intensamente por umas famílias que por outras. Os que consideram<br />
relevante este valor tend<strong>em</strong> a (1) se ajudar<strong>em</strong>, se apoiar<strong>em</strong> na saúde e na<br />
doença; (2) respeitam-se mutuamente nas suas diferenças; (3) dão importância ao<br />
20
coletivo, escutam o grupo com respeito e costumam modificar seu ponto de vista a<br />
partir dos diálogos e argumentações.<br />
A questão levantada sobre esse t<strong>em</strong>a diz respeito à visão que os m<strong>em</strong>bros da<br />
família têm sobre isso: seus pais foram modelos de comportamento para você?<br />
Em caso negativo, qu<strong>em</strong> lhe serviu de modelo? Aqui cont<strong>em</strong>plo uma hipótese<br />
deste estudo: o uso de drogas por parte de um dos pais, ou por ambos, comunica<br />
valores familiares conflitantes para os m<strong>em</strong>bros da família.<br />
O estilo de criação dos pais reflete a sua orientação para a criação dos filhos, num<br />
determinado clima <strong>em</strong>ocional. As práticas de criação diz<strong>em</strong> respeito aos<br />
comportamentos que os pais realmente impl<strong>em</strong>entam para fazer valer o seu estilo<br />
de criação.<br />
Educar para a responsabilidade e dar limites são termos que apontam para a<br />
qualidade do uso da autoridade na relação de avós, pais, filhos e netos.<br />
A educação se processa na interação entre a criança, o jov<strong>em</strong> e o adulto <strong>em</strong><br />
convivência. Esse simples conviver transforma e forma as pessoas. A<br />
transformação estrutural 8 que se opera é contingente com essa história cotidiana<br />
intercalada de alguns momentos decisivos. Dois são os períodos fundamentais.<br />
Na infância, a aceitação e a legitimação da criança pelos pais ou pelos adultos<br />
substitutos é fundamental para que ela desenvolva mecanismos de aceitação e<br />
8 Estrutura entendida de acordo com a biologia de Maturana e Varela (1995).<br />
21
espeito a si mesma e a seus s<strong>em</strong>elhantes. Na adolescência, o mundo circundante<br />
é absorvido de forma singular, a partir das vivências no ambiente primário.<br />
O estilo de criação ‘com autoridade’, segundo a definição de Baumrind (1966), é<br />
uma combinação de comportamentos responsivos e d<strong>em</strong>andantes. As<br />
características desses últimos inclu<strong>em</strong>: (a) a colocação de comportamentos claros<br />
e dentro de uma norma familiar; (b) monitoramento e supervisão ativa das<br />
atividades dos filhos; (c) manutenção de uma estrutura e organização diária do<br />
seu cotidiano e (d) d<strong>em</strong>andas maduras voltadas para uma meta consistente com a<br />
fase do desenvolvimento dos filhos. As características dos comportamentos<br />
responsivos inclu<strong>em</strong> ser afetuoso e compreensivo, prover conforto e apoio, estar<br />
envolvido no desenvolvimento acadêmico e social dos filhos e reconhecer suas<br />
realizações (Baumrind, 1966).<br />
O estilo de criação autoritário é pouco responsivo e bastante d<strong>em</strong>andante no<br />
sentido de (a) controle do comportamento, das atitudes e da exigência de<br />
obediência; (b) uso de medidas punitivas usadas visando a restringir o<br />
comportamento e a autonomia como forma de limitar os desejos dos filhos; (c)<br />
pouca comunicação e uma postura comum entre os avós e pais de se julgar<strong>em</strong><br />
detentores da certeza e da autoridade.<br />
O estilo permissivo é muito responsivo e pouco d<strong>em</strong>andante. O progenitor não se<br />
coloca como agente ativo responsável por moldar ou alterar os comportamentos<br />
atuais ou futuros dos filhos. Permite que as próprias crianças regul<strong>em</strong> suas<br />
22
atividades, evita exercer o controle e não as encoraja a obedecer<strong>em</strong> às normas<br />
definidas socialmente. Maccoby e Martin (apud Jackson et al, 1998) subdivid<strong>em</strong> o<br />
estilo permissivo de educação <strong>em</strong> duas formas: o indulgente, <strong>em</strong> que os pais são<br />
mais responsivos que d<strong>em</strong>andantes, e o negligente, que se apresenta<br />
relativamente não d<strong>em</strong>andante e não responsivo.<br />
Minha hipótese é de que o estilo de criação <strong>em</strong>pregado pelos pais – controle ‘com<br />
autoridade’, autoritarismo e permissividade – influencia a aquisição dos valores<br />
familiares. É importante, pois estar atento a como são distribuídas as<br />
responsabilidades, os deveres dentro da família e a como cada um se comporta<br />
quanto a isso. Igualmente é relevante indagar sobre limites e autoridade familiar.<br />
23
SEGUNDA PARTE<br />
ABORDAGEM METODOLÓGICA E OPERACIONALIZAÇÃO<br />
1 – Fundamentação teórica<br />
A teoria básica que informará a análise do probl<strong>em</strong>a da drogadição e da influência<br />
da família será a sistêmico-cibernética. Esta se funda na confluência de diversas<br />
áreas do conhecimento: biologia, mat<strong>em</strong>ática, física, comunicação, entre outras. A<br />
visão sistêmico-cibernética t<strong>em</strong> sua orig<strong>em</strong> na teoria geral dos sist<strong>em</strong>as de<br />
Bertalanffy. Nos idos de 1930 esse biólogo buscou desenvolver princípios que<br />
pudess<strong>em</strong> ser aplicáveis aos sist<strong>em</strong>as <strong>em</strong> geral e à cibernética. Esse último termo<br />
foi cunhado pelo mat<strong>em</strong>ático Wiener, no final da década de 40, para pesquisar os<br />
processos de comunicação e controle, tanto da máquina quanto do animal. Coube<br />
ao grupo do antropólogo Gregory Bateson, que pesquisava o comportamento<br />
esquizofrênico no Mental Research Institute (MRI), na Califórnia, na década de 50,<br />
trazer para a terapia de família as idéias da teoria geral dos sist<strong>em</strong>as e da<br />
cibernética.<br />
Os pesquisadores observaram uma melhora na sintomatologia dos<br />
esquizofrênicos quando internados, situação que regredia quando retornavam a<br />
suas casas. Intrigados com esse comportamento que determinava um grande<br />
número de internações, centraram a atenção na comunicação que ocorria dentro<br />
da família. Constataram que a esquizofrenia era a única resposta possível a um<br />
sist<strong>em</strong>a de comunicação patológica <strong>em</strong> curso. A partir dessas pesquisas, estes<br />
24
pesquisadores mudaram o enfoque do tratamento do indivíduo para as interrelações<br />
da família, com ênfase nas interações e na comunicação entre seus<br />
m<strong>em</strong>bros. Constituíram assim um paradigma “sistêmico”, que enfatiza a<br />
importância fundamental do contexto na formação da doença ou da saúde mental.<br />
Para se entender o indivíduo é preciso observá-lo <strong>em</strong> seu contexto uma vez que<br />
ele se interliga à família, que por usa vez, se interliga ao social, formando assim<br />
uma rede de causalidades múltiplas (Schenker, 2003).<br />
Maurizio Andolfi apóia-se <strong>em</strong> Carter e McGoldrick (1995) ao explicar esta<br />
interligação, dizendo que:<br />
“Cada pessoa faz parte de um sist<strong>em</strong>a plurigeracional que se movimenta no t<strong>em</strong>po<br />
e é condicionado pela influência de eventos sócio-ambientais. O t<strong>em</strong>po do qual<br />
falamos é um t<strong>em</strong>po sócio-cultural, isto é, um período histórico no qual se suced<strong>em</strong><br />
eventos sócio/ambientais/culturais específicos. Este t<strong>em</strong>po movimenta-se sobre<br />
um eixo vertical e outro horizontal. O eixo vertical se compõe de mitos, tabus,<br />
dívidas de lealdade transmitidos de geração a geração. O eixo horizontal abarca o<br />
ciclo de vida familiar, ou seja, os estágios atravessados atualmente por uma família<br />
com eventos previsíveis e imprevisíveis com que a família pode deparar-se e os<br />
recursos que pode dispor no momento. S<strong>em</strong> dúvida alguma, o contexto históricosocial<br />
determina a cultura e por isto influencia a transmissão intergeracional de<br />
modelos culturais familiares” (1996, 23).<br />
Um novo aporte do paradigma sistêmico surge nos primórdios da década de 80,<br />
derivado da cibernética de segunda ord<strong>em</strong> e intitulado Construtivismo. A<br />
cibernética de primeira ord<strong>em</strong> interessa-se, num primeiro momento, pelos<br />
25
mecanismos de manutenção e regulação da estabilidade de organização do<br />
organismo, a homeostase, regida pela retro-alimentação negativa. Assim visto, “os<br />
sist<strong>em</strong>as funcionam com uma meta, um propósito de funcionamento ótimo que<br />
equivale ao equilíbrio” (Rapizo, 1996, 27). Neste sentido, são auto-regulados com<br />
o intuito de corrigir qualquer desvio da meta prevista. A manutenção ou o aumento<br />
do grau de organização de organismos, como o ser humano, ocorre para fazer<br />
face ao aumento da entropia e do caos que poderá levar ao rompimento da<br />
organização, no sentido definido por Maturana e Varela (1995). O padrão mantido<br />
pela homeostase é a pedra de toque da identidade pessoal (Wiener, 1954, 96).<br />
A família, sist<strong>em</strong>a aberto e estável, tendente à constância, funciona<br />
homeostaticamente, de forma que qualquer mudança no seu padrão básico de<br />
relação pode derivar para o caos. O aumento no desvio do padrão conhecido da<br />
família pode resultar <strong>em</strong> entropia, <strong>em</strong> caos, desord<strong>em</strong> e destruição. Os sintomas<br />
são vistos como indicadores homeostáticos. Num segundo momento, a cibernética<br />
de primeira ord<strong>em</strong> interessa-se pelos mecanismos que propiciam mudança e<br />
transformação nos sist<strong>em</strong>as, regidas pela retro-alimentação positiva.<br />
O sist<strong>em</strong>a vivo teria como função, além da homeostase, adaptar-se às situações<br />
de mudanças do meio:<br />
“A mudança, o desvio, a instabilidade foram vistos como o lugar de possíveis<br />
transformações para um sist<strong>em</strong>a, enfatizando-se o seu valor adaptativo como processos<br />
26
que desviam a organização familiar de suas formas habituais favorecendo novas<br />
aprendizagens” (Schnitman, 1987, 118).<br />
A família, sist<strong>em</strong>a aberto, <strong>em</strong> constante movimento, realiza mudanças<br />
espontâneas <strong>em</strong> sua dinâmica particular. Ao lidar com situações inusitadas, cria<br />
alternativas e novas opções, podendo reorganizar algumas de suas regras<br />
básicas. A homeostase é um dos modos da família funcionar. Aqui, o sintoma é<br />
visto como uma questão de coerência da família e de possibilidade de efetuar<br />
mudança. A crise gera um desequilíbrio necessário nos padrões familiares,<br />
aumentando a desord<strong>em</strong> e a incerteza que, <strong>em</strong> geral, costumam levar a um nível<br />
mais elevado de auto-organização.<br />
A compreensão dos sist<strong>em</strong>as familiares requer observar a integração dos<br />
processos de mudança e de manutenção (Schnitman, 1987). Se o observador<br />
estiver interessado nas permanências, “sua observação se volta para as pautas de<br />
interação atuais e para as constrições que mantêm relativa constância, identidade<br />
e predição, assim como aos contextos extra-familiares de estabilização”<br />
(Schnitman, 1987, 123). No caso dos processos de mudança, “a observação se<br />
concentra nas fontes de alternativas ao regime constante, os recursos para a<br />
mudança, as flutuações, a plasticidade, os contextos inovadores <strong>em</strong> que a família<br />
está imersa” (Schnitman, 1987, 123-124).<br />
Desta forma, as famílias se encontram <strong>em</strong> diferentes estágios, segundo o binômio<br />
estabilidade-mudança, que correspond<strong>em</strong> à dinâmica referente a pautas habituais<br />
27
e a flutuações. Nos sist<strong>em</strong>as familiares pod<strong>em</strong> coexistir ambas as pautas de<br />
interação. A transformação ocorre quando as condutas consistentes e regulares<br />
ultrapassam o limiar dado, seja por acaso, seja por intervenções específicas. Uma<br />
indagação importante é saber se os valores sociais e os familiares pod<strong>em</strong> estar a<br />
serviço de pautas de interações estáveis e de mudanças e se os primeiros pod<strong>em</strong><br />
apresentar saltos qualitativos de forma a divergir dos segundos.<br />
Os avanços da cibernética decorr<strong>em</strong> de sua utilização nas áreas humanas e<br />
sociais pela antropologia, sociologia, psiquiatria, neurofisiologia e comunicação,<br />
fazendo com que o seu objeto de estudo se desloque das máquinas artificiais,<br />
construídas pelas mãos humanas, para os sist<strong>em</strong>as auto-organizadores que não<br />
são e também não pod<strong>em</strong> ser organizados de fora (Rapizo, 1996). Von Foerster<br />
(1991) denomina esta nova conceituação teórica de cibernética de segunda<br />
ord<strong>em</strong>.<br />
Interessados no processo de conhecer o conhecer, ou seja, o processo através do<br />
qual o ser vivo conhece, os biólogos Maturana e Varela (1995) estudam o<br />
fenômeno da percepção, chamando a atenção para a sua descontinuidade: “não<br />
v<strong>em</strong>os que não v<strong>em</strong>os” (1995,63). Observam que a experiência de nossa<br />
percepção traz “a marca indelével de nossa própria estrutura” (1995,65). Para<br />
Maturana (1999), a experiência do mundo lá fora é validada pela estrutura<br />
humana, o que significa dizer que um observador participante <strong>em</strong>erge do sist<strong>em</strong>a<br />
enquanto m<strong>em</strong>bro do sist<strong>em</strong>a que observa. Conceituar os seres humanos dessa<br />
forma implica colocar a objetividade entre parênteses, porque a realidade é<br />
28
dependente do observador. Toda e qualquer explicação se baseia nas<br />
experiências que o investigador vivencia ao longo de seu desenvolvimento.<br />
A estrutura do sist<strong>em</strong>a vivo, segundo Maturana e Varela (1995), manifesta-se<br />
através de sua organização, entendida como o conjunto de relações entre os<br />
componentes do sist<strong>em</strong>a de tal forma que ele seja reconhecido como m<strong>em</strong>bro de<br />
uma classe específica: a do sist<strong>em</strong>a vivo, no caso. A estrutura materializa a<br />
organização e se constitui de componentes e de relações efetivas entre os<br />
componentes, numa unidade particular. Nos sist<strong>em</strong>as dinâmicos, como os<br />
sist<strong>em</strong>as vivos, a estrutura varia continuamente. Mudança e invariância refer<strong>em</strong>-se<br />
respectivamente à estrutura e à organização desse sist<strong>em</strong>a vivo. Os autores<br />
observam que os seres vivos – sist<strong>em</strong>as de organização circular – compõ<strong>em</strong>-se<br />
de redes e interações que se produz<strong>em</strong> continuamente a si mesmas,<br />
especificando os seus próprios limites. São, portanto, dotados de uma<br />
organização autopoiética. Uma das características principais dos seres vivos é a<br />
sua autonomia. São regidos por leis próprias, graças à sua organização<br />
autopoiética, onde o ser e o fazer são inseparáveis. Vale notar que pode haver<br />
mudanças estruturais numa determinada unidade, s<strong>em</strong> que a sua organização se<br />
perca. A mudança estrutural é desencadeada pelas interações com o meio <strong>em</strong><br />
que se encontra e pela sua dinâmica interna (Maturana e Varela, 1995).<br />
Uma determinada organização social, sustentada por seus preceitos, valores e<br />
paradigmas, permanece invariante durante um longo período de sua história,<br />
sendo instigada à mudança por meio de interferências efetuadas por seus<br />
29
m<strong>em</strong>bros, pelos mais variados motivos. Entretanto, essas interferências funcionam<br />
como agentes perturbadores e somente desencadeiam processos: não os<br />
determinam e n<strong>em</strong> os informam, não sendo, portanto, uma interação instrutiva que<br />
especifica o que ocorrerá no sist<strong>em</strong>a, já que não se pode determinar a sua direção<br />
a não ser desde a sua própria coerência. O mesmo vale com relação ao meio. As<br />
mudanças nesta interação são determinadas pela estrutura do sist<strong>em</strong>a<br />
perturbado. O ser vivo é uma fonte de perturbações e não de instruções.<br />
O resultado das interações estabelecidas a partir de um domínio de coordenações<br />
consensuais de ações será uma história de mudanças estruturais mútuas, um<br />
acoplamento estrutural. Este acoplamento ocorre a partir de interações com os<br />
el<strong>em</strong>entos que não destruam a autopoiese, ou seja, os el<strong>em</strong>entos que se<br />
coorden<strong>em</strong> com a filogenia, a história de transformações tanto do sist<strong>em</strong>a vivo<br />
quanto do meio. Para que o acoplamento estrutural se dê é necessário, também,<br />
uma compatibilidade, uma adaptação entre o ser vivo e o meio.<br />
É importante ressaltar que as mudanças estruturais ocorr<strong>em</strong> reciprocamente no<br />
ser vivo e no meio porque ambos mantêm uma congruência. O curso de<br />
mudanças estruturais espontâneas se constrói de forma contingente com a<br />
história das interações do ser vivo. Essa é a base para a aprendizag<strong>em</strong>. Por<br />
ex<strong>em</strong>plo, dependendo da escola que a criança freqüenta, ela crescerá de uma<br />
determinada maneira, evidenciando as habilidades que adquiriu. Criada <strong>em</strong> outras<br />
circunstâncias, outros atributos serão desenvolvidos (Maturana, 1999). É na<br />
história de convivência de um indivíduo que se constrói o seu “<strong>em</strong>ocionar”<br />
30
(conforme detalhado a seguir) e o seu viver congruente com o <strong>em</strong>ocionar dos<br />
outros seres com qu<strong>em</strong> convive.<br />
Toda variação resulta de formas diferentes de ser no mundo, uma vez que é a<br />
estrutura do ser vivo que determina a sua interação com o ambiente. Os sist<strong>em</strong>as<br />
autopoiéticos operam <strong>em</strong> clausura operacional à medida que sua identidade se<br />
especifica por meio de uma rede de processos dinâmicos que não sa<strong>em</strong> desta<br />
rede. Esta clausura também diz respeito à informação, que passa a funcionar<br />
como algo que faz sentido para um determinado sist<strong>em</strong>a, ao invés de ser algo prédefinido<br />
(Rapizo, 1996).<br />
Ao se conceituar os sist<strong>em</strong>as vivos como auto-organizadores cai por terra a<br />
distinção entre observador e observado (Rapizo, 1996). A partir desse<br />
pressuposto, a cibernética se transforma <strong>em</strong> epist<strong>em</strong>ologia, passando a se ocupar<br />
das possibilidades e limites do conhecimento. A característica principal dessa<br />
nova epist<strong>em</strong>ologia intitulada “Construtivismo” é a interdependência entre o<br />
observador e o universo por ele observado. Sendo uma teoria do conhecimento<br />
ativo, o construtivismo propõe a inseparabilidade entre o sujeito conhecedor e o<br />
objeto conhecido, uma vez que considera o significado não como propriedade<br />
inerente aos objetos, mas um produto da atividade humana (Grandesso, 2000,<br />
57).<br />
Os sist<strong>em</strong>as auto-organizadores, além de ser<strong>em</strong> autônomos, são auto-referentes,<br />
isto é, se refer<strong>em</strong> a si mesmos como objeto, voltando-se recursivamente sobre si<br />
31
próprios: tudo o que o observador conhece, conhece a partir de si e, portanto,<br />
quando descreve ou interpreta, também fala de si. “Tudo o que é dito é dito por um<br />
observador para outro que pode ser ele mesmo” (Maturana et al, 2002a, 34). Não<br />
há, pois, conhecimento como representação de algo externo: ele é uma<br />
construção para a qual o principal operador é o próprio sujeito. Entende-se que<br />
não há uma objetividade do conhecimento fora da subjetividade e as perguntas a<br />
ser<strong>em</strong> feitas diz<strong>em</strong> respeito àquele que conhece e não mais, apenas, à realidade.<br />
Desta forma, o observador t<strong>em</strong> certezas e faz afirmações a partir de si próprio, de<br />
dentro de seu campo e do compartilhar com seus pares. “Há tantos mundos<br />
quanto observadores... tantas configurações quanto comunidades de<br />
observadores que as definam e valid<strong>em</strong> como tal” (Rapizo, 1996, 38). Portanto, a<br />
observação do outro é tão legítima quanto a do próprio sujeito. E as explicações<br />
são reformulações da experiência aceitas por um observador. Então, “há tantos<br />
explicares diferentes quantos modos de escutar e aceitar reformulações da<br />
experiência” (Maturana, 2001, 30). “A cada um de nós acontece algo nas<br />
interações que diz respeito a nós mesmos, e não com o outro. E o que vocês<br />
escutam do que eu digo t<strong>em</strong> a ver com vocês e não comigo. Eu sou<br />
maravilhosamente irresponsável sobre o que vocês escutam, mas sou totalmente<br />
responsável sobre o que eu digo” (Maturana, 2001, 75).<br />
Nas perspectivas assinaladas, o conhecer é entendido como uma atividade<br />
circular que engloba ação e conhecimento, conhecedor e conhecido num círculo<br />
indissociável: “a ética, fundamentada desta forma, implica a legitimação da<br />
32
existência do outro e a responsabilidade pelo agir e interatuar com ele” (Rapizo,<br />
1996, 41).<br />
Nessa abordag<strong>em</strong> metodológica, sigo a concepção de Maturana (1999, 2002b),<br />
referente ao binômio razão e <strong>em</strong>oção: o humano se constitui no entrelaçamento<br />
do <strong>em</strong>ocional com o racional na linguag<strong>em</strong>: todo sist<strong>em</strong>a racional t<strong>em</strong> um<br />
fundamento <strong>em</strong>ocional. A <strong>em</strong>oção é entendida como disposições corporais que<br />
especificam domínios de ação que operam num determinado instante. O<br />
<strong>em</strong>ocionar é o fluir de um domínio de ações a outro 9 . É a <strong>em</strong>oção e não a razão<br />
que leva à ação. A mudança de <strong>em</strong>oção implica na mudança de domínio de ação<br />
(Maturana et al, 2002b, 170). Assim também funcionam as ideologias, já que se<br />
baseiam <strong>em</strong> pr<strong>em</strong>issas aceitas, de forma consciente ou inconsciente, como<br />
válidas. O campo de aceitação de tais princípios é o <strong>em</strong>ocional e não o racional.<br />
“Cada vez que escutamos alguém dizer que ele ou ela é racional e não <strong>em</strong>ocional,<br />
pod<strong>em</strong>os escutar o eco da <strong>em</strong>oção que está sob essa afirmação, <strong>em</strong> termos de<br />
um desejo de ser ou de obter” (Maturana, 1999, 23).<br />
Pr<strong>em</strong>issasEmoçãoDesejos. Ou ainda, por ex<strong>em</strong>plo, quando duas pessoas<br />
estão irritadas ou muito <strong>em</strong>ocionadas por algum impacto <strong>em</strong> suas vidas é possível<br />
dizer: “esqueçam o que disseram porque quando a situação ou a raiva passar, vão<br />
dizer outra coisa”.<br />
9 Nesta pesquisa haverá um ex<strong>em</strong>plo muito claro <strong>em</strong> que essas pr<strong>em</strong>issas se evidenciam, quando numa<br />
entrevista (descrita na terceira parte) Renato, um usuário de drogas, e sua irmã Ana, não consegu<strong>em</strong> mais<br />
verbalizar alternativas para seu futuro, por causa da raiva que se manifestou entre ambos.<br />
33
Com base na biologia, Maturana (1999,15-25) aponta para a <strong>em</strong>oção que funda o<br />
modo de vida na convivência: o amor. Ele constitui o domínio de ações que, a<br />
partir da interação recorrente com outra pessoa, a torna legítima na convivência.<br />
Já a agressão restringe a convivência. O autor ex<strong>em</strong>plifica: o sist<strong>em</strong>a imunológico<br />
de uma criança é conformado de acordo com as relações estabelecidas<br />
inicialmente com a mãe. As modificações imunológicas para a saúde geralmente<br />
se dão concomitant<strong>em</strong>ente com as mudanças na relação com a mãe ou com os<br />
adultos substitutos. As reconstituições irão depender da duração da história de<br />
rejeição impressa naquela relação (Maturana et al, 2002a, 49). A maior parte do<br />
sofrimento humano provém da negação do amor. Numa relação de apego ou<br />
desejo de posse, ocorre uma negação mútua dos atores. O amor é o nascedouro<br />
da linguag<strong>em</strong> porque permite uma história de interações suficient<strong>em</strong>ente<br />
recorrentes. E a linguag<strong>em</strong> ocorre no espaço das relações, no fluir das<br />
coordenações consensuais de ação, não se constituindo, portanto, como uma<br />
propriedade intrínseca do humano (Maturana, 2001, 13). O significado das<br />
palavras se refere às ações que elas coordenam. Basta olhar o dicionário para<br />
constatar que as palavras estão definidas no domínio das ações (Maturana, 2001,<br />
88).<br />
Os seres humanos conectam-se através da linguag<strong>em</strong> e cada um deles provém<br />
de um determinado contexto sócio-cultural. Mas de acordo com o conceito da<br />
auto-referência, o indivíduo constrói a linguag<strong>em</strong> e é construído por ela. Nesse<br />
paradigma, indivíduos e sociedade são “mutuamente gerativos” porque os<br />
primeiros, <strong>em</strong> interação, constitu<strong>em</strong> o social que, por sua vez, é o meio no qual<br />
34
eles se realizam como pessoas. A constituição do indivíduo e a dinâmica de<br />
constituição do social são interdependentes, no sentido de ser<strong>em</strong><br />
“interconstituintes”. “O ponto é que se é indivíduo na medida <strong>em</strong> que se é social, e<br />
o social surge na medida <strong>em</strong> que seus componentes são indivíduos”, no dizer de<br />
Maturana (Maturana et al, 2002a, 43). Portanto, tanto os indivíduos quanto o meio<br />
social operam reciprocamente como seletores de mudança estrutural mútua.<br />
“O ser humano é constitutivamente social. Não existe o humano fora do social. O<br />
genético não determina o humano, apenas funda o humanizável. Para ser humano<br />
é necessário crescer humano entre os humanos” (Maturana et al, 2002c, 205-<br />
206). Então, os valores impl<strong>em</strong>entados socialmente são seguidos pelos indivíduos<br />
e vice-versa.<br />
Por que é importante pensar a família nesse paradigma? Porque o que a define é<br />
a conservação de uma rede de conversações, ou seja, de coordenações de ações<br />
e <strong>em</strong>oções (Maturana et al, 2002d, 333). Os m<strong>em</strong>bros da família cresc<strong>em</strong> e se<br />
constro<strong>em</strong> a partir desse fluir de conversações, desse modo de existir<br />
compartilhado, onde o importante é como se vive no <strong>em</strong>ocionar e não o conteúdo<br />
do que se fala. Como se apresentam os momentos <strong>em</strong> família? Ternos,<br />
carinhosos ou distantes e frios? “Tudo isso vai ter conseqüências no<br />
desenvolvimento do sist<strong>em</strong>a nervoso, do sist<strong>em</strong>a imunitário do menino, da<br />
menina, do bebê” (Maturana et al, 2002d, 334). E esse ser <strong>em</strong> formação<br />
conservará, de alguma forma, essa parte da história no seu viver.<br />
35
Aliada a abordag<strong>em</strong> de Maturana, apóio-me, também, nas reflexões de Edgard<br />
Morin (1995,73) para qu<strong>em</strong> “há uma profunda consciência da distinção e ao<br />
mesmo t<strong>em</strong>po uma raiz comum entre conhecimento, cultura e sociedade”. O ser<br />
humano conhece por meio de si, para si e na dependência de si como também por<br />
meio, para e na dependência de sua família, suas raízes culturais e da sociedade<br />
onde vive.<br />
As pr<strong>em</strong>issas da cibernética de segunda ord<strong>em</strong> levam a uma reflexão sobre a<br />
responsabilidade e a ética. A auto-organização dos sist<strong>em</strong>as vivos implica uma<br />
autonomia e uma auto-referência, de forma que o sujeito descobre e co-constrói a<br />
realidade que o cerca, comprometendo-se e se responsabilizando pelas<br />
construções efetuadas. Enquanto ator participante da interação, vista como<br />
interdependente, só pode dizer a si mesmo, como pensar e atuar: e esta é a<br />
orig<strong>em</strong> da ética.<br />
Esta forma de encaixar-se no mundo revela uma postura respeitosa com todo e<br />
qualquer ser humano. Isso traz conseqüências, inclusive, para mim como<br />
pesquisadora. Ao investigar se há relação entre drogadição e valores familiares,<br />
estou ciente de que não exist<strong>em</strong> verdades, e sim, formas diversas de se perceber<br />
e estar no mundo s<strong>em</strong>pre co-construídas na interação com o outro. As interações<br />
e a linguag<strong>em</strong> compartilhada faz<strong>em</strong> a sociedade e fundamentam as relações entre<br />
os seres humanos. É desta forma que entro para analisar, pesquisar e extrair<br />
conclusões deste estudo, conclusões estas s<strong>em</strong>pre referentes ao contexto e ao<br />
momento histórico que compartilho com meus entrevistados.<br />
36
2. Natureza da Pesquisa<br />
Esse modo de olhar complexo e fundamentado na teoria sistêmica me foi,<br />
operacionalmente, propiciado pelo estudo qualitativo sobre os valores familiares<br />
de nove famílias que possu<strong>em</strong> um m<strong>em</strong>bro que faz ou tenha feito uso abusivo de<br />
drogas. Minha proposta original foi efetuar um estudo comparativo dessas famílias<br />
com outras que não tivess<strong>em</strong> entre seus m<strong>em</strong>bros um adicto, dentro das mesmas<br />
características sociais e culturais. No entanto, não consegui constituir esse “grupo<br />
controle”. Contactei famílias com adictos <strong>em</strong> alguns centros de tratamento para o<br />
uso abusivo de drogas.<br />
Quase a totalidade das famílias de que me aproximei num dos centros de<br />
tratamento, visando explicar os objetivos e avaliar a viabilidade de sua<br />
participação, interessou-se pelo meu estudo como uma forma de ser ajudada na<br />
sua questão com o adicto. Isto denota que as famílias entrevistadas encontravamse<br />
razoavelmente motivadas para a mudança. Foi assim que consegui o grupo de<br />
famílias que pretendia como foco da pesquisa.<br />
Sobre o “grupo controle”, desde o início encontrei dificuldades: onde localizar<br />
essas famílias? Iniciei meus esforços, conversando com pessoas conhecidas nos<br />
centros de tratamento e todas me falaram sobre a inviabilidade da aquiescência<br />
delas, a partir de três fatores: as famílias não percebiam o que poderiam lucrar,<br />
<strong>em</strong> benefício próprio, a partir de um estudo dessa natureza; elas não seriam<br />
37
<strong>em</strong>uneradas pela entrevista; e não há uma cultura de pesquisa fora do mundo<br />
acadêmico, de forma que não soa familiar a participação nesse tipo de estudo.<br />
Cheguei a ir à casa de uma família de classe média, s<strong>em</strong> adictos, para falar sobre<br />
a pesquisa. Mas a mãe só estava interessada <strong>em</strong> me mostrar os trabalhos que os<br />
filhos haviam feito sobre o assunto das drogas na escola. Por isso desisti e fiquei<br />
apenas com o grupo <strong>em</strong> que há ou houve jovens adictos. A desistência das<br />
famílias s<strong>em</strong> m<strong>em</strong>bros adictos impossibilitou possíveis comparações entre os dois<br />
grupos de famílias com relação às três categorias estudadas. Quais s<strong>em</strong>elhanças<br />
e quais diferenças eu encontraria?<br />
Voltei a minha atenção para o grupo de famílias com adictos. Inicialmente, minha<br />
intenção era realizar a investigação no Núcleo de Estudos e Pesquisas <strong>em</strong><br />
Atenção ao Uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –<br />
Nepad/Uerj, Instituição pública <strong>em</strong> que trabalho como terapeuta de família. Um<br />
incêndio no prédio do Nepad fez com que saísse à procura de outra Instituição<br />
que tivesse uma clientela e uma organização do serviço s<strong>em</strong>elhante. Busquei o<br />
Centro Estadual de Tratamento e Reabilitação de Adictos da Secretaria de Estado<br />
de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro – Centra-Rio que, na figura de<br />
sua diretora Dra. Anna Simões, antiga colega de trabalho do Nepad, me abriu as<br />
portas para a pesquisa.<br />
Meu interesse era estudar famílias de camadas médias da população por se<br />
aproximar<strong>em</strong> do meu contexto sócio-cultural quanto aos valores e à sua<br />
impl<strong>em</strong>entação através das gerações. Entretanto, as famílias de camadas médias<br />
38
não constitu<strong>em</strong> a maioria nos centros públicos de atendimento. Por isso, resolvi<br />
visitar também outras Instituições. S<strong>em</strong>pre fui b<strong>em</strong> recebida, mas não consegui<br />
ampliar minha amostra com as características de que precisava para a pesquisa.<br />
Consegui oito famílias no Centra-Rio e a nona família veio indicada pelo Nepad.<br />
Busquei homogeneizar o grupo para o estudo a partir das seguintes<br />
características: três gerações que tivess<strong>em</strong> pelo menos um dos avós, materno ou<br />
paterno, o casal parental ou no caso de pais separados, aquele com qu<strong>em</strong> os<br />
filhos moram, e os filhos, incluindo-se aí, o adicto. A investigação se deu com:<br />
a) famílias geridas por somente um dos pais.<br />
b) famílias cujos pais casaram-se uma vez e moram junto com os<br />
filhos.<br />
c) famílias cujos pais se separaram, recasaram e constituíram novas<br />
uniões nucleares.<br />
Tentei s<strong>em</strong>pre trazer o pai ou a mãe, mesmo quando separados de seus excônjuges,<br />
para a discussão. Entrevistei nove famílias obedecendo ao critério de<br />
saturação das informações necessárias para o estudo (Minayo, 2000).<br />
Identifiquei a família de camadas médias urbanas por meio das seguintes<br />
características:<br />
39
Renda familiar entre 10 a 20 salários mínimos, segundo o critério do<br />
<strong>Instituto</strong> Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 10 . Considerei renda<br />
familiar a dos pais e dos avós no caso desse últimos contribuír<strong>em</strong> para o<br />
sustento da casa dos filhos e netos.<br />
Escolaridade – segundo grau completo ou incompleto para os usuários.<br />
Segundo grau ou universitário completo ou incompleto para os pais.<br />
Primeiro grau incompleto ou completo para os avós 11 .<br />
Ocupação – trabalho formal (incluindo aposentadoria) ou informal dos pais.<br />
3. Método de Abordag<strong>em</strong><br />
Desenvolvi o estudo a partir de uma entrevista s<strong>em</strong>i-estruturada com perguntas<br />
orientadas por um roteiro pré-estabelecido, construído a partir das hipóteses<br />
formuladas na pesquisa 12 . Gravei, com a permissão dos informantes, as<br />
entrevistas com todos os participantes da família reunidos, sendo que a maioria<br />
delas foi efetuada nos fins de s<strong>em</strong>ana na casa das famílias. Algumas tiveram<br />
como cenário o próprio Centra-Rio.<br />
10 Site: www.ibge.gov.br, acessado <strong>em</strong> 16 de nov<strong>em</strong>bro de 2002. Pesquisa Nacional por Amostra de<br />
Domicílios – 2001. O salário mínimo era de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) no ano que efetuei as<br />
entrevistas <strong>em</strong> 2003.<br />
11 Entrevistei uma família <strong>em</strong> que o usuário tinha o primeiro grau incompleto buscando entender, se possível,<br />
o por quê daquela discrepância <strong>em</strong> sua família. O usuário, de 30 anos, considera que o uso abusivo das drogas<br />
o atrasou muito e diluiu o seu patrimônio. Diz: “quando eu acordei, eu já estava com 20 anos e estava na 5 a .<br />
série, 6 a . incompleta. Eu falei: caramba! não tinha muito que sonhar, tinha que trabalhar”.<br />
12 Vide o Apêndice IV. A entrevista estruturada da dissertação de mestrado de Caldeira (1999) me auxiliou na<br />
formulação das minhas perguntas. As entrevistas foram transcritas e pagas com o auxílio Capes para pósgraduação<br />
do IFF/<strong>Fiocruz</strong>, por duas profissionais e três estagiárias do Setor de Família do Nepad/Uerj e por<br />
uma profissional particular. Escutei as fitas e revi a transcrição de cada família.<br />
40
Antes do início da entrevista, solicitei o consentimento por escrito dos<br />
entrevistados de acordo com um termo de consentimento para cada participante<br />
das famílias 13 .<br />
4. Operacionalização<br />
Fiz as entrevistas pela abordag<strong>em</strong> sistêmica que me possibilitou: (1) Observar o<br />
clima <strong>em</strong>ocional entre os componentes de cada família, importante para a análise<br />
dos vínculos familiares. (2) Trabalhar com a dinâmica das interações entre os<br />
familiares quando as respostas sobre qualquer t<strong>em</strong>a se mostravam conflitantes,<br />
ou não; entrevistar o grupo familiar <strong>em</strong> sua relação sistêmica e não somente cada<br />
indivíduo. (3) Buscar contextualizar não só os valores familiares como melhor<br />
legitimar o discurso de cada m<strong>em</strong>bro da família quanto ao conteúdo do que eu<br />
perguntava e à forma que esse discurso ganhava quando incluído na circularidade<br />
das inter-relações familiares comigo.<br />
Privilegiei diferentes t<strong>em</strong>as nas três categorias norteadoras do estudo: com<br />
relação a valores familiares, os ensinamentos considerados importantes, a ser<strong>em</strong><br />
passados para filhos e netos, b<strong>em</strong> como os significados do conceito família. No<br />
âmbito do conflito entre gerações pesquisei a forma de organização da família, os<br />
sonhos e os modelos de comportamento. Finalmente, no domínio do processo<br />
educativo investiguei o estilo de educação, a colocação de limites e as figuras de<br />
autoridade na família.<br />
13 Vide o Apêndice V.<br />
41
Também analisei as informações através do <strong>em</strong>basamento sistêmico, por meio da<br />
hermenêutica, que na sua essência visa à compreensão e que abre espaço à<br />
interpretação (Minayo, 2000). A análise qualitativa dos resultados decorreu “do<br />
campo da intersubjetividade, na medida <strong>em</strong> que pod<strong>em</strong> ser definidos como<br />
produto da ação conjunta entre o pesquisador e os participantes da pesquisa”<br />
(Grandesso, 2000, 301).<br />
Na elaboração deste trabalho, descrevi os valores familiares a partir dos t<strong>em</strong>as<br />
relevantes <strong>em</strong>ergidos da comunicação interativa entre os participantes do sist<strong>em</strong>a<br />
familiar na conversa comigo. Esta análise é apresentada <strong>em</strong> eixos que<br />
cont<strong>em</strong>plam as hipóteses estudadas. Utilizei três dimensões 14 para a<br />
operacionalização dos t<strong>em</strong>as que compõ<strong>em</strong> o primeiro bloco da entrevista:<br />
Opinião – o que é pensado sobre os princípios do valor <strong>em</strong> questão.<br />
Comportamento – a prática dos princípios.<br />
Expectativa – antecipação quanto à mudança dos princípios.<br />
Nos dois blocos seguintes, utilizei as mesmas três dimensões alternadamente.<br />
Efetuei a coleta de informações no período de maio a dez<strong>em</strong>bro de 2003. As<br />
entrevistas foram realizadas por mim. Considerei importante não me valer de um<br />
auxiliar de pesquisa por causa das pr<strong>em</strong>issas do método que adotei para a<br />
investigação, cujos el<strong>em</strong>entos centrais explicitei anteriormente.<br />
14 Essas dimensões se ass<strong>em</strong>elham às estudadas por Ribeiro e Ribeiro (1993).<br />
42
Apesar de saber que os m<strong>em</strong>bros de cada família constro<strong>em</strong> um universo<br />
singular, a partir de seus princípios e práticas idiossincráticas, optei por descrever<br />
e analisar quatro das nove famílias obedecendo aos seguintes critérios:<br />
(a) Saturação das informações importantes para a pesquisa (Minayo, 2000).<br />
(b) Consideração das três organizações de família descritas na “Natureza da<br />
Pesquisa”.<br />
(c) Riqueza de informações e detalhes perpassando a dinâmica das três<br />
gerações.<br />
Além destes, excluí uma das famílias entrevistadas por não obedecer ao critério<br />
de “renda familiar” da pesquisa, por mais que eu procurasse somar, <strong>em</strong> vão, todos<br />
os rendimentos dos m<strong>em</strong>bros da família que compunham o sustento familiar.<br />
A análise das informações coletadas foi efetuada no período de março a set<strong>em</strong>bro<br />
de 2004. A elaboração final corresponde a esta tese, construída numa dialética<br />
entre o diálogo com as teorias, as intuições da prática com as hipóteses iniciais e<br />
as informações <strong>em</strong>ergidas da interação com as famílias.<br />
43
TERCEIRA PARTE<br />
TRAJETÓRIAS DAS FAMÍLIAS<br />
1. A Família Zoar<br />
1.1.Contextualização<br />
Escolhi nomear essa família como Zoar por ser esse termo uma forma freqüente<br />
do usuário (Renato) se referir ao que gosta de fazer na vida. Zoar significa para<br />
ele: “beber, jogar sinuca, conversar com os amigos no bar, conhecer gente nova,<br />
dançar, ir a um show é isso tudo, zoar”. Os gostos desse rapaz são o contraponto<br />
para as opiniões de sua mãe sobre o t<strong>em</strong>a.<br />
A família Zoar mora na zona sul do Rio de Janeiro e se constitui de uma avó<br />
materna, Dona Janina, com 89 anos, a mãe de 58 anos, Sônia, o usuário Renato<br />
de 18 anos e sua irmã de 17 anos, Ana. A família é de Manaus e parte dela<br />
migrou para o Rio de Janeiro à época da escolarização dos filhos. A partir daí<br />
houve uma cisão no casamento dos avós, tendo ela se mudado para o Rio e ele<br />
permanecido <strong>em</strong> Manaus. A avó vive atualmente mais t<strong>em</strong>po com a outra filha <strong>em</strong><br />
Niterói, no entanto, teve presença ativa na formação dos netos.<br />
A família me recebeu num fim de tarde de domingo, dia de um jogo de futebol,<br />
lazer que interessa muito ao usuário. Sentamo-nos ao redor da mesa de jantar<br />
para a entrevista. L<strong>em</strong>bro-me que à minha direita estava a irmã, a mãe colocou-se<br />
44
na cabeceira, a avó e o usuário, postaram-se à minha frente. Todos me acolheram<br />
de forma generosa, prontos a auxiliar<strong>em</strong> no desenvolvimento do trabalho.<br />
A avó me pareceu frágil pelo corpo pequenino, a mãe muito branca, de olhos<br />
claros e os filhos fisicamente distintos dela: mais morenos, de olhos escuros e de<br />
feições que a mim não l<strong>em</strong>bram o rosto da mãe. Renato é alto e corpulento: o<br />
corpo grande e a cabeça pequena.<br />
O grau de escolaridade dos m<strong>em</strong>bros da família é variado: a avó materna fez o<br />
curso normal; a mãe fez a faculdade de História; Renato t<strong>em</strong> o segundo grau<br />
incompleto porque parou de estudar; e sua irmã, Ana, cursa ainda o segundo<br />
grau.<br />
Família de classe média, sua renda gira <strong>em</strong> torno de R$ 3500,00 assim divididos:<br />
R$ 2000,00 são provenientes de aposentadoria da avó como professora;<br />
R$1500,00 se refer<strong>em</strong> à pensão que a mãe recebe do segundo companheiro, pai<br />
de Renato e Ana, e à venda de coco, atividade que a mãe pratica para completar<br />
o orçamento. O rapaz vende coco para a mãe nas manhãs de domingo ganhando<br />
por isso R$ 30,00.<br />
A pergunta que norteia o meu estudo é a influência, ou não, dos valores familiares<br />
sobre o uso abusivo de drogas. Por isso, é por este assunto que inicio a narrativa.<br />
45
Entre 12 e 13 anos, Renato começou a fumar maconha. Diz que usou essa droga<br />
por quase um ano, deu baforada <strong>em</strong> cola de sapateiro e <strong>em</strong> benzina. Mas não<br />
gostou dos inalantes. Experimentou, a seguir, haxixe e cocaína. Refere que, com<br />
17 anos, cheirava todos os dias, roubava dinheiro da mãe, que “dava mole”.<br />
Passou a roubar para cheirar e diz que pretendia montar um negócio de drogas<br />
com um amigo que acabou preso. Renato também foi preso com maconha e<br />
encaminhado pelo juiz para tratamento no Nepad, onde continua se tratando.<br />
Hoje, com 18 anos, usa cocaína uma vez por s<strong>em</strong>ana <strong>em</strong> quantidade b<strong>em</strong> menor<br />
do que antes. Mas bebe muito, hábito que iniciou aos 8 anos de idade e fuma<br />
muito tabaco. Comenta que gostaria de abandonar o cigarro.<br />
Logo no início, quando Renato tinha 12 anos, Sônia descobriu que seu filho usava<br />
maconha. Não coabitava com o pai dos meninos, mas chamou-o para interceder<br />
na questão. O pai, ao conversar com o filho, recolhe a droga, joga-a na privada,<br />
mas conta ao menino que ele próprio fumara maconha até os seus 20 anos de<br />
idade. Além de pedir auxílio do ex-companheiro, logo que percebeu os hábitos<br />
compulsivos do filho, a mãe procurou tratamento para ele no Centra-Rio. Mas<br />
Renato passou pouco t<strong>em</strong>po lá. Quando iniciou o uso de cocaína, a mãe quis<br />
interná-lo na Vila Serena. Mas não o fez porque – o filho informa – “não quis ficar<br />
enjaulado” na Instituição.<br />
Referindo-se à mãe, Renato diz que ela é careta <strong>em</strong> relação ao pessoal da<br />
geração dela que era “todo louco”. Tece comentários sobre o uso de drogas à<br />
época da juventude de Sônia, entre as décadas de 60 e 70, reproduzindo a “lenda”<br />
46
de um t<strong>em</strong>po áureo <strong>em</strong> que utopias se misturam a ideologias de paz e amor,<br />
conforme a descrição de Gilberto Velho (1993).<br />
Carlos Alberto Plastino sublinha que as conseqüências do imaginário social<br />
individualista da atualidade, época dos jovens das famílias do estudo, se<br />
configuram num “mal estar específico na sociedade cont<strong>em</strong>porânea” (2000,23),<br />
terreno fértil para a expansão de atitudes e condutas narcísicas que se<br />
contrapõ<strong>em</strong> às marcadas pela solidariedade. Uma idéia norteadora do<br />
consumismo é deixar o consumidor insatisfeito para que busque consumir mais;<br />
outra é criar outras necessidades subjetivas para que novas mercadorias possam<br />
ser apreciadas.<br />
Sob essa ótica, o consumo de drogas segue o modismo que varia de acordo com<br />
a importância ilusória da mercadoria mais valorizada no momento pela sociedade<br />
como, por ex<strong>em</strong>plo, uma profissão que dê prestígio e muito dinheiro,<br />
aparent<strong>em</strong>ente s<strong>em</strong> esforço próprio. Ao responder à pergunta sobre sua<br />
independência, Renato diz que se fosse para “se dar b<strong>em</strong> na vida logo direto” só<br />
se “ganhasse na loteria” para abrir um negócio, colocar pessoas trabalhando para<br />
ele, porque assim ficaria “só de patrão”.<br />
Para Renato, o mercado de drogas ilícitas também significa glamour, status e<br />
aventuras para ganhar muito dinheiro. Ele conta que inicialmente roubava no<br />
asfalto e trocava a mercadoria no morro por dinheiro para o consumo de drogas.<br />
Depois juntou-se a um amigo que praticava assalto à mão armada e que acabou<br />
47
preso. Sua afoiteza, no entanto, pára aí. Considera que foi bom não ter<strong>em</strong><br />
conseguido se aliar numa <strong>em</strong>presa para o crime, “porque a gente ia se meter num<br />
buraco maior ainda, ia começar um negócio de passar as drogas para ter um<br />
dinheiro mais forte. Tinha mina [garotas] no meio também, tudo no seu esqu<strong>em</strong>a”.<br />
Além dos comentários sobre o uso de drogas na geração de seus pais, no relato<br />
de Renato destacam-se dois pontos relativos a eles. O primeiro, a procura de<br />
ajuda por parte da mãe, buscando o apoio do marido e de instâncias de<br />
tratamento para o filho. No entanto, seu esforço só t<strong>em</strong> êxito quando a justiça<br />
ocupa o lugar da autoridade. À época da entrevista, mãe e usuário estavam<br />
engajados <strong>em</strong> terapia individual no Nepad. O segundo ponto diz respeito à figura<br />
do pai quase ausente. Sua imag<strong>em</strong> é invocada apenas uma vez, para dar<br />
continência ao filho num momento crucial da pré-adolescência. Seu gesto inicial<br />
de autoridade que “lança à privada o cigarro de maconha” é seguido pela<br />
confissão de queda num processo adictivo similar ao do filho. Com que intenção<br />
teria ele produzido essa identificação num momento tão crucial?<br />
1.2. Valores familiares<br />
No caso da família de Renato, qu<strong>em</strong> primeiro fala é sua avó. Dona Janina diz que<br />
s<strong>em</strong>pre considerou importante passar para seus filhos e netos os princípios do ser<br />
mais do que os do ter. Esse conceito é explicado por ela como o sentido da<br />
estética, da moral e dos atos que respeit<strong>em</strong> a vida. No entanto, acredita que não<br />
teve o êxito esperado: “efeitos econômicos e de estabilidade de vida”. Parece que<br />
o ter para a avó incluiu o trabalho como fonte de sofrimento, porque fala de sua<br />
48
vida difícil, de muito trabalho e comenta que ela própria não conseguiu colocar <strong>em</strong><br />
prática os princípios que quis transmitir aos filhos e netos. De um lado, o lugar<br />
instituído tradicionalmente da mulher cuidadora da casa e dos filhos lhe era muito<br />
penoso. E de outro, lamenta não ter conseguido que seus filhos atingiss<strong>em</strong><br />
independência financeira. Daí sua frustração quanto à distância entre seus sonhos<br />
e a realidade que vivencia: todos os seus filhos têm dificuldades <strong>em</strong> se manter por<br />
conta própria. Sua filha, Sônia, por ex<strong>em</strong>plo, é muito culta, formada <strong>em</strong> história.<br />
Porém nunca conseguiu sustentar n<strong>em</strong> a si e n<strong>em</strong> a casa. Quanto aos netos, a<br />
situação é pior.<br />
Sônia, a mãe de Renato, valoriza a honestidade consigo mesma e com os outros<br />
e o conhecimento, entendido como instrução, estudo e escolaridade. Entretanto,<br />
não foi b<strong>em</strong> sucedida: os filhos são o oposto do que ela gostaria que foss<strong>em</strong>.<br />
Comenta que lhes ensinou os princípios que preza, mas considera que não<br />
quiseram assimilá-los, como se essa “internalização” fosse conseqüência apenas<br />
de ensinamentos e conselhos.<br />
Ora, sobre esse t<strong>em</strong>a muito contribui a visão sistêmica de Maturana (1999, 2001)<br />
para qu<strong>em</strong> a base da aprendizag<strong>em</strong> explicita a congruência que se obtém entre os<br />
m<strong>em</strong>bros de um sist<strong>em</strong>a familiar <strong>em</strong> sua história de convivência a partir de<br />
mudanças estruturais recíprocas que ocorr<strong>em</strong> ao longo de sua história de<br />
interações. Sônia, por ex<strong>em</strong>plo, não compartilha essa visão na medida <strong>em</strong> que<br />
culpa seus filhos, pela não aprendizag<strong>em</strong> de seus princípios: “Eu não considero<br />
que eu tenha tido sucesso na educação [dos filhos]” por um “probl<strong>em</strong>a individual”<br />
49
deles. O critério que os filhos utilizam para aceitar ou rejeitar a explicação e a<br />
orientação da mãe é o que determina se eles a aceitam ou não. Trata-se de um<br />
processo inconsciente onde o critério de validação é da ord<strong>em</strong> do <strong>em</strong>ocional e não<br />
do racional (1999). Entretanto, fica a dúvida se essa mãe ensinou ativamente os<br />
princípios a seus filhos, ou seja, se explicou e, posteriormente, legitimou ou<br />
rejeitou a compreensão deles. Na entrevista, ela comenta que ensinou pelo<br />
ex<strong>em</strong>plo, portanto, propiciando a observação de seu comportamento. Educar t<strong>em</strong><br />
essas duas facetas: o modelo e a ação; o passivo e o ativo.<br />
Renato t<strong>em</strong> opinião distinta da mãe. Filosofa que os valores do t<strong>em</strong>po de sua mãe<br />
não são os de hoje. Considera que ele e a irmã viv<strong>em</strong> um novo milênio, “não tão<br />
cultural” – valor caro à mãe – e conviv<strong>em</strong> com pessoas de todas as classes e com<br />
toda classe de pessoas. Implicitamente considera que os valores se transformam<br />
de acordo com as mudanças sociais que ocorr<strong>em</strong> no contexto social mais amplo e<br />
operam simultaneamente da sociedade para os indivíduos e dos indivíduos para a<br />
sociedade por meio das práticas sociais. Por sua vez, Ana, a filha, comenta que a<br />
mãe “ainda não conseguiu” passar os valores, sugerindo a possibilidade de<br />
aprendê-los <strong>em</strong> alguma época de sua vida, como se fosse possível ocorrer que os<br />
princípios importantes para a sua mãe se propagu<strong>em</strong> no t<strong>em</strong>po, tornando possível<br />
sua assimilação. O sujeito oculto <strong>em</strong> quase todo o diálogo “o pai” também<br />
comparece aqui: a filha conjectura que, possivelmente, Sônia não tenha<br />
conseguido passar seus princípios porque o pai não tinha conhecimento<br />
[instrução].<br />
O pai, conforme vai se desvelando no discurso dos filhos, é um<br />
bronco, agressivo, porém uma figura a qu<strong>em</strong> Renato tenta se “agarrar” ao contar<br />
50
sobre as férias que passava com ele na infância, numa cidade onde a avó paterna<br />
morava.<br />
Na verdade, o discurso dos filhos acaba por revelar a qualidade do vínculo que<br />
têm com a mãe e com o pai e a importância que essa conexão possui para eles.<br />
Os valores, para ser<strong>em</strong> ensinados e assimilados, precisam de certas condições<br />
<strong>em</strong>ocionais do vínculo e das inter-relações familiares.<br />
Durante o diálogo com a família, interessei-me <strong>em</strong> saber sobre a expectativa dos<br />
vários m<strong>em</strong>bros <strong>em</strong> relação à possibilidade de modificação ou transformação dos<br />
princípios enunciados. A avó considera que eles devam se manter s<strong>em</strong>pre como<br />
um ideal, uma utopia que se persegue. A mãe discute a possibilidade de sua<br />
modificação, no sentido de se adequar<strong>em</strong> à época histórica. Renato julga que<br />
princípios não se transformam porque “já são do costume” e Ana crê que devam<br />
ser modificados com o t<strong>em</strong>po. Nesse conjunto de posições a avó e o neto se<br />
encontram, assim como mãe e filha, num conjunto de pares. O que pode ter<br />
ocorrido com essa questão, bastante abstrata, é sua escassa compreensão uma<br />
vez que Renato e Ana já disseram, <strong>em</strong> outro momento, que ele e a irmã viv<strong>em</strong> um<br />
novo milênio, com princípios diferentes aos da época da mãe. Por outro lado, não<br />
é de se estranhar que, por questão geracional, Dona Janina não discuta a<br />
mudança dos valores.<br />
Segundo Dona Janina, sua família “é o prêmio que eu ganhei da vida. Eu sou do<br />
t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que qu<strong>em</strong> não tinha família não tinha nada! Família representava a<br />
51
própria vida”. Sua visão v<strong>em</strong> da década de 50 do século passado, marcada pela<br />
idéia da instituição familiar estável e do casamento monogâmico e eterno.<br />
Posições e papéis eram b<strong>em</strong> definidos e obedeciam a um código moral que ditava<br />
os comportamentos certos e errados.<br />
Sônia, ao contrário, foi da geração Woodstock: “Bom, eu e minha geração<br />
achávamos que a família era uma instituição falida, falsa e os valores só eram<br />
montados para aquela família, para aquela instituição se perpetuar. De lá para cá,<br />
esses valores foram repensados. Então aquela estrutura hipócrita e careta, foi<br />
revista. Eu tenho 58 anos, isso há 40 anos atrás; então eu acho que hoje já se<br />
pensa de outra forma a família. Então eu acredito que as relações familiares são<br />
importantes porque até já são baseadas numa maior sinceridade, diferent<strong>em</strong>ente<br />
da hipocrisia <strong>em</strong> que a família era constituída. Hoje acho fundamental uma<br />
estrutura familiar para agüentar o tranco desse caos social que a gente está<br />
vivendo: a questão das drogas, des<strong>em</strong>prego, violência, fundamentalmente”.<br />
Na década de 60, <strong>em</strong> que essa mãe viveu os seus 18 anos, os jovens<br />
questionaram profundamente a segregação dos papéis conjugais, colocaram <strong>em</strong><br />
pauta a profissionalização da mulher, execraram a vigência de um único código<br />
moral baseado na falsidade, como o adultério proibido para as mulheres,<br />
pregaram o abandono de preceitos religiosos e o adiamento da reprodução<br />
biológica para a maior liberdade dos cônjuges. Entretanto, aspectos do ideário de<br />
casamento dos pais são mantidos <strong>em</strong> paralelo com os recém-adquiridos.<br />
52
No caso da família Zoar se configura uma situação de desmapeamento, na<br />
medida <strong>em</strong> que as representações mais primitivas e abstratas perd<strong>em</strong> as suas<br />
formas concretas de atualização, deslocando-se para um nível mais inconsciente,<br />
coexistindo com as mais recent<strong>em</strong>ente adquiridas, e constituindo um novo<br />
conjunto de concepções sociais (<strong>Figueira</strong>, 1985, 1987). O conflito, até então<br />
latente porque situado nas representações futuras, torna-se presente e atualizado<br />
na década de 70, porque, ao ingressar<strong>em</strong> na ord<strong>em</strong> conjugal e familiar, os jovens<br />
passam a participar dos mecanismos de reprodução da ord<strong>em</strong> social e se<br />
relacionam com os outros justamente a partir das posições que viram seus pais ou<br />
figuras substitutas ocupar<strong>em</strong> (Nicolaci-da-Costa, 1985).<br />
Sônia teve três filhos de duas relações diferentes. Não viveu maritalmente, seja na<br />
mesma casa ou <strong>em</strong> casas separadas, com nenhum dos dois companheiros.<br />
Entretanto, ao responder à pergunta sobre a possibilidade de modificação da<br />
forma como os seus dois filhos, presentes à entrevista, lidam com a autoridade e<br />
os limites <strong>em</strong> casa, a mãe diz: “mas eu tenho uma fantasia de modificação. Se eu<br />
casasse, porque essa figura masculina de uma certa forma, <strong>em</strong> algum momento<br />
faz falta”. Ela reflete, portanto, sobre um vazio constituído pela negação de algo<br />
que ela não foi capaz de preencher de outra forma.<br />
Para Sônia, o conceito de família, atualizado para o momento presente, se<br />
modificou e agregou, num certo sentido, ou tornou visível, a importância que a<br />
idéia do casal convivendo junto s<strong>em</strong>pre teve para a sua mãe. Pela sua narrativa,<br />
essa modificação não se dá n<strong>em</strong> de forma conflituosa para si, n<strong>em</strong> aparece à<br />
53
época <strong>em</strong> que concebeu os filhos. V<strong>em</strong> com a maturidade, levando-a a uma<br />
releitura de casamento e da família, ressaltando sua dificuldade <strong>em</strong> “agüentar o<br />
tranco” dos t<strong>em</strong>pos atuais e de se colocar como uma figura de autoridade para os<br />
filhos.<br />
Renato e Ana traz<strong>em</strong> novas versões do conceito de família: para ele, a instituição<br />
é como um “bolo com recheios variados”. Mas julga que nunca foi cont<strong>em</strong>plado<br />
com bons recheios por causa da violência física que sofreu do pai e da violência<br />
física e psicológica que sofreu e sofre da mãe dentro de casa. Já sua irmã<br />
subdivide a família <strong>em</strong> dois períodos: no primeiro, muito ruim, havia a presença do<br />
pai até os seus 10 anos. S<strong>em</strong> o pai, hoje a situação “é perfeita”, porque não está<br />
só e convive com pessoas que se importam com ela.<br />
Ao longo da entrevista, Renato se portou de forma agressiva. Intimidou a irmã e a<br />
mãe. Falou palavras obscenas, quase agrediu fisicamente sua irmã, chamando-a<br />
de X9. Parecia um “sócio-drama”. A mãe não mostrava o menor controle da<br />
situação. Foi preciso que eu própria separasse os irmãos para dar continuidade à<br />
entrevista. Relato isso para falar a respeito do processo identificatório desses<br />
filhos, nessa casa onde a violência, antes não citada, surge como uma forma de<br />
comunicação entre os pais, dos pais com os filhos e entre os irmãos. Parece que o<br />
hom<strong>em</strong> adquire, nessa família, um lugar de poder de força bruta. Enquanto isso,<br />
Ana não t<strong>em</strong> vocabulário suficiente para expressar seus pensamentos e <strong>em</strong>oções,<br />
pedindo auxílio à mãe para completar as suas frases. Pergunto-me, então, como<br />
54
essa mãe teria lidado com os seus ideais libertários na educação desses filhos. E<br />
mais, como se deu e se dá a relação entre a avó materna, o avô e sua filha.<br />
1.3. Conflito entre Gerações<br />
Dona Janina comenta que, praticamente, criou os seus filhos “dando o melhor que<br />
podia”. Seu marido era o típico pai-provedor de uma família originária de Manaus.<br />
Sônia conta que o pai decidiu mandá-la estudar no Rio porque Manaus era uma<br />
província que não oferecia cultura e conhecimento à altura do valor dado a esses<br />
aspectos por sua família. Com 14 anos veio estudar num colégio, ficando<br />
internada. Daí para frente acha que se deu “régua e compasso” 15 , no sentido de<br />
fazer sua própria vida. Sua mãe também veio morar no Rio um t<strong>em</strong>po depois da<br />
filha. O pai ficou no norte e ela só voltou a vê-lo quando grávida da primeira filha.<br />
Durante seis anos, Dona Janina tentou <strong>em</strong> vão trazer o marido.<br />
Sônia comenta que cuidou praticamente sozinha dos filhos, mas também relata<br />
que sua mãe morava ao lado, de forma que “ela dava assistência quando eu<br />
trabalhava”. Relata que, quando morava <strong>em</strong> Manaus, sua avó e uma tia materna<br />
ajudaram a criá-la e aos irmãos, evidenciando um papel matriarcal importante na<br />
sua formação. Num arroubo aventurista, conta que, quando os filhos eram<br />
pequenos, decidiu ver se “mudava o destino”: vendeu o pouco que tinha e mudouse<br />
com eles para a Rússia.<br />
15 Música “Aquele Abraço” de Gilberto Gil, 1969 (NA).<br />
55
Na geração da avó os filhos foram criados por duas gerações de mulheres: a dela<br />
e a de sua mãe, bisavó de Renato. É importante ressaltar nessa trajetória que a<br />
avó completou o curso normal, trabalhou como professora e vive de sua<br />
aposentadoria, e ainda auxilia financeiramente a filha. Na geração seguinte,<br />
novamente as mulheres (a mãe e avó) criam os filhos só que há também a<br />
presença ambígua (umas vezes amiga, a maioria das vezes como fator<br />
desestabilizador citado tanto pelo filho como pela filha) da figura masculina que<br />
traz para esse universo a marca da violência intrafamiliar.<br />
Dona Janina relata que, a seu ver, sua filha é muito responsável porque trabalha,<br />
cuida dos filhos e de sua própria vida. Porém, não a considera independente<br />
porque precisa de sua ajuda econômica. Julga que esse quadro pode mudar, mas<br />
à custa de “muito trabalho, porque a situação hoje é muito irregular e difícil”.<br />
Quanto aos netos, a avó considera Renato independente porque só faz o que<br />
quer. E a neta não é responsável porque depende da mãe para acordá-la para o<br />
colégio. São detalhes simbólicos do cotidiano, a partir dos quais essa senhora<br />
consegue conceituar independência e autonomia, dentro de sua visão das<br />
complicações da vida moderna: “a educação social e a educação de rua<br />
interfer<strong>em</strong> na educação doméstica”. E explica ainda que a neta é independente e<br />
livre fora de casa, mas ela e o irmão são irresponsáveis por causa de sua própria<br />
idade.<br />
Sônia julga seus filhos irresponsáveis e se pergunta “como não consegui formar<br />
os hábitos mais el<strong>em</strong>entares com eles?” Até hoje, diz, ela precisa mandar que<br />
56
escov<strong>em</strong> os dentes. Comenta que mesmo fazendo a lista dos afazeres de cada<br />
um, eles não são cumpridos. Considera que “só a vida” mostrará a realidade para<br />
os filhos, pois quando “eles começar<strong>em</strong> a levar umas lambadas” serão obrigados<br />
a aprender responsabilidade e independência, ou “vão se dar mal”. Preocupa-se<br />
com Renato que vive totalmente desocupado. O Diretor da escola onde o filho<br />
estudava a chamou porque ele repetiu o supletivo; aconselhou-a a não insistir com<br />
a escola porque ela pagava para ele não estudar. Ele saiu e Ana continuou. Sônia<br />
considera que seria melhor que Renato fizesse algum curso técnico. No entanto, o<br />
rapaz não dá um passo n<strong>em</strong> para se informar sobre um curso de cozinha que diz<br />
desejar fazer no Senac. No contexto da entrevista ocorre uma mútua<br />
culpabilização entre mãe e filho e ele encerra a questão dizendo: “Você já falou<br />
dois papo pra mim hoje, dessa entrevista aqui.” Sua reação é imediata: agressiva<br />
na postura corporal e no discurso verbal, com ameaças e xingamento.<br />
Renato concorda com a avó que vai conseguir, com o t<strong>em</strong>po, tornar-se<br />
responsável com a sua vida; discorda da mãe que espera que ele mude “do jeito<br />
dela, como ela quer e na hora que ela quiser”. Espera aprender à sua maneira. Diz<br />
que t<strong>em</strong> aprendido pouco porque “ainda estou naquela de zoar”. Mas t<strong>em</strong><br />
responsabilidades que são de trabalhar meio expediente aos domingos, na<br />
carrocinha de coco da mãe. Quando não vai porque quer zoar na noite de sábado,<br />
diz que paga alguém para ir <strong>em</strong> seu lugar por metade do meio expediente.<br />
Ana não se julga responsável <strong>em</strong> relação à maioria de suas obrigações, mas se<br />
considera responsável quando estuda para uma prova ou paga uma conta. Há<br />
57
uma diferença na compreensão e interpretação das perguntas entre os irmãos. Ele<br />
entende rápido e ela, inúmeras vezes, além de não entender, t<strong>em</strong> um vocabulário<br />
e uma argumentação <strong>em</strong>pobrecidos. Responde monossilabicamente ou pede<br />
auxílio à mãe. Quanto aos valores de responsabilidade e de independência, a<br />
auto-avaliação de ambos é complacente. O rapaz dá como ex<strong>em</strong>plo de<br />
responsabilidade o meio expediente de um trabalho com a mãe aos domingos. A<br />
irmã, com seus 17 anos, não dialoga como se tivesse essa idade cronológica.<br />
Parece mais nova, <strong>em</strong>ocionalmente.<br />
Em síntese, uma falta de autonomia fundamental para enfrentar a vida perpassa<br />
as duas gerações: os filhos depend<strong>em</strong> da mãe, desde os comportamentos<br />
básicos, como a higiene pessoal até à responsabilidade com estudos e trabalho. A<br />
mãe depende de sua mãe idosa financeiramente. Geração após geração, os<br />
adultos não consegu<strong>em</strong> contribuir para a aquisição da autonomia na geração<br />
seguinte; essa história vai num crescendo, culminando na terceira geração, a dos<br />
filhos, onde aparece, acoplada à dependência das drogas, uma irresponsabilidade<br />
social profunda.<br />
Falando das perspectivas, Dona Janina comenta que a sua filha realizou seu<br />
sonho porque é culta, responsável e trabalhadora. Mas, aparent<strong>em</strong>ente para os<br />
avós, o trabalho não constituiu um valor importante, e sim, a cultura. Apesar da<br />
filha ser qualificada pela avó como uma pessoa trabalhadora, ela, aos 58 anos,<br />
não conseguiu independência financeira. Esta situação de insegurança<br />
profissional que a atinge fica mais patente na geração atual dos jovens, fruto, <strong>em</strong><br />
58
parte, de uma séria crise econômica e de uma quebra de padrões, códigos e<br />
regras no mundo do trabalho, exigindo uma formação muito mais apurada e<br />
competitiva que no passado. Há hoje, no dizer de Zygmunt Bauman (2001,14),<br />
uma liquefação dos padrões de dependência e interação; a responsabilidade pelo<br />
fracasso ou sucesso recai, principalmente, sobre os ombros do indivíduo,<br />
resultado de uma versão individualizada de viver a vida.<br />
A mãe relata sua angústia pela falta de perspectiva dos filhos: “ele deveria ter<br />
estudado numa escola especial para desenvolver o seu lado criativo”. Isso não foi<br />
possível devido à distância e ao preço da escola que conhecia à época. Então, os<br />
estudos foram levados “aos trancos e barrancos”. O sonho dela é que ele<br />
estudasse para fazer maquete, porque t<strong>em</strong> aptidão e poderia ganhar dinheiro.<br />
Acha que se o filho se <strong>em</strong>penhasse mais, tanto a sua vida pessoal quanto os<br />
amigos seriam diferentes. Sonhou que sua filha fizesse faculdade e fosse culta.<br />
Tinha um projeto de vida (Velho, 1999c, 1999d, 1999g) para os filhos. No entanto,<br />
como assinala Gilberto Velho (1999g,101), “o projeto é a antecipação no futuro<br />
dessas trajetória e biografia, na medida <strong>em</strong> que busca, através do<br />
estabelecimento de objetivos e fins, a organização dos meios através dos quais<br />
esses poderão ser atingidos”. Ou seja, o que os filhos são hoje é fruto de um<br />
processo de desenvolvimento das condições da vida deles, dela e da relação de<br />
todos com o pai e a avó.<br />
Manter expectativas acima do que os filhos pod<strong>em</strong> satisfazer implica,<br />
possivelmente, <strong>em</strong> frustração, baixa auto-estima pessoal e imag<strong>em</strong> negativa do<br />
59
que realmente são. Não que a realização pessoal seja decorrente somente da<br />
expectativa que os pais têm sobre seus filhos, mas ela é fonte de alimento ou<br />
frustração para a forma como perceb<strong>em</strong> sua competência e sua capacidade<br />
<strong>em</strong>preendedora.<br />
Renato comenta que gostaria de servir o exército, porque t<strong>em</strong> “atração por armas<br />
bélicas”. Fala também <strong>em</strong> ser um gourmet. É possível que consiga entrar para o<br />
exército. T<strong>em</strong> que <strong>em</strong>agrecer e se reapresentar no início do próximo ano. Como<br />
seu interesse é duplo, acha que precisa da ajuda da mãe, dos “conhecimentos”<br />
dela para conseguir um curso de cozinha. Ele pessoalmente se envolve pouco.<br />
Tentou no Sesc, mas não havia alunos suficientes para iniciar o curso. Como não<br />
se <strong>em</strong>penha suficient<strong>em</strong>ente acaba repetindo que no cotidiano gosta mesmo é de<br />
“zoar”: “beber, jogar sinuca, conversar com os amigos no bar, conhecer gente<br />
nova, ir dançar, ir a um show”. É b<strong>em</strong> verdade que Renato é jov<strong>em</strong>, mas falta à<br />
mãe pulso e firmeza e a ele um direcionamento mais decisivo de suas<br />
potencialidades. Por isso está numa encruzilhada da sua trajetória.<br />
As atitudes da irmã titubeiam entre algumas expectativas: diz que hoje sonha<br />
entrar para a Polícia, pois t<strong>em</strong> um namorado que é policial. Mas ao considerar que<br />
sua vida “está perfeita”, comodamente envolve-se pouco <strong>em</strong> objetivos e metas<br />
que poderiam fazê-la vislumbrar uma profissionalização futura. Comenta que<br />
apenas a incomoda o uso de drogas pelo irmão. Sua idéia é de que ele deveria<br />
ser internado, “querendo ou não”, provocando-lhe muita ira. O irmão disse uma<br />
série de impropérios e ameaças, tornando o clima <strong>em</strong>ocional da entrevista muito<br />
60
tenso, conforme a formulação de Maturana (Maturana et al, 2002b) sobre como o<br />
<strong>em</strong>ocionar é responsável pelo fluir das relações de um domínio de ações a outro.<br />
Com a raiva de Renato invadindo todos os espaços, foi necessário retirar a irmã<br />
para dar continuidade à entrevista. Em seguida, a estratégia foi recolocá-la no<br />
grupo e dispensá-lo.<br />
Chama atenção o fato dos dois jovens explicitar<strong>em</strong> o desejo de seguir profissões<br />
que lidam com a lei: ele, o exército. E ela, a polícia. Estariam passando uma<br />
mensag<strong>em</strong> sobre a escassez de limites e orientações no ambiente de relações<br />
primárias? No caso de Renato seu desejo “liquefeito” de “se enquadrar” se esvai<br />
na vontade de zoar.<br />
1.4. Processo Educativo<br />
No caso da família Zoar, a avó acredita que t<strong>em</strong> boa relação com a filha, uma<br />
“relação de amor” e intimidade “dentro do respeito da intimidade e do diálogo<br />
pessoal”. Igualmente, considera boa sua relação, seu diálogo e até uma certa<br />
intimidade com o neto, sendo menos comunicativa com a neta: “ele é mais<br />
carinhoso. Ela é mais recolhida”.<br />
Ao contrário da opinião de Dona Janina, Sônia considera-se distante da mãe, não<br />
nutrindo intimidade com ela. Mas avalia que se aproxima dos filhos numa relação<br />
franca, dialógica e também conflitiva. Vê alguma possibilidade de modificação de<br />
sua relação com eles, naqueles aspectos que desaprova, a longo prazo.<br />
61
Renato reafirma a boa relação com a avó. “Se ela quiser dormir no meu quarto,<br />
como <strong>em</strong> outras épocas, ela será b<strong>em</strong> vinda”. Diz gostar muito de dona Janina:<br />
“Gosto muito da minha avó, muito, muito, muito, muito mesmo, muito mesmo”.<br />
Com a mãe, comenta que não t<strong>em</strong> intimidade para conversar “sobre sexo, se eu<br />
rodei [ser preso]”, porque ela o “rebaixa” por causa do uso de drogas. Com a irmã<br />
a relação é difícil porque brigam muito, mas também se falam muito. Comenta que<br />
têm idéias opostas, o que atribui ao fato dela namorar um policial há algum t<strong>em</strong>po.<br />
Acha que ela “piorou” de lá para cá.. Chegam a “sair na porrada”, “eu já dei<br />
porrada nela porque de vez <strong>em</strong> quando o sangue esquenta e aí já viu”. Ambos têm<br />
“pavio curto”. Diz que não t<strong>em</strong> intimidade com Ana e considera que sua relação<br />
tende a piorar.<br />
Por sua vez, Ana reconhece que não t<strong>em</strong> intimidade com a avó e com a mãe a<br />
relação, diz, “não é lá essas coisas”. Têm conflitos e pod<strong>em</strong> ficar s<strong>em</strong> se falar até<br />
15 dias, mas voltam a se comunicar. Não t<strong>em</strong> nenhum diálogo com o irmão: “com<br />
o meu irmão é um desastre”, s<strong>em</strong> “nenhuma possibilidade” de modificação.<br />
Salta à vista a aliança entre a avó e Renato. A relação entre eles é terna. Chama<br />
atenção a discordância entre a avó e a mãe na forma de perceber<strong>em</strong> a relação<br />
com o rapaz. Sônia t<strong>em</strong> com os filhos uma proximidade <strong>em</strong>ocional, porém é nítida<br />
a dificuldade de diálogo com eles. Isso se mostra na agressividade psicológica<br />
entre mãe e filho, e física entre os irmãos, reinante na casa. Sônia quando fala<br />
numa possibilidade de melhora no futuro, se refere à probabilidade de que Renato<br />
possa tomar novos rumos. A agressividade psicológica, muito presente na<br />
62
comunicação entre mãe e filho, apontada por Renato, é um peso a mais que<br />
humilha e mina a auto-estima e a auto-imag<strong>em</strong> de qu<strong>em</strong> já sofre muito com a<br />
drogadição.<br />
No caso dos irmãos vale aquela observação clássica sobre violência, segundo a<br />
qual qu<strong>em</strong> não consegue argumentar sobre conflitos e contradições, parte para o<br />
abuso físico. E, ao que tudo indica, ela v<strong>em</strong> sendo utilizada desde cedo na família,<br />
provavelmente com o intuito educativo ou para que os filhos cumpram as<br />
expectativas dos pais. Viver nesse clima <strong>em</strong>ocional e com essa qualidade de<br />
vínculo pode ter contribuído para a dependência que os filhos mostram com<br />
relação à mãe, desde os cuidados básicos, passando pela responsabilidade para<br />
com os estudos e com a profissão. A hostilidade materna faz com que os filhos se<br />
sintam vulneráveis. Há um efeito dominó na baixa qualidade das relações, dos<br />
vínculos e da intimidade entre as três gerações.<br />
Dona Janina relata que seus pais foram modelos de comportamento para si<br />
porque sua mãe, que casou aos 14 anos, criou as três filhas muito b<strong>em</strong> e o seu<br />
pai era “à moda antiga”, o que significa para ela que preservava a sua autoridade<br />
tradicional. Sônia, ao contrário, não considera que seus pais tenham sido modelo<br />
de comportamento. O pai s<strong>em</strong>pre teve uma relação com a cultura, “<strong>em</strong>bora não<br />
tenha passado isso”. Um dos sonhos dele era viajar para conhecer o mundo, coisa<br />
que não conseguiu fazer e ela cumpriu sua vontade, pois leva grupos de turistas<br />
para o exterior. Isso ela concretizou. Porém, diz que os pais sonharam que ela<br />
fizesse um concurso público, mas todos os quatro irmãos tiveram uma trajetória de<br />
63
trabalho “fora dos parâmetros”. Comenta que o modelo de mãe ficou restrito ao<br />
casamento e à família. Por isso considera que ela própria se deu “régua e<br />
compasso”.<br />
Renato t<strong>em</strong> muitas queixas do pai. Considera que ele não foi modelo de<br />
comportamento: é agressivo, gosta de ser “o rei da cocada preta”, é ausente e há<br />
t<strong>em</strong>pos que não o vê. Diz que a mãe “gosta de (se) fazer de intelectual” mas não<br />
t<strong>em</strong> nada de intelectual, expressando sua revolta. Por isso julga-se diferente dos<br />
pais pois não teve ninguém como modelo “eu sou eu, eu não me espelho <strong>em</strong><br />
ninguém”. Ana também t<strong>em</strong> uma opinião negativa do pai, uma vez que “nunca<br />
prestou ou deu atenção à mulher e aos filhos”. Comenta que se não foss<strong>em</strong> os<br />
homens da família, sua história seria diferente, seria melhor porque aprenderia<br />
mais e teria mais intimidade do que t<strong>em</strong> com a mãe. Considera que a falta de<br />
aproximação com Sônia v<strong>em</strong> do fato desta se enredar na interferência do pai e do<br />
irmão de forma a não cont<strong>em</strong>plá-la com a troca necessária a suas d<strong>em</strong>andas.<br />
Aparent<strong>em</strong>ente, os adultos significativos não conseguiram apresentar seus valores<br />
como modelos à geração seguinte. Entretanto, Renato conta que iniciou muito<br />
cedo, com 8 anos, a usar bebida alcoólica e seus pais s<strong>em</strong>pre gostaram muito de<br />
beber. O comportamento dos pais, nesse ponto, lhe serviu de referência.<br />
Dona Janina considera que na sua época os filhos tinham responsabilidade de<br />
estudar e se cuidar. O marido e ela respondiam pelo resto. De forma geral, os<br />
filhos cumpriam as suas tarefas. Ela dava limites, n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre cumpridos, e era a<br />
64
figura de autoridade porque ficava mais dentro de casa. Já na casa da filha, a avó<br />
conta que Sônia distribui b<strong>em</strong> os deveres, mas poucos são cumpridos.<br />
Sônia considera que os acordos de participação dos filhos nas tarefas domésticas<br />
são s<strong>em</strong>pre transgredidos. Esses acordos são muitas vezes sugeridos por eles<br />
próprios. Dá um ex<strong>em</strong>plo: ela diz à filha que t<strong>em</strong> que estar na cama às 10 da noite<br />
para conseguir acordar cedo e ir à escola no dia seguinte. A filha se cala e<br />
aquiesce, mas não retorna da rua. Sônia a busca na noite e no dia seguinte a<br />
acorda para a escola. No caso do filho, ela comenta sobre a única<br />
responsabilidade que lhe atribui: ajudá-la no domingo na venda de água de coco.<br />
Consegue que ele não saia na noite de sábado: “Olha, não dá, você quer<br />
continuar trabalhando aos domingos, ganhando aí o seu troco, então você não<br />
pode sair aos sábados e chegar às 5 horas, 7 horas da manhã absolutamente<br />
alcoolizado e trabalhar às 9, entendeu?”.<br />
Sônia conclui que não logra êxito <strong>em</strong> colocar limites, por isso sua autoridade “está<br />
balançada”. Por isso, projeta a modificação desse quadro para num futuro de<br />
médio prazo, quando os filhos atingir<strong>em</strong> a maturidade e puder<strong>em</strong> conviver de<br />
forma mais harmoniosa e d<strong>em</strong>ocrática. Outra possibilidade que cogita é ela se<br />
casar, tendo um hom<strong>em</strong> a seu lado, capaz de impor limites e autoridade dentro da<br />
sua casa.<br />
Renato se refere à sua parte nas tarefas de casa e também considera que a figura<br />
de autoridade da mãe é “fraca”. Nesse momento revela que no t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que<br />
65
viviam com o pai ele a agredia fisicamente; hoje é Renato que agride a irmã.<br />
Comenta que “o pai gostava de agredir e a mãe passou a também gostar de<br />
agredir os dois filhos física e psicologicamente”. Quanto aos limites, há um<br />
desrespeito entre os três na forma de se tratar<strong>em</strong>, pois eles se xingam e se<br />
desrespeitam permanent<strong>em</strong>ente. Diz: “estamos todos errados. A base de tudo,<br />
tudo é no xingamento, quanto você mais deixar o outro para baixo, melhor”. Ao ser<br />
perguntado se há alguma possibilidade de modificação desse padrão de<br />
comportamento, Renato responde que: “querer é poder”. Mas só relata o quanto é<br />
difícil modificar. Diz que tenta, mas essa forma de destrato, de humilhação entre<br />
eles já “t<strong>em</strong> anos”. Acabam retornando para a agressão como forma de<br />
comunicação. Quando a violência é entendida como sinônimo de autoridade,<br />
existe o perigo de se utilizá-la como prova de que a família não pode existir exceto<br />
num quadro de referência autoritário (Arendt, 2001, 140-141).<br />
Ana diz que t<strong>em</strong> algumas responsabilidades e as cumpre “de vez <strong>em</strong> quando”.<br />
Comenta que a mãe é a figura de autoridade que tenta se fazer respeitar pelas<br />
pessoas da casa. Acha que todos da família deveriam contribuir para “melhorar o<br />
ambiente”, mas isso só seria possível entre as mulheres, “já que o hom<strong>em</strong><br />
atrapalha porque é preguiçoso... só quer fazer o que está a fim”, explicitando<br />
repetidamente a imag<strong>em</strong> negativa da figura masculina. No entanto, os<br />
comentários dos outros m<strong>em</strong>bros são de que ela também é preguiçosa com<br />
relação às suas obrigações e aos seus estudos.<br />
66
Conforme destaca Maturana (1999), essa família convive <strong>em</strong> congruência com a<br />
educação compartilhada ao longo do t<strong>em</strong>po. A agressão que impregna o<br />
ambiente, mina a auto-imag<strong>em</strong> porque, como aponta Renato, humilha, deslocando<br />
a visão de si para os porões da baixa auto-estima. E essa forma de convivência<br />
perpassa as gerações, o que denota uma dificuldade de escuta e aceitação do<br />
outro.<br />
Em resumo, na família Zoar predomina uma prática educacional de pouco<br />
respeito, atenção e afeto ao longo das últimas duas gerações. Já na geração da<br />
avó há indícios de visões de mundo aparent<strong>em</strong>ente irreconciliáveis, que<br />
permanec<strong>em</strong> no presente. Na família a solução de conflitos acaba por ser<br />
resolvida na base da agressão. A falta de firmeza da figura materna, desde muito<br />
cedo, contribuiu para falta de limites, de metas, de compartilhamento de<br />
responsabilidades com os filhos, fatores tão importantes para a construção de sua<br />
maturidade.<br />
1.5. Considerações finais<br />
O vínculo avó-mãe é narrado de forma oposta por ambas. É como se cada uma<br />
delas se relacionasse com um estranho, já que ambas não se reconhec<strong>em</strong> na<br />
descrição de vínculo da outra. É no vínculo da avó com o neto que escorre a<br />
ternura manifestada <strong>em</strong> carinho, atenção e preocupação mútua. Mas os valores<br />
caros à avó se distanciaram da construção do protagonismo dos filhos. Essa<br />
característica pouco pró-ativa perpassou as gerações.<br />
67
O vínculo mãe-filhos foi <strong>em</strong> parte construído na turbulência das mudanças<br />
culturais que, se atingiram e foram vividas por Sônia, não conseguiram se<br />
transformar <strong>em</strong> princípios sólidos de ação. Sobraram na criação dos filhos, críticas<br />
e humilhações, que fomentam a baixa auto-estima.<br />
A hipótese sobre a organização da hierarquia não é de todo cont<strong>em</strong>plada. Porém<br />
quero ressaltar que, na família, os cônjuges des<strong>em</strong>penham dois papéis sociais:<br />
formam um casal e, ao mesmo t<strong>em</strong>po, são pais. Nesta família houve uma<br />
imbricação desses papéis, à medida que a relação muito conturbada do casal<br />
imiscuiu-se quase que completamente no des<strong>em</strong>penho de seus papéis sociais de<br />
pais, responsáveis por cuidar de seus filhos. Um casal que se agride física e<br />
psicologicamente, além de instaurar um clima <strong>em</strong>ocional de agressividade e medo<br />
dentro de casa, pouco t<strong>em</strong>po t<strong>em</strong> de sobra e de qualidade para dispensar aos<br />
filhos.<br />
Vivendo sob a égide do medo e da insegurança, Ana e Renato não tiveram o<br />
apoio necessário para o seu crescimento e aprendizag<strong>em</strong>. O vínculo <strong>em</strong>ocional é<br />
o alimento da auto-imag<strong>em</strong>. Não se trata aqui de desprezar a estrutura biológica<br />
do ser humano, mas de enfatizar que é a partir da relação com o contexto e dos<br />
acoplamentos estruturais, que se materializam as tendências pessoais. Viver<br />
episódios de agressão na infância, seja presenciando a agressão física e<br />
psicológica entre os pais, seja os adultos perpetrando agressões com as crianças,<br />
traz conseqüências danosas para a construção do sujeito. A raiva muitas vezes<br />
esconde o imenso sofrimento sentido, individualmente, por todos da casa.<br />
68
A qualidade do vínculo influencia o estilo de criação. A mãe ressalta a dificuldade<br />
<strong>em</strong> ensinar tarefas básicas e dar o sentido de responsabilidade aos filhos, mas<br />
sua imag<strong>em</strong> é a de qu<strong>em</strong> reclama, xinga e acaba fazendo por eles. E os filhos se<br />
comportam de acordo. Confirma-se a hipótese de que o estilo de educação<br />
influencia a aquisição dos valores familiares transmitidos de forma ativa e passiva.<br />
Nessa família não se processa uma combinação de afeto, compreensão e apoio<br />
com práticas educativas de colocação de limites claros, d<strong>em</strong>andas consistentes e<br />
adequadas à fase do desenvolvimento dos filhos. Como valorar cultura e<br />
educação nesse clima <strong>em</strong>ocional <strong>em</strong> que a auto-imag<strong>em</strong> é pouco valorizada?<br />
Por outro lado, os sonhos da mãe a respeito dos filhos não foram construídos no<br />
diálogo, no respeito e na valorização de suas potencialidades. Conflitam com os<br />
deles próprios. Além disso, suas expectativas estão, no momento, além do que<br />
eles poderiam cumprir, caso tivess<strong>em</strong> os mesmos interesses. A resultante dessas<br />
relações primárias é a produção de dois filhos imaturos para sua idade e que<br />
buscam atenção. Infantilizados, não teriam como praticar os valores caros à mãe:<br />
são iletrados no amor, <strong>em</strong>oção básica para a constituição dos laços sociais.<br />
Concluindo, depreendo do relato da família Zoar que os valores familiares pod<strong>em</strong><br />
influenciar o uso abusivo de drogas porque sua transmissão e sua prática são<br />
atravessadas pela qualidade do vínculo <strong>em</strong>ocional entre os adultos m<strong>em</strong>bros da<br />
família que, por sua vez, influencia a educação dos filhos e a constituição da sua<br />
maturidade. As expectativas maternas não se coadunam com o t<strong>em</strong>po <strong>em</strong>ocional<br />
69
dos filhos, que também não encontram modelos que lhes sirvam como<br />
sustentação. A presença fugaz do pai carrega o ambiente familiar de violência,<br />
fator importante para o incr<strong>em</strong>ento dos ingredientes necessários a um uso abusivo<br />
de drogas no futuro dos filhos.<br />
2. A Família Mimar<br />
2.1. Contextualização<br />
Escolhi nomear essa família como Mimar por ser o mimo o seu estilo de educação<br />
recorrente. O mimo é aqui entendido com “paparico” e excesso de zelo.<br />
A família Mimar mora na zona norte do Rio de Janeiro e se constitui de avó<br />
paterna, Dona Luiza, de 75 anos; Mário, o pai de 58 anos, Celina, a mãe de 51<br />
anos, e os filhos, Arnaldo, 27 anos, Patrícia, 25 anos e o usuário de drogas,<br />
Rodrigo, 20 anos. Dona Luiza, a avó, se separou do marido, que se mudou para<br />
outro Estado quando Mário, seu único filho, era ainda pequeno. O avô faleceu<br />
novo. Mário e Celina estão separados há aproximadamente 13 anos. Ela se casou<br />
novamente, mas não t<strong>em</strong> filhos do segundo casamento. Mário não constituiu outra<br />
família e mora sozinho. Dona Luiza reside com o neto mais velho. Celina vive com<br />
Patrícia e Rodrigo.<br />
A família me recebeu, acolhedora, perto do horário do almoço de um domingo, na<br />
casa da avó.Tiv<strong>em</strong>os que aguardar o pai por meia hora, dando início, a seguir, à<br />
entrevista. Mário, o pai, pareceu-me um jov<strong>em</strong> pela forma como estava vestido: de<br />
70
oné, bermuda e chinelo. Apesar de não ser necessária a sua presença, os dois<br />
irmãos, Arnaldo e Patrícia, quiseram participar da entrevista. Ambos são<br />
corpulentos, maiores do que Rodrigo, o centro de nossas atenções. Sentamo-nos<br />
ao redor da mesa de jantar e iniciamos a conversa.<br />
Começamos levantando o grau de escolaridade dos m<strong>em</strong>bros da família: a avó<br />
paterna t<strong>em</strong> o primeiro grau incompleto; o pai e Arnaldo têm o segundo grau<br />
completo; a mãe, o segundo grau incompleto; Patrícia formou-se <strong>em</strong> pedagogia e<br />
Rodrigo ainda cursa o segundo grau.<br />
Família de classe média, sua renda gira <strong>em</strong> torno de R$ 3000,00, assim divididos:<br />
R$ 480,00 da avó, <strong>em</strong>bora Dona Luiza não contribua para as despesas da família;<br />
R$1200,00 referentes à contribuição do padrasto; R$ 300,00 dos ingressos da<br />
mãe com artesanato; R$ 1250,00 do pai, aposentado como técnico <strong>em</strong><br />
administração pelo Ministério da Saúde (ele contribui pouco para o sustento da<br />
família); R$ 900,00 do trabalho <strong>em</strong> tel<strong>em</strong>arketing, de Arnaldo (que <strong>em</strong>bora não<br />
more com a mãe, contribui para as despesas do irmão mais novo); e R$ 480,00 do<br />
trabalho de Patrícia como recepcionista de um consultório médico.<br />
Inicio fazendo considerações sobre a história do uso abusivo de drogas de<br />
Rodrigo e, <strong>em</strong> seguida, falo da mesma trajetória de seu pai, Mário, sugerindo que<br />
haveria repercussão de tal hábito do pai no contexto familiar. Falo também sobre a<br />
importância da contribuição da família para a análise das hipóteses do estudo.<br />
71
Rodrigo usa maconha e cocaína desde os 16, 17 anos. Conseguiu livrar-se das<br />
duas substâncias por seis meses. Bebe e fuma muito tabaco. Voltou a consumir<br />
maconha no carnaval desse ano, quase todos os dias. O uso de cocaína depende<br />
do dinheiro que t<strong>em</strong>, mas é intenso: por volta de 30 papelotes durante 3 a 4 dias.<br />
Consome uma droga de cada vez.<br />
Mário, o pai, iniciou o uso de maconha aos 13 anos e a cocaína veio mais tarde.<br />
Diz: “a cocaína, infelizmente essa maldição, eu conheci com meus trinta e sete<br />
anos”. Fez uso de cocaína junto com Rodrigo até há poucos meses. Também<br />
Arnaldo iniciou-se na maconha aos 19 anos, usando direto durante três anos.<br />
Parou há meses, quando começou a namorar.<br />
Os significados simbólicos do uso de drogas por Mário não se ass<strong>em</strong>elham aos de<br />
Sônia da família Zoar, <strong>em</strong>bora os dois sejam da mesma geração. Deve-se, <strong>em</strong><br />
parte, à falta de limites que imperou na prática educativa de seu núcleo familiar. A<br />
forma permissiva de criar os filhos da primeira para a segunda geração permeia a<br />
maioria das famílias desse estudo. Nesse sentido, é importante l<strong>em</strong>brar que a lei<br />
organiza a convivência dos homens <strong>em</strong> sociedade a partir das normas e regras<br />
sociais (Bucher, 1992, 35-36). A família é a célula primeira de absorção e<br />
ensinamento das normas sociais. Ela é a primeira instituição que lida com a<br />
transgressão de seus m<strong>em</strong>bros. Os adultos da família são responsáveis por impor<br />
sanções quando as regras básicas de convivência são infringidas. Dessa forma, a<br />
criança e, posteriormente, o jov<strong>em</strong>, aceitam as limitações externas e<br />
compreend<strong>em</strong> seus limites e o dos outros. Nesse processo, o sujeito interioriza a<br />
72
lei simbólica que lhe permite lidar com a lei externa. A adolescência é um período<br />
de novas e secretas experimentações e a transgressão é uma delas. Quando a lei<br />
simbólica não é devidamente interiorizada, o sujeito corre o risco de enveredar<br />
para a exploração de transgressões diversas que ultrapassam os limites da<br />
razoabilidade social. O uso abusivo de drogas é uma delas. É o caso de Mário.<br />
O pai esteve afastado dos filhos durante anos por causa do consumo ilegal de<br />
substâncias. Por ter compartilhado principalmente a cocaína com Rodrigo, culpase<br />
pelo que está ocorrendo com seu filho. A culpa permeia suas expressões na<br />
entrevista. Atribui a si todo o mal que se abateu sobre a família. No entanto, não<br />
questiona o uso de drogas por Arnaldo, o filho mais velho. Esse o agrediu<br />
fisicamente porque se tornava “inconveniente” quando se drogava.<br />
2.2. Valores familiares<br />
Dona Luiza considerou importante passar para seu único filho e seus netos o<br />
respeito pelos mais velhos, o estudo, entendido como instrução, e o trabalho, de<br />
forma a prepará-los para o futuro. Considera que ensinou esses princípios, mas<br />
que seu filho não aprendeu, porque “fez tudo ao contrário”. Porém, na realidade,<br />
Mário concluiu o segundo grau e trabalhou ininterruptamente, mesmo fazendo uso<br />
abusivo de drogas. A avó, no entanto, se r<strong>em</strong>ete a outro valor que relatou<br />
posteriormente quando respondia sobre seus sonhos para a família. Não queria<br />
que seu filho e a nora se separass<strong>em</strong>; que ele “fosse causador da divisão da<br />
família, cada um ir para um canto. Mas aconteceu. Fiz tudo, tudo, tudo, tudo”. Por<br />
isso considera que Mário “fez tudo ao contrário”. Suas preocupações de que nada<br />
73
faltasse à família s<strong>em</strong>pre foram tantas que pagava o aluguel da casa do Mário,<br />
s<strong>em</strong> que a nora soubesse. Ainda que de forma inconsciente, dona Luiza contribuiu<br />
s<strong>em</strong>pre para acobertar a irresponsabilidade do filho, invadindo a relação marital.<br />
No entanto, diz que se manteve fiel a seus valores, entendidos por ela como<br />
balizas para julgar, escolher e orientar seu comportamento a partir do modelo<br />
social de sua época (Costa, 2001).<br />
Dona Luiza é de uma geração marcada fort<strong>em</strong>ente pela representação social de<br />
família estável e de casamento monogâmico e eterno (<strong>Figueira</strong>, 1987). Entretanto,<br />
ela própria se separou do marido. Segundo sua avaliação, o seu ex-marido era um<br />
“vagabundo” porque boêmio e seresteiro, por isso fez tudo para preservar unida a<br />
família de seu filho. Ela também não perdoa Celina, a nora, pela separação e,<br />
acima de tudo, por ter se casado novamente: “eu não aceito certas coisas como<br />
são hoje, porque eu acho que mãe não pode deixar os filhos e depois também<br />
com filho vivo, ir morar com outra pessoa”.<br />
Mário não quis falar sobre valores porque <strong>em</strong> sua consciência predomina a culpa<br />
pela ausência: esteve afastado dos filhos durante o crescimento deles. Considerase<br />
“um mau pai” porque não os criou. Comenta que sua ex-mulher foi uma<br />
sofredora por tudo o que passou e é sofredora pelo que vive hoje com o uso de<br />
drogas de Rodrigo. Durante a entrevista, como numa catarse, Mário estava<br />
interessado <strong>em</strong> falar sobre o seu próprio uso abusivo de substâncias,<br />
evidenciando a consciência da lacuna deixada pela falta de participação na<br />
família.<br />
74
Celina valoriza o respeito a si e aos outros como a base do amor e se considera<br />
b<strong>em</strong> sucedida no ensinamento desses valores para os filhos mais velhos e para<br />
Rodrigo até os 16 anos. Comenta que procura colocar <strong>em</strong> prática os princípios nos<br />
quais acredita, apesar de algumas vezes ser “mal interpretada”. Dá como ex<strong>em</strong>plo<br />
a sua relação com Rodrigo: “eu procuro mostrar para ele o amor que eu tenho por<br />
ele; isso às vezes confunde a família, o irmão, a irmã, que é questão de paparico,<br />
e não é por aí”.<br />
Os filhos, porém, contradiz<strong>em</strong> a mãe e contam que, no momento delicado <strong>em</strong> que<br />
viv<strong>em</strong> atualmente, só há tensão e não respeito entre eles, por causa da situação<br />
de Rodrigo. O amor e a união da família, enaltecidos por Arnaldo, de fato, não se<br />
concretizam.<br />
Interessei-me <strong>em</strong> saber sobre a expectativa dos m<strong>em</strong>bros da família com relação<br />
à possibilidade de transformação ou modificação do que consideram negativo na<br />
adoção dos princípios enunciados. Dona Luiza é b<strong>em</strong> clara: os seus valores não<br />
se transformam. Dar lugar a novas práticas sociais seria para ela um modismo e a<br />
negação do que aprendeu <strong>em</strong> sua geração. Celina não responde à pergunta e<br />
comenta sobre a possibilidade de transformação do comportamento de Rodrigo,<br />
seu foco constante de atenção. Patrícia espera que esse momento de desrespeito<br />
e desunião na família se modifique, mas confessa ter pouca esperança, já que a<br />
vida familiar gira <strong>em</strong> torno do irmão caçula e suas drogas.<br />
75
Os filhos mais velhos provavelmente sent<strong>em</strong> a ausência da mãe que há t<strong>em</strong>pos se<br />
encontra submersa nas questões de Rodrigo. Consideram que ela expressa mais<br />
afeto para com o filho “probl<strong>em</strong>ático” e menos com relação aos outros, gerando<br />
ciúmes entre os irmãos. Para eles, “a base do amor está oca”. Também Mário<br />
passa a dedicar afeto e preocupação a Rodrigo, quando retorna ao convívio<br />
familiar. Assim, Arnaldo e Patrícia ficam privados da atenção que, julgam, lhes<br />
seria devida pelos pais.<br />
Está claro que o uso abusivo de drogas de Rodrigo contaminou a prática dos<br />
valores familiares na geração de seus pais. De qualquer maneira é um contrasenso<br />
pedir ao caçula que tenha respeito, que pare de consumir drogas se, por<br />
ex<strong>em</strong>plo, encontra no pai um modelo desse comportamento, inconscient<strong>em</strong>ente<br />
acobertado por Dona Luiza e Celina. As mensagens interacionais desse grupo são<br />
muito contraditórias. A família Mimar paga um preço pela forma como lidou com o<br />
abuso de drogas de Mário. Possivelmente, esse contexto exerceu fascínio <strong>em</strong><br />
Rodrigo, seja pela curiosidade de experimentar novas sensações, seja pela<br />
identificação com o pai e com Arnaldo, o irmão mais velho. A cultura dos homens<br />
da família Mimar inclui o uso de drogas. Pode ser que Rodrigo se valha desse<br />
ex<strong>em</strong>plo para argumentar e contestar a excessiva vigilância que hoje todos<br />
exerc<strong>em</strong> sobre ele.<br />
Ao falar da família, Mário não quer teorizar. Diz que a sua é aquela que está<br />
reunida na sala de jantar hoje. Não t<strong>em</strong> mais ninguém além deles. Já Dona Luiza<br />
repete s<strong>em</strong>pre que na família deve haver “respeito” como base para a “união”.<br />
76
Celina concorda com a sogra, dizendo que família representa “união” no sentido<br />
dos familiares “ajudar<strong>em</strong> um ao outro a levantar”. Esse é seu objetivo atual com<br />
Rodrigo. Ao responder à pergunta sobre a criação dos filhos, comenta que o<br />
antídoto para as dificuldades que viv<strong>em</strong> hoje teria sido ela e Mário continuar<strong>em</strong><br />
casados, talvez assumindo a culpa pelos probl<strong>em</strong>as explicitados na drogadição de<br />
seu caçula, e concordando com Dona Luiza de que ela deveria ter se sacrificado<br />
pelo b<strong>em</strong> do grupo familiar. Diz isso, apesar de estar casada novamente, da má<br />
qualidade da relação com o ex-marido e das turbulências familiares que<br />
mencionou. Assim, Celina conserva aspectos do ideário de casamento e família<br />
da geração anterior, o que se configura na noção de desmapeamento (<strong>Figueira</strong>,<br />
1985, 1987).<br />
Arnaldo, Patrícia e Rodrigo traz<strong>em</strong> versões diversificadas do conceito de família. O<br />
irmão mais velho considera que família engloba união, respeito e convivência<br />
amorosa: inclui laços de afinidade e auxílio mútuo <strong>em</strong> todas as situações. A irmã<br />
julga que família é a “base de tudo, é a sua formação”. Gostaria que a convivência<br />
na sua família fosse harmônica porque o aprendizado nesse núcleo serve como<br />
escudo para possíveis desvios de caminho fora de casa. Patrícia corrobora a idéia<br />
de que é necessário um ambiente de confiança e respeito, permeado pelo afeto,<br />
para que não se instal<strong>em</strong> probl<strong>em</strong>as de conduta, como o uso abusivo de drogas<br />
(Schenker e Minayo, 2003). Já para Rodrigo família é o lugar de respeito, valor<br />
que, na sua opinião, sua família não professa desde os seus sete anos, momento<br />
<strong>em</strong> que a aliança dos pais se desfez.<br />
77
Os pais se separaram na década de 80 e deixaram marcas profundas na vida das<br />
três gerações. Celina saiu de casa e os filhos ficaram, num primeiro momento,<br />
com Dona Luiza e Mário, até o momento <strong>em</strong> que este também os deixou, com a<br />
avó. A atitude de Celina se passa <strong>em</strong> plena época da valorização da igualdade<br />
como ideal regulador das relações, onde se busca o modelo igualitário de família<br />
(<strong>Figueira</strong>, 1987). Ela sai <strong>em</strong> busca de outra vida, pois já não suportava a<br />
desarmonia existente <strong>em</strong> sua própria família, arranjo que os adultos conseguiram<br />
fazer do grupo familiar. Essa solução, no entanto, resultou numa série de<br />
atropelos nas três gerações. Apesar disso, os m<strong>em</strong>bros da família d<strong>em</strong>onstram<br />
uma certa nostalgia do t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que moravam juntos.<br />
A saída de Celina de casa, e não o seu recasamento, constitui um marco<br />
traumático para todos. Os filhos reag<strong>em</strong> buscando a mãe que, à medida que se<br />
desvela na conversa, representa o ponto de referência, carinho, autoridade e<br />
presença para os filhos. No entanto, os filhos ficam à deriva após a separação dos<br />
pais, pois passam a viver com a avó, sendo por ela proibidos de ver a mãe. Dona<br />
Luiza até hoje não perdoa Celina pelo término do casamento e por ter refeito sua<br />
vida amorosa “com filho vivo”.<br />
2.3. Conflito entre Gerações<br />
Dona Luiza explica que seu filho s<strong>em</strong>pre foi “muito<br />
paparicado...mimado...escangalhado” pelas mulheres que o criaram: ela própria, a<br />
avó e as tias-avós maternas. E Mário tece um comentário: “dei sorte”. Será? Ato<br />
contínuo, Rodrigo diz que “está indo pelo mesmo caminho [o do paparico do pai]”.<br />
78
A avó esclarece que, inicialmente, seu auxílio foi mais do que financeiro para a<br />
família do filho porque costurava para seus netos e os levava para a escola.<br />
Também cuidou deles após a separação do casal. Inicialmente, com algum auxílio<br />
de Mário. Num dado momento, ele também sai de casa deixando as crianças aos<br />
seus cuidados exclusivos. Dona Luiza abrigou e tomou conta sozinha dos netos<br />
durante cinco anos.<br />
Mário teve pequena participação na criação dos filhos porque nunca se julgou<br />
capaz de assumir responsabilidades familiares “eu s<strong>em</strong>pre andei no lado errado;<br />
eu me envolvi com drogas também. Fiz sofrer a minha mãe. Então não tive t<strong>em</strong>po<br />
de olhar para o lado bom”.<br />
Celina relata que criou a família com a ajuda financeira (alimentação, colégio e o<br />
aluguel) da sogra, “a parte que o pai teria que fazer”. Separou-se quando Rodrigo<br />
tinha sete anos, e como já foi dito, a separação teve um peso muito grande nas<br />
relações intrafamiliares. Celina contribuiu, também, para a imaturidade do marido,<br />
aceitando a ajuda financeira da sogra desde o início do casamento. Indignou-se<br />
tardiamente contra essa dependência na qual Mário já entrava no casamento<br />
desqualificado no seu papel de adulto que deveria prover e educar seus filhos.<br />
Retomando a hipótese da organização da hierarquia, Mário estaria localizado na<br />
geração dos filhos e não na dos pais. O adulto que cuidava dos filhos era Celina<br />
que, ao separar do marido e sair de casa, deixa-os à deriva, com 14, 12 e 7 anos,<br />
idades cruciais para a formação de identidade. O filho mais velho se rebela<br />
batendo <strong>em</strong> Mário por causa de “seu comportamento inconveniente”, que levou a<br />
79
mãe ao desespero, invertendo-se a hierarquia: o filho torna-se a autoridade,<br />
assumindo o lugar de pai de seu pai.<br />
Dona Luiza não considera o seu filho, Mário, responsável e independente, porque<br />
apesar de morar sozinho, “está s<strong>em</strong>pre precisando de uma coisa [de sua mãe]”.<br />
Julga os netos mais velhos responsáveis <strong>em</strong> algumas coisas e irresponsáveis <strong>em</strong><br />
outras. Arnaldo cuida de si, mas não auxilia a avó financeiramente e nas tarefas<br />
domésticas. Mas dona Luiza concede e confessa o quanto lhe é difícil sair s<strong>em</strong><br />
deixar a comida pronta para o neto. Quanto à neta, que trabalha, está s<strong>em</strong>pre<br />
precisando de “um real” para a passag<strong>em</strong>. Apesar disso, dona Luiza a considera<br />
independente porque, “essas besteirinhas [o um real da condução] isso é até<br />
carinho de avó”. Quanto a Rodrigo, a avó julga sua irresponsabilidade e<br />
imaturidade como parte das circunstâncias do uso de drogas, o que o torna<br />
dependente. Dona Luiza acha possível que Mário (apesar de já ter 58 anos) e os<br />
netos se torn<strong>em</strong> responsáveis e independentes. Rodrigo pode reverter o quadro<br />
de uso abusivo de drogas: “nós estamos aqui para isso [na entrevista]. Há<br />
possibilidade”.<br />
Mário espanta-se ao ouvir que dona Luiza não o considera responsável e<br />
pergunta: “n<strong>em</strong> agora?” referindo-se ao fato de ter parado de usar drogas há<br />
alguns meses. Fica patente que, até o presente momento, Mário busca a<br />
aprovação da mãe, revelando sua imaturidade afetiva. Ele próprio considera seus<br />
filhos mais velhos responsáveis, <strong>em</strong>bora ainda não independentes<br />
completamente: “n<strong>em</strong> Jesus foi 100% (independente), que ele bateu, ele tomava<br />
80
seu vinhozinho, essas coisas”. Na sua opinião, Rodrigo se tornará independente<br />
por meio do esforço próprio.<br />
Celina comenta que Arnaldo sofre a influência da criação da avó até hoje. Acredita<br />
que a sogra, ao tentar oferecer o melhor, “fez” o neto “assim meio inseguro”,<br />
dependente da opinião dos outros para tomar atitudes. No entanto, julga-o<br />
responsável porque trabalha e cumpre os seus compromissos. Já Patrícia é o<br />
oposto do irmão: independente, cuida de suas coisas. Porém, a mãe diz que ela é<br />
irresponsável financeiramente, porque gasta mais do que ganha. Rodrigo sabe se<br />
alimentar, cuidar de si, mas o uso de drogas torna-o dependente <strong>em</strong>ocional e<br />
financeiramente.<br />
Celina atribui a insegurança de Arnaldo à criação de sua sogra, esquecendo-se do<br />
quanto ela também o influenciou já que moraram juntos até ele completar 14 anos.<br />
Vale l<strong>em</strong>brar que o sujeito se constitui na convivência com os outros, ou seja, a<br />
avó não teria poderes para fazer o neto de tal ou qual forma. Arnaldo recebeu<br />
influências de e influenciou todas as pessoas significativas da família <strong>em</strong> sua<br />
dinâmica de mudanças estruturais recíprocas (Maturana, 1999, Maturana, 2001,<br />
Maturana e Varela, 1995). Arnaldo sabe disso quando tece comentário sobre a<br />
relação com a sua avó: “é uma dependência criada <strong>em</strong> cima de mim, e de certa<br />
forma me acomodei”.<br />
Celina comenta que Arnaldo t<strong>em</strong> condições de se tornar independente. Relata que<br />
Rodrigo pode se tornar responsável quando quiser parar de usar drogas. Ele fará<br />
81
21 anos <strong>em</strong> breve e terá de assumir os seus atos “o que eu pude fazer eu fiz, o<br />
que acontecer daqui para frente, qu<strong>em</strong> é responsável é ele mesmo”. Esse<br />
comentário se baseia na crença de que os 21 anos funcionarão como um passe<br />
de mágica para um estágio de maior responsabilidade.<br />
Arnaldo e Patrícia concordam com o que a família pensa sobre eles, quando se<br />
trata de autonomia e responsabilidade. A insegurança de Arnaldo é um t<strong>em</strong>a<br />
constante de sua própria reflexão e Patrícia considera que se tornará<br />
independente quando for viver sozinha. Rodrigo julga-se dependente da família<br />
“para tudo” e precisa encontrar meios para ser mais autônomo ou, como diz, “mais<br />
dependente de si próprio”.<br />
Como se depreende, a autonomia dos indivíduos dessa família não foi incentivada<br />
ao longo das três gerações. Os mimos e paparicos se transformaram <strong>em</strong> aliados<br />
do descumprimento das responsabilidades condizentes com a etapa do ciclo vital<br />
de cada um dos participantes do grupo.<br />
Falando das perspectivas para os filhos, Dona Luiza comenta que Mário não<br />
realizou seu sonho: é irresponsável com a família e não conseguiu manter o<br />
casamento. Quanto aos netos, ela gostaria que estudass<strong>em</strong>, trabalhass<strong>em</strong> e<br />
tivess<strong>em</strong> responsabilidade para cuidar de suas vidas. Dona Luiza conviveu com<br />
eles t<strong>em</strong>po suficiente para uma s<strong>em</strong>eadura de seus sonhos. A vida conturbada<br />
das relações não auxiliou o plantio: ela assumiu inicialmente o papel de paiprovedor<br />
e, posteriormente, de mãe dos netos. Deslocada do lugar de avó, seus<br />
82
ensinamentos sofreram distorções, nas formas ativa e passiva. Em contrapartida,<br />
seu próprio filho, Mário, comenta que não teve sonhos, n<strong>em</strong> para si e n<strong>em</strong> para os<br />
seus.<br />
Celina comenta que, na família, a única a realizar os sonhos dela, como mãe, foi<br />
Patrícia. Ela formou-se <strong>em</strong> Pedagogia, carreira que Celina gostaria de seguir.<br />
Arnaldo entrou numa faculdade que não queria cursar e saiu. E para Rodrigo ela<br />
gostaria da carreira militar, o que coincide com o desejo dele. Os amigos dos filhos<br />
mais velhos são da melhor qualidade, considera ela. O mesmo não se pode dizer<br />
dos de Rodrigo, desde que se iniciou nas drogas. Celina percebe que seus filhos<br />
Arnaldo e Patrícia carregam uma tristeza cotidiana enquanto Rodrigo se manifesta<br />
verbalmente agressivo quando frustrado <strong>em</strong> algo. É sua forma de dimensionar as<br />
reações dos filhos frente aos conflitos e contradições familiares que vivenciam. É<br />
também uma forma de falar sobre sua tristeza e frustração com relação ao seu<br />
des<strong>em</strong>penho como mãe dessa família.<br />
Arnaldo ecoa as palavras de sua mãe: “às vezes eles sonham uma coisa que<br />
colocam como referência e a gente até sofre uma cobrança de um sonho que você<br />
não t<strong>em</strong> culpa deles ter<strong>em</strong> sonhado”. Hoje <strong>em</strong> dia, Arnaldo e também Patrícia<br />
diz<strong>em</strong> que almejam construir uma família e trabalhar.<br />
Rodrigo sonha parar de usar drogas e tentar novamente a carreira militar porque<br />
“quando eu comecei a usar drogas fui desistindo de todos os sonhos, fui parando<br />
de sonhar, porque fui parando de dormir, então já n<strong>em</strong> sonhava”. Seus amigos,<br />
83
diz, são “descartáveis, são amigos de droga”. Provavelmente, Rodrigo está<br />
vinculado estritamente ao grupo de pares e às satisfações produzidas pelo<br />
envolvimento num estilo de vida adicto (Oetting et al, 1998).<br />
O casamento e a manutenção da família são valores caros, uma cantilena da avó<br />
e de todos os m<strong>em</strong>bros da família Mimar. No entanto, o uso de drogas por parte<br />
de Mário tornou-se abusivo após o casamento. Ele não foi educado e n<strong>em</strong> estava<br />
preparado para cumprir os compromissos de um casamento e da constituição de<br />
uma família. Infantilizado pelas mulheres, acomodou-se, da mesma forma que<br />
Arnaldo e Rodrigo. A única expectativa que Mário enuncia é parar de usar drogas,<br />
sonho caro à dona Luiza.<br />
Celina influenciou a escolha profissional da filha e a entrada na faculdade de<br />
Arnaldo. Hoje <strong>em</strong> dia, no entanto, Patrícia considera importante somente o fato de<br />
estar formada. Uma relação amorosa de qualidade, lugar de acolhimento,<br />
intimidade e diálogo, conforme Arnaldo esclarece ao longo de nossa conversa, o<br />
leva a sonhar outra vez, buscando transcender a apatia e a tristeza que tomou<br />
conta de sua vida. Em síntese, a família não criou condições para que seus<br />
m<strong>em</strong>bros alçass<strong>em</strong> vôos <strong>em</strong> busca dos projetos estruturadores dos caminhos<br />
presentes e futuros.<br />
2.4. Processo Educativo<br />
84
Dona Luiza comenta que ainda t<strong>em</strong> conflitos com o filho e com a nora por causa<br />
da conduta de ambos no processo de separação conjugal. Igualmente considera<br />
conflituosa a relação com os netos mais velhos. Arnaldo não aceita mais as suas<br />
sugestões: “o paparico que eu tinha com ele, ele atualmente não aceita”, para a<br />
sua tristeza. Patrícia é “muito brigona, mal criada”. Mas há, também, na sua<br />
relação com os netos mais velhos, um transbordamento de afeto. Rodrigo é o que<br />
ela “adotou” quando Celina saiu de casa. Sente tristeza pelo que está passando<br />
porque o considera muito inteligente, “um menino muito bom, carinhoso” e t<strong>em</strong>e<br />
que não consiga parar de usar drogas, prejudicando assim, uma carreira que<br />
poderia ser brilhante.<br />
Mário, como já foi dito, ainda vive com a mãe uma relação de filho carente de<br />
afeto. Com Celina a relação é boa hoje <strong>em</strong> dia: conversam sobre a questão do<br />
filho <strong>em</strong> relação ao uso de drogas. Para algo t<strong>em</strong> servido o uso de drogas de<br />
Rodrigo. T<strong>em</strong> pouco contato com Arnaldo e, portanto, pouco diálogo. Esse filho<br />
lhe faz l<strong>em</strong>brar que t<strong>em</strong> responsabilidade quanto ao uso de drogas de Rodrigo.<br />
Patrícia e Rodrigo receb<strong>em</strong> mais carinho: “ela é a minha namorada” e ele a sua<br />
preocupação.<br />
Celina concorda com a descrição de dona Luiza e Mário sobre a qualidade do<br />
vínculo entre eles. Sublinha que entra <strong>em</strong> conflito quando o ex-marido retorna às<br />
drogas e faz uso junto com o filho, o que, l<strong>em</strong>bra, não acontece há alguns meses.<br />
Ultimamente, eles têm procurado, juntos, um tratamento para o filho. É mais ligada<br />
a Arnaldo e Rodrigo. Considera Patrícia mais próxima à família do pai.<br />
85
Salta à vista a aliança amorosa entre o pai e sua filha, <strong>em</strong> contraposição à relação<br />
distante entre mãe e filha. Celina encantou-se com os filhos homens, restando a<br />
Patrícia um sentimento de rejeição da mãe e um laço estreito com o pai. Celina e<br />
Arnaldo têm uma cumplicidade e uma intimidade próximas às de marido e mulher.<br />
O encaixe final se mostra no reconhecimento de Arnaldo do seu lugar de pai para<br />
Rodrigo.<br />
Pela primeira vez a mãe comenta sobre seu estado de saúde, que inspira<br />
cuidados “sei que ele [Rodrigo] t<strong>em</strong> muita preocupação com relação a mim, devido<br />
ao probl<strong>em</strong>a de saúde [dela] que veio e está se agravando muito; então espero<br />
que, seja até por causa disso (grifo meu) que ele esteja buscando uma melhora<br />
para ele”. Celina fala de um acordo inconsciente entre ela e Rodrigo: a saúde dela<br />
depende da saúde dele. Ou seja, se explicita mais um equívoco, como forma<br />
possível de alívio do sofrimento: ele deve se cuidar <strong>em</strong> função da mãe e não por<br />
si. Enredado com o projeto de sua genitora, há poucas perspectivas de<br />
protagonismo para Rodrigo.<br />
Arnaldo entende que a relação de conflito com a avó é o preço que paga pela sua<br />
independência. Reafirma a sua proximidade da mãe e o conflito com o pai.<br />
Inclusive, sua namorada comenta que ele às vezes se porta como se fosse pai de<br />
Rodrigo. E Arnaldo se sente “o centro de todos esses probl<strong>em</strong>as” no sentido de se<br />
julgar o responsável pela solução dos probl<strong>em</strong>as familiares. No entanto, diz que<br />
v<strong>em</strong> percebendo que ela depende das “próprias pessoas”.<br />
86
Patrícia concorda com a opinião de seus pais e de sua avó. Comenta que, nos<br />
últimos t<strong>em</strong>pos, passou a se dar b<strong>em</strong> com Arnaldo, que ficou “mais calmo” depois<br />
que começou a namorar. Rodrigo s<strong>em</strong>pre foi o seu “xodó”, mas ultimamente<br />
brigam muito por causa do comportamento dele. Ela t<strong>em</strong>e pela saúde desse<br />
irmão.<br />
Rodrigo explica que já teve intimidade com a avó: até dormia na cama com ela.<br />
Atualmente, não t<strong>em</strong> intimidade com ninguém da família mas, sim, atrito com<br />
todos, <strong>em</strong> menor intensidade com a mãe. Avalia que a sua relação com a família<br />
mudará quando parar de usar drogas.<br />
Não deve ter sido fácil para os filhos e netos viver<strong>em</strong> um vínculo tenso, com<br />
mágoas e acusações mútuas entre Dona Luiza e Celina, porque ambas<br />
des<strong>em</strong>penham o papel de mãe para eles. Apesar de se considerar “o hom<strong>em</strong> da<br />
casa”, o movimento de independência <strong>em</strong>ocional que Arnaldo iniciou é complexo<br />
para ele, porque se refere a uma forte ligação afetiva com Dona Luiza. O rito de<br />
passag<strong>em</strong> da adolescência para o adulto jov<strong>em</strong> é doloroso para pais e filhos, que<br />
dirá para uma avó que t<strong>em</strong> o neto como seu filho!<br />
Em síntese, dona Luiza é mãe de Mário, filho infantilizado e de Arnaldo, neto mais<br />
velho que luta por sua independência. Celina usa uma aliança com Arnaldo, seu<br />
filho mais velho, que t<strong>em</strong> Rodrigo, o caçula, como filho. Mário, o pai, t<strong>em</strong> uma<br />
87
aliança com Patrícia, filha a qu<strong>em</strong> chama de namorada. Essa organização de<br />
hierarquia familiar peculiar configura a complexidade das relações dessa família.<br />
Dona Luiza comenta que o seu próprio pai não foi um modelo de conduta<br />
masculina porque abandonou sua mãe quando ela tinha cinco anos. A mãe, sim,<br />
foi modelo de amor e cuidado pelos filhos. A história mostra que o mesmo ocorreu<br />
com ela: seu marido a abandonou.<br />
Mário relata que sua mãe foi um modelo de dedicação: trabalhava até altas horas<br />
na máquina de costura para lhe dar estudo. Viu pouco o pai, que se separou da<br />
mãe quando ele era pequenino e não morava no Rio. Não conviveu com ele, um<br />
boêmio e seresteiro que indiretamente lhe serviu de modelo. Considera que o avô<br />
paterno foi seu modelo de afeto.<br />
Celina comenta que a mãe foi modelo de dona de casa e de mãe. O pai, um<br />
hom<strong>em</strong> trabalhador, sustentou 7 filhos e lhes dava respeito, amor, carinho e era<br />
muito alegre. Ensinou-lhes a dividir as despesas e viver com o que tinham. Por<br />
tudo isso, foi um modelo de comportamento.<br />
Rodrigo avalia com carinho sua mãe. Diz que s<strong>em</strong>pre foi um modelo de<br />
determinação, apesar dele ainda não segui-la. O pai, ao contrário, representou<br />
s<strong>em</strong>pre para ele o “negativo”, do que não se deve fazer: “Eu era para ser o oposto<br />
dele”. Arnaldo e Patrícia admiram a mãe porque é obstinada, “(uma) pessoa<br />
lutadora, de fibra, forte”, nas palavras de Patrícia. Entretanto, Arnaldo e Rodrigo<br />
88
não conseguiram ou não seguiram as qualidades maternas, enquanto Patrícia<br />
absorveu o seu ex<strong>em</strong>plo de organização. Arnaldo e Patrícia também avaliam o<br />
pai como um modelo negativo de comportamento. Arnaldo comenta que foi<br />
aprendendo “com a vida, conhecendo pessoas, os amigos”, para criar para si um<br />
modelo masculino que tenta transmitir a Rodrigo.<br />
A educação dos filhos, na sua forma passiva, r<strong>em</strong>ete à identificação com os pais e<br />
adultos significativos. O uso abusivo de drogas por parte de Mário permeou a vida<br />
toda de Arnaldo, Patrícia e Rodrigo com repercussões negativas. Mário é mais<br />
filho de Dona Luiza do que pai dos seus filhos; não acompanhou a criação e o<br />
crescimento deles, criando um vazio da figura paterna, ausência acobertada<br />
inconscient<strong>em</strong>ente pelas mulheres, Dona Luiza e Celina. O estabelecimento do<br />
vínculo é uma das condições para que os pais se constituam <strong>em</strong> modelos de<br />
comportamento (Brook et al, 1990). Embora se indigne posteriormente, Celina<br />
soube do uso de drogas por Mário aos três meses de casada e sua união marital<br />
durou o t<strong>em</strong>po suficiente para gerar<strong>em</strong> três filhos. E se houve, por parte dela,<br />
estabelecimento de normas sobre o uso de drogas, estas não foram<br />
impl<strong>em</strong>entadas, já que diz com todas as letras que Rodrigo vai parar de usá-las<br />
<strong>em</strong> consideração a sua saúde.<br />
Arnaldo conta que estava perdido até começar a namorar: a relação o colocou no<br />
prumo. No entanto, é preciso considerar essa insegurança crônica, que coloca<br />
suas decisões interiores s<strong>em</strong>pre na dependência do “outro”. Precisa do outro<br />
89
como alavanca. Porém, mostra-se mais amadurecido do que Mário, cuja alavanca<br />
<strong>em</strong>ocional é a mãe, Dona Luiza, na altura de seus 58 anos!<br />
O uso que a família faz do amor é digno de nota por ser utilizado como paparico e<br />
mimo, que mais incr<strong>em</strong>entam a dependência <strong>em</strong>ocional do que o amor dado na<br />
forma de afeto, aprovação, atenção, que poderiam contribuir para o<br />
desenvolvimento <strong>em</strong>ocional e o protagonismo dos filhos.<br />
Mário nada teve a comentar sobre deveres, responsabilidades e a figura de<br />
autoridade na sua família nuclear, porque foi s<strong>em</strong>pre uma figura ausente. Celina<br />
argumenta sobre isso, assumindo o papel de pai e mãe: os deveres eram<br />
cumpridos quando os filhos eram pequenos porque senão “o pau comia”: cobrava<br />
tarefas e castigava os descasos e a inadimplência. O marido, diz, “só chegava <strong>em</strong><br />
casa devagar quase parando. Entrava, tomava banho, ia para a rua e quando<br />
voltava, voltava já num estado que ele sabe”.<br />
Dona Luiza estabelece a vinculação do presente de Mário com os t<strong>em</strong>pos de sua<br />
infância: “sua única responsabilidade era estudar”. Os dois netos, quando<br />
moraram com ela, tratou da mesma forma que ao pai. Patrícia, por ser mulher,<br />
tinha que ajudar <strong>em</strong> casa. Rodrigo se l<strong>em</strong>bra: “eu ficava só na rua”. Dona Luiza<br />
avalia hoje que agiu mal por não impor limites: “tinha pena [dos netos], só chorava.<br />
Tudo que eles queriam, eu fazia”. “Eu errei, errei mesmo”.<br />
90
Arnaldo fala do assunto, l<strong>em</strong>brando que aos 14 anos, <strong>em</strong> pleno início da<br />
adolescência, faltou-lhe a figura de autoridade, concordando com Patrícia que, à<br />
época da separação, os irmãos ficaram “perdidos”, uma vez que Celina, até então,<br />
representava a figura de autoridade. Voltando a viver com a mãe após os cinco<br />
anos <strong>em</strong> que permaneceram com a avó, Patrícia e Rodrigo tiveram afeto, limites e<br />
exigências de responsabilidade colocados por ela e pelo padrasto. No entanto, a<br />
figura do atual marido de Celina <strong>em</strong> nenhum momento foi objeto de comentário<br />
por parte dos filhos dela. Uma das hipóteses sobre essa ausência seria o fato de<br />
que a nova relação de Celina não é assunto para ser comentado na frente de<br />
dona Luiza.<br />
Em resumo, observa-se uma discrepância estruturante nos pais Celina e Mário.<br />
Ele foi educado num ambiente de mimo por uma leva de mulheres e nunca<br />
assumiu a função paterna. Ela, inicialmente, educa com firmeza os seus filhos,<br />
com uma prática mais repressiva do que compreensiva. O marido não apanhava,<br />
mas se eximia, abusando das drogas. Dona Luiza foi mais coerente <strong>em</strong> sua<br />
trajetória. Mimou a todos, tanto o filho quanto os netos. Esses últimos passaram<br />
por estilos educativos diversos, contrastantes e incoerentes ao longo da infância e<br />
da adolescência, tendo como ponto significativo os preceitos da geração de dona<br />
Luiza, onde a família de organização hierárquica tinha papéis socialmente<br />
definidos (<strong>Figueira</strong>, 1987). Dentre os costumes, reafirmou as desigualdades de<br />
gênero: punha a neta para auxiliar nas tarefas domésticas. Os meninos só tinham<br />
que estudar e brincar. Os três oscilaram entre uma experiência educativa<br />
permissiva da avó e uma s<strong>em</strong>i-autoritária da mãe. Digo s<strong>em</strong>i-autoritária ou<br />
91
contraditória, porque havia um acordo inconsciente entre Celina e Mário, <strong>em</strong><br />
decorrência do qual ele tudo podia. Isso era assistido pelos filhos que, no<br />
cotidiano, tinham que agir segundo práticas educativas autoritárias e andar na<br />
linha.<br />
2.5. Considerações finais<br />
Dona Luiza valora o estudo e o trabalho para a construção de um futuro para seu<br />
filho e seus netos. Entretanto, mima, superprotege inicialmente o filho e,<br />
posteriormente, os netos, prejudicando-os na construção da autonomia. Celina<br />
inclui o amor e o respeito a si e ao próximo como prioridade valorativa. Mas toma<br />
a atitude de abandonar o lar onde viv<strong>em</strong> os filhos, à época da separação de Mário.<br />
Como interpretar os valores que lhe são caros nessa situação?<br />
Não resta dúvida de que o sofrimento permeou a família àquela hora e a atitude<br />
de Celina, até então presente na vida de seus filhos, representou uma ruptura<br />
muito profunda na estrutura das relações familiares. Hierarquicamente, Arnaldo, o<br />
filho mais velho, é inseguro <strong>em</strong> parte porque está deslocado do seu lugar,<br />
cumprindo o papel de “hom<strong>em</strong> da casa”, enquanto seu pai, Mário, encontra-se na<br />
geração dos filhos, juntamente com Patrícia e Rodrigo. Os valores caros à família<br />
se distanciam da prática, na medida <strong>em</strong> que os adultos significativos e os filhos<br />
não des<strong>em</strong>penham as tarefas concernentes ao seu lugar na constelação familiar.<br />
O vínculo que se estabelece entre os familiares segue a organização hierárquica<br />
da família. O conflito, quando permeia as gerações, compromete a chance de<br />
92
negociação. O amor é vivenciado mais como superproteção do que como<br />
ingrediente para a autonomia. Há também uma relação quase incestuosa entre<br />
irmãos – Mário e Patrícia –, que viv<strong>em</strong> agarrados um no outro <strong>em</strong> oposição a uma<br />
relação de rejeição entre mãe e filha. Os mais mimados, Mário e Rodrigo, são<br />
mais atrasados com relação ao desenvolvimento <strong>em</strong>ocional. Desta forma, os<br />
m<strong>em</strong>bros da família estão distantes de uma internalização dos valores<br />
fundamentais necessários ao desenvolvimento <strong>em</strong>ocional e intelectual.<br />
Sob a ótica dos processos de permanência e mudança na família Mimar ocorre<br />
uma contínua constrição das pautas de interação, com o intuito de manter uma<br />
constância e uma previsibilidade que não ameac<strong>em</strong> a convivência já conhecida<br />
(Schnitman, 1987). A inovação e plasticidade que levam a novas formas de se<br />
comportar são t<strong>em</strong>idas e por isso afastadas, na maioria das vezes. Configura-se<br />
um processo impeditivo do crescimento, tendo como conseqüência uma parada no<br />
ciclo vital. O processo de crescimento biológico continua, mas o <strong>em</strong>ocional<br />
estaciona, resultando <strong>em</strong> aberrações <strong>em</strong>ocionais que se expressam através da<br />
dependência e da infantilização de seus m<strong>em</strong>bros. Por ex<strong>em</strong>plo: Patrícia<br />
simbolicamente esmola, dia a dia, um real, possivelmente mendigando o amor de<br />
mãe, resultante de sua carência <strong>em</strong>ocional. Ela precisa de pouco (afeto), contanto<br />
que seja cotidianamente. Não resta dúvida de que há angústia quando cada<br />
m<strong>em</strong>bro da família entra <strong>em</strong> contato com o seu próprio reflexo.<br />
Essa constatação conduz à disparidade entre as expectativas para a vida pessoal<br />
e profissional dos integrantes da segunda e da terceira gerações. Se as pessoas<br />
93
não são criadas de acordo com preceitos para um crescimento saudável não têm<br />
como estabelecer expectativas para si e n<strong>em</strong> que elas sejam condizentes com o<br />
desenvolvimento integral do outro. Em suma, Dona Luiza e Celina construíram um<br />
projeto de vida (Velho, 1999d) para seus filhos s<strong>em</strong> a co-participação e a<br />
negociação com os possíveis interessados.<br />
Das nove famílias entrevistadas para o estudo, <strong>em</strong> duas há um pai que fez uso<br />
abusivo de drogas. Em ambas, os resultados no âmbito da interação familiar são<br />
devastadores. Na família Mimar, Mário revela a sua ausência como adulto para a<br />
sua mãe, sua ex-mulher e seus filhos. Sua vida resumiu-se ao abuso das drogas<br />
de forma que tanto o trabalho quanto o cuidado com os filhos não foram<br />
prioritários. Arnaldo e Rodrigo desde s<strong>em</strong>pre tiveram essa referência masculina.<br />
Arnaldo, sentindo-se perdido, começa a usar maconha à época da escolha de sua<br />
vida profissional, no momento <strong>em</strong> que configura o primeiro grande passo para a<br />
vida adulta. Rodrigo inicia o consumo abusivo de drogas aos 16 anos, com<br />
cocaína e maconha, quando, <strong>em</strong> geral, a droga ilícita mais experimentada por<br />
adolescentes é a maconha (Carlini et al, 2002). Suponho que Rodrigo utilizou a<br />
cocaína junto com ou influenciado por Mário. Hoje, sua formação escolar marca<br />
passo no segundo grau na altura de seus 20 anos. Sonha com a carreira militar,<br />
mas está enredado com as drogas. Constrói suas próprias regras de uso dentro<br />
de casa e se afasta da lei e da ord<strong>em</strong> militar que internamente almeja.<br />
O abuso de drogas do pai influenciou de formas diversas os dois filhos segundo as<br />
características físicas, <strong>em</strong>ocionais e sociais de cada um. Arnaldo desfrutou da<br />
94
mãe e do pai por mais t<strong>em</strong>po do que Rodrigo. O caçula era ainda b<strong>em</strong> pequeno<br />
quando os pais se separaram e viveu uma ruptura radical do convívio com a mãe.<br />
Se os três filhos ficaram órfãos de pais vivos, as conseqüências dessa separação<br />
foram mais traumáticas para o caçula, como se depreende da história de vida de<br />
cada um, já narrada aqui. Desta forma é preciso entender que o uso abusivo de<br />
drogas é um dos fatores que o auxilia a lidar com as dificuldades da vida, ainda<br />
que não se possa estabelecer uma relação linear entre os fatos. A adicção do pai<br />
des<strong>em</strong>penha um papel mediador na transmissão intergeracional desses<br />
comportamentos. Schor (1996) sublinha que as interações familiares e os padrões<br />
de comportamento dos pais, aliados à adicção do adulto, influenciam <strong>em</strong> grande<br />
medida o comportamento dos filhos. Tal como ocorre na família Mimar.<br />
Os valores são conflitantes nessa família porque os adultos pregam coerência na<br />
sua impl<strong>em</strong>entação pelos filhos e não dão o ex<strong>em</strong>plo. Celina valora o amor, mas<br />
não o distribui igualmente entre os três filhos. Dona Luiza espera que a família<br />
permaneça unida e não chama o seu filho à responsabilidade adulta. É<br />
contraditória a permissividade frente ao uso abusivo de drogas e os valores<br />
enunciados por ela.<br />
O estilo e a prática de criação são díspares de geração para geração. Dona Luiza<br />
baseia-se mais no amor s<strong>em</strong> limites e Celina <strong>em</strong> medidas punitivas que restring<strong>em</strong><br />
o comportamento e a autonomia dos filhos. Esses estilos foram oferecidos<br />
alternadamente para a terceira geração e influenciaram no desenvolvimento de<br />
uma insegurança básica nos três jovens. É importante ressaltar que o crescimento<br />
95
sócio-<strong>em</strong>ocional do adolescente é facilitado pela comunicação aberta com a<br />
família quando os pais explicam as suas afirmações, permit<strong>em</strong> que todos fal<strong>em</strong>,<br />
ouçam e facilitam o processo de diferenciação, no ambiente interativo (Liddle et al,<br />
1992).<br />
De acordo com o aqui exposto, concluo que os valores familiares pod<strong>em</strong> ser tidos<br />
como um fator de influência do uso abusivo de drogas sobre a família Mimar<br />
porque sua transmissão e prática foram perpassadas concomitant<strong>em</strong>ente por: um<br />
modelo de pai ausente ainda que presente, também adicto; vínculos repletos de<br />
mágoas, muitas advindas da contradição entre os princípios que são valorizados e<br />
a sua prática; a expectativa de realização pessoal e profissional dos filhos é uma<br />
projeção de sonhos não realizados pelos adultos; o processo de criação dos<br />
jovens é influenciado pela turbulência de <strong>em</strong>oções e rupturas familiares.<br />
3. A Família Ciumeira<br />
3.1. Contextualização<br />
Escolhi nomear essa família como Ciumeira por ser esse sentimento uma marca<br />
das relações entre os componentes da família. Os ciúmes têm impedido a<br />
construção de interações promotoras de crescimento familiar.<br />
A família Ciumeira, como a anteriormente analisada, mora na zona norte do Rio de<br />
Janeiro e se constitui do avô paterno, o Sr. Felício, de 71 anos, o pai, Michael, de<br />
96
49 anos, a mãe, Laura, de 44 anos, o usuário, Alexandre, de 20 anos, e seu irmão<br />
Maurício, com 18 anos. O avô vive numa casa ao lado da do filho.<br />
A família me recebeu numa manhã de sábado. Sentamo-nos ao redor da mesa de<br />
jantar para a entrevista. Na cabeceira estavam o avô e a mãe. Alexandre se<br />
posicionou ao lado dela e do irmão, Maurício. Em frente a mim estava o pai. Todos<br />
me acolheram generosamente. Para essa família era nítido, desde o início, o<br />
interesse na entrevista, na expectativa de que ela pudesse colaborar na solução<br />
das dificuldades que o grupo vive. Os dois rapazes me pareceram b<strong>em</strong> meninos<br />
fisicamente, sendo que Alexandre aparenta menos idade do que seu irmão de 18<br />
anos.<br />
O grau de escolaridade dos m<strong>em</strong>bros da família é bastante elevado: o senhor<br />
Felício t<strong>em</strong> curso superior completo; Michael e Laura, superior incompleto;<br />
Alexandre cursa o segundo grau, e Maurício, a faculdade.<br />
Família de classe média, sua renda gira <strong>em</strong> torno de R$ 4000,00, proveniente do<br />
salário dos pais. O pai trabalha numa firma de prestação de serviços na área de<br />
petróleo e a mãe é professora numa escola particular. O avô recebe R$ 3000,00<br />
de aposentadoria do Ministério da Marinha. Mas esse valor não é revertido para o<br />
sustento da família de seu filho.<br />
Alexandre iniciou o uso de maconha <strong>em</strong> roda de amigos por volta dos 16 anos.<br />
Fumava de 8 a 9 baseados por dia. Comenta que os parceiros de droga, que<br />
97
começaram a consumir já mais velhos, com a “cabeça formada” conseguiram<br />
administrar o uso da maconha. Já ele “não teve cabeça boa e tudo era festa”. De<br />
dois anos para cá t<strong>em</strong> consciência da quantidade de maconha que consome e diz:<br />
“não faço nada que eu não saiba que eu esteja fazendo”. Em seguida concede:<br />
“situações impensadas” também ocorr<strong>em</strong>, <strong>em</strong>bora raramente. Repetiu duas vezes<br />
a sétima série. A entrada no consumo de maconha coincide com a segunda<br />
repetência. Comenta que vivenciou a situação de ver seus amigos andar<strong>em</strong> para<br />
frente e ele estacionar na mesma série e assim, ficar para trás.<br />
O uso de maconha poderia protegê-lo, alienando-o enquanto desfrutava da<br />
companhia de amigos mais velhos. O consumo abusivo de drogas t<strong>em</strong> essa dupla<br />
face: dá ao sujeito a impressão de autonomia e de independência da família,<br />
porém conjugada à imaturidade e à dependência familiar. Há evidências de que os<br />
adolescentes não são cooptados por amigos anti-sociais, mas estes se tornam<br />
atraentes pelo fato de o meio familiar, como o de Alexandre, ser permeado por<br />
conflitos, aliados a práticas educativas que não equilibram afeto e limites para os<br />
seus filhos (Oetting e Donnermeyer, 1998).<br />
Alexandre e seus pais encontram-se <strong>em</strong> tratamento no Centra-Rio. Ele, há dois<br />
anos, e seus pais, há poucos meses.<br />
3. 2. Valores familiares<br />
O senhor Felício considera importante ensinar aos filhos e netos valores morais,<br />
religiosos e sociais, sendo que os últimos dev<strong>em</strong> ser exercitados dentro e fora da<br />
98
casa. Enfatiza que ensinou os princípios mais pelo ex<strong>em</strong>plo do que pela palavra.<br />
“Independente de qualquer orientação externa, isso [os princípios] estava dentro<br />
de mim, era imanente”. Comenta que pode não ter sido correto ao impl<strong>em</strong>entar<br />
algum princípio, evidenciando que também educou ativamente os seus filhos.<br />
Ex<strong>em</strong>plo: considera que foi muito rigoroso com os estudos porque fazia com que<br />
os filhos realizass<strong>em</strong> mais deveres do que o necessário e castigava-os caso isso<br />
não ocorresse. “Mas o objetivo s<strong>em</strong>pre era fazer uma aplicação correta”.<br />
Michael e Laura valorizam o respeito <strong>em</strong> família e às outras pessoas. Foi mais<br />
fácil para ambos ensinar através do ex<strong>em</strong>plo e “de palavras”, quando os filhos<br />
eram menores porque “podíamos carregar na saia da mãe”, segundo Michael, que<br />
diz colocar <strong>em</strong> prática os princípios, de modo s<strong>em</strong>elhante ao seu pai, com um<br />
tanto de exagero nas cobranças e exigências.<br />
Laura entende o respeito como o direito do outro de ser diferente: “agora com<br />
essa questão do Alexandre, da gente respeitar que n<strong>em</strong> todos são iguais e que<br />
n<strong>em</strong> por isso têm que ficar à marg<strong>em</strong> da sociedade. Isso foi difícil; não é uma<br />
prática tranqüila; não é porque ele é diferente de nós que ele não merece o nosso<br />
respeito, que ele não merece o convívio social”.<br />
No entanto, de forma incoerente, a mãe considera Alexandre diferente do resto da<br />
família, discriminando-o e classificando-o de adicto, d<strong>em</strong>onstrando uma postura<br />
contraditória com o princípio do respeito e da aceitação das diferenças. Ela não se<br />
implica, n<strong>em</strong> à sua família, na drogadição de Alexandre. Não percebe a família<br />
99
como uma co-participante do uso abusivo da maconha por parte do filho. Howard<br />
Becker, por ex<strong>em</strong>plo, l<strong>em</strong>bra que a idéia de desviante, comumente colada à figura<br />
do dependente precisa ser desconstruída. Afirma que “o desvio não é uma<br />
qualidade que existe no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa<br />
que comete um ato e aqueles que respond<strong>em</strong> a ela” (Becker, 1977a, 64). Assim,<br />
“estas atividades requer<strong>em</strong> a cooperação aberta ou tácita de muitas pessoas e<br />
grupos para acontecer<strong>em</strong>” (Becker, 1973, 183).<br />
Continuando a expressar seus princípios, Laura diz que a fé <strong>em</strong> si ou <strong>em</strong> algo é<br />
um valor importante para ela, impulsiona seus sonhos. Valoriza o ser mais que o<br />
ter, principalmente a união da família. No entanto, considera tudo isso muito difícil<br />
na atualidade. Concorda com Michael que ensinaram os princípios <strong>em</strong> que<br />
acreditam aos filhos, ressaltando que “n<strong>em</strong> tudo que a gente faz, fala e tenta<br />
passar é absorvido pelo outro”.<br />
Conforme já visto <strong>em</strong> Maturana (1999, 2001), a condição primeira para que haja<br />
aprendizag<strong>em</strong> são mudanças estruturais recíprocas entre os m<strong>em</strong>bros da família.<br />
Os familiares absorv<strong>em</strong> os princípios ensinados, procedendo a uma tradução de<br />
acordo com a sua estrutura individual. Isso ocorreu com Alexandre e também com<br />
Maurício.<br />
Interesso-me <strong>em</strong> saber a respeito da relação entre a enunciação e a prática dos<br />
princípios e Laura cita ex<strong>em</strong>plos sobre a socialização e o respeito, para explicar<br />
quão conflituosa é essa situação. Diz que seu objetivo “é por <strong>em</strong> prática [socializar<br />
100
com o outro], mas eu ainda estou <strong>em</strong> processo, dentro daquilo que eu julgo ser<br />
correto”. Considera-se exigente e pouco tolerante, porque como se dá “por inteiro”<br />
numa relação, exige uma reciprocidade. No entanto, comenta, “eu não estou<br />
respeitando e aceitando o outro como ele é; então eu me contradigo”.<br />
A simples enunciação de um valor não garante a sua existência, que só se<br />
concretiza na ação. Compreender como as contradições maternas repercut<strong>em</strong> na<br />
formação de valores dos filhos constitui uma pergunta importante na análise desta<br />
família. Alexandre se mostra mais refratário aos ensinamentos dos princípios,<br />
enquanto Maurício se mostra mais permeável.<br />
Durante a conversa com a família interessei-me <strong>em</strong> saber a opinião dos seus<br />
m<strong>em</strong>bros sobre as expectativas <strong>em</strong> relação à possibilidade de assimilação,<br />
modificação ou transformação dos seus princípios. O senhor Felício pondera que<br />
os valores são herdados do meio social, por isso são internalizados e vivenciados.<br />
Cita um ex<strong>em</strong>plo de sua época: “na minha geração nós herdamos o cigarro, a<br />
bebida usada conscient<strong>em</strong>ente; era permissível. Mas nós como indivíduos que<br />
assimilávamos determinado valor, a gente, pelo menos na minha geração, não<br />
admitia que um filho meu fumasse, mas com o t<strong>em</strong>po eu admiti, porque era uma<br />
coisa que acontecia. O que eu quero dizer é que os valores não se transformam,<br />
mas a gente se adequa ao não uso de um determinado valor”. Essa frase<br />
transmite a idéia de que os valores são, ao mesmo t<strong>em</strong>po, perenes e anteriores a<br />
nós, e o máximo que faz<strong>em</strong>os é adequá-los. Ou seja, ela veicula a crença de que<br />
a ação humana na produção de valores se define apenas através de uma “certa<br />
101
tolerância” à mudança. Completa seu raciocínio dizendo que nunca pensou <strong>em</strong><br />
conviver com um neto que usasse drogas e que “marginalizaria” alguém de sua<br />
família que se tornasse um adicto. Sua postura de repúdio a esse tipo de<br />
consumo, aplica-se, continua o mesmo, mas “eu sou impotente, não posso mudar<br />
a cabeça de outra pessoa”. Assim vive a divisão interior de amar o neto e não<br />
admitir que use droga. Em síntese, o senhor Felício estabelece uma dissociação<br />
entre os valores <strong>em</strong> que acredita e a operacionalização deles por meio da cultura.<br />
Na sua prática de vida, esse senhor cede à pressão das modificações das práticas<br />
sociais movido, porém, pela <strong>em</strong>oção do amor pelos seus filhos e neto.<br />
Michael concorda com o pai sobre sua representação de valores, dando sua<br />
opinião: “Não matar, isso é um princípio imutável”; mas se for <strong>em</strong> legítima defesa<br />
poderá haver uma adequação desse comportamento àquela situação particular.<br />
Laura é “mais radical” ao enunciar que os valores não deveriam ser alterados,<br />
porque sua transformação ao longo do t<strong>em</strong>po gera um desrespeito entre os<br />
familiares. “A sociedade vai de mal a pior de tanto que se mexe nesses princípios.<br />
A gente tinha que ser mais enérgico nesse ponto”. Ela está s<strong>em</strong>pre referida ao<br />
probl<strong>em</strong>a e ao desconforto da adicção às drogas pelo filho, como se a “frouxidão<br />
de valores” da sociedade fosse responsável pela situação desse jov<strong>em</strong> que ela<br />
tentou manter dentro da teoria e da prática de vida <strong>em</strong> que acredita. Por isso,<br />
considera que a transformação dos valores tradicionais pela juventude atual<br />
prejudica os indivíduos. Sua opinião, s<strong>em</strong>elhante à do senhor Felício e de Michael,<br />
está na contramão do que Ribeiro e Ribeiro (1993) discut<strong>em</strong>: os princípios se<br />
102
alteram <strong>em</strong> diferentes períodos históricos, correspondendo às mudanças das<br />
práticas sociais e dos modelos culturais da família e da sociedade.<br />
Alexandre reforça que os princípios não dev<strong>em</strong> ser modificados. Maurício<br />
concorda com o irmão e compl<strong>em</strong>enta: deve-se tentar “aperfeiçoar” os princípios.<br />
Dentre os valores fundamentais todos mencionam a família. O senhor Felício<br />
classifica a família como uma união de pessoas cujos laços de parentesco são<br />
consangüíneos e de afinidade.<br />
Para Michael, a família é a célula-base da sociedade. Representa união, respeito<br />
e ajuda mútua. Comenta que, nos dias de hoje, as relações amorosas são<br />
efêmeras, tornando difícil a manutenção do casamento. Mas, diz: “a cada século<br />
que passa os valores mudam, mas o conceito básico eu acho que é a família”.<br />
Laura também considera que tudo gira <strong>em</strong> torno da família. Explica que o sogro<br />
soube educar os filhos de forma que, hoje <strong>em</strong> dia, todos constituíram seu núcleo e<br />
conviv<strong>em</strong> b<strong>em</strong>. A sogra, já falecida, também aglutinava a família. Relata que os<br />
agregados foram “contaminados” por essa forma de condução positiva e amorosa,<br />
porque os sogros colocaram <strong>em</strong> prática a convivência e o auxílio mútuo.<br />
Emociona-se com a história que me conta e finaliza dizendo estar casada com<br />
Michael há um quarto de século.<br />
Ao descrever o que entende por família, Laura menciona que viveu na família de<br />
Michael a união entre os seus m<strong>em</strong>bros. Ingressou num contexto <strong>em</strong> que a<br />
103
convivência era a prática social e não somente uma pr<strong>em</strong>issa teórica. Essa é uma<br />
observação importante porque, ainda segundo Laura, é necessário haver uma<br />
coerência entre o que se pensa (o princípio) como valor importante para si com a<br />
prática desse valor.<br />
Alexandre, fazendo coro a seus pais, comenta que família é o lugar seguro onde<br />
se processam as identificações. Maurício também concorda que ela é a “base de<br />
tudo” porque a pessoa conta com ela para qualquer situação <strong>em</strong> sua vida.<br />
Comenta que se considera querido por todos. Não resta dúvida de que o conceito<br />
família configura o alicerce desse conjunto de pessoas.<br />
3.3. Conflito entre Gerações<br />
O senhor Felício comenta que seus filhos foram criados por ele e a mulher para<br />
ter<strong>em</strong> bons modos, instrução e limites na compra de qualquer coisa de que<br />
necessitass<strong>em</strong>. Conviveram com a avó paterna que não mantinha uma relação<br />
muito estreita com os netos.<br />
Laura relata que os filhos estudavam um turno na escola e no outro ficavam com a<br />
sua mãe para que ela e Michael pudess<strong>em</strong> trabalhar. Este esqu<strong>em</strong>a vigorou até<br />
os 12 anos de Alexandre e 10 de Maurício, a despeito da mudança da família anos<br />
antes para o local onde moram atualmente, que fica distante da casa da avó<br />
materna. A mãe pondera que seus filhos dev<strong>em</strong> mais à avó a educação quanto<br />
aos princípios morais e religiosos nessa fase, do que a eles, os pais. Laura e<br />
Michael concordam sobre a necessidade que tiveram de lançar mão da avó<br />
104
materna para cuidar dos filhos enquanto trabalhavam. O trabalho da mulher fora<br />
de casa deriva de uma época de reivindicações ocorridas entre as décadas de 60<br />
e 70 e que se tornou, hoje <strong>em</strong> dia, uma necessidade para a sobrevivência de um<br />
casal de classe média.<br />
Discorrendo sobre essas contingências, Michael comenta que a avó materna<br />
superprotegeu os netos e ainda brigava com ele, caso lhes desse palmadas.<br />
Referindo-se ao mundo de seu t<strong>em</strong>po, avalia que era mais fácil educar os filhos à<br />
época <strong>em</strong> que as famílias não tinham TV, carro e tantas opções. Diz: “reuniam-se<br />
para conversar <strong>em</strong> casa e os pais conseguiam passar informações positivas”.<br />
Hoje, pondera, raramente a família se senta junto à mesa. Fala do acesso à<br />
internet como um <strong>em</strong>pecilho, pois torna quase impossível coibir os excessos: há<br />
liberdade e informação <strong>em</strong> d<strong>em</strong>asia. Considera que s<strong>em</strong>pre foi enérgico porque<br />
colocou limites quanto ao horário dos filhos, mas havia um mundo de comparação<br />
com os amigos que chegavam tarde. Explica que julga “cansativo” hoje <strong>em</strong> dia<br />
para os pais manter<strong>em</strong> o filho na escola, dar<strong>em</strong> uma boa formação. “Às vezes dá<br />
vontade de desistir mas, se não for você, qu<strong>em</strong> fará?”<br />
Michael se mostra atordoado com a questão de como oferecer uma orientação<br />
durável, uma educação para valores num t<strong>em</strong>po fragmentado, de ofertas de<br />
trabalho e divertimento de curta duração, esquecendo-se de que a continência do<br />
afeto, do apoio e da relação são permanentes. Conforme expõe Sennett (2001,<br />
27), “<strong>em</strong> lugar dos valores de camaleão da nova economia, a família deve<br />
105
enfatizar, ao contrário, a obrigação formal, a confiança, o compromisso mútuo e o<br />
senso objetivo. Todas essas são virtudes de longo prazo”.<br />
O senhor Felício avalia positivamente seus filhos. Julga-os, de uma forma geral,<br />
responsáveis. Comenta que eles são independentes, mas aponta para uma<br />
dependência afetiva saudável no interior das famílias: “qualquer um saber que<br />
pode contar com o outro”, confiança que se expressa num laço afetivo construído<br />
ao longo do t<strong>em</strong>po. Sennett (2001,169) esclarece: “A vergonha da dependência<br />
t<strong>em</strong> uma conseqüência prática. Corrói a confiança e o compromisso mútuos, e a<br />
ausência desses laços ameaça o funcionamento de qualquer <strong>em</strong>preendimento<br />
coletivo”. O senhor Felício ressalta que seus filhos são independentes<br />
materialmente. Só teria que se preocupar <strong>em</strong> assisti-los por motivo de doença, por<br />
ex<strong>em</strong>plo.<br />
Referindo-se aos netos Alexandre e Maurício, o avô expressa que gostaria de ser<br />
mais freqüent<strong>em</strong>ente solicitado pelo filho e pela nora a falar sobre o<br />
comportamento deles. Considera Maurício responsável para com as suas<br />
amizades, mas não para com os seus estudos e Alexandre irresponsável, porque<br />
traz para casa amigos que não são sociáveis. Conclui dizendo: “independência <strong>em</strong><br />
d<strong>em</strong>asia é prejudicial. Dependência e independência nos extr<strong>em</strong>os geram o<br />
probl<strong>em</strong>a da responsabilidade ou irresponsabilidade”.<br />
Laura e Michael avaliam que Alexandre e Maurício têm respeito e carinho pelos<br />
outros. Porém, julgam Alexandre irresponsável com relação à sua saúde porque<br />
106
dorme e acorda <strong>em</strong> hora errada, alimenta-se mal e usa drogas. Diz<strong>em</strong> que<br />
Maurício sabe se cuidar e t<strong>em</strong> boas amizades. Entretanto, é irresponsável para<br />
com os estudos porque não é aplicado. Michael pensa que Maurício ainda não<br />
“despertou” para o mundo competitivo da atualidade. Referindo-se a Maurício,<br />
Laura fala: “ele é responsável, é b<strong>em</strong> responsável, não é meu filhinho? O<br />
Alexandre, meu menino maluquinho, digamos assim, ele precisa crescer mesmo<br />
para eu poder dizer: ele é responsável (grifo meu)”.<br />
Os pais concordam que os filhos são independentes nas atividades de lazer, mas<br />
não nas de trabalho. A forma como Laura se refere aos filhos (atentar para o grifo)<br />
me faz l<strong>em</strong>brar o início da entrevista quando, olhando para Alexandre e Maurício,<br />
achei-os mais jovens do que sua idade cronológica. E com uma disparidade<br />
adicional: Alexandre parece ainda mais menino do que o seu irmão adolescente.<br />
Pais e filhos se constro<strong>em</strong> numa rede de conversações a partir de um modo de<br />
existir compartilhado e conservado ao longo do t<strong>em</strong>po (Maturana et al, 2002d).<br />
Maurício encontra-se num estágio de bela adormecida dos contos de fada. O que<br />
o despertará? Na prática, esses jovens precisam ser l<strong>em</strong>brados sobre as suas<br />
responsabilidades. Falta-lhes motivação. Os pais comentam que Alexandre se<br />
mostra independente com relação ao uso de drogas. Mas Michael define essa<br />
atitude como uma “independência irresponsável”. O uso da maconha por parte de<br />
Alexandre pode ser visto como uma tentativa de buscar autonomia e<br />
independência <strong>em</strong> relação à família (Schenker e Minayo, 2005).<br />
107
Alexandre não se considera responsável porque “não atingi essa maturidade de<br />
poder falar que sou responsável”. Comenta que é dependente, tanto<br />
financeiramente quanto a ter de viver com a família <strong>em</strong> harmonia. Já Maurício se<br />
julga dependente financeiramente e precisa dos pais para saber “que direção<br />
tomar”. Mas também é independente com relação aos amigos e t<strong>em</strong> noção do<br />
mercado de trabalho. Sabe se portar, tanto quando fica só <strong>em</strong> casa como se for<br />
viajar sozinho. Os dois jovens avaliam que pod<strong>em</strong> se tornar responsáveis,<br />
divergindo quanto à independência pessoal. Alexandre acredita que o indivíduo<br />
nasce e cresce dependente e sobrevive independente. E Maurício comenta que<br />
seu objetivo é ter uma grande parcela de independência, de modo s<strong>em</strong>elhante ao<br />
avô.<br />
É evidente a disparidade de maturidade desses irmãos adolescentes. O mais novo<br />
está na faculdade, apesar de ainda ter dúvidas sobre a carreira (o que é<br />
totalmente compreensível), t<strong>em</strong> amigos e mostra competência social. Alexandre<br />
está com 20 anos e cursa o segundo grau, t<strong>em</strong> necessidade de amalgamar-se<br />
com a família, um indício de baixa auto-confiança. Investe pouco <strong>em</strong> seu futuro,<br />
diferente de Maurício que, apesar de ainda depender das orientações dos pais, o<br />
que é esperado na adolescência, está mais antenado com o investimento <strong>em</strong> seu<br />
futuro.<br />
A aposta na modificação ou na transformação impulsiona a família para a busca<br />
de novos caminhos. O senhor Felício comenta que “sonhou de pés no chão” para<br />
os seus filhos. Ele e a esposa deram condições, com sacrifício, para que seus<br />
108
desejos se realizass<strong>em</strong>. Na idade atual de seus netos, os filhos estudavam e<br />
colhiam frutos de sua dedicação. O avô considera que, principalmente, Alexandre<br />
precisa amadurecer e tornar-se mais responsável.<br />
O senhor Felício explica que os projetos de seus netos dev<strong>em</strong> ser modificados,<br />
porém para que isso aconteça, “a vontade t<strong>em</strong> que vir de dentro para fora. O outro<br />
pode colaborar na mudança, mas não ser responsável por ela”. Pondera que a<br />
modernidade da tecnologia atrapalha e diminui a influência dos pais. Por outro<br />
lado, avalia que falta iniciativa aos netos: “já são grandes para assumir<strong>em</strong><br />
responsabilidades s<strong>em</strong> precisar<strong>em</strong> ser monitorados pelos pais”. Embora bastante<br />
reflexivo sobre a situação da família, sugere ser pouco d<strong>em</strong>andado para as<br />
discussões dessa família. Explicita, portanto, que poderia colaborar com os netos<br />
se houvesse oportunidade de conversas com a família reunida, como nessa<br />
ocasião propiciada pela entrevista.<br />
Falando de seus projetos para os filhos, Laura discorre sobre o desejo de que<br />
estud<strong>em</strong>, tenham amigos e progridam na vida. Comenta que Maurício está no<br />
caminho certo e só não está mais à frente por causa do ex<strong>em</strong>plo de Alexandre.<br />
Avalia que “hoje <strong>em</strong> dia, meus sonhos são homeopáticos”, explicando que variam<br />
de acordo com o que os filhos pod<strong>em</strong> dar. Cita como ex<strong>em</strong>plo o fato de Maurício<br />
ter passado para uma faculdade particular quando ela sonhou que ele estudasse<br />
numa pública. Ressalta, comovida e consolando-se, que os filhos têm um forte<br />
sentido de família; “é prazeroso para eles viver <strong>em</strong> família”.<br />
109
Reafirmando seu afeto e o processo de mudança abrangente por que passou,<br />
Laura tece um comentário sobre as amizades de Alexandre: “Eu já passei dessa<br />
fase de pensar que todo mundo fazia mal para ele; isso aí eu já sei que não existe,<br />
mas que eles acabam se aproximando por s<strong>em</strong>elhança, por identidade (grifo<br />
meu). Então todos que estão com ele dev<strong>em</strong> estar passando por processo<br />
s<strong>em</strong>elhante, não são marginais. São pessoas que têm uma família estruturada,<br />
tanto quanto ele, que por algum motivo buscaram na droga um suporte”.<br />
A idéia expressa por essa mãe de que o usuário de drogas se aproxima do grupo<br />
por s<strong>em</strong>elhança (grifo acima) está de acordo com estudos que abordam esse<br />
t<strong>em</strong>a (Oetting e Donnermeyer, 1998, Schenker e Minayo, 2003). Porém Laura<br />
explica que seu filho deve ter algum probl<strong>em</strong>a que o r<strong>em</strong>eteu à droga e a um<br />
grupo que dela faz uso, novamente reagindo à visão de que a família possa ter<br />
alguma influência sobre o comportamento de dependência dele.<br />
Michael comenta que seu sonho para os filhos nunca foi grandioso: estudar e<br />
cursar uma faculdade para poder entrar no mercado de trabalho que, hoje <strong>em</strong> dia,<br />
é muito exigente. Mostra-se verdadeiramente preocupado com o futuro dos dois<br />
jovens. Sua consciência aguçada das modificações do mundo do trabalho e das<br />
causas do des<strong>em</strong>prego estrutural que assolam o país, levam-no a t<strong>em</strong>er por uma<br />
postura mais passiva de seus filhos.<br />
Alexandre explica que seu sonho é ser feliz e “eu gosto de fazer todo mundo feliz<br />
que esteja a minha volta. Se todo mundo [basicamente a sua família] estiver feliz<br />
110
ao meu redor eu também fico feliz”. A importância da família, enunciada<br />
primeiramente pelo senhor Felício, encontra eco na terceira geração. O sonho de<br />
Alexandre é fazer a sua família feliz. Será essa a sua missão? Pais e filhos ficam<br />
comovidos quando o assunto é família. Alexandre comenta que seus sonhos são<br />
fáceis de modificar: “eu tenho 20 anos, mas meus sonhos são de criança de 4<br />
anos, 5 anos, só bobeira”. Tinha um sonho “antigamente” de que toda a família<br />
morasse num condomínio, para s<strong>em</strong>pre ter as pessoas que gosta do seu lado.<br />
Maurício ainda é inseguro quanto ao futuro e não sabe se quer trabalhar com<br />
administração, faculdade que cursa na atualidade. Só o fato de estar numa<br />
faculdade, configura para ele um grande passo. Comenta que t<strong>em</strong> boas e antigas<br />
amizades e sente-se feliz. Mas, denuncia, a união de outrora não é a mesma na<br />
família.<br />
Fica muito evidente a defasag<strong>em</strong> entre a idade cronológica e <strong>em</strong>ocional de<br />
Alexandre. O seu desejo é o b<strong>em</strong> estar da família. Todo o resto é secundário.<br />
Guardião dessa união, ele se nutre do amálgama familiar que auxiliou a construir.<br />
Olhando-se criticamente o prazer da vida <strong>em</strong> família, conforme dito por Laura,<br />
pode ter se tornado uma prisão domiciliar para Alexandre, como um sufocamento<br />
progressivo e sutil que o enreda <strong>em</strong> seus sonhos imaturos, cujos limites são a<br />
própria fronteira da casa.<br />
3.4. Processo Educativo<br />
111
O senhor Felício considera boa a relação que nutre com o filho primogênito,<br />
Michael, <strong>em</strong> qu<strong>em</strong> depositou “todos os seus sonhos”, sendo correspondido. Pai e<br />
filho se admiram mutuamente. Ocorr<strong>em</strong> atritos, principalmente agora que<br />
conviv<strong>em</strong> mais amiúde, mas vêm trabalhando para suplantar as diferenças.<br />
Gostaria de se aproximar da nora, “ela teria que se abrir mais comigo, talvez<br />
confiar mais <strong>em</strong> mim” para poder<strong>em</strong>, por ex<strong>em</strong>plo, conversar sobre os netos. Com<br />
relação a eles, acha que pelo fato de ter<strong>em</strong> morado com a avó materna por tanto<br />
t<strong>em</strong>po, a “nossa afetividade não é muito usada” no carinho e contato corporal.<br />
Gosta muito dos dois e pensa que “deveria haver uma aproximação maior”.<br />
Michael comenta que s<strong>em</strong>pre se deu b<strong>em</strong> com o pai. Houve um estr<strong>em</strong>ecimento<br />
na relação deles com a morte da mãe, figura central para a família. Mas s<strong>em</strong>pre<br />
trocaram idéias: sab<strong>em</strong> dos gostos um do outro. Comenta que vive uma fase<br />
madura com Laura, num casamento de 24 anos. Respeitam-se, conversam,<br />
conflitam aqui e acolá, mas nada que comprometa o envolvimento com a família.<br />
Revela que se relaciona de forma s<strong>em</strong>elhante com os dois filhos: não têm<br />
paciência para sentar e conversar, mas talvez ele próprio não tenha exercitado a<br />
conversa com eles. Entretanto, relata que Alexandre teve o “mérito” de tê-los<br />
colocado a par do seu “vício”. Comenta que, quando pequenos, convivia mais com<br />
os filhos, pois hoje <strong>em</strong> dia estar perto do pai é “pagar mico”. Queixa-se, por<br />
ex<strong>em</strong>plo, que Alexandre namora uma menina há dois anos e nunca o chamou<br />
para conversar. “O hom<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre se identifica melhor com o pai”, mas seus<br />
filhos nunca perguntaram nada sobre sexo, apesar de Michael puxar esse<br />
assunto.<br />
112
Laura concorda com os comentários do marido sobre a relação deles: estão num<br />
momento feliz. Conversam, são companheiros e ela não mais esconde assuntos<br />
dos filhos para não aborrecê-lo ou com medo de sua reação. Relata, comovida,<br />
que com os dois a relação é de muito carinho e amor: são os filhos que ela<br />
gostaria de ter, apesar das dificuldades que atravessam. Com o sogro, conforme<br />
esclarecido por Alexandre, ela sentiu, e sente até hoje, muitos ciúmes por ele ter<br />
se relacionado com outra mulher <strong>em</strong> seguida à morte da sogra. Por isso, fechouse<br />
para a convivência e a interação com ele. Admira-o muito, mas considera-se<br />
também muito exigente. Sofre com esse afastamento do senhor Felício, criado por<br />
ela própria.<br />
Alexandre comenta que não teve muito contato com o avô na infância e eles vêm<br />
tentando chegar a um ponto de conversa e troca de idéias, apesar das<br />
dificuldades. Fala que s<strong>em</strong>pre teve ciúmes de sua família e levanta uma questão<br />
que afeta os seus familiares. Quando a avó faleceu há 11 anos, o avô teve outras<br />
mulheres e, naquela época, segundo Alexandre, a mentalidade da família era de<br />
que o avô tinha que ser “só da minha avó”. Isso contribuiu para que a relação<br />
deles fosse pouco intensa. Com o t<strong>em</strong>po entendeu que o avô tinha lá as suas<br />
necessidades a ser<strong>em</strong> satisfeitas. Comenta que s<strong>em</strong>pre se deu b<strong>em</strong> com a mãe.<br />
“Minha mãe é tudo; da família é que (com qu<strong>em</strong> eu) sou mais agarrado”. Relata<br />
que com o pai, apesar de não ter muita conversa, s<strong>em</strong>pre se deram b<strong>em</strong> da forma<br />
deles. Atribui seu relativo fechamento com o pai ao fato de ainda ser adolescente.<br />
113
Com o irmão s<strong>em</strong>pre brigou, inclusive havendo agressões físicas entre eles. Hoje<br />
discut<strong>em</strong>, mas brigam menos.<br />
Maurício relata que pelo fato de ter sido cuidado pelas duas avós sente<br />
dificuldades na relação com o avô. Não têm um bom diálogo; quando ele se<br />
aproxima, não sente vontade de conversar. Considera que a relação está mais<br />
amigável ultimamente, podendo mudar para melhor, fato importante porque, para<br />
ele, a família v<strong>em</strong> <strong>em</strong> primeiro lugar. Considera seu pai um “ex<strong>em</strong>plo” de força de<br />
vontade. Comenta que ele se preocupa com a inserção profissional dos filhos. O<br />
relacionamento é difícil mais por culpa sua, que não consegue “abrir os<br />
pensamentos”. Relata que a mãe é a pessoa “que mais ama no mundo”, sendo<br />
que o seu “relacionamento (com ela) é 10”. Com Alexandre, as brigas eram<br />
constantes quando pequenos: “não sei se era normal de irmão”. Já hoje, está<br />
melhor e começa a haver interesse de um saber da vida do outro.<br />
Os vínculos nessa família são mais tensos entre os homens: avô com os netos e<br />
pai com filhos. Alexandre e Maurício foram criados basicamente pelas duas avós e<br />
pela mãe. Apesar do pai estar presente, era Laura qu<strong>em</strong> sabia dos probl<strong>em</strong>as<br />
deles, como no caso do uso de drogas por parte de Alexandre, s<strong>em</strong> compartilhálos<br />
com Michael, t<strong>em</strong>endo a reação dele ou para poupá-lo.<br />
Vale ressaltar que a avó materna, segundo a visão do casal, superprotegia os<br />
netos. As mulheres das duas gerações construíram um ninho de amor e proteção<br />
do qual Alexandre e Maurício têm dificuldade de sair. Alexandre mostra-se mais<br />
114
comprometido <strong>em</strong> zelar pela família como um cão de guarda. Agrega-se a isso a<br />
imposição de uma distância, aparent<strong>em</strong>ente por parte de Laura, <strong>em</strong> relação ao<br />
senhor Felício, por ciúmes dele se aventurar para fora do ninho após a morte de<br />
sua mulher. Chama a atenção que o casal não se valha do auxílio do avô, que se<br />
mostra um hom<strong>em</strong> lúcido e desejoso de ajudar. Talvez porque, como o senhor<br />
Felício ressalta, Laura não estabeleça com ele um vínculo de confiança. E cabe a<br />
ela abençoar, ou não, a entrada do avô, e mesmo do pai, na relação com os filhos.<br />
Alexandre evidencia uma mágoa do avô, o que revela uma maior susceptibilidade<br />
às influências adversas aqui representadas pelos ciúmes, enquanto Maurício<br />
apresenta-se mais resistente. Isso significa que os irmãos apresentam<br />
características físicas, <strong>em</strong>ocionais e sociais diversas, que interag<strong>em</strong> na dinâmica<br />
da socialização, onde se inclui a familiar, promovendo a metabolização subjetiva<br />
dos fatores externos (Oetting et al, 1998).<br />
Os irmãos d<strong>em</strong>onstram um t<strong>em</strong>or ao pai, que é admirado com reverência. É<br />
importante l<strong>em</strong>brar que o vínculo estabelecido com os adultos significativos da<br />
família constitui uma pré-condição para a identificação com eles (Brook et al,<br />
1990). Na família Ciumeira, a referência de apoio e afeto com relação à figura<br />
masculina está abalada.<br />
O senhor Felício conta que a mãe não foi uma figura marcante quanto à<br />
orientação de seus valores existenciais, e que viu o pai apenas três vezes na vida.<br />
Relata situações traumáticas vividas na infância pela ausência do pai e pela<br />
115
condição muito humilde de sua mãe. Interessei-me por saber qu<strong>em</strong> poderia ter<br />
sido seu modelo de comportamento. Ele se <strong>em</strong>ocionou, comentando que<br />
encontrou tais modelos de comportamento <strong>em</strong> sua trajetória. Sua motivação para<br />
ultrapassar seus medos e vergonhas o tornou o que considera “uma fênix que<br />
renasceu das cinzas”, sobrevivendo e se auto-construindo, apesar das condições<br />
adversas. Essa é a base da resiliência, conceito que versa sobre a capacidade de<br />
se proteger contra os fatores danosos à pessoa e à sua identidade, como é o caso<br />
do uso abusivo de drogas. A discussão <strong>em</strong> torno desse conceito está relacionada<br />
aos atributos individuais, familiares e ambientais que possibilitam o<br />
desenvolvimento de uma vida sadia, apesar de experiências de vida traumáticas<br />
(Schenker e Minayo, 2005). A capacidade de se transcender ficou patente,<br />
durante a entrevista, pela postura e pelas respostas cheias de vivacidade,<br />
interesse e inteligência do senhor Felício.<br />
Michael reconhece a riqueza da vivência familiar que teve a felicidade de partilhar,<br />
evidenciando que seus pais foram modelos de comportamento para ele. Sua mãe<br />
lhe ensinou a ter o carinho com a família e identifica-se com o pai na forma de ser<br />
e de agir e de enfrentar as adversidades.<br />
Laura também ressalta sua vivência com a experiência dos pais, modelos na<br />
forma de amar. Diz, <strong>em</strong>ocionada, que viu o pai namorar a mãe “até a sua morte”.<br />
A partir de então Laura, pela primeira vez, ressalta a ligação estreita de sua mãe<br />
com os netos. Após a morte de seu pai, relata que ela caiu num “estado profundo<br />
de depressão” e foi o nascimento do neto que a tirou desta profunda prostração.<br />
116
Teve plena consciência de que sua filha precisava de sua ajuda. “A vontade de<br />
viver dela surgiu com o nascimento dos meus dois filhos”.<br />
Assim a avó, possivelmente, transferiu todo o amor, que outrora dedicara ao<br />
marido, para o exercício de superproteção aos netos. Faz agora sentido o relato<br />
de Michael de que a sogra não lhe permitia ralhar ou bater nos filhos. Laura<br />
reforça essa idéia ao comentar que ela e Michael tiveram probl<strong>em</strong>as na colocação<br />
dos limites para as crianças, à época <strong>em</strong> que moraram mais t<strong>em</strong>po com a sua<br />
mãe.<br />
Essas duas famílias muito fortes geraram profundos sentimentos gregários, a<br />
ponto de Alexandre relatar que espelha o seu comportamento e o seu pensamento<br />
naquilo que acha que o pai, o avô e a avó pensariam ou fariam <strong>em</strong> diversas<br />
situações de sua vida. Da mesma forma, Maurício pondera que tenta assimilar o<br />
que os pais lhe ensinaram, enfatizando que os ensinamentos passam de geração<br />
a geração, sendo aperfeiçoados de acordo com a mudança da sociedade.<br />
Considera o pai um “ex<strong>em</strong>plo” de força de vontade.<br />
No entanto, mesmo valorizando essa força ancestral que informa o<br />
comportamento dos dois jovens, o comentário de Alexandre, citado acima, revela<br />
sua imaturidade pessoal, pois não se sente um autor de seus próprios atos e sua<br />
identidade ainda é atribuição da família. Falta-lhe acreditar <strong>em</strong> si e na forma como<br />
percebe o mundo para começar a agir de uma maneira assertiva. Uma das<br />
estratégias <strong>em</strong> que os pais pod<strong>em</strong> auxiliá-lo a se desenvolver é acreditando nele.<br />
117
Estimular sua própria competência lhe confere um sentido sólido de segurança,<br />
que se desdobrará para quando se tornar adulto (Nolte e Harris, 1998).<br />
O avô comenta que trouxe para a criação dos filhos a sua cultura militar.<br />
Considera que mesmo que não tivesse essa formação sua conduta seria a de<br />
naturalmente repartir os afazeres domésticos, <strong>em</strong> comum acordo com sua mulher.<br />
Entretanto, ficava alerta para que ela não acobertasse comportamentos indevidos<br />
dos filhos. Cobrava os deveres da escola; se tivesse um trabalho mais pesado<br />
dentro de casa, fazia com que os dois filhos mais velhos, ao invés de ir<strong>em</strong> brincar,<br />
ajudass<strong>em</strong> o pai. Ele e sua mulher estabeleceram princípios de responsabilidade.<br />
A autoridade era repartida entre ambos porque tiveram filhos homens e mulheres<br />
e os filhos ligam-se mais ao genitor do mesmo sexo. Na decisão sobre o<br />
comportamento dos quatro filhos, ele era a autoridade: “o limite era a minha<br />
autoridade”.<br />
Ressalta que t<strong>em</strong> acesso à forma como, na prática, se dá a divisão de<br />
responsabilidades com seus netos por parte dos pais, mas observa que, a seu ver,<br />
eles não souberam se impor. Comenta que Laura “s<strong>em</strong>pre achou que não estava<br />
usando a autoridade certa”. Talvez esse fosse o seu probl<strong>em</strong>a. O comportamento<br />
de Michael também ficou a desejar porque esperava dos filhos a “autocompreensão”<br />
ao invés de se investir da autoridade de pai e determinar o que<br />
deveria ser feito <strong>em</strong> casa. E termina dizendo: “os pais têm que se conscientizar<br />
que são figuras de autoridade para os seus filhos”.<br />
118
Michael concorda com Laura dizendo que falharam na atribuição de<br />
responsabilidade aos filhos, com o intuito de poupá-los. Conseqüent<strong>em</strong>ente, hoje<br />
<strong>em</strong> dia eles se sent<strong>em</strong> desobrigados no campo pessoal e doméstico. Quanto à<br />
questão da autoridade, Michael explica que o casal conversa, mas ele assume a<br />
responsabilidade de colocação de limites, de “certas regras básicas”, talvez<br />
porque os filhos sejam homens. A mulher o apóia. Acha que consegue uma<br />
razoável eficácia, na maioria das vezes.<br />
Laura s<strong>em</strong>pre se sentia culpada por passar tanto t<strong>em</strong>po fora de casa trabalhando<br />
e isso a levou a mimar os filhos. Considera que falhou porque centralizou as<br />
responsabilidades da casa, poupando inclusive o marido. Concorda que Michael<br />
exerce melhor a autoridade com os filhos, mas ressalta que ela também é<br />
autoridade, <strong>em</strong>bora n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre eficaz, porque reflete e reformula a partir da<br />
argumentação dos filhos. Não sabe se esse é o seu grande erro ou sua maior<br />
virtude, porque “aí a coisa afrouxa”. Já o pai diz que t<strong>em</strong> que ser de tal forma<br />
porque ele assim quer e ponto: não se discute ou argumenta.<br />
Alexandre e Maurício comentam que não foram habituados a cumprir afazeres<br />
domésticos, se mostrando imaturos nesse aspecto.Os dois reafirmam que mais o<br />
pai do que a mãe coloca os limites <strong>em</strong> casa, porém, os pais não se mostram muito<br />
eficazes nessa tarefa. Alexandre ressalta que quando discorda dos pais, age<br />
conforme o que pensa como no caso do uso que ele faz do fumo (tabaco) à noite,<br />
após os pais ter<strong>em</strong> ido dormir, apesar da proibição de fazê-lo <strong>em</strong> casa. “Eu não<br />
respeito isso [não fumar dentro de casa] não por não querer, mas sim por causa<br />
119
de ser um vício e tipo assim: eu estou no computador jogando as coisas, eu não,<br />
eu não consigo sair lá fora fumar e depois jogar, eu perco a vontade de jogar,<br />
perco a vontade de fazer o que eu estava fazendo; é mais isso”.<br />
Interessei-me <strong>em</strong> saber a possibilidade de modificação desse padrão doméstico.<br />
Michael considera que os filhos dev<strong>em</strong> se conscientizar de que precisam<br />
colaborar, pois seus esforços nesse sentido têm sido <strong>em</strong> vão. Insiste que não se<br />
pode tirar a responsabilidade dos filhos que já estão grandes. E como a mãe<br />
continua “fraquejando sobre o assunto”, inclusive durante a entrevista, sugere que<br />
façam um organograma das tarefas domésticas a ser afixado na geladeira.<br />
Os dois jovens concordam que os pais deveriam delegar tarefas, o que seria uma<br />
mudança do quadro atual. Entretanto, Maurício não sabe se ainda está <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po<br />
de mudar, porque “a gente já está numa idade avançada, no caso 20 anos ele, 18<br />
eu”.<br />
Reproduzo a fala do senhor Felício sobre a intercessão entre os conceitos família,<br />
união, responsabilidade, organização porque considero que reúne, de forma<br />
sucinta e inteligente, o entrelaçamento desses conceitos para a formação pessoal<br />
dos m<strong>em</strong>bros da família:<br />
“Eles [os netos] são muito desarrumados, conforme os pais falaram, com<br />
relação ao que com<strong>em</strong>, às roupas, ao que vest<strong>em</strong>. O ambiente <strong>em</strong> si,<br />
durante a s<strong>em</strong>ana, não fica como deveria ficar. Porque, para nós, união,<br />
120
união significa uma série de coisas: família é a base de tudo, ter felicidade<br />
significa ter, além do sentimento, também condições materiais e isso<br />
implica dinheiro. Então, é necessário que eu não tenha que lavar muita<br />
roupa, porque lavando muita roupa eu vou gastar muita energia, é<br />
necessário que eu não estrague os móveis dentro de casa, porque vai ter<br />
que ser reposto o móvel e isso vai ter que puxar dinheiro do meu pai, da<br />
minha mãe; eu tenho que estudar, que é para o mais breve possível eu<br />
poder ajudar meu pai e minha mãe, colaborar. Voltando ao caso dos meus<br />
filhos, o Michael com 18 anos de idade já estava <strong>em</strong>pregado, ganhando<br />
mais do que o pai. E o outro, ao completar os 20, também estava na<br />
mesma situação, a ponto de eu ter pena dele tão jov<strong>em</strong> com uma<br />
responsabilidade muito grande. Agora isso veio de certo modo<br />
naturalmente, mas também foi devido ao fato que eu me referi há pouco; ao<br />
fato da dificuldade que uma pessoa encontra na vida. Essa dificuldade pode<br />
levar a pessoa mais para o fundo do poço, mas pode também botar a<br />
pessoa para cima”.<br />
Aquilo que não foi ensinado ao longo do desenvolvimento dos filhos e por eles<br />
aprendido t<strong>em</strong> repercussões no seu viver <strong>em</strong> comunidade, <strong>em</strong> sociedade. Um<br />
estilo permissivo de educação (Baumrind, 1966) infantiliza os filhos, e não os<br />
prepara para o exercício de uma cidadania compartilhada com os pares, na<br />
medida <strong>em</strong> que eles permanec<strong>em</strong> autocentrados, à espera de que façam por eles<br />
o que deveria ser de sua própria competência. Ceder à argumentação dos filhos e,<br />
com isso, não exercer a autoridade, é um corolário dessa idéia. Outro é ter uma<br />
121
postura autoritária nas decisões. Encontrar uma medida que harmonize o<br />
autoritarismo e a permissividade constitui um caminho para a mudança.<br />
3.5. Considerações finais<br />
Alexandre e Maurício foram criados com mimos e superproteção da avó materna –<br />
a primeira geração –, durante os dez primeiros anos de vida. Os meninos foram o<br />
seu elixir de retorno à vida, após a morte do marido. Os netos foram dados de<br />
presente para a avó materna com o intuito de aliviar a sua dor, o que fez crescer<br />
sua influência na criação deles. Ela não admitia a interferência do genro, que<br />
poderia colocar limites aos caprichos de Alexandre e Maurício.<br />
Mas também Laura e Michael protegeram <strong>em</strong> d<strong>em</strong>asia os filhos por sentir<strong>em</strong>-se<br />
culpados pela constante ausência no seu cotidiano. Assim, Maurício e Alexandre<br />
foram criados com excesso de amor e superprotegidos, principalmente pelos<br />
vínculos com a figura f<strong>em</strong>inina. Laura, durante anos, escondeu de Michael, para<br />
não aborrecê-lo, probl<strong>em</strong>as da vida dos meninos, ao contrário do que fizeram o<br />
senhor Felício e sua esposa, que tinham um pacto de nada ocultar entre os dois,<br />
sobre os filhos. Hoje, avaliando esses anos de formação dos jovens, Michael<br />
reconhece, no momento da entrevista, que ter uma vida corrida não pode mais<br />
justificar sua falta de aproximação com Alexandre e Maurício.<br />
O respeito a si e ao outro foi passado para filhos mimados, acostumados a ser<strong>em</strong><br />
servidos pelos adultos das duas gerações. Acrescenta-se a isso a ambigüidade<br />
materna relativa à impl<strong>em</strong>entação dos valores como, por ex<strong>em</strong>plo, o respeito e a<br />
122
socialização. Formou-se um bom caldo: a educação voltada para os valores se<br />
deu de forma contraditória da parte da mãe para os filhos, criados de forma mais<br />
permissiva (avó materna e mãe) do que autoritária (pai). A ambivalência de Laura<br />
esconde uma outra faceta da infantilização dos jovens: o valor t<strong>em</strong> que ser<br />
impl<strong>em</strong>entado da forma como ela quer, não respeitando ou dando voz ao outro.<br />
Hoje <strong>em</strong> dia esses adultos se queixam do pouco respeito que os filhos<br />
d<strong>em</strong>onstram para com a casa, com os pais e consigo próprios. Mas não perceb<strong>em</strong><br />
com clareza o quanto estão implicados no comportamento deles.<br />
Os sonhos e as expectativas das três gerações são desencontrados. Alexandre<br />
ainda sonha como um menino e Maurício parece ter entrado na faculdade para<br />
satisfazer os desejos dos pais. Não por convicção. Os filhos continuam imaturos<br />
para propor e conduzir projetos adultos. Chama atenção a displicência com que<br />
Maurício julga a si próprio e ao irmão “velhos” para se corrigir<strong>em</strong> e começar<strong>em</strong> a<br />
auxiliar dentro de casa. Prevê que não conseguirão agir de outra forma: por parte<br />
de ambos há pouca motivação e ambição.<br />
Salta à vista o deslocamento que a família Ciumeira fez <strong>em</strong> direção à mãe, na<br />
criação dos filhos. Pouco pesou a figura masculina durante o crescimento deles. A<br />
dificuldade de crescimento da família, como ficou d<strong>em</strong>onstrado pela explicitação<br />
dos ciúmes que sent<strong>em</strong> do avô, t<strong>em</strong> barrado, inclusive, a benéfica influência e<br />
experiência de vida desse senhor que “conseguiu renascer das cinzas”, como um<br />
resiliente.<br />
123
Michael mostra-se impaciente com os filhos, atribuindo suas dificuldades de<br />
construir projetos ao t<strong>em</strong>po fluido e fragmentado da atualidade. Talvez ele tenha<br />
se escorado durante um t<strong>em</strong>po da vida nas mulheres, que amaciaram a sua tarefa<br />
de pai. Hoje, revendo, percebe que eles criaram um modelo positivo de pai a<br />
seguir, porém um modelo como uma mirag<strong>em</strong> longínqua: um pai t<strong>em</strong>ido e não<br />
amigo, com qu<strong>em</strong> compartilhar.<br />
A transmissão e a prática dos valores familiares pod<strong>em</strong> influenciar o uso abusivo<br />
de drogas na família Ciumeira por vínculo de apego, resultante possível do amor<br />
<strong>em</strong> excesso. Isso resultou na infantilização dos filhos, na sua falta de autonomia e<br />
de gerenciamento próprio; nas expectativas díspares entre os adultos e os<br />
filhos/netos, congruentes com a imaturidade desses últimos. Maurício e Alexandre<br />
se espelham <strong>em</strong> modelos incipientes para a formação do adulto jov<strong>em</strong>, num estilo<br />
de criação <strong>em</strong> que o pai se vê como figura de autoridade, mas os filhos não<br />
atestam a eficácia desta autoridade.<br />
4. A Família Devanear<br />
4.1. Contextualização<br />
Escolhi nomear essa família como Devanear pela tendência fantasiosa de sua<br />
forma de comunicação enquanto grupo.<br />
124
A família Devanear se constitui de avô paterno, o senhor Pedro, com 68 anos; a<br />
avó paterna, Dona Tereza, também com 68 anos; a mãe, Regina, com 47, e o<br />
usuário de drogas, Bruno, filho único, com 20 anos. Seu pai, Márcio, não<br />
compareceu à entrevista. A família mora <strong>em</strong> lugares distintos. O senhor Pedro,<br />
Dona Tereza e Regina viv<strong>em</strong> <strong>em</strong> Paquetá e Bruno, num quarto alugado de<br />
Mariana, <strong>em</strong> Santa Teresa. Por causa da separação dos pais, Bruno foi criado<br />
pelos avós paternos desde a infância até os 14 anos. Daí <strong>em</strong> diante alternava sua<br />
moradia entre a casa dos avós, onde seu pai também morava, e a casa de<br />
Regina, sua mãe. Ela casou-se novamente e t<strong>em</strong> um filho, padrasto e irmão de<br />
Bruno, respectivamente. Ele mudou-se há três meses para o apartamento <strong>em</strong><br />
Santa Teresa.<br />
O encontro para entrevista deu-se <strong>em</strong> casa de Mariana, onde Bruno reside<br />
atualmente. Ele é um jov<strong>em</strong> falante, bonito e sedutor. Sua aparência está de<br />
acordo com os t<strong>em</strong>pos atuais: bermuda, chinelos e brincos numa orelha. Era a<br />
primeira vez que a família visitava o seu espaço de forma que ele estava ansioso<br />
pela chegada de todos. Os avós <strong>em</strong>pertigados, com boa aparência, e a mãe com<br />
um quê de hippie na forma de se vestir. Mariana precisou se programar com os<br />
seus dois filhos para que a entrevista fosse efetuada.<br />
O grau de escolaridade dos m<strong>em</strong>bros da família assim se distribui: o senhor Pedro<br />
t<strong>em</strong> o segundo grau incompleto e Dona Tereza o segundo grau completo. Regina<br />
o superior completo e Bruno cursa engenharia de produção.<br />
125
Família de classe média, sua renda gira <strong>em</strong> torno de R$ 4200,00: R$ 900,00 da<br />
aposentadoria do avô como bancário, e R$ 900,00 provenientes da aposentadoria<br />
que a avó recebe do Estado; aproximadamente R$2000,00 da mãe, professora de<br />
uma escola, e R$ 400,00 da mesada de Bruno.<br />
Bruno inicia o uso de álcool e maconha com 14 anos e privilegia o consumo de<br />
álcool porque diz, “dá menos probl<strong>em</strong>as”. Quando começou, bebia até cair sexta,<br />
sábado, nas festas e eventos. Inicia o uso compulsivo de bomba aos 17 anos, mas<br />
sente dores de cabeça estranhas e resolve parar. A partir dos 17 anos, inicia o uso<br />
das drogas ilícitas, fumando maconha diariamente, <strong>em</strong> torno de 50 gramas por<br />
s<strong>em</strong>ana. Refere que toma ácido e usa ecstasy com alguma freqüência.<br />
Experimentou key (um anestésico de cavalo), cocaína, benzina, cheirinho da loló,<br />
lança perfume, xarope e chá de cogumelo. Sua droga de eleição é a maconha.<br />
Relata que não usa drogas há 76 dias e está <strong>em</strong> tratamento numa “Irmandade”<br />
(Narcóticos Anônimos) e no Centra-Rio.<br />
Inicia o uso abusivo e compulsivo de drogas com 14 anos, momento <strong>em</strong> que se<br />
afasta do jugo autoritário e aprisionador dos avós, passando a ser regido pela<br />
autoridade dos pais. Relata que não se submete integralmente a eles porque não<br />
foi criado n<strong>em</strong> por Márcio, o pai, e n<strong>em</strong> por Regina, a mãe. Ao responder à<br />
pergunta sobre seus sonhos, Bruno explica que usa drogas para afastar-se da<br />
realidade inóspita configurada pelas exigências e limites impostos pelo mundo<br />
adulto. Ao final de nossa conversa, explica para a avó que a adicção é uma<br />
126
doença, ao que o senhor Pedro contrapõe que o uso abusivo de drogas está<br />
“dentro da sua cabeça”.<br />
É importante compreender as representações sociais que autoridades, famílias e a<br />
própria juventude estabelec<strong>em</strong> como anteparo ao consumo desenfreado e a visão<br />
que projetam sobre os que se tornam dependentes. Em primeiro lugar, o drogado<br />
é visto como um doente pelo poder médico, mas de uma forma muito específica:<br />
enquanto a doença dos que padec<strong>em</strong> enfermidades biológicas é vista como um<br />
fenômeno externo a ele e sobre a qual não t<strong>em</strong> controle, no caso da dependência,<br />
ele é acusado do ponto de vista moral, é estigmatizado socialmente, fato que t<strong>em</strong><br />
o poder de contaminar a sua vida <strong>em</strong> todos os aspectos, portanto, globalmente.<br />
Aqui, “o aspecto doença já é dado, faz parte da própria categoria” (Velho, 1999b,<br />
60), já que o drogado é considerado um doente, um viciado.<br />
Considerar o adicto como um indivíduo desviante de uma forma geral e não de<br />
forma específica carrega <strong>em</strong> si uma dinâmica que captura o indivíduo a se<br />
comportar de acordo com a imag<strong>em</strong> que os outros têm de si – “uma profecia que<br />
se auto-realiza” – (Becker, 1977b, 80). Ex<strong>em</strong>plo desse ponto de vista traz Bruno<br />
ao considerar sua adicção uma “doença”, acreditando na força de um poder<br />
superior e na prática dos 12 passos para lhe auxiliar a lidar com a compulsão que<br />
é incapaz de controlar. Essas explicações estão de acordo com o paradigma que<br />
considera possível a existência de uma realidade independente do observador.<br />
127
O uso abusivo de drogas afasta Bruno de suas angústias e inseguranças,<br />
“prometendo” o esquecimento delas. Ele fala de sua incapacidade de enfrentar os<br />
probl<strong>em</strong>as e desenvolver estratégias ativas na forma de lidar com eles. Essas<br />
dificuldades denotam falta de confiança, habilidades pessoais e interpessoais e<br />
controle <strong>em</strong>ocional (Schenker e Minayo, 2005). Vivendo numa época <strong>em</strong> que o<br />
prazer e o consumismo são valores imperativos, Bruno procura o paraíso no uso<br />
compulsivo de drogas. Essa é a forma como consegue se manter <strong>em</strong> formol para<br />
evitar o crescimento.<br />
A idéia da adicção como uma doença enfatiza a substância psicoativa mais do que<br />
a relação que o adicto estabelece com a droga <strong>em</strong> seus múltiplos contextos de<br />
relação, num espaço sócio-cultural determinado (Schenker e Minayo, 2003). O<br />
pensamento sistêmico confere ao adicto a autoria de seus atos. Nesse sentido, a<br />
adicção de Bruno se torna compreensível quando inserida na teia de relações que<br />
conforma a sua existência.<br />
4.2. Valores familiares<br />
Contando sua forma de criação, o senhor Pedro comenta que quis passar para<br />
seu único filho e para seu neto os princípios da educação entendida como modos<br />
(saber se apresentar, falar e lidar com as pessoas), instrução (escolaridade) e o<br />
amor dedicado ao próximo. Comenta que lhes ensinou esses valores, <strong>em</strong> parte<br />
b<strong>em</strong> aproveitados. O neto, diz, estudou nos melhores colégios particulares,<br />
enquanto seu pai, Márcio, se formou <strong>em</strong> colégio público. O filho formou-se, é<br />
professor, e o neto passou <strong>em</strong> duas faculdades. O avô fica triste e comovido,<br />
128
d<strong>em</strong>onstrando esses sentimentos na entrevista, <strong>em</strong> decorrência do abuso de<br />
drogas por parte de Bruno, para ele um filho.<br />
Dona Tereza enumera os princípios que reg<strong>em</strong> sua vida, <strong>em</strong> tudo s<strong>em</strong>elhantes<br />
aos do marido: amor, educação entendida como modos e um certo grau de<br />
instrução. Relata que os ensinou ao neto, mas não foi b<strong>em</strong> sucedida. Bruno era<br />
rebelde, só fazia o que queria. “Mesmo tendo diálogo (grifo meu) e tudo, mas<br />
s<strong>em</strong>pre fez o que quis”. O neto irá contestar a visão de dona Tereza acerca dessa<br />
relação dialógica, num momento posterior da entrevista. Para os dois avós, os<br />
princípios enunciados objetivam o convívio familiar.<br />
Regina comenta que seu filho foi criado pelos avós e que só voltaram a ter contato<br />
com ele quando tinha 11 anos. Acrescenta que do ano de 2000 até março do<br />
presente ano Bruno morou com ela. Regina valoriza a alegria de viver, a<br />
honestidade consigo e o compartilhar, para poder dividir como a base do amor.<br />
Reflete sobre o princípio da aprendizag<strong>em</strong>, ao dizer que “a gente só apreende o<br />
que pode. Não adianta eu querer passar, ele [o filho] vai fazer uma seleção”.<br />
Considera que a alegria de viver e o compartilhar com o outro, “era um<br />
componente da personalidade dele [de Bruno] já, da natureza dele. Ele quando<br />
percebia (que) uma pessoa tinha um carinho muito grande (por ele), queria fazer<br />
melhor”.<br />
Regina separa ensino e aprendizag<strong>em</strong>, que segundo a visão sistêmica estão<br />
indissociavelmente interligados. Sustenta que determinados comportamentos são<br />
129
um componente da natureza ou da personalidade do filho. Os comportamentos<br />
mencionados por ela diz<strong>em</strong> respeito ao processo de identificação de Bruno com<br />
ela, uma co-construção da relação mãe e filho. O afeto que as pessoas<br />
d<strong>em</strong>onstram pelo outro também influencia a construção de sua natureza.<br />
Maturana (Maturana et al, 2002d, 331-332) faz uma reflexão s<strong>em</strong>inal sobre a<br />
herança dos padrões de comportamento na entrevista que concede à Cristina<br />
Magro: o que define a família é uma rede de conversações por ele denominada de<br />
coordenações de ações (comunicação) e de <strong>em</strong>oções. Os sujeitos aprend<strong>em</strong>, de<br />
forma inconsciente, um modo de estar 16<br />
na convivência com os m<strong>em</strong>bros da<br />
família a partir do fluir na rede de conversações, não importa qual o conteúdo<br />
enunciado. Essas redes pod<strong>em</strong> variar ao longo da interação e do espaço de<br />
convivência dos familiares, evidenciando modificações na forma de ser do<br />
indivíduo. A identificação de Bruno com sua mãe expressa a s<strong>em</strong>elhança do modo<br />
de estar no mundo de ambos.<br />
Regina coloca <strong>em</strong> prática os princípios por ela enunciados, “não dentro do rigor<br />
quanto a gente gostaria”. Bruno explica que o padrasto e o irmão são “dois<br />
er<strong>em</strong>itas”, de forma que fica difícil o contato <strong>em</strong>ocional, o companheirismo.<br />
Formulei a pergunta sobre a expectativa de transformação da situação de Bruno.<br />
Dona Tereza finaliza: “A nossa palestra [a entrevista] é <strong>em</strong> cima da sua<br />
recuperação, <strong>em</strong> cima de tudo o que há de melhor para você. Se não, não adianta<br />
16 O modo de estar enunciado por Maturana ass<strong>em</strong>elha-se ao ethos e visão de mundo de Gilberto Velho<br />
(1999e), já referido nesse estudo.<br />
130
a finalidade, n<strong>em</strong> estarmos conversando”. Regina tece um comentário sobre<br />
“transformação pessoal”, contando que pessoas <strong>em</strong> sua família abusaram do<br />
álcool e ela se manteve afastada da questão. Somente a partir do uso abusivo de<br />
drogas pelo filho procurou saber mais sobre o assunto “por que isso está<br />
acontecendo, onde está essa identificação, para não vê-lo s<strong>em</strong>pre como o que<br />
está criando probl<strong>em</strong>a”. A mãe ressalta que se esforça para não discriminar o filho<br />
como adicto. Busca entender o seu comportamento compulsivo inserido no<br />
contexto sócio-familiar.<br />
O senhor Pedro comenta que para ele, família é “amor ao próximo”, sendo<br />
formada por laços de sangue e de afinidade, “a convivência já é uma família”.<br />
Dona Tereza explica a convivência como o “respeito” e uma “preocupação com o<br />
outro” e inclui o “amor” na sua definição de família. Regina compartilha da idéia do<br />
senhor Pedro de que a família é constituída por laços de afinidade. Perdeu os<br />
avós e o pai muito cedo e “aí foram vindo os agregados. Família é com qu<strong>em</strong> você<br />
se sente <strong>em</strong> casa”.<br />
Bruno relata que recebe dos avós a noção de “família fechada”, definida como a<br />
convivência com poucas pessoas da família consangüínea. “Eu não recebia<br />
amigos <strong>em</strong> casa e não ia para a casa de ninguém”. Por isso, não sabia falar com<br />
as pessoas e s<strong>em</strong>pre teve dificuldade de se relacionar na escola. A idéia de<br />
“família aberta”, para além dos umbrais da casa, v<strong>em</strong> da mãe. Explica os diversos<br />
significados de família para ele. É o “lugar de segurança” para se voltar e ter qu<strong>em</strong><br />
se “importe com as suas necessidades”. Essa é exatamente a forma como Dona<br />
131
Tereza descreve o que entende por amor. Por outro lado, família também significa<br />
“limite”: “Eu tenho uma dificuldade absurda com limite, absurda”. Explica que essa<br />
dificuldade advém de sua adicção/compulsão, ou seja, para “aparecer, ser bom<br />
para caramba” abandona todo o resto e parte para um comportamento obcecado,<br />
muitas vezes não aceito pelos adultos, “como levantar a bandeira de ‘legalize a<br />
maconha’”.<br />
Para Bruno, família também significa uma identificação com a forma como foi<br />
criado pelos avós: com a “liberdade cerceada”, porém com “todas as vontades<br />
atendidas”. Esse era o salvo conduto para garantir a sua permanência dentro de<br />
casa. Um possível corolário dessa vivência é Bruno não suportar ouvir um “não”.<br />
Sublinha que a sua compulsão inicial foi com a comida: comia o que queria, vestia<br />
o queria e tinha os brinquedos que queria. “Mas eu ficava <strong>em</strong> casa. Eu não<br />
verificava que eu tinha limite, porque eu tinha todas as minhas vontades imediatas<br />
(atendidas). Então eu não tinha vontade de ver as pessoas”. Com a entrada na<br />
adolescência sentiu necessidade de se relacionar. Foi quando a mãe, Regina,<br />
reaparece o que, segundo Bruno, lhe deu “a possibilidade de ter duas casas, para<br />
poder fazer praticamente o que queria”. É expulso da escola e vai viver “só o meu<br />
social”, ou seja, afasta-se do jugo dos avós, com qu<strong>em</strong> já não morava, e não se<br />
submete à autoridade dos pais, com a “desculpa” de não ter sido criado por eles.<br />
“Então eu fiquei a minha adolescência inteira s<strong>em</strong> nenhum pátrio poder possível”.<br />
Viver num ambiente protegido de sons externos como o de Bruno <strong>em</strong> casa dos<br />
avós transforma-se numa fonte de dificuldades na entrada da adolescência, com o<br />
132
surgimento do seu interesse <strong>em</strong> relacionar-se socialmente. Menino tímido, s<strong>em</strong> a<br />
vivência das brincadeiras infantis com amigos, atrapalha-se ao sair da casa dos<br />
avós <strong>em</strong> busca do novo mundo. Isto só foi possível porque conseguiu driblar seus<br />
pais como figuras de autoridade. Ficou s<strong>em</strong> eira n<strong>em</strong> beira, desafiando a<br />
autoridade constituída por meio de slogans relacionados às drogas. Bruno definese<br />
como rebelde, impulsivo, compulsivo na busca do prazer s<strong>em</strong> limitações dos<br />
adultos. Algumas investigações apontam essas características individuais, aliadas<br />
a outras familiares e aos ambientes sociais, como possíveis fatores de risco para o<br />
uso abusivo de drogas (Brook et al, 1986, 1990).<br />
4.3. Conflito entre Gerações<br />
Os avós cuidaram do filho, Márcio, e do neto, Bruno, após a separação dos pais. A<br />
casa era regida por dona Tereza. Bruno comenta que “nunca tive o costume de<br />
mexer no andamento da casa”. Dona Tereza confirma: “Lavo, passo, cozinho, boto<br />
mesa, levanto às quatro da manhã, boto café”. Assim, Bruno optou por professar<br />
o “valor mais cômodo” do nada fazer. No entanto, muda o comportamento quando<br />
está fora de casa.<br />
Dona Tereza e o senhor Pedro encaixam-se na família de organização hierárquica<br />
(<strong>Figueira</strong>, 1987), com papéis familiares nitidamente delineados. Criaram Márcio e<br />
Bruno de acordo. O neto irá observar que essa prática de criação teve algumas<br />
conseqüências prejudiciais para o seu pai. E para ele também.<br />
133
Bruno e os avós discut<strong>em</strong> e discordam sobre a responsabilidade de Márcio para<br />
com a família e as finanças. O neto considera seu pai irresponsável <strong>em</strong> ambas,<br />
com o beneplácito dos avós e pergunta: “Até que ponto o que vocês faz<strong>em</strong> com o<br />
meu pai [auxílio financeiro] é ajudar ou facilitar para ele manter os mesmos<br />
defeitos de caráter que ele t<strong>em</strong> há 40 anos? Porque preguiça, procrastinação é um<br />
defeito de caráter meu e dele”. A avó replica: “É, de repente a culpa foi minha”.<br />
Quanto à responsabilidade de Márcio com a família, Bruno ressente-se da<br />
ausência paterna desde a separação dos pais. Os avós rebat<strong>em</strong>, acobertando a<br />
incompetência paterna do filho, dizendo que Márcio “quando está longe não<br />
procura, mas quando está perto, dá (atenção para o filho): é o jeito dele”. Bruno<br />
relata que quando o pai “bebe no ano novo” sente-se culpado por não ter ficado<br />
mais próximo dele, principalmente se “eu faço uma merda muito grande”. Acha<br />
que sua avó tende a assumir a responsabilidade sua e de seu filho. E dona Tereza<br />
aquiesce dizendo: “Ainda sou assim até hoje”.<br />
Na casa de Mariana, Bruno t<strong>em</strong> que acordar sozinho. Não era assim quando<br />
morava com os avós. Pondera que a pessoa não se torna responsável enquanto<br />
t<strong>em</strong> qu<strong>em</strong> faça por ele. Durante a entrevista, mostra-se indignado com a conduta<br />
de seus avós de castrar<strong>em</strong> a sua autonomia e a de seu pai. Porém, numa etapa<br />
posterior da narrativa, ele explicará a sua co-participação na construção de sua<br />
infantilização.<br />
134
A avó, num primeiro momento, é sarcástica <strong>em</strong> seus comentários sobre a<br />
mudança de conduta do neto quanto a acordar sozinho, por ex<strong>em</strong>plo, na casa de<br />
Mariana. No momento seguinte, julga que esse é um movimento positivo de<br />
Bruno, destacando que irá auxiliá-lo no que precisar ao longo da vida. O neto<br />
agradece porque considera que o auxílio dos avós não promove o crescimento.<br />
Chama a atenção a atribuição de Bruno <strong>em</strong> relação à preguiça e à procrastinação<br />
como defeitos de caráter. Essa linguag<strong>em</strong> é aprendida <strong>em</strong> linhas de tratamento da<br />
drogadição que consideram o dependente um doente, com defeitos de fabricação<br />
que pod<strong>em</strong> engendrar adicção. Nunca é d<strong>em</strong>ais l<strong>em</strong>brar que o ser humano se<br />
constrói num processo de acoplamentos estruturais recursivos com o contexto<br />
familiar e sócio-cultural, ao longo de sua história (Maturana e Varela, 1995). E<br />
Bruno também explica essa visão ao implicar a conduta de seus avós na preguiça<br />
que ele e seu pai apresentam.<br />
Regina considera que Bruno t<strong>em</strong> instrumental para se tornar responsável porque é<br />
honesto. Considera seu filho “um guerreiro”. É corajoso e obstinado na<br />
consecução daquilo que decide para si: decidiu <strong>em</strong>agrecer, não ter medo do<br />
escuro e até mesmo se drogar, e agiu. “Tudo ele resolveu fazer com muita<br />
corag<strong>em</strong>”. Regina não <strong>em</strong>ite um juízo de valor quanto ao uso de drogas por parte<br />
de Bruno.<br />
O senhor Pedro e dona Tereza consideram seu filho, o pai de Bruno, uma pessoa<br />
independente, porque estuda e trabalha. Márcio casou-se pela segunda vez e t<strong>em</strong><br />
135
duas filhas. Apesar de dar aulas de física, recebe o auxílio financeiro de seus pais<br />
e de uma tia. Segundo os avós, ela o considera como a um filho. Os pais não<br />
perceb<strong>em</strong> Márcio como “um explorador” da tia, conforme a opinião de Bruno. O<br />
neto acrescenta que o pai “só não sabe viver com quanto ele ganha”.<br />
Falando da família, os avós se reportam ao conceito de dependência saudável: “a<br />
família toda ela é dependente, no mínimo uma palavra de conforto, de amor”. O<br />
senhor Pedro compl<strong>em</strong>enta: “eu acho que (na) família (todo mundo) depende um<br />
do outro. Eu acho que ninguém é independente”. Comentam que são chamados a<br />
fazer inúmeras tarefas burocráticas e domésticas para o filho e para outros<br />
m<strong>em</strong>bros da família. Mas o senhor Pedro diz que se sente explorado, por vezes.<br />
Regina explica que ela e os seus filhos depend<strong>em</strong> <strong>em</strong>ocionalmente uns dos<br />
outros: “Acho que a gente t<strong>em</strong> uma coisa de cordão umbilical muito forte ainda”.<br />
Logo a seguir, Bruno comenta que t<strong>em</strong> descoberto <strong>em</strong> terapia que é um codependente:<br />
“eu me alimento realmente do <strong>em</strong>ocional das pessoas”. Coloca-se<br />
como incapaz <strong>em</strong> áreas <strong>em</strong> que sabe que o outro irá suprir. Ao agir dessa<br />
maneira, reafirma a construção de sua infantilização <strong>em</strong> parceria com os avós e a<br />
mãe. Ressalta que t<strong>em</strong> procurado saber: “aonde é que foi o meu modelo chavefechadura,<br />
para eu estar repetindo isso agora!”<br />
Ponderei <strong>em</strong> outra ocasião (Schenker, 2003, 211) que o vínculo de dependência<br />
perpassado às gerações pode ser letal para a individualização dos m<strong>em</strong>bros do<br />
sist<strong>em</strong>a familiar porque paralisa o seu crescimento. A droga anestesia os<br />
136
familiares, alienando-os da angústia referente à ultrapassag<strong>em</strong> das etapas do ciclo<br />
vital da família que inclui o crescimento e a saída dos jovens de casa, e culmina<br />
com a assunção dos pais no lugar de avós a partir do ninho vazio deixado por<br />
seus filhos. A família Devanear encontra-se estacionada na etapa da préadolescência<br />
do ciclo vital.<br />
Regina considera possível a transformação nas relações familiares porque “se a<br />
gente muda, o outro acaba mudando e vai se fazendo esse deslocamento de<br />
papéis”. Diz que “t<strong>em</strong>e” o binômio: cooperação e independência pessoal e explica<br />
que já foi independente a ponto de achar que qualquer aproximação do outro<br />
implicaria no cerceamento de sua liberdade. Posteriormente, percebeu que<br />
precisava e dependia do amor e do afeto das pessoas. Porém, ela própria chama<br />
a atenção para a sua vivência do que considera o amor que mutila: “A pior coisa é<br />
você precisar de si mesmo e não poder contar consigo. A pior ausência e o pior<br />
abandono é o que você faz a si mesmo”.<br />
Regina viveu situações de apego <strong>em</strong> alguma relação, e não de amor, porque na<br />
relação de amor há compreensão, afeto, cooperação com o outro. O amor<br />
concede liberdade e se interessa pelo b<strong>em</strong> estar do outro. Diferente da mutilação<br />
enunciada por Regina, que t<strong>em</strong> numa letra de Chico Buarque uma bela<br />
ilustração 17 . Regina também aponta para o paradigma do individualismo vigente,<br />
17 Pedaço de Mim, 1979: “Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade<br />
dói latejada, é assim como uma fisgada, no m<strong>em</strong>bro que já perdi”.<br />
137
que confunde a possibilidade do sujeito viver plenamente as suas capacidades<br />
individuais e de ser solidário com o outro.<br />
Bruno considera que o grupo 12 passos e as irmandades funcionam para<br />
promover transformações. E que comece por si, conforme o l<strong>em</strong>a da irmandade<br />
(os Narcóticos Anônimos), porque “você não pode agir no outro”. Confia no<br />
tratamento como possibilidade de transformação pessoal, tendo uma percepção<br />
acurada dos preceitos terapêuticos.<br />
Referindo-se ao filho, Dona Tereza comenta que Márcio não cumpriu seu sonho<br />
de ser um oficial da marinha. “Trabalhei, investi, trabalhei, tudo sobre esse lado,<br />
mas não se realizou”. Já o senhor Pedro incentivou o neto para estudar medicina,<br />
mas ele queria a diplomacia, expectativa de dona Tereza, que também não se<br />
concretizou. Os avós consideram que Márcio e Bruno não construíram um bom<br />
círculo social e que as amizades do neto eram boas, de uma forma geral, na<br />
infância. Nessa fala não se articula o que Bruno chamou de “família fechada”, <strong>em</strong><br />
que o isolamento social, com intuito de preservação do neto, não o preparou para<br />
o convívio com os outros. A saída abrupta da casa dos avós, na busca de outros<br />
ambientes, coincide com o repúdio ao fechamento, o enfrentamento das<br />
dificuldades de convívio social e o refúgio nas drogas.<br />
Regina admira muito seu filho. Considera que ele “veio pronto” mental e<br />
<strong>em</strong>ocionalmente porque é um “intelectual aberto”, com facilidade para lidar com<br />
questões humanas, não tradicionais. Esses são atributos valorizados e sonhados<br />
138
por ela <strong>em</strong> relação a Bruno. No convívio dos últimos 4 anos, diz que gosta de<br />
alguns amigos dele que usam droga, não de outros. Apesar das qualidades e<br />
potencialidades que admira, julga-o muito desorganizado e preocupou-se <strong>em</strong> dar<br />
limites quanto ao não uso de drogas <strong>em</strong> casa, durante o t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que viveram<br />
juntos. Esse t<strong>em</strong>a se impôs como o centro da relação entre eles, de tal forma que<br />
só conversavam sobre isso e brigavam. Bruno está limpo das drogas há pouco<br />
mais de 2 meses sendo que saiu da casa materna há 3 meses.<br />
Dona Tereza deseja que seu neto termine engenharia e tente entrar para a<br />
carreira diplomática. A avó se mostra muito surpresa, ao longo da conversa, com a<br />
falta de desejo de realização de Bruno, o que a deixa s<strong>em</strong> esperanças quanto a<br />
seus sonhos profissionais com relação a ele. O avô espera que o neto se<br />
modifique para melhor, ultrapassando esse momento de vivência abusiva de<br />
drogas.<br />
A resposta aos avós e à mãe v<strong>em</strong> afiada: Bruno não considera ter sonho algum.<br />
Diz ser desprovido de ideais. “Comprou a idéia” de ser diplomata a partir de<br />
comentários da avó com um porteiro de que o neto gostaria de seguir essa<br />
carreira. Hoje estuda engenharia de produção, mas gosta “das coisas mais puras”,<br />
como mat<strong>em</strong>ática ou física. Pensa <strong>em</strong> ser professor ao terminar a faculdade. Mas<br />
os seus sonhos giram <strong>em</strong> torno de coisas fantasiosas: “vampiro, lobisom<strong>em</strong>, super<br />
herói. Tudo o que ficar próximo do real d<strong>em</strong>ais para mim é ruim. Eu não tenho<br />
sonho, eu tenho delírios. Eu fico delirando com coisas que me tir<strong>em</strong><br />
completamente da realidade. E a droga vai muito aí também”.<br />
139
O jov<strong>em</strong> diz que gostaria de compactuar da “ideologia” da mãe: “a vontade de<br />
ensinar e ajudar”. Considera que vive na fantasia. Ao se interessar por algo, inicia<br />
o processo de conhecimento, mas logo desiste. Intitula-se “engenheiro de obras<br />
inacabadas, como qualquer adicto”. Só não entende por que “com a droga a gente<br />
não cansa, a gente morre e não cansa, a gente é preso e não cansa, a gente é<br />
internado e não cansa”. Considera, finalmente, que ele poderá encontrar uma<br />
nova forma de viver. É para isso que está <strong>em</strong> tratamento.<br />
Dona Tereza não conseguiu e não consegue entender a subjetividade e as<br />
angústias de seu neto. Os sonhos da avó para o neto também são fantasiosos.<br />
Por sua vez, Regina idealiza o filho: considera que já veio pronto, fazendo tabula<br />
rasa do sofrimento que t<strong>em</strong> significado para ele a conquista da autonomia. Bruno<br />
precisaria que os avós, a mãe e, principalmente, o pai o auxiliass<strong>em</strong> a lidar com o<br />
cotidiano da vida, visando seu desenvolvimento. Desta forma, esse contexto<br />
familiar favorece o surgimento de expectativas conflitantes, uma vez que Bruno<br />
não se reconhece <strong>em</strong> muitas das descrições de sua constelação familiar. Ele trava<br />
uma luta com os seus super-heróis para deixar de se considerar super,<br />
provavelmente como uma forma de lidar com o oposto: enxergar-se pequeno,<br />
frustrado por estar distante do que os adultos almejaram e ele próprio almeja para<br />
si.<br />
4.4. Processo Educativo<br />
140
Os avós estão casados há 46 anos e mantêm uma relação de diálogo, intimidade<br />
e conflitos.<br />
Dona Tereza considera que não t<strong>em</strong> uma boa comunicação com o neto, a<br />
começar pelo fato de não aceitar a forma como ele se veste: “quando ele está de<br />
pano na cabeça ou de brinco”. Pressiona e briga com Bruno e t<strong>em</strong> vontade de<br />
levá-lo na loja para vesti-lo de acordo com os seus padrões. E o neto “devolve<br />
com agressividade”. O senhor Pedro comenta que não briga com Bruno, mas não<br />
deixa de <strong>em</strong>itir a sua opinião sobre seu comportamento.<br />
Bruno comenta que, hoje <strong>em</strong> dia, se esforça para falar mais abertamente com os<br />
avós depois que entrou <strong>em</strong> processo de recuperação. Relata ter começado a se<br />
afastar deles, a “fechar o diálogo”, quando a avó queria comandar o seu jeito de<br />
vestir e de se apresentar. Explica que a sua forma de vestir reflete seus<br />
sentimentos e denuncia o que lhe vai na alma. Usar o lenço na cabeça é<br />
decodificado como drogado pelo pai, por ex<strong>em</strong>plo. O filho rebate dizendo que<br />
“coisa de drogado é usar drogas”. “De acordo com o que eu estou vestindo, o<br />
meu comportamento muda, meu vocabulário muda, meu comportamento muda, eu<br />
fecho o pacote completo s<strong>em</strong>pre”. Portanto, passou a classificar como besteira<br />
“tudo” o que a avó falava, considerando-o implicância. Hoje <strong>em</strong> dia, busca filtrar e<br />
consegue “não explodir”. Mas também há diálogo com os avós. Respeita seu avô<br />
e gosta de conversar com ele.<br />
141
Na entrevista, o t<strong>em</strong>a das vestimentas tomou corpo. Bruno explica a discriminação<br />
que os seus familiares estabelec<strong>em</strong> a partir da forma como se veste. Diz que<br />
estão preocupados com a aparência e o estigmatizam como drogado, ao invés de<br />
julgar<strong>em</strong> seus atos. Ele se sente aviltado, o que é compreensível, pois de acordo<br />
com sua lógica “fecha o pacote completo”, uma vez que seu jeito de vestir<br />
explicita, também, o seu momento com relação ao uso de drogas. A forma como a<br />
família expressa a angústia de uma possível recaída de Bruno é reprimindo o seu<br />
estilo, o que definitivamente não o auxilia. Dona Tereza, por ex<strong>em</strong>plo, insiste que<br />
“você podia não estar num dia bom [porque sentia necessidade de usar drogas],<br />
mas direitinho [usando as roupas adequadas]”. Bruno sugere que o grupo procure<br />
fazer uma terapia de família <strong>em</strong> instituições que lidam com a questão do uso<br />
abusivo de drogas.<br />
A forma autoritária de dona Tereza educar Bruno teve, como troco, rebeldia.<br />
Conforme visto <strong>em</strong> Maturana (1999), o modo de viver <strong>em</strong> família provém de climas<br />
<strong>em</strong>ocionais diversos. No caso da família Devanear, dona Tereza rejeita a forma<br />
como o neto se percebe, gerando raiva. Ora, a qualidade de recepção dos<br />
ensinamentos da avó deriva desse filtro <strong>em</strong>ocional. Está claro que eles passaram<br />
a ser questionados por Bruno. Inclusive, parte de seu comportamento transgressor<br />
possivelmente se apóia no autoritarismo com que foi educado por ela, durante<br />
muitos anos. Ao contrário, o avô aparece como uma figura mais benévola e<br />
compreensiva, mesmo tendo dificuldades para entender a forma de agir de seu<br />
neto. Por isso, Bruno introjetou a lei simbólica a partir de comandos de seu avô.<br />
Se, por um lado, Bruno transgredia e se “permitia fazer pequenos exageros ou<br />
142
fazer omissão de pequenas coisas”, por outro, insistia <strong>em</strong> ser aceito apesar, ou<br />
por causa, de seus atos. A reação de seu avô, por ex<strong>em</strong>plo, era de não<br />
reconhecê-lo como neto, dizendo: “Eu me arrependo amargamente do dia que eu<br />
peguei você para criar”. Essa fala do avô reforça a insegurança de Bruno,<br />
afetando sua auto-estima. Rejeitado pelo avô, para a casa de qu<strong>em</strong> ele seria<br />
mandado?<br />
O avô, que t<strong>em</strong> uma presença marcante na vida de Bruno, traz-lhe seu estilo<br />
como a única figura masculina adulta com qu<strong>em</strong> lidou durante a infância e início<br />
da adolescência. Márcio é visto como infantilizado ou como pai ausente por Bruno.<br />
Regina considera que t<strong>em</strong> diálogo fácil com o filho, s<strong>em</strong>pre pronto para uma<br />
prosa. Ela comenta que seu atual companheiro e seu outro filho, fruto do segundo<br />
casamento, gostam mais de ficar “na deles” enquanto Bruno gosta de socializar,<br />
promovendo o encontro dos quatro.<br />
O jov<strong>em</strong> reage dizendo que t<strong>em</strong> intimidade e diálogo aberto com a mãe, desde<br />
que não estejam falando sobre “falta de limites”. Eles têm interesses comuns: “a<br />
minha mãe, a gente fica mais falando de viag<strong>em</strong>. A gente viaja, eu e a minha mãe,<br />
a gente viaja na astrologia”. Mesmo considerando-se querido, Bruno discorre<br />
sobre a sua mágoa por não ter sido criado por seus pais e como a transforma <strong>em</strong><br />
rebeldia contra a autoridade de ambos. Cobra dos avós o cerceamento de sua<br />
autonomia.<br />
143
Revolvendo o baú do passado, buscando os fios que envolv<strong>em</strong> a família, Dona<br />
Tereza relata que sua mãe morreu quando tinha um ano e que seu pai não foi<br />
modelo de comportamento porque não trabalhava e gostava só de passear. Ela foi<br />
criada pelos irmãos. Já o senhor Pedro comenta que seu pai, que era italiano, foi<br />
um modelo para sua vida porque era trabalhador, honesto e muito exigente com<br />
os filhos. Sobre sua mãe, que faleceu recent<strong>em</strong>ente, só consegue dizer: “mãe não<br />
t<strong>em</strong> defeito. Mãe é uma dádiva. Mãe é mãe”.<br />
Regina explica que sua mãe morreu quando tinha 7 anos, porém pessoas que a<br />
conheceram vê<strong>em</strong> s<strong>em</strong>elhanças entre as duas. O pai foi um modelo de<br />
comportamento porque era <strong>em</strong>preendedor, inteligente e dedicado à família.<br />
Bruno admira alguns atributos da mãe, como o dom artístico, a capacidade de<br />
argumentação e o idealismo. Mas cobra por ela ter se mantido afastada dele por<br />
um t<strong>em</strong>po significativo para a construção da sua identidade. Considera que seu<br />
pai t<strong>em</strong> muita facilidade de se relacionar e “t<strong>em</strong> porte”, de tal forma que “às vezes<br />
parece maior do que ele é”. Ao longo da entrevista, Bruno se referiu às<br />
impressões negativas que t<strong>em</strong> de seu pai: imaturo, egoísta, explorador dos avós.<br />
Mesmo quando descreve atributos positivos dos pais, Bruno não os vê como<br />
modelos de comportamento. A ausência deles num momento de grande<br />
importância <strong>em</strong> sua vida constitui uma lacuna sentida e verbalizada por ele.<br />
A vida familiar se faz também de compartilhamento de atividades e afazeres. Dona<br />
Tereza assim resume suas considerações sobre as responsabilidades e os<br />
144
deveres <strong>em</strong> sua casa: “Para mim todas [as responsabilidades] para eles [os<br />
homens da casa] nada”. O senhor Pedro, comodamente, considera uma virtude<br />
essa forma de dona Tereza se comportar e pondera que “ela habitua a gente a<br />
isso”, inclusive interferindo na roupa que ele irá vestir. Dona Tereza não cogita<br />
modificar esse comportamento, uma vez que acredita ser sua a obrigação de<br />
cumprir as tarefas domésticas. O senhor Pedro comenta que na sua família de<br />
orig<strong>em</strong>, a autoridade era da avó, a matriarca, e na sua família nuclear é a mulher<br />
que manda <strong>em</strong> casa.<br />
Regina apresenta dois modelos de educação para as responsabilidades: uma<br />
negociação entre as pessoas que conviv<strong>em</strong> na casa para se chegar a um<br />
consenso na distribuição das tarefas domésticas, ou fazer as tarefas pelos outros.<br />
Considera a primeira a forma correta de educar nos dias atuais, porque visa a uma<br />
quebra do paradigma que prega a existência de deveres diferentes para homens e<br />
mulheres. Entretanto, exercita a segunda, dizendo: “tenho um pouco essa<br />
tendência assim de poderosa”. Isto significa que se adianta e faz as tarefas pelos<br />
outros porque considera que irá executá-las melhor. No entanto, t<strong>em</strong> conflitos com<br />
essa forma de agir e tenta modificar tal postura, tão questionada pela sua geração.<br />
Regina está verbalizando que nela, apesar das mudanças culturais, prevalece,<br />
internalizado, o processo de socialização primária sobre os papéis de gênero<br />
(Nicolaci-da-Costa, 1985).<br />
Regina impõe certas regras <strong>em</strong> sua casa, como não usar droga, não fazer sexo<br />
com menores que, quando infringidas por Bruno, “é um quebra pau”. Ele afrontava<br />
145
esses limites quando fumava sentado no portão da casa, por ex<strong>em</strong>plo. Regina<br />
considera que se não fosse uma figura de autoridade e estabelecesse limites para<br />
o filho, eles seriam grandes amigos.<br />
O jov<strong>em</strong> comenta, concordando com a avó, que as primas de sua idade, até hoje<br />
são criadas para servir, ainda quando trabalham fora de casa. Entende, apesar de<br />
não agir assim, a não ser agora que t<strong>em</strong> sua própria moradia, que viver <strong>em</strong><br />
comunidade significa dividir. Bruno considera confortável a situação de ser<br />
servido que aprendeu <strong>em</strong> casa dos avós e posteriormente da mãe. Cita um<br />
ex<strong>em</strong>plo: “Eu estou com uma namorada de 15 anos, se ela tivesse 25, assim, eu<br />
casava, porque ela faz tudo direitinho, bonitinho, sabe até costurar”. Reclama da<br />
forma autoritária de sua avó, porém aceita s<strong>em</strong>pre de bom grado ser servido por<br />
ela, “porque ela quer assim”. Entretanto, participa dos afazeres domésticos na<br />
casa de Mariana ajudando, inclusive, a cuidar dos filhos dela. Ultimamente t<strong>em</strong><br />
sido mais difícil tanto “ficar limpo quanto estar inserido numa atividade diária que<br />
parece que me ajuda a estar <strong>em</strong> recuperação”.<br />
O rapaz comenta que vive num matriarcado junto aos avós já que “(na casa dos<br />
avós) a gente conversa, conversa, conversa, no final você (a avó) faz o que quer”.<br />
A avó pensa diferente: o neto age s<strong>em</strong>pre com o intuito de agredir as pessoas. Ele<br />
concorda. Bruno considera que precisa encontrar uma forma de conseguir aceitar<br />
os limites “s<strong>em</strong> querer matar os outros de facada”. Não suporta ser frustrado:<br />
explode. Torna a comentar que dava alterações <strong>em</strong> casa dos avós porque não<br />
146
aceitava os limites impostos por Dona Tereza. Regina acrescenta: ele “s<strong>em</strong>pre<br />
quis fazer o que se dizia para não fazer”.<br />
Na casa da mãe todos têm mais voz, porque já eram adultos quando foram morar<br />
juntos. Em contraposição à avó, ela não toma decisões pelos integrantes da casa<br />
porque “não quer pegar o ônus de assumir a responsabilidade”, diz Bruno. Ela<br />
escuta os argumentos da família e geralmente muda de opinião.<br />
Ao descrever detalhadamente as atribuições da mulher e do hom<strong>em</strong> <strong>em</strong> sua<br />
geração dos anos 50 – cabendo às mulheres a autoridade na esfera privada e ao<br />
hom<strong>em</strong> na pública – Dona Tereza revela uma postura arrogante atrás do modelo<br />
hierárquico. Ela e Regina estão convencidas de que executam as tarefas melhor<br />
do que ninguém, desconsiderando a competência dos homens e promovendo,<br />
assim, uma acomodação, b<strong>em</strong> vinda para eles.<br />
4.5. Considerações finais<br />
Essa família devaneia na percepção que t<strong>em</strong> de Bruno e Márcio, configurando<br />
expectativas que se distanciam da subjetividade de cada um deles. Os avós<br />
perceb<strong>em</strong> seu filho Márcio como independente, mas sustentam-no e cumpr<strong>em</strong><br />
tarefas da responsabilidade dele. Bruno t<strong>em</strong> uma visão oposta à dos avós e mais<br />
realista do estilo de vida de seu pai. Os avós perceb<strong>em</strong> o neto de uma maneira<br />
frontalmente oposta à forma como Bruno se apresenta para a vida. Regina,<br />
companheira de “viagens” do filho, devaneia, considerando que ele “já veio<br />
pronto”. E Bruno afasta-se da realidade, buscando abrigo nos seus super-heróis.<br />
147
Seu estilo de vida, sua subjetividade <strong>em</strong> construção, negados pelos avós e<br />
enaltecidos pela mãe, auxiliam a tornar o seu caminho árduo e complexo. No<br />
mundo fantástico dos super-heróis e também das drogas, ele se refugia e se recria,<br />
<strong>em</strong> conversas solitárias. Busca sentidos para si, ainda enredado na malha<br />
familiar dos diversos olhares que, num certo sentido, lhe cobram posturas com as<br />
quais não se identifica, ou busca corresponder para ganhar o prêmio maior que é<br />
a aceitação de si por parte do outro.<br />
O estilo de criação autoritário é um aliado da expectativa conflitante de realização<br />
pessoal porque suas práticas educativas visam moldar o sujeito da forma que o<br />
adulto considera correta (Baumrind, 1966). Em decorrência, a percepção que<br />
Bruno t<strong>em</strong> de si, do seu eu, é rejeitada por seus avós, o que lhe provoca muita<br />
raiva, manifestada por meio de acessos de irritação, principalmente com a avó,<br />
figura central na sua criação.<br />
A relação de Bruno com os avós é complexa: foi adotado por eles, sendo ambos<br />
os pais vivos. Aliás, com o pai inicialmente morando na mesma casa. O senhor<br />
Pedro foi um modelo masculino para a formação identitária de Bruno, porém se<br />
escondia sob os comandos de sua mulher: o mundo privado pertencia a ela. Além<br />
disso, Bruno reagia à rejeição de seu avô cometendo pequenos delitos que, ao<br />
mesmo t<strong>em</strong>po, desafiavam e clamavam pela sua aceitação.<br />
Regina, figura relativamente recente na vida familiar do filho, prima pela<br />
contradição na prática educacional: confunde o ser amiga de Bruno com a sua<br />
148
posição de autoridade na relação com ele. Há um agravante: o filho se rebela<br />
porque não a aceita no lugar de autoridade. Os valores familiares são cozinhados<br />
nesse clima <strong>em</strong>ocional de pouca aceitação mútua, influenciando a deficiente<br />
assimilação dos mesmos.<br />
Sob a égide da autoridade dos avós, Bruno passou a infância e parte da<br />
adolescência num espaço disciplinar fechado, s<strong>em</strong>elhante a um Panóptico<br />
(Foucault, 2003, 163), tendo os seus movimentos controlados pelo poder<br />
hierárquico contínuo dos avós. Cerceado <strong>em</strong> sua autonomia, com um modelo de<br />
pai infantilizado, Bruno cresceu num ambiente de excesso de valores do ter como<br />
garantia para a sua permanência na dulcíssima prisão 18<br />
da casa dos avós.<br />
Construiu castelos de figuras míticas e, com a entrada dos pais no circuito,<br />
explodiu <strong>em</strong> indignação. Praticou atos que “fizeram esse mundo acordar, para que<br />
onde os pais estivess<strong>em</strong>, soubess<strong>em</strong> que Bruno rasteja, pedindo para eles o<br />
adotar<strong>em</strong>” 19 .<br />
A organização hierárquica nessa família se compõe de: os avós paternos na<br />
geração dos pais, Márcio, o pai, na geração dos filhos, e Regina, que busca se<br />
manter no papel de mãe de Bruno. Não há coerência entre o lugar que cada um<br />
dos m<strong>em</strong>bros ocupa na família Devanear com os valores que pregam.<br />
18 “O Quereres”, 1984, música de Caetano Veloso.<br />
19 A partir da letra de “Um Favor”, 1972, de Lupicínio Rodrigues.<br />
149
Os avós consideram a educação um valor importante, mas lograram obter pouco<br />
sucesso com o filho e o neto, criados como irmãos. Bruno não teve <strong>em</strong> qu<strong>em</strong> se<br />
mirar. Além disso, a educação baseou-se, de uma forma geral, no autoritarismo<br />
dos avós e na rebeldia do neto. Regina entra na vida de Bruno quase como uma<br />
fonte de socialização secundária. Mas todos os adultos são cúmplices,<br />
principalmente no devanear. Não conseguiram compartilhar para poder dividir,<br />
princípio caro a Regina, que ela t<strong>em</strong> dificuldades <strong>em</strong> cumprir e frente ao qual ela<br />
própria se atrapalha. A educação ativa e passiva de Bruno não lhe forneceu<br />
subsídios para a absorção dos valores familiares teoricamente estabelecidos e<br />
queridos.<br />
O princípio da honestidade, caro à mãe e ensinado pelo avô, é apreendido por<br />
Bruno <strong>em</strong> meio a pequenas transgressões e mentiras. Essa é, entre outras, uma<br />
maneira de d<strong>em</strong>onstrar a não aceitação do estilo de educação dos avós. As<br />
transgressões visam a se fazer notar pelos seus pais, assim como a sua forma<br />
sedutora de se portar objetiva angariar a atenção das pessoas: desta forma se<br />
assegura de que não está só. Serve-se das mentiras para se vangloriar e parecer<br />
um outro ser, aos olhos do outro.<br />
O vínculo de envolvimento, afeto e apoio dos pais com seus filhos é pré-condição<br />
para a identificação com os valores e com os modelos de comportamento que dão<br />
sustentação aos filhos (Brook et al, 1990). A família Devanear não propiciou um<br />
estilo de vida e de crescimento saudável. O ambiente cotidiano esteve s<strong>em</strong>pre<br />
carregado de mensagens contraditórias, exigentes e imperativas. A percepção<br />
150
equivocada de seus m<strong>em</strong>bros quanto ao desenvolvimento e à autonomia de cada<br />
um auxiliou a construção de modelos infantilizados, s<strong>em</strong> sustentação. Estimularam<br />
a dependência <strong>em</strong>ocional através das gerações, já que a busca do protagonismo<br />
é entendida como uma quebra, quiçá a destruição da família. Por tudo isso,<br />
concluo que os valores familiares não foram ensinados e praticados de forma<br />
coerente e consistente pela família Devanear, o que contribuiu para o uso abusivo<br />
de drogas numa pessoa da terceira geração.<br />
151
CONCLUSÃO<br />
Empreendi nesse estudo uma análise das interações intrafamiliares, devidamente<br />
contextualizadas <strong>em</strong> seu momento sócio-histórico referente à relação entre os<br />
valores familiares e o uso abusivo de drogas. Procurei estabelecer os elos entre<br />
os m<strong>em</strong>bros das famílias <strong>em</strong> termos de divisão de papéis, poder e autoridade, a<br />
partir das relações de parentesco e aliança, gênero e idade (Bilac, 1995),<br />
privilegiando as três categorias que deram corpo a essa investigação. Nesse<br />
processo de bordadura, preocupei-me <strong>em</strong> correlacionar o material <strong>em</strong>pírico com o<br />
teórico para descrever, analisar e concluir sobre as questões que deram orig<strong>em</strong> à<br />
tese aqui defendida.<br />
O uso abusivo de drogas, de acordo com as falas dos m<strong>em</strong>bros das famílias<br />
desse estudo, acompanha as representações sociais do uso de substâncias da<br />
década de 60 e 70 da geração dos pais e dos últimos vinte anos, que compõ<strong>em</strong> a<br />
geração dos filhos, com diferenças marcantes entre elas. Velho (1993, 1997),<br />
Bucher (1992) e Birman (1997) apontam para a ideologia de reformar o mundo da<br />
geração dos pais e Plastino (2003) avalia a combinação dos ideais individualistas,<br />
narcisistas com o uso abusivo de drogas dos jovens, na atualidade.<br />
Todos os usuários cont<strong>em</strong>plados neste estudo apresentam probl<strong>em</strong>as com a lei<br />
externa e com sua introjeção sob a forma de lei simbólica. Bucher (1992) explica,<br />
com propriedade, que essa transformação é fundamental para o convívio <strong>em</strong><br />
152
sociedade. A falta de limites eficazes e de figuras de autoridade efetivas nessas<br />
famílias muito contribuiu para as questões aqui apresentadas.<br />
A idéia de que a família é plasmada por laços consangüíneos e de afinidade<br />
perpassou as narrativas. Lévi-Strauss (1981) conceitua esta instituição de forma<br />
s<strong>em</strong>elhante, ao retirar o foco da família biológica, ampliando-o para o sist<strong>em</strong>a de<br />
parentesco como um todo. Os laços de parentesco transformam-se <strong>em</strong> fato social<br />
subsumindo a realidade natural, uma vez que são duas as unidades familiares que<br />
se comunicam através do casamento, numa relação de troca e de reciprocidade.<br />
Essa forma de conceituar a família abre espaço para o seu entendimento na<br />
intimidade da rede social pessoal (Sluzki, 1997), foco desse estudo. Essa rede é<br />
composta por vínculos com as pessoas significativas para o sujeito e contribui<br />
para a formação de sua auto-imag<strong>em</strong>. Ora, a família é a célula primeira de<br />
socialização, um microcosmo da sociedade onde se constro<strong>em</strong> os processos<br />
identificatórios (Minayo et al, 1999). É <strong>em</strong> seu seio que <strong>em</strong>erge o sujeito, por isso,<br />
é a partir dela que inicio a minha pesquisa.<br />
Berger e Luckmann (2002) constitu<strong>em</strong> referência indispensável para o estudo da<br />
família porque a traduz<strong>em</strong> como fonte de socialização primária do sujeito. Ela<br />
constitui a base inicial e de influência permanente para a constituição identitária de<br />
seus m<strong>em</strong>bros a partir da internalização do sist<strong>em</strong>a simbólico de seus agentes<br />
socializadores, conforme se depreende ao longo dessa narrativa.<br />
153
A família é descrita pelos entrevistados como: base, esteio, porto seguro; lugar do<br />
exercício de: amor, apoio, união, compreensão e conflitos; o locus de formação da<br />
identidade de seus m<strong>em</strong>bros. Essas diversas visões conformam a definição de<br />
Minayo e colaboradores (1999) sobre a versatilidade da família, conforme<br />
enunciada nas Categorias Centrais de Análise deste estudo.<br />
A formação familiar é diversa: a família Zoar é gerida somente pela mãe, a Mimar<br />
se constitui de pais que se separaram, tendo um deles se recasado, a Ciumeira,<br />
de pais casados somente uma vez que moram com os filhos e a Devanear se<br />
ass<strong>em</strong>elha à Mimar <strong>em</strong> sua forma de organização.<br />
As famílias Zoar e Mimar revelam claramente um desmapeamento, noção<br />
desenvolvida por <strong>Figueira</strong> (1981, 1985, 1987), <strong>em</strong> que formas atuais e visíveis da<br />
organização familiar interag<strong>em</strong> de uma maneira conflitante com as historicamente<br />
mais antigas, invisíveis, porém não abandonadas no decurso das mudanças<br />
sociais. Nicolaci-da-Costa (1985) especifica os conflitos decorrentes da noção de<br />
desmapeamento na socialização primária e secundária do sujeito, sublinhando<br />
que eles vêm à luz no momento <strong>em</strong> que o sujeito se torna um reprodutor da ord<strong>em</strong><br />
social, ao se relacionar com o outro a partir de posições vividas e observadas <strong>em</strong><br />
seus agentes socializadores. Entretanto, não é isso que se depreende na análise<br />
das duas famílias apontadas, onde uma das mães sonha com o casamento<br />
tradicional <strong>em</strong> decorrência dos probl<strong>em</strong>as que t<strong>em</strong> com os seus segundo e<br />
terceiro filhos e a outra relata que teria sido melhor a manutenção do primeiro<br />
casamento, a despeito da péssima relação que tinha com o ex-marido. Porém<br />
154
esse fenômeno ocorre na família Devanear, no momento <strong>em</strong> que a mãe discorre<br />
sobre os seus referenciais de educação de conotação hierárquica ou igualitária. É<br />
no exercício do papel de mãe, inserida na dinâmica desta família, que se revela o<br />
conflito entre os dois modelos.<br />
Os padrões de comportamento e de relações relatados nesse estudo não<br />
promov<strong>em</strong> o uso de drogas por parte dos m<strong>em</strong>bros das famílias descritas e n<strong>em</strong><br />
de qualquer outra família. Esse é um pensamento simplista e linear da relação<br />
entre causa e conseqüência. O objetivo desse estudo é mostrar como essas<br />
vivências são tecidas no cotidiano de cada família, geração após geração, e<br />
chamar a atenção para a força de determinados comportamentos, atitudes e<br />
práticas no interior de culturas familiares: eles dão forma aos seus valores,<br />
influenciando o uso de drogas por parte de alguns de seus m<strong>em</strong>bros. Os valores<br />
familiares não são uma entidade existente fora dos sujeitos e de suas relações<br />
primárias. Alguns são decodificados a partir da cultura e outros são reinventados<br />
pela família, num processo permanente de co-construção.<br />
A passag<strong>em</strong> dos valores está ancorada nas três categorias relatadas nesse<br />
estudo: valores familiares, conflito entre as gerações e processo educativo. As<br />
hipóteses referentes a: organização da hierarquia, infantilização e expectativas,<br />
encontram-se na categoria “conflito entre gerações” e as hipóteses concernentes<br />
a: modelo, responsabilidade e limites, na categoria “processo educativo”. Os<br />
valores familiares e a noção de família situam-se na primeira categoria.<br />
155
Conflito entre gerações<br />
A hierarquia das famílias apresenta-se, ao mesmo t<strong>em</strong>po, diversa e s<strong>em</strong>elhante.<br />
Na maioria delas, a organização familiar da geração dos avós para os pais é<br />
<strong>em</strong>inent<strong>em</strong>ente hierárquica, no que tange à criação dos filhos, com os papéis de<br />
gênero definidos como pai-provedor e mãe-zelosa, conforme descrito por <strong>Figueira</strong><br />
(1987). Essa forma de criação onde a mulher t<strong>em</strong> o predomínio, de acordo com<br />
um modelo matriarcal, é passada através das gerações. As avós des<strong>em</strong>penham<br />
um papel fundamental na educação de seus netos que se pauta, de uma forma<br />
geral, <strong>em</strong> mimos e superproteção da infância à adolescência, devido a um<br />
conjunto de fatores tais como: os pais trabalhar<strong>em</strong> <strong>em</strong> regime integral, as<br />
dificuldades <strong>em</strong>ocionais das famílias a partir da separação dos casais, os conflitos<br />
familiares não negociados, entre outros.<br />
Em decorrência disso, há uma inversão hierárquica na maioria das famílias: as<br />
avós ocupam o lugar dos pais, que desc<strong>em</strong> para a posição dos filhos sendo<br />
desqualificados, <strong>em</strong> inúmeras situações, no papel de pais. Numa dessas famílias<br />
configurou-se o que se denomina criança parental (Andolfi, 1996, 55), ou seja, o<br />
filho mais velho assumiu o posto que caberia a seu pai, do lado da mãe. Em outra,<br />
ao invés da modificação da estrutura hierárquica, os filhos sofreram agressões<br />
físicas e psicológicas e, portanto, muito pouco desfrutaram de uma relação<br />
saudável com os pais.<br />
<strong>Figueira</strong> (1987) chama a atenção para a formação dos ideais igualitários nas<br />
famílias na segunda metade do século passado <strong>em</strong> diante, que contribui para a<br />
156
transformação da família extensa <strong>em</strong> nuclear. Esses ideais revelam-se na<br />
segunda geração quando os pais privilegiam uma forma d<strong>em</strong>ocrática de<br />
convivência, porém não s<strong>em</strong> conflitos intensos intra e inter-relacionais que,<br />
inúmeras vezes, barram a sua consecução. Cabe ressaltar que nos grupos aqui<br />
estudados prevalece uma configuração de família extensa, onde as avós cuidam<br />
dos e educam os netos, algumas vezes <strong>em</strong> conjunto com os pais, e são mais do<br />
que “simples” rede de apoio para os seus filhos.<br />
Gilberto Velho (1999c) concebe uma dialética tensa entre os ideais hierarquizantes<br />
e os igualitários nos segmentos sociais e culturais. Essa mesma dinâmica se<br />
mostra nesse estudo porque a organização da hierarquia descrita é construída<br />
com conflitos, tensões e sofrimento, principalmente entre a primeira e a segunda<br />
geração.<br />
As famílias primam por vínculos dependentes que barram o processo de<br />
protagonismo e o <strong>em</strong>preendedorismo de seus m<strong>em</strong>bros. A dependência<br />
<strong>em</strong>ocional é construída sob a forma de: (a) mimos e paparicos; (b) suprimento, <strong>em</strong><br />
d<strong>em</strong>asia, dos desejos dos filhos e netos; (c) críticas e humilhações incorporadas à<br />
auto-estima dos sujeitos. Essas três formas favorec<strong>em</strong> o descumprimento das<br />
responsabilidades condizentes com o lugar na organização da hierarquia familiar<br />
de cada um dos participantes. Esses modos de relacionamento configuram uma<br />
parada no ciclo vital, salvo-conduto para a manutenção do amálgama familiar,<br />
garantia para o não enfrentamento das dificuldades e conflitos intra-geracionais e<br />
da solidão da “casa vazia” de filhos e netos, entre outros.<br />
157
Por outro lado, algumas famílias comentam sobre a dependência saudável que se<br />
traduz nos movimentos de solidariedade familiar possíveis através da confiança e<br />
do laço afetivo construído ao longo do t<strong>em</strong>po.<br />
É digna de nota a esperança que a maioria das famílias nutre pela mudança no<br />
quadro de dependência entre os seus m<strong>em</strong>bros.<br />
Somente numa família, um avô relata sua satisfação com relação ao cumprimento<br />
dos projetos por parte do filho. Nesse caso, a prole foi criada com metas possíveis<br />
de ser<strong>em</strong> cumpridas, já que adequadas à consecução. Os adultos das famílias<br />
estudadas nutr<strong>em</strong> sonhos para seus filhos e netos que são incompatíveis com o<br />
nível de maturidade deles. Alguns também desejam que sua prole realize os<br />
sonhos que não conseguiram realizar na vida. Por tudo isso, as expectativas dos<br />
avós e pais estão <strong>em</strong> conflito com as dos filhos e netos.<br />
Gilberto Velho (1999c, 1999d) evidencia que há uma imbricação entre a<br />
construção do projeto de vida do sujeito, o seu momento sócio-cultural e os<br />
processos históricos de longa duração. Os achados deste estudo ampliam a<br />
noção de Velho ao revelar<strong>em</strong> que a construção e execução de projetos pessoais<br />
precisam se adequar ao grau de maturidade de seus m<strong>em</strong>bros. O<br />
amadurecimento, por sua vez, está vinculado, nos seus primórdios, à maneira<br />
como a criança, e, posteriormente, o adolescente, são legitimados pelos adultos<br />
significativos na forma como se perceb<strong>em</strong> nessa interação. A aceitação de si, de<br />
158
seu eu pelo outro constitui o primeiro alimento <strong>em</strong>ocional para a formação de<br />
sujeitos saudáveis, com auto-imag<strong>em</strong> adequada e auto-estima <strong>em</strong> harmonia,<br />
conforme salientam Maturana (1999) e também Watzlawick e colaboradores<br />
(1967). Filhos e netos imaturos <strong>em</strong>ocionalmente são rejeitados pelos pais e avós<br />
na forma como se perceb<strong>em</strong>, provocando raiva e ressentimento (Schenker, 1993).<br />
Aliás, a rejeição é um dos elos que compõ<strong>em</strong> a dependência <strong>em</strong>ocional. Sujeitos<br />
criados para a autonomia têm como base a aceitação de si pelos outros que lhes<br />
são significativos e constitutivos.<br />
Nas famílias estudadas observa-se que, <strong>em</strong> geral, não se criaram condições de<br />
possibilidade para que seus m<strong>em</strong>bros desenvolvess<strong>em</strong> projetos para a sua vida.<br />
Mas há esperança de reversão desse quadro, expressa pelos entrevistados,<br />
<strong>em</strong>bora a complexidade estrutural das dificuldades <strong>em</strong>ocionais que enfrentam<br />
indique a necessidade de um trabalho terapêutico que favoreça o crescimento dos<br />
diversos sist<strong>em</strong>as familiares.<br />
A sociedade atual, cada vez mais, cobra uma definição do que se quer ser,<br />
conforme alerta Gilberto Velho (1999a). Porém, o mundo cont<strong>em</strong>porâneo exige<br />
uma formação mais apurada e competitiva do que no passado. A postura passiva<br />
ou confusa por parte dos filhos e netos, concernente ao mundo do trabalho, um<br />
reflexo de sua imaturidade e dependência <strong>em</strong>ocional, é fonte de preocupação para<br />
avós e pais.<br />
159
A divisão dos papéis e as obrigações entre pais e filhos são objeto de constantes<br />
negociações na atualidade. Pela falta de padrões d<strong>em</strong>arcados, essas negociações<br />
implicam opções por novos estilos de vida. Se nas sociedades tradicionais o<br />
sujeito, de uma forma geral, não precisava escolher, tampouco conhecia a<br />
angústia de ter que escolher, um fenômeno da cont<strong>em</strong>poraneidade. Giddens<br />
(1993) traz uma reflexão interessante ao considerar que a exposição da<br />
subjetividade à fluidez de suas escolhas abre espaço para o comportamento<br />
compulsivo, que representa a perda da autonomia, da capacidade de refletir e<br />
escolher, pela falência de controle sobre o eu. Esse comportamento configura um<br />
contraponto à busca de <strong>em</strong>ancipação na cont<strong>em</strong>poraneidade, portanto, de um<br />
projeto igualitário de família, já que o sujeito compulsivo estabelece uma relação<br />
de dependência do outro, buscando, com isso, manter a sensação de segurança<br />
ontológica. Cabe reforçar a observação sobre a angústia que provoca a escolha<br />
profissional e de vida pessoal para os usuários desse estudo. Acresce-se a isso, a<br />
dificuldade crônica e recursiva que o sist<strong>em</strong>a familiar t<strong>em</strong> de promover um<br />
processo de diferenciação e de <strong>em</strong>ancipação de seus m<strong>em</strong>bros.<br />
Processo educativo<br />
Maturana (1999) enfatiza que as possibilidades de recepção dos ensinamentos<br />
familiares derivam da forma como os diversos climas <strong>em</strong>ocionais são vividos entre<br />
os m<strong>em</strong>bros da família. Aprende-se de forma congruente com o que se vivencia<br />
dentro de casa, através dos vínculos que se estabelec<strong>em</strong> entre os m<strong>em</strong>bros da<br />
família.<br />
160
Os vínculos <strong>em</strong>ocionais tecidos nas relações primárias constitu<strong>em</strong> uma referência<br />
primordial para a transmissão e o aprendizado dos valores. Nas famílias<br />
estudadas predominam dois tipos de comunicação: de um lado, os conflitos,<br />
mesmo que veladamente, <strong>em</strong> alguns casos. Com pouca possibilidade de<br />
negociação, o que <strong>em</strong>erge são relações marcadas por dependência <strong>em</strong>ocional.<br />
Do outro lado, são relevantes os vínculos de apego. Em vários casos, a relação de<br />
amor entre os avós e netos não t<strong>em</strong> facilitado a construção da autonomia, seja<br />
porque os avós estão deslocados de seu lugar na hierarquia, seja por causa da<br />
interferência de climas <strong>em</strong>ocionais candentes, exaltados e irrefletidos, entre a<br />
primeira e a segunda geração.<br />
Os vínculos apresentados pelas famílias estudadas não se têm modificado, de<br />
forma geral, ao longo do ciclo vital, resultando <strong>em</strong> relações marcadas antes pelo<br />
apego do que pela construção da confiança mútua. Essa confiança é o ingrediente<br />
básico para que o sujeito possa pertencer a seu núcleo primário e, ao mesmo<br />
t<strong>em</strong>po, ser autônomo, como enfatizam Liddle e Schwartz (2002). A identificação<br />
com os valores dos adultos significativos baseia-se <strong>em</strong> referências de afeto e de<br />
autoridade, de acordo com Brook e colaboradores (1990). Porém, nas famílias<br />
estudadas, não foi essa a qualidade de entrelaçamento encontrada.<br />
Vínculos saudáveis “sustentam” a identificação de filhos com seus pais e avós,<br />
favorecendo a aquisição dos valores e aumentando a probabilidade de tê-los<br />
como modelos de comportamento (Brook e colaboradores, 1990). É b<strong>em</strong> verdade<br />
que a questão de ter pais e avós como modelos de comportamento para as<br />
161
gerações seguintes é complexa. De forma geral, os progenitores que não<br />
primaram por um comportamento saudável e não desenvolveram vínculos de boa<br />
qualidade com os seus filhos constitu<strong>em</strong>, ainda assim, modelos de<br />
comportamento, conforme apontam Nolte e Harris (1998). Esses autores<br />
sublinham que os pais são o primeiro modelo influente para seus filhos, que<br />
absorv<strong>em</strong> quaisquer valores transmitidos por eles no cotidiano.<br />
A adicção a drogas por parte do pai da família Mimar, desde a tenra infância de<br />
sua prole, influenciou o comportamento de seus dois filhos homens de tal forma<br />
que fez com que o caçula se veja às voltas com a dependência. A congruência<br />
dessa família, que se manifesta no cotidiano de suas vivências, revela<br />
contradições. Em primeiro lugar, a adicção do pai foi inconscient<strong>em</strong>ente<br />
acobertada pela mãe e ex-mulher <strong>em</strong> detrimento de sua exigência de que o caçula<br />
interrompa o uso abusivo das drogas. Segundo, essa mesma mãe usa seu estado<br />
precário de saúde para induzir o filho a sair da dependência, <strong>em</strong> lugar de estimular<br />
seu desenvolvimento autônomo. De certa forma, tudo se encaixa: o pai é mimado<br />
e infantilizado pelas mulheres e o caçula não é instado a refletir sobre a sua<br />
adicção, para dela se liberar.<br />
A qualidade do vínculo influencia o estilo de criação que, por sua vez, reflete os<br />
valores familiares. As famílias aqui analisadas, de uma forma geral, educam seus<br />
filhos através de uma combinação de um estilo autoritário e permissivo, ou utilizam<br />
cada um destes estilos separadamente.<br />
162
Apóio minhas conclusões sobre os três estilos de educação na classificação de<br />
Baumrind (1966). O estilo de educação autoritária cerceia a liberdade e a<br />
autonomia dos m<strong>em</strong>bros da família porque a dinâmica da sua vida pessoal e<br />
familiar deve ser vivida de acordo com os preceitos determinados por aquele que<br />
é a figura de autoridade na casa. O estilo de educação permissivo desloca o<br />
des<strong>em</strong>penho da autoridade para a geração seguinte, o que não contribui para<br />
educar os filhos para o cumprimento de responsabilidades, deveres e limites. Os<br />
dois referenciais de criação não auxiliam a promover o crescimento, a autonomia e<br />
o protagonismo do grupo familiar por não instituír<strong>em</strong> uma combinação de<br />
comportamentos responsivos, baseados no afeto, na compreensão e no apoio; e<br />
d<strong>em</strong>andantes, com o estabelecimento de normas claras, monitoramento e<br />
supervisão ativa das atividades dos filhos.<br />
É sabido que viv<strong>em</strong>os um t<strong>em</strong>po de mudanças relacionadas ao sentido de<br />
tradição e de autoridade, como situa Hannah Arendt (2001): de papéis<br />
preestabelecidos na família, no casamento e na sexualidade rumo a um projeto<br />
onde a individualidade adquire maior relevância social.<br />
A contestação da autoridade tradicional dos pais sobre os filhos resulta numa<br />
confusão entre a autoridade necessária para a formação social da criança, o<br />
autoritarismo e a permissividade, conforme se evidencia nas famílias aqui<br />
analisadas. A educação permissiva gera filhos que ignoram as regras porque não<br />
internalizam o sentido do outro e n<strong>em</strong> prestam atenção às suas necessidades. E,<br />
no modelo autoritário, os filhos não desenvolv<strong>em</strong> o sentido de si, não defin<strong>em</strong> os<br />
163
limites pessoais, porque as regras e os limites são impostos, s<strong>em</strong> o seu prévio<br />
entendimento (Sarti, 2002).<br />
A questão da autoridade e dos limites está vinculada à organização da hierarquia<br />
familiar, outra hipótese, agora tese, desse estudo. Em três famílias, cada uma de<br />
sua forma, os avós e os pais encontram-se deslocados, uma geração abaixo, de<br />
seu lugar apropriado. Inclusive, na família Mimar, o filho mais velho desloca-se<br />
para a segunda geração. E os pais da família Zoar, enredados <strong>em</strong> seus próprios<br />
conflitos e agressões, deixam seus filhos à deriva.<br />
Esses deslocamentos dos papéis familiares, b<strong>em</strong> como as agressões constantes<br />
na família Zoar, conectam-se, <strong>em</strong> sua maioria, à: inconsistência, ambivalência,<br />
distanciamento, inadequação dos avós e pais como modelos de comportamento<br />
para seus filhos e netos.<br />
É digna de nota a inconsistência da figura masculina nas famílias estudadas,<br />
ainda quando presente. Observa-se, de forma geral, uma correlação de forças: o<br />
mando <strong>em</strong> casa é das mulheres e os homens se acomodam; as mulheres não são<br />
generosas porque não abr<strong>em</strong> a porta para a figura masculina e o hom<strong>em</strong> também<br />
não insiste; cuidados pelas mulheres, os homens permanec<strong>em</strong> infantilizados e é<br />
desta forma que se comportam na relação adulta. O fato é que a ausência do pai e<br />
do avô na vida de seus filhos e netos gera um vazio de autoridade e afeto que não<br />
é preenchido por mais ninguém.<br />
164
Valores familiares<br />
Nas narrativas sobre os valores da maioria dos m<strong>em</strong>bros da primeira e segunda<br />
geração das famílias surge a idéia de que ensinar e aprender constitu<strong>em</strong><br />
operações distintas, cabendo uma culpabilização a filhos e netos pela não<br />
assimilação dos princípios passados por seus avós e por seus pais. Humberto<br />
Maturana (1999, 2001) sustenta, <strong>em</strong> diferentes momentos, que a aprendizag<strong>em</strong><br />
decorre da história de convivência do sist<strong>em</strong>a familiar a partir de mudanças<br />
estruturais recíprocas que ocorr<strong>em</strong> ao longo do percurso de interações de seus<br />
m<strong>em</strong>bros. Aqui só cabe falar <strong>em</strong> culpa se esta for dirigida à relação recorrente<br />
entre dois ou mais comunicantes.<br />
De uma forma geral, os avós entrevistados não consideram a possibilidade de<br />
mudança dos princípios enquanto os pais se encontram divididos: há aqueles que<br />
enunciam a possibilidade de transformação dos princípios ao longo do t<strong>em</strong>po,<br />
conforme a colocação de Ivete Ribeiro e Ana Clara Ribeiro (1993), e outros que<br />
estão na contramão desse pensamento, sublinhando que os valores não dev<strong>em</strong><br />
ser modificados. A opinião dos filhos se ass<strong>em</strong>elha à de suas figuras de<br />
identificação.<br />
O ensinamento dos valores ancora-se nas três categorias aqui descritas e<br />
analisadas. Desta forma, concluo a partir das hipóteses formuladas, agora, teses<br />
deste estudo, que a transmissão e a prática dos valores familiares pod<strong>em</strong> ser<br />
consideradas como fatores de influência no uso abusivo de drogas porque foram<br />
concomitant<strong>em</strong>ente perpassados por:<br />
165
(a) Uma inversão da hierarquia familiar que, ao deslocar avós, pais e filhos de<br />
seus lugares apropriados, influencia a construção dos valores de forma a<br />
promover uma disparidade entre o que se gostaria de ensinar como valor, e<br />
o que pode ser ensinado e aprendido pelas gerações seguintes. Essa forma<br />
de se organizar influencia o estilo de educação, a construção da autonomia<br />
e os modelos familiares, todos eles fundamentais para a promoção dos<br />
valores familiares;<br />
(b) Vínculos dependentes, de apego, que estimulam a infantilização dos filhos<br />
e netos, motor gerador da falta de autonomia e gerenciamento próprio.<br />
Esses vínculos não configuram condições de possibilidade para a<br />
internalização dos valores familiares no sentido almejado pelas famílias. A<br />
falta de protagonismo revela sujeitos inseguros, vulneráveis e frágeis que<br />
precisam do adulto para lhes servir de guia;<br />
(c) Infantilização dos jovens, motor que paralisa a construção e a consecução<br />
de projetos de vida.Ter metas a cumprir é fundamental para a criança e<br />
para o adolescente <strong>em</strong> formação. Nesse sentido, há expectativas<br />
conflitantes através das gerações, porque avós e pais, ao não<br />
reconhecer<strong>em</strong> as aberrações <strong>em</strong>ocionais decorrentes da defasag<strong>em</strong> entre<br />
a idade cronológica e a <strong>em</strong>ocional de seus filhos e netos, elaboram projetos<br />
distantes da realidade desses últimos ou, ainda, projetam nos filhos a<br />
realização de sonhos que não conseguiram materializar;<br />
(d) Ausência, inconsistência, autoritarismo, falta de intimidade, prática de<br />
agressão, amor <strong>em</strong> d<strong>em</strong>asia, na criação dos filhos. Estes atributos<br />
166
vivenciados nas relações primárias entre adultos significativos e os jovens,<br />
uma vez absorvidos por esses últimos, transformam-se <strong>em</strong> práticas<br />
educativas reais, ativas e passivas. Há um importante agravante nessas<br />
situações, <strong>em</strong> todos os casos estudados: a ausência masculina, mesmo<br />
quando o pai está presente nos lares, constitui um vácuo na vida dos filhos<br />
e na configuração da constelação familiar. No caso da família Mimar, foco<br />
das reflexões sobre modelo, a permissividade dos adultos frente ao uso<br />
abusivo de drogas por parte do pai comunica valores conflitantes para os<br />
seus m<strong>em</strong>bros;<br />
(e) Estilos de criação exercitados pelas famílias que não contribu<strong>em</strong> para o<br />
desenvolvimento <strong>em</strong>ocional e social da maioria dos filhos, já que pautados<br />
pelos princípios do autoritarismo e da permissividade. Essa forma de<br />
educar influencia a aquisição dos valores por parte dos participantes da<br />
geração dos pais e dos filhos.<br />
El<strong>em</strong>entos para prevenção e tratamento do uso abusivo de drogas<br />
Inúmeros estudos evidenciam como fatores que proteg<strong>em</strong> o adolescente contra o<br />
uso abusivo de drogas (Schenker e Minayo, 2005, 9) alguns dos aspectos tratados<br />
neste estudo, <strong>em</strong>bora os apresent<strong>em</strong> de forma isolada: (a) a relevância dos<br />
vínculos familiares fortes (Hoffmann e Cerbone, 2002, Kandel et al, 1978,<br />
Schenker e Minayo, 2003, Swadi, 1999, Werner et al, 1999); (b) o apoio da família<br />
no processo de aquisição da autonomia por parte do adolescente (Tuttle et al,<br />
2002); (c) o monitoramento parental dos diversos processos de crescimento e<br />
desenvolvimento (Brook et al, 1990, Chilcoat e Anthony, 1996, Patton, 1995,<br />
167
Steinberg et al, 1994, Swadi, 1999, Werner, 1999); (d) o estabelecimento de<br />
normas claras para os comportamentos sociais, incluindo-se aí o uso de drogas<br />
(Oetting e Donnermeyer, 1998).<br />
A partir das constatações deste estudo, considero que programas de prevenção<br />
para o uso indevido ou abusivo de drogas devam incluir a educação para os<br />
valores familiares. As famílias <strong>em</strong> tratamento precisam ser cont<strong>em</strong>pladas com a<br />
reflexão sobre e a elaboração de seus referenciais. A importância de trabalhar<br />
esse assunto se relaciona ao investimento <strong>em</strong> aprimorar a qualidade dos vínculos<br />
e à criação para a autonomia, no estilo de educação e de práticas sociais dessa<br />
instituição de raiz.<br />
Desta forma, entendo que os programas de prevenção dev<strong>em</strong> se orientar para o<br />
estímulo à reflexão dos participantes da família, <strong>em</strong> relação a e sobre a relação de<br />
cada m<strong>em</strong>bro no conjunto, no que tange ao desenvolvimento individual e coletivo.<br />
Por ex<strong>em</strong>plo, seria importante agrupar famílias <strong>em</strong> escolas, sob a orientação de<br />
profissionais de saúde capacitados para essa prevenção, estimulando a reflexão<br />
sobre as coerências e incoerências dos princípios e das práticas de seus valores.<br />
Em encontros subseqüentes, os grupos seriam convidados a refletir sobre o leque<br />
de possibilidades que se abre a partir dos diferentes estilos de criação,<br />
perpassando a organização da hierarquia da família; a construção dos modelos<br />
familiares; a educação para a autonomia; e a elaboração de metas e de projetos<br />
de vida para filhos e netos. Não se pode esquecer que valores são ensinados<br />
desde o útero.<br />
168
A promoção dos relacionamentos, dos vínculos e das relações saudáveis é a<br />
melhor forma de prevenir o uso abusivo de drogas, pois estimula a autonomia e o<br />
protagonismo dos jovens. No entanto, quando a drogadição ocorre, a família<br />
precisa ser engajada na prevenção e no tratamento, uma vez que esse sintoma<br />
que aparece num de seus m<strong>em</strong>bros denuncia probl<strong>em</strong>as no sist<strong>em</strong>a familiar,<br />
conforme se mostra ao longo desta tese.<br />
169
REFERÊNCIAS<br />
1. Acselrad G, organizadora. A educação para a autonomia: a construção de um<br />
discurso d<strong>em</strong>ocrático sobre o uso de drogas. In: Avessos do prazer: drogas, Aids<br />
e direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora <strong>Fiocruz</strong>; 2000. p.161-188.<br />
2. Andolfi M. A linguag<strong>em</strong> do encontro terapêutico. Porto Alegre: Artes Médicas;<br />
1996.<br />
3. Arendt H, organizadora. Que é autoridade? In: Entre o passado e o futuro. São<br />
Paulo: Editora Perspectiva; 2001. p. 127-187.<br />
4. Bauman Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 2001.<br />
5. Baumrind D. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Dev<br />
1966; 37:887-907.<br />
6. Becker H, organizador. Labelling theory reconsidered. In: Outsiders: studies in<br />
the sociology of deviance. New York: The Free Press; 1973. p.177- 212.<br />
7. Becker H, organizador. Marginais e desviantes. In: Uma teoria da ação coletiva,<br />
Rio de Janeiro: Zahar Editores; 1977a. p. 53- 67.<br />
170
8. Becker H. Tipos de desvio: um modelo seqüencial. In: Uma teoria da ação<br />
coletiva, Rio de Janeiro: Zahar Editores; 1977b. p. 68-85.<br />
9. Berger PL, Luckmann T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes;<br />
2002.<br />
10. Bilac ED. Sobre as transformações nas estruturas familiares no Brasil. Notas<br />
muito preliminares. In: Ribeiro I, Ribeiro ACT, organizadoras. Família <strong>em</strong><br />
processos cont<strong>em</strong>porâneos: inovações culturais na sociedade brasileira. São<br />
Paulo: Edições Loyola; 1995. p. 43-61.<br />
11. Birman J. Introdução. In: Baptista M, In<strong>em</strong> C, organizadores. Toxicomanias:<br />
abordag<strong>em</strong> clínica. Rio de Janeiro: Nepad-Uerj/Sette Letras; 1997. p. 9-22.<br />
12. Brook JS, Brook DW, Gordon AS, Whit<strong>em</strong>an M, Cohen P. The psychosocial<br />
etiology of adolescent drug use: a family interactionl approach. Genetic, Social,<br />
and General Psychol Monogr 1990; 116:107-267.<br />
13. Brook JS, Whit<strong>em</strong>an M, Gordon AS, Cohen P. Some models and mechanisms<br />
for explaining the impact of maternal and adolescent characteristics on adolescent<br />
stage of drug use. Dev Psychol 1986; 22:460- 7.<br />
14. Bucher R. Drogas e drogadição no Brasil. Porto Alegre: Artes Médicas; 1992.<br />
171
15. Bucher R. Prevenindo contra as drogas e Dst/Aids: populações <strong>em</strong> situação de<br />
risco. Brasília: CDIC; 1995.<br />
16. Caldeira ZF. Drogas, indivíduo e família: um estudo de relações singulares<br />
[Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública,<br />
Fundação Oswaldo Cruz; 1999.<br />
17. Carlini EA, Galduróz JCF, Noto AR, Nappo SA. I Levantamento domiciliar<br />
sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 107 maiores<br />
cidades do país: 2001. São Paulo: CEBRID/UNESP; 2002.<br />
18. Carter B, McGoldrick M e colaboradores 1995. As mudanças no ciclo de vida<br />
familiar: uma estrutura para a terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas; 1995.<br />
19. Chilcoat HD, Anthony JC. Impact of parenting monitoring on initiation of drug<br />
use through late childhood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996. 35:91- 00.<br />
20. Costa C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Editora<br />
Moderna; 2001.<br />
21. Dumont L. Homo hierarchicus. Madrid: Aguilar; 1970.<br />
22. Dumont L. Casta, racismo e “estratificação”. In: Aguiar N, organizadora.<br />
Hierarquias <strong>em</strong> classe. Rio de Janeiro: Zahar Editores; 1974. p. 95-120.<br />
172
23. Dumont L. O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia<br />
moderna. Rio de Janeiro: Rocco; 1985.<br />
24. Eisenstein E. Adolescência: definições, conceitos e critérios. Adolescência e<br />
Saúde. [Submetido para publicação]; 2004.<br />
25. <strong>Figueira</strong> SA. O contexto social da psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves;<br />
1981.<br />
26. <strong>Figueira</strong> SA, organizador. Modernização da família e desorientação: uma das<br />
raízes do psicologismo no Brasil. In: Cultura da psicanálise. São Paulo: Editora<br />
Brasiliense; 1985. p.142-146.<br />
27. <strong>Figueira</strong> SA, organizador. O “moderno” e o “arcaico” na nova família brasileira.<br />
In: Uma nova família? O moderno e o arcaico na família de classe média<br />
brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 1987. p.12-30.<br />
28. Fonseca C. Amor e família: vacas sagradas da nossa época. In: Ribeiro I,<br />
Ribeiro ACT, Família <strong>em</strong> processos cont<strong>em</strong>porâneos: inovações culturais na<br />
sociedade brasileira. São Paulo: Edições Loyola; 1995. p. 69- 89.<br />
29. Foucault M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes; 2003.<br />
30. Geertz C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC; 1989.<br />
173
31. Giddens A. As conseqüências da modernidade. São Paulo: editora Unesp;<br />
1991.<br />
32. Giddens A. A transformação da intimidade. São Paulo: editora Unesp; 1993.<br />
33. Grandesso M. Sobre a reconstrução do significado: uma análise<br />
epist<strong>em</strong>ológica e hermenêutica da prática clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo;<br />
2000.<br />
34. Haley J. Leaving home: the therapy of disturbed young people. New York:<br />
McGraw-Hill Book Company; 1980.<br />
35. Heilborn ML. Dois é par: gênero e identidade sexual <strong>em</strong> contexto igualitário.<br />
Rio de Janeiro: Editora Garamond; 2004.<br />
36. Heller A. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra; 2000.<br />
37. Hoffmann JP, Cerbone FG 2002. Parental substance use disorder and the risk<br />
of adolescent drug abuse: an event history analysis. Drug Alcohol Depend 2002.<br />
66:255- 64.<br />
38. Huxley A. Admirável mundo novo. São Paulo: Globo; 2001.<br />
39. Jackson C, Henriksen L, Foshee VA. The authoritative parenting index:<br />
predicting health risk behaviors among children and adolescents. Health Educ<br />
Behav 1998; 25:321- 39.<br />
174
40. Kandel DB, Kessler RC, Margulies RZ. Antecedents of adolescent initiation into<br />
stages of drug use: a developmental analysis. Journal of Youth and Adolescence<br />
1978; 7:13-40.<br />
41. Lévi-Strauss C. Las estructuras el<strong>em</strong>entales del parentesco. Barcelona: Paidós<br />
Ibérica; 1981.<br />
42. Liddle HA, Diamond G, Dakof GA, Arroyo J, Guillory P, Holt M, Watson M. The<br />
adolescent module in multidimensional family therapy. In: LawsonG, Lawson A,<br />
editors. Family therapy with adolescent drug abusers. Gaithersburg MD: Aspen<br />
publishers, inc.; 1992. p.165-186.<br />
43. Liddle HA, Schwartz SJ. Attachment and family therapy: clinical utility of<br />
adolescent-family attachment research. Fam Process 2002; 41:455-76.<br />
44. Maturana H. Emoções e linguag<strong>em</strong> na educação e na política. Belo Horizonte:<br />
Editora UFMG; 1999.<br />
45. Maturana H. In: Magro C, Paredes V, organizadores. Cognição, ciência e vida<br />
cotidiana. Belo Horizonte: Editora UFMG; 2001.<br />
46. Maturana H, Magro C, Graciano M, Vaz N, organizadores. A biologia do<br />
conhecer: suas origens e implicações. In: A ontologia da realidade. Belo Horizonte:<br />
Editora UFMG; 2002a. p. 31-52.<br />
175
47. Maturana H, Magro C, Graciano M, Vaz N, organizadores. Ontologia do<br />
conversar. In: A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 2002b. p.<br />
167-181.<br />
48. Maturana H, Magro C, Graciano M, Vaz N, organizadores. Biologia do<br />
fenômeno social. In: A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG;<br />
2002c. p. 195- 209.<br />
49. Maturana H, Magro C, Graciano M, Vaz N, organizadores. Viver na linguag<strong>em</strong><br />
In: A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 2002d. p. 327- 347.<br />
50. Maturana H, Varela F. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do<br />
entendimento humano. São Paulo: Editorial Psy II; 1995.<br />
51. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa <strong>em</strong> saúde. São<br />
Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Abrasco; 2000.<br />
52. Minayo MCS, Assis SG, Souza ER, Njaine K, Deslandes SF, Silva CMFP et al.<br />
Fala galera: juventude, violência e cidadania na cidade do Rio de Janeiro. Rio de<br />
Janeiro: Garamond;1999.<br />
53. Morin E. Cultura Conhecimento. In: Watzlawick P, Kreig P, organizadores. O<br />
olhar do observador. Campinas: Editorial Psy; 1995. p. 71-80.<br />
54. Mourão C. A função do objeto droga na ideologia da contracultura e da cultura<br />
cont<strong>em</strong>porânea. In: Baptista M, Cruz MS, Matias R, organizadores. Drogas e pós-<br />
176
modernidade: faces de um t<strong>em</strong>a proscrito. Rio de Janeiro: Eduerj/Faperj; 2003,<br />
vol.2, p. 109-118.<br />
55. Nicolaci-da-Costa AM. Mal-estar na família: descontinuidade e conflito entre<br />
sist<strong>em</strong>as simbólicos. In: <strong>Figueira</strong> SA, organizador. Cultura da psicanálise. São<br />
Paulo: Editora Brasiliense; 1985. p. 147- 168.<br />
56. Nolte DL, Harris R. Children learn what they live: parenting to inspire values.<br />
New York: Workman Publishing; 1998.<br />
57. Oetting ER, Deffenbacher JL, Donnermeyer JF. Primary socialization theory:<br />
the role played by personal traits in the etiology of drug use and deviance. Subst<br />
Use Misuse 1998; 33: 1337-66.<br />
58. Oetting ER, Donnermeyer JF. Primary socialization theory: the etiology of drug<br />
use and deviance. Subst Use Misuse 1998; 33:995- 26.<br />
59. Patton LH. Adolescent substance abuse. Risk factors and protective factors.<br />
Pediatr Clin North Am 1995. 42:283- 93.<br />
60. Plastino CA. A constituição do sujeito coletivo e a questão dos direitos<br />
humanos. In: Acselrad G, organizadora. Avessos do prazer: drogas, Aids e direitos<br />
humanos. Rio de Janeiro: Editora <strong>Fiocruz</strong>; 2000. p.17-33.<br />
61. Plastino CA. Dependência, subjetividade e narcisismo na sociedade<br />
cont<strong>em</strong>porânea. In: Baptista M, Cruz MS, Matias R, organizadores. Drogas e pós-<br />
177
modernidade: faces de um t<strong>em</strong>a proscrito. Rio de Janeiro: Eduerj/Faperj; 2003,<br />
vol.2. p. 133-144.<br />
62. Rapizo R. Terapia sistêmica de família: da instrução à construção. Rio de<br />
Janeiro: Noos; 1996.<br />
63. Ribeiro I, Ribeiro ACT. Família e desafios na sociedade brasileira: valores<br />
como um ângulo de análise. São Paulo: Edições Loyola; 1993.<br />
64. Sarti CA. Família e individualidade: um probl<strong>em</strong>a moderno. In: Carvalho MCB,<br />
organizadora. A família cont<strong>em</strong>porânea <strong>em</strong> debate. São Paulo: EDUC/Cortez;<br />
2002. p. 39- 49.<br />
65. Schenker M. Reflexões sobre a função paterna no sist<strong>em</strong>a toxicômano. In:<br />
In<strong>em</strong> C, Acselrad G, organizadores. Drogas: uma visão cont<strong>em</strong>porânea. Rio de<br />
Janeiro: Imago; 1993. p. 205-211.<br />
66. Schenker M. A família na toxicomania. In: Baptista M, Cruz MS, Matias R,<br />
organizadores. Drogas e pós-modernidade: prazer, sofrimento, tabu. Rio de<br />
Janeiro: Eduerj/Faperj; 2003, volume1. p.207-217.<br />
67. Schenker M e Minayo MCS. A implicação da família no uso abusivo de drogas:<br />
uma revisão crítica. Revista Ciência & Saúde Coletiva 2003; 8: 299-06.<br />
68. Schenker M e Minayo MCS. A importância da família no tratamento do uso<br />
abusivo de drogas: uma revisão da literatura. Cadernos de Saúde Pública 2004;<br />
20: 649-59.<br />
178
69. Schenker M e Minayo MCS. Fatores de risco e de proteção para o uso de<br />
drogas na adolescência. Revista Ciência & Saúde Coletiva 2004; 10: [próxima<br />
publicação].<br />
70. Schnitman DF. Dialéctica estabilidad-cambio: ópticas de la dinámica familiar.<br />
Terapia Familiar 1987; 16:115-128.<br />
71. Schor EL. Adolescent alcohol use: social determinants and the case for early<br />
family-centered prevention. Bull N Y Acad Med 1996; 73:335- 56.<br />
72. Schutz A. Collected papers: the probl<strong>em</strong> of social reality. Haia: Martinus<br />
Nijhoff; 1971.<br />
73. Sennett R. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record; 2001.<br />
74. Sluzki C. Rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São<br />
Paulo: Casa do Psicólogo; 1997.<br />
75. Steinberg LD, Fletcher A, Darling A. Parental monitoring and peer influences<br />
on adolescent substance use. Pediatrics 1994. 93:1060- 4.<br />
76. Swadi H. Individual risk factors for adolescent substance use. Drug Alcohol<br />
Depend 1999; 55:209- 24.<br />
77. Tuttle J, Melnyk BM, Loveland-Cherry C. Adolescent drug and alcohol use:<br />
Strategies for assessment, intervention, and prevention. Nurs Clin North Am 2002.<br />
37:443- 60.<br />
179
78. Velho G. Dimensão cultural e política do mundo das drogas. In: Baptista M,<br />
In<strong>em</strong> C, organizadores. Drogas: uma visão cont<strong>em</strong>porânea. Rio de Janeiro:<br />
Imago; 1993. p. 274-279.<br />
79. Velho G. Introdução. In: Baptista M, In<strong>em</strong> C, organizadores. Toxicomanias:<br />
abordag<strong>em</strong> multidisciplinar. Rio de Janeiro: Nepad-Uerj/Sette Letras; 1997. p. 9-<br />
13.<br />
80. Velho G, organizador. Prestígio e ascensão social: dos limites do<br />
individualismo na sociedade brasileira. In: Individualismo e cultura: notas para uma<br />
antropologia da sociedade cont<strong>em</strong>porânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor;<br />
1999a. p. 41-54.<br />
81. Velho G, organizador. Duas categorias de acusação na cultura brasileira<br />
cont<strong>em</strong>porânea. In: Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da<br />
sociedade cont<strong>em</strong>porânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 1999b. p. 55-64.<br />
82. Velho G, organizador. Cultura de classe média: reflexões sobre a noção de<br />
projeto. In: Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade<br />
cont<strong>em</strong>porânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; 1999c. p.103-109.<br />
83. Velho G, organizador. Unidade e fragmentação <strong>em</strong> sociedades complexas.<br />
Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar Editor; 1999d. p.11-30.<br />
180
84. Velho G, organizador. Indivíduo e religião na cultura brasileira. In: Projeto e<br />
metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar Editor; 1999e. p. 49-62.<br />
85. Velho G, organizador. Cultura popular e sociedade de massas. In: Projeto e<br />
metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar Editor; 1999f. p. 63-70.<br />
86. Velho G, organizador. M<strong>em</strong>ória, identidade e projeto. In: Projeto e<br />
metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar Editor; 1999g. p.97-105.<br />
87. Von Foerster H. In: Pakman M, editor. Las s<strong>em</strong>illas de la cibernetica; obras<br />
escogidas. Barcelona: Editorial Gedisa; 1991.<br />
88. Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Pragmática da comunicação humana.<br />
São Paulo: Cultrix; 1967.<br />
89. Werner MJ, Joffe A. Graham AV. Screening, early identification, and officebased<br />
intervention with children and youth living in substance-abusing families.<br />
Pediatrics 1999. 103:1099- 12.<br />
90. Wiener N. The human use of human beings: cybernetics and society. New<br />
York: Doubleday Anchor Books; 1954.<br />
91. Zagury T. Limites s<strong>em</strong> trauma: construindo cidadãos. Rio de Janeiro: Record;<br />
2000.<br />
181
APÊNDICES<br />
APÊNDICE I – Schenker M e Minayo MCS. A implicação da família no uso<br />
abusivo de drogas: uma revisão crítica. Revista Ciência & Saúde Coletiva 2003; 8:<br />
299-06.<br />
APÊNDICE II – Schenker M e Minayo MCS. A importância da família no<br />
tratamento do uso abusivo de drogas: uma revisão da literatura. Cadernos de<br />
Saúde Pública 2004; 20: 649-59.<br />
APÊNDICE III – Schenker M e Minayo MCS. Fatores de risco e de proteção para o<br />
uso de drogas na adolescência. Revista Ciência & Saúde Coletiva 2005; 10:<br />
[próxima publicação].<br />
APÊNDICE IV – Roteiro para a Entrevista<br />
APÊNDICE V – Termo de Consentimento<br />
182
Fatores de risco e de proteção para o uso de drogas na adolescência<br />
Risk and protective factors to drug use in adolescence<br />
Miriam Schenker 1<br />
Maria Cecília de Souza Minayo 2<br />
1 Núcleo de Estudos e Pesquisa <strong>em</strong> Atenção ao Uso de Drogas/Uerj, Pós-Graduação <strong>em</strong> Saúde da Criança e<br />
da Mulher do <strong>Instituto</strong> <strong>Fernandes</strong> <strong>Figueira</strong>/<strong>Fiocruz</strong>. Rua Fonseca Teles 121/4. andar. 20940-200 São<br />
Cristóvão. Rio de Janeiro RJ. schenkerbrasil@hotmail.com<br />
2 Centro Latino-Americano de Estudos da Violência e Saúde, <strong>Fiocruz</strong>.
2<br />
Resumo<br />
Este artigo apresenta uma visão compreensiva da complexidade dos fatores de risco e de<br />
proteção para o uso de drogas na adolescência. Discorre sobre a interdependência dos<br />
diversos contextos – individual, familiar, escolar, grupo de pares, midiático e comunidade<br />
de convivência – propícios tanto ao risco quanto à proteção ao uso das drogas lícitas e<br />
ilícitas, fornecendo, por último, algumas estratégias de prevenção.<br />
Palavras-chave Adolescência, fatores de risco, fatores de proteção, uso de drogas,<br />
prevenção.<br />
Abstract<br />
This article presents a comprehensive view of the risk and protective factors complexity to<br />
drug use in adolescence. Discusses the interdependence of various contexts – individual,<br />
familiar, school, peer group, midia and community – favourable either to risk or protection<br />
of licit and illicit drug use, providing, finally, some prevention strategies.<br />
Key words Adolescence, risk factors, protective factors, drug use, prevention.<br />
Introdução<br />
Neste artigo discute-se a prevenção ao uso indevido de drogas por adolescentes.<br />
Analisam-se os fatores de risco e os fatores de proteção, conceitos que serv<strong>em</strong> de base<br />
para o diálogo com os diferentes contextos sociais como a família, os pares, a escola, a<br />
comunidade e a mídia.
3<br />
A adolescência constitui um período crucial no ciclo vital para o início do uso de drogas,<br />
seja como mera experimentação seja como consumo ocasional, indevido ou abusivo. Esse<br />
estudo privilegia a discussão da prevenção, l<strong>em</strong>brando que a utilização das drogas lícitas e<br />
ilícitas permeia a cultura da adolescência à velhice e, no caso do Brasil, notadamente por<br />
meio do consumo de álcool, fumo e maconha.<br />
A família, pelo papel de inserir seus m<strong>em</strong>bros na cultura e ser instituidora das relações<br />
primárias, influencia a forma como o adolescente reage à ampla oferta de droga na<br />
sociedade atual. Relações familiares saudáveis desde o nascimento da criança serv<strong>em</strong><br />
como fator de proteção para toda a vida e de forma muito particular, para o adolescente.<br />
No entanto, probl<strong>em</strong>as enfrentados na adolescência, plantados na infância têm um<br />
contexto de realização muito mais ampliado. Buscar-se-á, portanto, neste texto, realizar<br />
uma discussão do contexto familiar e outros ambientes importantes para a prevenção do<br />
uso indevido de drogas como é o caso do grupo de pares, da escola, da comunidade e da<br />
mídia.<br />
Material e Método<br />
A elaboração deste artigo foi precedida de pesquisas nas bases de dados PubMed, Medline<br />
e de outros textos requisitados diretamente aos autores, entre os anos de 1995 a 2003, a<br />
partir das seguintes palavras-chave: adolescência (adolescence), fatores de risco (risk<br />
factors), fatores de proteção (protective factors), uso de drogas (drug use), prevenção<br />
(prevention). Outras obras e artigos são citados apenas quando relevantes ao t<strong>em</strong>a <strong>em</strong><br />
questão. Os 67 textos de referência foram analisados, comparados e avaliados na íntegra,<br />
dentro do escopo do presente estudo.
4<br />
O ponto de vista metodológico aqui adotado é o da teoria sistêmica/ecológica, coincidente<br />
com o de praticamente todos os autores de referência. O foco da análise se detém nas<br />
relações intrafamiliares e interpessoais, contextualizadas sócio-culturalmente.<br />
Discussão Teórica<br />
Este artigo se elabora <strong>em</strong> torno de dois conceitos centrais: risco e proteção. E ao redor<br />
deles, trabalham-se as noções de adolescência, família, escola, grupo de pares,<br />
comunidade e mídia como espaços fundamentais para a construção de risco e de proteção.<br />
Risco e Fatores de Risco – Risco é uma conseqüência da livre e consciente decisão de se<br />
expor a uma situação na qual se busca a realização de um b<strong>em</strong> ou de um desejo, <strong>em</strong> cujo<br />
percurso se inclui a possibilidade de perda ou ferimento físico, material ou psicológico. De<br />
acordo com Pieper & Pieper (1999) “o ser humano que possui a virtude cardeal da<br />
fortaleza expõe-se ao perigo da morte por um b<strong>em</strong>”(1999,179). Segundo McCrimmond &<br />
Werhrung (1986) , exist<strong>em</strong> três condições para a definição de risco: (1) possibilidade de<br />
haver perda: (2) possibilidade de ganho e (3) possibilidade de aumentar ou de diminuir a<br />
perda ou os danos. Segundo grandes filósofos como Heidegger, o risco é inerente à vida<br />
(1980), ao movimento, e à possibilidade de escolha. Viver é correr risco e por isso a<br />
incerteza é um componente essencial da existência e igualmente do conceito de risco.<br />
Giddens (1990) faz uma distinção interessante entre risco e perigo. Comenta o autor que<br />
esses dois termos não são sinônimos <strong>em</strong>bora seu significado se aproxime. Perigo diz
5<br />
respeito a ameaças que rondam a busca dos resultados desejados. Risco constitui uma<br />
estimativa a cerca do perigo.<br />
Na área de saúde, risco é um conceito que envolve conhecimento e experiência acumulada<br />
sobre o perigo de alguém ou a da coletividade ser acometida por doenças e agravos. Sendo<br />
um termo central da epid<strong>em</strong>iologia, diz respeito a situações reais ou potenciais que<br />
produz<strong>em</strong> efeitos adversos e configuram algum tipo de exposição. Definidos a partir de<br />
análises coletivas, os alertas trazidos à população pela epid<strong>em</strong>iologia se aplicam a<br />
cuidados e evitação.<br />
A expressão consagrada, fatores de risco designa condições ou variáveis associadas à<br />
possibilidade de ocorrência de resultados negativos para a saúde, o b<strong>em</strong> estar e o<br />
des<strong>em</strong>penho social (Newcomb et al., 1986; Jessor, 1991; Jessor et al., 1995). Alguns<br />
desses fatores se refer<strong>em</strong> a características dos indivíduos; outros, ao seu meio micro-social<br />
e outros ainda, a condições estruturais e sócio-culturais mais amplas (Zweig et al., 2002),<br />
mas geralmente estão combinados quando uma situação considerada social, intrapsíquica e<br />
biologicamente perigosa se concretiza. Por ex<strong>em</strong>plo, no caso do uso de drogas: ao fumar<br />
maconha, o adolescente pode aumentar a probabilidade de desenvolver uma doença<br />
pulmonar, e também sofrer conseqüências psicossociais ou sanções legais, conflitos com<br />
os pais, perda de interesse na escola ou culpa e ansiedade.<br />
Sobretudo quando se trabalha com adolescentes, o conceito de risco tal como visto pela<br />
epid<strong>em</strong>iologia não é suficiente, uma vez que nessa ótica é entendido, apenas, segundo suas<br />
conseqüências negativas. No ex<strong>em</strong>plo dado acima, está claro que um adolescente que usa<br />
maconha <strong>em</strong> princípio busca prazer e não dor e sofrimento. Em geral está a cata de
6<br />
extroversão, prazer, novas sensações, compartilhamento grupal, diferenciação, autonomia<br />
e independência <strong>em</strong> relação à família, dentre outros efeitos. E nessa procura faz um<br />
cálculo do perigo a que se expõe. Os profissionais que atuam na prevenção precisam saber<br />
desse outro lado da questão, sob pena de não desenvolver<strong>em</strong> uma compreensão<br />
suficient<strong>em</strong>ente ampla e profunda do fenômeno do uso de drogas.<br />
O lado negativo do desejo juvenil de obter prazer com o uso de drogas é o risco que ele<br />
corre de se tornar dependente e comprometer a realização de tarefas normais do<br />
desenvolvimento; o cumprimento dos papéis sociais esperados; a aquisição de habilidades<br />
essenciais; a realização de um sentido de adequação e competência e a preparação<br />
apropriada para a transição ao próximo estágio na trajetória da vida: o adulto jov<strong>em</strong>. O<br />
termo comportamento de risco aqui, portanto, refere-se às ameaças ao desenvolvimento<br />
b<strong>em</strong> sucedido do adolescente. Uma preocupação básica da educação para a saúde seria,<br />
pois, discutir com os adolescentes os riscos associados aos comportamentos nos quais se<br />
engajam (Jessor, 1991), mas tendo o cuidado de não desconhecer o lado prazeroso desse<br />
engajamento. A necessidade de se olhar os dois lados, o do desejo e o do dano, no caso do<br />
uso de drogas leva a considerar alguns aspectos citados a seguir.<br />
(1) Um deles diz respeito aos efeitos cumulativos das substâncias tóxicas e sua relação<br />
com a vulnerabilidade do indivíduo. De um lado sabe-se que a probabilidade de<br />
desenvolvimento de determinado distúrbio aumenta <strong>em</strong> função do número, da duração e<br />
da ‘toxicidade’ dos fatores de risco envolvidos (Coie et al. 1993). Por isso, quanto mais<br />
intenso o uso de drogas, mais fatores de risco há (Bry et al., 1982, Newcomb et al., 1986).<br />
Por outro lado, vários estudos mostram que o perigo difere de acordo com os indivíduos e<br />
seu contexto. Kandel et al. (1978) enfatizam que os adolescentes <strong>em</strong> certo estágio e
7<br />
freqüência de consumo não necessariamente irão usar drogas mais pesadas. Essa<br />
constatação vai contra a idéia de que haveria uma certa seqüência na gravidade do risco,<br />
indo do envolvimento sucessivo com substâncias mais leves para uma escalada rumo às<br />
mais nocivas. Alguns estudos chegam a sugerir que cigarro e álcool funcionariam como<br />
ponte (gateway) para um caminho progressivo de envolvimento com drogas cada vez mais<br />
pesadas (De Micheli & Formigoni, 2002). Essa teoria t<strong>em</strong> conseqüência para a prática<br />
educativa que busca dissuadir os adolescentes de usar substâncias mais leves, visando a<br />
prevenir o uso de outras (Botvin, 1986). No entanto, na atualidade, mesmo os estudiosos<br />
que continuam a afirmar o risco de exposição crescente, diz<strong>em</strong> que a relação é de<br />
probabilidade e não causal ( Ellickson & Morton, 1999).<br />
(2) Um segundo aspecto importante a ser considerado é o que se refere ao risco que<br />
constitui a atitude positiva da família com relação ao uso de drogas, reforçando a iniciação<br />
dos jovens (Kandel et al., 1977). Hoje se sabe que as relações familiares constitu<strong>em</strong> um<br />
dos fatores mais relevantes a ser considerado, mas de forma combinada com outros. Por<br />
ex<strong>em</strong>plo, Schor (1996) aponta que não há uma relação linear entre o abuso de álcool dos<br />
pais e de seus filhos. Sugere que os padrões de comportamento dos pais e as interações<br />
familiares, e não só o fato deles beber<strong>em</strong>, são <strong>em</strong> boa parte responsáveis pelas atitudes dos<br />
filhos. O alcoolismo t<strong>em</strong> uma influência destrutiva no funcionamento familiar e essa<br />
disfunção des<strong>em</strong>penha um papel mediador na transmissão intergeracional de<br />
comportamentos. Mas, o que está <strong>em</strong> questão não é a droga <strong>em</strong> si, e sim, a relação que o<br />
indivíduo estabelece com ela, que por sua vez, influencia e é influenciada fort<strong>em</strong>ente pelo<br />
universo de interações. Embora o consumo de drogas pelos pais esteja relacionado a maior<br />
risco dos filhos se tornar<strong>em</strong> usuários, uma vez que o comportamento parental serve-lhes de
8<br />
modelo, é a atitude permissiva dos genitores o que mais pesa nessa equação (Hawkins et<br />
al, 1992; Brown et al, 1993).<br />
Estudos têm mostrado que os fatores parentais de risco para o uso de drogas pelo<br />
adolescente inclu<strong>em</strong>, de forma combinada: (a) ausência de investimento nos vínculos que<br />
os un<strong>em</strong> pais e filhos (Hawkins et al, 1992, Patton, 1995, Kodjo & Klein, 2002); (b)<br />
envolvimento materno insuficiente (Tarter et al, 2002); (c) práticas disciplinares<br />
inconsistentes ou coercitivas (Friedman, 1989, Brook et al, 1990; Hawkins et al, 1992;<br />
Patton, 1995); (d) excessiva permissividade, dificuldades de estabelecer limites aos<br />
comportamentos infantis e juvenis e tendência à superproteção; (e) educação autoritária<br />
associada a pouco zelo e pouca afetividade nas relações (Tuttle et al, 2002; Patton, 1995);<br />
(f) monitoramento parental deficiente (Hawkins et al, 1992); (g) aprovação do uso de<br />
drogas pelos pais (Friedman, 1989; Hawkins et al, 1992); (h) expectativas incertas com<br />
relação à idade apropriada do comportamento infantil (Tarter et al, 2002); (i) conflitos<br />
familiares s<strong>em</strong> desfecho de negociação (Hawkins et al, 1992; Patton, 1995; Kodjo &<br />
Klein, 2002).<br />
(3) O envolvimento grupal t<strong>em</strong> sido visto como um dos maiores prenúncios do uso de<br />
substâncias (Kandel et al, 1978; Botvin, 1986; Brook et al, 1990; Hawkins et al, 1992;<br />
Oetting & Donnermeyer, 1998; Fergusson & Horwood, 1999; Swadi, 1999; Hoffmann &<br />
Cerbone, 2002). No entanto, essa relação interpares também precisa ser qualificada. Ela se<br />
configura como fator de risco quando os amigos considerados modelo de comportamento<br />
(Jessor et al, 1995, Hoffmann & Cerbone, 2002; Swadi, 1999), d<strong>em</strong>onstram tolerância,<br />
aprovação (Kodjo & Klein, 2002) ou consom<strong>em</strong> drogas (B<strong>em</strong>an, 1995). Observam os<br />
estudiosos que há uma sintonia, no caso dos pares: os adolescentes que quer<strong>em</strong> começar
9<br />
ou aumentar o uso de drogas procuram colegas com valores e hábitos s<strong>em</strong>elhantes (Tuttle<br />
et al, 2002). Ou seja, mesmo no caso de amigos e colegas, a questão não pode ser vista de<br />
forma simplista, pois o desenvolvimento de afiliações a pares tolerantes e que aprovam as<br />
drogas representa o final de um processo onde fatores individuais, familiares e sociais<br />
adversos se combinam de forma a aumentar a probabilidade do uso abusivo (Fergusson &<br />
Howood, 1999). O mito que supervaloriza a influência dos pares durante a adolescência<br />
provavelmente decorre, <strong>em</strong> algum nível, de uma certa desresponsabilização, sobretudo por<br />
parte dos pais e dos educadores, de probl<strong>em</strong>as freqüentes nas relações intra-familiares ou<br />
institucionais. É muito difícil, portanto, como já se referiu tomando por base outros<br />
fatores, separar e isolar os efeitos que o grupo de pares t<strong>em</strong> sobre os adolescentes, <strong>em</strong>bora<br />
se saiba que seu poder é importante no caso do uso de drogas (Schor, 1996).<br />
(4) Muito se t<strong>em</strong> falado também no papel da escola seja como agente transformador seja<br />
como lócus propiciador do ambiente que exacerba as condições para o uso de drogas.<br />
Ninguém desconhece que essa instituição é hoje alvo do assédio de traficantes e<br />
repassadores de substâncias proibidas, prevendo-se o aliciamento por pares. Pois a escola é<br />
o espaço privilegiado dos encontros e interações entre jovens. No entanto, mesmo no<br />
âmbito educacional, exist<strong>em</strong> fatores específicos que predispõ<strong>em</strong> os adolescentes ao uso de<br />
drogas, como por ex<strong>em</strong>plo, a falta de motivação para os estudos, o absenteísmo e o mau<br />
des<strong>em</strong>penho escolar (Kandel et al, 1978); a insuficiência no aproveitamento e a falta de<br />
compromisso com o sentido da educação; a intensa vontade de ser independente,<br />
combinada com o pouco interesse de investir na realização pessoal (Friedman, 1989); a<br />
busca de novidade a qualquer preço e a baixa oposição a situações perigosas; a rebeldia<br />
constante associada à dependência a recompensas (Swadi, 1999).
10<br />
(5) A disponibilidade e a presença de drogas na comunidade de convivência têm sido<br />
vistas como facilitadoras do uso de drogas por adolescentes, uma vez que o excesso de<br />
oferta naturaliza o acesso (Jessor, 1991, Patton, 1995, Wallace, Jr, 1999). Quando a<br />
facilidade da oferta se junta à desorganização social e aos outros el<strong>em</strong>entos predisponentes<br />
no âmbito familiar e institucional, produz-se uma sintonia de fatores (Kodjo & Klein,<br />
2002). A observação sobre esse el<strong>em</strong>ento, privilegiando-o e ao mesmo t<strong>em</strong>po associandoo<br />
aos outros é importante pois permite correlacionar fatos como gravidez precoce e evasão<br />
escolar (Hawkins et al., 1992), acidentes de carro, homicídios e suicídios (Kodjo & Klein,<br />
2002).<br />
(6) Outra tendência muito comum quando se fala de drogas é a absolutização do papel<br />
mídia como fator de risco. É certo que, sobretudo no caso das drogas lícitas, os meios de<br />
comunicação geralmente mostram imagens muito favoráveis. O uso do álcool e do tabaco<br />
costuma vir associado, por meio da publicidade, a imagens de artistas, ao glamour da<br />
sociabilidade e à sexualidade. Freqüent<strong>em</strong>ente os anúncios glorificam as substâncias,<br />
retratando-as como mediadoras de fama e sucesso (Patton, 1995, Kodjo & Klein, 2002;<br />
Minayo et al, 1999; Njaine, 2004). Mas não se pode, teoricamente, d<strong>em</strong>onizar a mídia: de<br />
um lado ela reflete e refrata a cultura vigente. E, de outro, seria um erro menosprezar a<br />
capacidade crítica dos jovens e a sinergia de vários outros el<strong>em</strong>entos com os meios de<br />
comunicação. Nenhuma propaganda por si só atinge efeito d<strong>em</strong>oníaco de persuasão,<br />
quando fatores protetores atuam <strong>em</strong> direção contrária. O desenvolvimento de um espírito<br />
crítico e reflexivo na família, na escola e com os pares serve de base para uma atitude<br />
criteriosa do adolescente quanto às mensagens relativas às drogas lícitas, veiculadas pelos<br />
meios de comunicação.
11<br />
Os diversos el<strong>em</strong>entos tratados acima levam a concluir que não se pode pensar os fatores<br />
de risco de forma isolada, independente e fragmentada. Determinado fator de risco<br />
raramente é específico de um distúrbio único, porque seus contextos formadores tend<strong>em</strong> a<br />
espalhar os efeitos dele derivados sobre uma série de funções adaptadoras ao longo do<br />
desenvolvimento. E a exposição ao perigo que potencializa os riscos ocorre de diversas<br />
formas e <strong>em</strong> vários contextos, como por ex<strong>em</strong>plo: exacerbando fatores individuais,<br />
educação infantil insatisfatória, fracassos escolares, relações sociais probl<strong>em</strong>áticas entre os<br />
pares ou com desorganização da comunidade (Newcomb et al, 1986, Coie et al, 1993,<br />
Hawkins et al, 1992, Patton, 1995). Mesmo a mais elevada carga genética é menos<br />
provável de se constituir <strong>em</strong> alto fator de risco numa sociedade onde a exposição ao álcool<br />
seja severamente restrita, comenta Swadi (1999). A postura uni-causal, tão freqüente, é<br />
responsável por práticas, orientações e criação de instituições inócuas ou nocivas, às quais<br />
falta uma lógica compreensiva e sistêmica.<br />
Ressaltando a necessidade metodológica de levar <strong>em</strong> conta a complexidade das formas de<br />
adesão ao uso abusivo de drogas na adolescência é relevante pensar que há uma estrutura e<br />
uma organização dos diferentes fatores, formando uma síndrome do comportamento de<br />
risco, o que r<strong>em</strong>ete às pr<strong>em</strong>issas do paradigma sistêmico: os comportamentos de risco covariam<br />
e estão inter-relacionados. Nessa perspectiva, os esforços preventivos dev<strong>em</strong> visar<br />
a modificar as circunstâncias que sustentam tais síndromes: o estilo de vida que sintetiza<br />
um padrão organizado de comportamentos interrelacionados, dentro de uma ecologia<br />
social (Jessor, 1991) e <strong>em</strong> relações complexas com distúrbios clínicos.<br />
Proteção e Fatores de Proteção – Proteger é uma noção que faz parte do contexto das<br />
relações primárias e do universo s<strong>em</strong>ântico das políticas sociais. Significa, sobretudo
12<br />
oferecer condições de crescimento e de desenvolvimento, de amparo e de fortalecimento<br />
da pessoa <strong>em</strong> formação. No caso brasileiro, a doutrina da proteção integral se encontra no<br />
Estatuto Brasileiro da Criança e do Adolescente (ECA) que a resume definindo esse grupo<br />
social como (a) cidadão; (b) sujeito de direitos; (b) capaz de protagonismo; (c) merecedor<br />
de prioridade de atenção e (d) de cuidados.<br />
Dentro dessa pr<strong>em</strong>issa de proteção, uma das tarefas de qu<strong>em</strong> atua na atenção aos<br />
adolescentes que usam drogas é determinar que fatores pod<strong>em</strong> ser evidenciados pela<br />
técnica e pela experiência como relevantes para promover seu crescimento saudável e<br />
evitar que corram riscos de dependências e de acirramento de probl<strong>em</strong>as sociais (Hawkins<br />
et al, 1992; Coie et al, 1993; Jessor et al, 1995, Pettit et al, 1997). Cabe ressaltar que os<br />
fatores de risco e de proteção dev<strong>em</strong> ser tratados como variáveis independentes, pois<br />
pod<strong>em</strong> afetar o comportamento s<strong>em</strong> que haja, necessariamente, uma compl<strong>em</strong>entaridade<br />
entre eles (Jessor et al, 1995).<br />
O desenvolvimento dos estudos sobre fatores protetores, atualmente, tende a enfatizar o<br />
processo de formação da resiliência, num progressivo abandono das abordagens centradas<br />
nos fatores de risco. Busca-se dar ênfase aos el<strong>em</strong>entos positivos que levam um indivíduo a<br />
superar as adversidades. Esse novo paradigma é certamente otimista, principalmente por<br />
que leva a acreditar que é possível, por meio de ações e programas, promover o b<strong>em</strong> estar<br />
do adolescente, atuando no fortalecimento e no desenvolvimento de habilidades pessoais e<br />
sociais (Munist et al, 1998; Bloom, 1996; Assis, 1999; Assis & Constantino, 2001).<br />
Embora as definições de resiliência sejam ainda bastante variadas, toda a discussão a<br />
respeito desse conceito está relacionada aos fatores ou processos intrapsíquicos e sociais<br />
que possibilit<strong>em</strong> o desenvolvimento de uma vida sadia, apesar de experiências de vida
13<br />
traumáticas. A compreensão do conceito envolve o entendimento da interação entre a<br />
adversidade e fatores de proteção internos e externos ao sujeito, assim como do<br />
desenvolvimento de competências que permitam a uma pessoa obter sucesso diante da<br />
adversidade (Rutter, 1987; Assis, 1999).<br />
Frente a eventos traumáticos, os el<strong>em</strong>entos de proteção assum<strong>em</strong> papel facilitador no<br />
caminho da construção da resiliência. Os estudiosos têm identificado três categorias de<br />
fatores de proteção <strong>em</strong> crianças e adolescentes resilientes: (a) individuais: t<strong>em</strong>peramento<br />
que favoreça o enfrentamento do probl<strong>em</strong>a, auto-imag<strong>em</strong> positiva e a capacidade de criar e<br />
desenvolver estratégias ativas na forma de lidar com probl<strong>em</strong>as. Esses atributos denotam<br />
auto-eficácia, auto-confiança, habilidades sociais e interpessoais, sentimentos de <strong>em</strong>patia,<br />
controle <strong>em</strong>ocional, humor e relacionamento com os pares. Os estudos mostram que<br />
exist<strong>em</strong> especificidades de gênero, de idade e de raça nas formas de d<strong>em</strong>onstração da<br />
resiliência; (b) familiares: que se traduz<strong>em</strong> <strong>em</strong> suporte, segurança, bom relacionamento e<br />
harmonia com pais e no ambiente de relações primárias; (c) extrafamiliares ou ambientais,<br />
quando se refer<strong>em</strong> ao suporte de pessoas significativas e experiências escolares positivas<br />
(Emery & Forehand, 1996; Werner, 1996; Assis, 1999; Assis & Constantino, 2001).<br />
A forma como o indivíduo lida com as adversidades, <strong>em</strong> psicologia é chamada coping<br />
termo que agrega o conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas frente às circunstâncias<br />
adversas ou estressantes. O coping positivo é construído ao longo do t<strong>em</strong>po e do processo<br />
de crescimento e desenvolvimento individual. Tal como a resiliência, as estratégias de<br />
coping depend<strong>em</strong> de atributos individuais, familiares e ambientais para se consolidar<strong>em</strong> no<br />
indivíduo. Uma vez estabelecidas, as estratégias funcionam como importante fator de<br />
proteção ao risco, proporcionando resiliência, caso sejam predominant<strong>em</strong>ente ativas no<br />
sentido da resolução dos probl<strong>em</strong>as (Garmezy & Rutter, 1988). Ao contrário, quando o<br />
indivíduo vai consolidando estratégias de fuga e evitação dos probl<strong>em</strong>as, elas se tornam<br />
fatores prejudiciais ao seu desenvolvimento saudável. Ambos diz<strong>em</strong> respeito a como os<br />
fatores familiares, micro e macro-sociais e estruturais ating<strong>em</strong> o indivíduo e o transformam
14<br />
<strong>em</strong> mais suscetível às influências adversas, ou mais resistente a seus influxos. No caso do<br />
uso de drogas essa perspectiva de resiliência deve ser adotada para buscar formas de<br />
reduzir a vulnerabilidade do indivíduo (Hawkins et al,1992; Swadi, 1999).<br />
O estudo de Brook e colaboradores (1990) aborda dois mecanismos através dos quais os<br />
fatores de proteção reduziram o risco do uso de drogas pelo adolescente. O primeiro é um<br />
mecanismo risco/proteção por meio do qual a exposição aos fatores de risco é moderada<br />
pela presença de fatores de proteção. Em estudo <strong>em</strong>pírico os autores mostram que o risco<br />
colocado por amigos que usavam drogas foi moderado pela forte inter-relação entre os<br />
pais e os adolescentes e pelo comportamento convencional e formal dos pais. O segundo é<br />
um mecanismo proteção/proteção segundo o qual um fator potencializa outro, tornando o<br />
seu efeito mais forte. Por ex<strong>em</strong>plo, os autores observaram que o vínculo entre o<br />
adolescente e seu pai intensificou os efeitos protetores tais como o comportamento formal<br />
do adolescente, as características maternas positivas e a harmonia marital, atuando<br />
positivamente na prevenção ao uso de droga.<br />
Fatores de proteção são identificados nos seis domínios da vida já tratados quando se<br />
discutiu a questão dos riscos: individual: atitudes e predisposições; meio familiar: relações<br />
familiares e atitudes parentais; escola: clima seguro ou inseguro; amigos: envolvimento ou<br />
não com drogas; sociedade: tendências econômicas, falta de <strong>em</strong>prego; comunidade:<br />
organização ou desorganização (Zweig et al, 2002).<br />
Olhando os aspectos da individualidade, é preciso ressaltar que os adolescentes não são<br />
um recipiente passivo ou objeto controlado por influências familiares ou sociais e n<strong>em</strong> por<br />
determinações externas. São participantes ativos do processo de formação de vínculos e de
15<br />
transmissão de normas. Suas características físicas, <strong>em</strong>ocionais e sociais interag<strong>em</strong> na<br />
dinâmica de socialização (Oetting et al, 1998), permitindo a metabolização subjetiva dos<br />
fatores externos. Por ex<strong>em</strong>plo: <strong>em</strong> geral as crianças com nove ou 10 anos valorizam a<br />
companhia dos amigos, as atividades de grupo, o sucesso na escola, a boa relação com os<br />
pais. Porém, cada menino ou menina avalia de forma diferente a rejeição dos amigos ou<br />
sua exclusão de um grupo. Para uma a experiência da rejeição pode ter efeitos deletérios<br />
imediatos na cognição social, na auto-imag<strong>em</strong> e na auto-estima. Para outra a mesma<br />
experiência pode ter efeitos saudáveis no ajustamento de longo prazo, motivando-a a se<br />
posicionar de forma a ser aceita no futuro (Parker & Asher,1987; Tarter et al, 2002).<br />
Os adolescentes que têm objetivos definidos e invest<strong>em</strong> no futuro apresentam<br />
probabilidade menor de usar drogas, porque o uso interfere com os seus planos (Kodjo &<br />
Klein, 2002). Igualmente, a elevada auto-estima, os sentimentos de valor, orgulho,<br />
habilidade, respeito e satisfação com a vida pod<strong>em</strong> servir de proteção contra a<br />
dependência de drogas pelos jovens quando combinada com outros fatores protetores do<br />
seu contexto de vida (Hoffmann & Cerbone, 2002). Sendo assim se conclui que crianças e<br />
adolescentes que viv<strong>em</strong> <strong>em</strong> ambientes familiares ou <strong>em</strong> comunidades onde há uso abusivo<br />
de drogas e consegu<strong>em</strong> não se deixar influenciar por esse contexto apresentam<br />
características individuais protetoras conjugadas ao convívio com outros adultos<br />
cuidadores escolhidos por eles, fora do ambiente familiar. Os programas de prevenção<br />
dev<strong>em</strong> levar <strong>em</strong> conta a importância das atividades de mentores e de outros programas de<br />
desenvolvimento da juventude (Kodjo & Klein, 2002).<br />
O âmbito familiar t<strong>em</strong> um efeito potencialmente forte e durável para o ajustamento<br />
infantil. O vínculo e a interação familiar saudável serv<strong>em</strong> de base para o desenvolvimento
16<br />
pleno das potencialidades das crianças e dos adolescentes. Inúmeros estudos mostram que<br />
os padrões de relação familiar, a atitude e o comportamento dos pais e irmãos são modelos<br />
importantes para os adolescentes, inclusive no caso do uso de drogas. (Kandel et al, 1977;<br />
Brook et al, 1990; Hawkins et al, 1992; Patton, 1995; Schor, 1996; Kodjo & Klein, 2002).<br />
Tec (1974) descobriu que uma interação familiar gratificante é um forte fator protetor,<br />
mesmo no caso dos pais adictos, quando esses são capazes de prover um contexto<br />
amoroso, afetuoso e de cuidado.<br />
No âmbito da família, estudos evidenciam como fatores que proteg<strong>em</strong> o adolescente do<br />
uso de drogas: (a) a relevância dos vínculos familiares fortes (Kandel et al, 1977, Swadi,<br />
1999, Werner et al1999, Hoffmann & Cerbone, 2002; Schenker & Minayo, 2003); (b) o<br />
apoio da família ao processo de aquisição da autonomia pelo adolescente (Tuttle et al,<br />
2002); (c) o monitoramento parental aos diversos processos de crescimento e<br />
desenvolvimento (Steinberg et al 1994; Chilcoat & Anthony, 1996; Swadi, 1999; Patton,<br />
1995; Werner et al, 1999; Brook et al, 1990); (d) o estabelecimento de normas claras para<br />
os comportamentos sociais, incluindo-se o uso de drogas (Oetting & Donnermeyer, 1998).<br />
Raramente os estudos sobre drogas dão realce às amizades entre os jovens como<br />
protetoras, uma vez que, <strong>em</strong> geral todas as intervenções focam a superação das influências<br />
negativas das amizades e não o estabelecimento ou manutenção de influências positivas<br />
dos amigos (Tuttle et al, 2002). No entanto, sabe-se que grupos de amigos com objetivos e<br />
expectativas de realização na vida e movimentos que levam ao protagonismo juvenil e à<br />
solidariedade têm papel fundamental numa etapa existencial onde as influências dos pares<br />
são cruciais.
17<br />
A escola é um poderoso agente de socialização da criança e do adolescente, ressaltando-se<br />
uma certa mística e identidade do tipo de educandário com o comportamento daqueles que<br />
o freqüentam (Kandel, 1977). Por juntar <strong>em</strong> seu interior a comunidade de pares e por ter<br />
<strong>em</strong> suas mãos fortes instrumentos de promoção da auto-estima e do auto-desenvolvimento,<br />
o ambiente escolar pode ser um fator fundamental na potencialização de resiliência dos<br />
adolescentes.<br />
No que concerne aos fatores estressantes da vida, como morte, doenças ou acidentes<br />
entre m<strong>em</strong>bros da família e amigos; mudanças de escola ou de residência; separação,<br />
divórcio ou novos casamentos dos pais; probl<strong>em</strong>as financeiros na família (Hoffmann &<br />
Cerbone, 2002), muitos estudos mostram que eles pod<strong>em</strong> influenciar o uso abusivo de<br />
drogas quando associados a outros fatores predisponentes, incluindo-se disposições<br />
individuais. No entanto, conforme as circunstâncias individuais e ambientais eles<br />
permit<strong>em</strong> elaboração e crescimento interior dos jovens, constituindo-se <strong>em</strong> el<strong>em</strong>entos de<br />
fortalecimento e de amadurecimento.<br />
Os adolescentes são consumidores ávidos da mídia escrita e áudio-visual. As mensagens<br />
recebidas desses meios geralmente influenciam sua tomada de decisão frente a vários<br />
assuntos <strong>em</strong> sua vida. Entretanto, a reflexão crítica deles entre pares e com pais e<br />
educadores moderam o risco potencial da exposição e potencializam a comunicação e o<br />
amadurecimento frente aos vários probl<strong>em</strong>as, inclusive sobre o uso de substâncias ilícitas.<br />
Por tudo o que foi dito até então é preciso refletir sobre a inocuidade, do ponto de vista<br />
protetor, do slogan que se repete por toda parte “diga não às drogas”. A falta de adesão<br />
dos jovens torna evidente a falha <strong>em</strong> reconhecer a inadequação das propostas moralistas e
18<br />
autoritárias que não se fundam na visão complexa dos fatores de risco e de proteção<br />
analisados. É preciso não se esquecer que as drogas cumpr<strong>em</strong> funções importantes para os<br />
adolescentes, tanto do ponto de vista pessoal quanto social. Pesquisas mostram que os<br />
comportamentos de enfretamento de risco são funcionais, intencionais, instrumentais e<br />
dirigidos para o desenvolvimento normal do adolescente. Fumar, beber, dirigir<br />
perigosamente ou exercer atividade sexual precoc<strong>em</strong>ente pod<strong>em</strong> ser atitudes tomadas pelo<br />
jov<strong>em</strong> visando a ser aceito e respeitado pelos pares; conseguir autonomia <strong>em</strong> relação aos<br />
pais; repudiar normas e valores da autoridade convencional; lidar com ansiedade,<br />
frustração e antecipação do fracasso; afirmação rumo à maturidade e à transição da<br />
infância para um status mais adulto. Não há nada de perverso, irracional ou<br />
psicopatológico nesses objetivos: eles são característicos do desenvolvimento<br />
psicossocial. A campanha “diga não às drogas” por não oferecer alternativas à promoção<br />
de comportamentos saudáveis, revela-se moralmente cínica (Shedler e Block, 1990,<br />
Jessor, 1991, 598) e teoricamente contraditória, na medida que omite as normas sociais<br />
que favorec<strong>em</strong> o uso de drogas (B<strong>em</strong>an, 1995).<br />
Estratégias de prevenção<br />
O adolescente que faz uso de drogas responde b<strong>em</strong> às intervenções contextualizadas. Os<br />
contextos dominantes para ele são seus pares e a escola e, numa proporção menor, o<br />
entorno da comunidade. Para crianças menores, o contexto principal é a família, que<br />
continua igualmente importante na adolescência (Schor, 1996).<br />
O uso ocasional de droga por adolescentes pode ser entendido como manifestação de uma<br />
experimentação apropriada para sua etapa de desenvolvimento e busca de direção para a
19<br />
vida. Estudo de Shedler e Block (1990), ao diferençar entre adolescentes que se abstêm,<br />
que experimentam e que abusam de drogas conclui que, dada a quase onipresença e uma<br />
certa aceitação da maconha na cultura dos pares, não é surpreendente que, com 18 anos,<br />
indivíduos psicologicamente saudáveis, sociáveis e curiosos se sintam tentados a<br />
experimentar o produto. Não se espera que adolescentes saudáveis abus<strong>em</strong> da droga<br />
porque apresentam baixa necessidade de utilizá-la para aplacar a angústia <strong>em</strong>ocional ou<br />
como meio de compensar a falta de relações importantes. Os autores comparam o sentido<br />
do uso da maconha entre adolescentes de hoje com o significado social e psicológico que a<br />
bebida alcoólica teve para gerações anteriores (Shedler & Block, 1990). Levando <strong>em</strong> conta<br />
essa reflexão, os esforços preventivos precisam ser muito mais abrangentes e voltados para<br />
os precursores dos riscos e da resiliência (Coie et al, 1993).<br />
Estudos indicam que as condições de formação de uma personalidade resiliente são: (a)<br />
colocar expectativas claras relativas ao comportamento; (b) monitorar e supervisionar as<br />
crianças; (c) reforçar com consistência atividades que favoreçam a socialização; (d) criar<br />
oportunidades para o envolvimento familiar; (d) promover o desenvolvimento das<br />
habilidades acadêmicas e sociais dos jovens (Hawkins et al., 1992).<br />
No entanto, as habilidades para a formação de crianças e jovens freqüent<strong>em</strong>ente deveriam<br />
fazer parte de um processo de formação de pais e educadores. A aquisição e o uso dessas<br />
habilidades na administração da família ou dos contextos educativos reduz<strong>em</strong> probl<strong>em</strong>as<br />
de comportamento das crianças nos primeiros anos, promove o bom des<strong>em</strong>penho escolar e<br />
as fortalece para lidar<strong>em</strong> com condições adversas (Hawkins et al, 1992).
20<br />
Pela força da escola e da família nessa etapa da vida, para os pré-adolescentes e<br />
adolescentes é fundamental que pais e educadores estejam atentos a alguns parâmetros<br />
relacionais: (a) uma comunicação livre e fluente com os pais ou com adultos que lhes<br />
serv<strong>em</strong> de modelo fortalece <strong>em</strong>ocionalmente o jov<strong>em</strong> (b) e evita o engajamento <strong>em</strong><br />
comportamentos de risco (Friedman, 1989, Kodjo & Klein, 2002; Tuttle, 2002); (c)<br />
elogios dos pais às conquistas dos filhos e dos educadores a seus estudantes são o<br />
alimento da auto-estima; (d) a colocação de expectativas claras por parte dos pais e<br />
professores, aliada a uma educação com autoridade, que envolve afeto, controle e trato<br />
d<strong>em</strong>ocrático favorece o desenvolvimento psicológico saudável e o sucesso escolar do<br />
adolescente (Steinberg et al, 1989, Steinberg et al, 1992); (e) o monitoramento das<br />
atividades dos jovens, seja por pais ou educadores mostra que eles estão investindo na<br />
segurança dos jovens; (f) o compartilhamento de valores, atitudes e crenças sobre as<br />
drogas (é o caso <strong>em</strong> pauta aqui) é fundamental para o amadurecimento das decisões e da<br />
responsabilização: (g) conhecer os amigos e os pais dos amigos dos filhos é crucial, uma<br />
vez que a pressão dos pares é uma das principais influências para o uso de drogas; (h)<br />
igualmente exigências e expectativas quando ao des<strong>em</strong>penho na escola funciona como um<br />
tipo de monitoramento e de proteção, na medida que se junta ao encorajamento de<br />
atividades <strong>em</strong> que o jov<strong>em</strong> possa ter sucesso; e por fim, (i) o incentivo ao engajamento nas<br />
atividades da escola, da comunidade e de movimentos sociais ou de solidariedade é um<br />
potente fator protetor.<br />
Para Hawkins e colaboradores (1992), os quatro el<strong>em</strong>entos do vínculo social que se<br />
mostram inversamente correlacionados com o uso de drogas são: (a) vínculo forte com os
21<br />
pais; (b) compromisso com a escola; (c) envolvimento regular com atividades da igreja ou<br />
de outros movimentos e (d) crença nas expectativas gerais, normas e valores da sociedade.<br />
Metodologicamente essas intervenções requer<strong>em</strong> intercomunicação com a criança, os pais,<br />
a família e a comunidade. Já que a influência dos pais diminui à medida que as crianças<br />
cresc<strong>em</strong>, o dito popular quanto mais cedo melhor deve guiar os programas de intervenção.<br />
A ênfase no estilo de vida nunca deve ser traduzida como se esse estilo fosse de<br />
responsabilidade exclusiva do indivíduo: tal abordag<strong>em</strong> tenderia a culpar a vítima (Jessor,<br />
1991, 604). O risco precisa ser entendido, como já foi dito, de forma a incluir a<br />
complexidade dos fatores e, portanto, a redução do risco requer tanto mudanças subjetivas<br />
quanto sociais.<br />
Pode-se esperar um maior sucesso dos programas de prevenção que explicitamente<br />
maximizam o ajuste adaptativo entre indivíduos e contextos. Para tal, é necessário ter<br />
sensibilidade para compreender e valorizar a história pessoal, o estágio de vida do<br />
indivíduo, as normas culturais, as crenças e práticas no que concerne ao uso de drogas<br />
(Tec, 1974; Johnson et al, 1984; Coie et al, 1993), b<strong>em</strong> como os contextos sociais e da<br />
comunidade onde esse uso ocorre ou é proscrito (Wallace, Jr,1999).<br />
Conclusão<br />
O uso de drogas é uma questão complexa que perpassa inúmeros sub-sist<strong>em</strong>as da vida<br />
individual e social. As representações sociais que levam à adesão ou à condenação<br />
depend<strong>em</strong> do contexto sócio-cultural. Os constrangimentos impostos numa determinada
22<br />
cultura são diversos <strong>em</strong> outras. Então, é necessário compreender os códigos do contexto e<br />
a rede de significados que envolv<strong>em</strong> a sociedade <strong>em</strong> geral, os grupos específicos dentro de<br />
determinado t<strong>em</strong>po histórico. Muitos estudos têm mostrado como a atribuição de valor<br />
positivo ou proscritivo depend<strong>em</strong> de configurações geográficas e históricas (Velho, 1998)<br />
Esse artigo inicialmente privilegiou o papel da família na prevenção e na promoção da<br />
resiliência, porque ela é a primeira célula mater responsável pela socialização dos<br />
indivíduos. Mas como se viu neste texto, a probl<strong>em</strong>ática não se reduz ao contexto familiar.<br />
O indivíduo, inserido numa rede de relações, vive no contexto sócio-cultural e histórico.<br />
Mas a família t<strong>em</strong> um papel crucial: quando cuidadora, afetiva, amorosa e comunicativa<br />
possui mais chances de promover condições de possibilidades para o desenvolvimento<br />
saudável dos filhos. Por isso, os programas de prevenção de uso de drogas precisam<br />
prever aplicações práticas de orientação familiar. Papel fundamental pode ser exercido<br />
pelos pediatras que acompanham o desenvolvimento e o crescimento da criança (Patton,<br />
1995).<br />
A idéia, quase uma ideologia subentendida no slogan, “diga não às drogas” é um<br />
americanismo que não condiz com a proposta de redução de danos e de promoção da<br />
resiliência. Experimentar drogas lícitas ou ilícitas e usá-las socialmente são atitudes que<br />
faz<strong>em</strong> parte de culturas milenares e é um fato na atualidade. Segundo Lewin (1924) pelo<br />
menos 1/4 da humanidade usa algum tipo de drogas.<br />
Um programa compreensivo e voltado à promoção da saúde precisa entender essa quase<br />
inevitabilidade com a qual convive o ser humano de buscar algum tipo de prazer <strong>em</strong><br />
substâncias que produz<strong>em</strong> algum tipo de sensação. E também entender que a prevenção do
23<br />
abuso de drogas é sinônima de vida saudável, <strong>em</strong>preendimento tão importante para os<br />
jovens que deve incluir a família, a escola, o grupo de pares, a comunidade e a mídia. Tal<br />
abordag<strong>em</strong> requer uma difícil mais factível articulação dos serviços social, educacional e<br />
de saúde, numa visão multidisciplinar e como responsabilidade da sociedade também. O<br />
“combate às drogas” termo militarista proveniente da ideologia americana, como único<br />
foco obsessivo da ação não deveria prevalecer. Promover um crescimento e<br />
desenvolvimento saudáveis, maior igualdade social e de oportunidades, atuar contra a<br />
pobreza e o racismo, voltar-se para o desenvolvimento do protagonismo juvenil são<br />
propostas que converg<strong>em</strong> para o cumprimento do ECA e a favor da d<strong>em</strong>ocracia.<br />
Referências bibliográficas<br />
Arthur MW, Hawkins JD, Pollard JA, Catalano RE & Baglioni Jr. AJ 2002. Measuring risk<br />
and protective factors for substance use, delinquency, and other adolescent probl<strong>em</strong><br />
behaviors. Evaluation Review 26(6):575-601.<br />
Assis, SG. 1999. Traçando caminhos <strong>em</strong> uma sociedade violenta. Editora <strong>Fiocruz</strong>, Rio de<br />
Janeiro.<br />
Assis, SG, Avanci, JQ, Silva, CMFP, Malaquias, JV, Santos, NC & Oliveira, RVC. 2003.<br />
A representação social do adolescente: um passo decisivo na promoção da saúde. Ciência<br />
& Saúde Coletiva, 8(3): 669-680.<br />
Assis, SG & Constantino, P. 2001. Filhas do Mundo: infração juvenil f<strong>em</strong>inina no Rio de<br />
Janeiro. Editora <strong>Fiocruz</strong>, Rio de Janeiro.<br />
Bandura A 1977. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.<br />
Psychological Review 84(2):191-215.<br />
Baumrind D 1966. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child<br />
Development 37:887-907.<br />
Baumrind D 1967. Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior.<br />
Genetic Psychology Monographs 75:43-88.
24<br />
B<strong>em</strong>an DS 1995. Risk factors leading to adolescent substance abuse. Adolescence<br />
30(117):201-208.<br />
Bloom B 1996. The home environment and social learning. San Francisco, Jossey-Bass.<br />
Botvin GJ 1986. Substance abuse prevention research: recent developments and future<br />
directions. Journal of School Health 56(9):369-374.<br />
Bronfenbrenner U 1986. Ecology of the family as a context for human development:<br />
research perspectives. Developmental Psychology 22(6):723-742.<br />
Brook JS, Brook DW, Gordon AS, Whit<strong>em</strong>an M & Cohen P 1990. The psychosocial<br />
etiology of adolescent drug use: a family interactional approach. Genetic, Social, and<br />
General Psychology Monographs 116(2):111-267.<br />
Brown BB, Mounts N, Lamborn SD & Steinberg L 1993. Parenting practices and peer<br />
group affiliation. Child Development 64:467-482.<br />
Bry BH, McKeon P & Pandina RJ 1982. Extent of drug use as a function of number of<br />
risk factors. Journal of Abnormal Psychology 91(4):273-279.<br />
Chilcoat HD & Anthony JC 1996. Impact of parenting monitoring on initiation of drug<br />
use through late childhood. Journal of The American Acad<strong>em</strong>y of Child and Adolescent<br />
Psychiatry35(1):91-100.<br />
Coie JD, Watt NF, West SG, Hawkins JD, Asarnow JR et al. 1993. The science of<br />
prevention. A conceptual framework and some directions for a national research program.<br />
American Psychologist 48(10):1013-1022.<br />
De Micheli D & Formigoni MLOS 2002. Are reasons for the first use of drugs and family<br />
circumstances predictors of future use patterns? Addictive Behaviors 27;87-100.<br />
Ellickson PL & Morton SC 1999. Identifying adolescents at risk for hard drug use:<br />
racial/ethnic variations. Journal of Adolescent Health 25:382-395.<br />
Emery RS & Forehand R 1996. Parental divorce and children´s well-being: a focus on<br />
resilience. pp. 64-99. In: Haggerty LR; Sherrod N; Garmezy N & Rutter M (editors). Stress,<br />
risk and resilience in children and adolescents: process, mechanisms and interventions.<br />
Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Fergusson DM & Horwood LJ 1999. Prospective childhood predictors of deviant peer<br />
affiliations in adolescence. Journal of Child Psychology and Psyciatry and Allied<br />
Disciplines 40(4):581-592.<br />
Friedman HL 1989. The health of adolescents: beliefs and behaviour. Social Science and<br />
Medicine 29(3):309-315, Section C.
25<br />
Friedman AS, Terras A & Kreisher C, 1995. Family and client characteristics as predictors<br />
of outpatient treatment outcome for adolescent drug abusers. Journal of Substance Abuse<br />
7:345-356.<br />
Garmezy N & Rutter M 1988. Stress, coping and development in children. New York,<br />
McGraw-Hill.<br />
Giddens A 1994. Risco, confiança e reflexividade. pp.207-254. In A Giddens, U Beck & S<br />
Lash (orgs.). Modernidade reflexiva. Editora UNESP, São Paulo.<br />
Hawkins JD, Catalano RF & Miller JY 1992. Risk and protective factors for alcohol and<br />
other drug probl<strong>em</strong>s in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse<br />
prevention. Psychological Bulletin 112(1):64-105.<br />
Heidegger M 1980. Heidegger, Coleção Os Pensadores. Editora Abril, São Paulo.<br />
Hoffmann JP & Cerbone FG 2002. Parental substance use disorder and the risk of<br />
adolescent drug abuse: na event history analysis. Drug and Alcohol Dependence 66:255-<br />
264.<br />
Jessor R 1991. Risk behavior in adolescence: a psychosocial framework for understanding<br />
and action. Journal of Adolescent Health 12:597-605.<br />
Jessor R, Bos JV, Vanderryn J, Costa FM & Turbin MS 1995. Protective factors in<br />
adolescent probl<strong>em</strong> behavior: moderator effects and developmental change.<br />
Developmental Psychology 31(6):923-933.<br />
Johnson GM, Shontz FC & Locke TP 1984. Relationships between adolescent drug use<br />
and parental drug behaviors. Adolescence 19(74):295-299.<br />
Lewin L 1924. Phantastica: a classic survey on the use amd abuse of mind-altering<br />
plants. New Books, Portland.<br />
Kaminski RA, Stormshak EA, Good III RH & Goodman MR 2002. Prevention of<br />
substance abuse with rural head start children and families: results of project STAR.<br />
Psychology of Addictive Behaviors 16(4S):S11-S26.<br />
Kandel DB 1990. Parenting styles, drug use, and children’s adjust<strong>em</strong>ent in families of<br />
young adults. Journal of Marriage and the Family 52:183-196.<br />
Kandel DB, Kessler RC & Margulies RZ 1978. Antecedents of adolescent initiation into<br />
stages of drug use: a developmental analysis. Journal of Youth and Adolescence 7(1):13-<br />
40.
26<br />
Kodjo CM & Klein JD 2002. Prevention and risk of adolescent substance abuse. The role<br />
of adolescents, families and communities. The Pediatric Clinics of North America 49:257-<br />
268.<br />
McCrimmond KR & Wehrung DA 1986. Taking risk. New York, The Free Press.<br />
Minayo et al 1999. Fala Galera: Juventude, Violência e Cidadania no Rio de Janeiro.<br />
Editora Garamond, Rio de Janeiro.<br />
Munist M; Santos H, Kotliarenco M, Ojeda E, Infante F & Grotberg E 1998. Manual de<br />
identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. Washington,<br />
OPS/OMS/Fundación Kellog.<br />
Newcomb MD, Maddahian E & Bentler PM 1986. Risk factors for drug use among<br />
adolescents: concurrent and longitudinal analyses. American Journal of Public Health<br />
76(5):525-531.<br />
Njaine K 2004. Violência na mídia sob a ótica dos adolescentes. Tese de doutorado<br />
defendida na Escola Nacional de Saúde Pública, <strong>Fiocruz</strong>. Rio de Janeiro.<br />
Oetting ER, Deffenbacher JL & Donnermeyer JF 1998. Primary socialization theory: the<br />
role played by personal traits in the etiology of drug use and deviance. Part II. Substance<br />
Use & Misuse 33(6):1337-1366.<br />
Oetting ER & Donnermeyer JF 1998. Primary socialization theory: the etiology of drug<br />
use and deviance. Part I. Substance Use & Misuse 33(4):995-1026.<br />
Parker JG & Asher SR 1987. Peer relations and later personal adjustment: are lowaccepted<br />
children at risk? Psychological Bulletin 102(3):357-389.<br />
Patterson GR & Fleischman MJ 1979. Maintenance of treatment effects: some<br />
considerations concerning family syst<strong>em</strong>s and follow-up data. Behavior Therapy 10:168-<br />
185.<br />
Patterson GR, Chamberlain P & Reid JB 1982. A comparative evaluation of a parent<br />
training program. Behavior Therapy 13:638-650.<br />
Patton LH 1995. Adolescent substance abuse. Risk factors and protective factors.<br />
Pediatric Clinics of North America 42(2):283-293.<br />
Pettit GS, Bates JE & Dodge KA 1997. Supportive parenting, ecological context, and<br />
children’s adjust<strong>em</strong>ent: a seven-year longitudinal study. Child Development 68(5):908-<br />
923.
27<br />
Pieper MH & Pieper J 1999. Smart love: the compassionate alternative to discipline that<br />
will make you a better parent and your child a better person. Boston, Harvard Common<br />
Press.<br />
Pieper MH & Pieper J 2002. Addicted to unhappiness: free yourself from moods and<br />
behaviors that undermine relationships, work and the life you want. New York, McGraw-<br />
Hill.<br />
Rutter M 1987. Psychological resilience and protective mechanisms. American Journal of<br />
Orthopsychiatry, 57, 316-331.<br />
Schenker M & Minayo MCS 2003. A implicação da família no uso abusivo de drogas:<br />
uma revisão crítica. Ciência & Saúde Coletiva 8(1):299-306.<br />
Schor EL 1996. Adolescent alcohol use: social determinants and the case for early familycentered<br />
prevention. Bulletin of The New York Acad<strong>em</strong>y of Medicine 73(2):335-356.<br />
Shedler J & Block J 1990. Adolescent drug use and psychological health. American<br />
Psychologist 45(5):612-630.<br />
Steinberg L, Elmen JD & Mounts NS 1989. Authoritative parenting, psychosocial<br />
maturity, and acad<strong>em</strong>ic success among adolescents. Child Development 60:1424-1436.<br />
Steinberg L, Lamborn SD, Dornbusch SM & Darling N 1992. Impact of parenting<br />
practices on adolescent achiev<strong>em</strong>ent: authoritative parenting, school involv<strong>em</strong>ent, and<br />
encourag<strong>em</strong>ent to succeed. Child Development 63:1266-1281.<br />
Steinberg LD, Fletcher A & Darling A 1994. Parental monitoring and peer influences on<br />
adolescent substance use. Pediatrics 93(6):1060-1064.<br />
Swadi H 1999. Individual risk factors for adolescent substance use. Drug and Alcohol<br />
Dependence 55:209-224.<br />
Tarter RE, Sambrano S & Dunn MG 2002. Predictor variables by developmental stages: a<br />
center for substance abuse prevention multisite study. Psychology of Addictive Behaviors<br />
16(4S):S3-S10.<br />
Tec N 1974.Parent-child drug abuse: generational continuity or adolescent deviancy.<br />
Adolescence 9:351-364.<br />
Tuttle J, Melnyk BM & Loveland-Cherry C 2002. Adolescent drug and alcohol use:<br />
Strategies for assessment, intervention, and prevention. The Nursing Clinics of North<br />
America 37:443-460.<br />
Velho G 1998. Nobres e Anjos: um estudo de tóxicos e hierarquias. Editora FGV, Rio de<br />
Janeiro.
28<br />
Wallace Jr JM 1999. The social ecology of addiction: race, risk, and resilience. Pediatrics<br />
103:1122-1127.<br />
Werner EE 1993. Risk, resilience and recovery. Development and psychopathology fall,<br />
(5): 503-515.<br />
Werner EE 1995. Resilience and development. Current directions in psychological science<br />
jun (4): 81-85.<br />
Werner EE 1996. Vulnerable but invincible: high risk children from birth to adulthood.<br />
European child & adolescent psychiatry 5: 47-51.<br />
Werner MJ, Joffe A & Graham AV 1999. Screening, early identification, and office-based<br />
intervention with children and youth living in substance-abusing families. Pediatrics<br />
103:1099-1112.<br />
Zweig JM, Phillips BS & Lindberg LD 2002. Predicting adolescent profiles of risk:<br />
looking beyond d<strong>em</strong>ographics. Journal of Adolescent Health 31:343-353.
APÊNDICE IV<br />
Roteiro para a entrevista<br />
Dados Pessoais<br />
1 – Sexo<br />
3 – Com qu<strong>em</strong> mora<br />
5 – Qual é a renda<br />
7 – Você trabalha?<br />
atualmente?<br />
familiar?<br />
2 – Idade 4 – Casa própria ou 6 – Qual é o seu grau 8 − Em quê?<br />
alugada?<br />
de escolaridade?<br />
9 – Para o usuário –<br />
Me fale sobre o seu<br />
uso de drogas.<br />
A – Valores Familiares<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Nos dias de hoje, quais<br />
princípios<br />
(de<br />
comportamento) vocês<br />
consideram importantes<br />
ensinar para os filhos e<br />
netos?<br />
Ou: Nos dias de hoje,<br />
quais ensinamentos<br />
vocês consideram<br />
importantes passar para<br />
os filhos e netos?<br />
Vocês os ensinaram?
Coment<strong>em</strong>.<br />
Vocês os colocam <strong>em</strong> prática?<br />
Como?<br />
O que é família para vocês?<br />
Quando necessário, para cada pergunta acrescentar: Vocês vê<strong>em</strong> alguma<br />
possibilidade de modificação? Qual?<br />
B - Conflitos ou Dificuldades entre as Gerações<br />
Hierarquia<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Qu<strong>em</strong> criou e cuidou dos<br />
jovens? Como?<br />
Infantilização<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Vocês consideram os<br />
seus filhos responsáveis?<br />
E independentes? Como<br />
isso aparece?<br />
O que vocês acham do<br />
que os avós e pais<br />
disseram?<br />
Quando necessário, para cada pergunta acrescentar: Vocês vê<strong>em</strong> alguma<br />
possibilidade de modificação? Qual?
Expectativa<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Os sonhos que vocês<br />
sonharam para seus<br />
filhos – profissão, vida<br />
pessoal, amigos – se<br />
parec<strong>em</strong> com os sonhos<br />
que os seus filhos<br />
sonharam para eles?<br />
Fal<strong>em</strong> sobre isso.<br />
Como é o cotidiano da<br />
vida deles com relação à<br />
profissão, vida pessoal e<br />
aos amigos?<br />
Quando necessário, para cada pergunta acrescentar: Vocês vê<strong>em</strong> alguma<br />
possibilidade de modificação? Qual?<br />
C- Educação<br />
Vínculo<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Fal<strong>em</strong> um pouco sobre a<br />
relação de vocês com cada<br />
m<strong>em</strong>bro da família – relação<br />
como sendo diálogo,<br />
intimidade, comunicação e<br />
conflito.<br />
Quando necessário, para cada pergunta acrescentar: Vocês vê<strong>em</strong> alguma
possibilidade de modificação? Qual?<br />
Modelo<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Vocês acham que os seus<br />
pais foram e/ou são um<br />
modelo de comportamento<br />
(aqui cont<strong>em</strong>plo a hipótese do<br />
‘uso de drogas por um dos<br />
pais’) para ser seguido por<br />
vocês? Fal<strong>em</strong> sobre isso.<br />
Qu<strong>em</strong> você acha que foi o seu<br />
modelo?<br />
Responsabilidades e Limites<br />
Todos Avós e Pais Filhos<br />
Como são distribuídas as<br />
responsabilidades/deveres<br />
dentro da família?<br />
Como cada um se comporta<br />
com relação às<br />
responsabilidades e aos<br />
deveres?<br />
Como é exercida a autoridade<br />
na família? Qu<strong>em</strong> coloca os<br />
limites? Fal<strong>em</strong> sobre isso.<br />
Quando necessário, para cada pergunta acrescentar: Vocês vê<strong>em</strong> alguma<br />
possibilidade de modificação? Qual?
APÊNDICE V<br />
Termo de Consentimento<br />
Número da Família:...........<br />
Trabalho no Núcleo de Estudos e Pesquisa <strong>em</strong> Atenção ao Uso de Drogas<br />
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Nepad/Uerj, desde a sua fundação<br />
<strong>em</strong> 1986, como terapeuta de famílias que têm probl<strong>em</strong>as de uso abusivo de<br />
drogas. Ao longo desse convívio terapêutico, inúmeras questões passaram a me<br />
inquietar. Preciso de sua colaboração, e da de sua família, para pesquisar uma<br />
delas: quais são os valores importantes para a vida de vocês, por que eles são<br />
importantes e como esses valores são impl<strong>em</strong>entados na prática cotidiana da vida<br />
de vocês. A entrevista, que manterá o sigilo total de sua identidade, será feita por<br />
mim mesma ou pela minha auxiliar de pesquisa.<br />
Preciso gravar a entrevista porque é com este material que vou trabalhar a<br />
minha pesquisa. Então, preciso que você assine esta folha de consentimento de<br />
gravação da entrevista, caso aceite participar da pesquisa.<br />
Se, após termos começado a entrevista, você quiser que algum trecho da<br />
conversa seja apagado é só dizer que assim será feito.<br />
Muito obrigada pela sua participação!