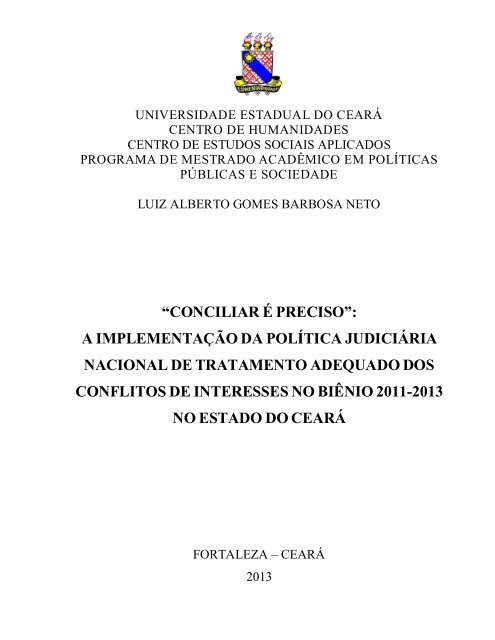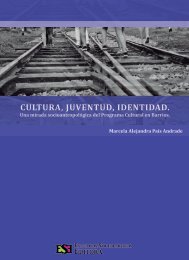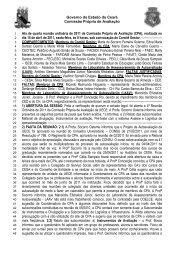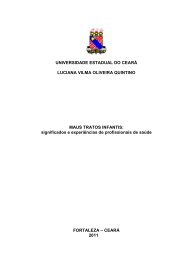Conciliar é preciso": A implementação da polÃtica judiciária ... - Uece
Conciliar é preciso": A implementação da polÃtica judiciária ... - Uece
Conciliar é preciso": A implementação da polÃtica judiciária ... - Uece
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ<br />
CENTRO DE HUMANIDADES<br />
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS<br />
PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM POLÍTICAS<br />
PÚBLICAS E SOCIEDADE<br />
LUIZ ALBERTO GOMES BARBOSA NETO<br />
“CONCILIAR É PRECISO”:<br />
A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA JUDICIÁRIA<br />
NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS<br />
CONFLITOS DE INTERESSES NO BIÊNIO 2011-2013<br />
NO ESTADO DO CEARÁ<br />
FORTALEZA – CEARÁ<br />
2013
LUIZ ALBERTO GOMES BARBOSA NETO<br />
“CONCILIAR É PRECISO”:<br />
A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA JUDICIÁRIA<br />
NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS<br />
CONFLITOS DE INTERESSES NO BIÊNIO 2011-2013 NO<br />
ESTADO DO CEARÁ<br />
Dissertação apresenta<strong>da</strong> ao Curso de Mestrado<br />
Acadêmico em Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de<br />
do Centro de Estudos Sociais Aplicados, <strong>da</strong><br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual do Ceará, como<br />
requisito parcial para obtenção do título de<br />
Mestre em Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de. Área<br />
de Concentração: Sociologia<br />
Orientador: Prof. Dr. Francisco Horácio <strong>da</strong><br />
Silva Frota<br />
FORTALEZA – CEARÁ<br />
2013
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação<br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual do Ceará<br />
Biblioteca Central Prof. Antônio Martins Filho<br />
Bibliotecário (a) Leila Cavalcante Sátiro – CRB-3 / 544<br />
B238c<br />
Barbosa Neto, Luiz Alberto Gomes.<br />
“<strong>Conciliar</strong> é preciso”: A implementação <strong>da</strong> política jurídica<br />
nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no<br />
biênio 2011 – 2013 no estado do Ceará / Luiz Alberto Gomes Barbosa<br />
Neto. — 2013.<br />
CD-ROM 136f. : il. (algumas color.); 4 ¾ pol.<br />
“CD-ROM contendo o arquivo no formato PDF do trabalho<br />
acadêmico, acondicionado em caixa de DVD Slim (19 x 14 cm x 7<br />
mm)”.<br />
Dissertação (mestrado) – Universi<strong>da</strong>de Estadual do Ceará,<br />
Centro de Humani<strong>da</strong>des, Programa de Mestrado Acadêmico em<br />
Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de, Fortaleza, 2013.<br />
Área de Concentração: Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de.<br />
Orientação: Prof. Dr. Francisco Horacio <strong>da</strong> Silva Frota.<br />
1. Poder judiciário. 2. Acesso á justiça. 3. Políticas públicas. 4.<br />
Tribunal multi-portas. 5. Política jurídica nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesse. I. Título.<br />
CDD: 711.4
Um comprometimento público maior com nossas<br />
divergências morais proporciona uma base para o<br />
respeito mútuo mais forte, e não mais fraca. Em vez<br />
de evitar as convicções morais e religiosas que<br />
nossos conci<strong>da</strong>dãos levam para a vi<strong>da</strong> pública,<br />
deveríamos nos dedicar a elas mais diretamente – às<br />
vezes desafiando-as e contestando-as, às vezes<br />
ouvindo-as e aprendendo com elas. Não há garantias<br />
de que a deliberação pública sobre questões morais<br />
complexas possam levar, em qualquer situação, a um<br />
acordo – ou mesmo à apreciação <strong>da</strong>s concepções<br />
morais e religiosas dos demais indivíduos. É sempre<br />
possível que aprender mais sobre uma doutrina moral<br />
e religiosa nos leve a gostar menos dela. Mas não<br />
saberemos enquanto não tentarmos.<br />
Michael J. Sandel (2011, P. 330)
Dedico à minha Esposa e Companheira de to<strong>da</strong>s<br />
as horas, Kelly Maria, e aos meus pais, Hilma e<br />
Julio, que sempre me apoiaram em todos os<br />
momentos <strong>da</strong> minha vi<strong>da</strong>.
AGRADECIMENTOS<br />
À Universi<strong>da</strong>de Estadual do Ceará (UECE) pelo espaço de estudo e de processo de<br />
escrita <strong>da</strong> dissertação.<br />
Ao Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de (MAPPS) <strong>da</strong> UECE que<br />
contribuiu sobremaneira para a minha qualificação acadêmica. Aos professores do<br />
Mestrado, especialmente ao Professor Horácio Frota, Professor Hermano Machado;<br />
Professor Josênio Parente; Professora Mônica Martins; Professora Helena Frota; Professor<br />
Geovane Freitas; e à Professora Glaucíria Mota, coordenadora do MAPPS.<br />
Aos meus amigos e colegas de mestrado, pelas boas conversas, alegria, presença<br />
ver<strong>da</strong>deira, provocações importantes, parcerias significativas, enfim, pelos momentos e<br />
oportuni<strong>da</strong>des que experimentamos juntos. Vocês me enriqueceram e ensinaram muito:<br />
Abelardo Coelho; Ana Karina Loiola; Ana Lúcia Peixoto; Andra Oliveira; Ângela Madeiro;<br />
Idenilse Moreira; Irlena Malheiros; Graça Lessa; Maria do Carmo Walbruni; Marupiara<br />
César; Mayra Rachel; Monalisa Torres; Priscila Nottingham Renata Nunes; Sarah Dayanna;<br />
Sâmea Moreira.<br />
Aos meus amigos que continuam me apoiando não só no Mestrado, mas na vi<strong>da</strong>:<br />
Moíza Siberia e A<strong>da</strong>lto Filho, Paula Raquel e Henrique Brito, Clínio Alves, João Emanuel<br />
e Raquel Góes e Ana Maria de Almei<strong>da</strong> Marques, Hayeska Costa e Lanysbergue, Gildásio<br />
Lopes, muito obrigado.<br />
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES) pela<br />
bolsa de estudos durante o período no MAPPS;<br />
Às queri<strong>da</strong>s Cristina, Ângela e Débora, pela forma atenciosa, profissional e<br />
carinhosa de me tratarem no decorrer dessa convivência na academia que ora se encerra.
Ao grupo de pesquisa Democracia e Globalização <strong>da</strong> UECE pela convivência e<br />
troca de experiências proporciona<strong>da</strong>s.<br />
Ao Professor Horácio Frota, pelos ensinamentos sempre tão pertinentes e<br />
imprescindíveis para minha formação acadêmica, profissional e pessoal.<br />
À Banca Examinadora que tão prontamente aceitou o convite, ilustríssimos<br />
Professores Francisco Josênio Camelo Parente e Gustavo Raposo Pereira Feitosa.<br />
incondicional.<br />
Aos meus pais Julio Carlos e Hilma pelo apoio, pela confiança, enfim, pelo amor<br />
À minha esposa e melhor amiga de sempre, Kelly Maria, por ser minha ama<strong>da</strong> em<br />
todos os momentos, por ser a companheira que eu escolhi para a minha vi<strong>da</strong> inteira.<br />
Aos familiares que torcem pelo meu sucesso e felici<strong>da</strong>de, sobretudo aos meus avós<br />
Luiz Alberto e Mirtes, aos meus sogros Geraldo e Fátima e às minhas irmãs Lilian e<br />
Liliane.
RESUMO<br />
O tema <strong>da</strong> pesquisa se voltou para o contexto <strong>da</strong> implementação <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ<br />
no Poder Judiciário do Ceará, enquanto inovação jurídico-institucional para os mecanismos<br />
institucionais de acesso à justiça no Estado. Esse tema se investe de singular importância em razão<br />
dos problemas os quais padece o sistema de justiça nacional e, principalmente, a Justiça do Ceará.<br />
Para tal feito, foi elaborado como objetivo geral: entender como se deu a dinâmica <strong>da</strong> execução <strong>da</strong><br />
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses do CNJ pelo<br />
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2013. Para<br />
que o objetivo principal fosse concretizado, fizeram-se necessários os seguintes objetivos<br />
específicos: entender o Poder Judiciário brasileiro antes e depois <strong>da</strong> Emen<strong>da</strong> Constitucional nº 45,<br />
conheci<strong>da</strong> como “Reforma do Judiciário”; compreender o papel do Conselho Nacional de Justiça e<br />
<strong>da</strong>s Políticas Públicas para efetivar o acesso à justiça de forma justa; analisar os trabalhos do<br />
Movimento pela Conciliação que desaguaram na criação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ e a<br />
importação do modelo norte-americano de “Tribunal Multiportas”; detalhar a dinâmica normativa<br />
<strong>da</strong> Resolução e a forma como se constituiu a rede nacional para sua implantação. Os tipos de<br />
pesquisa utilizados neste trabalho foram a bibliográfica – na consulta empreendi<strong>da</strong> em livros,<br />
artigos, revistas etc. – e a documental – através <strong>da</strong>s análises e comparações entre Resoluções,<br />
Portarias, Provimentos normativos, Regimentos internos, Leis, Emen<strong>da</strong>s etc. A pesquisa foi<br />
dividi<strong>da</strong> em cinco capítulos além <strong>da</strong> introdução e <strong>da</strong>s considerações finais, quais sejam: Poder<br />
Judiciário, Políticas Públicas e Acesso à Justiça; A Reforma do Poder Judiciário e o Papel do<br />
Conselho Nacional de Justiça; Tribunais Multi-Portas (Multidoor Courthouse) e a Resolução<br />
Alternativa de Disputa – RAD (Alternative Dispute Resolution – ADR); Política Pública Nacional<br />
de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses – Resolução nº 125/2010 do Conselho<br />
Nacional de Justiça; A Implementação <strong>da</strong> Política Pública Nacional de Tratamento Adequado dos<br />
Conflitos de Interesse no Poder Judiciário do Estado do Ceará. Conclui-se que, apesar dos esforços<br />
do CNJ, dos profissionais do Poder Judiciário do Estado do Ceará e dos inúmeros voluntários que<br />
sem remuneração tentam realizar os objetivos <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Política Pública Nacional, irão continuar a<br />
surgir Emen<strong>da</strong>s a essa Política em decorrência dos problemas que surgem diante <strong>da</strong>s dispari<strong>da</strong>des e<br />
desigual<strong>da</strong>des existentes entre as diversas reali<strong>da</strong>des dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro na<br />
implementação de reformas administrativa nos Poderes do Estado brasileiro em escala nacional. Por<br />
fim, contata-se a louvável iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em tentar modificar tanto o<br />
comportamento dos usuários que procuram os serviços <strong>da</strong> justiça brasileira quanto dos demais<br />
profissionais que prestam tal serviço público, buscando principalmente a pacificação dos conflitos<br />
judiciais e de interesses e, consequentemente, a redução dos litígios que poderiam ser resolvidos<br />
pelos meios de resolução alternativa de disputas e que estão congestionando o sistema judiciário,<br />
além de ocasionar a tão propala<strong>da</strong> “crise” <strong>da</strong> justiça na visão de muitos autores.<br />
Palavras Chave: Poder Judiciário; Acesso À Justiça; Políticas Públicas; Tribunal Multiportas;<br />
Política Judiciária Nacional De Tratamento Adequado Dos Conflitos De Interesses.
ABSTRACT<br />
The theme of the research turned to the context of the implementation of CNJ´s (National Council<br />
of Justice) Resolution nº 125/2010 on the Judiciary of Ceará State, while legal and institutional<br />
innovation as institutional mechanisms for access to justice in the state. This theme is invested of<br />
singular importance because of the problems which suffered the national justice system and<br />
especially the Justice of Ceará. For this feat, it was drafted as general objective: understand how did<br />
the dynamics of the implementation of National Judicial Policy of proper handling of conflicts of<br />
interests by CNJ by the Court of the State of Ceará in the period February 2011 to February 2013.<br />
For the main objective was accomplished, were made necessary the following specific objectives:<br />
understanding the Brazilian courts before and after the Constitutional Amendment 45, known as<br />
"Judicial Reform"; understand the role of the National Council of Justice and Policies Public to<br />
effect access to justice in a fair, reviewing the work of the Movement for Conciliation that<br />
influenced the creation of Resolution nº 125 of the CNJ and the import of the American model of<br />
"Multi-doors Courthouse"; detail the dynamic rules of resolution and how constituted a national<br />
network for its implementation. The types of research used in this work were the literature - the<br />
consultation undertaken in books, articles, magazines etc. - And document - by analyzing and<br />
comparing Resolutions, Ordinances, Normative Provisions, Internal Regiments Laws, Amendments<br />
etc. The research was divided into five chapters plus the introduction and closing remarks, namely:<br />
Judiciary, Public Policy and Access to Justice; Reform of the Judiciary and the Role of the National<br />
Council of Justice, Multi-Port Courts (Multi-Door Courthouse) and Alternative Dispute Resolution<br />
– ADR, National Judicial Policy of proper handling of conflicts of interests - Resolution nº<br />
125/2010 of the National Council of Justice; Implementation of National Judicial Policy of proper<br />
handling of conflicts of interests on the Judiciary of the State of Ceará. We conclude that, despite<br />
the efforts of CNJ, the professionals of the Judiciary of the State of Ceará and the countless<br />
volunteers who without remuneration try accomplishing the goals of the National Public Policy<br />
said, will continue to emerge Amendments to this Policy as a result of problems appear before the<br />
disparities and inequalities between the various organs of the realities of the Brazilian judiciary in<br />
implementing reforms in the administrative powers of the Brazilian national scale. Finally, contact<br />
was the lau<strong>da</strong>ble initiative of the National Council of Justice to try to modify both the behavior of<br />
users seeking the services of Brazilian justice as other professionals who provide such a public<br />
service, seeking mainly to the pacification of conflicts of interest and legal and thus reducing<br />
disputes that could be resolved by means of alternative dispute resolution and are congesting the<br />
court system, and cause the much-touted "crisis" of justice in view of many authors.<br />
Keywords: Judiciary; Access to Justice, Public Policy; Multi-doors Courthouse, National Judicial<br />
Policy of Proper Treatment of Conflicts of Interests.
SUMÁRIO<br />
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................. 14<br />
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. 16<br />
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 17<br />
2 PODER JUDICIÁRIO, POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO À JUSTIÇA ........... 22<br />
2.1 PODER JUDICIÁRIO NA REPÚBLICA ............................................................. 22<br />
2.2 O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX<br />
................................................................................................................................. 29<br />
2.3 A IMPORTÂNCIA DO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ACESSO<br />
À JUSTIÇA ............................................................................................................... 37<br />
3 A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO E O PAPEL DO CONSELHO<br />
NACIONAL DE JUSTIÇA ......................................................................................... 45<br />
3.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 – REFORMA DO PODER<br />
JUDICIÁRIO ............................................................................................................ 45<br />
3.2 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ ................................................ 49<br />
3.3 MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL<br />
PARA O PODER JUDICIÁRIO................................................................................. 53<br />
4 TRIBUNAIS MULTIPORTAS (MULTI-DOOR COURTHOUSE) E A<br />
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTA - RAD (OU ALTERNATIVE<br />
DISPUTE RESOLUTION – ADR, EM INGLÊS) ........................................................ 61<br />
4.1 CONCILIAÇÃO .................................................................................................. 64<br />
4.2 MEDIAÇÃO........................................................................................................ 69<br />
4.3 OUTROS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS –<br />
RADS ....................................................................................................................... 74<br />
5 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS<br />
CONFLITOS DE INTERESSE – RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CONSELHO<br />
NACIONAL DE JUSTIÇA ......................................................................................... 80
5.1 DA POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO<br />
DOS CONFLITOS DE INTERESSES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ........ 87<br />
5.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ..................... 89<br />
5.3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS ............................................................. 90<br />
5.3.1 Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos<br />
............................................................................................................................ 91<br />
5.3.2 Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia ................... 92<br />
5.3.3 Dos Conciliadores e Mediadores ................................................................ 94<br />
5.3.4 Dos Dados Estatísticos................................................................................ 95<br />
5.4 DO PORTAL DA CONCILIAÇÃO ...................................................................... 95<br />
5.5 DISPOSIÇÕES FINAIS E ANEXOS .................................................................... 96<br />
6 A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PUBLICA NACIONAL DE<br />
TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS DE INTERESSES NO PODER<br />
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ ................................................................ 100<br />
6.1 ESTRUTURA ANTERIOR À CRIAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CNJ<br />
............................................................................................................................... 101<br />
6.2 A CONSTRUÇÃO DO DESENHO INSTITUCIONAL NO PODER JUDICIÁRIO<br />
CEARENSE APÓS A RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CNJ..................................... 109<br />
6.3 EMENDA Nº 1 DA RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CNJ .................................. 114<br />
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 122<br />
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 125
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS<br />
AAA<br />
ABA<br />
ADR´s<br />
BID<br />
BIRD<br />
CAPES<br />
CCONAR<br />
CLT<br />
CNJ<br />
CNPM<br />
CONIMA<br />
CONJUR<br />
CPC<br />
DJ<br />
DPJ-CNJ<br />
EUA<br />
FMI<br />
IBGE<br />
ICC<br />
ICNM<br />
INAMA<br />
LCIA<br />
MAPPS<br />
American Association Arbitration (Associação Americana de<br />
Arbitragem)<br />
American Bar Association (Associação dos Advogados Americanos)<br />
Alternative Dispute Resolutions (Resolução Alternativa de Disputas)<br />
Banco Interamericano de Desenvolvimento<br />
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento<br />
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br />
Câmara de Conciliação e Arbitragem nas Relações Comerciais e<br />
Consumo<br />
Consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s Leis Trabalhistas<br />
Conselho Nacional de Justiça<br />
Conselho Nacional do Ministério Público<br />
Conselho Nacional <strong>da</strong>s Instituições de Mediação e Arbitragem<br />
Revista eletrônica Consultor Jurídico<br />
Código Processual Civil<br />
Diário <strong>da</strong> Justiça<br />
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ<br />
Estados Unidos <strong>da</strong> América<br />
Fundo Monetário Internacional<br />
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística<br />
International Chamber of Commerce (Câmara Internacional do<br />
Comércio)<br />
The Israel Center for Negotiation and Mediation (Centro Israelense<br />
para Negociação e Mediação)<br />
Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem<br />
The London Court of International Arbitration (Corte Londrina de<br />
Arbitragem Internacional)<br />
Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Socie<strong>da</strong>de
NUPEMEC<br />
OAB/CE<br />
ONGs<br />
ONU<br />
PDRAE<br />
PNAD<br />
RADs<br />
STF<br />
TJ-CE<br />
UECE<br />
USAID<br />
USP<br />
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de<br />
Conflitos do TJ-CE<br />
Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará<br />
Organizações Não-Governamentais<br />
Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s<br />
Plano Diretor <strong>da</strong> Reforma do Aparelho do Estado<br />
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - IBGE<br />
Resolução Alternativa de Disputas (ou Resolução Adequa<strong>da</strong> de<br />
Disputas de acordo com o Manual de Mediação Judicial do<br />
Ministério <strong>da</strong> Justiça do Brasil)<br />
Supremo Tribunal Federal<br />
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará<br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual do Ceará<br />
United States Agency for International Development (Agência dos<br />
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional)<br />
Universi<strong>da</strong>de de São Paulo
LISTA DE FIGURAS<br />
Figura 01: Resultados Do Dia Nacional De Conciliação De 2006 (CNJ, 2013) ______________55<br />
Figura 02: Resultados Da Semana Nacional De Conciliação De 2007 (CNJ, 2013) ___________56<br />
Figura 03: Resultados Da Semana Nacional De Conciliação De 2008 (CNJ, 2013) ___________57<br />
Figura 04: Resultados Da Semana Nacional De Conciliação De 2009 (CNJ, 2013) ___________58<br />
Figura 05: Resultados Da Semana Nacional De Conciliação De 2010 (CNJ, 2013) ___________58
17<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
A partir do arcabouço teórico construído durante o curso de mestrado aliado à<br />
prática profissional perante diversos órgãos <strong>da</strong> justiça cearense, fui percebendo através <strong>da</strong>s<br />
queixas habituais dos usuários dos serviços judiciais, principalmente, nos Juizados<br />
Especiais Cíveis e Criminais, que o Poder Judiciário se distanciava ca<strong>da</strong> vez mais de quem<br />
necessitava de seus serviços em razão <strong>da</strong> demora <strong>da</strong> prestação jurisdicional.<br />
Dessa forma, foi observado junto aos usuários a necessi<strong>da</strong>de de uma melhora na<br />
prestação dos serviços públicos judiciais de resolução de conflitos, uma vez que os mesmos<br />
reclamavam do lapso temporal para a marcação <strong>da</strong>s audiências de conciliação e, caso não<br />
houvesse acordo, <strong>da</strong> demora <strong>da</strong> audiência de instrução e julgamento. As queixas dos<br />
usuários atingiam também o comportamento do conciliador e <strong>da</strong>s diversas coações sofri<strong>da</strong>s<br />
para aceitarem o acordo proposto pelo mesmo que demonstrava uma falha na formação<br />
necessária do profissional para exercer tais ativi<strong>da</strong>des de conciliador e de mediador.<br />
O interesse sobre a temática só aumentou a partir <strong>da</strong>s diversas notícias veicula<strong>da</strong>s<br />
na imprensa repercutindo os resultados publicados no relatório <strong>da</strong> inspeção de 2009 no<br />
Poder Judiciário Cearense. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)<br />
(2009, p. 117), “A carga de trabalho na primeira instância é de 2785 processos por<br />
magistrado, abaixo <strong>da</strong> média nacional de 5277 processos. A taxa de congestionamento na<br />
primeira instância, em 2008, foi de 78% para a média nacional de 79,6%.” Ain<strong>da</strong>, o CNJ<br />
(2009, p. 61) relatou a situação <strong>da</strong> Justiça de 2º Grau de Jurisdição, “A taxa de<br />
congestionamento <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> instância é de 89,8%, para a média nacional de 42,5%”.<br />
Tal situação evidencia<strong>da</strong> pelo CNJ fomentou uma intensa movimentação <strong>da</strong><br />
Ordem dos Advogados do Brasil <strong>da</strong> Secção Ceará (OAB/CE) no intuito de protestar por<br />
mu<strong>da</strong>nças que transformassem o Poder Judiciário cearense, tornando-o mais democrático e<br />
com um efetivo acesso à justiça ao usuário dos serviços judiciais e profissionais <strong>da</strong> área<br />
jurídica.<br />
Para esse fim, a OAB/CE criou o movimento “Justiça Já” que lançou o “Manifesto<br />
<strong>da</strong> Advocacia”, um relatório de pesquisa realiza<strong>da</strong> durante quatro meses entre junho a
18<br />
setembro de 2010, reivindicando a solução para problemas recorrentes existentes no<br />
Judiciário cearense, dessa forma, a instituição exigiu:<br />
A criação imediata de um Plantão Civil na Capital, pois hoje só funciona no fim<br />
de semana; Implantação <strong>da</strong> “Semana <strong>da</strong> Sentença”. A exemplo <strong>da</strong> Semana <strong>da</strong><br />
Conciliação, precisamos ter a ca<strong>da</strong> dois meses uma semana dedica<strong>da</strong> somente ao<br />
sentenciamento dos feitos; acesso imediato pela advocacia aos Autos,<br />
independente <strong>da</strong> virtualização; criação de “Grupos de Trabalho” permanentes<br />
para atender as Varas com maior número de processos parados; mu<strong>da</strong>nças<br />
imediatas <strong>da</strong> Vara de Execução Criminal, com atendimento urgente e preferencial<br />
aos advogados que hoje esperam horas no balcão <strong>da</strong> Vara; criação de uma<br />
“Ouvidoria do Fórum” com atendimento 24 horas; efetivi<strong>da</strong>de dos Plantões<br />
Criminais; fim do “Estado de Greve” (não há greve declara<strong>da</strong> dos servidores em<br />
geral, no entanto, quase na<strong>da</strong> funciona, sobremodo no Interior do Estado);<br />
presença imediata do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para apuração <strong>da</strong>s<br />
implicações e responsabili<strong>da</strong>des pela letargia processual demonstra<strong>da</strong> pelo<br />
congestionamento atestado no Relatório Anual do próprio CNJ, (Judiciário<br />
cearense em primeiro lugar em congestionamento no Brasil); lotação de<br />
magistrados e servidores nas Comarcas do Interior. Há ci<strong>da</strong>des como Aracati,<br />
Quixadá, Cratéus, Itapipoca e tantas outras que estão, há meses, sem juízes para<br />
despachos imediatos. (OAB, 2010)<br />
Também foi observa<strong>da</strong> a intensa mobilização publicitária <strong>da</strong> campanha nacional de<br />
conciliação de 2010 e a repercussão obti<strong>da</strong> no início desse evento nacional com a<br />
publicação <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ, como a Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.<br />
Através dessa inovação jurídico-institucional, o tema <strong>da</strong> pesquisa se voltou para o<br />
contexto <strong>da</strong> implementação <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ no Poder Judiciário do<br />
Ceará, buscando analisar o impacto <strong>da</strong> nova política nos mecanismos institucionais de<br />
acesso à justiça no Estado. Esse tema se investe de singular importância em razão dos<br />
problemas anteriormente referidos os quais padece o sistema de justiça nacional e,<br />
principalmente, a Justiça do Ceará.<br />
O assunto tratado nesse trabalho tem grande interesse social devido às relações<br />
conflituosas existentes na socie<strong>da</strong>de, agrava<strong>da</strong>s pelo aprofun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong>s relações de<br />
consumo e pelos novos arranjos familiares legitimados socialmente, mas que deman<strong>da</strong>m<br />
muitas ações judiciais.
19<br />
Para tal feito, foi elaborado como objetivo geral: entender como se deu a dinâmica<br />
<strong>da</strong> execução <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de<br />
interesses do CNJ pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no período de fevereiro de<br />
2011 a fevereiro de 2013.<br />
Para que o objetivo principal fosse concretizado, fizeram-se necessários os<br />
seguintes objetivos específicos: entender o Poder Judiciário brasileiro antes e depois <strong>da</strong><br />
Emen<strong>da</strong> Constitucional nº 45, conheci<strong>da</strong> como “Reforma do Judiciário”; compreender o<br />
papel do Conselho Nacional de Justiça e <strong>da</strong>s Políticas Públicas para efetivar o acesso à<br />
justiça de forma justa; analisar os trabalhos do Movimento pela Conciliação que<br />
desaguaram na criação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ e a importação do modelo norteamericano<br />
de “Tribunal Multiportas”; detalhar a dinâmica normativa <strong>da</strong> Resolução e a<br />
forma como se constituiu a rede nacional para sua implantação.<br />
Os tipos de pesquisa utilizados neste trabalho foram a bibliográfica – na consulta<br />
empreendi<strong>da</strong> em livros, artigos, revistas etc. – e a documental – através <strong>da</strong>s análises e<br />
comparações entre Resoluções, Portarias, Provimentos normativos, Regimentos internos,<br />
Leis, Emen<strong>da</strong>s etc. A metodologia realiza<strong>da</strong> é de extrema importância para a determinação,<br />
descobrimento e percepção de problemas, obstáculos ou dissimulações que surgem durante<br />
a construção dessas estruturas jurídicas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), posto<br />
que<br />
O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de<br />
informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias<br />
áreas <strong>da</strong>s Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento<br />
de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e<br />
sociocultural. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 02)<br />
A pesquisa documental é feita através de documentos originais que não sofreram<br />
nenhuma intervenção analítica. Dessa forma, auxilia o pesquisador a ampliar os limites <strong>da</strong><br />
análise construí<strong>da</strong>, a partir <strong>da</strong> interpretação desses documentos com outras fontes sobre os<br />
contextos: histórico, político, cultural e econômico. Destarte, tentando aproximar-se o<br />
máximo possível do real. (HELDER apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.<br />
03)
20<br />
A pesquisa foi dividi<strong>da</strong> em cinco capítulos além <strong>da</strong> introdução e <strong>da</strong>s considerações<br />
finais, sendo o primeiro uma construção histórica acerca dos conceitos <strong>da</strong> formação do<br />
Poder Judiciário na República, dos movimentos ou “on<strong>da</strong>s” de acesso à justiça e<br />
instituições cria<strong>da</strong>s para tal fim e, por último, delineou-se o conceito de políticas públicas<br />
adotado e a importância <strong>da</strong>s contribuições desse campo de estudo para a concretização dos<br />
mecanismos de acesso à justiça no Brasil.<br />
No segundo capítulo tratou-se de entender em complemento com o capítulo<br />
anterior, as razões que fun<strong>da</strong>mentaram a Reforma do Poder Judiciário através <strong>da</strong> Emen<strong>da</strong><br />
Constitucional nº 45 de 2004, o papel desempenhado pelo CNJ na elaboração, execução e<br />
avaliação de políticas públicas no sistema judiciário, além de detalhar e explicitar os limites<br />
do paradigma criado pelo “Movimento pela Conciliação” que visavam ações para o<br />
aperfeiçoamento e aprofun<strong>da</strong>mento dos métodos de conciliação e de mediação, a partir de<br />
eventos concentradores na forma de mutirões de ativi<strong>da</strong>des jurídicas, sendo a semana<br />
nacional de conciliação o evento principal.<br />
O terceiro capítulo fez uma análise acerca do modelo de aplicação dos métodos de<br />
Resolução Alternativa de Disputas (RADs) ou Alternative Dispute Resolutions (ADRs), em<br />
inglês, que foi incorporado pela Resolução nº 125/2010 do CNJ para ser implantando no<br />
sistema judicial nacional. O modelo regulamentado pela Resolução foi o “Tribunal<br />
Multiportas” (Multi-doors Courthouse) que habilita os órgãos <strong>da</strong> Justiça a ofertarem<br />
serviços de resolução alternativa de disputas pré-processual, judicial e serviços de<br />
orientação jurídica e de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia. Assim, criou-se uma alternativa à única “porta” antes<br />
ofereci<strong>da</strong> pelo sistema de justiça que era a solução adjudica<strong>da</strong> via sentença judicial. Nesse<br />
capítulo, também foram comentados os dois métodos de RADs institucionalizados pela<br />
Resolução: conciliação e a mediação, outros métodos pouco conhecidos no Brasil, mas<br />
estu<strong>da</strong>dos pela doutrina internacional.<br />
A Resolução nº 125/2010 que regulamentou a Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário foi<br />
esmiuça<strong>da</strong> no quarto capítulo, sendo comentado o desenho institucional criado em detalhes
21<br />
junto com os anexos que também são partes importantes para a implementação <strong>da</strong> referi<strong>da</strong><br />
Política.<br />
No quinto e último capítulo foi realiza<strong>da</strong> uma análise minuciosa dos documentos<br />
legais acerca <strong>da</strong> estrutura institucional existente antes <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Resolução<br />
do CNJ e após a instituição <strong>da</strong> rede nacional coordena<strong>da</strong> pelo Conselho e forma<strong>da</strong> por<br />
órgãos <strong>da</strong> justiça, instituições públicas e priva<strong>da</strong>s além de universi<strong>da</strong>des e enti<strong>da</strong>des de<br />
ensino. Também foram verificados os problemas que dificultaram a implementação plena<br />
<strong>da</strong> Política Judiciária Nacional no Estado do Ceará, culminando com uma análise criteriosa<br />
<strong>da</strong> Emen<strong>da</strong> nº 01 <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 que, explicitamente, demonstrava os fracassos<br />
ocorridos em relação às desigual<strong>da</strong>des regionais, econômicas, políticas e sociais de ca<strong>da</strong><br />
Uni<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Federação que influencia o processo de implementação de uma Política Pública<br />
de abrangência nacional.<br />
Por fim, ca<strong>da</strong> uni<strong>da</strong>de que forma este trabalho está volta<strong>da</strong> para a compreensão <strong>da</strong>s<br />
categorias estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s que são: Poder Judiciário brasileiro; Acesso à Justiça; Políticas<br />
Públicas; Tribunal Multiportas; Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos<br />
conflitos de interesses (Resolução nº 125/2010 do CNJ), na busca pela máxima<br />
aproximação com a reali<strong>da</strong>de dos problemas concretos que surgem durante a execução de<br />
uma Política Pública do porte <strong>da</strong> Resolução nº 125, para poder realizar uma leitura <strong>da</strong><br />
situação de forma abrangente e interdisciplinar.
22<br />
2 PODER JUDICIÁRIO, POLÍTICAS PÚBLICAS 1 E ACESSO<br />
À JUSTIÇA<br />
2.1 PODER JUDICIÁRIO NA REPÚBLICA<br />
O Poder Judiciário brasileiro passou por todo o século XX sem maiores<br />
modificações ideológicas nem na forma de administração <strong>da</strong> justiça, mesmo após a<br />
Constituição de 1988, manteve moldes culturais anacrônicos e conservadores. Isso ocorreu<br />
em razão <strong>da</strong>s raízes culturais e socioeconômicas nas quais foi construí<strong>da</strong> a socie<strong>da</strong>de<br />
brasileira e as elites jurídicas que administraram a justiça ao longo do tempo no Brasil,<br />
como o professor Andrei Koerner (2010, p. 136-137) descreve na passagem do período<br />
imperial para o republicano em relação ao Poder Judiciário,<br />
A nossa formação social, em que permaneceram a estrutura social e as relações<br />
sociais basea<strong>da</strong>s no latifúndio agroexportador, teve efeitos permanentes sobre a<br />
forma de organização do Poder Judicial, sobre a prática judicial e, mais<br />
genericamente, sobre os direitos civis dos não proprietários no Brasil. [...] Temos<br />
aqui o sentido sociológico <strong>da</strong>s mu<strong>da</strong>nças e continui<strong>da</strong>des do Poder Judicial na<br />
passagem do Império para a República. [...] a organização <strong>da</strong> República resultou<br />
em importantes mu<strong>da</strong>nças na organização e no papel político do Poder Judicial.<br />
Porém, do ponto de vista social manteve-se no novo regime a incidência limita<strong>da</strong><br />
<strong>da</strong> mediação judicial nos conflitos entre proprietários e não proprietários.<br />
Permaneceu, pois, restrita a eficácia <strong>da</strong>s garantias judiciais aos direitos civis,<br />
formalmente enunciados pela lei, agora republicana.<br />
Muitos intelectuais também perceberam essa faceta <strong>da</strong>s nossas instituições, um<br />
exemplo literário é Lima Barreto (2004, p. 65), uma vez que consagrou o patrimonialismo<br />
pátrio em sua obra literária satírica “Os Bruzun<strong>da</strong>ngas”, retrato metafórico do Brasil<br />
republicano de 1922. De acordo com o autor, sobre a peculiari<strong>da</strong>de na aplicação <strong>da</strong>s leis no<br />
país <strong>da</strong> Bruzun<strong>da</strong>nga,<br />
1 Entende-se neste trabalho a definição de política Souza (2008, p. 69): “Pode-se, então, resumir política<br />
pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou<br />
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mu<strong>da</strong>nças no rumo ou curso dessas<br />
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos<br />
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão<br />
resultados ou mu<strong>da</strong>nças no mundo real.”
23<br />
Havia artigos muito bons, como, por exemplo, o que determinava a não<br />
acumulação de cargos remunerados e aquele que estabelecia a liber<strong>da</strong>de de<br />
profissão; mas logo surgiu um deputado prudente que estabeleceu o seguinte<br />
artigo nas disposições gerais: “To<strong>da</strong> a vez que um artigo desta Constituição ferir<br />
os interesses de parentes de pessoas <strong>da</strong> ‘situação’ ou de membros dela, fica<br />
subtendido que ele não tem aplicação no caso”. Na constituinte, todos esperavam<br />
ficar na “situação”, de modo que o artigo acima foi aprovado unanimemente.<br />
Com este artigo a Lei Suprema <strong>da</strong> Bruzun<strong>da</strong>nga tomou uma elastici<strong>da</strong>de<br />
extraordinária. Os presidentes de província, desde que estivessem de acordo com<br />
o presidente <strong>da</strong> república, — na Bruzun<strong>da</strong>nga chama-se man<strong>da</strong>chuva — faziam o<br />
que queriam. Se algum recalcitrante, à vista de qualquer violação <strong>da</strong> Constituição,<br />
apelava para a Justiça (lá se chama Chicana), logo a Corte Suprema in<strong>da</strong>gava se<br />
feria interesses de parentes de pessoas <strong>da</strong> situação e decidia conforme o famoso<br />
artigo.<br />
O Estado brasileiro no fim do século XX ain<strong>da</strong> refletia algumas características em<br />
consonância com a socie<strong>da</strong>de brasileira surgi<strong>da</strong> com o fim do Império e com a implantação<br />
<strong>da</strong> tripartição dos poderes <strong>da</strong> República em Executivo, Legislativo e Judiciário com a<br />
Constituição Federal de 1891.<br />
Até a forma de como o período imperial terminou parece um “modelo” de como as<br />
transformações políticas, sociais, econômicas continuariam ocorrendo no Brasil, como o<br />
professor José Murilo de Carvalho (1996, p. 389-390) disserta<br />
O final do Império foi digno de uma grande comédia no sentido aqui empregado.<br />
Pois o Império terminou com o monumental baile <strong>da</strong> Ilha Fiscal, realizado a<br />
menos de um mês <strong>da</strong> Proclamação <strong>da</strong> República. Ofereci<strong>da</strong> aos oficiais chilenos,<br />
a festão foi uma grande confraternização do elenco, esquecidos todos os conflitos<br />
de véspera. Lá estavam os anfitriões liberais e os convi<strong>da</strong>dos conservadores; lá<br />
estavam o rei e sua Corte; lá estavam os barões já em parte compatibilizados com<br />
a abolição em virtude dos grandes empréstimos recebidos. [...] O povo,<br />
naturalmente, estava fora do baile, como estivera fora na Proclamação <strong>da</strong><br />
Independência e estaria na Proclamação <strong>da</strong> República. Era espectador. Mas<br />
falar em favor <strong>da</strong> Monarquia não ter sido ele totalmente esquecido; no Largo do<br />
Paço, em frente à Ilha Fiscal, uma ban<strong>da</strong> <strong>da</strong> política em far<strong>da</strong> de gala tocava<br />
fan<strong>da</strong>ngos e lundus par ao divertimento <strong>da</strong> multidão que não tinham acesso à<br />
festa <strong>da</strong> elite. (grifo nosso)<br />
Desde esse tempo, o Poder Judiciário foi se tornando um ente público mais<br />
fechado e resistente às mu<strong>da</strong>nças, ain<strong>da</strong> mais porque não se renovava como os outros<br />
Poderes por meio <strong>da</strong>s eleições que ocasionam transitorie<strong>da</strong>de <strong>da</strong> investidura dos cargos<br />
públicos. Foi sendo controlado por elites familiares de bacharéis que se revezavam na
24<br />
administração <strong>da</strong> Justiça brasileira e reproduziam os preconceitos comuns à época: de<br />
classe social, de cor <strong>da</strong> pele, de religião, de ren<strong>da</strong>, de origem <strong>da</strong> família, de gênero etc.<br />
Com a chega<strong>da</strong> do regime republicano, segundo Carvalho (1996, p. 215),<br />
A nova elite republicana era mais representativa do que a imperial. E,<br />
tipicamente, compor-se-ia quase só de advogados, uma vez passados os anos<br />
iniciais que foi substancial a presença de militares. Era ela também muito mais<br />
provinciana, pois o federalismo impedira a circulação geográfica existente no<br />
Império. As mais bem treina<strong>da</strong>s eram como aquelas dos Estados que contavam<br />
com estruturas partidárias mais sóli<strong>da</strong>s, como Minas, São Paulo e Rio Grande do<br />
Sul. Mas a visão nacional estava comprometi<strong>da</strong>. Os interesses regionais e de<br />
classes tinham acesso muito mais direto ao centro do poder. Em consequência, o<br />
Estado republicano seria também mais liberal do que o imperial, embora não<br />
mais democrático, pois a maior representativi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> elite faria com que a<br />
dominação social se refletisse com mais crueza na esfera política.<br />
Por essas razões, o Judiciário do início <strong>da</strong> república se parece tanto como o do<br />
final do século XX, ain<strong>da</strong> mais em relação à política judiciária no período que pouco<br />
avançou nos mecanismo de acesso à justiça, sobre isso Koerner (2010, p. 27) teceu as<br />
considerações seguintes,<br />
O nosso argumento é que as continui<strong>da</strong>des na forma de organização judiciária<br />
brasileira resultaram de determina<strong>da</strong> política judiciária, cujo sentido se esclarece<br />
quando essas continui<strong>da</strong>des são contrasta<strong>da</strong>s com os processos de mu<strong>da</strong>nça social<br />
e política, <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de imperial e escravista à socie<strong>da</strong>de republicana e fun<strong>da</strong><strong>da</strong><br />
no trabalho livre. Além <strong>da</strong> sua importância para os esquemas políticos <strong>da</strong>s<br />
alianças políticas federais e do coronelismo, como apontou Victor Nunes Leal,<br />
essa política judiciária apresentou também importante aspecto de controle social.<br />
Com essa política judiciária foi manti<strong>da</strong> uma forma de organização judiciária,<br />
cujo efeito era a exclusão <strong>da</strong> resolução dos conflitos entre proprietários e nãoproprietários<br />
pelo mecanismo judicial, formalmente igualitário e regrado pelos<br />
procedimentos legais. Pela relação estabeleci<strong>da</strong> entre a ativi<strong>da</strong>de judicial e a<br />
ativi<strong>da</strong>de policial, essa política judiciária também excluiu os indivíduos pobres <strong>da</strong><br />
efetiva salvaguar<strong>da</strong> judicial à sua vi<strong>da</strong>, à sua segurança e à sua liber<strong>da</strong>de,<br />
garanti<strong>da</strong>s constitucionalmente a todos os ci<strong>da</strong>dãos brasileiros e aos estrangeiros<br />
residentes no país.<br />
Nesse caminho foram sendo constituí<strong>da</strong> a base do Poder Judiciário brasileiro<br />
dentro de uma socie<strong>da</strong>de que foi tendo seus pilares fun<strong>da</strong>mentais esmiuçados por autores <strong>da</strong><br />
sociologia, ciência política, antropologia, economia, história, literatura, do direito.
25<br />
Caracterizando a socie<strong>da</strong>de brasileira como: patrimonialista, elitista, autoritária, desigual,<br />
racista, clientelista.<br />
Ain<strong>da</strong> buscando eluci<strong>da</strong>r o arcabouço social no qual o Poder Judiciário foi<br />
formado no Brasil, Sergio Buarque de Holan<strong>da</strong> (1995, p. 145-146), em “Raízes do Brasil”,<br />
de 1936, escreveu sobre as práticas republicanas na administração públicas,<br />
Não era fácil aos detentores de posições públicas de reponsabili<strong>da</strong>de, formados<br />
por tal ambiente compreenderem a distinção fun<strong>da</strong>mental entre os domínios do<br />
privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o<br />
funcionário “patrimonial” do puro burocrata conforme a definição de Max<br />
Weber. Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se<br />
como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios<br />
que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a<br />
interesses objetivos, como sucede no ver<strong>da</strong>deiro Estado burocrático, em que<br />
prevalecem a especialização <strong>da</strong>s funções e o esforço para se assegurarem<br />
garantias jurídicas aos ci<strong>da</strong>dãos. A escolha dos homens que irão exercer funções<br />
públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candi<strong>da</strong>tos, e<br />
muito menos de acordo com as suas capaci<strong>da</strong>des próprias. Falta a tudo a<br />
ordenação impessoal que caracteriza a vi<strong>da</strong> do Estado burocrático.<br />
Nesse esteio, o professor Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 11) destaca o<br />
papel burocrático do Poder Judiciário nos países latino-americanos,<br />
Na maior parte do século XX, nos países latino-americanos, o judiciário não<br />
figurou como tema importante <strong>da</strong> agen<strong>da</strong> política, cabendo ao juiz a figura<br />
inanima<strong>da</strong> de aplicador <strong>da</strong> letra <strong>da</strong> lei empresta<strong>da</strong> do modelo europeu. A<br />
construção do Estado latino-americano ocupou-se mais com o crescimento do<br />
executivo e <strong>da</strong> sua burocracia, procurando converter o judiciário numa parte do<br />
aparato burocrático do Estado – um órgão para o poder político controlar – de<br />
fato, uma instituição sem poderes para deter a expansão do Estado e seus<br />
mecanismos reguladores.<br />
O patrimonialismo juntamente com o caráter autoritário <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de brasileira<br />
formava um amálgama no qual não deixava surgir uma forma de socie<strong>da</strong>de civil separa<strong>da</strong> e<br />
independente do estamento estatal para iniciar suas próprias deman<strong>da</strong>s em prol <strong>da</strong><br />
efetivação <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e <strong>da</strong> democracia plena, nesse sentido, Carvalho (2001, p. 221)<br />
leciona que
26<br />
O governo aparece como o ramo mais importante do poder, aquele do qual vale a<br />
pena aproximar-se. A fascinação com um Executivo forte está sempre presente,<br />
[...] Essa orientação para o Executivo reforça longa tradição portuguesa, ou<br />
ibérica, patrimonialismo. O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior<br />
<strong>da</strong> hipótese como repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um<br />
distribuidor paternalista de empregos e favores. [...] Essa cultura orienta<strong>da</strong> mais<br />
para o Estado do que para a representação é o que chamamos de “esta<strong>da</strong>nia”, em<br />
contraste como ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
Também, outros intelectuais falam de um neopatrimonialismo e de uma socie<strong>da</strong>de<br />
dependente do Estado brasileiro, de acordo com Simon Schwartzman (2007, p.11) em<br />
“Bases do Autoritarismo Brasileiro”, através de uma interpretação <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de brasileira<br />
com os conceitos weberianos,<br />
É pela perspectiva weberiana que podemos ver que o Estado brasileiro tem como<br />
característica histórica predominante sua dimensão patrimonial, que é uma forma<br />
de dominação política gera<strong>da</strong> no processo de transição para a moderni<strong>da</strong>de com<br />
um passivo de uma burocracia administrativa pesa<strong>da</strong> e uma “socie<strong>da</strong>de civil”<br />
(classes sociais, grupos religiosos, étnicos, linguísticos, nobreza etc.) fraca e<br />
pouco articula<strong>da</strong>. [...] Não se trata de afirmar que, no Brasil, o Estado é tudo e a<br />
socie<strong>da</strong>de é na<strong>da</strong>. O que se trata é de entender os padrões de relacionamento entre<br />
o Estado e a socie<strong>da</strong>de, que no Brasil tem se caracterizado, através dos séculos,<br />
por uma burocracia estatal pesa<strong>da</strong>, todo-poderosa, mas ineficiente e pouco ágil, e<br />
uma socie<strong>da</strong>de acovar<strong>da</strong><strong>da</strong>, submeti<strong>da</strong>, mas por isto mesmo, fugidia e<br />
frequentemente rebelde.<br />
Ain<strong>da</strong> sobre a socie<strong>da</strong>de brasileira e a forma de aplicação <strong>da</strong> lei, alguns fatores<br />
continuam naturalizados e não são despercebidos aos olhos <strong>da</strong> população, como as<br />
desigual<strong>da</strong>des reais existentes no seio social que contribuem para dificultar o acesso à<br />
justiça, Chauí (2001, p. 55 - 56) destaca alguns:<br />
Estrutura<strong>da</strong> pela matriz senhorial <strong>da</strong> Colônia, disso decorre a maneira exemplar<br />
em que faz operar o princípio liberal <strong>da</strong> igual<strong>da</strong>de formal dos indivíduos perante a<br />
lei, pois no liberalismo vigora a ideia de que alguns são mais iguais do que<br />
outros. (...) Estrutura<strong>da</strong> a partir <strong>da</strong>s relações priva<strong>da</strong>s, fun<strong>da</strong><strong>da</strong>s no mando e na<br />
obediência, disso decorre a recusa tácita (e às vezes explícita) de operar com os<br />
direitos civis e a dificul<strong>da</strong>de para lutar por direitos substantivos e, portanto,<br />
contra formas de opressão social e econômica; para os grandes, a lei é privilégio;<br />
para as cama<strong>da</strong>s populares, repressão. Por esse motivo, as leis são<br />
necessariamente abstratas e aparecem como inócuas, inúteis ou incompreensíveis,<br />
feitas para ser transgredi<strong>da</strong>s e não cumpri<strong>da</strong>s nem muito menos, transforma<strong>da</strong>s.
27<br />
Esse traço de profun<strong>da</strong> confusão entre o público e o privado foi e continua sendo o<br />
caráter recorrente na literatura sobre a socie<strong>da</strong>de brasileira. A partir de meados <strong>da</strong> segun<strong>da</strong><br />
metade do século XX, ela foi se tornando mais urbana e deman<strong>da</strong>ndo mecanismos mais<br />
burocráticos e eficientes para organizar a vi<strong>da</strong> cotidiana.<br />
O atraso burocrático institucional <strong>da</strong>s instituições brasileiras se dá segundo<br />
Raymundo Faoro (1975, p. 894), em “Os Donos do Poder”, porque<br />
O poder – a soberania nominalmente popular – tem donos, que não emanam <strong>da</strong><br />
nação, <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, <strong>da</strong> plebe ignara e pobre. O Chefe não é um delegado, mas<br />
um gestor de negócios e não man<strong>da</strong>tário. O Estado, pela cooptação sempre que<br />
possível, pela violência se necessário, resiste a todos os assaltos, reduzido, nos<br />
seus conflitos, à conquista dos membros graduados de seu estado-maior. E o<br />
povo, palavra e não reali<strong>da</strong>de dos contestatários, o que quer ele? Este oscila entre<br />
o parasitismo, a mobilização <strong>da</strong>s passeatas sem participação política e a<br />
nacionalização do poder [...] A lei, retórica e elegante, não o interessa. A eleição,<br />
mesmo formalmente livre, lhe reserva a escolha entre opções que ele não<br />
formulou.<br />
Continua nesse sentido, Darcy Ribeiro (2006, p. 228-229), em “O Povo<br />
Brasileiro”, quando demonstra a resistência <strong>da</strong> classe dominante brasileira que dirige as<br />
instituições públicas contra qualquer melhoria direciona<strong>da</strong> à população,<br />
A mais grave dessas continui<strong>da</strong>des reside na oposição entre os interesses do<br />
patronato empresarial, de ontem e de hoje, e os interesses do povo brasileiro. Ela<br />
mantém ao longo de séculos pelo domínio do poder institucional e do controle <strong>da</strong><br />
máquina do Estado nas mãos <strong>da</strong> mesma classe dominante, que faz prevalecer uma<br />
ordenação social e legal resistente a qualquer progresso generalizável a to<strong>da</strong> a<br />
população. Ela é que regeu a economia colonial, altamente próspera para uma<br />
minoria, mas que condenava ao povo à penúria. Ela é que deforma, agora, o<br />
próprio processo de industrialização, impedindo que desempenhe aqui o papel<br />
transformador que representou em outras socie<strong>da</strong>des. Ain<strong>da</strong> é ela que, na defesa<br />
de seus interesses antinacionais e antipopulares, permite a implantação de<br />
empresas multinacionais, através <strong>da</strong>s quais a civilização pós-industrial se põe em<br />
marcha como um mero processo de atualização histórica de povos fracassados na<br />
história.<br />
Em razão disso, o arcabouço jurídico-ideológico construído durante o primeiro<br />
governo Vargas e a ditadura do Estado Novo (1930-1945) continua intacto em muitos<br />
pontos, pois foram promulgados diversos códigos e legislações estruturantes do Poder<br />
Judiciário, ain<strong>da</strong> aplica<strong>da</strong>s até a presente <strong>da</strong>ta, vide a Lei de Introdução ao Código Civil
28<br />
(publica<strong>da</strong> em 1942) e renomea<strong>da</strong> para ampliar sua abrangência para “Lei de Introdução às<br />
normas do Direito Brasileiro” pela Lei nº 12.376/2010, e a Consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s Leis do<br />
Trabalho (CLT), visando regular as relações entre os trabalhadores urbanos e o capital<br />
(empresariado), outro exemplo de legislação estrutura<strong>da</strong> nesse contexto autoritário que<br />
perdura até hoje, no entanto, com reformas na legislação substantiva e na estrutura <strong>da</strong><br />
Justiça do Trabalho pós-Constituição Federal de 1988. (BARCELAR, 2003)<br />
Assim, nesse caldo cultural, político e socioeconômico o Poder Judiciário foi se<br />
fechando em si e bloqueando as formas de acesso à justiça e de ser afetado por políticas<br />
públicas que tentavam efetivar uma reforma no sentido <strong>da</strong> abertura para a prestação de<br />
serviços públicos judiciais de quali<strong>da</strong>de.<br />
Entretanto, o contexto internacional foi alterado com o fim <strong>da</strong>s duas guerras<br />
mundiais e com a progressiva introdução de Direitos Humanos veiculados na Declaração<br />
Universal dos Direitos Humanos publica<strong>da</strong> pela Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s (ONU)<br />
em 1948, a qual o professor Norberto Bobbio (2004, p. 26) entende essa Declaração como<br />
um consenso geral <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de,<br />
A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação <strong>da</strong><br />
única prova através <strong>da</strong> qual um sistema de valores pode ser considerado<br />
humanamente fun<strong>da</strong>do e, portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral<br />
acerca <strong>da</strong> sua vali<strong>da</strong>de. Os jusnaturalistas teriam falado de consensus omnium<br />
gentium ou humani generis. (grifo original)<br />
Bobbio (2004, p. 33) também ressalta a importância de se concretizarem tais<br />
Direitos Humanos, dentre eles, os civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, tão<br />
essenciais num período histórico de pós-guerra,<br />
Os direitos elencados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do<br />
homem: são os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na<br />
mente dos re<strong>da</strong>tores <strong>da</strong> Declaração após a tragédia <strong>da</strong> Segun<strong>da</strong> Guerra Mundial,<br />
numa época que tivera início com a Revolução Francesa e desembocara na<br />
Revolução Soviética. [...] O campo dos direitos sociais, finalmente, está em<br />
contínuo movimento: assim como as deman<strong>da</strong>s de proteção social nasceram<br />
como a revolução industrial, é provável que o rápido desenvolvimento técnico e<br />
econômico traga consigo novas deman<strong>da</strong>s, que hoje não somos capazes de prever.<br />
A Declaração Universal representa a consciência histórica que a humani<strong>da</strong>de tem<br />
dos próprios valores fun<strong>da</strong>mentais na segun<strong>da</strong> metade do século XX. É uma
29<br />
síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram<br />
grava<strong>da</strong>s de uma vez para sempre.<br />
Para a efetiva concretização dos Direitos Humanos elencados na Declaração<br />
Universal de 1948, era preciso introduzi-los ao ordenamento jurídico pátrio através de uma<br />
nova Constituição Federal ou de legislações específicas que não ferissem à Constituição<br />
Federal <strong>da</strong> época.<br />
Entretanto, logo no início dos anos de 1960 no Brasil, houve um golpe político<br />
organizado pelas forças arma<strong>da</strong>s, assim, o país mergulhava num período de violação dos<br />
referidos Direitos Humanos que só viriam ser, pelo menos, reconhecidos formalmente pelas<br />
instituições públicas brasileiras, a partir, do ano de 1988, quando foi promulga<strong>da</strong> a<br />
Constituição Federal de 1988.<br />
Embora os direitos e garantias individuais e coletivos, sociais, políticos e a<br />
garantia de um acesso à justiça de forma concreta só fossem reconhecidos no Brasil com a<br />
referi<strong>da</strong> Carta Magna, no panorama externo, já se tinham trabalhos sobre as experiências de<br />
acesso à justiça, como será visto a seguir.<br />
2.2 O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL DA SEGUNDA METADE<br />
DO SÉCULO XX<br />
Desde a déca<strong>da</strong> de 1950, já se discutia a possibili<strong>da</strong>de de existência de uma crise<br />
<strong>da</strong> justiça, após as consequências <strong>da</strong> 1ª e <strong>da</strong> 2ª Guerras Mundiais, o Professor de Direito<br />
Processual Piero Calamandrei (2003, p.109-110) organizou uma conferência na ci<strong>da</strong>de<br />
italiana de Pádua sobre o tema, nela o professor Adolfo Ravà destacou um dos aspectos<br />
intrínsecos ao sistema jurídico ao longo <strong>da</strong> história, devido às dificul<strong>da</strong>des de lapso<br />
temporal para se efetuarem mu<strong>da</strong>nças legais, assim causando injustiças dentro do sistema<br />
legal<br />
As normas são e devem ser cambiantes, pois nascem <strong>da</strong> aplicação de um critério<br />
fixo e eterno a uma reali<strong>da</strong>de mutável e transitória. Manter as mesmas normas<br />
quando a reali<strong>da</strong>de mu<strong>da</strong>, ou aplicá-las a uma reali<strong>da</strong>de diversa é somente por<br />
isso injusto. Por conseguinte, a mesma ideia de justiça exige a mu<strong>da</strong>nça; mas isso<br />
não quer dizer que as novas condições em seu ver<strong>da</strong>deiro sentido sejam a causa
30<br />
<strong>da</strong> própria mu<strong>da</strong>nça. Pelo contrário (e nisto o materialismo histórico tem plena<br />
razão), os ordenamentos jurídicos, uma vez constituídos, tendem (apoiados pelos<br />
interesses que estes favorecem) a cristalizar-se e a permanecer, se bem que hajam<br />
mu<strong>da</strong>do as circunstâncias; mas esta mu<strong>da</strong>nça pode ser tanto de ordem econômica<br />
e material, como de ordem espiritual: moral, religiosa. Os juristas são, por seu<br />
temperamento, conservadores, tendem a não alterar as antigas estruturas legais,<br />
mesmo depois de transforma<strong>da</strong> a vi<strong>da</strong>, e tratam de operar com antigos conceitos,<br />
mesmo diante de uma reali<strong>da</strong>de renova<strong>da</strong>.<br />
O problema <strong>da</strong> legislação não acompanhar a reali<strong>da</strong>de social é mais senti<strong>da</strong> nos<br />
países que são fortemente influenciados pela matriz do Direito Romano e sua organização<br />
em códigos jurídicos. A legislação condensa<strong>da</strong> em códigos rígidos causa uma inflação de<br />
normas esparsas, avulsas para tentar acompanhar o ritmo <strong>da</strong>s relações sociais e as novas<br />
relações de consumo, ambientais, familiares, tecnológicas, biogenéticas etc.<br />
Contudo, Sadek (2004, p. 06) leciona que esse quadro de inoperância e<br />
possibili<strong>da</strong>de de crise <strong>da</strong> justiça, como já dito acima, não era específico de nenhum país,<br />
nem dos mais pobres,<br />
A constância nas críticas à justiça estatal é um denominador absolutamente<br />
comum quando se examina textos especializados, crônicas e mesmo debates<br />
parlamentares, ao longo dos quatro últimos séculos. Esse traço - saliente-se – não<br />
é singular ao Brasil, ain<strong>da</strong> que, entre nós, possua características próprias. Em<br />
praticamente todos os países têm sido reiterados os argumentos mostrando<br />
deficiências na prestação jurisdicional. Tais argumentos não particularizam nem<br />
mesmo os países mais pobres e/ou sem longa tradição democrática. É claro que<br />
recorrer à universali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crítica não significa pretender equiparar, colocando<br />
em idêntico patamar, experiências distintas, nem diminuir o tamanho do<br />
problema. Significa, isto sim, focalizar uma questão que é relevante e que tem<br />
mobilizado o interesse de analistas e dirigentes políticos em todos os cantos do<br />
mundo.<br />
Assim, quando alguma instituição como o judiciário não conseguia responder às<br />
deman<strong>da</strong>s <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, procurava-se realizar pequenas modificações na estrutura para<br />
atender a essas novas configurações sociais.<br />
A partir dessas premissas, entende-se o Poder Judiciário de forma dualista, ain<strong>da</strong>,<br />
de acordo com Sadek (2004, p.79), pois
31<br />
O Judiciário brasileiro tem duas faces: uma, de poder de Estado e, outra, de<br />
instituição prestadora de serviços. O modelo de presidencialismo consagrado pela<br />
Constituição de 1988 conferiu ao Judiciário e aos seus integrantes capaci<strong>da</strong>de de<br />
agirem politicamente, quer questionando, quer paralisando políticas e atos<br />
administrativos, aprovados pelos poderes Executivo e Legislativo, ou mesmo<br />
determinando medi<strong>da</strong>s, independentemente <strong>da</strong> vontade expressa do Executivo e<br />
<strong>da</strong> maioria parlamentar. Por outro lado, a instituição possui atribuições de um<br />
serviço público encarregado <strong>da</strong> prestação jurisdicional, arbitrando conflitos,<br />
garantindo direitos.<br />
José Eduardo Faria (2003, p.02) reforça esse sentido de prestador de serviços<br />
públicos pelo Poder Judiciário e percepção ruim que os usuários desses serviços atribuem<br />
ao judiciário brasileiro, “Perante a opinião pública, a instituição é vista como um moroso e<br />
inepto prestador de um serviço público.”<br />
No entanto, essa duali<strong>da</strong>de institucional, referi<strong>da</strong> acima, do Poder Judiciário só<br />
veio ficar evidente após o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar social com o reforço<br />
do aparato jurídico <strong>da</strong> C.F. de 1988 na responsabili<strong>da</strong>de de prestar serviços públicos de<br />
quali<strong>da</strong>de com eficiência e eficácia.<br />
Antes disso, esse Poder do Estado, um dos três ao lado do Legislativo e do<br />
Executivo, não se entendia como prestador de serviços públicos, ou ain<strong>da</strong>, os indivíduos<br />
que administravam a justiça e os órgãos judiciais não incorporavam esse dever a sério na<br />
medi<strong>da</strong> em que utilizavam e aparelhavam o Poder Judiciário de forma patrimonialista,<br />
clientelista, nepotista, corporativista, ao longo <strong>da</strong> história, como já foi visto no tópico<br />
anterior.<br />
Apesar de todos esses problemas, após a Constituição Federal de 1988, houve uma<br />
mu<strong>da</strong>nça nas competências 2 do Poder Judiciário, prevendo amplos poderes políticos para<br />
<strong>da</strong>r mais efetivi<strong>da</strong>de ao rol de direitos fun<strong>da</strong>mentais elencados na chama<strong>da</strong> “Constituição<br />
Ci<strong>da</strong>dã”. Sadek (2004, p. 81) afirma ain<strong>da</strong> que<br />
2 Competência. f. Facul<strong>da</strong>de legal, que um funcionário ou um tribunal tem, de apreciar e julgar um pleito ou<br />
questão. Quali<strong>da</strong>de de quem é capaz de apreciar e resolver qualquer assunto. Aptidão, idonei<strong>da</strong>de: homem de<br />
grande competência. DicionárioWeb.
32<br />
No caso brasileiro, a Constituição de 1988, seguindo estas tendências, redefiniu<br />
profun<strong>da</strong>mente o papel do Judiciário no que diz respeito à sua posição e à sua<br />
identi<strong>da</strong>de na organização tripartite de poderes e, consequentemente, ampliou o<br />
seu papel político. Sua margem de atuação foi ain<strong>da</strong> alarga<strong>da</strong> com a extensa<br />
constitucionalização de direitos e liber<strong>da</strong>des individuais e coletivos, em uma<br />
medi<strong>da</strong> que não guar<strong>da</strong> proporção com textos legais anteriores. Dessa forma, a<br />
Constituição de 1988 pode ser vista como um ponto de inflexão, representando<br />
uma mu<strong>da</strong>nça substancial no perfil do Poder Judiciário, alçando-o para o centro<br />
<strong>da</strong> vi<strong>da</strong> pública e conferindo-lhe um papel de protagonista de primeira grandeza.<br />
Por esses motivos, a socie<strong>da</strong>de civil e o Poder Judiciário têm buscado diagnosticar<br />
os gargalos que bloqueiam um pleno acesso à justiça. Tais problemas, como morosi<strong>da</strong>de,<br />
falta de recursos financeiros para litigar, ausência de orientação jurídica, falta de capital<br />
cultural para reconhecer situações concretas como jurídicas foram objeto de estudo dos<br />
trabalhos sobre o acesso à justiça ou aos tribunais, como nos trabalhos de: Cappelletti &<br />
Garth (1988), Santos (1987, 1995, 2011), Junqueira (1996) e Santos; Marques e Pedroso<br />
(1996), Sadek (2001, 2004).<br />
Ressalte-se que o trabalho de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988) foi um<br />
trabalho que teve forte impacto nos estudos sobre os mecanismos e gargalos que afetam a<br />
quali<strong>da</strong>de do acesso à justiça em diversos países na segun<strong>da</strong> metade do século XX.<br />
A partir do “Projeto de Florença”, os dois autores citados anteriormente,<br />
publicaram um relatório <strong>da</strong> pesquisa sob o título “Acesso à Justiça” em 1978, nesse<br />
relatório fizeram um resumo <strong>da</strong> análise acerca dessa temática e que ressaltaram ter ocorrido<br />
três on<strong>da</strong>s para se chegar ao atual estágio, na época,<br />
O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou a três<br />
posições básicas, pelo menos nos países do mundo Ocidental. Tendo início em<br />
1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em sequencia<br />
cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira<br />
“on<strong>da</strong>” desse movimento novo – foi a assistência judiciária; a segun<strong>da</strong> dizia<br />
respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os<br />
interesses “difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e do<br />
consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o que nos propomos a chamar<br />
simplesmente “enfoque de acesso” à justiça porque inclui os posicionamentos<br />
anteriores, mas vai muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa<br />
de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo. (grifo<br />
original) (CAPPELLETTI; GARTH, 1988. p. 31)
33<br />
No Brasil, como resposta à uma possível crise <strong>da</strong> justiça ou do acesso à justiça<br />
foram criados os Juizados de Pequenas Causas na déca<strong>da</strong> de 1980. Esses Juizados surgiram<br />
<strong>da</strong> influência de dois grandes movimentos: os Conselhos de Conciliação e Arbitragem do<br />
Rio Grande do Sul e <strong>da</strong> iniciativa do Ministério <strong>da</strong> Desburocratização. O primeiro tendo<br />
sido praticado a partir de um Conselho informal em 1982 para solucionar litígios de<br />
pequeno valor, sem regulamentação ou previsão legal dentro do Poder Judiciário Gaúcho.<br />
O segundo foi realizado através de um programa de reformas para o Judiciário do<br />
Ministério <strong>da</strong> Desburocratização em resposta ao diagnóstico de reclamações dos ci<strong>da</strong>dãos<br />
sobre a lentidão e falta de eficiência <strong>da</strong> Justiça brasileira. (FEITOSA, 2005)<br />
Então, o modelo oficial adotado pelo Governo Federal através <strong>da</strong> Lei dos Juizados<br />
de Pequenas Causas (Lei nº 7.244/94) foi inspirado no modelo norte-americano <strong>da</strong>s Small<br />
Claims Courts, que vigoravam desde 1934 na ci<strong>da</strong>de de Nova Iorque nos Estados Unidos<br />
<strong>da</strong> América (EUA). (FEITOSA, 2005)<br />
Segundo a pesquisadora Angela Moreira-Leite (2003, p. 49), tais juizados fizeram<br />
parte de uma reforma <strong>da</strong> forma de resolução de conflitos sociais administrados pelo Estado,<br />
Alterando a forma como se deve iniciar uma ação na Justiça – que passou a ser<br />
sem advogado, sem pagamento de taxas e tendo a primeira audiência com uma<br />
pessoa que não é o juiz de Direito, pode ou não ser advogado e que não dá uma<br />
sentença-, o Juizado Especial de Pequenas Causas visava, primordialmente,<br />
“informalizar a Justiça”. Com isso, de acordo com o discurso dos agentes do<br />
campo jurídico, entendia-se a criação de instâncias descentraliza<strong>da</strong>s, menos<br />
formais, simplifica<strong>da</strong>s, que utilizassem pessoas menos profissionaliza<strong>da</strong>s, uma<br />
vez que os conciliadores só “preferentemente” deveriam ser advogados ou<br />
bacharéis, cujo enfoque principal estava na conciliação e em um acordo<br />
encontrado pelas partes litigantes, operando uma Justiça mais rápi<strong>da</strong> e mais<br />
barata.<br />
As mu<strong>da</strong>nças cita<strong>da</strong>s acima fizeram parte <strong>da</strong> pressão que as novas relações sociais<br />
operaram no cotidiano <strong>da</strong> justiça brasileira. Tais deman<strong>da</strong>s foram resultados do<br />
aprofun<strong>da</strong>mento dos processos industriais e do crescimento <strong>da</strong>s urbes brasileiras, assim,<br />
aumentou-se a tensão social nas ci<strong>da</strong>des com um fluxo maior de pessoas saindo do campo<br />
para se estabelecer nas zonas urbanas que por sua vez não estavam prepara<strong>da</strong>s para atender<br />
à deman<strong>da</strong> necessária de moradias, saneamento, segurança pública, saúde, educação etc.
34<br />
Novas deman<strong>da</strong>s advin<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s relações de consumo, novas relações decorrentes <strong>da</strong><br />
urbanização, novos arranjos familiares e contravenções penais que não estavam mais<br />
legitima<strong>da</strong>s pelos costumes conservadores de antes, relações mercantis submeti<strong>da</strong>s à lógica<br />
do mercado neoliberal, tudo isso acarretou uma explosão de litigiosi<strong>da</strong>de, amplia<strong>da</strong> pelo rol<br />
de Direitos Fun<strong>da</strong>mentais resguar<strong>da</strong>dos pela Constituição Federal de 1988.<br />
Com a constitucionalização de diversos direitos fun<strong>da</strong>mentais, dentre eles o de<br />
acesso à justiça, insculpido no “Art. 5º, inc. XXXV - A lei não excluirá <strong>da</strong> apreciação do<br />
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, os Juizados de Pequenas Causas foram<br />
transformados em Juizados Especiais Cíveis e Criminais pela Lei nº 9.099 de 26 de<br />
setembro de 1995, norma jurídica que regulamentou o que a C.F. de 1988 já trouxera em<br />
seu artigo 98:<br />
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I -<br />
juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes<br />
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor<br />
complexi<strong>da</strong>de e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os<br />
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a<br />
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;<br />
Mesmo com a criação desses juizados, os serviços judiciais não foram suficientes,<br />
pois a mu<strong>da</strong>nça não foi acompanha<strong>da</strong> pela estrutura organizacional disponibiliza<strong>da</strong> e nem<br />
por capacitação dos servidores para as novas funções. Criou-se um novo modelo de prestar<br />
justiça através de velhos comportamentos.<br />
O acesso à justiça é uma categoria importante para esse trabalho, pois a partir dela,<br />
o Poder Judiciário pode se reinventar, reestruturar e renovar através de diversas políticas<br />
públicas para elevar o grau de inclusão jurídica dos usuários, assim, ampliando o grau de<br />
concretização dos direitos fun<strong>da</strong>mentais elencados na Constituição Federal de 1988.<br />
Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos (1987, p. 146) entende que,<br />
O tema do acesso à justiça é aquele que mais directamente equaciona as relações<br />
entre o processo civil e a justiça social, entre igual<strong>da</strong>de jurídico-formal e<br />
desigual<strong>da</strong>de socio-económica. No âmbito <strong>da</strong> justiça civil, mais propriamente do<br />
que no <strong>da</strong> justiça penal, pode falar-se de procura, real ou potencial, <strong>da</strong> justiça.
35<br />
Uma vez defini<strong>da</strong>s as suas características internas e medido o seu âmbito em<br />
termos quantitativos, é possível compará-la com a oferta <strong>da</strong> justiça produzi<strong>da</strong><br />
pelo Estado.<br />
Por ser uma categoria importante é preciso chegar a um diagnóstico mais próximo<br />
possível à reali<strong>da</strong>de, por isso, continua-se com os ensinamentos de Sadek (2004, p. 06)<br />
sobre o quadro do desempenho <strong>da</strong> Justiça brasileira antes do início do século XXI,<br />
Críticas ao desempenho <strong>da</strong>s instituições encarrega<strong>da</strong>s de distribuir justiça<br />
praticamente acompanharam a instalação e o desenvolvimento destas<br />
organizações no país. Desde as primeiras Cortes, cria<strong>da</strong>s ain<strong>da</strong> no período<br />
colonial, vozes se levantaram mostrando sua inoperância e o quanto distavam de<br />
um modelo de justiça minimamente satisfatório. Nos últimos tempos, entretanto,<br />
tornou-se dominante a idéia (sic) de que estas instituições, além de incapazes de<br />
responder à crescente deman<strong>da</strong> por justiça, tornaram-se anacrônicas e, pior ain<strong>da</strong>,<br />
refratárias a qualquer modificação. Nas análises mais impressionistas sustenta-se,<br />
inclusive, que as instituições judiciais ficaram perdi<strong>da</strong>s no século XVIII ou, na<br />
melhor <strong>da</strong>s hipóteses, no XIX, enquanto o resto do país teria adentrado o ano<br />
2000.<br />
Para explicitar os contornos do conceito estu<strong>da</strong>do, após os diagnósticos dos<br />
trabalhos já citados anteriormente, Eliane Botelho Junqueira (1996, p.02) sumariza bem o<br />
conceito de acesso à justiça no fim do século XX<br />
Apesar de ser possível detectar uma linha de continui<strong>da</strong>de entre os subtemas de<br />
pesquisa desenvolvidos a partir dos anos 80 dentro dessa temática, o movimento<br />
acadêmico (e jurídico-político) em torno do acesso à Justiça compreende dois<br />
eixos principais. De um lado, situam-se as pesquisas sobre o acesso coletivo à<br />
Justiça que marcam principalmente a primeira metade dos anos 80. De outro,<br />
encontram-se as investigações sobre formas estatais e não-estatais de resolução<br />
de conflitos individuais, nas quais ganham espaço os novos mecanismos<br />
informais -- tais como os então denominados Juizados Especiais de Pequenas<br />
Causas -- introduzidos pelo Estado a partir de meados <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 80. Em<br />
qualquer um dos dois eixos, no entanto, sobressai a profun<strong>da</strong> influência de<br />
Boaventura de Sousa Santos, que se tornou conhecido <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de acadêmica<br />
a partir <strong>da</strong> pesquisa realiza<strong>da</strong> nos anos 70 na favela do Jacarezinho.<br />
Os velhos comportamentos <strong>da</strong> “nobreza toga<strong>da</strong>” (ALMEIDA, 2010) e <strong>da</strong>s elites<br />
políticas brasileiras só seriam forçados a mu<strong>da</strong>r a partir de uma reforma do modelo de<br />
administração pública, porém, mesmo com a reforma administrativa realiza<strong>da</strong>, as elites<br />
judiciárias ain<strong>da</strong> conseguiram resistir à modernização do Estado brasileiro inicia<strong>da</strong> pelo
36<br />
Plano Diretor <strong>da</strong> Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) elaborado em 1995 e efetivado<br />
pela Emen<strong>da</strong> Constitucional nº 19/1998.<br />
O PDRAE explicitava a natureza <strong>da</strong> reforma pretendi<strong>da</strong>, uma vez que não seria<br />
uma reforma mais ampla do Estado brasileiro, mas uma reforma <strong>da</strong> organização <strong>da</strong><br />
administração pública, para isso, definia as razões para superar a crise <strong>da</strong> administração de<br />
tipo burocrático que vigorava no país desde a déca<strong>da</strong> de 30:<br />
Só em meados dos anos 90 surge uma resposta consistente com o desafio de<br />
superação <strong>da</strong> crise: a ideia <strong>da</strong> reforma ou reconstrução do Estado, de forma a<br />
resgatar sua autonomia financeira e sua capaci<strong>da</strong>de de implementar políticas<br />
públicas. Neste sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2)<br />
reformas econômicas orienta<strong>da</strong>s para o mercado, que, acompanha<strong>da</strong>s de uma<br />
política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as<br />
condições para o enfrentamento <strong>da</strong> competição internacional; (3) a reforma <strong>da</strong><br />
previdência social; (4) a inovação dos instrumentos de política social,<br />
proporcionando maior abrangência e promovendo melhor quali<strong>da</strong>de para os<br />
serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a<br />
aumentar sua “governança”, ou seja, sua capaci<strong>da</strong>de de implementar de<br />
forma eficiente políticas públicas. (grifo nosso) (Plano Diretor de Reforma do<br />
Aparelho do Estado, 1995, p. 11)<br />
Esses foram os objetivos almejados pela reforma administrativa do aparelho do<br />
Estado brasileiro, no entanto, o Poder Judiciário resistia pelos seus anacronismos existentes<br />
desde a primeira metade do século XX, que ain<strong>da</strong> persistiam, de acordo com Carvalho<br />
(2001, p. 214-215),<br />
O Judiciário também não cumpre o seu papel. O acesso à justiça é limitado a<br />
pequena parcela <strong>da</strong> população. A maioria ou desconhece seus direitos, ou, se os<br />
desconhece, não tem condição de os fazer valer. Os poucos que dão queixa à<br />
política tem que enfrentar depois os custos e a demora do processo judicial. Os<br />
custos dos serviços de um bom advogado estão além <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> grande<br />
maioria <strong>da</strong> população. Apesar de ser dever constitucional do Estado prestar<br />
assistência jurídica gratuita aos pobres, os defensores públicos são em número<br />
insuficiente para atender à deman<strong>da</strong>. Uma vez instaurado o processo, há o<br />
problema <strong>da</strong> demora. Os tribunais estão sempre sobrecarregados de processos<br />
tanto nas varas cíveis como nas criminais. Uma causa leva anos para ser decidi<strong>da</strong>.<br />
O único setor do Judiciário que funciona um pouco melhor é o <strong>da</strong> justiça do<br />
trabalho. No entanto, essa justiça só funciona para os trabalhadores do mercado<br />
formal, possuidores de carteira de trabalho. Os outros, que são ca<strong>da</strong> vez mais<br />
numerosos, ficam excluídos. Entende-se, então, a descrença <strong>da</strong> população na<br />
justiça e o sentimento de que ela funciona apenas para os ricos, ou antes, de que<br />
ela não funciona, pois os ricos não são punidos e os pobres não são protegidos.
37<br />
Isso reforçava a necessi<strong>da</strong>de de modificações mais profun<strong>da</strong>s e não apenas na<br />
forma de se administrar os órgãos judiciários como foi realizado na Administração Pública<br />
dos órgãos do Poder Executivo através <strong>da</strong>s diretrizes do PDRAE.<br />
Era necessário incutir e fortalecer os princípios republicanos nas práticas<br />
judiciárias do país, monitorando as ativi<strong>da</strong>des de todos os órgãos e servidores do Poder<br />
Judiciário, procurar <strong>da</strong>r efetivi<strong>da</strong>de ao princípio <strong>da</strong> razoável duração do processo, aparelhar<br />
e preparar os órgãos <strong>da</strong> justiça para o processo judicial eletrônico, e mais importante,<br />
reduzir as desigual<strong>da</strong>des regionais entre as justiças estaduais a partir dos indicadores<br />
construídos para apreender a forma como é realiza<strong>da</strong> a ativi<strong>da</strong>de judicial brasileira.<br />
Para atingir tais finali<strong>da</strong>des, era necessário fortalecer o planejamento, a execução e<br />
a avaliação de políticas públicas direciona<strong>da</strong>s à transformar a prestação de serviços pelo<br />
Poder Judiciário e não, apenas, tê-lo como controlador jurisdicional que foi o papel<br />
hegemônico exercido até a quase a metade <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 2000, quando foi promulga<strong>da</strong> a<br />
Emen<strong>da</strong> Constitucional nº 45 de 2004. Antes de se falar sobre a Reforma <strong>da</strong> Justiça, será<br />
necessário delimitar como foi construído o campo <strong>da</strong>s políticas públicas e o seu papel no<br />
acesso à Justiça no Brasil.<br />
2.3 A IMPORTÂNCIA DO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS<br />
PARA O ACESSO À JUSTIÇA<br />
O campo de estudo <strong>da</strong>s políticas públicas como área acadêmica surgiu nos EUA,<br />
onde rompeu com a tradição dos estudos europeus que teorizavam acerca <strong>da</strong> natureza do<br />
Estado e suas instituições, buscando investigar sobre a produção e formas de atuação dos<br />
governos. (SOUZA 2003, 2003, 2006, 2008)<br />
É difícil delimitar com exatidão o início do campo de estudo sobre políticas<br />
públicas, alguns acreditam que foi no contexto dos anos de 1930 durante a implementação<br />
do New Deal pelo Governo Federal norte-americano, momento crucial de intervenção na<br />
economia proporcionando deman<strong>da</strong> por serviços e gerando empregos como saí<strong>da</strong> para a<br />
crise financeira de 1929. Segundo a professora e pesquisadora Maria Paula Dallari Bucci<br />
(2008, p. 229), “A obra de Harold Lasswell, de 1930, seria pioneira ao fixar uma linha de
38<br />
trabalho em Ciência Política, que se desenvolveria até os anos 50, combinando empirismo,<br />
pluridisciplinari<strong>da</strong>de e enfoque aplicado aos problemas <strong>da</strong> coletivi<strong>da</strong>de”.<br />
Nesse momento, os autores que iniciaram a delimitação dos estudos <strong>da</strong>s políticas<br />
públicas nos EUA nas déca<strong>da</strong>s de 1930-60 sobre a racionalização <strong>da</strong> ação governamental<br />
ou do Estado e que se tornaria um campo de estudo sob o foco no policy-making process<br />
(processo de decisão política) foram, dentre outros: Harold Laswell; Herbert A. Simon;<br />
Daniel Lerner; Charles Lindblom e David Easton. (BUCCI, 2008; SOUZA 2003, 2006,<br />
2008)<br />
está em que<br />
A diferença dos estudos europeus e norte-americanos, segundo Souza (2008, p.67)<br />
Na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos<br />
trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma <strong>da</strong>s<br />
mais importantes instituições do Estado – o governo -, produtor, por excelência,<br />
de políticas públicas. Nos Estados Unidos, ao contrário, a área surge no mundo<br />
acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do<br />
Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos.<br />
O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consoli<strong>da</strong>ção dos estudos<br />
sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o<br />
governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e<br />
(b) analisado por pesquisadores independentes.<br />
Assim, o campo de estudos <strong>da</strong>s políticas públicas que estava sendo construído<br />
pelos pesquisadores norte-americanos,<br />
Firmava-se, a partir de então, um campo de análise com foco na atuação dos<br />
governos e com o objetivo de orientar a ação dos mesmos, tendo como principal<br />
elemento de análise as políticas públicas, defini<strong>da</strong>s como respostas dos governos<br />
às deman<strong>da</strong>s, problemas e conflitos que afloram de um grupo social, sendo o<br />
produto de negociações entre os diferentes interesses, mediados pela<br />
racionali<strong>da</strong>de técnica, com vistas à manutenção de uma ordem. (grifo do autor)<br />
(BAPTISTA; MATOS, 2011, p.61)<br />
No caso, o Estado brasileiro expressou uma faceta interventora tanto na esfera<br />
pública quanto na esfera priva<strong>da</strong> desde a déca<strong>da</strong> de 1930 até o fim <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1980,<br />
praticamente não exercendo nesse espaço o papel de preponderante de regulação entre o
39<br />
mercado e a socie<strong>da</strong>de civil, marca <strong>da</strong> ideologia liberal, mas intervindo de forma<br />
autoritária, na maior parte do tempo, nas dimensões política, social, econômica e cultural.<br />
A constituição <strong>da</strong>s políticas públicas como setor de estudos específicos, só<br />
ocorreu, no Brasil, com a transição do regime autoritário para o regime democrático no<br />
final dos anos 1970 e início dos anos 1980. (ALMEIDA, 2008)<br />
Antes desse período, não existia uma níti<strong>da</strong> diferenciação entre a socie<strong>da</strong>de civil e<br />
o Estado no Brasil, tinha-se uma “socie<strong>da</strong>de civil” de movimentação, reivindicação e<br />
mobilização fraca ou inexistente, até dissimula<strong>da</strong> com as questões públicas e uma<br />
burocracia estatal pesa<strong>da</strong>, ineficiente e autoritária. (SCHWARTZMAN, 2007).<br />
A partir do enfraquecimento do regime militar no fim <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1970, a<br />
socie<strong>da</strong>de civil brasileira se mobilizava para se tornar protagonista do processo de<br />
redemocratização e de contraposição a tudo que se originava <strong>da</strong> esfera militar-estatal.<br />
Assim, pesquisadora Maria <strong>da</strong> Glória Gohn (2008, p. 70-71) entende o conceito de<br />
socie<strong>da</strong>de civil nesse contexto,<br />
De uma forma geral, ele surge no período denominado trajetória, <strong>da</strong>s transições<br />
democráticas. O final dos anos 70 destaca-se nesta trajetória porque o termo foi<br />
definitivamente introduzido no vocabulário político corrente e passou a ser objeto<br />
de elaboração teórica. Na linguagem política corrente ele se tornou sinônimo de<br />
participação e organização <strong>da</strong> população civil do país na luta contra o regime<br />
militar. Este fato significou a construção de outro referencial para o imaginário<br />
político nacional, fun<strong>da</strong>do na crença de que a socie<strong>da</strong>de civil deveria se mobilizar<br />
e se organizar para alterar o status quo no plano estatal, dominado pelos militares<br />
e por um regime não democrático, com políticas públicas que privilegiavam o<br />
grande capital, considerando apenas as deman<strong>da</strong>s de parcela <strong>da</strong>s cama<strong>da</strong>s médias<br />
e altas <strong>da</strong> população que alavancavam o processo de acumulação <strong>da</strong>s emergentes<br />
indústrias filiais <strong>da</strong>s empresas multinacionais. Este cenário estimulou o<br />
surgimento de inúmeras práticas coletivas no interior <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil, volta<strong>da</strong>s<br />
para a reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos, negados pelo<br />
regime político vigente.<br />
A professora e pesquisadora Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39) formulou um<br />
conceito de políticas públicas bastante abrangente, tendo a consciência de que essa<br />
categoria não está presa ao mundo jurídico, mas ela deve ser entendi<strong>da</strong> na sua essencial<br />
interdisciplinari<strong>da</strong>de,
40<br />
Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo<br />
ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo<br />
de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo<br />
legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os<br />
meios à disposição do Estado e as ativi<strong>da</strong>des priva<strong>da</strong>s, para a realização de<br />
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal,<br />
política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a<br />
seleção de priori<strong>da</strong>des, a reserva de meios necessários à sua consecução e o<br />
intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados. [...] As<br />
políticas públicas não são, portanto, categoria defini<strong>da</strong> e instituí<strong>da</strong> pelo Direito,<br />
mas arranjos complexos, típicos <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de político-administrativa, que a<br />
Ciência do Direito deve estar apta a descrever, compreender e analisar, de modo a<br />
integrar à ativi<strong>da</strong>de política os valores métodos próprios do universo jurídico.<br />
Em resumo, política pública seria um campo do conhecimento relaciona, no<br />
mesmo instante, impulsionar a ação governamental e avaliar os resultados dessa ação e,<br />
caso haja necessi<strong>da</strong>de, refazer ou reformular o caminho tomado por essas ações, nesse<br />
sentido, a elaboração de políticas públicas seriam uma etapa na qual os governos<br />
democráticos materializam seus projetos e plataformas de governo durante o período<br />
eleitoral, explicitando os projetos e ações futuras que produzirão impactos ou resultados no<br />
cotidiano <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de. (SOUZA 2003, 2006, 2008)<br />
Após a transição para a democracia, mesmo pela via indireta em 1985, e mesmo<br />
com a promulgação <strong>da</strong> Constituição de 1988 e a ênfase nos direitos sociais, houve uma<br />
abertura do país ao mercado externo ocorri<strong>da</strong> no início dos anos 1990, desta feita, aplicando<br />
medi<strong>da</strong>s econômicas formula<strong>da</strong>s por governos de orientação neoliberal através <strong>da</strong><br />
implementação do “Consenso de Washington” 3 por países como os EUA e Inglaterra e por<br />
organismos econômicos multilaterais como Banco Internacional para Reconstrução e<br />
Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Bando Interamericano de<br />
Desenvolvimento (BID).<br />
3 Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do governo norte-americano<br />
e dos organismos financeiros internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID - especializados em<br />
assuntos latino-americanos. O objetivo do encontro, convocado pelo Institute for International Economics,<br />
sob o título "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder a uma avaliação <strong>da</strong>s<br />
reformas econômicas empreendi<strong>da</strong>s nos países <strong>da</strong> região. Para relatara experiência de seus países também<br />
estiveram presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião é que se <strong>da</strong>ria,<br />
subseqüentemente, a denominação informal de "Consenso de Washington". (BATISTA, 1994)
41<br />
Logo, tais fatores levaram no final <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1980 ao aumento <strong>da</strong> pressão<br />
popular por uma burocracia estatal mais ágil na ativi<strong>da</strong>de governamental, o foco no<br />
planejamento global teve de ser mu<strong>da</strong>do para as políticas públicas. O planejamento tinha<br />
seus aspectos positivos, entretanto, a dinâmica <strong>da</strong> ação estatal foi beneficia<strong>da</strong> pelos avanços<br />
incorporados dos campos <strong>da</strong> administração, <strong>da</strong> tecnologia e <strong>da</strong> economia. A tecnologia<br />
facilitou a participação e a descentralização política sob o aspecto operacional, assim, as<br />
transformações sociais se tornaram possíveis e deseja<strong>da</strong>s através <strong>da</strong> elaboração,<br />
implementação e avaliação <strong>da</strong>s políticas públicas governamentais. (SARAVIA, 2006)<br />
Contudo, tenha existido essa pressão <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil através de seus grupos de<br />
interesses e de Organizações Não-Governamentais (ONGs) na direção de impulsionar a<br />
ação governamental para a realização de políticas públicas estruturais, notou-se, ao<br />
contrário, uma maior e mais profun<strong>da</strong> desarticulação <strong>da</strong>s políticas públicas no país através<br />
<strong>da</strong> separação entre políticas econômicas e políticas sociais, em decorrência <strong>da</strong> hegemonia<br />
do economicismo vigente no modelo de administração pública. (RUA, 2009)<br />
Por essa razão, as políticas econômicas são muitas vezes apropria<strong>da</strong>s pelos campos<br />
de estudos <strong>da</strong>s ciências econômicas, contábeis e <strong>da</strong> administração, tendo papel primordial<br />
em todo o planejamento governamental enquanto as políticas sociais sofrem com falta de<br />
recursos financeiros e recursos humanos capacitados para implementar tais políticas.<br />
Em razão disso, as políticas sociais são coloca<strong>da</strong>s em segundo plano, por serem<br />
entendi<strong>da</strong>s como formas compensatórias para os efeitos negativos advindos <strong>da</strong>s políticas<br />
econômicas e dos problemas postos pela questão social (CASTEL, 1995).<br />
No final <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1990, do ponto de vista dos direito civis, o país deveria ser<br />
dividido em três classes. A primeira classe seria a dos “doutores”, privilegiados por estarem<br />
acima <strong>da</strong> lei e sempre tendo o seus interesses atendidos pelo dinheiro e prestígio social.<br />
Pertenciam a esta classe dos “doutores” os indivíduos brancos, ricos, bem vestidos,<br />
formação universitária que exerciam as ativi<strong>da</strong>des de banqueiros, grandes proprietários<br />
rurais e urbanos, políticos, profissionais liberais, altos funcionários. Esses indivíduos<br />
estabelecem vínculos em to<strong>da</strong>s as esferas do poder com a finali<strong>da</strong>de de “dobrar” a lei em<br />
seu benefício. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
42<br />
1996, 8% (oito por cento) <strong>da</strong> população brasileira estaria nessa classe, pois receberiam<br />
acima de 20 salários mínimos. (CARVALHO, 2001)<br />
Nessa divisão, a segun<strong>da</strong> classe seria forma<strong>da</strong> pelo grande grupo dos “ci<strong>da</strong>dãos<br />
simples” que sofrem os rigores e os benefícios <strong>da</strong> lei. Essa seria a classe média forma<strong>da</strong> por<br />
trabalhadores assalariados com vínculo formal (carteira assina<strong>da</strong>), pequenos funcionários,<br />
pequenos proprietários rurais e urbanos que tem seguinte perfil: podem ser brancos, pardos<br />
ou negros com educação fun<strong>da</strong>mental completa e o segundo grau completo ou não. Esses<br />
ci<strong>da</strong>dãos não tem a noção concreta de seus direitos ou quando o tem, não podem exercê-los<br />
de forma plena por falta dos recursos necessários. Dessa forma, dependem <strong>da</strong> política e de<br />
outros agentes <strong>da</strong> lei, os quais decidem cotidianamente quais são os direitos respeitados ou<br />
não. Fazem parte dessa classe, 63% (sessenta e três por cento) <strong>da</strong>s famílias que recebem<br />
acima de dois a 20 (vinte) salários mínimos. Para esses ci<strong>da</strong>dãos, existem os códigos civil e<br />
penal que podem ser aplicado de forma incompleta e incorreta. (CARVALHO, 2001)<br />
Por último, existe a terceira classe de ci<strong>da</strong>dãos que seriam os “elementos”<br />
oriundos no código linguístico policial. Forma<strong>da</strong> pelos trabalhadores urbanos e rurais sem<br />
vínculo formal de trabalho que exercem os ofícios de: biscateiros, camelôs, emprega<strong>da</strong>s<br />
domésticas, posseiros, mendigos etc. São majoritariamente negros ou pardos analfabetos,<br />
ou com educação fun<strong>da</strong>mental incompleta. Esses “elementos” ignoram seus direitos civis<br />
ou os tem reitera<strong>da</strong>mente desrespeitados pelos outros ci<strong>da</strong>dãos, pelo governo, pela polícia.<br />
Nutrem um sentimento de desproteção legal e social, além de recearem o contato com os<br />
agentes <strong>da</strong> lei, com base nas experiências <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> que sempre resultaram em prejuízo<br />
próprio. Alguns optam delibera<strong>da</strong>mente desafiar à lei através <strong>da</strong> criminali<strong>da</strong>de, para isso, só<br />
lhe serve o código penal. Os “elementos” pertencentes à terceira classe estariam entre os<br />
23% (vinte e três por cento) <strong>da</strong>s famílias que recebem até dois salários mínimos.<br />
(CARVALHO, 2001)<br />
O cenário descrito através <strong>da</strong> visão de alguns pesquisadores clássicos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
brasileira, na qual se formaram as elites que administraram e continuam administrando a<br />
burocracia <strong>da</strong> Justiça pátria, merecia a intervenção de políticas públicas planeja<strong>da</strong>s e<br />
desenha<strong>da</strong>s no sentido de transformar os mecanismos judiciais e a prestação dos serviços
43<br />
públicos, para que, principalmente, tornassem efetivamente concreto o acesso à justiça<br />
brasileira.<br />
Para que ocorresse a deseja<strong>da</strong> transformação <strong>da</strong>s práticas <strong>da</strong> burocracia<br />
administrativa do Poder Judiciário e um ver<strong>da</strong>deiro acesso à justiça, era necessária uma<br />
reforma <strong>da</strong> Justiça que levasse em consideração, dentre outros fatores, segundo Santos<br />
(2011), a procura suprimi<strong>da</strong>, ou seja, além <strong>da</strong> deman<strong>da</strong> efetiva dos tribunais que são as que<br />
podem ser conquistas através de reformas, existe uma deman<strong>da</strong> “invisível” dos ci<strong>da</strong>dãos<br />
que conhecem os seus direitos, mas não os reivindicam quando são violados por se<br />
sentirem impotentes diante <strong>da</strong>s características ostenta<strong>da</strong>s pelo sistema judicial. Esses<br />
ci<strong>da</strong>dãos ficam desiludidos quando entram em contato com as autori<strong>da</strong>des judiciais, uma<br />
vez que são esmagados pela linguagem esotérica, pela presença arrogante, pela maneira<br />
cerimonial de se vestir, pelos edifícios esmagadores, pelas secretarias labirínticas etc.<br />
(SANTOS, 2011)<br />
Nesse sentido, a “supressão” desse tipo de deman<strong>da</strong> é produzi<strong>da</strong> socialmente, algo<br />
construído artificialmente e atinge a grande maioria dos ci<strong>da</strong>dãos pertencentes às segun<strong>da</strong> e<br />
terceira classes, cita<strong>da</strong>s por Carvalho (2001), tendo suas procuras suprimi<strong>da</strong>s por esse<br />
espaço social excludente <strong>da</strong> Justiça. (SANTOS, 2011)<br />
Portanto, para que se possa concretizar um acesso à justiça de forma material e<br />
profundo, tem-se que “desconstruir” essa procura suprimi<strong>da</strong> através de uma revolução<br />
democrática no sistema judicial, como articula Santos (2011, p. 24),<br />
É essa procura que está, hoje, em discussão. E se ela for considera<strong>da</strong>, vai levar a<br />
uma grande transformação do sistema judiciário e do sistema jurídico no seu<br />
todo, tão grande que fará sentido falar <strong>da</strong> revolução democrática <strong>da</strong> justiça. É<br />
essencial termos a noção <strong>da</strong> exigência que está pela frente. Para satisfazer a<br />
procura suprimi<strong>da</strong> são necessárias profun<strong>da</strong>s transformações do sistema<br />
judiciário. Não basta mu<strong>da</strong>r o direito substantivo e o direito processual, são<br />
necessárias muitas outras mu<strong>da</strong>nças. Está em causa a criação de uma outra cultura<br />
jurídica e judiciária. Uma outra formação de magistrados. Outras facul<strong>da</strong>des de<br />
direito. A exigência é enorme e requer, por isso, uma vontade política muito<br />
forte. Não faz sentido assacar a culpa to<strong>da</strong> ao sistema judiciário no caso de as<br />
reformas ficarem aquém desta exigência.
44<br />
É essa temática que será vista no próximo capítulo, sobre a Reforma do Poder<br />
Judiciário, a criação do Conselho Nacional de Justiça e a implementação de uma Política<br />
Pública Nacional visando pacificar a socie<strong>da</strong>de e diminuir o excesso de litigiosi<strong>da</strong>de através<br />
<strong>da</strong> ampla aplicação dos métodos de mediação e conciliação judiciais.
45<br />
3 A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO E O PAPEL DO<br />
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA<br />
3.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 – REFORMA DO<br />
PODER JUDICIÁRIO<br />
Como pode ser constatado no tópico anterior, o Poder Judiciário estivera<br />
profun<strong>da</strong>mente marcado por reclamações dos usuários <strong>da</strong> justiça por uma prestação<br />
jurisdicional mais célere e ampla, porém no fim do ano de 2004, houve a promulgação <strong>da</strong><br />
Emen<strong>da</strong> Constitucional (EC) nº 45. Essa emen<strong>da</strong> trouxe ao mundo jurídico inovações que<br />
passaram 13 anos esperando a aprovação no Congresso Nacional.<br />
Antes <strong>da</strong> E.C. nº 45/2004, os diversos setores <strong>da</strong> Justiça brasileira não tinham o<br />
dever de efetivamente “prestar contas” ou explicar os resultados de suas ações a algum<br />
órgão nacional especializado em controlar a administração <strong>da</strong> Justiça.<br />
Existiam, apenas, o Tribunal de Contas <strong>da</strong> União, Estaduais e poucos Municipais<br />
para controlar as ativi<strong>da</strong>des financeiras, operacionais e patrimoniais, no entanto, não havia<br />
nenhum órgão de abrangência nacional especializado diretamente no controle<br />
administrativo e de recursos humanos, na busca de eficiência e de planejamento para o<br />
Poder Judiciário estadual e federal. Assim, o usuário ficava sem ter a quem recorrer diante<br />
<strong>da</strong> demora e <strong>da</strong>s dificul<strong>da</strong>des na obtenção <strong>da</strong> prestação jurisdicional dos órgãos <strong>da</strong> justiça<br />
brasileira.<br />
A partir <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> cita<strong>da</strong> emen<strong>da</strong> constitucional, as mu<strong>da</strong>nças foram<br />
diversas, dentre elas: a busca efetiva <strong>da</strong> celeri<strong>da</strong>de processual, regulamentação dos tratados<br />
e convenções internacionais, aceitação <strong>da</strong> jurisdição penal internacional, combate de recusa<br />
à execução de lei federal, criação do Conselho Nacional <strong>da</strong> Justiça (CNJ) e do Conselho<br />
Nacional do Ministério Público (CNMP), redefinição de várias normas <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de dos<br />
magistrados e <strong>da</strong> tramitação de processos, criação <strong>da</strong> Justiça itinerante, Câmaras Regionais,<br />
Varas especializa<strong>da</strong>s em questões agrárias, fins dos Tribunais de Alça<strong>da</strong>, criação <strong>da</strong>s
46<br />
Súmulas Vinculantes, mu<strong>da</strong>nças na competência do Supremo Tribunal Federal (STF),<br />
ampliação <strong>da</strong> competência <strong>da</strong> Justiça do Trabalho etc.<br />
Após oito anos, muitos impactos <strong>da</strong> Reforma do Poder Judiciário ain<strong>da</strong> não foram<br />
sentidos pelos usuários <strong>da</strong> justiça. Alguns dos pontos citados acima demoraram anos para<br />
sair do papel e serem implementados, outros ain<strong>da</strong> estão esperando vontades ou “janelas<br />
oportuni<strong>da</strong>des políticas” (policy windows 4 ) para entrarem na agen<strong>da</strong> de governo.<br />
Alguns estudos contribuíram para aumentar a pressão pública pela mu<strong>da</strong>nça na<br />
forma de gestão <strong>da</strong> administração <strong>da</strong> justiça, como o trabalho de Boaventura de Souza<br />
Santos (1999, p.148-149), sobre as dificul<strong>da</strong>des do acesso à justiça, que buscou construir<br />
uma sociologia dos tribunais e explicitar os problemas do acesso ao campo jurídico,<br />
Estudos revelam que a distância dos ci<strong>da</strong>dãos em relação à justiça é tanto maior<br />
quanto mais baixo é o estrado social a que pertencem e que essa distância tem<br />
como causas próximas não apenas fatores económicos, mas também factores<br />
sociais e culturais, ain<strong>da</strong> que uns e outros possam estar mais ou menos<br />
remotamente relacionados com as desigual<strong>da</strong>des económicas. Em primeiro lugar,<br />
os ci<strong>da</strong>dãos de menores recursos tendem a conhecer pior os seus direitos e,<br />
portanto, a ter mais dificul<strong>da</strong>des em reconhecer um problema que os afecta como<br />
sendo problema jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as<br />
possibili<strong>da</strong>des de reparação jurídica. [...] Em segundo lugar, mesmo<br />
reconhecendo o problema como jurídico, como violação de um direito, é<br />
necessário que a pessoa se disponha a interpor a ação. [...] Em terceiro lugar e<br />
último lugar, verifica-se que o reconhecimento do problema como problema<br />
jurídico e o desejo de recorrer aos tribunais para resolver não são suficientes para<br />
que a iniciativa seja de facto toma<strong>da</strong>. Quanto mais baixo é o estrato sócioeconómico<br />
do ci<strong>da</strong>dão, menos provável é que conheça advogado ou que tenha<br />
amigos que conheçam advogados, menos provável é que saiba onde, como e<br />
quando pode contactar um advogado e maior é a distância geográfica entre o ligar<br />
onde viver ou trabalha e a zona <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de onde se encontra os escritórios de<br />
advocacia e os tribunais.<br />
Ain<strong>da</strong>, de acordo com Sadek (2004, p.06), para que houvesse uma reforma do<br />
judiciário, o problema percebido ou construído socialmente como “crise do judiciário” ou<br />
“crise <strong>da</strong> justiça” teve que entrar na agen<strong>da</strong> (agen<strong>da</strong>-setting) de reformas para receber uma<br />
solução no formato de política pública, isso ocorreu por dois motivos:<br />
4 Uma janela de oportuni<strong>da</strong>de apresenta um conjunto de condições favoráveis a alterações nas agen<strong>da</strong>s<br />
governamental e de decisão e à entra<strong>da</strong> de novos temas nestas agen<strong>da</strong>s. (BAPTISTA; REZENDE, 2011).
47<br />
1) a justiça transformou-se em questão percebi<strong>da</strong> como problemática por amplos<br />
setores <strong>da</strong> população, <strong>da</strong> classe política e dos operadores do Direito, passando a<br />
constar <strong>da</strong> agen<strong>da</strong> de reformas; 2) tem diminuído consideravelmente o grau de<br />
tolerância com a baixa eficiência do sistema judicial e, simultaneamente,<br />
aumentado a corrosão no prestígio do Judiciário. De fato, as instituições judiciais<br />
mesmo que em grau menor do que o Executivo e o Legislativo – apesar de há<br />
longo tempo critica<strong>da</strong>s, saíram <strong>da</strong> penumbra (confortável?) e passaram para o<br />
centro <strong>da</strong>s preocupações. E, por outro lado, acentuaram-se as críticas e a que<strong>da</strong><br />
nos índices de credibili<strong>da</strong>de.<br />
Como se pode observar o caminho percorrido pela própria Emen<strong>da</strong> Constitucional<br />
nº 45/2004, uma vez que o Presidente Luiz Inácio Lula <strong>da</strong> Silva passou o ano de 2003<br />
tratando de incluir o tema <strong>da</strong> Reforma do Poder Judiciário na agen<strong>da</strong> política de seu<br />
governo, não obstante as oposições a essa ideia, vin<strong>da</strong>s até do Supremo Tribunal Federal<br />
(STF), ou seja, <strong>da</strong> mais alta cúpula <strong>da</strong> justiça brasileira.<br />
Num discurso no Estado do Espírito Santo sobre a temática de segurança pública<br />
em 2003, o Presidente Lula (CONJUR, 2003) afirma a necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> reforma do<br />
modo de administrar a justiça do país,<br />
Acontece que este país é tão grande, é tão heterogêneo, que se um Presidente <strong>da</strong><br />
República não se dispuser a an<strong>da</strong>r esse país ao invés de ficar preso num gabinete<br />
atendendo apenas à deman<strong>da</strong> de quem consegue furar a agen<strong>da</strong>, ele terminará o<br />
man<strong>da</strong>to sem conhecer a cozinha <strong>da</strong> sua casa. E o governante que não conhece a<br />
cozinha <strong>da</strong> sua casa não conhece a sua casa. (grifo nosso)<br />
Não obstante os temas <strong>da</strong> reforma <strong>da</strong> justiça brasileira serem importantes, a<br />
criação e a implementação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a consecução do<br />
acesso à ordem jurídica, “mediante ações de planejamento, à coordenação, ao controle<br />
administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço público na prestação <strong>da</strong> Justiça” (CNJ,<br />
2013), tem relevância destaca<strong>da</strong> por ter competência sobre políticas públicas que<br />
transformaram o Poder Judiciário em objeto e não mais, apenas, controlador jurisdicional<br />
(função clássica 5 ) dessas políticas públicas.<br />
5 Antes <strong>da</strong> criação do CNJ, o Poder Judiciário só “se entendia” como controlador jurisdicional <strong>da</strong>s políticas<br />
públicas e não como “objeto” de políticas públicas visando melhorar a prestação dos serviços judiciais.
48<br />
Antes de criação do Conselho, havia um controle <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des do Poder<br />
Judiciário, porém era um controle interno de ca<strong>da</strong> órgão de cúpula, ou seja, ca<strong>da</strong> Tribunal<br />
exercia um controle ético interno sobre seus membros através de sua corregedoria. Dessa<br />
forma, o controle exercido pelos órgãos <strong>da</strong> justiça não era eficaz, como explicitou o juiz<br />
Tourinho Neto (1993, p.17)<br />
O controle que sempre conhecemos – que é este atualmente – é um controle<br />
interno. É um controle interna corporis. Válido, sem dúvi<strong>da</strong>, mas inoperante.<br />
Esse controle é exercido pelos próprios Tribunais, mediante suas Corregedorias.<br />
O próprio Poder Judiciário está, assim, incumbido de corrigir os desvios, os<br />
desmandos de seus membros.<br />
Mas o que vemos?<br />
Um sistema que não funciona. O controle disciplinar pelos próprios juízes é<br />
apenas um “faz-de-conta” que não tem a confiança <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de. O espírito de<br />
corpo grita mais alto. Temos, na ver<strong>da</strong>de, um Conselho corporativista,<br />
apadrinhador.<br />
A punição – rara – só sobrevém, quando o juiz já praticou deslizes, infrações,<br />
inúmeras vezes. O mal já foi feito ao jurisdicionado, à socie<strong>da</strong>de. Vê-se até juiz<br />
indolente, de comportamento pernicioso, malévolo, funesto, ser promovido e<br />
alcançar não raras vezes, o Tribunal.<br />
Definitivamente, o controle não funciona.<br />
Não só o magistrado Tourinho Neto afirmava a faceta classista do Poder Judiciário<br />
brasileiro, o Presidente Lula (CONJUR, 2003) noutra fala do discurso, já citado acima,<br />
afirma os problemas não enfrentados pelo controle interno <strong>da</strong> justiça,<br />
Muitas vezes, a Justiça não age, enquanto Justiça, no cumprimento <strong>da</strong><br />
Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Muitas vezes, uns são<br />
mais iguais do que outros, e é o que eu chamo de "Justiça classista". É uma<br />
justiça que favorece uma classe.<br />
[...]<br />
E é por isso que nós brigamos há tanto tempo, Dr. Márcio, pelo controle externo<br />
do poder Judiciário. Não é interferir na decisão de um Juiz, mas é pelo menos<br />
saber como funciona a caixa preta do poder Judiciário, que muitas vezes parece<br />
intocável. E nós achamos que a socie<strong>da</strong>de brasileira precisa começar a assumir os<br />
espaços que lhe são de direito, para que as coisas funcionem neste país. E, quanto<br />
mais fiscalizados formos, mais chances teremos de acertar. Quanto menos<br />
fiscalizados, mais continuaremos a cometer os erros que, historicamente, temos<br />
cometido. (grifo nosso)<br />
Pode-se perceber que o problema com o controle interno dos órgãos do Poder<br />
Judiciário nacional não era novi<strong>da</strong>de em 2004, na época <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Emen<strong>da</strong> Constitucional,
49<br />
por tudo que já foi dito sobre os percalços dos usuários dos serviços públicos judiciais<br />
perante uma justiça inoperante, autoritária, elitista, classista e excludente.<br />
Dessa forma, o professor Marcelo Uchôa (2008, p. 47-48) demonstra a<br />
necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> concretização de um ver<strong>da</strong>deiro controle administrativo do Poder Judiciário,<br />
sem ferir os direitos adquiridos pelos magistrados na Constituição Federal de 1988, para<br />
prestar serviços públicos judiciais de acordo com os parâmetros constitucionais e <strong>da</strong><br />
eficiência administrativa,<br />
E o resultado disso tudo não poderia ser diferente, afinal, to<strong>da</strong>s essas <strong>da</strong>nosas<br />
consequências que, como visto, advêm do modelo deficiente do Poder Judiciário<br />
nacional, são, em resumo, a própria negação do Direito, pois impactam<br />
negativamente sobre os princípios derivados do devido processo legal, tais como<br />
ampla defesa, contraditório, decisão fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> e ampara<strong>da</strong> em lei,<br />
executabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s decisões, celeri<strong>da</strong>de como pressuposto para a eficácia <strong>da</strong><br />
prestação jurisdicional, entre tantos outros.<br />
Considerando-se que todos esses princípios derivam do direito fun<strong>da</strong>mental <strong>da</strong><br />
igual<strong>da</strong>de, e que este, por sua vez, é um dos fun<strong>da</strong>mentos do Estado Democrático,<br />
logo percebeu-se que o Judiciário estava muito aquém <strong>da</strong> razão de sua existência,<br />
<strong>da</strong>í a legitimi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> institucionalização de uma nova ordem para o poder. Uma<br />
nova ordem que não atentasse contra as prerrogativas <strong>da</strong> magistratura, mas que,<br />
ao contrário, coibindo práticas perniciosas, pudesse garantir aos juízes liber<strong>da</strong>de<br />
necessária para que julgassem com razão e consciência, alheios a quaisquer<br />
pressões internas ou externas, e com olhos voltados à reali<strong>da</strong>de social.<br />
Portanto, a criação do CNJ já foi um avanço para os usuários <strong>da</strong> justiça que<br />
precisam de uma prestação de serviços de forma mais célere e justa, de acordo com os<br />
princípios constitucionais já citados pelo professor Marcelo Uchôa.<br />
A seguir, será detalha<strong>da</strong> a função e as ativi<strong>da</strong>des desenvolvi<strong>da</strong>s pelo Conselho.<br />
3.2 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ<br />
A criação do CNJ fora uma vitória dos setores <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de que advogavam uma<br />
reforma de eficiência sobre o Poder Judiciário brasileiro, pois a demora se deu pela<br />
resistência dos setores conservadores <strong>da</strong>s elites judiciárias, principalmente em relação ao<br />
controle administrativo e de recursos humanos que seria exercido com a criação do CNJ,<br />
como mostra Sadek (2004, p. 37),
50<br />
O exame dos percentuais referentes a esta questão mostra que pouco mais de um<br />
quarto dos entrevistados é contrário à criação do CNJ; 61% dizem ser irrelevante;<br />
e 39% manifestam-se favoravelmente (dentre estes, 13,5% julgam ser “muito<br />
positiva” esta medi<strong>da</strong> e 25,5% “positiva”). Uma primeira leitura destas<br />
proporções indicaria que é considerável a resistência à constituição de um órgão<br />
para exercer o controle externo do Judiciário. Afinal, apenas 39% aceitariam esta<br />
inovação, contra 61% que julgaram ser irrelevante, ou na<strong>da</strong> positiva, ou<br />
assumiram não possuir opinião forma<strong>da</strong> a respeito. O contraste, entretanto, com o<br />
que ocorria em 1993 pode contribuir para esclarecer a compreensão dessas<br />
respostas e demonstrar que houve uma apreciável mu<strong>da</strong>nça. Efetivamente, no<br />
início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong>, 86,5% diziam-se contrários à criação do Conselho Nacional de<br />
Justiça e somente 12% expressavam concordância.<br />
Mesmo com as resistências, o CNJ foi criado no fim do ano de 2004, mas só<br />
iniciou os trabalhos em junho de 2005 com a seguinte missão: “contribuir para que a<br />
prestação jurisdicional seja realiza<strong>da</strong> com morali<strong>da</strong>de, eficiência e efetivi<strong>da</strong>de, em<br />
benefício <strong>da</strong> Socie<strong>da</strong>de” (CNJ, 2013).<br />
As diretrizes do CNJ são em linhas gerais: “planejamento estratégico e<br />
proposições de políticas judiciárias; modernização tecnológica do Judiciário; ampliação do<br />
acesso à justiça, pacificação e responsabili<strong>da</strong>de social; garantia de efetivo respeito às<br />
liber<strong>da</strong>des públicas e execuções penais.” (CNJ, 2013)<br />
A novi<strong>da</strong>de introduzi<strong>da</strong> no sistema judiciário nacional pelo Conselho foi a sua<br />
competência primordial de formulador, implementador e avaliador de políticas públicas<br />
para o Poder Judiciário. A situação antes <strong>da</strong> criação do Conselho era a de um Poder<br />
Judiciário sempre desempenhando um papel ativo de controlador jurisdicional <strong>da</strong> execução<br />
de políticas públicas e que raramente esteve na posição de ser “objeto” dessas políticas,<br />
como agente passivo e tendo que prestar contas sobre a sua atuação como Poder do Estado<br />
e prestador de serviço jurídico de interesse público. (NOGUEIRA, 2011)<br />
Desde sua criação em 2005, o órgão criou políticas públicas nos seguintes temas:<br />
Acesso à Justiça; Assuntos Fundiários; Direitos Humanos; Eficiência, modernização e<br />
transparência; Formação e capacitação; Infância e Juventude; Mulher; Saúde e Meio<br />
Ambiente; Sistema Carcerário e Execução Penal e Sistema de Processo Judicial eletrônico<br />
– PJe. (CNJ, 2013)
51<br />
As políticas públicas visando concretizar e ampliar o acesso à justiça, desenha<strong>da</strong>s,<br />
implementa<strong>da</strong>s e avalia<strong>da</strong>s pelo CNJ, podem ter sido influencia<strong>da</strong>s pelo diagnóstico <strong>da</strong><br />
situação <strong>da</strong> prestação jurisdicional, antes <strong>da</strong> reforma do Judiciário, realiza<strong>da</strong> por Sadek<br />
(2004, p. 11)<br />
Efetivamente, <strong>da</strong>dos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de<br />
1988 mostram que a maior parte dos litígios sequer chega a uma corte de justiça -<br />
apenas 33% <strong>da</strong>s pessoas envolvi<strong>da</strong>s em algum tipo de litígio procuram solução no<br />
Judiciário. As dificul<strong>da</strong>des de acesso ao Judiciário são constantemente lembra<strong>da</strong>s<br />
como um fator inibidor <strong>da</strong> realização plena <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia. O desconhecimento dos<br />
direitos, por um lado, e a percepção de uma justiça vista como cara e lenta, de<br />
outro, afastam dos tribunais a maior parte <strong>da</strong> população. Daí afirmar-se que<br />
grande massa <strong>da</strong> população só procura a justiça estatal quando não há outra<br />
alternativa. Nestas circunstâncias, não se trataria de uma utilização voluntária,<br />
para a efetivação de direitos, mas compulsória. Isto significa que a face do<br />
Judiciário conheci<strong>da</strong> por largos setores de jurisdicionados não é a civil, mas é,<br />
sobretudo, a criminal.<br />
Dessa forma, em razão <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de um controle administrativo do sistema<br />
judiciário brasileiro, o Conselho se tornou um órgão imprescindível tanto para o Poder<br />
Judiciário se aperfeiçoar internamente quanto para a socie<strong>da</strong>de conseguir ter acesso a<br />
melhores serviços judiciais e, dentro <strong>da</strong> nova lógica administrativa, fiscalizar a quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
prestação de tais serviços de interesse público.<br />
Caso não tivesse sido criado e colocado em funcionamento, o tecido social poderia<br />
ter se rompido profun<strong>da</strong>mente, a partir do resultado <strong>da</strong> pesquisa realiza<strong>da</strong> por Sadek (2004,<br />
p.12) acerca <strong>da</strong> situação <strong>da</strong>s dificul<strong>da</strong>des encontra<strong>da</strong>s pelos usuários <strong>da</strong> justiça diariamente,<br />
Em resumo, pode-se sustentar que o sistema judicial brasileiro nos moldes atuais<br />
estimula um paradoxo: deman<strong>da</strong>s de menos e deman<strong>da</strong>s de mais. Ou seja, de<br />
um lado, expressivos setores <strong>da</strong> população acham-se marginalizados dos serviços<br />
judiciais, utilizando-se, ca<strong>da</strong> vez mais, <strong>da</strong> justiça paralela, governa<strong>da</strong> pela lei do<br />
mais forte, certamente muito menos justa e com altíssima potenciali<strong>da</strong>de de<br />
desfazer todo o tecido social. De outro, há os que usufruem em excesso <strong>da</strong> justiça<br />
oficial, gozando <strong>da</strong>s vantagens de uma máquina lenta, atravanca<strong>da</strong> e<br />
burocratiza<strong>da</strong>. (grifos <strong>da</strong> autora)
52<br />
Tendo como plano de fundo as deman<strong>da</strong>s dos usuários do sistema de justiça, o<br />
Conselho enfatizou e aprofundou o programa de Acesso à Justiça que desenvolve políticas<br />
como: Advocacia Voluntária (orienta<strong>da</strong> pela Resolução nº 62); instalação <strong>da</strong>s Casas de<br />
Justiça e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, instituí<strong>da</strong>s pela Portaria Nº 499, de 07 de abril de 2009; fortalecimento<br />
e (re)valorização dos Juizados Especiais Estaduais e Federais; Justiça Aqui e Justiça<br />
itinerante; programa de Mutirões <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia cujo objetivo “é estabelecer medi<strong>da</strong>s<br />
concretas para a garantia de direitos fun<strong>da</strong>mentais do ci<strong>da</strong>dão em situação de maior<br />
vulnerabili<strong>da</strong>de”, os grupos sociais considerados vulneráveis são: “proteção à criança e ao<br />
adolescente e, Mutirões de Conciliação do Sistema Financeiro de Habitação. (CNJ, 2013)<br />
As políticas públicas de acesso à justiça que colocam o Poder Judiciário como<br />
“objeto” foram formula<strong>da</strong>s tendo como parâmetros indicadores sobre <strong>da</strong> quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
prestação dos serviços públicos judiciais, como: estatísticas acerca do grau de<br />
congestionamento <strong>da</strong>s ações judiciais (processos iniciados / processos julgados) e sobre o<br />
tempo de duração média dos processos, além <strong>da</strong>s inspeções nos diversos órgãos <strong>da</strong>s justiças<br />
estadual e federal, a partir <strong>da</strong> divulgação do resultados dessas ações por meio de relatórios e<br />
diagnósticos oficiais; avaliação <strong>da</strong>s políticas públicas formula<strong>da</strong>s e efetivamente executa<strong>da</strong>s<br />
para resolução dos problemas verificados e os resultados obtidos dos eventos focalizadores<br />
como a semana nacional de conciliação e os mutirões carcerários; as políticas de promoção<br />
dos Direitos Humanos, assuntos fundiários, infância e juventude, mulher, saúde e meio<br />
ambiente etc..<br />
Nesse caminho, dentre as to<strong>da</strong>s as políticas que estão sendo desenvolvi<strong>da</strong>s pelo<br />
órgão para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, o problema dos processos de menor<br />
complexi<strong>da</strong>de que inun<strong>da</strong>m os juizados especiais cíveis e criminais e todos os setores <strong>da</strong><br />
justiça brasileira, dificultando o julgamento de temas de maior relevância social e a<br />
celeri<strong>da</strong>de <strong>da</strong> prestação judicial, conseguiu ganhar visibili<strong>da</strong>de através <strong>da</strong>s insatisfações dos<br />
usuários dos serviços judiciais e dos estudos sobre o acesso à justiça.<br />
No entanto, trabalhos como Moreira-Leite (2003), Duarte (2011), Azevedo (2001),<br />
Hermann (2010) e Silva (2011) demonstraram certo esgotamento do modelo que tem como<br />
priori<strong>da</strong>de a prestação de serviços judiciais com maior “informali<strong>da</strong>de” e celeri<strong>da</strong>de dos
53<br />
procedimentos, por falta de investimento profundo na qualificação tanto dos recursos<br />
humanos quanto dos recursos materiais para realizar a gestão desses conflitos. Não basta<br />
criar novas estruturas, definir competências e continuar a mesma forma de gestão<br />
burocrática pratica<strong>da</strong> nas instâncias ordinárias.<br />
Uma possível “crise” dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, como defendem<br />
os autores citados acima, que tinham como símbolo propostas de celeri<strong>da</strong>de processual<br />
promovi<strong>da</strong> pelos procedimentos de conciliação e mediação oferecidos por esses órgãos <strong>da</strong><br />
justiça, foi utiliza<strong>da</strong> para <strong>da</strong>r maior visibili<strong>da</strong>de à necessi<strong>da</strong>de de se implementar uma<br />
política pública judiciária nacional visando <strong>da</strong>r efetivi<strong>da</strong>de concreta aos métodos judiciais e<br />
extrajudiciais alternativos de solução de conflitos de interesses, buscando-se atingir o maior<br />
grau de pacificação dos conflitos sociais ou garantir o acesso a uma ordem jurídica justa.<br />
(WATANABE, 2012)<br />
A partir desse foco nos métodos de soluções alternativas de resolução de conflitos,<br />
estruturou-se um evento de âmbito nacional para concentrar os esforços de pacificação dos<br />
conflitos sociais levados ou não para o Poder Judiciário.<br />
É essa a primeira política pública nacional sobre os métodos alternativos de<br />
resolução de conflitos formula<strong>da</strong>, implementa<strong>da</strong> e avalia<strong>da</strong> pelo CNJ e que será analisa<strong>da</strong><br />
no tópico seguinte.<br />
3.3 MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO COMO POLÍTICA<br />
PÚBLICA NACIONAL PARA O PODER JUDICIÁRIO<br />
Acredita-se que tais meios alternativos de resolução de conflitos possam promover<br />
uma pacificação social, em função disso, entendeu-se que através de uma política nacional<br />
de conciliação possa ser realizado um filtro de litígios, dessa forma, evitando um<br />
congestionamento de processos repetitivos e recursos sem fim de conflitos simples e<br />
passíveis de serem soluciona<strong>da</strong>s antes de entrar na fase processual. Ain<strong>da</strong>, mais<br />
ambiciosamente, almeja-se uma transformação cultural no povo brasileiro para que<br />
ultrapasse a chama<strong>da</strong> “cultura <strong>da</strong> sentença” para uma “cultura de pacificação”.<br />
(WATANABE, 2012)
54<br />
Na tentativa de concretizar tais objetivos, a presidente do STF e do CNJ, Ministra<br />
Ellen Gracie, lançara em 23 de agosto de 2006, o Movimento pela Conciliação com o<br />
slogan “<strong>Conciliar</strong> é legal”, iniciando-se um esforço nacional pela resolução de conflitos de<br />
interesses pelas vias consensuais ao invés de se buscar, apenas, uma solução judicial<br />
adjudica<strong>da</strong> (imposta).<br />
A partir desse movimento, ain<strong>da</strong> não formatado em política pública nacional,<br />
buscou-se fomentar em ca<strong>da</strong> uni<strong>da</strong>de <strong>da</strong> federação, a criação de juízos informais de<br />
conciliação pelas comarcas e distritos, em que uma pessoa <strong>da</strong> própria comuni<strong>da</strong>de age<br />
como conciliador no intuito de resolver querelas que nunca chegariam aos fóruns, além de<br />
resolver processos que já estivessem judicializados, ou seja, submetidos a uma decisão de<br />
um magistrado.<br />
O movimento pela conciliação, no primeiro momento, não necessitou de grandes<br />
investimentos nem de grande burocracia para por em prática os métodos consensuais de<br />
resolução de disputas, uma a vez que objetivou uma reorganização <strong>da</strong>s diversas justiças<br />
estaduais e federais no intuito de privilegiar os meios consensuais de resolução de conflitos<br />
dentro <strong>da</strong> própria estrutura existente no Poder Judiciário brasileiro.<br />
Segundo a Ministra Ellen Gracie Northfleet (2007, p. 01), o movimento é mais um<br />
esforço <strong>da</strong>s pessoas do que de infraestrutura,<br />
A implementação <strong>da</strong> Conciliação como prática permanente é simples. Não<br />
deman<strong>da</strong> grandes gastos nem providências complica<strong>da</strong>s. Prescinde <strong>da</strong> construção<br />
de prédios e <strong>da</strong> contratação de pessoal. Não depende <strong>da</strong> edição de leis e não<br />
exclui a garantia constitucional de acesso à Justiça. Alguns elementos, no entanto,<br />
são indispensáveis. Fun<strong>da</strong>mental para o sucesso do empreendimento é o empenho<br />
<strong>da</strong>s pessoas e instituições engaja<strong>da</strong>s no projeto. É necessário que os agentes<br />
envolvidos - magistrados, promotores, advogados, defensores e principalmente as<br />
próprias partes - promovam profun<strong>da</strong> alteração de mentali<strong>da</strong>de e adotem a<br />
disposição de modificar condutas consoli<strong>da</strong><strong>da</strong>s por longos anos de atuação com<br />
foco na litigiosi<strong>da</strong>de.<br />
Durante a gestão <strong>da</strong> Ministra Ellen Gracie a frente do CNJ, o movimento pela<br />
conciliação não teve grande apelo publicitário, sendo mais difundido no meio jurídico do
55<br />
que para a socie<strong>da</strong>de em geral. Tentou-se sensibilizar os profissionais do Direito e <strong>da</strong>s<br />
Facul<strong>da</strong>des jurídicas no primeiro momento.<br />
Embora, mesmo com pouca publici<strong>da</strong>de, a campanha pela conciliação conseguiu<br />
mobilizar órgãos do Poder Judiciário e profissionais do Direito para promover uma “cultura<br />
de conciliação” dentro <strong>da</strong> máquina <strong>da</strong> Justiça, antes de fortalecer a conciliação no seio<br />
social, isso se fez necessário em razão <strong>da</strong> tradição jurídica brasileira nos bancos <strong>da</strong>s<br />
Universi<strong>da</strong>des de Direito priorizar o litígio, ou o contencioso judicial ao invés <strong>da</strong> resolução<br />
consensual dos conflitos de interesses.<br />
O primeiro evento que ocorreu em 2006 foi promovido em campanhas<br />
publicitárias como “movimento pela conciliação” e tinha como objetivo, segundo o<br />
magistrado e professor Kazuo Watanabe (2012. p. 4),<br />
O objetivo primordial que se busca com a instituição de semelhante política<br />
pública, é a solução mais adequa<strong>da</strong> dos conflitos de interesses, pela participação<br />
decisiva de ambas as partes na busca do resultado que satisfaça seus interesses, o<br />
que preservará o relacionamento delas, propiciando a justiça coexistencial. A<br />
redução do volume de serviços do Judiciário é uma consequência importante<br />
desse resultado social, mas não seu escopo fun<strong>da</strong>mental.<br />
Os resultados do Dia Nacional <strong>da</strong> Conciliação, 08 de dezembro de 2006, foram:<br />
FIGURA 01: RESULTADOS DO DIA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO DE 2006 (CNJ, 2013)<br />
A ênfase na divulgação <strong>da</strong> Política de um Mutirão Nacional de Conciliação denota<br />
uma expectativa quanto aos seus resultados, como já dito por Watanabe, busca-se uma<br />
espécie de pacificação social por meio dos mecanismos alternativos de resolução de
56<br />
conflitos diferentes <strong>da</strong> sentença judicial, a qual representa a forma adjudica<strong>da</strong> ou imposta<br />
por um terceiro no caso o Estado.<br />
Nos casos <strong>da</strong> conciliação e <strong>da</strong> mediação, que serão aprofun<strong>da</strong><strong>da</strong>s no próximo<br />
capítulo, as soluções são construí<strong>da</strong>s pelas partes em conflito com a aju<strong>da</strong> de um terceiro<br />
alheio ao caso, não sendo possível a imposição obrigatória de nenhuma proposta de<br />
resolução do conflito dita<strong>da</strong> pelo conciliador ou mediador.<br />
Após surgir o movimento pela conciliação, houve uma preocupação acerca <strong>da</strong><br />
formação, capacitação e reciclagem de conciliadores e mediadores, além <strong>da</strong> pressão para<br />
implementação de disciplinas que priorizassem a resolução consensual de disputas nos<br />
currículos dos cursos de Direito em todo o país.<br />
Em 2007, foi instituí<strong>da</strong> e amplia<strong>da</strong> a política pública de mutirões de conciliações,<br />
com o nome de Semana Nacional <strong>da</strong> Conciliação, tendo sido realiza<strong>da</strong> de 03 a 08 de<br />
dezembro de 2007, porém, o apelo publicitário foi um pouco maior do que em 2006, ain<strong>da</strong><br />
sem ter material publicitário específico e diverso para isso. O slogan <strong>da</strong> campanha foi:<br />
“Ninguém deve abrir mão dos seus direitos. Nem do direito de conciliar”.<br />
Em 2007, a Semana de Conciliação movimentou mais de 3.000 mil magistrados,<br />
mais de 20.000 mil servidores e colaboradores e tendo atendido mais de 411.000 mil<br />
pessoas, tendo como resultados:<br />
FIGURA 02: RESULTADOS DA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO DE 2007 (CNJ, 2013)
57<br />
Então, em 2008, o esforço pela conciliação do movimento surgido em 2006 tomou<br />
mais corpo e teve uma publici<strong>da</strong>de de maior amplitude. Segundo o CNJ, a campanha de<br />
2008 tinha como um dos objetivos “fortalecer a cultura de que ‘<strong>Conciliar</strong> é legal e faz bem<br />
a si mesmo’ (tema) com o slogan ‘<strong>Conciliar</strong> é querer bem a você’. O principal público-alvo<br />
eram as partes em conflito, principal beneficiária <strong>da</strong> conciliação. Querer conciliar é querer<br />
bem.”<br />
Nessa campanha, já há cartazes, folders, adesivos, cartilhas, 05 spots de<br />
comunicação foram veiculados em rádios públicas em todo o país. O material disponível<br />
tentava explicar o processo, o papel dos conciliadores e de outros atores presentes na<br />
semana <strong>da</strong> conciliação de 2008.<br />
Os resultados alcançados pela semana nacional de conciliação, 01 a 05 de<br />
dezembro de 2008, foram:<br />
FIGURA 03: RESULTADOS DA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO DE 2008 (CNJ, 2013)<br />
Já a campanha <strong>da</strong> semana de conciliação de 2009, de 07 a 11 de dezembro, teve<br />
como slogan: “Ganha o ci<strong>da</strong>dão. Ganha a Justiça. Ganha o País”. A ca<strong>da</strong> ano o material<br />
distribuído se torna mais diverso. Nessa campanha houve: folheto, cartaz, banner, botton,<br />
camiseta, boné e vidro taxi, além de anúncios de jornais e revistas de diversos tamanhos,<br />
inclusive spots de rádio e TV.<br />
O CNJ detalhou um pouco mais o foco dessa campanha:<br />
A campanha de 2009 visou incentivar o jurisdicionado a participar e realizar o<br />
acordo, expondo que, por meio <strong>da</strong> conciliação, ele obtém uma resolução mais<br />
rápi<strong>da</strong> para o seu conflito e deixa de ter uma pendência judicial. Litígio, esse,
58<br />
ruim não só para o ci<strong>da</strong>dão como também para o Judiciário e consequentemente<br />
para o país.<br />
Os resultados dessa semana de conciliação foram:<br />
FIGURA 04: RESULTADOS DA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO DE 2009 (CNJ, 2013)<br />
A Semana Nacional de Conciliação de 2010 teve como foco chamar o<br />
jurisdicionado para realizar a conciliação com o slogan “Conciliando a gente se entende”,<br />
dessa forma, tentando demonstrar ao usuário a importância de participar e realizar o acordo,<br />
dessa forma, economiza tempo, dinheiro e promove a pacificação social.<br />
Nessa campanha, realiza<strong>da</strong> de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2010, foram<br />
atingidos os seguintes números:<br />
FIGURA 05: RESULTADOS DA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO DE 2010 (CNJ, 2013)
59<br />
No mesmo ano de 2010, na abertura <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação, 29 de<br />
novembro de 2010, foi publica<strong>da</strong> a Resolução nº 125 que regulamenta a Política Judiciária<br />
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, a qual tenta concretizar o<br />
princípio constitucional de acesso à justiça, insculpido na Constituição Federal de 1988, art.<br />
5º, inciso XXXV, como “acesso a ordem jurídica justa” 6 .<br />
A resolução do CNJ mudou o paradigma 7 vigente desde o início do Movimento<br />
pela Conciliação, uma vez que a política anterior priorizava a realização de eventos de<br />
mutirões judiciais no período de uma semana no ano.<br />
Realizavam-se eventos concentradores de ações, ou seja, durante o ano as varas<br />
judiciais recebiam os processos e no fim do ano, ou em outras <strong>da</strong>tas agen<strong>da</strong><strong>da</strong>s pelo CNJ<br />
para os órgãos <strong>da</strong> justiça brasileira, tentava-se realizar conciliação e mediação de processos<br />
antigos e novos ingressos no sistema, no entanto, segundo o professor e magistrado Kazuo<br />
Watanabe (2012, p.03),<br />
O Poder Judiciário Nacional está enfrentando uma intensa conflituosi<strong>da</strong>de, com<br />
sobrecarga excessiva de processos, o que vem gerando a crise de desempenho e a<br />
consequente per<strong>da</strong> de credibili<strong>da</strong>de.<br />
[...]<br />
É decorrente a crise menciona<strong>da</strong>, também, pela falta de uma política pública de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na socie<strong>da</strong>de. Afora<br />
os esforços que vêm sendo adotados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos<br />
Tribunais de Justiça de grande maioria dos Estados <strong>da</strong> Federação Brasileira e<br />
pelos Tribunais Regionais Federais, no sentido <strong>da</strong> utilização dos chamados Meios<br />
Alternativos de Solução de Conflitos, em especial <strong>da</strong> conciliação e <strong>da</strong> mediação,<br />
não há uma política nacional abrangente, de observância obrigatória por todo o<br />
Judiciário Nacional, de tratamento adequado dos conflitos de interesses. (grifos<br />
do autor)<br />
Embora essa política tenha obtido resultados em torno de 50% de sucesso nos<br />
acordos oriundos desses mutirões de conciliação e mediação (Semana Nacional de<br />
6 Conceito utilizado pelo magistrado e professor Kazuo Watanabe, quando defendeu a criação de uma Política<br />
Nacional de Resolução Alternativa de Conflitos.<br />
7 Paradigma. Uma palavra ca<strong>da</strong> vez mais emprega<strong>da</strong> por profissionais de resolução de conflitos, é defini<strong>da</strong><br />
por Thomas Kuhn como um conjunto de suposições sobre a reali<strong>da</strong>de – um modelo ou padrão aceito – que<br />
explica a reali<strong>da</strong>de, ou como esta é por nós percebi<strong>da</strong>... Acrescente-se a este conceito a noção de que<br />
paradigma constitui-se, também, de um conjunto de certezas sociais, que variam de socie<strong>da</strong>de para socie<strong>da</strong>de<br />
e modifica<strong>da</strong>s de tempos em tempos, conforme a evolução empreendi<strong>da</strong>. Afirmam uma visão compartilha<strong>da</strong> e<br />
aprova<strong>da</strong> pela socie<strong>da</strong>de, que responde ao pensamento <strong>da</strong>s maiorias. Normalmente cristalizam opiniões e<br />
percepções, <strong>da</strong>ndo-lhes o caráter de ver<strong>da</strong>des. (BRAGA NETO, 2003, p. 19)
60<br />
Conciliação) realizados desde 2006, o foco <strong>da</strong>do pela política, pode ocasionar problemas,<br />
fazendo com que acordos obtidos durante uma semana nacional de conciliação, poderiam<br />
ter sido realizados anteriormente, assim que o processo judicial tenha se iniciado, como<br />
prevê o Código de Processo Civil através <strong>da</strong> audiência inicial de conciliação.<br />
Nesse tipo de caso, a distorção ocorreria em razão <strong>da</strong> produtivi<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s varas ou<br />
tribunais medidos pelas estatísticas construí<strong>da</strong>s e publica<strong>da</strong>s após a realização de uma<br />
Semana Nacional de Conciliação, porque alguns magistrados e servidores poderiam deixar<br />
se esforçar durante o ano para efetivar acordos, no intuito de produzir e aumentar as<br />
estatísticas positivas em relação aos acordos obtidos quando fosse realiza<strong>da</strong> a referi<strong>da</strong><br />
Semana.<br />
Assim, ficariam em evidência na mídia após o trabalho realizado na Semana<br />
Nacional de Conciliação e poderiam “barganhar” recursos financeiros ou operacionais para<br />
o respectivo Tribunal ou Comarca que estivessem vinculados.<br />
Esse problema aliado a outros que surgiram, foram importantes para que a<br />
Resolução nº 125/2004 fosse aprova<strong>da</strong> pelo CNJ, visando construir um novo paradigma de<br />
uma política pública judiciária nacional de resolução alternativa de conflitos de interesses,<br />
executa<strong>da</strong> de forma permanente durante todo o ano, possibilitando a capacitação de novos<br />
mediadores e conciliadores em escala nacional através de uma grade curricular mínima<br />
obrigatória, verificação <strong>da</strong> conduta ética, instalação de uma rede de Núcleos Permanentes<br />
de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos, Centrais de Conciliação e prestação de<br />
serviços públicos de orientação jurídica e ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
No próximo capítulo será analisa<strong>da</strong> a Resolução nº 125/2010 do CNJ, os métodos<br />
alternativos de resolução de conflitos regulamentados por ela e sua formatação como<br />
política pública tendo o Poder Judiciário “objeto”.
61<br />
4 TRIBUNAIS MULTIPORTAS (MULTI-DOOR<br />
COURTHOUSE) E A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE<br />
DISPUTA - RAD (OU ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION<br />
– ADR, EM INGLÊS)<br />
Antes de se passar para a análise detalha<strong>da</strong> sobre as normas que regulamentam a<br />
Política Pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, é necessário<br />
discorrer sobre a fun<strong>da</strong>mentação teórica acerca <strong>da</strong> estrutura que essa Política Pública<br />
nacional busca aplicar a partir <strong>da</strong> implantação dos Núcleos Permanentes de Métodos<br />
Consensuais de Solução de Conflitos e dos Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e<br />
Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia para a realização <strong>da</strong> conciliação, mediação, orientação jurídica e serviços de<br />
ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia. Dessa forma, materializando o conceito de “Tribunal Multiportas” (Multi-door<br />
Courthouse) que será explicitado a seguir.<br />
A política pública do CNJ trouxe dentro de sua estrutura um modelo de prestação<br />
de serviços judiciários formulado e implantando pelo sistema judicial norte-americano a<br />
partir <strong>da</strong>s ideias expostas na palestra do professor Frank Ernest Arnold Sander, <strong>da</strong> Harvard<br />
Law School, na Pound Conference em 1976.<br />
A Pound Conference foi organiza<strong>da</strong> pela instituição representante dos advogados<br />
norte-americanos American Bar Association - ABA, equivalente a OAB no Brasil, e pelo<br />
presidente <strong>da</strong> Suprema Corte Americana Warren Burger no intuito de relembrar e debater<br />
uma palestra ministra<strong>da</strong> pelo reitor <strong>da</strong> Harvard Law School, Roscoe Pound em 1906, que<br />
falou sobre “as causas <strong>da</strong> insatisfação popular com a administração <strong>da</strong> justiça nos EUA” 8 .<br />
(ALMEIDA; ALMEIDA; CRESPO, 2012)<br />
Nessa conferência em 1976, o professor Frank Sander foi convi<strong>da</strong>do a ministrar<br />
uma palestra sobre as varie<strong>da</strong>des do processamento de disputas (varieties of dispute<br />
processing), quando deu conhecimento público ao seu conceito de “centro abrangente de<br />
8 The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice by Roscoe Pound. American Bar<br />
Association - 1906.
62<br />
justiça” que se tornaria através de uma publicação <strong>da</strong> ABA logo após sua palestra de 1976<br />
no conceito de “Tribunal Multiportas” (Multi-door Courthouse). (SANDER, 2012)<br />
Após a referi<strong>da</strong> conferência, outros professores se juntaram a Frank Sander para<br />
desenvolver o assunto e discorrer sobre outras formas de resolução de conflitos diferente <strong>da</strong><br />
maneira judicial pela sentença. Assim, o campo de estudos sobre as resoluções alternativas<br />
de disputas (ADR´s, em inglês) foi sendo construído a partir <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1970 nos EUA,<br />
principalmente pelos professores: Frank E. A. Sander (Harvard University), Nancy H.<br />
Rogers (Ohio State University), Sarah Rudolph Cole (Ohio State University) e Stephen B.<br />
Goldberg (Northwestern University). (GONÇALVES, 2011)<br />
O conceito de Tribunal Multiportas implantado no Brasil através <strong>da</strong> Resolução nº<br />
125/2010, não significa uma instituição ou estrutura jurídica nova ou uma reforma profun<strong>da</strong><br />
na estrutura do sistema judiciário nacional, esse conceito se refere mais a uma mu<strong>da</strong>nça de<br />
paradigma na prestação dos serviços judiciais e de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, onde a população receberá<br />
um tratamento qualificado do conflito levado aos órgãos do Poder Judiciário.<br />
André Gomma de Azevedo (2011, p.16) explicita essa nova forma de administrar a<br />
justiça como um “gerenciamento de disputas ou processos” através <strong>da</strong> operacionalização do<br />
modelo norte-americano formulado pelo professor Frank Sander,<br />
Esta organização judiciária proposta pelo Fórum de Múltiplas Portas (FMP)<br />
compõe-se de uma Poder Judiciário como um centro de resoluções de disputas,<br />
com distintos processos, baseado na premissa de que há vantagens e desvantagens<br />
de ca<strong>da</strong> processo que devem ser considera<strong>da</strong>s em função <strong>da</strong>s características<br />
específicas de ca<strong>da</strong> conflito. Assim ao invés de existir apenas uma “porta” – o<br />
processo judicial – que conduz à sala de audiência, o FMP trata de um amplo<br />
sistema com vários distintos tipos de processo que formam um “centro de<br />
justiça”, organizado pelo Estado, no qual as partes podem ser direciona<strong>da</strong>s ao<br />
processo adequado a ca<strong>da</strong> disputa. Nesse sentido, nota-se que o magistrado, além<br />
<strong>da</strong> função jurisdicional que lhe é atribuí<strong>da</strong>, assume também uma função gerencial,<br />
pois ain<strong>da</strong> que a orientação ao público seja feita por um serventuário, ao<br />
magistrado cabem a fiscalização e acompanhamento para assegurar a efetiva<br />
realização dos escopos pretendidos pelo ordenamento jurídico-processual, ou, no<br />
mínimo, que os auxiliares (e.g., mediadores e conciliadores) estejam atuando<br />
entre dos(sic) limites impostos pelos princípios processuais constitucionalmente<br />
previstos.
63<br />
Através <strong>da</strong> Resolução do CNJ, o sistema judiciário brasileiro ofertará mecanismos<br />
de resolução judicial, extrajudicial, orientação jurídica e prestação de serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia<br />
a todos os usuários que levarem suas deman<strong>da</strong> aos Centros Judiciários de Solução de<br />
Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, mecanismos que podem funcionar dentro <strong>da</strong> estrutura de um tribunal<br />
ou de forma separa<strong>da</strong> e com estrutura independente numa localização privilegia<strong>da</strong> para<br />
facilitar o acesso dos usuários de seus serviços. Estes Centros serão tratados mais<br />
detalha<strong>da</strong>mente no próximo capítulo. (SANDER, 2012)<br />
Nas cortes <strong>da</strong> justiça brasileira, a solução de conflitos ofereci<strong>da</strong> é a tradicional<br />
resolução adjudica<strong>da</strong> de conflitos através <strong>da</strong> sentença proferi<strong>da</strong> por um magistrado por<br />
meio do processo judicial.<br />
A inovação do conceito de Tribunal Multiportas foi a oferta, dentro <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des<br />
dos órgãos de justiça tradicionais, <strong>da</strong>s resoluções alternativas de disputas com a<br />
participação ativa dos usuários na solução dos seus conflitos e na prestação de orientação<br />
jurídica e serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia pelo sistema judiciário. (CRESPO, 2012)<br />
A política pública nacional regulamenta<strong>da</strong> pelo CNJ privilegiou dois métodos<br />
consensuais de resolução alternativa de disputas: conciliação e mediação, no entanto,<br />
deixou livre a utilização de outros RADs que os judiciários estaduais tenham maior<br />
conhecimento e experiências prática.<br />
A opção por esses dois métodos de RADs pode ter sido estratégica, uma vez que,<br />
no primeiro momento <strong>da</strong> implantação desse modelo no país seja melhor concentrar as ações<br />
e melhorar os trabalhos e experiências acerca desses dois métodos que já tem um histórico<br />
no Brasil, para depois ampliar o uso de outros RADs com mais segurança no sistema<br />
judicial pátrio.<br />
A seguir, serão apresentados os dois métodos de RADs regulamentados pelo CNJ,<br />
conciliação e mediação, além de outros métodos que não se tem tanto conhecimento ou<br />
estudos aprofun<strong>da</strong>dos na doutrina nacional.
64<br />
4.1 CONCILIAÇÃO<br />
A conciliação, que é um método de RAD, é um dos procedimentos consensuais<br />
mais conhecidos no país, em razão de sua utilização ao longo <strong>da</strong> história legislativa após o<br />
Brasil se tornar independente de Portugal em 1822. Na Constituição Federal do Imperio do<br />
Brazil de 1824 consta no “Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio <strong>da</strong><br />
reconciliação, não se começará Processo algum”. (WATANABE, 2011)<br />
Logo após a abdicação do Imperador D. Pedro I no país, ain<strong>da</strong> no período <strong>da</strong><br />
História do Brasil conhecido como Regência (1831-1840), foi promulgado em 29 de<br />
novembro de 1832 o “Codigo do Processo Criminal de primeira instancia com disposição<br />
provisoria ácerca <strong>da</strong> administração <strong>da</strong> Justiça Civil” que tratou <strong>da</strong> conciliação no “Art. 1º<br />
Póde intentar-se a conciliação perante qualquer Juiz de Paz aonde o réo fôr encontrado,<br />
ain<strong>da</strong> que não seja a Freguezia do seu domicilio” do título único, na disposição provisória<br />
acerca <strong>da</strong> administração <strong>da</strong> Justiça Civil.<br />
Embora a legislação <strong>da</strong> época tenha tentado facilitar a resolução de conflitos de<br />
forma “alternativa” à solução imposta via sentença judicial, esbarrou na formação técnica e<br />
tradicional volta<strong>da</strong> para a prática adversarial ensina<strong>da</strong> aos bacharéis de Direito nas<br />
Facul<strong>da</strong>des Jurídicas. Dessa forma, os juízes de paz acabaram se reduzindo, por muitos<br />
anos após terem sido criados, às funções de celebrar casamentos. (WATANABE, 2011)<br />
A conciliação só voltou a aparecer na legislação brasileira na forma muito tími<strong>da</strong><br />
na Constituição Federal de 1934 que durou até 1937, no parágrafo único do art.122 que<br />
trata sobre as “Comissões de Conciliação” na Justiça do Trabalho.<br />
Na Constituição Federal de 1937, sob um governo ditatorial do Estado Novo de<br />
Getúlio Vargas, a C.F. de 1937 regulamentou a possibili<strong>da</strong>de de os Estados legislarem<br />
sobre a matéria, caso houvesse ou não lei federal tratando <strong>da</strong> conciliação. Se houvesse lei<br />
federal sobre o tema, o Estado deveria apenas complementar ou suplementar sobre,<br />
segundo o art.18, “d) organizações públicas, com o fim de conciliação extrajudiciária dos<br />
litígios ou sua decisão arbitral”.
65<br />
Já o Código de Processo Civil de 1939 não fez nenhuma menção ao procedimento<br />
de conciliação. No entanto, a Consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s Leis do Trabalho de 1940 regulamentou a<br />
conciliação como dever dos sindicatos no art. 514, alínea “c) promover a conciliação nos<br />
dissídios de trabalho”, além de criar as “Junta de Conciliação e Julgamento”.<br />
O tema voltou a ser regulamentado pelo Código de Processo Civil de 1973, com a<br />
instituição <strong>da</strong> conciliação de forma facultativa na audiência antes de inicia<strong>da</strong> a instrução<br />
(arts. 278, 447, 448 e 449 – re<strong>da</strong>ção original). Sofreu algumas modificações com as Leis<br />
nºs 8.952/1994 e 10.444/2002, para incluir a obrigatorie<strong>da</strong>de de uma audiência preliminar<br />
ou prévia para tentar resolver os conflitos de forma inicial e rápi<strong>da</strong>, antes que o juiz<br />
iniciasse a instrução e emitisse decisões sobre o mérito.<br />
Ain<strong>da</strong>, antes <strong>da</strong>s alterações no CPC de 1973 que tornaram a conciliação etapa<br />
inicial e obrigatória para o normal desenvolvimento processual <strong>da</strong> deman<strong>da</strong>, foram criados<br />
os Juizados de Pequenas Causas - JPCs, com base na experiência norte-americana <strong>da</strong>s<br />
Small Claim of Courts, já comenta<strong>da</strong> no primeiro capítulo deste trabalho, através <strong>da</strong> Lei nº<br />
7.244 de 1984, a qual regulamentava que todo o sistema dos JPCs iria se orientar<br />
“buscando sempre que possível a conciliação <strong>da</strong>s partes” (art. 2º), assim, qualquer deman<strong>da</strong><br />
submeti<strong>da</strong> a um JPC, independente de autuação e distribuição, uma audiência de<br />
conciliação deveria ser realiza no prazo de 10 dias (art. 17º). Caso ambas as partes<br />
comparecessem para submeter o conflito, deveria primeiro se tentar a conciliação para<br />
depois realizar o registro do pedido e processar a citação inicial <strong>da</strong>s partes (art.18º).<br />
Com o advento <strong>da</strong> C.F. de 1988, vieram mu<strong>da</strong>nças na estrutura dos JPCs, pois o<br />
art. 98, inciso I, <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Carta Magna dispôs:<br />
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,<br />
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de<br />
menor complexi<strong>da</strong>de e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os<br />
procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a<br />
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;<br />
Então, com base na C.F. de 1988, foi aprova<strong>da</strong> a Lei nº 9.099 de 1995 que revogou<br />
a Lei dos JPCs e os modificou para Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A novo marco
66<br />
legal não modificou as finali<strong>da</strong>des desses Juizados para buscarem a conciliação dos<br />
conflitos submetidos à sua competência. As inovações foram mais na inclusão <strong>da</strong><br />
competência penal e possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> transação penal e na ampliação <strong>da</strong>s competências<br />
cíveis, no entanto, no que toca aos procedimentos de conciliação já regulamentados desde<br />
os JPCs, praticamente na<strong>da</strong> foi modificado.<br />
As últimas novi<strong>da</strong>des quanto ao método de conciliação como resolução consensual<br />
de conflitos vieram após a criação do CNJ e, a partir, de suas ativi<strong>da</strong>des produzindo<br />
políticas públicas nacionais para aplicar mu<strong>da</strong>nças no Poder Judiciário brasileiro.<br />
Consequentemente, veio em 2006, o movimento pela conciliação através <strong>da</strong> realização dos<br />
mutirões concentrados de conciliações e mediações judiciais de processos antigos e novos<br />
do sistema judicial, materializados na Semana Nacional de Conciliação que são realiza<strong>da</strong>s<br />
no fim do mês de novembro e início de dezembro a ca<strong>da</strong> ano desde 2007, pois em 2006 foi<br />
apenas durante o dia 08 de dezembro que ficou marcado como o “Dia Nacional <strong>da</strong><br />
Conciliação”.<br />
Em 2010, o CNJ deu continui<strong>da</strong>de as suas prerrogativas de planejar, executar e<br />
avaliar políticas públicas nacionais para o sistema de justiça pátrio com a aprovação e<br />
publicação <strong>da</strong> Política Pública nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses,<br />
política essa que deu especial relevo para dois métodos de resolução alternativa de disputas,<br />
dentre outros existentes, que foram a conciliação e a mediação.<br />
Isso ocorreu devido ao histórico, já demonstrado anteriormente nesse subcapítulo,<br />
<strong>da</strong> criação e <strong>da</strong> aplicação desses dois métodos de RADs no sistema judicial, não obstante<br />
ter sido sempre grafa<strong>da</strong> na legislação como “conciliação”, a nossa legislação englobava a<br />
conciliação e a mediação sem realizar as devi<strong>da</strong>s diferenciações que os doutrinadores e<br />
pesquisadores <strong>da</strong> área de RADS ressaltavam existir entre os dois conceitos e que se<br />
aprofun<strong>da</strong>ram mais ain<strong>da</strong> após a déca<strong>da</strong> de 1970 e os estudos sobre as RADs nos EUA.<br />
Essa confusão foi reconheci<strong>da</strong> por Adolfo Braga Neto (2008, p.65), o advogado,<br />
mediador e consultor <strong>da</strong> ONU em assuntos de mediação nos países de língua portuguesa,
67<br />
Atualmente, é ca<strong>da</strong> vez mais comum a confusão entre os procedimentos <strong>da</strong><br />
mediação e o <strong>da</strong> conciliação. Confusão esta decorrente <strong>da</strong> a<strong>da</strong>ptação do<br />
procedimento <strong>da</strong> conciliação, cujo paradigma é bastante conhecido dos<br />
brasileiros, para aquele requerido pela mediação. A ponto de muitos não<br />
compreenderem que existem diferenças para ca<strong>da</strong> um dos procedimentos, pois<br />
para eles o resultado é o que importa. Não percebem que ca<strong>da</strong> um desses<br />
institutos possuem características próprias agregados a regras mínimas de<br />
conduta ética de parte do terceiro, imparcial e facilitador <strong>da</strong> comunicação entre as<br />
partes. Motivo pelo qual possuem requisitos mínimos muito diferentes para sua<br />
realização.<br />
Continua o autor acerca <strong>da</strong> conciliação: “Essa diferenciação passa, inicialmente,<br />
pela abor<strong>da</strong>gem do conflito. A conciliação é um procedimento mais célere. Na maioria dos<br />
casos se restringe a apenas uma reunião entre as partes e o conciliador. É muito eficaz para<br />
conflitos onde não existe inter-relação entre as partes.” (BRAGA NETO, 2008, p.65)<br />
Também o professor José Maria Garcez (2004, p.54) ressalta a confusão existente<br />
no país sobre os conceitos de conciliação e mediação e explicita alguns contornos do<br />
método <strong>da</strong> conciliação, a partir <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de do conciliador,<br />
No Brasil a expressão conciliação tem sido vincula<strong>da</strong> principalmente ao<br />
procedimento judicial, sendo exerci<strong>da</strong> por juízes, togados ou leigos, ou por<br />
conciliadores bacharéis em direito, e representa, em reali<strong>da</strong>de, um degrau a mais<br />
em relação à mediação, isto significando que o conciliador não se limita apenas a<br />
auxiliar as partes a chegarem, por elas próprias, a um acordo, mas também pode<br />
aconselhar e tentar induzir as mesmas a que cheguem a este resultado, fazendo-as<br />
divisar seus direitos, para que possam decidir mais rapi<strong>da</strong>mente.<br />
Na tentativa de diferenciar e delimitar os limites, principalmente sobre o conceito<br />
de conciliação, tem-se que<br />
Este método cooperativo de resolução de conflito tem por objetivo colocar fim ao<br />
conflito manifesto; não necessariamente a solução estende-se aos elementos nele<br />
ocultos. Portanto, <strong>da</strong> mesma maneira que o julgamento e a arbitragem, trabalha<br />
no domínio <strong>da</strong>s posições, <strong>da</strong>quilo que as partes expressam.<br />
Dela participa um terceiro, o conciliador, que atua com as posições manifestas<br />
pelas partes. Ele envolve-se segundo sua visão do que é justo ou não; deve e pode<br />
interferir e questionar os litigantes. (FIORELLI; FIORELLI; MALHADAS JR.,<br />
2008, p. 56)<br />
Ain<strong>da</strong>, a pesquisadora e professora Lilia Sales (2003, p.38) ratifica as diferenças<br />
entre os dois métodos de resolução consensual de conflitos,
68<br />
A conciliação é um meio de solução de conflitos no qual as pessoas buscam sanar<br />
as divergências com o auxílio de terceiro, o qual recebe a denominação de<br />
conciliador. Este conciliador deve ser um terceiro imparcial, com competência<br />
para aproximar as partes, controlar as negociações, sugerir e formular propostas,<br />
apontar vantagens e desvantagens, objetivando sempre a resolução do conflito,<br />
por meio de um acordo. O conciliador tem o poder de sugerir um possível acordo,<br />
após uma criteriosa avaliação <strong>da</strong>s vantagens e desvantagens que tal proposição<br />
trata às partes. A conciliação em muito se assemelha à mediação. A diferença<br />
fun<strong>da</strong>mental, portanto, está na forma <strong>da</strong> condução do diálogo entre as partes.<br />
Na literatura acerca desses dois métodos de RADs persiste sempre uma tentativa<br />
de diferenciação dos dois tipos, denotando a proximi<strong>da</strong>de e a dificul<strong>da</strong>de ocasiona<strong>da</strong> pelo<br />
histórico de se usar a conciliação indiscrimina<strong>da</strong>mente, inclusive pela legislação e doutrina<br />
até fins <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1970. Isso não ocorreu só no Brasil, mas em outros países. (GARCEZ,<br />
2004)<br />
Por isso, alguns pesquisadores optem por não realizar essa diferenciação quando<br />
escrevem sobre o tema, entendendo conciliação e mediação como gênero comum e como<br />
moderna a tendência de unificação <strong>da</strong> terminologia realiza<strong>da</strong> no Canadá, Reino Unido e<br />
Austrália. (AZEVEDO, 2004)<br />
O Ministério <strong>da</strong> Justiça não seguiu essa tendência quando publicou o seu “Manual<br />
de Mediação Judicial que está na 3ª edição (2012), ressaltando o conceito de conciliação<br />
adotado<br />
[...] a conciliação, também, para fins deste manual, pode ser defini<strong>da</strong> como um<br />
processo autocompositivo ou uma fase de um processo heterocompositivo no<br />
qual se aplicam algumas técnicas autocompositivas e em que há, em regra,<br />
restrição de tempo para sua realização.<br />
Alguns autores distinguem a conciliação <strong>da</strong> mediação indicando que naquele<br />
processo o conciliador pode apresentar uma apreciação do mérito ou uma<br />
recomen<strong>da</strong>ção de uma solução ti<strong>da</strong> por ele (mediador) como justa. Por sua vez, na<br />
mediação tais recomen<strong>da</strong>ções não seriam cabíveis.<br />
Por fim, a utilização <strong>da</strong> conciliação como método alternativo de resolução de<br />
conflitos tem suas limitações, como: o caráter educativo do processo é limitado, uma vez<br />
que as partes não tem uma ligação emocional duradoura e visa tratar conflitos recentes;<br />
tratamento objetivo do conflito, ou seja, não é <strong>da</strong><strong>da</strong> a atenção necessária para causa ocultas
69<br />
do conflito; também ocorre <strong>da</strong> maneira negocial tradicional, onde alguém cede, transige,<br />
troca, permuta, barganha etc., sem necessariamente tornar o acordo a melhor situação para<br />
as partes. (FIORELLI; FIORELLI; MALHADAS JR., 2008)<br />
Concluindo, antes <strong>da</strong> criação <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ, ain<strong>da</strong> havia<br />
problemas relativos a capacitação e formação dos terceiros facilitadores, obrigatorie<strong>da</strong>de de<br />
curso específico, falta de recomen<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> profissão, além de conteúdos programáticos<br />
unificados. (ALMEIDA; ALMEIDA; CRESPO, 2012)<br />
4.2 MEDIAÇÃO<br />
A mediação é o segundo método de RADs que a política pública nacional<br />
regulamenta<strong>da</strong> pelo CNJ institucionalizou ao lado <strong>da</strong> conciliação que já foi descrita e<br />
explicitados os seus contornos e limites anteriormente.<br />
Além de tudo que já foi citado sobre a mediação quando <strong>da</strong> necessária<br />
diferenciação <strong>da</strong> conciliação, ain<strong>da</strong> se tem características individuais e únicas que estão<br />
incorporados por esse método consensual de resolução alternativa de disputas.<br />
O aprofun<strong>da</strong>mento dos estudos sobre a mediação como um método alternativo de<br />
resolução de conflitos surgiu, como já afirmado anteriormente, com o professor Frank<br />
Sander <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Harvard numa conferência em 1976, Pound Conference.<br />
A sistematização e uma maior publici<strong>da</strong>de em torno do método <strong>da</strong> mediação<br />
surgiu nos EUA, porém, eles não foram os criadores de tal método e não se tem como<br />
delimitar quando apareceu tal processo de negociação entre as pessoas que desejavam<br />
resolver seus conflitos. Pensa-se que a mediação foi usa<strong>da</strong> na Grécia antiga, na China, em<br />
Roma, nas civilizações Egípcia, Judáica, Islâmica e em outros períodos <strong>da</strong> história, mas não<br />
se tem como delimitar a origem exata de seu surgimento. (SPENGLER, 2010)<br />
A novi<strong>da</strong>de na mediação moderna sobre a intermediação do conflito por um<br />
terceiro imparcial veio a ser sistematiza<strong>da</strong> inicialmente pelos estudos do professor Frank<br />
Sander que dividiu a evolução desses estudos em três fases:
70<br />
O primeiro período foi entre os anos de 1975 e 1982. Ele chamou de “Deixem<br />
que as mil flores desabrochem” (“Let a Thousand flowers bloom”). Foi um<br />
período de muito dinamismo, muitas iniciativas e experiências, muitas delas<br />
pouco planeja<strong>da</strong>s, sem boa fun<strong>da</strong>mentação e com metas um pouco confusas. [...]<br />
O segundo período aconteceu entre os anos de 1982 e 1990 – o que foi chamado<br />
de “Cui<strong>da</strong>dos e Advertências” (“Cautions and Caveads”). Foi o período dedicado<br />
a análise para onde se desejava caminhar, separar “o joio do trigo”. Esse período<br />
foi importante para esclarecer que os ADR´s não representavam um movimento<br />
antagônico às Cortes americanas. [...] O terceiro período, que teve início por volta<br />
de 1990 é chamado “Institucionalização” (“Institutionalization”). A questão<br />
central era e persiste: como fazer com que a escolha dos ADR´s fosse uma<br />
indicação institucional? Como agir para que essa escolha não simbolizasse um<br />
sinal de fraqueza de uma <strong>da</strong>s partes? O que desenvolver para que os ADR´s se<br />
tornassem uma prática contínua e profissional? Esses são os principais<br />
questionamentos <strong>da</strong> atuali<strong>da</strong>de. (SALES, 2012, p.141-143)<br />
Em decorrência <strong>da</strong> popularização e contato com alguns mediadores, os estudos<br />
sobre a mediação no Brasil surgiram já no que corresponde à terceira fase nos EUA. No<br />
início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1990 foi que se começou a prestar mais atenção aos métodos de<br />
resolução alternativa de disputas, mais especificamente a mediação, dentre outros.<br />
Também foi nessa mesma déca<strong>da</strong> que contamina<strong>da</strong> com os princípios<br />
institucionalizados na Constituição Federal de 1998, impregna<strong>da</strong> pelas alternativas de<br />
pacificação social, registrou já no seu preâmbulo,<br />
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional<br />
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o<br />
exercício dos direitos sociais e individuais, a liber<strong>da</strong>de, a segurança, o bem-estar,<br />
o desenvolvimento, a igual<strong>da</strong>de e a justiça como valores supremos de uma<br />
socie<strong>da</strong>de fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun<strong>da</strong><strong>da</strong> na harmonia social e<br />
comprometi<strong>da</strong>, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica <strong>da</strong>s<br />
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte<br />
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifo nosso)<br />
O interesse acerca <strong>da</strong> mediação e de outros métodos no Brasil só se fortaleceu no<br />
início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1990, através do contato com outros profissionais <strong>da</strong> área a partir de<br />
palestras ou eventos sobre o tema que começaram a surgir. Assim, os conhecimentos sobre<br />
a mediação se aprofun<strong>da</strong>ram com a criação do Instituto de Mediação e Arbitragem do<br />
Brasil – IMAB pelo professor Juan Carlos Vezzulla. A arbitragem também começou a ser<br />
mais conheci<strong>da</strong> a partir <strong>da</strong> promulgação <strong>da</strong> Lei nº 9.307/96 – Lei <strong>da</strong> Abritragem, com ela<br />
aumentaram o número <strong>da</strong>s câmaras de arbitragem e mediação. Na mesma déca<strong>da</strong>, veio
71<br />
ain<strong>da</strong> o Conselho Nacional <strong>da</strong>s Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA como<br />
organizador e uniformizador dos documentos oficiais nacionais e internacionais sobre os<br />
temas <strong>da</strong> mediação e <strong>da</strong> arbitragem, sendo reconhecido como referência na área pelo Banco<br />
Mundial. (BRAGA NETO, 2012)<br />
Após o início do novo século, o método <strong>da</strong> mediação de conflitos foi sendo mais<br />
estu<strong>da</strong>do e aprofun<strong>da</strong>do, recebendo mais atenção na mídia nacional e internacional. Tendo<br />
proporcionado até um prêmio Nobel <strong>da</strong> Paz ao ex-presidente norte-americano Jimmy Carter<br />
como mediador internacional, principalmente em conflitos bélicos e Direitos Humanos.<br />
(VIZENTINI, s/d)<br />
Também no início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 2000, foram sendo instala<strong>da</strong>s e realiza<strong>da</strong>s várias<br />
experiências em mediação comunitária através de políticas públicas e priva<strong>da</strong>s nos Estados<br />
do Rio de Janeiro; Minas Gerais; Espírito Santo; São Paulo; Santa Catarina e Ceará.<br />
(SANTOS, s/d)<br />
O movimento de reconhecimento e fortalecimento dos métodos resolução<br />
alternativa de disputas se fortaleceu após a Reforma do Judiciário e a criação do CNJ em<br />
2004. Logo surgiu o movimento pela conciliação em 2006, que já foi tratado no primeiro<br />
capítulo, aprofun<strong>da</strong>ndo os esforços de aplicação uniforme e ampla em todo o território<br />
nacional dos métodos de conciliação e mediação, pois ambos ain<strong>da</strong> eram confundidos como<br />
se referindo a um mesmo método de RAD, mesmo após os trabalhos e pesquisas existentes<br />
tratando sobre a diferença entre esses dois métodos de RADs, não havia um conhecimento<br />
geral e público acerca dos diferentes métodos existentes, como não ocorre até o presente<br />
com os outros métodos além dos institucionalizados pelo CNJ.<br />
Segundo a professora e pesquisadora A<strong>da</strong> Pellegrini Grinover (2012, p.95), a<br />
mediação e os métodos de RADs estão sendo mais estimulados e conhecidos pela<br />
população,<br />
A iniciativa <strong>da</strong> mediação está tomando impulso no Brasil. A criação de centros de<br />
arbitragem, em decorrência <strong>da</strong> Lei no 9.307/96, também ocasionou a abertura<br />
dessas instituições à mediação, que floresceu em todo o país, implementando<br />
ain<strong>da</strong> a atuação de mediadores independentes. Órgãos públicos e instituições
72<br />
particulares organizam cursos de capacitação de mediadores. As facul<strong>da</strong>des de<br />
direito incluem em seus currículos disciplinas volta<strong>da</strong>s para os chamados<br />
métodos alternativos (rectius, complementares) de solução de controvérsias. E,<br />
entre esses métodos (de heterocomposição 9 — pela arbitragem — e de<br />
autocomposição 10 — principalmente pela conciliação e mediação), a solução<br />
consensua<strong>da</strong> pelas partes ocupa lugar de destaque.<br />
Com a política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de<br />
interesses, cria<strong>da</strong> pelo CNJ, a mediação vem se destacando como método mais adequado<br />
para resolver os conflitos de forma rápi<strong>da</strong>, eficaz e que tem o potencial de proporcionar<br />
uma potencial pacificação social, uma vez que pode tratar de conflitos que carregam uma<br />
forte “bagagem” emocional e que as partes são obriga<strong>da</strong>s a ter um relacionamento<br />
duradouro. Assim,<br />
A mediação constitui um processo de transformar antagonismos em<br />
convergências, não obrigatoriamente em concordâncias, por meio <strong>da</strong> intervenção<br />
de um terceiro escolhido pelas partes. [...] O campo fértil <strong>da</strong> mediação, encontrase,<br />
pois nos conflitos onde predominam questões emocionais, oriun<strong>da</strong>s de<br />
relacionamentos interpessoais intensos e, em geral, de longa duração. Ca<strong>da</strong> caso<br />
é único porque as pessoas são singulares. [...] A mediação aplica-se a substancial<br />
parte dos conflitos (familiares, trabalhistas, societários, religiosos, étnicos,<br />
politico-partidários, ambientais etc) porque, em essência, eles constituem<br />
conflitos de longa duração, entre pessoas que deverão manter algum tipo de<br />
relacionamento futuro; [...] (grifo original) (FIORELLI; FIORELLI;<br />
MALHADAS JR., 2008, p.58-59)<br />
A mediação surge como alternativa não adversarial de solução do conflito,<br />
dependendo <strong>da</strong> natureza do impasse e do grau de envolvimento emocional <strong>da</strong>s partes,<br />
quando a negociação ou outro tipo de tentativa de resolução ficar bloquea<strong>da</strong>. Ela se realiza<br />
através <strong>da</strong> intermediação de um terceiro imparcial buscando facilitar um entendimento<br />
entre as próprias partes envolvi<strong>da</strong>s no conflito. Nesse processo, as partes são autoras e o<br />
9 A heterocomposição ocorre quando o conflito é solucionado através <strong>da</strong> intervenção de um agente exterior à<br />
relação conflituosa original. É que, ao invés de isola<strong>da</strong>mente ajustarem a solução de sua controvérsia, as<br />
partes (ou até mesmo uma delas unilateralmente, no caso <strong>da</strong> jurisdição) submetem a terceiro seu conflito, em<br />
busca de solução a ser por ele firma<strong>da</strong> ou, pelo menos, por ele instiga<strong>da</strong> ou favoreci<strong>da</strong>. (DELGADO, 2002, p.<br />
664)<br />
10 [...] autocomposição (a qual, de resto, perdura residualmente no direito moderno): uma <strong>da</strong>s partes em<br />
conflito, ou ambas, abrem mão do interesse ou de parte dele. São três formas de autocomposição (as quais, de<br />
certa maneira, sobrevivem até hoje com referência aos interesses disponíveis): a) desistência (renúncia à<br />
pretensão); b) submissão (renúncia à resistência ofereci<strong>da</strong> à pretensão); c) transação (concessões recíprocas).<br />
To<strong>da</strong>s essas soluções tem em comum a circunstância de serem parciais – no sentido de que dependem <strong>da</strong><br />
vontade e <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de de uma ou de ambas as partes envolvi<strong>da</strong>s. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO ,<br />
2005, p.23)
73<br />
mediador apenas aju<strong>da</strong> na aproximação e no entendimento <strong>da</strong>s peculiari<strong>da</strong>des e problemas<br />
acarretados pelo conflito. (GARCEZ, 2004)<br />
Na evolução estudos sobre mediação, o conceito foi sendo apropriado e expandido<br />
por diferentes grupos de pesquisadores, sofrendo diferentes abor<strong>da</strong>gens que a professora<br />
Lilia Sales (2012, p.144) di<strong>da</strong>ticamente explicita “[...] para eles to<strong>da</strong>s elas são considera<strong>da</strong>s<br />
conceitualmente mediação de conflitos, com peculiari<strong>da</strong>des/abor<strong>da</strong>gens específicas para se<br />
adequarem aos conflitos vivenciados. São elas: mediação avaliativa, mediação facilitativa e<br />
a mediação transformativa”.<br />
Por fim, no sentido de abor<strong>da</strong>r os valores positivos que a mediação pode agregar<br />
às relações sociais, a pesquisadora Tânia Almei<strong>da</strong> (s/d) ressalta o caráter educativo, sigiloso<br />
e os efeitos secundários que podem ser originados a partir <strong>da</strong> utilização desse método de<br />
resolução alternativa de disputas,<br />
Tendo como princípio fun<strong>da</strong>mental a Autonomia <strong>da</strong> Vontade, a Mediação é<br />
recurso para ser eleito por quem está disponível para atuar com boa fé e a rever as<br />
posições anteriormente adota<strong>da</strong>s nas tentativas de resolução do desacordo; [...] e<br />
por quem prezar a relação pessoal ou de convivência com aquele que litiga ou<br />
dela não puder prescindir. A preservação <strong>da</strong> relação entre os envolvidos no<br />
processo de Mediação e a identificação e aprendizado sobre a própria capaci<strong>da</strong>de<br />
negocial são ganhos secundários desse processo. A Mediação tem nos interesses<br />
comuns dos litigantes e na satisfação mútua o seu objeto. É um processo<br />
destinado a articular esses interesses e a buscar atender todos aqueles neles<br />
envolvidos, direta ou indiretamente, afastando-os <strong>da</strong> adversariali<strong>da</strong>de provoca<strong>da</strong><br />
pelos resultados em que alguém perde e alguém ganha. Ela tem por objetivo a<br />
Autoria <strong>da</strong>s partes para a solução construí<strong>da</strong>, elemento essencial <strong>da</strong> satisfação<br />
mútua e <strong>da</strong> disponibili<strong>da</strong>de para o cumprimento do acordo dela advindo.<br />
Por isso, o Ministro <strong>da</strong> Justiça José Eduardo Cardozo (2012, p.10) entende que a<br />
mediação se torna um dos melhores instrumentos para aju<strong>da</strong>r a concretizar o ideal de<br />
justiça, pois<br />
Por meio <strong>da</strong> mediação, o conceito de Justiça apresenta-se como um valor<br />
adequa<strong>da</strong>mente estabelecido, por meio de um procedimento equânime que auxilie<br />
as partes a produzir resultados satisfatórios, considerando o pleno conhecimento<br />
delas quanto ao contexto fático e jurídico em que se encontram. Portanto, na<br />
mediação, a justiça se concretiza na medi<strong>da</strong> em que as próprias partes foram<br />
adequa<strong>da</strong>mente estimula<strong>da</strong>s à produção <strong>da</strong> solução de forma consensual e, tanto<br />
pela forma como pelo resultado, encontram-se satisfeitas.
74<br />
Portanto, como se pode perceber, a mediação está sendo ca<strong>da</strong> vez mais conheci<strong>da</strong>,<br />
estu<strong>da</strong><strong>da</strong> e utiliza<strong>da</strong> pelos usuários <strong>da</strong> justiça, ain<strong>da</strong> pela institucionalização empreendi<strong>da</strong><br />
pela política pública nacional de mediação e conciliação do CNJ.<br />
4.3 OUTROS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE<br />
DISPUTAS – RADS<br />
Os métodos de resolução alternativa de disputas (RADs) ou alternatives dispute<br />
resolutions (ADR´s, em inglês) foram organizados e estruturados como campo de estudos e<br />
práticas, como já foi falado nesse trabalho, após a palestra do professor Frank Sander na<br />
Pound Conference em 1976.<br />
Embora esses métodos sejam chamados de alternativos, ou seja, diferentes do<br />
método processual tradicional, o qual uma deman<strong>da</strong> é decidi<strong>da</strong> via sentença adjudica<strong>da</strong><br />
(decisão imposta por um terceiro às partes), não se deseja expressar como meios<br />
concorrentes ou contrapostos ao Poder Judiciário, por isso, alguns autores utilizam a<br />
nomenclatura “adequados”, “extrajudicial”, “meios de pacificação”, dentre outros.<br />
(CAETANO, 2006)<br />
aspecto que<br />
A juíza Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari (2011, p. 231) ressalta ain<strong>da</strong> sobre esse<br />
Os métodos consensuais (ou “alternativos”) de solução de conflitos não podem<br />
ser vistos apenas como meios ou métodos praticados fora do Poder Judiciário,<br />
como sugere o adjetivo “alternativo”, utilizado para qualifica-los, mas devem ser<br />
vistos também como importantes instrumentos, à disposição do próprio Poder<br />
Judiciário, para a realização do princípio constitucional do acesso à Justiça,<br />
havendo uma complementari<strong>da</strong>de entre a solução adjudica<strong>da</strong>, típica do Poder<br />
Judiciário, e as soluções não adjudica<strong>da</strong>s.<br />
Assim, a utilização dos procedimentos “paraprocessuais” ou “metaprocessuais”<br />
servem para complementar a via instrumental, evidenciando uma ordenamento<br />
“pluriprocessual”, “visando o melhor atingimento de seus escopos fun<strong>da</strong>mentais, ou, até
75<br />
mesmo, que atinjam metas não pretendi<strong>da</strong>s diretamente no processo heterocompositivo<br />
judicial”. (AZEVEDO, 2011, p. 14)<br />
O professor e pesquisador <strong>da</strong> Facul<strong>da</strong>de de Direito <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Harvard,<br />
Robert Mnookin (1998, p.01), construiu o seguinte conceito de ADR,<br />
Resolução alternativa de litígios (ADR) se refere a um conjunto de práticas e<br />
técnicas que visam permitir a resolução de litígios fora dos tribunais.<br />
Normalmente é pensado para abranger a mediação, a arbitragem, e uma varie<strong>da</strong>de<br />
de processos "híbridos" pelos quais um neutro facilita a resolução de litígios sem<br />
julgamento formal. Essas alternativas para a adjudicação são defendi<strong>da</strong>s em uma<br />
varie<strong>da</strong>de de motivos. Benefícios potenciais são ditos incluem a redução dos<br />
custos de transação de resolução de disputas, porque os processos de ADR podem<br />
ser mais baratos e mais rápidos do que processos judiciais comuns, a criação de<br />
resoluções que são mais adequa<strong>da</strong>s para os interesses subjacentes <strong>da</strong>s partes e<br />
necessi<strong>da</strong>des, e de melhor cumprimento posterior dos termos do acordo. 11<br />
(tradução livre)<br />
Para ampliar o conceito exposto acima, colaciona-se o entendimento de Yona<br />
Shamir (s/d), pesquisadora, professora e Diretora do Centro Israelense para Negociação e<br />
Mediação (ICNM, em inglês), sobre ADR´s,<br />
Resolução Alternativa de Litígios (ADR, por vezes, também chamado de<br />
"Resolução Apropria<strong>da</strong> de Disputa") é um termo geral, usado para definir um<br />
conjunto de métodos e técnicas no sentido de resolver os litígios de forma nãoconfrontacional.<br />
Ele abrange um amplo espectro de abor<strong>da</strong>gens, negociações<br />
engaja<strong>da</strong>s de parte para parte como o caminho mais direto para chegar a uma<br />
solução mutuamente aceita, sendo a arbitragem e o julgamento na outra<br />
extremi<strong>da</strong>de, onde uma parte externa impõe uma solução. Em algum lugar ao<br />
longo do eixo <strong>da</strong>s abor<strong>da</strong>gens de ADRs entre esses dois extremos há "mediação",<br />
um processo pelo qual um terceiro auxilia os litigantes para chegar a uma solução<br />
mutuamente acor<strong>da</strong><strong>da</strong>. 12 (tradução livre)<br />
11 Alternative dispute resolution (ADR) refers to a set of practices and techniques aimed at permitting the<br />
resolution of legal disputes outside the courts. It is normally thought to encompass mediation, arbitration, and<br />
a variety of “hybrid” processes by which a neutral facilitates the resolution of legal disputes without formal<br />
adjudication. These alternatives to adjudication are advocated on a variety of grounds. Potential benefits are<br />
said to include the reduction of the transaction costs of dispute resolution because ADR processes may be<br />
cheaper and faster than ordinary judicial proceedings; the creation of resolutions that are better suited to the<br />
parties’ underlying interests and needs; and improved ex post compliance with the terms of the resolution.<br />
12 Alternative Dispute Resolution (ADR, sometimes also called “Appropriate Dispute Resolution”) is a<br />
general term, used to define a set of approaches and techniques aimed at resolving disputes in a nonconfrontational<br />
way. It covers a broad spectrum of approaches, from party-to-party engagement in<br />
negotiations as the most direct way to reach a mutually accepted resolution, to arbitration and adjudication at<br />
the other end, where an external party imposes a solution. Somewhere along the axis of ADR approaches
76<br />
Nesse mesmo sentido, buscando no primeiro momento, não deixar dúvi<strong>da</strong>s sobre o<br />
conceito <strong>da</strong>s ADR´s para depois relacionar quais são os outros os métodos abrangidos por<br />
essa terminologia, tem-se a necessi<strong>da</strong>de de citar o entendimento <strong>da</strong> Agência dos Estados<br />
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, em inglês) acerca do conceito de<br />
ADR´s,<br />
O termo "resolução alternativa de disputas" ou "ADR" é muitas vezes usado para<br />
descrever uma ampla varie<strong>da</strong>de de mecanismos de resolução de conflitos que são<br />
a curto prazo, ou uma alternativa para, processos judiciais de grande escala. O<br />
termo pode referir-se a tudo, desde as negociações de liqui<strong>da</strong>ção facilita<strong>da</strong> onde<br />
os disputantes são incentivados a negociar diretamente um com o outro antes de<br />
algum outro processo legal, a sistemas de arbitragem ou mini-julgamentos que<br />
parecem muito com um processo de tribunal. Processos destinados a gerir a<br />
tensão <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de ou facilitar as questões de desenvolvimento <strong>da</strong><br />
comuni<strong>da</strong>de também podem ser incluídos dentro <strong>da</strong> rubrica de ADR. Sistemas de<br />
ADR podem ser geralmente classificados como negociação, conciliação /<br />
mediação, ou sistemas de arbitragem. 13 (tradução livre)<br />
O professor e pesquisador Petrônio Calmon (2008, p. 89) ressalta a importância <strong>da</strong><br />
utilização de quaisquer métodos alternativos que almeje a pacificação social, uma vez que,<br />
é essencial<br />
[...] reforçar a necessi<strong>da</strong>de de se valer de todos os mecanismos adequados para<br />
que sejam solucionados os diversos tipos de conflitos, tanto pelo meio<br />
autocompositivo quanto heterocompositivo. Não se pode descartar qualquer<br />
sistema idôneo e consentâneo com a cultura e o anseio <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des. Trata-se<br />
de criar e aprimorar sistemas multiportas, denominação inspira<strong>da</strong> em experiências<br />
norte-americanas (como se verá adiante), bastante apropria<strong>da</strong> para definir a<br />
prática de meios adequados de solução de conflitos.<br />
between these two extremes lies “mediation,” a process by which a third party aids the disputants to reach a<br />
mutually agreed solution.<br />
13 The term "alternative dispute resolution"or "ADR" is often used to describe a wide variety of dispute<br />
resolution mechanisms that are short of, or alternative to, full-scale court processes. The term can refer to<br />
everything from facilitated settlement negotiations in which disputants are encouraged to negotiate directly<br />
with each other prior to some other legal process, to arbitration systems or minitrials that look and feel<br />
very much like a courtroom process. Processes designed to manage community tension or facilitate<br />
community development issues can also be included within the rubric of ADR. ADR systems may be<br />
generally categorized as negotiation, conciliation/mediation, or arbitration systems.
77<br />
Algumas associações nacionais e internacionais produzem documentos,<br />
experiências e regulamentos para diversos métodos de resolução alternativa de disputas,<br />
com a finali<strong>da</strong>de de prepara-los para serem utilizados em conflitos que necessitem de sigilo,<br />
celeri<strong>da</strong>de, informali<strong>da</strong>de, opção de escolher os mediadores, árbitros ou especialistas na<br />
temática na qual se fun<strong>da</strong>menta a disputa e outras pessoas que auxiliarão durante o<br />
procedimento, além de despender custos menores do que teria no sistema judicial e <strong>da</strong> não<br />
obrigatorie<strong>da</strong>de de contratar advogados.<br />
Os serviços de resolução alternativa de disputas são oferecidos por algumas<br />
instituições como: American Arbitration Association (AAA); London Court of<br />
International Arbitration (LCIA), International Chamber of Commerce (ICC), as Cortes de<br />
Justiça Estaduais dos EUA (Califórnia, Maryland, Massachusetts etc), Instituto de<br />
Mediação e Arbitragem do Brasil (IMAB), Conselho Nacional <strong>da</strong>s Instituições de<br />
Mediação e Arbitragem (CONIMA), MEDIARE, Instituto Nacional de Mediação e<br />
Arbitragem (INAMA), Câmara de Conciliação e Arbitragem nas Relações Comerciais e<br />
Consumo (CCONAR), Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Federações de<br />
Indústrias Estaduais, que oferecem outros métodos de RADs além <strong>da</strong> conciliação e<br />
mediação judicial ou extrajudicial.<br />
Os métodos de RADs mais comuns oferecidos às partes em conflito por essas<br />
instituições são geralmente a conciliação, a mediação e a arbitragem, porém, Calmon<br />
(2008, p. 96) ressalta que “[...] algumas mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>des de ADR (alternative dispute<br />
resolution), pratica<strong>da</strong>s sobretudo nos Estados Unidos, são, em reali<strong>da</strong>de, subespécies <strong>da</strong><br />
arbitragem, não sendo, portanto, mecanismos para a obtenção <strong>da</strong> autocomposição, mas sim<br />
para a obtenção <strong>da</strong> heterocomposição.”<br />
A partir disso, serão listados alguns métodos pouco descritos ou comentados pela<br />
doutrina brasileira, de acordo com a divisão feita por Petrônio Calmon (2008), umas <strong>da</strong>s<br />
mais abrangentes em língua portuguesa:<br />
Métodos que objetivam a heterocomposição: jurisdição (estatal); arbitragem;<br />
perícia arbitral, arbitragem baseball (ou de última oferta – final offer),<br />
arbitragem night baseball, arbitragem bounded ou high-low, court-annexed
78<br />
arbitration, rente a judge, mediação em conjunto com arbitragem,<br />
mediação-arbitragem (med-arb), arbitragem-mediação (arb-med);<br />
Métodos que objetivam a autocomposição vinculados à justiça estatal (courtannexed):<br />
avaliação neutra de terceiro (early neutral evaluation),<br />
confidential listener, summary jury trial, neutral fact-finder, expert factfinder,<br />
jointed fact-finder, special master, focused group, conciliação, courtannexed<br />
mediation; e,<br />
Métodos que objetivam a autocomposição de caráter exclusivamente<br />
privado: arbitragem não-vinculante, arbitragem incentive, mini-trial, ouvidor<br />
(ombudsman), programas de reclamações, negociação, mediação.<br />
Não se faz necessário descrever pormenoriza<strong>da</strong>mente ca<strong>da</strong> método citado, pois o<br />
objetivo desse capítulo é deixar bem claro as bases teóricas que deram suporte à publicação<br />
<strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ, a política judiciária nacional de tratamento adequado<br />
dos conflitos de interesses, e servem de base para a implementação dessa política pública<br />
nacional.<br />
Os métodos que foram aprofun<strong>da</strong>dos no presente capítulo, foram os dois métodos<br />
de RADs que a referi<strong>da</strong> política pública do CNJ decidiu regulamentar com maior<br />
profundi<strong>da</strong>de, a partir do histórico do desenvolvimento na doutrina e legislação e <strong>da</strong>s<br />
experiências realiza<strong>da</strong>s tanto no Poder Judiciário como no âmbito privado <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
civil.<br />
Suporte esse que já ficou explícito quando se falou do conceito de Tribunais ou<br />
Fóruns Multiportas, experiência nova a ser operacionaliza<strong>da</strong> pelo sistema de justiça<br />
brasileiro com o objetivo de resolver, como muitos autores e pesquisadores acreditam, a<br />
“crise” do Poder Judiciário, além de transformar a mentali<strong>da</strong>de “adversarial-processual”<br />
tradicional dos usuários e operadores do Direito sobre a resolução dos conflitos de<br />
interesses. (BACELLAR, 2011)
79<br />
No próximo capítulo, será trabalha<strong>da</strong> a dinâmica normativa <strong>da</strong> nova estrutura<br />
institucional cria<strong>da</strong> pela Resolução nº 125 do CNJ volta<strong>da</strong> para a institucionalização dos<br />
métodos de RADs, que teve as bases teóricas explicita<strong>da</strong>s no presente capítulo.
80<br />
5 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE TRATAMENTO<br />
ADEQUADO DOS CONFLITOS DE INTERESSE –<br />
RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE<br />
JUSTIÇA<br />
No dia 29 de novembro de 2010, dia <strong>da</strong> abertura <strong>da</strong> Semana Nacional de<br />
Conciliação de 2010, que teve como slogan “Conciliando a gente se entende, a justiça<br />
brasileira precisa de você. <strong>Conciliar</strong> economiza tempo, dinheiro e promove paz social”, foi<br />
publica<strong>da</strong> a Resolução nº 125 do CNJ - Política Judiciária Nacional de tratamento adequado<br />
dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.<br />
Essa nova política pública que visa efetuar uma pacificação <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de através<br />
de uma mu<strong>da</strong>nça de comportamento e mentali<strong>da</strong>de, além de tentar diminuir a sobrecarga de<br />
processos que entram no sistema de forma repetitiva, foi sinaliza<strong>da</strong> desde o início <strong>da</strong> gestão<br />
do Ministro do STF Antonio Cezar Peluso (2010) frente à presidência do STF e CNJ em<br />
abril de 2010, já no seu discurso de posse ele ressaltou que,<br />
Ora, as rápi<strong>da</strong>s transformações por que vivem passando, sobretudo nas últimas<br />
déca<strong>da</strong>s, a socie<strong>da</strong>de brasileira, tem agravado esse quadro lastimável, em virtude<br />
<strong>da</strong> simultânea e natural expansão de conflituosi<strong>da</strong>de de interesses que,<br />
desaguando no Poder Judiciário, o confronta com sobrecarga insuportável de<br />
processos, em to<strong>da</strong>s as latitudes do seu aparato burocrático. E uma <strong>da</strong>s causas<br />
proeminentes desse fenômeno está, como bem acentua o Des. Kazuo Watanabe,<br />
na falta de uma política pública menos ortodoxa do Poder Judiciário em<br />
relação ao tratamento dos conflitos de interesses. (grifo nosso)<br />
Ain<strong>da</strong> no seu discurso, o presidente do STF e CNJ continuou destacando a<br />
importância <strong>da</strong> institucionalização dos métodos de resolução alternativa de disputas<br />
(RADs) e o potencial de mu<strong>da</strong>nça que esses métodos podem realizar no seio <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de<br />
brasileira,<br />
O mecanismo judicial, hoje disponível para <strong>da</strong>r-lhes resposta, é a velha solução<br />
adjudica<strong>da</strong>, que se dá mediante produção de sentenças e, em cujo seio, sob<br />
influxo de uma arraiga<strong>da</strong> cultura <strong>da</strong> dilação, proliferam os recursos inúteis e as
81<br />
execuções extremamente morosas e, não raro, ineficazes. É tempo, pois, de, sem<br />
prejuízo doutras medi<strong>da</strong>s, incorporar ao sistema os chamados meios alternativos<br />
de resolução de conflitos, que, como instrumental próprio, sob rigorosa<br />
disciplina, direção e controle do Poder Judiciário, sejam oferecidos aos ci<strong>da</strong>dãos<br />
como mecanismos facultativos de exercício <strong>da</strong> função constitucional de resolver<br />
conflitos. Noutras palavras, é preciso institucionalizar, no plano nacional, esses<br />
meios como remédios jurisdicionais facultativos, postos alternativamente à<br />
disposição dos jurisdicionados, e de cuja adoção o desafogo dos órgãos judicantes<br />
e a maior celeri<strong>da</strong>de dos processos, que já serão avanços muito por festejar,<br />
representarão mero subproduto de uma transformação social ain<strong>da</strong> mais<br />
importante, a qual está na mu<strong>da</strong>nça de mentali<strong>da</strong>de em decorrência <strong>da</strong><br />
participação decisiva <strong>da</strong>s próprias partes na construção de resultado que,<br />
pacificando, satisfaça seus interesses. (PELUSO, 2010)<br />
Como já foi dito no segundo capítulo deste trabalho, a implementação dessa<br />
política pública de âmbito nacional transformou o paradigma <strong>da</strong> política nacional de<br />
conciliação anterior que previa eventos de tipo mutirões temáticos e concentravam as ações<br />
numa semana específica durante o ano para uma política pública permanente e duradoura<br />
através de objetivos estratégicos e eficiência operacional, segundo Fernan<strong>da</strong> Levy et al<br />
(2011, p.03),<br />
O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio <strong>da</strong> Resolução em comento, tem<br />
por objetivo a consoli<strong>da</strong>ção de uma política permanente de incentivo e<br />
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, e não tãosomente<br />
ações pontuais. A concepção de permanência oferece segurança e<br />
perspectiva a longo prazo, para que os Tribunais e seus usuários possam<br />
desenvolver ações firmes e rever rumos, quando necessário.<br />
O Conselho Nacional de Justiça direciona para objetivos estratégicos do Poder<br />
Judiciário e sua eficiência operacional, terminologia que aponta para a adoção de<br />
técnicas de gestão, considerando que administrar a engrenagem judiciária é<br />
também um dos recursos de oferta de acesso à ordem jurídica justa.<br />
Essa política pública nacional aprofundou e ampliou o relativo sucesso do modelo<br />
de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas tendo o Poder Judiciário<br />
como “alvo” ou “objeto” que o CNJ vem desenvolvendo desde o início de suas ativi<strong>da</strong>des<br />
em 2005, ain<strong>da</strong>, a Resolução fortalece e institucionaliza outras ações que tiveram como<br />
objetivo difundir e <strong>da</strong>r visibili<strong>da</strong>de aos métodos de Resolução Alternativa de Disputas<br />
(RADs), ou como ressalta o Ministério <strong>da</strong> Justiça (2012, p. 281) “Resolução Adequa<strong>da</strong> de<br />
Disputas”,
82<br />
A criação <strong>da</strong> Resolução 125 do CNJ foi decorrente <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de se<br />
estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento de práticas já<br />
adota<strong>da</strong>s pelos tribunais. Desde a déca<strong>da</strong> de 90, houve estímulos na legislação<br />
processual à autocomposição, acompanha<strong>da</strong> na déca<strong>da</strong> seguinte de diversos<br />
projetos piloto nos mais diversos campos <strong>da</strong> autocomposição: mediação civil,<br />
mediação comunitária, mediação vítima-ofensor (ou mediação penal), conciliação<br />
previdenciária, conciliação em desapropriações, entre muitos outros. Bem como<br />
práticas autocompositivas inomina<strong>da</strong>s como oficinas para dependentes químicos,<br />
grupos de apoio e oficinas para prevenção de violência doméstica, oficinas de<br />
habili<strong>da</strong>des emocionais para divorciandos, oficinas de prevenção de<br />
sobreendivi<strong>da</strong>mento, entre outras.<br />
Como já foi referi<strong>da</strong> anteriormente, essa política pública de abrangência nacional<br />
mudou o paradigma <strong>da</strong> aplicação dos métodos de resolução alternativa de disputas (RADs,<br />
ou ADR´s, em inglês), uma vez que o foco <strong>da</strong> política de conciliação anterior eram os<br />
eventos temáticos concentrados em mutirões de conciliação delimitados em uma<br />
determina<strong>da</strong> semana, geralmente no mês de dezembro de ca<strong>da</strong> ano.<br />
Ain<strong>da</strong>, nesse sentido, Braga Neto (2008, p. 20-21) refere-se a outro paradigma que<br />
os métodos alternativos de resolução de disputas, principalmente a mediação, tentam<br />
modificar na mentali<strong>da</strong>de dos usuários dos serviços públicos judiciais,<br />
A socie<strong>da</strong>de brasileira está acostuma<strong>da</strong> e acomo<strong>da</strong><strong>da</strong> ao litígio e ao célere<br />
pressuposto básico de que a justiça só se alcança a partir de uma decisão<br />
proferi<strong>da</strong> pelo juiz togado. Decisão esta muitas vezes restrita a aplicação pura e<br />
simples de uma previsão legal, o que explica o vasto universo de normas no<br />
ordenamento jurídico nacional, que buscam pelo menos a amenizar a ansie<strong>da</strong>de<br />
do ci<strong>da</strong>dão brasileiro em ver aplica<strong>da</strong> regras mínimas para a regulação <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de. [...] Tudo isso é fruto dos paradigmas de nossa socie<strong>da</strong>de, onde ela<br />
está estrutura<strong>da</strong> e de onde provem o seu próprio equilíbrio interno. Na<strong>da</strong> mais<br />
lógico, portanto, que envere<strong>da</strong>r pelo caminho do preconceito, já que o novo é<br />
muito desconhecido e poderá levar a resultados inesperados ou mesmo<br />
imprevisíveis.<br />
Com a nova política pública nacional do Conselho, o foco novamente se voltou<br />
para a implementação permanente de métodos consensuais alternativos de solução de<br />
conflitos, principalmente no momento pré-processual, ou como audiência preliminar do rito<br />
processual civil, como já constava no Código de Processo Civil brasileiro,<br />
CAPÍTULO VII<br />
DA AUDIÊNCIA
83<br />
[...]<br />
Seção II<br />
Da Conciliação<br />
Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o<br />
juiz, de ofício, determinará o comparecimento <strong>da</strong>s partes ao início <strong>da</strong> audiência<br />
de instrução e julgamento.<br />
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a<br />
conciliação, nos casos e para os fins em que a lei consente a transação.<br />
Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando<br />
a acordo, o juiz man<strong>da</strong>rá tomá-lo por termo.<br />
Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz,<br />
terá valor de sentença. (Código de Processo Civil – Lei nº 5.869/73)<br />
9.099/99),<br />
E no procedimento dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais (Lei nº<br />
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.<br />
Seção V<br />
Do pedido<br />
Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a<br />
Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de<br />
quinze dias.<br />
Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a<br />
sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.<br />
[...]<br />
Seção VIII<br />
Da Conciliação e do Juízo Arbitral<br />
Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes<br />
sobre as vantagens <strong>da</strong> conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências<br />
do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.<br />
Art. 22. A conciliação será conduzi<strong>da</strong> pelo Juiz togado ou leigo ou por<br />
conciliador sob sua orientação.<br />
Embora na legislação nacional já estivesse regulamenta<strong>da</strong> a tentativa obrigatória<br />
de se tentar a conciliação antes <strong>da</strong> audiência de instrução e julgamento nos procedimentos<br />
sumário e ordinário do processo civil, nos juizados especiais e no procedimento arbitral<br />
“Art. 21. [...] § 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento,<br />
tentar a conciliação <strong>da</strong>s partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei.” (Lei nº<br />
9.307/96), porém, essas exigências legais foram sendo banaliza<strong>da</strong>s pela rotina forense e os<br />
pelos problemas oriundos do aumento <strong>da</strong> litigiosi<strong>da</strong>de, fazendo com que os requisitos legais<br />
para se tentar a resolução do conflito fosse encarado como mais uma etapa protelatória ou<br />
um obstáculo à prestação jurisdicional célere e eficiente. Esse cenário acabou desvirtuando
84<br />
a finali<strong>da</strong>de social do uso que a conciliação judicial poderia impactar na resolução concreta<br />
dos conflitos de interesses.<br />
Não obstante a importância e os esforços empreendidos para que a conciliação<br />
fosse positiva<strong>da</strong> em nosso sistema judicial, a audiência preliminar de conciliação,<br />
regulamenta<strong>da</strong> pelas legislações já cita<strong>da</strong>s anteriormente, é utiliza<strong>da</strong> ou aproveita<strong>da</strong>, muitas<br />
vezes, de maneira protelatória por advogados <strong>da</strong>s partes constantes no polo passivo <strong>da</strong>s<br />
deman<strong>da</strong>s, em razão <strong>da</strong> falta de infraestrutura física adequa<strong>da</strong>, capacitação de recursos<br />
humanos nas técnicas de conciliação e por falta total de remuneração, além do acúmulo de<br />
processos que entram e que são julgados pelo sistema, como se observa na prática forense<br />
diária e nas discussões, em 2011, acerca <strong>da</strong> elaboração do novo código de processo civil no<br />
Senado Federal,<br />
A proposta de tornar a busca de acordo um passo obrigatório <strong>da</strong> tramitação <strong>da</strong>s<br />
ações cíveis causou polêmica na reunião desta terça-feira (13) <strong>da</strong> comissão<br />
especial que analisa o projeto de novo Código de Processo Civil (PL 8046/10). O<br />
incentivo ao acordo entre as partes por meio de conciliação e mediação é uma <strong>da</strong>s<br />
principais inovações do texto.<br />
Na avaliação do deputado Vicente Arru<strong>da</strong> (PR-CE) e do advogado processualista<br />
William Santos Ferreira, os tribunais não têm estrutura de conciliadores<br />
suficiente para a nova deman<strong>da</strong> e, por isso, o dispositivo pode adiar mais ain<strong>da</strong> a<br />
resolução do processo. “Se o Judiciário tiver estrutura com mediadores, isso pode<br />
funcionar. Mas, se não existir essa estrutura, é possível que se demore um ou dois<br />
anos para marcar uma audiência e impedir que a parte inicie o processo”,<br />
comentou o advogado. Para ele, o ideal é que a Câmara defina um prazo máximo<br />
para a realização <strong>da</strong> audiência que busca o acordo e que, passado esse prazo, a<br />
ação possa prosseguir. (Câmara, 2011)<br />
As posições acima são reforça<strong>da</strong>s pelo professor e pesquisador <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de<br />
São Paulo (USP), Antônio Cláudio <strong>da</strong> Costa Machado, através de algumas <strong>da</strong>s suas 95 teses<br />
contra o Novo Código de Processo Civil (MACHADO, 2012),<br />
[...]<br />
Tese 12. Embora boa a intenção de fazer com que todo processo se inicie com<br />
uma audiência de tentativa de conciliação – o que o Projeto consagra – sua<br />
realizabili<strong>da</strong>de prática no Brasil não se mostra possível, por conta dos inúmeros<br />
problemas de infra-estrutura <strong>da</strong> nossa Justiça<br />
[...]<br />
Tese 18. Para fazer funcionar o sistema de conciliação prévia na<br />
Justiça de São Paulo, por exemplo, serão necessários alguns milhares de
85<br />
conciliadores. Quem pagará por este trabalho se faltam recursos até mesmo para<br />
atender às necessi<strong>da</strong>des materiais básicas dos cartórios existentes?<br />
[...]<br />
Tese 40. A idéia de obrigatória tentativa de conciliação prévia já se encontra<br />
consagra<strong>da</strong> na Lei dos Juizados Especiais e se tem revelado incapaz de agilizar a<br />
tramitação processual, já que uma audiência chega a levar vários meses para ser<br />
marca<strong>da</strong> em São Paulo, por exemplo.<br />
Por todos esses problemas relatados junto a explosão de litigiosi<strong>da</strong>de narra<strong>da</strong> e<br />
constata<strong>da</strong> em trabalhos e estudos sobre os gargalos do Poder Judiciário que formaram um<br />
conjunto de fatores de pressão para que ocorresse em 2004 a espera<strong>da</strong> Reforma do sistema<br />
<strong>da</strong> justiça brasileira, explicita<strong>da</strong> no segundo capítulo desse trabalho, também serviu para<br />
reformular, ampliar e aproximar o acesso dos usuários do sistema aos métodos de RADs<br />
através <strong>da</strong> proposta conceitual dos “Tribunais Multiportas”, já falado no capítulo anterior,<br />
que o CNJ tenta implantar no país com a Resolução nº 125/2010.<br />
A criação <strong>da</strong> Resolução do CNJ veio reforçar a ideia de que é preciso aplicar de<br />
forma responsável e adequa<strong>da</strong> a legislação cita<strong>da</strong> anteriormente sobre a conciliação judicial<br />
e propiciar a realização <strong>da</strong>s RADs também dentro do Poder Judiciário de forma pré-judicial<br />
e judicial, durante todo o processo, como também, criar infraestrutura, capacitar<br />
mediadores e conciliadores, prevendo salários para essas funções, diminuir as<br />
desigual<strong>da</strong>des regionais nessa temática para que seja cria<strong>da</strong> uma cultura de conciliação e<br />
mediação extrajudicial e em último caso, judicial, mas sempre resolvendo os conflitos de<br />
interesses de forma plena e satisfatória para os usuários <strong>da</strong> justiça brasileira.<br />
As matérias mais importantes trata<strong>da</strong>s pela política do CNJ, de acordo o professor<br />
Kazuo Watanabe (2011, p. 09), foram:<br />
[...] a) atualização do conceito de acesso à justiça, não como mero acesso aos<br />
órgãos judiciários e aos processos contenciosos, e, sim, como acesso à ordem<br />
jurídica justa; b) direito de todos os jurisdicionados à solução dos conflitos de<br />
interesses pelos meios mais adequados a sua natureza e peculiari<strong>da</strong>de, inclusive<br />
com a utilização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como a<br />
mediação e a conciliação; c) obrigatorie<strong>da</strong>de de oferecimento de serviços de<br />
orientação e informação e de mecanismos alternativos de resolução de<br />
controvérsias, além <strong>da</strong> solução adjudica<strong>da</strong> por meio de sentença; d) preocupação<br />
pela boa quali<strong>da</strong>de desses serviços de resolução de conflitos, com a adequa<strong>da</strong><br />
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento permanente dos mediadores e<br />
conciliadores; e) disseminação <strong>da</strong> cultura de pacificação, com apoio do CNJ aos
86<br />
tribunais na organização dos serviços de tratamento adequado dos conflitos, e<br />
com a busca <strong>da</strong> cooperação dos órgãos públicos e <strong>da</strong>s instituições públicas e<br />
priva<strong>da</strong>s <strong>da</strong> área de ensino, com vistas à criação de disciplinas que propiciem o<br />
surgimento <strong>da</strong> cultura <strong>da</strong> solução pacífica dos conflitos de interesse [...].<br />
Dessa forma, a referi<strong>da</strong> Resolução em questão está organiza<strong>da</strong> normativamente em<br />
19 artigos divididos em quatro capítulos que tratam <strong>da</strong> “Política Pública de tratamento<br />
adequado dos conflitos de interesses” (capítulo 1º), “Das Atribuições do Conselho Nacional<br />
de Justiça” (capítulo 2º), “Das Atribuições dos Tribunais” (capítulo 3º), “Do Portal <strong>da</strong><br />
Conciliação” (capítulo 4º).<br />
Além <strong>da</strong> estrutura descrita, têm-se importantes anexos para o regular<br />
desenvolvimento dessa política pública: Anexo I – “Cursos de Capacitação e<br />
Aperfeiçoamento” (conteúdos programáticos nacionais mínimos para capacitação e<br />
aperfeiçoamento de servidores, magistrados, conciliadores e mediadores); Anexo II –<br />
“Setores de Resolução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia” (sugestões para a organização dos<br />
serviços de orientação jurídica, resolução de conflitos e prestação de serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia<br />
dentro dos tribunais); Anexo III – “Código de Ética de Conciliadores e Mediadores<br />
Judiciais”; e Anexo IV – “Dados Estatísticos” (parâmetros uniformes para produção de<br />
estatísticas sobre as ativi<strong>da</strong>des desenvolvi<strong>da</strong>s a partir <strong>da</strong> Resolução).<br />
Sobre a estrutura <strong>da</strong> política pública em comento, Levy et al (2011 p.02) tecem as<br />
seguintes observações:<br />
Todos os artigos que integram a Resolução, incluindo os seus Anexos, estão<br />
voltados para o conceito de tratamento adequado dos conflitos. A<br />
disponibilização de meios consensuais de solução de controvérsias possibilita a<br />
escolha apropria<strong>da</strong> do instrumento ao caso, contemplando-se, assim, o que hoje<br />
se entende por acesso à ordem jurídica justa, ou seja, a oferta de métodos<br />
adequados, tempestivos e efetivos para as diferentes deman<strong>da</strong>s que acorrem ao<br />
Judiciário.<br />
Isso é o que será apresentado a seguir, a dinâmica que essa política pública criou<br />
para realização de uma ver<strong>da</strong>deira pacificação social ou fomento a uma cultura de paz na<br />
socie<strong>da</strong>de brasileira.
87<br />
5.1 DA POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO<br />
ADEQUADO DOS CONFLITOS DE INTERESSES NO ÂMBITO<br />
DO PODER JUDICIÁRIO<br />
A criação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ se fun<strong>da</strong>mentou em algumas premissas<br />
para que tivesse condição de ser aplica<strong>da</strong> concretamente num país como o Brasil, de<br />
dispari<strong>da</strong>des regionais de todos os gêneros, inclusive em relação às estruturas diferencia<strong>da</strong>s<br />
do Poder Judiciário em ca<strong>da</strong> Uni<strong>da</strong>de <strong>da</strong> Federação brasileira.<br />
O professor e pesquisador André Gomma de Azevedo (2011, p.22) reforça a<br />
preocupação do CNJ de não restringir o acesso a qualquer meio consensual de resolução de<br />
conflitos e não apenas à conciliação ou mediação,<br />
A discussão acerca <strong>da</strong> introdução de mecanismos que permitam que os processos<br />
de resolução de disputa tornem-se progressivamente construtivos, por meio <strong>da</strong><br />
Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça buscou ultrapassar a<br />
simplifica<strong>da</strong> e equivoca<strong>da</strong> conclusão de que, abstratamente, um processo de<br />
resolução de disputas é melhor do que outro. Foram desconsidera<strong>da</strong>s também<br />
soluções generalistas como se a mediação ou a conciliação fossem panaceias para<br />
um sistema em crise. Dos resultados obtidos no Brasil, conclui-se que não há<br />
como impor um único procedimento autocompositivo em todo território nacional<br />
ante relevantes diferenças nas reali<strong>da</strong>des fáticas em razão <strong>da</strong>s quais foram<br />
elabora<strong>da</strong>s.<br />
Assim, as premissas as quais se assentou a referi<strong>da</strong> política pública nacional foram<br />
de acordo com os considerandos (CNJ, 2010):<br />
a) A competência do Conselho para exercer o controle administrativo e<br />
financeiro <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des do Poder Judiciário, bem como monitorar a<br />
observância ao art. 37 <strong>da</strong> Constituição Federal de 1988 que trata <strong>da</strong><br />
Administração Pública;<br />
b) Os objetivos estratégicos do Poder Judiciário, publicizados pela Resolução<br />
nº 70/2009 do Conselho, a eficiência operacional, o acesso ao sistema de<br />
justiça e a responsabili<strong>da</strong>de social;<br />
c) A implementação concreta e não apenas formal do acesso à Justiça,<br />
insculpido na C.F./88, implicando num acesso a uma ordem jurídica justa;
88<br />
d) A responsabili<strong>da</strong>de do Poder Judiciário de organizar nacionalmente através<br />
de políticas públicas (papel do CNJ) os serviços de âmbito judicial e<br />
extrajudicial como os métodos de RADs (principalmente mediação e<br />
conciliação, dentre outros) dentro de sua estrutura física;<br />
e) Incentivar a consoli<strong>da</strong>ção a utilização dos métodos de RADs de forma<br />
permanente; reforçar o uso dos métodos de conciliação e mediação através<br />
de programas de disciplinas comum nacionalmente para uma concreta<br />
resolução e prevenção de litígios, além de realizar uma pacificação social;<br />
f) Fortalecer com apoios, incentivos, publici<strong>da</strong>de à organização e o<br />
aperfeiçoamento <strong>da</strong>s práticas já conheci<strong>da</strong>s e adota<strong>da</strong>s pelos tribunais;<br />
g) A importância de sistematizar e uniformizar nacionalmente a orientação e a<br />
prática dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos, embora<br />
respeitando as especifici<strong>da</strong>des de ca<strong>da</strong> ramo <strong>da</strong> justiça; e<br />
h) A necessária organização nacional, cita<strong>da</strong> anteriormente, dos serviços de<br />
RADs será a base para futuros Juizados de resolução alternativa de conflitos,<br />
especializados na matéria.<br />
Após estabelecer os fun<strong>da</strong>mentos que levaram a criação <strong>da</strong> política pública<br />
judiciária, o CNJ resolveu como seria operacionaliza<strong>da</strong> de forma a assegurar a todos os<br />
usuários <strong>da</strong> justiça brasileira “o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua<br />
natureza e peculiari<strong>da</strong>de”, além de ofertar a resolução de conflitos através de sentença, o<br />
Poder Judiciário deve oferecer meios alternativos de soluções de disputas, com ênfase nos<br />
consensuais, e serviços de atendimento e orientação ao usuário. (Art.1º e parágrafo único <strong>da</strong><br />
Resolução nº 125/2010 – CNJ)<br />
Para que a Resolução 125 do CNJ seja implanta<strong>da</strong> com maior chance de sucesso e<br />
possa propiciar realmente uma cultura de pacificação social através <strong>da</strong> disseminação dos<br />
serviços regulamentados, ela deverá ser estrutura<strong>da</strong> de modo a centralizar as estruturas<br />
judiciárias, prestar uma formação e treinamento adequado aos servidores, conciliadores,<br />
ain<strong>da</strong>, construir um banco de <strong>da</strong>dos estatístico sobre as ações realiza<strong>da</strong>s e os resultados<br />
obtidos. Em razão <strong>da</strong>s atribuições descritas acima, o CNJ prestará assistência aos tribunais
89<br />
na prestação dos referidos serviços, estando permiti<strong>da</strong>s parcerias com enti<strong>da</strong>des públicas e<br />
priva<strong>da</strong>s para a consecução dos fins pretendidos pela Resolução. (Arts. 2º e 3º)<br />
A ênfase na formação e capacitação de conciliadores e mediadores é um objetivo<br />
estratégico do Poder Judiciário, pois, de acordo com Levy et al. (s/d, p.04),<br />
A formação adequa<strong>da</strong> e o treinamento de conciliadores e de mediadores e, vale<br />
frisar, também dos servidores e magistrados, são pilares dessa política pública,<br />
tendo em vista que a busca pela excelência do serviço passa, necessariamente,<br />
pela atuação de alta quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>queles que conduzirão, efetivamente, todo o<br />
trabalho.<br />
Então, a forma de execução <strong>da</strong> política pública nacional cria<strong>da</strong> pelo CNJ se <strong>da</strong>rá<br />
através dos tribunais, tendo o CNJ ficado com o papel de planejamento de diretrizes<br />
nacionais, organizador <strong>da</strong>s estatísticas produzi<strong>da</strong>s nos órgãos <strong>da</strong>s justiças estaduais e<br />
federais e consultor de possíveis convênios e parcerias com outras instituições públicas e<br />
priva<strong>da</strong>s para atingir o objetivo principal <strong>da</strong> política pública que é pacificar a socie<strong>da</strong>de<br />
brasileira.<br />
5.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE<br />
JUSTIÇA<br />
O CNJ deverá estruturar um programa com a finali<strong>da</strong>de de promover a paz social<br />
através <strong>da</strong> resolução dos conflitos por métodos consensuais como conciliação e mediação<br />
(art. 4º), para ser executado pela rede composta pelos órgãos <strong>da</strong> justiça junto às parcerias<br />
com enti<strong>da</strong>des públicas, priva<strong>da</strong>s, universi<strong>da</strong>des e instituições de ensino. (art. 5º)<br />
O papel do CNJ no desenvolvimento <strong>da</strong> rede cria<strong>da</strong> pela política pública nacional<br />
de tratamento adequado de conflitos de interesses se <strong>da</strong>rá pelas ações lista<strong>da</strong>s no art. 6º <strong>da</strong><br />
Resolução 125/2010, quais são, dentre outros, elaborar diretrizes gerais para serem<br />
respeita<strong>da</strong>s por todos os outros integrantes <strong>da</strong> rede nacional, além de criar um conteúdo<br />
programático mínimo para os cursos de capacitação de mediadores, conciliadores e<br />
facilitadores dos métodos de resolução de conflitos.
90<br />
Compete ao CNJ modificar as regras de promoção e remoção de magistrados para<br />
incluir entre os critérios de merecimento as ativi<strong>da</strong>des de mediação, conciliação e outros<br />
métodos consensuais que os juízes tenham realizado durante a carreira. (CNJ, art.6º, III)<br />
Ain<strong>da</strong>, está relacionado nas atribuições do Conselho criar um código de ética para<br />
as ativi<strong>da</strong>des de conciliadores, mediadores e facilitadores; fomentar a cooperação e<br />
parcerias visando criar uma cultura de solução pacífica dos conflitos através de disciplinas<br />
volta<strong>da</strong>s para os métodos consensuais nas escolas de magistratura, demais cursos jurídicos<br />
no país e cursos de formação para servidores do Poder Judiciário. (CNJ, art.6º, IV e V)<br />
Por fim, cabe ao Conselho Nacional de Justiça realizar a interlocução com a OAB,<br />
as Defensorias Públicas, as Procuradorias e o Ministério Público para valorizarem a atuação<br />
na prevenção de conflitos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia;<br />
além de auxiliar enti<strong>da</strong>des e agências reguladores de serviços públicos na implementação<br />
dos métodos de resolução de conflitos, verificação de resultados através de banco de <strong>da</strong>dos<br />
estatísticos e aplicação de selo de quali<strong>da</strong>de; e, fortalecer junto aos entes públicos a<br />
conciliação de conflitos em temas pacificados pela jurisprudência. (CNJ, art.6º, VI, VII e<br />
VIII)<br />
5.3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS<br />
As atribuições dos Tribunais que são regulamenta<strong>da</strong>s pelo capítulo III <strong>da</strong><br />
Resolução foram subdividi<strong>da</strong>s em quatro seções: “Seção I – Dos Núcleos Permanentes de<br />
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos”; “Seção II – Dos Centros Judiciários de<br />
Resolução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia”; “Seção III – Dos Conciliadores e Mediadores”; e,<br />
“Seção IV – Dos Dados Estatísticos”.<br />
A estrutura desenha<strong>da</strong> pela Resolução do CNJ, na qual a execução <strong>da</strong> política<br />
pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse será executa<strong>da</strong> na forma<br />
de uma rede interliga<strong>da</strong> pelos diversos tribunais de justiça espalhados pelo país, onde ca<strong>da</strong><br />
um terá que arcar com a responsabili<strong>da</strong>de de criar um núcleo permanente de resolução de<br />
conflitos para ser o centro de inteligência e execução <strong>da</strong>s diretrizes nacionais <strong>da</strong> Resolução,<br />
e além do dever de criar quantos centros de resolução de conflitos e ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia forem
91<br />
necessários para atender aos usuários que busquem o sistema de justiça. Por esse desenho<br />
institucional, Azevedo (2012, p. 22-23) acredita que o CNJ “buscou apenas criar a estrutura<br />
básica para que ca<strong>da</strong> tribunal possa desenvolver seu sistema pluriprocessual <strong>da</strong> forma mais<br />
consoante com sua reali<strong>da</strong>de”.<br />
A seguir, serão esmiuça<strong>da</strong>s as atribuições dos tribunais brasileiros perante a<br />
política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses cria<strong>da</strong> pelo<br />
CNJ.<br />
5.3.1 Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de<br />
Conflitos<br />
Os Tribunais tinham trinta dias de prazo (a partir <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> referi<strong>da</strong><br />
resolução do CNJ) para criar os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução<br />
de Conflitos, organizados por juízes, que estivessem trabalhando ou aposentados, e<br />
servidores, preferencialmente, com experiência na área de solução de conflitos. (art.7º)<br />
Os referidos Núcleos receberam muitas atribuições, como: desenvolver dentro <strong>da</strong><br />
competência do Tribunal que está vinculado, a política pública nacional de tratamento<br />
adequado de conflitos de interesses, realizando todos os esforços necessários para o<br />
cumprimento <strong>da</strong> política e suas metas, além de intermediar as relações com outros tribunais<br />
e órgãos <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> rede nacional. (art.7º, I, II e III)<br />
Também deverão colocar em operação os Centros Judiciários de Solução de<br />
Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, locais onde deverão ser realiza<strong>da</strong>s as sessões de conciliações e de<br />
mediações previstas pela resolução e efetuar a capacitação, treinamento e atualização<br />
permanente de seus quadros de juízes, servidores, mediadores e conciliadores em RADs.<br />
(art.7º, IV e V)<br />
Esses Núcleos ain<strong>da</strong> são responsáveis por gerenciar seus recursos humanos e por<br />
tentar implantar um ca<strong>da</strong>stro para registrar o ingresso e o desligamento de seus<br />
conciliadores e mediadores, além de buscar implementar a remuneração dos mediadores e<br />
conciliadores, de acordo com a legislação específica. (art.7º, VI e VII)
92<br />
Com relação às ativi<strong>da</strong>des educativas e relações com outros órgãos, os Núcleos<br />
devem fomentar cursos e seminários sobre conciliação, mediação e outros métodos de<br />
RADs; procurar firmar parcerias e convênios com entes públicos e privados com o objetivo<br />
de realizar os objetivos <strong>da</strong> política nacional; e por fim, comunicar ao CNJ a criação e<br />
composição de qualquer Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de<br />
Conflitos. (art.7º, VIII, IX e parágrafo único)<br />
5.3.2 Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia<br />
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia são os mecanismos<br />
institucionais criados para concretizar o modelo de “Tribunais Multiportas”, comentado no<br />
terceiro capítulo desse estudo, cujo usuário tem a possibili<strong>da</strong>de de resolver sua deman<strong>da</strong> de<br />
forma judicial e extrajudicial, além de obter orientações jurídicas e serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia<br />
como confecção e emissão de documentos e encaminhamentos para serviços públicos.<br />
De acordo com a referi<strong>da</strong> Resolução do CNJ, os Tribunais devem criar os Centros<br />
Judiciários de Solução de Conflitos, denominados por “Centros”, que consistem em<br />
uni<strong>da</strong>des do Poder Judiciário, responsáveis, preferencialmente, pelos serviços de mediação<br />
e conciliação realizados pelos mediadores e conciliadores, e pelos serviços de atendimento<br />
e orientação ao ci<strong>da</strong>dão. Esses Centros deverão atender aos Juízos, Juizados ou Varas com<br />
competência nos temas: cível, fazendária, família e Juizados Especiais Cíveis e<br />
Fazendários. (art.8º)<br />
Todos os serviços de mediação e conciliação pré-processuais, ou seja, antes que a<br />
deman<strong>da</strong> seja registra<strong>da</strong> no sistema de processo judicial, deverão ser realizados nos<br />
Centros, excepcionalmente, poderão ser efetuados nos Juízos, Juizados ou Varas<br />
designa<strong>da</strong>s, porém, por profissionais (mediadores e conciliadores) ca<strong>da</strong>strados no Tribunal<br />
e sob a supervisão do Juiz Coordenador do Centro. (art.8º, parágrafo 1º)<br />
Os Centros só podem ser instalados em locais onde existam mais de um Juízo,<br />
Juizado ou Vara com pelo menos uma <strong>da</strong>s competências referi<strong>da</strong>s no início desse tópico.<br />
Ain<strong>da</strong> os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos tem até<br />
quatro meses, iniciados a partir <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> Resolução, para implantar esses Centros
93<br />
nos locais de maior deman<strong>da</strong> por serviços judiciários no Estado e até doze meses para os<br />
locais de menor deman<strong>da</strong>. (art.8º, parágrafos 2º, 3º e 4º)<br />
Os serviços dos Centros poderão ser estendidos a outros órgãos ou uni<strong>da</strong>des<br />
judiciárias situados em prédios diferentes, no entanto, devem ser próximos dos Juízos,<br />
Juizados ou Varas <strong>da</strong>s competências já referi<strong>da</strong>s. Ain<strong>da</strong>, os Centros poderão ser<br />
implantados em Foros Regionais que contemplem mais de um Juízo, Juizado ou Vara já<br />
cita<strong>da</strong>s, respeitando a organização judiciária local. (art.8º, parágrafo 5º)<br />
Os Centros serão dirigidos por um juiz coordenador e, caso haja necessi<strong>da</strong>de, por<br />
um adjunto, que deverão administrar e supervisionar os serviços dos conciliadores e<br />
mediadores. O referido juiz coordenador deverá ser indicado pelo Tribunal dentre os quais<br />
foram capacitados de acordo com o modelo do CNJ que consta no anexo I <strong>da</strong> referi<strong>da</strong><br />
Resolução. Ain<strong>da</strong>, caso o Centro tenha abrangência sobre um elevado número de Juízos,<br />
Juizados ou Varas, o juiz coordenador será responsável apenas pela administração. (art.9º<br />
capu 14 t e parágrafo 1º)<br />
Os servidores designados pelos Tribunais para os Centros deverão ser capacitados<br />
nos métodos de RADs, de acordo com o modelo do anexo I <strong>da</strong> Resolução, e pelo menos<br />
um, ser capacitado em triagem e encaminhamento adequado de casos. (art.9º, parágrafos 2º<br />
e 3º)<br />
Isso denota a ver<strong>da</strong>deira tentativa de implementação do modelo teórico referido no<br />
capítulo quarto, “Tribunais Multiportas”, o qual traz para dentro dos órgãos <strong>da</strong> justiça a<br />
possibili<strong>da</strong>de de resolver conflitos sem necessariamente judicializá-los, ou seja, sem ser<br />
necessário resolver a deman<strong>da</strong> através de uma decisão adjudica<strong>da</strong> por uma sentença<br />
judicial. O idealizador do modelo de “Tribunal Multiportas” (Multi-door Courthouse),<br />
professor Frank Sander (2012, p. 33), relata a razão <strong>da</strong> ligação entre os métodos<br />
alternativos de resolução de disputas e os tribunais,<br />
14 Termo em latim que significa “cabeça”. Na semântica jurídica significa o enunciado (parte inicial) de um<br />
artigo quando este tem subdivisões em incisos, alíneas ou parágrafos, dessa forma, denotaria que existiriam a<br />
cabeça (caput) e as outras partes: incisos, alíneas ou parágrafos, que seriam uma espécie de corpo do artigo.<br />
Caso um artigo não tenha nenhuma subdivisão, ele não tem caput.
94<br />
Bem, não existe qualquer relação inerente. Penso, por outro lado, que se trata de<br />
uma relação bastante natural, porque os tribunais são o principal local de que<br />
dispomos, talvez o mais importante, para a resolução de conflitos. Assim,<br />
podemos argumentar que o Tribunal Multiportas deveria estar ligado aos<br />
tribunais, mas tecnicamente o centro abrangente <strong>da</strong> justiça [ou Tribunal<br />
Multiportas] que eu citei poderia estar bem separado dos tribunais. É mais ou<br />
menos como a história de Willie Sutton, o ladrão de bancos, que, quando<br />
in<strong>da</strong>gado por que roubava bancos, respondeu: “é lá que está o dinheiro”. O<br />
tribunal é o lugar onde os casos estão, portanto na<strong>da</strong> mais natural do que fazer do<br />
tribunal uma <strong>da</strong>s portas do Tribunal Multiportas — a ideia é essa. Mas pode<br />
acontecer de o tribunal estar aqui, e os outros processos [arbitragem, medição<br />
etc.] estarem lá; não existe na<strong>da</strong> [no método] que possa evitar esse fato.<br />
Como se pode notar, a legislação foi basea<strong>da</strong> nesse conceito de “Tribunal<br />
Multiportas”, pois como descrito anteriormente, os Centros podem ficar isolados ou dentro<br />
de Foros Regionais ou outros órgãos <strong>da</strong> justiça.<br />
Os Centros deverão obrigatoriamente oferecer serviços de solução de conflitos<br />
pré-processuais, processuais e de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, estando facultados aos Tribunais os<br />
procedimentos estabelecidos no anexo II <strong>da</strong> Resolução, além de poderem atuar membros do<br />
Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradores e Advogados. (art.10º e 11º)<br />
5.3.3 Dos Conciliadores e Mediadores<br />
Os Tribunais, antes <strong>da</strong> instalação dos Centros, deverão capacitar conciliadores e<br />
mediadores com base no modelo formulado pelo CNJ (anexo I <strong>da</strong> Resolução) até por meio<br />
de parcerias, pois só quem for capacitado dessa forma poderá realizar as sessões de<br />
conciliação e mediação nesses Centros. (art. 12º)<br />
Caso os tribunais já tenham feito uma capacitação de seus mediadores e<br />
conciliadores, poderão relativizar a exigência do certificado do curso com base no anexo I<br />
<strong>da</strong> Resolução para esses profissionais, no entanto, deverá ofertar cursos de aperfeiçoamento<br />
e treinamento com base no modelo regulamento pelo CNJ como exigência prévia para eles<br />
atuarem nos Centros. (art. 12º, parágrafo 1º)<br />
Todos os profissionais que atuarem nos centros com os métodos de RADs deverão<br />
participar de uma permanente reciclagem e avaliação dos usuários, além <strong>da</strong> observância dos
95<br />
conteúdos programáticos e de carga horária mínimos, de acordo com o anexo I <strong>da</strong><br />
Resolução do CNJ, os treinamentos e as capacitações deverão ser seguidos de estágio<br />
supervisionado. Ain<strong>da</strong>, todos os profissionais que trabalharem com os métodos de RADs<br />
ficarão sujeitos ao código de ética regulamentado pelo CNJ no anexo III <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> política<br />
pública nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses. (art. 9º, parágrafos 2º,<br />
3º e 4º)<br />
5.3.4 Dos Dados Estatísticos<br />
Os tribunais deverão criar a manter um banco de <strong>da</strong>dos estatísticos sobre as<br />
ativi<strong>da</strong>des realiza<strong>da</strong>s pelos Centros, estatísticas construí<strong>da</strong>s com base no anexo IV <strong>da</strong><br />
Resolução nº 125 do CNJ. (art. 13º)<br />
Será atribuição do CNJ, reunir informações acerca dos demais serviços públicos de<br />
resolução consensual de conflitos realizados em todo o país e sobre os resultados obtidos de<br />
ca<strong>da</strong> um deles através de um banco de <strong>da</strong>dos sempre atualizado do Departamento de<br />
Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ. (art. 14º)<br />
5.4 DO PORTAL DA CONCILIAÇÃO<br />
A Resolução ain<strong>da</strong> prevê a criação de um “Portal <strong>da</strong> Conciliação” que será<br />
disponibilizado no site do CNJ através <strong>da</strong> rede mundial de computadores (internet), com<br />
algumas funcionali<strong>da</strong>des como: publicização <strong>da</strong>s diretrizes de capacitação de mediadores e<br />
conciliadores e de seu código de ética; relatório gerencial de ca<strong>da</strong> Tribunal, pormenorizado<br />
por uni<strong>da</strong>de judicial e por Centro formata<strong>da</strong>s de acordo com os indicadores estabelecidos<br />
no anexo IV <strong>da</strong> Resolução; compartilhamento de práticas inovadoras, estudos, projetos,<br />
ações, pesquisas; criação de um fórum permanente de discussão aberto a participação <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de civil; disponibilização de notícias relaciona<strong>da</strong>s aos métodos de RADs e de um<br />
relatório dos resultados <strong>da</strong> “Semana Nacional de Conciliação”, porém, o CNJ se acautelou,<br />
diante de suas possibili<strong>da</strong>des técnicas, na operacionalização gradual desse Portal, evitando<br />
assim maiores pressões pela implementação desse instrumento. (art. 15º, I a VI, e parágrafo<br />
único)
96<br />
5.5 DISPOSIÇÕES FINAIS E ANEXOS<br />
A Resolução ressalta que a Política Pública nacional de tratamento adequado de<br />
conflitos de interesses não prejudica nenhum projeto ou programa já em funcionamento,<br />
caso haja necessi<strong>da</strong>de, o Tribunal deverá realizar uma adequação à Resolução nº 125 do<br />
CNJ. (art. 16º)<br />
Ain<strong>da</strong>, ficou instituí<strong>da</strong> a competência do CNJ, auxiliado pela Comissão de Acesso<br />
ao Sistema de Justiça e Responsabili<strong>da</strong>de Social, para gerenciar as ativi<strong>da</strong>des<br />
regulamenta<strong>da</strong>s na Resolução nº 125/2010, no que diz respeito a instituição,<br />
regulamentação e direção do Comitê Gestor <strong>da</strong> Conciliação, responsável direto pela<br />
implementação e acompanhamento <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s previstas na referi<strong>da</strong> Resolução. (art. 17º)<br />
Por fim, foi estabelecido o poder normativo vinculante dos anexos I, III e IV,<br />
exceto o anexo II que tem caráter recomen<strong>da</strong>tório. (art. 18º)<br />
O anexo I regulamentou as disposições mínimas exigi<strong>da</strong>s para os “Cursos de<br />
Capacitação e Aperfeiçoamento” em relação aos conteúdos programáticos e carga horária<br />
mínimos nacionalmente exigidos.<br />
O curso básico para uma capacitação uniforme em todo o território nacional é<br />
composto por três módulos sucessivos e complementares com diferentes níveis de<br />
capacitação, sendo direcionados <strong>da</strong> seguinte forma:<br />
Módulo I – “Introdução aos Meios Alternativos de Solução de Conflitos” (12<br />
horas/aula): obrigatório para todos os profissionais que trabalharão nos<br />
Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, inclusive para os<br />
mediadores e conciliadores já capacitados por outros cursos;<br />
Módulo II – “Conciliação e suas Técnicas” (16 horas/aula): obrigatório para<br />
conciliadores e mediadores, esse módulo tem um enfoque nas técnicas de<br />
negociação e de conciliação;<br />
Módulo III – “Mediação e suas Técnicas” (16 horas/aula): obrigatório,<br />
apenas, para mediadores, tem enfoque no método de mediação, suas
97<br />
diferentes Escolas, na multidisciplinari<strong>da</strong>de, formas de aplicação e maior<br />
destaque na mediação judicial;<br />
Módulo Complementar do Módulo I, Módulo dos Servidores: obrigado para<br />
os servidores dos Poder Judiciário que atuarão nos Centros, com enfoque no<br />
modus operandi desses Centros, detalhando procedimentos administrativos,<br />
orientação aos usuários e encaminhamento às enti<strong>da</strong>des parceiras e a outros<br />
órgãos públicos;<br />
Módulo dos Magistrados: módulo específico para a capacitação dos<br />
magistrados na Política Pública nacional de tratamento adequado dos<br />
conflitos de interesses; apresentando os principais métodos de RADs e o<br />
funcionamento dos Centros Judiciais de Solução de Disputas.<br />
Já o anexo II, que tem valor de sugestão ou recomen<strong>da</strong>ção aos órgãos do Poder<br />
Judiciário que formarão a Rede de implementação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ, como o<br />
próprio anexo II esclarece,<br />
Abaixo segue sugestão do procedimento a ser adotado nos setores de solução de<br />
conflitos pré-processual e processual e no setor de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, abrangidos pelo<br />
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, cuja regulamentação está<br />
prevista nos artigos 8º a 11 <strong>da</strong> Resolução:<br />
1) Setor de Solução de Conflitos Pré-Processual:<br />
O setor pré-processual poderá recepcionar casos que versem sobre direitos<br />
disponíveis em matéria cível, de família, previdenciária e <strong>da</strong> competência dos<br />
Juizados Especiais, que serão encaminhados, através de servidor devi<strong>da</strong>mente<br />
treinado, para a conciliação, a mediação ou outro método de solução consensual<br />
de conflitos disponível.<br />
[...]<br />
2) Setor de Solução de Conflitos Processual:<br />
O setor de solução de conflitos processual receberá processos já distribuídos e<br />
despachados pelos magistrados, que indicarão o método de solução de conflitos a<br />
ser seguido, retornando sempre ao órgão de origem, após a sessão, obtido ou não<br />
o acordo, para extinção do processo ou prosseguimento dos trâmites processuais<br />
normais.<br />
3) Setor de Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia:<br />
O setor de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia prestará serviços de informação, orientação jurídica, emissão<br />
de documentos, serviços psicológicos e de assistência social, entre outros. (grifo<br />
nosso)<br />
Essa é a sugestão de funcionamento para os Centros Judiciais de Solução de<br />
Conflitos regulamenta<strong>da</strong> pela Resolução nº 125 do CNJ, esses Centros são a materialização
98<br />
do conceito, elaborado pelo professor <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Harvard Frank Sander, dos<br />
“Centros abrangentes de justiça” que foi transformado pela Associação Americana dos<br />
Advogados (American Bar Association – ABA), equivalente a OAB brasileira, em<br />
“Tribunais Multiportas”.<br />
Os Centros funcionarão como corpo operacional para a realização <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des<br />
pré-judiciais, judiciais e de serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, enquanto os Núcleos Permanentes de<br />
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos funcionarão como “inteligência”, ou seja,<br />
propor medi<strong>da</strong>s, efetuar avaliações, fazer correções na operacionalização <strong>da</strong> Política<br />
Pública nacional de tratamento adequado aos conflitos de interesses, ministrar cursos,<br />
capacitações e aperfeiçoamentos acerca <strong>da</strong> temática dos métodos de RADs etc.<br />
O anexo III <strong>da</strong> Resolução nº 125 trouxe consigo a vinculação normativa<br />
obrigatória do “Código de Ética de Conciliadores e Mediadores”, o qual tratou acerca:<br />
“Dos princípios e garantias <strong>da</strong> conciliação e mediação judiciais”, trata dos<br />
princípios norteadores <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de de conciliadores/mediadores que são:<br />
confidenciali<strong>da</strong>de, competência, imparciali<strong>da</strong>de, neutrali<strong>da</strong>de, independência<br />
e autonomia, respeito a ordem pública e às leis vigentes;<br />
“Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação”, trata de<br />
normas de comportamento que devem ser segui<strong>da</strong>s pelos<br />
conciliadores/mediadores visando a realização plena do método de RADs<br />
escolhido, essas normas de conduta são: dever de prestar informação às<br />
partes, respeitar a autonomia <strong>da</strong> vontade <strong>da</strong>s partes, ausência de obrigação de<br />
resultado para não forçar acordos, esclarecer a necessária desvinculação <strong>da</strong><br />
profissão de origem do facilitador e dever de realizar o teste de reali<strong>da</strong>de na<br />
proposta de acordo construí<strong>da</strong>; e,<br />
“Das responsabili<strong>da</strong>des e sanções do conciliador/mediador” que trata de<br />
proibições, penali<strong>da</strong>des, requisitos obrigatórios para exercer as funções de<br />
mediador e conciliador.
99<br />
Esse anexo III procura balizar nacionalmente a atuação desses profissionais que<br />
serão os agentes transformadores <strong>da</strong> relação entre as partes envolvi<strong>da</strong>s nos métodos de<br />
RADs.<br />
Por fim, tem o anexo IV que não é mais do que uma compilação visando <strong>da</strong>r<br />
uniformi<strong>da</strong>de ao tratamento dos <strong>da</strong>dos obtidos por todos os órgãos responsáveis pela<br />
execução local <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ.<br />
Nesse anexo IV estão elencados todos os <strong>da</strong>dos que deverão ser produzidos e<br />
enviados ao CNJ para compor o banco de <strong>da</strong>dos estatístico nacional acerca <strong>da</strong><br />
implementação <strong>da</strong> Política Pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de<br />
interesses.
100<br />
6 A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PUBLICA<br />
NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS<br />
CONFLITOS DE INTERESSES NO PODER JUDICIÁRIO DO<br />
ESTADO DO CEARÁ<br />
No presente capítulo, far-se-á uma análise acerca <strong>da</strong> implementação <strong>da</strong> Resolução<br />
nº 125, a partir <strong>da</strong> estrutura desenha<strong>da</strong> e regulamenta<strong>da</strong> como atribuição do Tribunal de<br />
Justiça do Estado do Ceará.<br />
Para determinar como está sendo operacionaliza<strong>da</strong> a Política Judiciária Nacional<br />
de tratamento adequado dos conflitos de interesses, normatiza<strong>da</strong> na Resolução nº 125 do<br />
CNJ, é necessário verificar as estruturas institucionais anteriores ao marco jurídico em<br />
questão (Resolução nº 125/2010), com os institutos criados após e com fun<strong>da</strong>mento na<br />
Política Judiciária Nacional cita<strong>da</strong>.<br />
Dessa forma, poder-se-á verificar os avanços e obstáculos que não se tinha<br />
conhecimento ou se tinha, mas não foram analisados de forma profun<strong>da</strong> no momento <strong>da</strong><br />
aprovação e publicação <strong>da</strong> Resolução.<br />
Os assuntos tratados nos capítulos anteriores formam um arcabouço teórico<br />
importante no sentido de balizar os limites nos quais as análises e críticas desenvolvi<strong>da</strong>s<br />
devem respeitar para não ultrapassar os parâmetros estabelecidos pelo método científico e<br />
cair no senso comum ou na mera opinião individual sem lastro probatório.<br />
Por tudo isso que se optou por revisar a literatura acerca <strong>da</strong>s categorias: Poder<br />
Judiciário, Políticas Públicas, Acesso à Justiça, CNJ, Tribunais Multiportas, Métodos<br />
Alternativos de Resolução de Disputas (ou Conflitos) e a Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses.<br />
Ca<strong>da</strong> tema está ligado de forma muito particular nesse trabalho, fazendo com que<br />
o todo se torne uma análise abrangente <strong>da</strong> implantação de uma Política Pública Nacional
101<br />
volta<strong>da</strong> e operacionaliza<strong>da</strong> pelo próprio Poder Judiciário, sujeito e objeto <strong>da</strong> referi<strong>da</strong><br />
Política.<br />
Este capítulo está organizado no sentido de entender o desenho institucional<br />
anterior e posterior à Resolução do CNJ, os obstáculos descobertos para sua efetiva<br />
estruturação visa<strong>da</strong> pelas normas jurídicas <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional, por fim,<br />
estabelecendo uma comparação entre o texto original <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Resolução e Emen<strong>da</strong> nº 01<br />
que foi publica<strong>da</strong> em 31 de janeiro de 2013, estendendo prazos e fazendo ajustes,<br />
possivelmente, encontrados durante a implantação Resolução em todo o território nacional.<br />
6.1 ESTRUTURA ANTERIOR À CRIAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº<br />
125/2010 DO CNJ<br />
Após a publicação <strong>da</strong> Emen<strong>da</strong> Constitucional nº 45 de 2004, conheci<strong>da</strong> como a<br />
Reforma do Poder Judiciário e já comenta<strong>da</strong> no segundo capítulo, foram implementa<strong>da</strong>s<br />
algumas mu<strong>da</strong>nças significativas na forma de administrar o sistema judicial pátrio. Uma<br />
<strong>da</strong>s mais significantes foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, também comentado<br />
no segundo capítulo, ao qual se incumbiu <strong>da</strong> tarefa de planejar, implementar e avaliar<br />
políticas públicas para o Poder Judiciário, tentando melhorar a percepção dos usuários<br />
sobre o sistema judicial e ampliar os meios e o acesso material a uma ordem jurídica<br />
considera<strong>da</strong> justa.<br />
Assim, surgiu em 2006 um esforço nacional para a realização de trabalhos<br />
concentrados em todo o país no formato de mutirões que receberam o nome de “Semana <strong>da</strong><br />
Conciliação”. Esses momentos dos eventos concentradores de audiências de conciliação em<br />
Tribunais e outras uni<strong>da</strong>des judiciárias em todo o território nacional marcaram a<br />
consoli<strong>da</strong>ção de uma Política Pública Nacional de Conciliação visando concretizar os<br />
objetivos já citados anteriormente.<br />
A estrutura para a concretização do “Movimento pela Conciliação” se iniciou com<br />
os esforços de muitos voluntários em todo o país, além <strong>da</strong> vontade política <strong>da</strong> Presidenta do<br />
CNJ no ano de 2006, Ministra Ellen Gracie, e dos outros conselheiros do órgão. O “Dia <strong>da</strong><br />
Conciliação” ficou estabelecido em 08 (oito) de dezembro de 2006, dia que concentrou
102<br />
todos os mutirões no país no esforço nacional para realizar o maior número de acordos de<br />
conciliação.<br />
A partir <strong>da</strong>s experiências realiza<strong>da</strong>s, um único dia não foi suficiente para realizar<br />
to<strong>da</strong>s as audiências designa<strong>da</strong>s, então<br />
Em virtude disso, os juízes, os advogados, e, enfim, todos os interessados e<br />
envolvidos na gerência e execução <strong>da</strong>quele mutirão, constataram a necessi<strong>da</strong>de de<br />
se ampliar as proporções do evento, restando certo que, já na versão seguinte, do<br />
ano de 2007, o DIA se transformaria na SEMANA NACIONAL DE<br />
CONCILIAÇÃO, de sorte que nela pudessem ter lugar to<strong>da</strong>s as audiências que os<br />
coordenadores do movimento ou as próprias partes interessa<strong>da</strong>s viessem a<br />
agen<strong>da</strong>r, seja, como já dito, em sede de ações judiciais, ou de meros conflitos de<br />
interesses. (BUZZI, 2011, p. 53)<br />
Logo após o estabelecimento do formato de um mutirão concentrado de audiências<br />
de conciliação num espaço temporal de uma semana no mês de dezembro a ca<strong>da</strong> ano,<br />
Foram reforça<strong>da</strong>s as estratégias à formação de uma nova mentali<strong>da</strong>de acerca dos<br />
meios alternativos de resolução de conflitos, tendo o Conselho Nacional de<br />
Justiça, em sessão realiza<strong>da</strong> no dia 18.03.2009, por iniciativa <strong>da</strong> Conselheira<br />
Andréa Pachá, deliberado no sentido de que o Movimento pela Conciliação<br />
passava a integrar, de modo, definitivo, não apenas como eventual programa<br />
administrativo de gestão, as metas institucionais permanentes do CNJ e, pois, do<br />
Poder Judiciário. (BUZZI, 2011, p. 56)<br />
Após mais essa conquista do programa “Movimento pela Conciliação”, a iniciativa<br />
institucional do CNJ e de todos que trabalharam para que a socie<strong>da</strong>de civil aceitasse<br />
participar e conhecer mais sobre os métodos alternativos de resolução de disputas,<br />
principalmente o <strong>da</strong> conciliação e <strong>da</strong> mediação, foi atendi<strong>da</strong> através <strong>da</strong> implantação <strong>da</strong>s<br />
estruturas para realização permanente <strong>da</strong>s sessões de conciliação e mediação pré-processual<br />
e judiciais, pois<br />
Dentre as principais vertentes adota<strong>da</strong>s no último biênio, observou-se elastecer os<br />
trabalhos de conciliação para o espaço pré-processual, o processo de execução, a<br />
efetivi<strong>da</strong>de dos processos em relação aos litigantes em massa, a inserção dos<br />
agentes e operadores do Direito, em especial mediante parceria com a Ordem dos<br />
Advogados do Brasil, o Ministério Público, as Associações e as Facul<strong>da</strong>des de<br />
Direito, a divulgação para fins de visibili<strong>da</strong>de do Movimento <strong>da</strong> Conciliação e<br />
consequente alteração <strong>da</strong> cultura <strong>da</strong> litigiosi<strong>da</strong>de. (RICHA, 2011, p. 69)
103<br />
A operacionalização dessas mu<strong>da</strong>nças no Estado do Ceará, a partir do Tribunal de<br />
Justiça do Estado, no intuito de criar essas estruturas deman<strong>da</strong><strong>da</strong>s pelo Movimento pela<br />
Conciliação, foi realiza<strong>da</strong> através de duas Resoluções: a Resolução nº 17/2006 – Central de<br />
Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição – e a Resolução nº 01/2007 – Cria a Central de<br />
Conciliação em Primeiro Grau de Jurisdição junto ao Fórum Clóvis Beviláqua.<br />
A Resolução nº 17 de 23 de outubro de 2006 do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-<br />
CE), aprova<strong>da</strong> em 19 de outubro de 2006 e publica<strong>da</strong> no Diário <strong>da</strong> Justiça (DJ) no dia 23 de<br />
outubro de 2006, já inspira<strong>da</strong> pelo Movimento <strong>da</strong> Conciliação que surgiu pouco tempo<br />
antes, foi elabora<strong>da</strong> para adequar uma estrutura que já existia no TJ-CE desde 2004.<br />
Embora a Central de Conciliação já tivesse sido cria<strong>da</strong> pela Resolução nº 10,<br />
aprova<strong>da</strong> em 20 de maio de 2004 e publica<strong>da</strong> no DJ no dia 25 de maio de 2004, e altera<strong>da</strong><br />
pela Resolução nº 17, aprova<strong>da</strong> em 14 de julho de 2004 e publica<strong>da</strong> no DJ dia 16 de julho<br />
de 2004, essa Central só previa realizar conciliações judiciais e nos processos de<br />
competência do TJ-CE, ou seja, quando em fase recursal ou competência originária do<br />
Tribunal, ou quando as partes que não foram incluí<strong>da</strong>s nos critérios de seleção requererem a<br />
tentativa conciliatória.<br />
O problema quanto a essa iniciativa do TJ-CE foi implantar uma Central de<br />
Conciliação somente de segundo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal fica localizado<br />
num bairro muito distante do centro <strong>da</strong> capital do Estado, bairro do Cambeba, além de<br />
também ficar distante do Fórum Clovis Beviláqua, que é a uni<strong>da</strong>de judiciária mais<br />
importante em primeiro grau de jurisdição <strong>da</strong> Comarca de Fortaleza e onde diariamente tem<br />
o maior fluxo dos usuários <strong>da</strong> justiça.<br />
A Central de Conciliação de Segundo Grau de Jurisdição cria<strong>da</strong> em maio de 2004<br />
pela Resolução nº 10 tinha as seguintes normas:<br />
a) O Presidente do Tribunal de Justiça escolheria como Conciliadores:<br />
magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos em<br />
ativi<strong>da</strong>de ou aposentados e advogados com larga experiência, reputação
104<br />
iliba<strong>da</strong> e reconheci<strong>da</strong> respeitabili<strong>da</strong>de, que reúnam condições pessoais de<br />
dedicação e aptidão para o trabalho de natureza conciliatória (art. 2º);<br />
b) A Central será forma<strong>da</strong> por até 4 (quatro) turmas com 3 (três) integrantes<br />
ca<strong>da</strong>, sob a coordenação de um Desembargador (art 3º), sendo o Presidente<br />
<strong>da</strong> Turma de Conciliação indicado pelo Coordenador <strong>da</strong> Central (primeiro<br />
parágrafo), podendo ser cria<strong>da</strong>s novas turmas através de ato do Presidente do<br />
TJ-CE (segundo parágrafo);<br />
c) As Turmas de Conciliação serão supervisiona<strong>da</strong>s pela Central que pode<br />
expedir instruções, estabelecer critérios para seleção de processos que serão<br />
levados à conciliação (art. 4º);<br />
d) O Presidente <strong>da</strong> Turma de Conciliação marcará a <strong>da</strong>ta, hora e local para a<br />
sessão de conciliação, cabendo à Coordenação <strong>da</strong> Central convocar as partes<br />
e seus advogados os quais devem preservar o sigilo do que foi visto, exibido<br />
ou debatido na sessão (art. 5º);<br />
e) Obti<strong>da</strong> a conciliação, o acordo será assinado pelas partes, pelos advogados e<br />
pelos integrantes <strong>da</strong> Turma, após isso, será homologado pelo<br />
Desembargador-relator. Caso não haja conciliação, o processo retorna à<br />
posição anterior. (arts. 6º e 7º)<br />
f) Como já falado, as partes que tiverem interesses e que não foram<br />
seleciona<strong>da</strong>s pelos critérios de seleção de processos para a conciliação,<br />
poderão requerer a sessão conciliatória na forma desta Resolução. (art. 9º)<br />
g) O trabalho realizado pela Central será gratuito e considerado munus<br />
público 15 . (art. 10º)<br />
Embora o TJ-CE tenha instituído a referi<strong>da</strong> Central de Conciliação em Segundo<br />
Grau de Jurisdição no dia 20 de maio 2004, o TJ-CE sentiu a necessi<strong>da</strong>de, após dois meses,<br />
de alterar o texto original <strong>da</strong> Resolução nº 10, por problemas ocorridos para que a Central<br />
entrasse efetivamente em pleno funcionamento.<br />
15 Múnus público é o encargo a que se não pode fugir, <strong>da</strong><strong>da</strong>s as circunstâncias, no interesse social. A<br />
advocacia, além de profissão, é múnus, pois cumpre o encargo indeclinável de contribuir para realização <strong>da</strong><br />
justiça, ao lado do patrocínio <strong>da</strong> causa, quando atua em juízo. Nesse sentido, é dever que não decorre de ofício<br />
ou cargo públicos. (LÔBO, 2013).
105<br />
As alterações foram publica<strong>da</strong>s na Resolução nº 17 de julho de 2004, onde já nos<br />
“considerandos” o TJ-CE deixa claro os motivos de modificações tão rápi<strong>da</strong>s, pois<br />
“CONSIDERANDO a necessi<strong>da</strong>de de tornar efetivo o funcionamento <strong>da</strong> CENTRAL<br />
DE CONCILIAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, instituí<strong>da</strong> pela Resolução<br />
n.º 10, de 20 de maio de 2004, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (grifo nosso)<br />
Fica claro que houve problemas quando <strong>da</strong> instalação concreta <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Central<br />
dentro do TJ-CE. As modificações foram realiza<strong>da</strong>s nos recursos humanos alocados na<br />
Central, apenas, como se pode notar nos artigos 3º, 4º e 5º.<br />
Com as modificações, ao invés de quatro Turmas de Conciliação com três<br />
membros ca<strong>da</strong>, funcionará com quatro Conciliadores que serão auxiliados pelos servidores<br />
do TJ-CE (art. 3º), podendo ser convocados quantos Conciliadores forem necessários para o<br />
atendimento do serviço. (art. 3º, primeiro parágrafo).<br />
Os processos serão distribuídos entre os Conciliadores pelo Coordenador <strong>da</strong><br />
Central, sempre com a observância rigorosa do sistema de rodízio, além de competir a ele a<br />
supervisão do funcionamento dos serviços <strong>da</strong> Central, bem como <strong>da</strong> atuação dos<br />
Conciliadores, podendo expedir instruções acerca dos critérios de seleção dos processos<br />
que podem ser levados à conciliação. (art. 3º, segundo parágrafo, e art. 4º)<br />
A última alteração efetua<strong>da</strong> foi no sentido de que o Conciliador, ao receber o<br />
processo, deverá marcar o “dia, hora e local para realização <strong>da</strong> sessão conciliatória,<br />
cabendo ao Coordenador <strong>da</strong> Central de Conciliação providenciar a convocação <strong>da</strong>s partes e<br />
seus advogados, que guar<strong>da</strong>rão sigilo a respeito do que for visto, exibido ou debatido na<br />
sessão.” (art. 5º)<br />
Essas foram as mu<strong>da</strong>nças efetua<strong>da</strong>s em menos de dois meses <strong>da</strong> criação <strong>da</strong><br />
Central de Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição pelo TJ-CE. As modificações<br />
deixam claro o necessário “enxugamento” estrutural que sofreu o referido equipamento<br />
conciliatório, onde se tinham obrigatoriamente quatro turmas com três Conciliadores, que<br />
deman<strong>da</strong>vam em torno de 12 (doze) conciliadores, além de ter outros cargos que não<br />
ficaram esclarecidos como seriam preenchidos na primeira Resolução, passou-se para 4
106<br />
(quatro) Conciliadores obrigatórios, sendo possível a convocação de outros auxiliados por<br />
servidores do TJ-CE.<br />
Após o surgimento do Movimento pela Conciliação na metade do ano de 2006, o<br />
TJ-CE publicou a última alteração normativa até o presente sobre a Central de Conciliação<br />
em Segundo Grau de Jurisdição através <strong>da</strong> Resolução nº 17 aprova<strong>da</strong> no dia 19 de outubro<br />
de 2006 e publica<strong>da</strong> no DJ no dia 23 de outubro de 2006.<br />
Essa última alteração foi realiza<strong>da</strong> já sob a influência <strong>da</strong>s movimentações<br />
nacionais com vistas ao resgate <strong>da</strong> conciliação como forma de pacificação dos conflitos<br />
sociais de forma judicial e pré-judicial, uma vez que a legislação processual e dos<br />
procedimentos dos juizados especiais cíveis haviam previsto, mas que foram banalizados<br />
com o tempo.<br />
O TJ-CE efetuou outras mu<strong>da</strong>nças na Central de Conciliação em Segundo Grau<br />
para logo em segui<strong>da</strong> criar a Central de Conciliação em Primeiro Grau de Jurisdição junto<br />
ao Fórum Clóvis Beviláqua, assim, atendendo às diretrizes do Movimento pela Conciliação<br />
que empreendeu esforços no sentido de implementar a conciliação pré-judicial nas uni<strong>da</strong>des<br />
judiciais, como já comentado anteriormente.<br />
As alterações no desenho institucional realiza<strong>da</strong>s pela Resolução nº 17 de 2006<br />
foram no caminho de aumentar o grau de maturi<strong>da</strong>de e experiência do quadro de seus<br />
Conciliadores, posto que os profissionais que poderiam ser escolhidos pelo Presidente do<br />
TJ-CE, a partir do novo marco jurídico, seriam “dentre Desembargadores aposentados os<br />
Conciliadores para realização dos trabalhos de natureza conciliatória.” (art. 2º)<br />
Dessa forma, excluiu-se a possibili<strong>da</strong>de que existia anteriormente de outros<br />
profissionais pertencentes aos quadros profissionais do “Ministério Público, Defensores<br />
Públicos, em ativi<strong>da</strong>de ou aposentados, e advogados com larga experiência, reputação<br />
iliba<strong>da</strong> e reconheci<strong>da</strong> respeitabili<strong>da</strong>de, que reúnam condições pessoais de dedicação e<br />
aptidão para trabalho de natureza conciliatória”, exercerem o ofício de Conciliadores na<br />
referi<strong>da</strong> Central. (art. 2º <strong>da</strong> Resolução nº 17/2004 do TJ-CE)
107<br />
A estrutura <strong>da</strong> Central foi manti<strong>da</strong>, entretanto a função de Coordenador só poderá<br />
ser exerci<strong>da</strong> por um Desembargador em ativi<strong>da</strong>de e os servidores do Tribunal para<br />
auxiliarem os Conciliadores nos serviços serão designados pelo Presidente do TJ-CE<br />
somente. (art. 3º e seu parágrafo primeiro)<br />
Após as últimas modificações normativas na Central de Conciliação em Segundo<br />
Grau de Jurisdição, foi cria<strong>da</strong> a Central de Conciliação em Primeiro Grau de Jurisdição<br />
junto ao Fórum Clóvis Beviláqua por meio <strong>da</strong> Resolução nº 01/2007 aprova<strong>da</strong> em 15 de<br />
fevereiro de 2007 e publica<strong>da</strong> no dia seguinte no DJ sob a influência dos trabalhos do<br />
Movimento pela Conciliação em todos os judiciários do País.<br />
Nas razões que fun<strong>da</strong>mentaram a criação do referido equipamento judiciário, no<br />
caso os “considerandos”, fica evidente o impulso <strong>da</strong>do pelo CNJ no caminho <strong>da</strong> tentativa<br />
concreta de efetivar uma pacificação social através <strong>da</strong> conciliação,<br />
Considerando ser missão do Poder Judiciário realizar a prestação jurisdicional de<br />
maneira célere e eficaz;<br />
Considerando a necessi<strong>da</strong>de de se disseminar a cultura <strong>da</strong> conciliação, como<br />
instrumento simples, econômico e efetivo de pacificação de conflitos,<br />
propiciando agili<strong>da</strong>de na solução dos litígios e a redução do acervo processual;<br />
Considerando a experiência vitoriosa do Dia Nacional <strong>da</strong> Conciliação no<br />
Estado do Ceará e os resultados expressivos alcançados pela Central de<br />
Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição; (grifo nosso)<br />
Nesse sentido, foi cria<strong>da</strong> a Central de Conciliação em Primeiro Grau de<br />
Jurisdição com competência para questões passíveis de transação e, segundo o<br />
entendimento do Juiz de Direito <strong>da</strong> Vara a qual tramitam, sejam viáveis para a obtenção de<br />
acordo. (art. 1º)<br />
A Resolução não fixou um número fixo obrigatório para a função de<br />
Conciliadores, deixando a critério do Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, devendo ser<br />
suficiente para a execução célere e eficiente dos serviços. Os Conciliadores podem ser<br />
indicados “dentre magistrados, membros do Ministério Público e <strong>da</strong> Defensoria Pública,<br />
aposentados, que se disponham a prestar o correspondente serviço sem auferir qualquer<br />
remuneração ou benefício pecuniário.” Também é competência do Diretor do Fórum
108<br />
selecionar os servidores que auxiliarão nos trabalhos <strong>da</strong> Central. (art. 2º caput e parágrafo<br />
único)<br />
Na mesma lógica segui<strong>da</strong> pela Central de Conciliação do TJ-CE, a coordenação<br />
dos trabalhos <strong>da</strong> Central do Fórum será realiza<strong>da</strong> por um dos magistrados em ativi<strong>da</strong>de<br />
dentre os titulares <strong>da</strong>s diversas Varas <strong>da</strong> Comarca de Fortaleza (art. 3º), cabendo a ele a<br />
supervisão dos trabalhos, avaliando o desempenho dos Conciliadores, além de expedir<br />
“instruções e estabelecendo os procedimentos necessários ao bom desempenho dos<br />
trabalhos.” (art. 4º)<br />
O artigo 5º estabeleceu o horário de 14 (quatorze) horas às 17 (dezessete) horas e<br />
30 (trinta) minutos nos dias úteis para a realização <strong>da</strong>s sessões de Conciliação na Central. A<br />
Central pode receber processos após a distribuição regulamenta<strong>da</strong> no artigo 1º, por meio do<br />
envio de processos pelos magistrados <strong>da</strong> Comarca de Fortaleza para que sejam submetidos<br />
à conciliação. Logo que houver acordo e ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais<br />
de intervenção, deverá ser assinado pelas partes, seus advogados e Conciliadores, e, quando<br />
frustra<strong>da</strong> a conciliação ou as partes não comparecendo, o termo ou os autos devem retornar<br />
imediatamente ao Juízo de origem para a homologação ou processamento na forma <strong>da</strong> lei.<br />
(art. 6º caput e parágrafos primeiro e segundo)<br />
Por último, os processos já em tramitação ao tempo <strong>da</strong> instalação <strong>da</strong> referi<strong>da</strong><br />
Central no Fórum Clóvis Beviláqua, a critério do juiz ou a requerimento <strong>da</strong>s partes, poderão<br />
ser submetidos à nova tentativa de conciliação, decorridos seis meses <strong>da</strong> criação <strong>da</strong> Central,<br />
se respeitados os dispositivos <strong>da</strong> Resolução. (art. 7º)<br />
A disposição anterior se justifica no sentido de priorizar as novas deman<strong>da</strong>s que<br />
ingressam num sistema judiciário já “abarrotado” e lento na prestação jurisdicional.<br />
Portanto, torna-se necessário verificar o an<strong>da</strong>mento <strong>da</strong> prestação dos serviços públicos pela<br />
Central para, no mínimo, após seis meses de sua implantação, poder receber processos que<br />
já estavam tramitando no sistema processual.<br />
Portanto, esse é o desenho institucional existente, no que tange aos mecanismos<br />
especializados em conciliação, no Poder Judiciário do Estado do Ceará antes <strong>da</strong> criação <strong>da</strong>
109<br />
Resolução nº 125/2004 do CNJ. Estrutura que foi her<strong>da</strong><strong>da</strong> pela rede nacional estabeleci<strong>da</strong><br />
pela Resolução do CNJ e que deverá sofrer mu<strong>da</strong>nças para realizar a correta incorporação<br />
do modelo, descrito no terceiro capítulo desse trabalho de “Tribunal Multiportas” para<br />
prestar serviços pré-processuais, judiciais e de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
No próximo tópico será trata<strong>da</strong> a implementação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário cearense e<br />
os problemas e obstáculos descobertos nesse processo.<br />
6.2 A CONSTRUÇÃO DO DESENHO INSTITUCIONAL NO<br />
PODER JUDICIÁRIO CEARENSE APÓS A RESOLUÇÃO Nº<br />
125/2010 DO CNJ<br />
Com a publicação <strong>da</strong> Resolução nº 125 em 29 de novembro de 2010 pelo CNJ, e,<br />
consequentemente, com a constituição <strong>da</strong> rede por todos os órgãos do Poder Judiciário e<br />
por enti<strong>da</strong>des públicas e priva<strong>da</strong>s parceiras, além de instituições de universi<strong>da</strong>des e<br />
instituições de ensino, o Tribunal de Justiça do Ceará teve como atribuição criar o Núcleo<br />
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e dos Centros Judiciais de<br />
Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
De acordo com o caput do artigo 7º <strong>da</strong> Resolução, o TJ-CE teria que ter criado o<br />
Núcleo no prazo de 30 (trinta) dias <strong>da</strong> publicação do referido marco normativo do CNJ.<br />
Contudo, o TJ-CE só efetivamente criou o Núcleo no dia 16 (dezesseis) de março de 2011,<br />
através do Provimento nº 03/2011, ou seja, mais de 100 (cem) dias após a Resolução nº 125<br />
entrar em vigor.<br />
Destarte, o Núcleo foi criado por meio de um Provimento organizado em cinco<br />
artigos, além <strong>da</strong>s razões expostas nos “considerandos” que trataram dos seguintes temas:<br />
a) As disposições <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ que regulamentou a Política<br />
Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses;<br />
b) O direito ao acesso à justiça posto na C.F. de 1988 não deve ser entendido<br />
somente na vertente formal, mas como acesso a uma ordem jurídica justa;
110<br />
c) A competência do Poder Judiciário para criar uma política pública nacional<br />
para resolver os conflitos jurídicos e de interesses que acontecem em<br />
crescente e larga escala na socie<strong>da</strong>de;<br />
d) O reconhecimento <strong>da</strong> efetivi<strong>da</strong>de dos métodos de conciliação e mediação na<br />
promoção <strong>da</strong> pacificação social, solução e prevenção de litígios, com base<br />
nas experiências bem sucedi<strong>da</strong>s em diversos Estados <strong>da</strong> Federação;<br />
e) O estímulo, o apoio e a difusão <strong>da</strong> sistematização e do aprimoramento <strong>da</strong>s<br />
práticas já realiza<strong>da</strong>s pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, sendo<br />
necessário, para tal fim, a criação de medi<strong>da</strong>s de ordem material,<br />
orçamentária e pessoal.<br />
Essas foram as razões que fun<strong>da</strong>mentaram a criação do Núcleo Permanente de<br />
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, instituído no âmbito <strong>da</strong> Central de<br />
Conciliação em 2º Grau de Jurisdição através do Provimento do TJ-CE, ressalte-se,<br />
passados três meses do prazo estabelecido na Resolução do CNJ. (art.1º)<br />
A composição do Núcleo foi estabeleci<strong>da</strong> <strong>da</strong> seguinte forma: 1 (um)<br />
Desembargador – Supervisor; 1 (um) Juiz de Direito – Coordenador; o Assessor de<br />
Pe<strong>da</strong>gogia <strong>da</strong> Presidência; 1 (um) servidor com formação em Psicologia; 1 (um) servidor<br />
com formação em Serviço Social; 1 (um) servidor com formação em Direito; 2 (dois)<br />
representantes <strong>da</strong> Secretaria Especial de Planejamento e Gestão; 2 (dois) representantes <strong>da</strong><br />
área de Treinamento, sendo um do Tribunal de Justiça e outro do Fórum Clóvis Beviláqua;<br />
1 (um) representante <strong>da</strong> Secretaria de Tecnologia <strong>da</strong> Informação; 1 (um) representante <strong>da</strong><br />
Central de Conciliação em 2º Grau de Jurisdição. (art. 2º)<br />
O Núcleo recebeu muitas atribuições de acordo com as designa<strong>da</strong>s na Resolução<br />
do CNJ. Ele deve exercer a função de “inteligência” 16 acerca dos métodos de RADs e de<br />
outros objetivos relevantes <strong>da</strong> Resolução nº 125 no Estado do Ceará, uma vez que foram<br />
estabeleci<strong>da</strong>s competências como “planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações”<br />
16 Estes Núcleos funcionam como órgãos de inteligência e gestão <strong>da</strong> Política Nacional. Compete a estes<br />
órgãos cui<strong>da</strong>r <strong>da</strong> administração de to<strong>da</strong> prática que se utiliza de mediação e conciliação na justiça,<br />
coordenando os serviços e recursos humanos, bem como organizar o funcionamento de to<strong>da</strong> deman<strong>da</strong><br />
vincula<strong>da</strong> a estas práticas. (NUPEMEC, 2013)
111<br />
para execução <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Política Judiciária Nacional, abrangendo além <strong>da</strong> Conciliação, os<br />
serviços de Mediação e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia. (art. 3º, inciso I)<br />
O Núcleo deve ain<strong>da</strong>: instalar ou ampliar os Centros Judiciais de Solução de<br />
Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia (inciso II); promover a capacitação, treinamento e atualização<br />
permanente de seus quadros profissionais (inciso III); normatizar as ações que serão<br />
desenvolvi<strong>da</strong>s nos Centros, respeitando o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores<br />
publicado no anexo III <strong>da</strong> Resolução do CNJ (inciso IV); criar e manter ca<strong>da</strong>stro sobre o<br />
ingresso e o desligamento de conciliadores e mediadores que atuem nos Centros (inciso V);<br />
criar e manter banco de <strong>da</strong>dos estatísticos sobre as ativi<strong>da</strong>des dos Centros (inciso VI);<br />
regulamentar, de acordo com a legislação, a remuneração de seus quadros profissionais<br />
(inciso VII); firmar convênios e parcerias além de atuar na interlocução com outros<br />
Tribunais e órgãos <strong>da</strong> rede (inciso VIII); estimular a realização de cursos e seminários sobre<br />
meios de RADs (inciso IX); e por fim, coordenar e fiscalizar os serviços executados pelos<br />
Centros (inciso X).<br />
No Núcleo serão realiza<strong>da</strong>s reuniões ordinárias, com periodici<strong>da</strong>de mensal, e<br />
reuniões extraordinárias, quando convoca<strong>da</strong>s por seus membros, cabendo ao Assessor de<br />
Pe<strong>da</strong>gógico ou à pessoa designa<strong>da</strong> pelo Supervisor do Núcleo a lavratura <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des.<br />
(art. 4º)<br />
Essa foi a estrutura desenha<strong>da</strong> pelo TJ-CE para realizar os objetivos <strong>da</strong> Política<br />
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses do CNJ. Nota-se<br />
que o Núcleo foi implantado, mesmo com a extrapolação do prazo (30 dias) estabelecido<br />
pelo CNJ, de forma muito superficial e geral, sem muito detalhamento de suas ações. Na<br />
prática, somente se repetiu muito dos dispositivos contidos na Resolução nº 125.<br />
Passados mais de dois anos e dois meses <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> referi<strong>da</strong> Política<br />
Judiciária Nacional, pode-se constatar alguns problemas quanto à execução <strong>da</strong>s diretrizes<br />
ou competências estabeleci<strong>da</strong>s para o TJ-CE, como: o maior detalhamento do<br />
funcionamento do Núcleo e elaboração de seu Regimento Interno para pautar as condutas<br />
de seus profissionais; a criação dos Centros ou a adequação e ampliação <strong>da</strong>s Centrais<br />
existentes para o conceito de “Tribunal Multiportas”; a elaboração dos marcos normativos
112<br />
dos Centros e a prestação de serviços de meios de RADs pré-processuais e de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia; e a<br />
adequação do endereço eletrônico do TJ-CE em dissonância com as alterações<br />
institucionais.<br />
Sente-se a ausência de alterações no desenho institucional do Núcleo Permanente<br />
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos adequando ou ajustando o equipamento<br />
diante dos obstáculos encontrados na implementação, como se pode perceber nas<br />
sucessivas Resoluções que estabeleceram a Central de Conciliação de 2º Grau de Jurisdição<br />
no tópico anterior.<br />
Também percebe-se a ausência de um Regimento Interno para o Núcleo,<br />
descrevendo todos os direitos e deveres dos profissionais, regras para o atendimento aos<br />
usuários, parâmetros para a produção de estatísticas, uma vez que o CNJ não criou ain<strong>da</strong> o<br />
Portal <strong>da</strong> Conciliação, possibili<strong>da</strong>de de remuneração dos conciliadores e mediadores, tipos<br />
de serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia ofertados etc.<br />
A efetiva criação ou ampliação dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos e<br />
Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia não ocorreu, nem o fato de o TJ-CE ter estruturado duas Centrais de Conciliação<br />
de 1º e 2º Graus de Jurisdição para realização de sessões de conciliação judicial foi capaz<br />
de acelerar a criação ou adequação desses equipamentos às normas <strong>da</strong> Resolução do CNJ.<br />
Até o presente momento, nenhum Centro Judicial de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia foi<br />
criado na forma <strong>da</strong> legislação pelo Poder Judiciário cearense.<br />
Os equipamentos existentes que oferecem serviços judiciais de conciliação<br />
deverão ser a<strong>da</strong>ptados e ampliados para que possam oferecer os serviços de conciliação e<br />
mediação pré-processuais e serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
Por essa razão, surge o problema de se querer adequar o nome <strong>da</strong>s instituições<br />
cria<strong>da</strong>s antes <strong>da</strong> Resolução, sem que as alterações sejam acompanha<strong>da</strong>s pelas devi<strong>da</strong>s<br />
normas jurídicas. Esse é o problema que está acontecendo quanto à Central de Conciliação<br />
de 1º Grau do Fórum Clóvis Beviláqua, a qual está localiza<strong>da</strong> nas páginas do endereço<br />
eletrônico do TJ-CE e já foi (re)nomea<strong>da</strong> como “Centro Judicial de Solução de Conflitos e<br />
Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia”, contudo, seu instrumento legal fun<strong>da</strong>nte ain<strong>da</strong> continua sendo a
113<br />
“Resolução nº 01/2007, o setor recebe processos oriundos <strong>da</strong>s Varas Cíveis e de<br />
Família, que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, tais como questões de<br />
vizinhança, reparação de <strong>da</strong>nos, pensão alimentícia, entre outros”, que criou a<br />
Central de Conciliação de 1º Grau de Jurisdição.<br />
[...]<br />
Procedimento<br />
Os casos submetidos à apreciação <strong>da</strong> Central de Conciliação são selecionados<br />
pelos juízes ou requeridos pelas partes em conflito. As audiências ocorrem a<br />
partir <strong>da</strong>s 14 horas e são presidi<strong>da</strong>s por conciliadores que têm a missão de<br />
facilitar o diálogo entre os litigantes, conduzindo-os a um acordo mutuamente<br />
satisfatório, inexistindo coação.<br />
Se houver acordo, será lavrado o correspondente termo, assinado pelas partes,<br />
advogados e conciliador, sendo devolvidos os autos ao Juízo de origem para a<br />
devi<strong>da</strong> homologação. Caso contrário, frustra<strong>da</strong> a conciliação, ou não<br />
comparecendo as partes à sessão conciliatória, os autos retornarão à respectiva<br />
Vara, para serem processados na forma <strong>da</strong> lei. (TJ-CE, 2013)<br />
Como se pode perceber, modificaram-se o nome e os serviços que deverão ser<br />
prestados pelo referido instituto, sem nenhuma alteração normativa que dê suporte às novas<br />
competências que deverão ser executa<strong>da</strong>s com base nas atribuições designa<strong>da</strong>s na Política<br />
Judiciária Nacional do CNJ.<br />
Por fim, se o Núcleo deverá desenvolver as diretrizes e as melhores práticas de<br />
gestão para a devi<strong>da</strong> realização dos objetivos <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ, ele não deveria<br />
ter sido criado dentro <strong>da</strong> Central de Conciliação de 2º Grau de Jurisdição como se pode<br />
notar, a partir do texto do Provimento nº 03/2011 do TJ-CE, “art. 1º Instituir, em caráter<br />
permanente, no âmbito <strong>da</strong> Central de Conciliação em 2º Grau de Jurisdição, o Núcleo de<br />
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos”, mas a Central que deveria ter ficado<br />
subordina<strong>da</strong> ao Núcleo.<br />
Quando se busca maiores informações sobre as ativi<strong>da</strong>des do Núcleo cearense,<br />
têm-se diversas notícias acerca de capacitações de servidores, magistrados, conciliadores e<br />
mediadores, além <strong>da</strong> promoção de seminários e a realização de mediações pré-processuais<br />
em parceria com uma instituição financeira, que deveria ocorrer nos Centros Judiciais de<br />
Solução de Conflitos, mas que foram realiza<strong>da</strong>s nas próprias dependências do Núcleo, por<br />
falta <strong>da</strong> adequação <strong>da</strong>s Centrais existentes nos Centros regulamentados pelo CNJ.<br />
Após a publicação do referido ato normativo fun<strong>da</strong>nte do Núcleo (Provimento nº<br />
03/2011), apenas, a Portaria nº 281/2011 do TJ-CE designou servidores do Tribunal para as
114<br />
funções do Núcleo e houve o Ato do Presidente do TJ-CE, no dia 07 (sete) de março de<br />
2012, nomeando uma Desembargadora para a função de Supervisora do Núcleo em razão<br />
<strong>da</strong> aposentadoria do Desembargador-supervisor anterior, e também para a função de<br />
Coordenadora <strong>da</strong> Central de Conciliação de 2º Grau de Jurisdição. Esses foram os atos<br />
normativos que versaram no período de realização <strong>da</strong> pesquisa sobre o Núcleo Permanente<br />
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e do Centro Judicial de Solução de<br />
Conflitos.<br />
Para terminar de construir o quadro institucional <strong>da</strong>s dificul<strong>da</strong>des comenta<strong>da</strong>s<br />
nesse tópico acerca <strong>da</strong> implantação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ no Poder Judiciário do<br />
Ceará, será analisa<strong>da</strong> a seguir a Emen<strong>da</strong> nº 1 <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional de tratamento<br />
adequado aos conflitos de interesses, que deixa ain<strong>da</strong> mais claro os ajustes necessários<br />
diante <strong>da</strong> problemática que é construir uma rede nacional forma<strong>da</strong> pelos órgãos do Poder<br />
Judiciário e instituições públicas e priva<strong>da</strong>s além de universi<strong>da</strong>des e instituições de ensino<br />
em todo o território extenso e desigual do país.<br />
6.3 EMENDA Nº 1 DA RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO CNJ<br />
Após dois anos e dois meses <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> Resolução nº 125 do CNJ que<br />
regulamentou a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de<br />
interesses, o Conselho aprovou a primeira emen<strong>da</strong> à referi<strong>da</strong> política pública nacional.<br />
A Emen<strong>da</strong> nº 1 <strong>da</strong> Resolução nº 125/2010 do CNJ foi publica<strong>da</strong> em 31 de janeiro<br />
de 2013. Trouxe em seu bojo algumas alterações na política pública judiciária<br />
regulamenta<strong>da</strong> que explicitam as possíveis dificul<strong>da</strong>des que os mecanismos institucionais<br />
criados pela Resolução enfrentaram e ain<strong>da</strong> enfrentam para serem implementados pelos<br />
diversos órgãos que compõem a rede nacional constituí<strong>da</strong> pelo CNJ.<br />
As modificações realiza<strong>da</strong>s no texto original <strong>da</strong> Resolução estão no artigo primeiro<br />
<strong>da</strong> Emen<strong>da</strong>, o qual realizou alterações nos artigos 1º, 2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 15, 16, 18<br />
e os Anexos I e III, além <strong>da</strong> inclusão dos princípios básicos <strong>da</strong> Justiça Restaurativa com<br />
base na Resolução nº 2002/12 do Conselho Econômico e Social <strong>da</strong> Organização <strong>da</strong>s Nações<br />
Uni<strong>da</strong>s nos “considerandos” <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional.
115<br />
A maior parte <strong>da</strong>s modificações foram sutis, ou seja, não foram feitas alterações na<br />
estrutura construí<strong>da</strong> pela Política Judiciária Nacional, mas, potencialmente em face <strong>da</strong>s<br />
dificul<strong>da</strong>des de operacionalização local e regional <strong>da</strong>s diretrizes traça<strong>da</strong>s para serem<br />
executa<strong>da</strong>s em todos os Tribunais, foram estendidos alguns prazos, além de terem sido<br />
revistos os anexos I e III e revogados os anexos II e IV para a efetiva concretização <strong>da</strong><br />
referi<strong>da</strong> Política.<br />
No artigo 1º foi modificado apenas o parágrafo único, onde se estabeleceu um<br />
prazo de dozes meses para que os serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, onde não tiverem sido oferecidos<br />
de imediato após a publicação <strong>da</strong> Resolução em novembro de 2010, sejam ofertados de<br />
maneira gra<strong>da</strong>tiva.<br />
No artigo 2º, fez-se uma reorganização didática dos requisitos que devem ser<br />
observados na implementação <strong>da</strong> Resolução em incisos: “I - centralização <strong>da</strong>s estruturas<br />
judiciárias; II - adequa<strong>da</strong> formação e treinamento de servidores, conciliadores e<br />
mediadores; III - acompanhamento estatístico específico.”<br />
No artigo 6º, que trata <strong>da</strong>s atribuições do CNJ, foram alterados os incisos II, VII e<br />
VIII. No inciso II, como em to<strong>da</strong> a Resolução nº 125, foi ressalta<strong>da</strong> a diferença entre as<br />
justiças estaduais e federal na forma <strong>da</strong> carreira dos magistrados e a competência <strong>da</strong> Escola<br />
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), como:<br />
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações volta<strong>da</strong>s à capacitação<br />
em métodos consensuais de solução de conflitos, para magistrados <strong>da</strong> Justiça<br />
Estadual e <strong>da</strong> Justiça Federal, servidores, mediadores, conciliadores e demais<br />
facilitadores <strong>da</strong> solução consensual de controvérsias, ressalva<strong>da</strong> a competência<br />
<strong>da</strong> Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados -<br />
ENFAM; (grifo nosso, para marcar as alterações no texto original)<br />
No inciso VII do artigo 6º, a nova re<strong>da</strong>ção só detalhou que o CNJ deve realizar<br />
gestão nas “empresas, públicas e priva<strong>da</strong>s, bem como junto às agências reguladoras de<br />
serviços públicos”. Já no inciso VIII do mesmo artigo, a Emen<strong>da</strong> o incorporou os <strong>da</strong>dos
116<br />
publicados pelo próprio CNJ em 2012, sobre os “grandes litigantes” 17 para estimular os<br />
meios de RADs.<br />
No artigo 7º que lista as atribuições dos Tribunais, mais especificamente quanto às<br />
ativi<strong>da</strong>des dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, foi<br />
alterado o caput no sentido de estabelecer novo prazo, de sessenta dias, para a implantação<br />
desses Núcleos pelos Tribunais pátrios. Além de reordenar, excluindo incisos e criando<br />
parágrafos que não existiam.<br />
No mesmo artigo, modificou-se a re<strong>da</strong>ção do inciso V só para incluir o vocábulo<br />
“incentivar” ao lado de promover cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos<br />
profissionais do referido Núcleo.<br />
O novo inciso VI, corresponde ao antigo inciso IX que lastreava a competência do<br />
Núcleo para “firmar” parcerias e convênios, porém, a nova re<strong>da</strong>ção respeitou o princípio <strong>da</strong><br />
hierarquia, uma vez que os Núcleos devem “propor” aos Tribunais que são vinculados à<br />
realização de parcerias e convênios.<br />
Ain<strong>da</strong> no mesmo artigo, o parágrafo único que obrigava a comunicação <strong>da</strong> criação<br />
de qualquer Núcleo e sua composição ao CNJ foi transformado em parágrafo primeiro,<br />
tendo sido incluídos os três parágrafos seguintes:<br />
§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde<br />
que esses centros comunitários não se confun<strong>da</strong>m com os Centros de conciliação<br />
e mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II.<br />
§ 3º Nos termos do art. 73 <strong>da</strong> Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 <strong>da</strong> Lei n°<br />
8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação<br />
penal ou qualquer outro processo restaurativo, desde que respeitados os<br />
princípios básicos e processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do<br />
Conselho Econômico e Social <strong>da</strong> Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s e a<br />
participação do titular <strong>da</strong> ação penal em todos os atos.<br />
§ 4º Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, os<br />
Tribunais deverão criar e manter ca<strong>da</strong>stro, de forma a regulamentar o processo de<br />
inscrição e de desligamento desses facilitadores.<br />
17<br />
CNJ divulga a lista dos 100 maiores litigantes do Judiciário. (CNJ, 2012).
117<br />
Como se pode perceber, novos parágrafos incluídos no artigo 7º <strong>da</strong> Resolução<br />
tratam de temáticas que os Núcleos podem incorporar, mas que se reportam a outros<br />
procedimentos como: a mediação comunitária que já foi cita<strong>da</strong> no capítulo 3º, sendo<br />
bastante desenvolvi<strong>da</strong>, pelo menos no Estado do Ceará, pelo Ministério Público Estadual 18 ,<br />
além de incluir a possibili<strong>da</strong>de de o Núcleo estimular e centralizar práticas restaurativas<br />
presentes na legislação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e no Estatuto <strong>da</strong> Criança<br />
e do Adolescente, respeitando sempre a Resolução <strong>da</strong> ONU neste aspecto.<br />
O parágrafo quarto desse artigo era o antigo inciso VI que estabelecia a<br />
necessi<strong>da</strong>de de criar e manter um banco de <strong>da</strong>dos sobre o ingresso e o desligamento dos<br />
conciliadores e mediadores vinculados ao Núcleo.<br />
Sobre a temática dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, a Emen<strong>da</strong> alterou<br />
o texto do segundo parágrafo e incluiu os parágrafos sexto, sétimo e oitavo. A alteração do<br />
segundo parágrafo foi no sentido de deixar mais claro os requisitos para a instalação de um<br />
Centro, pois, agora, “poderão” ser instalados numa locali<strong>da</strong>de “onde exista mais de uma<br />
uni<strong>da</strong>de jurisdicional com pelo menos uma <strong>da</strong>s competências referi<strong>da</strong>s no caput”, e<br />
“deverá” ser instalado um Centro caso existam mais de cinco uni<strong>da</strong>des jurisdicionais.<br />
Entende-se, de acordo com a Resolução do CNJ, como uni<strong>da</strong>de jurisdicional todo Juízo,<br />
Juizado ou Vara <strong>da</strong>s competências cita<strong>da</strong> no caput do artigo oitavo.<br />
Quanto ao sexto parágrafo, há a introdução de mais algumas possibili<strong>da</strong>des de<br />
abrangência para os Centros, podendo ser específicos sobre algumas temáticas como:<br />
família, empresarial, precatórios etc., possibili<strong>da</strong>de que não houve no texto original <strong>da</strong><br />
Resolução.<br />
No sétimo parágrafo, os Centros poderão organizar eventos de mutirões temáticos<br />
que eram o foco <strong>da</strong> política pública nacional de conciliação inicia<strong>da</strong> em 2006 até a<br />
publicação <strong>da</strong> Resolução. Isso não significa que a realização dos mutirões ou <strong>da</strong> Semana<br />
Nacional de Conciliação não devam mais ocorrer depois <strong>da</strong> Resolução nº 125, significa,<br />
apenas, que a nova Política Judiciária Nacional prioriza um novo paradigma, de caráter<br />
18 O Ministério Público do Ceará mantém funcionando 10 (dez) Núcleos de Mediação Comunitária em<br />
lugares estratégicos nos Municípios de Fortaleza, Caucaia e Russas, todos no Estado do Ceará.
118<br />
permanente, com foco na institucionalização dos métodos de RADs, baseado no modelo<br />
dos “Tribunais Multiportas”, já comentado no terceiro capítulo.<br />
O oitavo parágrafo regulamenta a forma de organizar as estatísticas quando dos<br />
resultados <strong>da</strong>s sessões de mediação e conciliação realiza<strong>da</strong>s na forma do sétimo parágrafo.<br />
Ele se torna mais claro quando interpretado com o inciso III do artigo 6º <strong>da</strong> mesma<br />
Resolução, o qual estabelece como atribuição do CNJ promover a inclusão dos resultados<br />
<strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des de conciliação, mediação e outros meios de RADs como critério de<br />
merecimento nos casos de remoções e promoções de magistrados.<br />
Sobre a seção dos Centros, ain<strong>da</strong> foi feita outra ressalva no artigo nono, acerca <strong>da</strong><br />
diferença entre as carreiras dos magistrados <strong>da</strong> Justiça Estadual e <strong>da</strong> Justiça Federal e sua<br />
nomeação pelo respectivo Tribunal Estadual ou Federal, dentre os que foram capacitados<br />
pelo modelo do anexo I <strong>da</strong> Resolução.<br />
A última alteração na seção dos Centros foi no sentido de deixar o artigo décimo<br />
mais claro e objetivo quanto aos serviços obrigatórios que devem ser ofertados pelos<br />
Centros, que são: serviços de solução pré-processual de conflitos, serviços de solução<br />
processual de conflitos e serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.<br />
Na seção III, sobre os “mediadores e conciliadores”, foram efetua<strong>da</strong>s alterações,<br />
apenas no terceiro parágrafo, no intuito de incluir uma constatação que foi explicita<strong>da</strong> no<br />
anexo I <strong>da</strong> presente Emen<strong>da</strong> nº 1 <strong>da</strong> Resolução nº 125 sobre os cursos e capacitações<br />
realiza<strong>da</strong>s. A constatação incluí<strong>da</strong> como norma no terceiro parágrafo, a qual será melhor<br />
entendi<strong>da</strong>, a partir dos comentários acerca <strong>da</strong>s alterações nos anexos, foi a seguinte:<br />
§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e<br />
conciliadores deverão observar o conteúdo programático, com número de<br />
exercícios simulados e carga horária mínimos estabelecidos pelo CNJ (Anexo<br />
I) e deverão ser seguidos necessariamente de estágio supervisionado. (grifo<br />
nosso)<br />
Na seção IV que trata dos <strong>da</strong>dos estatísticos, houve uma mu<strong>da</strong>nça no artigo<br />
décimo terceiro sobre a origem dos <strong>da</strong>dos que antes seriam produzidos com base no anexo
119<br />
IV (revogado pela presente Emen<strong>da</strong>) e agora, com a nova re<strong>da</strong>ção, os <strong>da</strong>dos serão<br />
produzidos e mantidos a partir <strong>da</strong>s informações disponíveis no Portal <strong>da</strong> Conciliação.<br />
A alteração ocorri<strong>da</strong> no inciso II, do décimo quinto parágrafo, referente ao Portal<br />
<strong>da</strong> Conciliação, teve somente a finali<strong>da</strong>de de retificar, por consequência <strong>da</strong> revogação do<br />
anexo IV, a base para a elaboração do relatório gerencial sobre as ativi<strong>da</strong>des realiza<strong>da</strong>s a<br />
partir <strong>da</strong> Resolução que, agora, deverão ser individualiza<strong>da</strong>s por Tribunal e pormenoriza<strong>da</strong>s<br />
por Uni<strong>da</strong>de Judicial e Centro apenas.<br />
Quanto ao Portal <strong>da</strong> Conciliação, cabe uma crítica, pois até o presente momento,<br />
aproxima<strong>da</strong>mente dois anos e dois meses depois <strong>da</strong> publicação <strong>da</strong> Resolução, ele não foi<br />
disponibilizado para a socie<strong>da</strong>de civil.<br />
Existe um setor específico no endereço eletrônico do CNJ, “Sistema Conciliação”,<br />
ain<strong>da</strong> com o logotipo <strong>da</strong> política pública nacional anterior fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> no “movimento<br />
pela conciliação”, onde requer um “usuário” e uma “senha” para poder ter acesso ao<br />
referido sistema.<br />
A única informação disponível é um campo de hyperlink que remete para as<br />
perguntas que serviriam de base para produção <strong>da</strong>s estatísticas <strong>da</strong> Semana Nacional de<br />
Conciliação de 2012. Não existe nenhuma referência no endereço eletrônico do CNJ sobre<br />
algum “Portal <strong>da</strong> Conciliação” até o mês de março de 2013.<br />
Nas disposições finais foram realiza<strong>da</strong>s algumas modificações, especificamente a<br />
inclusão de um parágrafo único no artigo 16º, inexistente no texto original <strong>da</strong> Resolução,<br />
tratando <strong>da</strong> possibili<strong>da</strong>de de os Centros ou Núcleos terem nomes diferentes dos<br />
estabelecidos na Resolução, não obstante, devem ser respeita<strong>da</strong>s as atribuições<br />
regulamenta<strong>da</strong>s no terceiro capítulo, sobre as atribuições dos Tribunais.<br />
Ain<strong>da</strong> nas disposições finais do texto original <strong>da</strong> Resolução, foi ratificado o caráter<br />
normativo <strong>da</strong> vinculação obrigatória a todos os anexos existentes. Antes o anexo II era<br />
entendido como mera sugestão, mas após as alterações, quando ele deixou de existir junto<br />
com o anexo IV, só restaram os anexos de vinculação obrigatória.
120<br />
Em relação ao anexo I, que trata dos cursos e aperfeiçoamento, são obrigatórias as<br />
regras estabeleci<strong>da</strong>s para conteúdos programáticos e carga horária mínima pelo CNJ,<br />
contudo, diante de problemas constatados como falta de exercícios simulados ou estágio<br />
supervisionado durante a aplicação desses conteúdos, levou o Conselho a retirar os modelos<br />
de módulos publicados no texto original <strong>da</strong> Resolução e vincular os módulos obrigatórios<br />
nos moldes dos aprovados pelo Conselho Gestor <strong>da</strong> Conciliação,<br />
[...] os treinamentos referentes a Políticas Públicas de Resolução de Disputas (ou<br />
introdução aos meios adequados de solução de conflitos), Conciliação e<br />
Mediação devem seguir as diretrizes indica<strong>da</strong>s no Portal <strong>da</strong> Conciliação, com<br />
sugestões de slides e exemplos de exercícios simulados a serem utilizados nas<br />
capacitações, devi<strong>da</strong>mente aprovados pelo Comitê Gestor <strong>da</strong> Conciliação.<br />
Os referidos treinamentos somente poderão ser conduzidos por instrutores<br />
certificados e autorizados pelos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais<br />
de Solução de Conflitos.<br />
Por fim, as últimas modificações na Resolução foram realiza<strong>da</strong>s no anexo III<br />
referente ao código de ética dos mediadores e conciliadores. Na parte dos princípios, houve<br />
uma reordenação em que os parágrafos que existiam foram transformados em incisos, além<br />
<strong>da</strong> inclusão dos princípios <strong>da</strong> decisão informa<strong>da</strong>, do empoderamento e <strong>da</strong> vali<strong>da</strong>ção, e a<br />
exclusão do princípio <strong>da</strong> neutrali<strong>da</strong>de no primeiro artigo e incisos do anexo III.<br />
No artigo segundo, que regulamenta as regras do procedimento de mediação e<br />
conciliação, foi alterado o inciso V, correspondente ao quinto parágrafo, que tratava <strong>da</strong><br />
necessi<strong>da</strong>de no final do procedimento de um “teste de reali<strong>da</strong>de” no acordo construído, a<br />
nova re<strong>da</strong>ção trouxe a obrigatorie<strong>da</strong>de <strong>da</strong> “compreensão quanto à mediação e à<br />
conciliação” que significa construir acordos realizáveis e com as partes bem informa<strong>da</strong>s<br />
sobre suas disposições, gerando o comprometimento necessário para o devido<br />
cumprimento.<br />
A última alteração realiza<strong>da</strong> na Resolução foi no sétimo artigo do anexo III,<br />
retirando a liberali<strong>da</strong>de que existia de uma espécie de “quarentena” de dois anos para que<br />
os mediadores e conciliadores pudessem prestar serviços de qualquer natureza aos<br />
envolvidos no processo de mediação ou conciliação sob sua condução. O novo código de<br />
ética retirou essa liberali<strong>da</strong>de, deixando claro que os conciliadores e mediadores estão
121<br />
proibidos permanentemente de prestar serviços de qualquer natureza às partes sob sua<br />
condução.<br />
Em segui<strong>da</strong> às alterações realiza<strong>da</strong>s, a Emen<strong>da</strong> nº 01 em seu segundo artigo,<br />
revogou os anexos II e IV que constavam no texto original <strong>da</strong> Resolução. Como já<br />
comentado, não foram feitas alterações estruturais na Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses regulamenta<strong>da</strong> pelo CNJ através <strong>da</strong><br />
Resolução nº 125.<br />
Pode-se notar, pelas alterações efetua<strong>da</strong>s pela primeira emen<strong>da</strong> a essa<br />
Resolução, ajustes realizados em decorrência dos problemas verificados na implantação<br />
dessa Política num território tão grande e com desigual<strong>da</strong>des regionais e locais entres os<br />
Poderes Judiciários e em outros mecanismos <strong>da</strong> Administração Pública.<br />
A rede nacional cria<strong>da</strong> pela Resolução para que fosse realiza<strong>da</strong> concretamente<br />
deixou claro a existência de problemas durante as tentativas de implementação como:<br />
extrapolações de vários prazos para criação dos Núcleos e dos Centros referidos, problemas<br />
na realização dos cursos de acordo com o modelo que existia no anexo I, esclarecimentos<br />
de dispositivos diante <strong>da</strong>s dúvi<strong>da</strong>s envia<strong>da</strong>s pelos demais órgãos <strong>da</strong> rede etc.<br />
Um dos pontos que ain<strong>da</strong> se espera após os dois anos e dois meses passados <strong>da</strong><br />
publicação <strong>da</strong> Resolução em 2010 é a criação do Portal <strong>da</strong> Conciliação com as estatísticas<br />
do país inteiro disponíveis para acompanhamento <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil, uma vez que a<br />
execução de to<strong>da</strong> política pública precisa estar disponível para que o controle social possa<br />
ser realizado.
122<br />
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O trabalho realizado até essa etapa teve como fio condutor diversos degraus para<br />
que fosse construído um caminho coerente e capaz de atingir os objetivos traçados desde a<br />
fase exploratória, com a elaboração do projeto de pesquisa e posterior apresentação no<br />
momento de qualificação.<br />
No início do estudo foi proposto trabalhar com algumas categorias essenciais para<br />
que a concretização de tão relevante Política Pública pudesse ser entendi<strong>da</strong> dentro de um<br />
contexto geral <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de brasileira, <strong>da</strong>s instituições envolvi<strong>da</strong>s e <strong>da</strong> literatura que servia<br />
de fun<strong>da</strong>mento para sua aprovação e implementação em todo o território nacional.<br />
Essas etapas foram considera<strong>da</strong>s necessárias para que se pudesse entender a razão<br />
dos poucos avanços normativos em relação à implementação <strong>da</strong> Política Judiciária<br />
Nacional do CNJ no TJ-CE no período em questão, ou seja, entre os anos de 2011 ao<br />
corrente ano.<br />
Após a realização <strong>da</strong> pesquisa documental, verificou-se que houve apenas um<br />
Provimento do TJ-CE criando o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções<br />
de Conflitos, uma Portaria designando os servidores para as funções no Núcleo e um Ato<br />
do Presidente do TJ-CE nomeando uma Desembargadora para a supervisão do Núcleo e<br />
coordenação <strong>da</strong> Central de Conciliação de 2º Grau de Jurisdição.<br />
Não houve, durante o período, elaboração do Regimento Interno ou de normas de<br />
conduta para serem segui<strong>da</strong>s pelos demais profissionais que não fossem conciliadores ou<br />
mediadores, pois estes tiveram um código de ética publicado como anexo III <strong>da</strong> Resolução<br />
do CNJ, nem o detalhamento dos serviços que seriam prestados aos usuários, fixação de<br />
remuneração de conciliadores e mediadores vinculados ao Núcleo ou aos Centros.<br />
Os Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia ain<strong>da</strong> não foram criados,<br />
nem foram adequa<strong>da</strong>s ou amplia<strong>da</strong>s as Centrais de Conciliação de 1º e 2º Graus de<br />
Jurisdição, a primeira cria<strong>da</strong> antes mesmo do Movimento pela Conciliação e a segun<strong>da</strong><br />
cria<strong>da</strong> sob a influência deste.
123<br />
Os serviços prestados pelo Núcleo, no espaço de tempo compreendido pela<br />
pesquisa, foram cursos de formação de conciliadores e mediadores de acordo com os<br />
parâmetros do CNJ, de capacitação dos servidores para trabalhar com mediação, de<br />
promoção de seminários sobre os serviços de Resolução Alternativa de Disputas e<br />
realização de mediações pré-processuais em parceria com uma instituição priva<strong>da</strong> a fim de<br />
evitar processos judiciais. 19<br />
Outro problema verificado é quanto ao marco normativo que criou o referido<br />
Núcleo, pois o vinculou à Central de Conciliação de 2º Grau de Jurisdição que, pelas<br />
normas do CNJ, deveria exercer a inteligência <strong>da</strong> gestão <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional no<br />
Estado do Ceará e ao qual deveriam ser vinculados todos os Centros Judiciais de Solução<br />
de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e outros equipamentos que executassem serviços judiciais de<br />
solução de conflitos.<br />
Para reforçar a existência dos desafios encontrados não só no Estado do Ceará,<br />
mas em outros lugares do país, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Primeira Emen<strong>da</strong><br />
à Resolução nº 125, dessa forma, dispondo de novos e maiores prazos para a implantação<br />
dos Núcleos e Centros, equipamentos essenciais para a efetivação <strong>da</strong> Política Judiciária<br />
Nacional.<br />
Os anexos II e IV que tratavam de mera sugestão como modelo de funcionamento<br />
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e os parâmetros para produção<br />
de indicadores estatísticos para avaliação dos resultados <strong>da</strong> Política foram revogados pela<br />
Emen<strong>da</strong> n º 1. O anexo I foi praticamente revogado em razão de problemas na execução dos<br />
cursos de formação com base nos módulos mínimos estabelecidos no texto original <strong>da</strong><br />
Resolução, pois não estavam sendo realizados exercícios simulados nem o estágio<br />
supervisionado previstos.<br />
Por fim, contata-se a louvável iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em tentar<br />
modificar tanto o comportamento dos usuários que procuram os serviços <strong>da</strong> justiça<br />
brasileira quanto dos demais profissionais que prestam tal serviço público, buscando<br />
19 Como o Núcleo não conta com um endereço eletrônico próprio, os <strong>da</strong>dos foram coletados através do setor<br />
de notícias no endereço eletrônico do próprio TJ-CE.
124<br />
principalmente a pacificação dos conflitos judiciais e de interesses e, consequentemente, a<br />
redução dos litígios que poderiam ser resolvidos pelos meios de resolução alternativa de<br />
disputas e que estão congestionando o sistema judiciário, além de ocasionar a tão propala<strong>da</strong><br />
“crise” <strong>da</strong> justiça na visão de muitos autores, dentre os quais foram citados durante a<br />
revisão bibliográfica realiza<strong>da</strong> nos capítulos iniciais deste trabalho.<br />
Apesar dos esforços do CNJ, dos profissionais do Poder Judiciário do Estado do<br />
Ceará e dos inúmeros voluntários que sem remuneração tentam realizar os objetivos <strong>da</strong><br />
referi<strong>da</strong> Política Pública Nacional, irão continuar a surgir Emen<strong>da</strong>s a essa Política em<br />
decorrência dos problemas que surgem diante <strong>da</strong>s dispari<strong>da</strong>des e desigual<strong>da</strong>des existentes<br />
entre as diversas reali<strong>da</strong>des dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro na implementação de<br />
reformas administrativa nos Poderes do Estado brasileiro em escala nacional, nesse sentido,<br />
Rezende (2002, p.125) reforça que,<br />
Independentemente de sua natureza, contexto e especifici<strong>da</strong>de, as reformas<br />
administrativas são políticas que se voltam para a melhoria <strong>da</strong> performance<br />
do aparato burocrático do Estado. Usualmente, estas políticas conjugam dois<br />
objetivos complementares: o ajuste fiscal (ou a redução dos gastos com o<br />
governo) e a mu<strong>da</strong>nça institucional (ou a mu<strong>da</strong>nça nas estruturas<br />
organizacionais, na cultura burocrática e, de modo mais geral, nas regras do<br />
jogo). Políticas com este propósito são tão antigas quanto os governos. To<strong>da</strong>via,<br />
conforme aponta a evidência empírica acumula<strong>da</strong> na produção acadêmica, sua<br />
implementação gera resultados muito distantes <strong>da</strong>queles que delas se espera e,<br />
consequentemente, os governos continuam a exibir problemas de performance,<br />
sendo que novas reformas são propostas a ca<strong>da</strong> governo. Nesse sentido, as<br />
políticas de reformas são conheci<strong>da</strong>s como políticas que têm baixa<br />
performance e alta persistência, portanto, são políticas que falham<br />
sequencialmente. (grifo nosso)<br />
Mesmo com todos esses percalços e após to<strong>da</strong>s essas considerações, espera-se que<br />
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará consiga continuar e aprofun<strong>da</strong>r a implementação<br />
<strong>da</strong> Política Pública Nacional do CNJ e que obtenha êxito na operacionalização do modelo<br />
de “Tribunal Multiportas”, no sentido de oferecer, com devi<strong>da</strong> quali<strong>da</strong>de, os serviços préprocessuais<br />
e judiciais de resolução alternativa de disputas aos usuários junto com outros<br />
serviços de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e orientação jurídica, psicológica e de assistência social<br />
regulamentados pelo CNJ e executados pelos Estados <strong>da</strong> Federação e parceiros.
125<br />
REFERÊNCIAS<br />
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Conciliação no início <strong>da</strong> ação divide opiniões em debate<br />
sobre novo CPC. Agência Câmara De Notícias. 13/12/2011. Disponível em: <<br />
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/206911-<br />
CONCILIACAO-NO-INICIO-DA-ACAO-DIVIDE-OPINIOES-EM-DEBATE-SOBRE-<br />
NOVO-CPC.html>. Acesso em: 22 fev. 2013.<br />
ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tânia; CRESPO, Mariana Hernandez (orgs.).<br />
Tribunal Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de<br />
conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.<br />
ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe; SÁ-SILVA, Jackson Ronie.<br />
Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História &<br />
Ciências Sociais: São Leopoldo-RS, Ano I, Número I, Julho, 2009.<br />
ALMEIDA, Frederico Normanha Ribeiro de. A Nobreza Toga<strong>da</strong>: as Elites Jurídicas e a<br />
Política <strong>da</strong> Justiça no Brasil. 2010. 329 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) -<br />
Facul<strong>da</strong>de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universi<strong>da</strong>de de São Paulo, São Paulo,<br />
2010.<br />
ALMEIDA, Jorge. (Novos) contextos organizacionais: o caso <strong>da</strong> administração <strong>da</strong> Justiça.<br />
Disponível em: .<br />
Acesso em: 10 fev. 2013.<br />
ALMEIDA, Tânia. Século XXI: A mediação de conflitos e outros métodos não-adversariais<br />
de resolução de controvérsias. MEDIARE, Diálogos e Processos Decisórios. Disponível<br />
em: < http://www.mediare.com.br/08artigos_02sec21.htm>. Acesso em: 13 fev. 2013.<br />
AZEVEDO, André Gomma de (org). Manual de Mediação judicial de conflitos. Brasil:<br />
Ministério <strong>da</strong> Justiça, 2009.<br />
______. Desafios de Acesso À Justiça ante o Fortalecimento <strong>da</strong> Autocomposição como<br />
Política Pública Nacional. In: PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong><br />
(coord.). Conciliação e Mediação: Estruturação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional. Rio de<br />
Janeiro: Forense, 2011.<br />
______. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto de<br />
mediação forense e alguns de seus resultados In: AZEVEDO, André Gomma de (org.).<br />
Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação, vol 3, Brasília: Grupos de Pesquisa,<br />
2004.
126<br />
______. Manual de Mediação Judicial. Brasília-DF: Ministério <strong>da</strong> Justiça e Programa <strong>da</strong>s<br />
Nações Uni<strong>da</strong>s para o Desenvolvimento – PNUD, 2012.<br />
AZEVEDO. Rodrigo Ghiringhelli de. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS: Uma<br />
abor<strong>da</strong>gem sociológica sobre a informalização <strong>da</strong> justiça penal no Brasil. Revista Brasileira<br />
de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 16, nº 47, outubro, 2001.<br />
BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria; MATTOS, Ruben Araújo. Sobre Política (ou o que<br />
achamos pertinente refletir para analisar políticas). In MATTOS, Ruben Araújo;<br />
BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. Caminhos para análise <strong>da</strong>s políticas de saúde. p. 52-<br />
91, 2011.<br />
BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria; REZENDE, Mônica de. A ideia de ciclo na análise<br />
de políticas públicas. In MATTOS, Ruben Araújo; BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria.<br />
Caminhos para análise <strong>da</strong>s políticas de saúde, p.138-172, 2011.<br />
BARCELAR, Tânia. As Políticas Públicas no Brasil: herança, tendências e desafios. In<br />
Santos Junior, Orlando Alves dos et al. (orgas). Políticas Públicas e Gestão Local:<br />
programa interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais. Rio de Janeiro: FASE,<br />
2003.<br />
BARCELAR, Roberto Portugal. O Poder Judiciário e o Paradigma <strong>da</strong> Guerra na Solução<br />
dos Conflitos. In: PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong> (coord.).<br />
Conciliação e Mediação: Estruturação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 2011.<br />
BARRETO, Lima. Os Bruzun<strong>da</strong>ngas. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2004.<br />
BRAGA NETO, Adolfo. Alguns Aspectos Relevantes sobre a Mediação de Conflitos. In<br />
GRINOVER, A<strong>da</strong> Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano<br />
(coords.). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional:<br />
guia prático para a instalação do setor de conciliação e mediação. 2ª reimpr. – São Paulo:<br />
Atlas, 2008.<br />
______. Breve História <strong>da</strong> Mediação de Conflitos no Brasil – <strong>da</strong> Iniciativa priva<strong>da</strong> à<br />
Política Pública. In BRAGA NETO, Adolfo; SALES, Lilia Maria de Morais (coords.).<br />
Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e judiciais de resolução de<br />
conflitos. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012.<br />
BRASIL. CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 DE MARÇO<br />
DE 1824). Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2012.
127<br />
______. LEI DE 29 DE NOVEMBRO DE 1832. Promulga o Codigo do Processo Criminal<br />
de primeira instancia com disposição provisoria ácerca <strong>da</strong> administração <strong>da</strong> Justiça Civil.<br />
Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso<br />
em: 13 dez. 2012.<br />
______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL<br />
(DE 16 DE JULHO DE 1934). Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso<br />
em: 13 dez. 2012.<br />
______. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE<br />
NOVEMBRO DE 1937). Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso<br />
em: 13 dez. 2012.<br />
______. DECRETO-LEI Nº 1.608, DE 18 DE SETEMBRO DE 1939. Código de Processo<br />
Civil. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2012.<br />
______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.<br />
Presidência <strong>da</strong> República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 dez.<br />
2012.<br />
______. DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal.<br />
Disponível em: .<br />
Acesso em: 10 dez. 2012.<br />
______. LEI Nº 7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984. Dispõe sobre a criação e o<br />
funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas. Revoga<strong>da</strong> pela Lei nº 9.099, de<br />
1995. Disponível em: .<br />
Acesso em: 10 dez. 2012.<br />
______. LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. Dispõe sobre os Juizados<br />
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em:<br />
. Acesso em: 10 dez. 2012.<br />
______. DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Aprova a Consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s<br />
Leis do Trabalho. Disponível em: .<br />
Acesso em: 10 dez. 2012.
128<br />
______. LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. Institui o Código de Processo Civil.<br />
Disponível em: . Acesso em: 10 dez.<br />
2012.<br />
______. LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a arbitragem.<br />
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 10 dez.<br />
2012.<br />
BRASÍLIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 125 de 29 de<br />
novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos<br />
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça.<br />
Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-<strong>da</strong>-presidencia/323-<br />
resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 20 jul.<br />
2012.<br />
_____. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Emen<strong>da</strong> nº 01 <strong>da</strong> Resolução nº 125 de 29<br />
de novembro de 2010. Dispõe sobre alterações na Política Judiciária Nacional de<br />
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Conselho<br />
Nacional de Justiça. Disponível em:<br />
. Acesso em: 25 fev. 2013.<br />
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de<br />
Janeiro: Campus, 2004.<br />
BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas<br />
públicas. In. FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio José dos Santos; DIAS, Maria Tereza<br />
Fonseca Dias (orgs.). Políticas Públicas, possibili<strong>da</strong>des e limites. Belo Horizonte: Fórum,<br />
2008.<br />
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In. BUCCI, Maria<br />
Paula Dallari. Políticas Públicas, reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva,<br />
2006.<br />
BUZZI, Marco Aurélio Gastaldi. Movimento pela Conciliação. In: PELUSO, Antonio<br />
Cezar; RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong> (coord.). Conciliação e Mediação: Estruturação <strong>da</strong><br />
Política Judiciária Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011.<br />
CAETANO, Luiz Antunes. Arbitragem e mediação, hoje. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:<br />
Editora Pillares, 2006.
129<br />
CALAMANDREI, Piero. A Crise <strong>da</strong> Justiça – Ciclo de Conferências realizado na<br />
Universi<strong>da</strong>de de Pádua. Ed. Líder. Belo Horizonte, 2003.<br />
CALMON, Petrônio. Fun<strong>da</strong>mentos <strong>da</strong> mediação e <strong>da</strong> conciliação. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 2008.<br />
CÂMARA DA REFORMA DO ESTADO. Presidência <strong>da</strong> República. Plano Diretor <strong>da</strong><br />
Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995.<br />
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie<br />
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.<br />
CARDOSO, José Eduardo. In: AZEVEDO, André Gomma de (org.). Manual de Mediação<br />
Judicial. Brasília-DF: Ministério <strong>da</strong> Justiça e Programa <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s para o<br />
Desenvolvimento – PNUD, 2012.<br />
CARVALHO, Jose Murilo de. A Construção <strong>da</strong> Ordem: elite política nacional. Teatro<br />
de Sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.<br />
_____. Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia no Brasil: o longo caminho. 10 ed. Rio de Janeiro: Civilização<br />
Brasileira, 2008.<br />
CASTEL, Robert. As metamorfoses <strong>da</strong> questão social: uma crônica do salário. Tradução de<br />
Iraci D. Poleti. 8. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2009.<br />
CEARÁ. Resolução nº 10 de 20 de maio de 2004, publica<strong>da</strong> no Diário <strong>da</strong> Justiça do Ceará<br />
no dia 24 de maio de 2004. Dispões sobre a criação e o funcionamento <strong>da</strong> Central de<br />
Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Atos<br />
do Presidente.<br />
_____. Resolução nº 17 de 14 de julho de 2004, publica<strong>da</strong> no Diário <strong>da</strong> Justiça do Ceará no<br />
dia 16 de julho de 2004. Dá nova re<strong>da</strong>ção à Resolução n.º 10, de 20 de maio de<br />
2004, que dispõe sobre a criação e funcionamento <strong>da</strong> “Central de Conciliação em<br />
Segundo Grau de Jurisdição”. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Atos do<br />
Presidente.<br />
_____. Resolução nº 17 de 19 de outubro de 2006, publica<strong>da</strong> no Diário <strong>da</strong> Justiça do Estado<br />
no dia 23 de outubro de 2006. Dá nova re<strong>da</strong>ção à Resolução nº 10, de 20 de maio de 2004,<br />
altera<strong>da</strong> pela Resolução nº 17, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre a criação e o<br />
funcionamento <strong>da</strong> Central de Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição. Tribunal de<br />
Justiça do Estado do Ceará. Atos do Presidente.
130<br />
_____. Resolução nº 01 de 15 de fevereiro de 2007, publica<strong>da</strong> no Diário <strong>da</strong> Justiça do<br />
Ceará no dia 16 de fevereiro de 2007. Cria a Central de Conciliação em Primeiro Grau<br />
de Jurisdição junto ao Fórum Clóvis Beviláqua. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.<br />
Atos do Presidente.<br />
_____. Provimento nº 03/2011 de 16 de março de 2011. Instituição do Núcleo de Métodos<br />
Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito <strong>da</strong> Central de Conciliação em 2º Grau de<br />
Jurisdição. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.<br />
_____. Portaria nº 281/2011. Designação dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado<br />
do Ceará que foram lotados no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de<br />
Conflitos.<br />
CENTER FOR DEMOCRACY AND GOVERNANCE. Alternative Dispute Resolution<br />
Practitioners' Guide. Technical Publication Series. Center for Democracy and Governance<br />
Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International<br />
Development Washington, D.C, 1998. Disponível em: <<br />
http://transition.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacb8<br />
95.pdf>. Acesso em 23 fev. 2013.<br />
CHAUÍ, Marilera. Brasil, Mito Fun<strong>da</strong>dor e Socie<strong>da</strong>de Autoritária. 4. ed. São Paulo:<br />
Fund.Perseu Abramo, 2001.<br />
CONJUR. Discurso do Presidente Lula no Espírito Santo no dia 22 de abril de 2003.<br />
Revista Consultor Jurídico. Disponível em: . Acesso em: 10 fev. 2013.<br />
CONJUR. Presidente defende reforma do Judiciário com controle externo. Revista<br />
Consultor Jurídico. Disponível em: . Acesso em: 10 fev. 2013.<br />
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Manual de Mediação Judicial. 2 ed.<br />
Brasília: Ministério <strong>da</strong> Justiça, 2010.<br />
_____. Auto Circunstanciado de Inspeção Preventiva Justiça Estadual do Ceará.<br />
Portaria nº 212 de 18 de agosto de 2009. Corregedoria do CNJ. Disponível em:<br />
. Acesso em: 15 mar.<br />
2013.
131<br />
_____. Mutirões de Conciliação do SFH. Disponível em:<br />
.<br />
Acesso em 27 jan. 2012.<br />
_____. Notícias sobre Conciliação. Disponível em: .<br />
Acesso em 27 jan. 2013.<br />
_____. Sobre o CNJ. Disponível em: . Acesso em 23 jan.<br />
2013.<br />
_____. Programas de A-Z. Disponível em: .<br />
Acesso em 23 jan. 2013.<br />
_____. Resultado <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação de 2006. Disponível em:<br />
. Acesso em 26 jan. 2013.<br />
_____. Resultado <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação de 2007. Disponível em: <<br />
http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/2007-<br />
semana_conciliacao_2007.pdf>. Acesso em 26 jan. 2013.<br />
_____. Resultado <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação de 2008. Disponível em:<br />
.<br />
Acesso em 26 jan. 2013.<br />
_____. Resultado <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação de 2009. Disponível em:<br />
.<br />
Acesso em 26 jan. 2013.<br />
_____. Resultado <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação de 2010. Disponível em:<br />
. Acesso em 27 de jan. 2013.<br />
CRESPO, Mariana Hernandez. Perspectiva sistêmica dos métodos alternativos de resolução<br />
de conflitos na América Latina: aprimorando a sombra <strong>da</strong> lei através <strong>da</strong> participação do<br />
ci<strong>da</strong>dão. In: ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tânia; CRESPO, Mariana<br />
Hernandez (orgs.). Tribunal Multiportas: investindo no capital social para maximizar o<br />
sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.<br />
DicionárioWeb. Verbete: Competência. Disponível em<br />
http://www.dicionarioweb.com.br/compet%C3%AAncia.html. Acesso em 18 jan. 2013.
132<br />
DELGADO, Mauricio Godinho. Arbitragem, mediação e comissão de conciliação prévia<br />
no direito do trabalho brasileiro. Revista LTr, São Paulo, v. 66, n. 6, jun. 2002.<br />
DUARTE, Lilith Joice Matos Frota Lemos. Juizados Especiais Cíveis e a Proposta de uma<br />
Justiça mais Célere: dos Princípios Processuais, do Amplo Acesso à Justiça e do<br />
Desvirtuamento <strong>da</strong> Teoria. Revista Jurídica Eletrônica Da Universi<strong>da</strong>de Federal Do Piauí.<br />
Arquivo Jurídico, Teresina-PI, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011.<br />
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. Porto<br />
Alegre: Globo; São Paulo: Editora <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de São Paulo, 1975.<br />
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Ideias, conhecimento e políticas públicas: um<br />
inventário sucinto <strong>da</strong>s principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de<br />
Ciências Sociais, 2003, nº 18, p. 21-30.<br />
FARIA, José Eduardo. Direito e Justiça no século XXI: a crise <strong>da</strong> Justiça no Brasil.<br />
Seminário Direito e Justiça no Século XXI, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, de 29 de<br />
maio a 1 de junho de 2003. Apresentação.<br />
FEITOSA, Gustavo Raposo Pereira. MAGISTRATURA, CIDADANIA E ACESSO À<br />
JUSTIÇA: OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA CIDADE DE SÃO PAULO. 2005.<br />
252 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universi<strong>da</strong>de Estadual de Campinas,<br />
Campinas, 2005.<br />
FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marco Julio<br />
Olivé. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008.<br />
GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRs. Mediação. Conciliação e arbitragem. 2ª<br />
ed., rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.<br />
GONÇALVES, Vinícius José Corrêa. Tribunais Multiportas: em Busca de Novos<br />
Caminhos para a Efetivação dos Direitos Fun<strong>da</strong>mentais de Acesso à Justiça e à Razoável<br />
Duração dos Processos. 2011. 225 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) -<br />
Universi<strong>da</strong>de Estadual do Norte do Paraná – Uenp. Jacarezinho – PR, 2011.<br />
GONDIM, Lin<strong>da</strong> Maria de Pontes; LIMA, J. C.. A pesquisa como artesanato intelectual:<br />
considerações sobre o método e bom senso. João Pessoa: Manufatura, 2002.<br />
GOHN, Glória. O protagonismo <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de civil: movimentos sociais, ONGs e redes<br />
solidárias. São Paulo: Cortez, 2008.
133<br />
GRINOVER, A<strong>da</strong> Pellegrini. O Controle <strong>da</strong>s Políticas Públicas pelo Poder Judiciários.<br />
Universi<strong>da</strong>de Metodista de São Paulo – Facul<strong>da</strong>de de Humani<strong>da</strong>des e Direito. Revista do<br />
Curso de Direito <strong>da</strong> Facul<strong>da</strong>de de Humani<strong>da</strong>des e Direito, v. 7, n. 7, 2010.<br />
GRINOVER, A<strong>da</strong> Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos<br />
de Araújo. Teoria geral do processo. 21ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores,<br />
2004.<br />
HELDER, Raimundo. Como fazer análise documental. Porto: Universi<strong>da</strong>de de Algarve,<br />
2006.<br />
HERMAN, Ricardo Torres. O Tratamento <strong>da</strong>s Deman<strong>da</strong>s de Massa nos Juizados Especiais<br />
Cíveis. Coleção Administração Judiciária. 160 f. Dissertação (Mestrado Profissional em<br />
Poder Judiciário) – Fun<strong>da</strong>ção Getúlio Vargas – Direito Rio. Porto Alegre: Tribunal de<br />
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2010.<br />
HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia <strong>da</strong>s Letras,<br />
1995.<br />
JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo. Centro de<br />
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - CPDOC/FGV. Revista<br />
Estudos Históricos, v. 9, nº 18, 1996, p. 389-402.<br />
KOERNER, Andrei. Judiciário e Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia na Construção <strong>da</strong> República Brasileira.<br />
Curitiba: Juruá Editora, 2010.<br />
LEVY, Fernan<strong>da</strong> et al. Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça - Leitura<br />
comenta<strong>da</strong>. 2011. Disponível em: < http://www.foname.com.br/wpcontent/uploads/2011/10/MEDIACAO-CNJ-RESOLUCAO-GUIA-PRATICO-final.pdf>.<br />
Acesso em 22 fev. 2013.<br />
LUCHIARI, Valéria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça:<br />
Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: PELUSO,<br />
Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong> (coord.). Conciliação e Mediação:<br />
Estruturação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011.<br />
MACHADO, Antonio Claudio <strong>da</strong> Costa. 95 teses contra o Novo CPC. 2012. Disponível<br />
em: < http://www.professorcostamachado.com/?p=1192>. Acesso em 22 fev. 2013.<br />
MNOOKIN, Robert, Alternative Dispute Resolution.Harvard Law School John M. Olin<br />
Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series. Paper 232, 1998.<br />
Disponível em: . Acesso em: 20 fev. 2013.
134<br />
MOREIRA-LEITE, Angela. Em tempo de conciliação. Niterói: EdUFF, 2003.<br />
NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Comentários ao Estatuto <strong>da</strong> Advocacia e <strong>da</strong> OAB. 7ª ed.<br />
São Paulo: Saraiva, 2013.<br />
NOGUEIRA, José Marcelo Maia. A ausência do Poder Judiciário enquanto objeto de<br />
estudo <strong>da</strong> Administração Pública brasileira. Revista Eletrônica Díke, Fortaleza, vol. 1, no 1<br />
jan./jul., 2011.<br />
NORTHFLEET, Ellen Gracie. Conversar faz Diferença. STF em Pauta. Brasília, 03 de<br />
dezembro de 2007. Opinião.<br />
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/CE. Movimento “Justiça Já – Não<br />
dá mais para esperar”. Disponível em: .<br />
Acesso em: 15 mar. 2013.<br />
PELUSO, Antonio Cezar. Discurso de Posse na Presidência do STF e do CNJ. Brasília,<br />
abril, 2010. Disponível em: < http://ghlb.files.wordpress.com/2010/04/discursopeluso.pdf>.<br />
Acesso em: 01 fev. 2013.<br />
REZENDE, Flávio <strong>da</strong> Cunha. Por que reformas administrativas falham? Rev. bras. Ci.<br />
Soc. [online]. 2002, vol.17, n.50, pp. 123-142. ISSN 0102-6909.<br />
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:<br />
Companhia <strong>da</strong>s Letras, 2006.<br />
RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong>. Evolução <strong>da</strong> Semana Nacional de Conciliação como<br />
Consoli<strong>da</strong>ção de um Movimento Nacional Permanente <strong>da</strong> Justiça Brasileira. In: PELUSO,<br />
Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almei<strong>da</strong> (coord.). Conciliação e Mediação:<br />
Estruturação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011.<br />
RUA, Maria <strong>da</strong>s Graças. Políticas públicas. Florianópolis: Departamento de Ciências <strong>da</strong><br />
Administração / UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2009.<br />
SADEK, Maria Tereza Aina. Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Opinião<br />
Pública. Campinas, vol. X, n. 1, maio de 2004.<br />
______. Acesso à Justiça. São Paulo: Fun<strong>da</strong>ção Konrad Adenauer, 2001.
135<br />
SALES, Lilia Maria de Morais. A evolução <strong>da</strong> mediação através dos anos –<br />
primoramentos <strong>da</strong>s discussões conceituais. In BRAGA NETO, Adolfo; SALES, Lilia<br />
Maria de Morais (coords.). Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e<br />
judiciais de resolução de conflitos. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012.<br />
______. Justiça e mediação conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.<br />
SANDEL, Michael J. Justiça – o que é fazer a coisa certa. 6ª Edição, Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 2012.<br />
SANDER, Frank. Diálogo entre os professores Frank Sander e Mariana Hernandez Crespo:<br />
explorando a evolução do Tribunal Multiportas. In: ALMEIDA, Rafael Alves de;<br />
ALMEIDA, Tânia; CRESPO, Mariana Hernandez (orgs.). Tribunal Multiportas: investindo<br />
no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de<br />
Janeiro: Editora FGV, 2012.<br />
SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. Pela Mão de Alice. O Social e o Político na<br />
Pós-Moderni<strong>da</strong>de. 7ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 1995.<br />
______. Introdução à Sociologia <strong>da</strong> Administração <strong>da</strong> Justiça, Revista Crítica de Ciências<br />
Sociais, 1987, nº 21, p. 11-37.<br />
______. Para uma revolução democrática <strong>da</strong> justiça. São Paulo: Cortez, 2011.<br />
SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João;<br />
FERREIRA, Pedro. Os tribunais nas socie<strong>da</strong>des contemporâneas. O caso português. Porto:<br />
Ed. Centro de Estudos Sociais, Centro de Estudos Judiciários e Edições Afrontamento,<br />
1996.<br />
SANTOS, Ricardo Goretti. Mediação Comunitária: Estratégias de Operacionalização e<br />
Difusão de um Mecanismo Alternativo de Democratização do Acesso à Justiça no Brasil.<br />
Núcleo de Estudos e Práticas Emancipatórias, Universi<strong>da</strong>de Federal de Santa Catarina.<br />
Centro de Ciências Jurídicas. Disponível em: <<br />
http://www.nepe.ufsc.br/controle/artigos/artigo51.pdf>. Acesso em 13 fev. 2013.<br />
SARAVIA, Enrique. Introdução à teoria <strong>da</strong> política pública. In: SARAVIA, Enrique;<br />
FERRAREZI, Elizabete (Org.). Políticas Públicas. Coletânea, vol. 1. Brasília: ENAP,<br />
2006.<br />
SCHWARTZMAN, Simon. Bases do Autoritarismo Brasileiro. 3ª ed. ver. e amp. Rio de<br />
Janeiro: Editora Campus, 2007.
136<br />
SHAMIR, Yona. Alternative Dispute Resolution Approaches and Their Application. Israel<br />
Center for Negotiation and Mediation - ICNM. Assisted by Ran Kutner. UNESCO’s<br />
International Hydrological Programme to the World Water Assessment Programme.<br />
Disponível<br />
em:<br />
. Acesso em: 22 fev. 2013.<br />
SOUZA, Celina. Estado <strong>da</strong> Arte <strong>da</strong> Pesquisa em Políticas Públicas. In Hochman, Gilberto;<br />
Arretche, Marta; Marques, Eduardo (orgs.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro:<br />
Editora Fiocruz, 2008.<br />
______. O “Estado do campo” <strong>da</strong> pesquisa em políticas públicas no Brasil. Revista<br />
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 18, nº 51, fevereiro, 2003.<br />
______. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, Salvador, n.<br />
39, p. 11-24, jul./dez. 2003.<br />
______. Políticas Públicas, uma revisão de literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº<br />
16, p. 20-45, jul/dez 2006.<br />
SPENGLER, Fabiana Marion. MEDIAÇÃO: UM RETROSPECTO HISTÓRICO,<br />
CONCEITUAL E TEÓRICO. In: SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO,<br />
Theobaldo (orgs.). Mediação enquanto política pública: a teoria, a prática e o projeto de<br />
lei. 1 ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010.<br />
TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O Papel <strong>da</strong>s Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e<br />
na Transformação <strong>da</strong> Reali<strong>da</strong>de. Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais <strong>da</strong><br />
Bahia, 2002. Disponível em: <<br />
http://www.aatr.org.br/site/uploads/publicacoes/o_papel_<strong>da</strong>s_politicas_publicas_no_desenv<br />
olvimento_local.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2013.<br />
TOURINHO NETO, Fenando <strong>da</strong> Costa. Controle Externo <strong>da</strong> Magistratura. Revista do<br />
Tribunal Regional Federal <strong>da</strong> 1º Região. Brasília, vol. 5, jan.-jul./1993, p. 15-19.<br />
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Central de Conciliação de 1º<br />
Grau. Disponível em: <<br />
http://www.tjce.jus.br/forum_clovis/forum_central_de_concilacao.asp>. Acesso em: 29<br />
jun. 2012.<br />
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Judiciário cearense soluciona<br />
7.275 casos na Semana Nacional <strong>da</strong> Conciliação. Disponível em:
137<br />
. Acesso em: 29 jun.<br />
2012.<br />
UCHÔA, Marcelo Ribeiro. Controle do Judiciário, <strong>da</strong> expectativa à concretização: o<br />
primeiro biênio do Conselho Nacional de Justiça. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.<br />
VIZENTINI, Paulo Fagundes. Carter e a diplomacia do prêmio nobel <strong>da</strong> paz. Disponível<br />
em: < http://educaterra.terra.com.br/vizentini/artigos/artigo_90.htm>. Acesso em: 12 fev.<br />
2013.<br />
WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento<br />
adequado dos conflitos de interesses. In: PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de<br />
Almei<strong>da</strong> (coord.). Conciliação e Mediação: Estruturação <strong>da</strong> Política Judiciária Nacional.<br />
Rio de Janeiro: Forense, 2011.<br />
______. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In: ALMEIDA,<br />
Rafael Alves de; ALMEIDA, Tânia; CRESPO, Mariana Hernandez (orgs.). Tribunal<br />
Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos<br />
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.