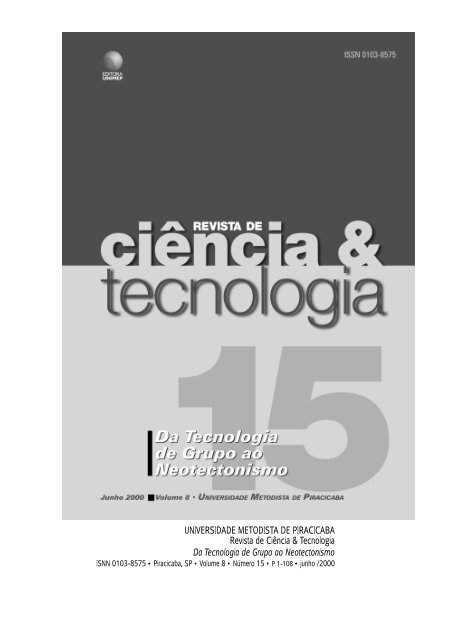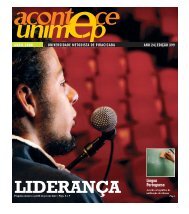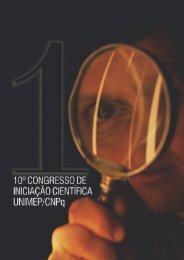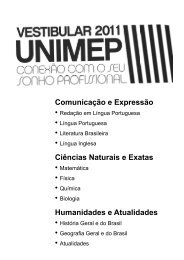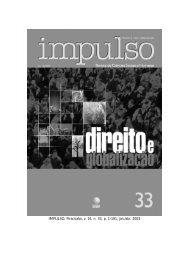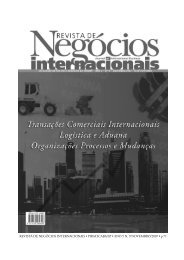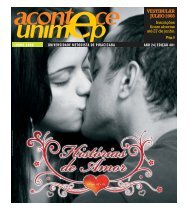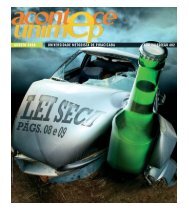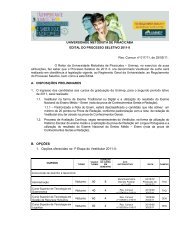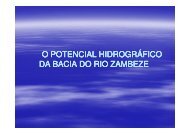UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA Revista ... - Unimep
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA Revista ... - Unimep
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA Revista ... - Unimep
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>UNIVERSIDA<strong>DE</strong></strong> <strong>METODISTA</strong> <strong>DE</strong> <strong>PIRACICABA</strong><br />
<strong>Revista</strong> de Ciência & Tecnologia<br />
Da Tecnologia de Grupo ao Neotectonismo<br />
ISNN 0103-8575 • Piracicaba, SP • Volume 8 • Número 15 • P 1-108 • junho /2000<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 1
<strong>UNIVERSIDA<strong>DE</strong></strong> <strong>METODISTA</strong> <strong>DE</strong> <strong>PIRACICABA</strong><br />
Reitor<br />
ALMIR <strong>DE</strong> SOUZA MAIA<br />
Vice-reitor Acadêmico<br />
ELY ESER BARRETO CÉSAR<br />
Vice-reitor Administrativo<br />
GUSTAVO JACQUES DIAS ALVIM<br />
EDITORA UNIMEP<br />
CONSELHO <strong>DE</strong> POLÍTICA EDITORIAL<br />
Almir de Souza Maia (presidente)<br />
Antonio Roque Dechen<br />
Casimiro Cabrera Peralta<br />
Cláudia Regina Cavaglieri<br />
Elias Boaventura<br />
Ely Eser Barreto César (vice-presidente)<br />
Francisco Cock Fontanella<br />
Gislene Garcia Franco do Nascimento<br />
Nivaldo Lemos Coppini<br />
NÚMERO 15 – VOLUME 8 – 2000<br />
COMISSÃO EDITORIAL<br />
Nivaldo Lemos Coppini (presidente)<br />
Hélio Dias da Silva<br />
Klaus Schützer<br />
Maria de Fátima Nepomuceno Dédalo<br />
Waldo Luis de Lucca<br />
EDITOR-EXECUTIVO<br />
Heitor Amílcar da Silveira Neto (MTb 13.787)<br />
SECRETÁRIA DA COMISSÃO EDITORIAL<br />
acadêmica Flavia Paduan Bellani<br />
A REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA é uma publicação semestral da Universidade<br />
Metodista de Piracicaba. Os textos são selecionados por processo<br />
anônimo de avaliação por pares (peer review). Veja as normas para publicação<br />
no final da revista. Os originais devem ser encaminhados por e-mail ao<br />
endereço revct@unimep.br ou, pelo Correio, para: Comissão Editorial<br />
da RC&T, a/c prof. Nivaldo Coppini, UNIMEP – Campus Santa Bárbara<br />
d’Oeste – Rod. Santa Bárbara/Iracemápolis, km 01 – 13450-000 – Santa<br />
Bárbara d’Oeste/SP.<br />
As opiniões expressas nos artigos, tanto os encomendados como os enviados<br />
espontaneamente, são de responsabilidade dos seus autores.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA (Science na Technology<br />
Journal) is published twice a year by Universidade<br />
Metodista de Piracicaba (São Paulo – Brazil).<br />
It contains papers on scientific and technological<br />
issues. Manuscripts are selected through a blind<br />
peer review process. Editorial norms for submission<br />
of articles can be requested to the Editor.<br />
A <strong>Revista</strong> Ciência & Tecnologia é indexada por<br />
<strong>Revista</strong> de Ciência & Tecnologia is indexed by<br />
Base de Dados do Centro de Informações Científicas<br />
e Tecnológicas (Comissão Nacional de Energia<br />
Nuclear); Base de Dados do Ibge; Internacional<br />
Abstracts in Operations Research/IOR (University of<br />
Exeter); Periódica – Incide de <strong>Revista</strong>s Latinoamericanas<br />
em Ciencias (Unam); Subis (Sheffield Academic<br />
Press).<br />
EQUIPE TÉCNICA<br />
SECRETÁRIA<br />
Ivonete Savino<br />
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO<br />
Altair Alves da Silva<br />
EDIÇÃO <strong>DE</strong> TEXTO<br />
Milena de Castro<br />
REVISÃO<br />
Sabrina R. Bologna<br />
CAPA<br />
Genival Cardoso<br />
Impressão: Personal Grafik Gráfica e Editora<br />
DTP E PRODUÇÃO<br />
Gráfica UNIMEP • Impresso em<br />
Duplicadora Digital Xerox Doutech 135<br />
ASSINATURAS E REDAÇÃO<br />
EDITORA UNIMEP<br />
Rodovia do Açúcar, km 156<br />
13400-911 – Piracicaba – SP<br />
Tel/fax: (19) 430-1620<br />
E-mail: editora@unimep.br<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA<br />
V. 1 • N. 1 • 1981<br />
Piracicaba, Editora UNIMEP<br />
Semestral / Twice a year<br />
1- Tecnologia – periódicos<br />
CDU – 62 (05)<br />
ISNN 0103-8575<br />
2 Junho • 2000
RC&T 15<br />
Editorial<br />
PRESTÍGIO E RESPEITO<br />
Definitivamente, nenhuma pesquisa científica pode ser completa se os resultados das investigações nela<br />
conduzidas não forem amplamente divulgados por meios capazes de apresentá-los à sociedade, de maneira a<br />
contribuir para a formação de recursos humanos, para o avanço da ciência ou mesmo para disponibilizá-los<br />
aos setores produtivos dessa sociedade.<br />
É nesse sentido que muito nos honra apresentar mais este número da REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA &<br />
TECNOLOGIA, que tem demonstrado constituir eficaz espaço editorial no debate e na difusão de inúmeras<br />
informações científicas, cumprindo, assim, o seu papel acadêmico ao longo dos anos.<br />
Tanto que sua importância não está restrita ao meio unimepiano. Sua inserção já é marcante na comunidade<br />
científica, inserção esta revelada pelos numerosos trabalhos de pesquisadores de renome nacional e<br />
internacional nela publicados. Além disso, a qualidade identificada nos seus artigos já é, em si, um visível atestado<br />
de prestígio e de respeito da comunidade científica.<br />
A REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA representa também um espaço privilegiado para os<br />
pesquisadores da UNIMEP na divulgação e documentação pública dos seus trabalhos científicos. Sob esse<br />
enfoque, a RC&T se configura como um alicerce indispensável dos Programas de Fomento do Fundo de<br />
Apoio à Pesquisa (FAP/UNIMEP), significando, por isso, um elemento fundamental para a concretização do<br />
ciclo da pesquisa em nossa instituição.<br />
Assim, resta-nos parabenizar sua comissão editorial, pelo árduo trabalho da elaboração deste periódico,<br />
e os colaboradores da revista, pelo seu voto de confiança que propicia a veiculação através da RC&T do<br />
resultado de suas mais recentes descobertas científicas.<br />
ELY ESER BARRETO CÉSAR<br />
Vice-Reitor Acadêmico<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 3
4 Junho • 2000
Sumário<br />
7AVALIAÇÃO DA MEDIDA <strong>DE</strong> EFICIÊNCIA <strong>DE</strong> FERRAMENTAL <strong>DE</strong> GRUPO<br />
(EFG) VISANDO REDUÇÃO <strong>DE</strong> TEMPOS <strong>DE</strong> PREPARAÇÃO<br />
An Evaluation of the Group Tooling Efficiency Measure<br />
ANTONIO NELSON CORRÊIA FILHO & NELSON CARVALHO MAESTRELLI<br />
13<br />
EMISSÕES <strong>DE</strong> NOX EM TURBINAS A GÁS: MECANISMOS <strong>DE</strong> FORMAÇÃO E<br />
ALGUMAS TECNOLOGIAS <strong>DE</strong> REDUÇÃO<br />
NOX Emissions in Gas Turbines: formation mechanism and reduction<br />
ANTONIO GARRIDO GALLEGO, GILBERTO MARTINS & WALDYR L. R. GALLO<br />
23<br />
PROJETO <strong>DE</strong> CONSTRUÇÃO <strong>DE</strong> APLICATIVO ESTATÍSTICO PARA ANÁLISES<br />
<strong>DE</strong>SCRITIVAS: SISTEMA <strong>DE</strong> ANÁLISES <strong>DE</strong>SCRITIVAS-SIAD (parte II)<br />
Project for Statistical Applicative Construction to Descriptivies Analysis:<br />
Descriptivies Analysis System-SIAD (part II)<br />
ANGELA M. C. JORGE CORRÊA, FRANCISCO BACCARIN, VALÉRIA M. D’AREZZO ZILIO, ARIVALDO MATHIENSEN JR., EVELIN<br />
GIULIANA LIMA & HELOISA HELENA SFERRA<br />
33<br />
ABSORVEDORES <strong>DE</strong> RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA APLICADOS NO<br />
SETOR AERONÁUTICO<br />
Electromagnetic Radiation Absorbers with Aeronautical Applications<br />
JOSIANE <strong>DE</strong> CASTRO DIAS, FÁBIO SANTOS DA SILVA, MIRABEL CERQUEIRA REZEN<strong>DE</strong> & INÁCIO MALMONGE MARTIN<br />
43<br />
UM SISTEMA CORRETO E COMPLETO PARA A LÓGICA PROPOSIONAL<br />
CLÁSSICA<br />
Correctness and Completeness System for Classical Propositional Logic<br />
JOSÉ CARLOS MAGOSSI<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 5
51<br />
A PROBABILIDA<strong>DE</strong> NA ÓPTICA DA GEOMETRIA<br />
The Probability in the Optical of the Geometry<br />
I<strong>DE</strong>MAURO ANTÔNIO RODRIGUES LARA<br />
59<br />
BALANÇO <strong>DE</strong> RADIAÇÃO SOBRE UM SOLO <strong>DE</strong>SCOBERTO PARA QUATRO<br />
PERÍODOS DO ANO<br />
Radiation Balance at the Surface of a Bare Soil for Four Periods of the Year<br />
MÁRIO <strong>DE</strong> MIRANDA VILAS BOAS RAMOS LEITÃO, MAGNA SOELMA BESERRA <strong>DE</strong> MOURA, TRÍCIA REGINA F. C. SALDANHA,<br />
JOSÉ ESPÍNOLA SOBRINHO & GERTRU<strong>DE</strong>S MACARIO <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
67<br />
AQUISITION AND CHARACTERIZATION OF NEPHELINE GLASS-CERAMIC<br />
Obtenção e Caracterização de Vitrocerâmicos de Nefelina<br />
CRISTINA DONEDA GOMES <strong>DE</strong> BORBA & HUMBERTO RIELLA<br />
75<br />
PROPRIEDA<strong>DE</strong>S TÉRMICAS E BIO<strong>DE</strong>GRADABILIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PCL E PHB EM<br />
UM POOL <strong>DE</strong> FUNGOS<br />
Thermal Properties and Biodegradability of PCL and PHB Submitted in Fungi Pool<br />
<strong>DE</strong>RVAL DOS SANTOS ROSA, <strong>DE</strong>NISE FRANCO PENTEADO & MARIA REGINA CALIL<br />
81<br />
MÉTODOS EFICIENTES PARA A TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA <strong>DE</strong> PLANTAS<br />
Efficient Methods for Genetic Plants Transformation<br />
ELIANE ROMANATO SANTARÉM<br />
91<br />
O NEOTECTONISMO NA COSTA DO SU<strong>DE</strong>STE E DO NOR<strong>DE</strong>STE BRASILEIRO<br />
Neotectonism of Southeastern and Northeastern Brazilian Coast<br />
CARLOS CÉSAR UCHÔA <strong>DE</strong> LIMA<br />
6 Junho • 2000
Avaliação da Medida de<br />
Eficiência de Ferramental<br />
de Grupo (EFG) Visando<br />
Redução de Tempos de<br />
Preparação<br />
An Evaluation of the Group Tooling Efficiency Measure<br />
ANTONIO NELSON CORRÊIA FILHO<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
ancorrei@unimep.br<br />
NELSON CARVALHO MAESTRELLI<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
nmaestre@unimep.br<br />
RESUMO – Este trabalho aprofunda o estudo da medida de eficiência do ferramental de grupo (EFG), analisando a dispersão<br />
dos valores obtidos a partir da análise de adequação da matriz ferramentas versus peças. Visa a facilitar a escolha<br />
do ferramental, em situações que apresentam várias possibilidades de soluções e envolvam grande número de ferramentas.<br />
São estudadas as situações que podem ocorrer (teoricamente) na escolha da melhor solução e apresentadas propostas<br />
para resolvê-las, objetivando a redução dos tempos de preparação de máquinas. Para melhor visualização desta proposta,<br />
um caso de aplicação é exposto.<br />
Palavras-chave: FERRAMENTAL <strong>DE</strong> GRUPO – REDUÇÃO DO TEMPO <strong>DE</strong> PREPARAÇÃO – PADRONIZAÇÃO <strong>DE</strong> FERRAMENTAS.<br />
ABSTRACT – This paper studies the group tooling efficiency measure, analysing the dispersion that occurs in the results<br />
of tools versus parts adequacy matrix. This study allows to help the decision making about the tool selection problem,<br />
that occurs when the number of parts and tools are too large. The better choice of tool set will carry out the major results<br />
in set up time reduction or even elimination. A study case is also included.<br />
Keywords: GROUP TOOLING – SET UP REDUCTION – TOOLING STANDARDISATION.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 07-12 7
INTRODUÇÃO<br />
Ométodo usado neste trabalho, para determinação<br />
do ferramental de grupo, baseia-se na<br />
proposta apresentada em Kusiak (1990). Esse<br />
método (Corrêia Filho, 1998) utiliza um modelo<br />
baseado em formulação matricial para verificar se<br />
existe um número determinado de ferramentas que<br />
pode processar peças diferentes, sem a necessidade<br />
de trocas e ajustes, ou seja, definir o ferramental de<br />
grupo.<br />
O ferramental de grupo, segundo (Burbidge,<br />
1971), visa a reduzir os tempos de preparação de<br />
máquinas através do desenvolvimento de ferramental<br />
padronizado, a ser utilizado por peças pertencentes às<br />
mesmas famílias, o que é possível em função das similaridades<br />
de projeto e fabricação dessas peças.<br />
Para entender a utilização de formulação<br />
matricial na definição de ferramental de grupo, será<br />
apresentado um exemplo de aplicação.<br />
Considera-se uma máquina que processa as<br />
peças (P1), (P3), (P4), (P7) e (P5), apresentadas na<br />
figura 1. Para esse processamento, são necessárias<br />
oito ferramentas, dadas por T1 a T8. A figura 1<br />
mostra a matriz de incidência ferramentas versus<br />
peças original para tal situação, e a matriz rearranjada<br />
pela aplicação de um algoritmo de agrupamento<br />
(Kusiak, 1990).<br />
Fig. 1. Matriz de incidência (Ferramentas versus Peças).<br />
Peças<br />
Peças<br />
1 3 4 7 5 4 1 3 5 7<br />
T1 1 0 1 0 0 T1 1 1 0 0 0<br />
T2 0 1 0 0 1 T4 1 1 0 0 0<br />
T3 0 1 0 1 0 T6 1 1 0 0 0<br />
T4 1 0 1 0 0 T7 1 0 0 0 0<br />
T5 0 1 0 1 1 T5 0 0 1 1 1<br />
T6 1 0 1 0 0 T8 0 0 1 1 1<br />
T7 0 0 1 0 0 T2 0 0 1 1 0<br />
T8 0 1 0 1 1 T3 0 0 1 0 1<br />
Matriz (1a)<br />
Matriz reordenada (1b)<br />
Analisando-se a matriz da figura 1, é possível<br />
identificar dois conjuntos iniciais, C1 e C2, compostos<br />
da seguinte maneira:<br />
C1: peças (4) e (1)<br />
ferramentas T1, T4, T6 e T7<br />
C2: peças (3), (5) e (7)<br />
ferramentas T5, T8, T2 e T3<br />
A existência destes dois "agrupamentos" ou<br />
"conjuntos iniciais" conduz a duas possíveis soluções<br />
para a identificação do ferramental de grupo, cada<br />
uma delas originadas de um dos conjuntos.<br />
O método propõe que a regra de formação<br />
das matrizes de adequação seja dada por:<br />
b ij = [0.1,1.0] se é possível usar a ferramenta i para<br />
processar a peça j, não é atribuído<br />
valor; se não, há possibilidade.<br />
O valor de b ij definido pelo intervalo [0.1,<br />
1.0] será determinado de acordo com o nível de<br />
adequação da ferramenta à peça. Quanto maior a<br />
adequação entre a ferramenta e a peça, maior o<br />
valor de b ij (Corrêia Filho, 1998).<br />
A figura 2 apresenta as matrizes de adequação<br />
MA1 e MA2, que se originam da matriz reordenada<br />
(fig. 1).<br />
Fig. 2. Matriz de adequação.<br />
Peças<br />
Peças<br />
4 1 3 5 7 4 1 3 5 7<br />
T1 1 1 0,6 0,4 0,4 T5 0,4 0,8 1 1 1<br />
T4 1 1 0,3 0,7 1 T8 1 1 1 1 1<br />
T6 1 1 – 0,5 0 T2 0,3 1 1 1 0<br />
T7 1 0 – 0 – T3 0,6 – 1 0 1<br />
Matriz de Adequação MA1 Matriz de Adequação MA2<br />
Analisando a situação apresentada pelas<br />
matrizes de adequação MA1 e MA2, obtidas a partir<br />
dos conjuntos iniciais C1 e C2, percebe-se que: a<br />
matriz MA1 para uma possível solução deverá ser<br />
acrescida de duas linhas, correspondentes à inclusão<br />
de T2 e T3. Isso é necessário para possibilitar o processamento<br />
de todas as peças do agrupamento, conforme<br />
figura 3.<br />
Fig. 3. Matriz de adequação MA1 ampliada.<br />
Peças<br />
4 1 3 5 7<br />
T1 1 1 0,6 0,4 0,4<br />
T4 1 1 0,3 0,7 1<br />
T6 1 1 – 0,5 0<br />
T7 1 0 – 0 –<br />
T2 0 0 1 1 0<br />
T3 0 0 1 0 1<br />
Para o caso de MA2, é possível processar todo<br />
o conjunto de peças com as mesmas ferramentas,<br />
embora o valor de adequação de T2 para P4 seja<br />
pequeno (b ij = 0,3).<br />
8 Junho • 2000
Uma restrição a ser considerada na análise de<br />
MA1 e MA2 é o número de ferramentas que o<br />
magazine da máquina escolhida pode armazenar.<br />
Desse modo, sendo<br />
Tm: capacidade de ferramentas do magazine<br />
da máquina (é o número máximo de<br />
ferramentas que podem ser montadas<br />
simultaneamente na máquina);<br />
Ts: número de ferramentas proposto pela<br />
solução gerada a partir do uso do<br />
método de adequação;<br />
Tem-se que: Ts ≤ Tm, para que seja possível<br />
montar todas as ferramentas necessárias, sem trocas,<br />
garantindo o processamento de todas as peças da<br />
família definida.<br />
Para comparar diferentes soluções obtidas a<br />
partir da análise das matrizes de adequação, é preciso<br />
utilizar algum parâmetro que avalie a qualidade<br />
de cada solução, além da restrição já citada. Para<br />
isso, foi criada a medida “Eficiência do Ferramental<br />
de Grupo” (EFG).<br />
Esse trabalho analisa tal medida, aprofundando-se<br />
nos casos em que diferentes conjuntos de<br />
dados apresentem resultados próximos para EFG,<br />
dificultando a escolha da melhor solução. No próximo<br />
item, a medida EFG será melhor detalhada.<br />
<strong>DE</strong>FINIÇÃO DA MEDIDA EFG<br />
A medida EFG é determinada pela relação<br />
seguinte:<br />
EFG =<br />
n t<br />
∑ ∑ b ij<br />
j = 1i = 1 -------------------------<br />
( n.t—z)<br />
onde:<br />
b ij = valor da adequação da ferramenta i à<br />
peça j;<br />
n = número de peças da matriz de adequação;<br />
Fig. 4. Matriz adequação com os mesmos valores de EFG.<br />
Pe as<br />
P1 P2 P3<br />
Ferramentas<br />
T1<br />
T2<br />
T3<br />
1 1 1<br />
1 1 1<br />
1 0, 2 1<br />
MA1<br />
EFG = 0,<br />
91<br />
t = número de ferramentas da matriz de adequação;<br />
z = número de vezes em que, na matriz de<br />
adequação, ocorre a situação em que não<br />
é feita a análise para a adequação (não há<br />
necessidade de usar a ferramenta para a<br />
peça em questão), ou seja, é o número de<br />
“zeros” da matriz de adequação.<br />
No exemplo dado no item anterior, se o<br />
magazine da máquina suportar no máximo quatro<br />
ferramentas, não será possível utilizar MA1.<br />
No exemplo estudado, e com base nas matrizes<br />
MA1 e MA2 definidas, tem-se na tabela 1 o<br />
resumo para os conjuntos iniciais:<br />
Tab. 1. Resumo para os conjuntos iniciais.<br />
CONJ. INICIAL FERRAMENTAS EFG TS TM OBS<br />
C1 T1,T4,T6,T7 0,71 6 4 Inviável<br />
C2 T5,T8,T2,T3 0,84 4 4 Viável<br />
Para este exemplo de aplicação (tabela 1), não<br />
é necessário aprofundar a análise sobre EFG, pois a<br />
escolha sobre a melhor solução recai sobre a opção<br />
que utiliza o conjunto C2.<br />
Nos itens seguintes deste trabalho, serão analisados<br />
casos em que não será possível escolher a<br />
melhor solução, baseando-se apenas no valor que<br />
EFG assume para cada situação, principalmente<br />
quando os valores gerados forem muito próximos.<br />
ESTUDO DA MEDIDA EFG<br />
Conforme visto, a medida EFG é utilizada<br />
para comparar as soluções encontradas, de modo a<br />
facilitar o processo de escolha da melhor opção da<br />
matriz de adequação (MA).<br />
As matrizes expressas na figura 4 ilustram<br />
situações distintas, mas que geram valores iguais<br />
para EFG.<br />
Ferramentas<br />
T1<br />
T2<br />
T3<br />
Pe as<br />
P1 P2 P3<br />
1 1 1<br />
1 1 1<br />
05 , 07 , 1<br />
MA2<br />
EFG = 0,<br />
91<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 07-12 9
Fig. 5. Matriz adequação com os valores de EFG próximos.<br />
Pe as<br />
P1 P2 P3<br />
T1 1 1 1<br />
Ferramentas<br />
T2 1 0, 2 1<br />
MA1<br />
EFG = 0,<br />
87<br />
A figura 5 apresenta situação em que os valores<br />
EFG são muito próximos, mas gerados a partir<br />
de conjuntos de valores para b ij com diferentes<br />
níveis de dispersão.<br />
Para adotar a melhor opção de solução<br />
quando são encontrados dados com essas características<br />
(mesmo valor de EFG para conjuntos de dados<br />
distintos, ou valores próximos de EFG, com conjuntos<br />
de dados com diferentes níveis de dispersão),<br />
pode-se utilizar a medida de desvio padrão (Vieira<br />
& Hoffmann, 1986), aplicada sobre os elementos<br />
b ij das matrizes de adequação.<br />
O objetivo é a utilização desse conhecimento,<br />
ou seja, o desvio-padrão para indicar a MA que possui<br />
a menor dispersão dos valores b ij em torno da<br />
EFG para cada MA estudada. O desvio padrão é<br />
calculado pela fórmula:<br />
∑<br />
2 ( b<br />
b ij ) 2<br />
∑ bij – --------------------<br />
n.t—z<br />
S bij<br />
= ---------------------------------------------<br />
( n.t—z) – 1<br />
onde:<br />
S bij – desvio-padrão dos valores b ij em torno<br />
de EFG.<br />
A relação entre o desvio-padrão e a EFG fornece<br />
a dispersão relativa, conhecida como medida de<br />
coeficiente de variação (Vieira & Hoffmann, 1986).<br />
Neste trabalho será utilizada a dispersão relativa<br />
de dispersão em relação a EFG. Para esse cálculo usase<br />
o coeficiente de variação (CV), dado pela fórmula:<br />
CV = Sb ij . 100<br />
EFG<br />
Segundo Corrêia Filho (1998), a melhor solução<br />
é a MA que apresentar o maior EFG, ou seja, a<br />
melhor solução ocorre quando todos os elementos<br />
b ij = 1. De fato, este resultado apresenta maior<br />
EFG, com menor variação dos elementos b ij da<br />
MA, ou seja:<br />
EFG =1, S bij = 0 e CV = 0.<br />
Esta situação configura a solução ideal do problema.<br />
Deve-se, portanto, buscar as soluções em<br />
que são gerados os valores mais altos para EFG,<br />
Ferramentas<br />
T1<br />
T2<br />
Pe as<br />
P1 P2 P3<br />
1 1 1<br />
07 , 05 , 07 ,<br />
MA2<br />
EFG = 0,<br />
82<br />
simultaneamente a valores mais baixos para as<br />
medidas de S bij e CV.<br />
Neste trabalho, propõe-se considerar, como<br />
soluções adequadas, aquelas que apresentem os valores<br />
EFG maiores que 75%, conforme a tabela 2.<br />
Tab. 2. Considerações das soluções conforme o valor de<br />
EFG.<br />
CONDIÇÕES EFG (%)<br />
Melhor solução 100,00<br />
Boa solução 87,50 ≤ EFG < 100,00<br />
Solução suficiente 75,00 ≤ EFG < 87,50<br />
Desconsiderar 0,10 ≤ EFG < 75,00<br />
Voltando-se para a situação hipotética mostrada<br />
na figura 4, pode-se verificar, de acordo com a<br />
tabela 2, que as soluções representadas pelas situações<br />
MA1 e MA2 pertencem à mesma faixa de<br />
valores de EFG, na condição de “Boa Solução”.<br />
Assim, há necessidade de maiores detalhes para a<br />
escolha da melhor solução.<br />
Os resultados dos cálculos dessa situação são<br />
apresentados na tabela 3.<br />
Tab. 3. Resultados dos cálculos, conforme a situação da<br />
figura 4.<br />
SOLUÇÃO EFG S BIJ CV (%)<br />
MA1 0,91 0,27 29,26<br />
MA2 0,91 0,18 20,12<br />
Da análise dos dados obtidos, observa-se que<br />
a solução com menor CV será considerada a<br />
melhor. No caso em questão, será escolhida a situação<br />
representada por MA2.<br />
Para a segunda situação hipotética, apresentada<br />
na figura 5, verifica-se, de acordo com a tabela<br />
2, que as soluções definidas por MA1 e MA2 pertencem<br />
à mesma faixa de valores para EFG, na condição<br />
de “Solução Suficiente”. Deve-se salientar que<br />
as soluções que pertencerem à maior faixa de valores<br />
EFG (tab. 2) serão consideradas as melhores.<br />
10 Junho • 2000
A tabela 4 apresenta os resultados da situação<br />
da figura 5.<br />
Tab. 4. Resultados dos cálculos, conforme a situação da<br />
figura 5.<br />
SOLUÇÃO EFG S BIJ CV (%)<br />
MA1 0,87 0,33 37,68<br />
MA2 0,82 0,21 26,16<br />
Como os valores de EFG se apresentam dentro<br />
da mesma faixa para EFG (tab. 2), deve-se considerar,<br />
para melhor solução, aquela que apresente<br />
menor coeficiente de variação (CV). No caso, será<br />
considerada a solução representada por MA2.<br />
No item seguinte deste trabalho, analisa-se<br />
uma situação real, ocorrida em ambiente industrial,<br />
para aplicação dessa proposta de análise.<br />
APLICAÇÃO DO<br />
MÉTODO PROPOSTO<br />
Neste item considera-se uma aplicação real,<br />
em um ambiente industrial (Corrêia Filho, 1998).<br />
No caso, foram obtidas duas possíveis soluções,<br />
representadas pelas figuras 6 e 7.<br />
Neste primeiro caso, tem-se para EFG:<br />
EFG = (b 11 + b 12 + ... + b 1n ) + (b 21 + ... + b 2n )<br />
+ ... + ( b t1 + b t2 + ... + b tn ) / (n.t-z)<br />
EFG = 29,8 / (8 x 12 – 62) = 0,88<br />
A Eficiência do Ferramental de Grupo (EFG)<br />
é de 88%.<br />
O valor de EFG para esta situação será dado<br />
por:<br />
EFG = (b 11 + b 12 + ... + b 1n ) + (b 21 + ... + b 2n )<br />
+ ... +(b t1 + b t2 + ... + b tn ) / (n.t-z)<br />
EFG = 28,1 / (8 x 11 – 55) = 0,85<br />
E a Eficiência do Ferramental de Grupo é de<br />
85%.<br />
Observa-se que MA4 (fig. 6) e MA3 (fig. 7) não<br />
pertencem à mesma faixa de valores de EFG (tab. 2).<br />
A MA4 pertence à faixa de valores EFG, na condição<br />
de “Boa Solução”, enquanto a faixa de valor a que<br />
pertence EFG para MA3 é considerada condição de<br />
“Solução Suficiente”. Conforme citado anteriormente,<br />
a melhor solução pertence à maior faixa de<br />
valores EFG. Neste caso há uma única solução, não<br />
sendo necessário considerar o cálculo das medidas de<br />
dispersão para melhor comparação das opções.<br />
Fig. 6. Matriz adequação (MA4).<br />
Peças<br />
P1 P2 P3 P7 P4 P6 P8 P5<br />
Tipos de<br />
operações<br />
T1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Desbaste<br />
externo<br />
T2 1 0 0 1 1 1 1 1 Acabamento<br />
externo<br />
T3 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0<br />
Canal<br />
externo<br />
T4 1 0 0 0 0 0 0 0 Broca<br />
Ferramentas<br />
T5 1 0 0 0 0,2 0 0 0<br />
Desbaste<br />
interno<br />
T6 1 1 0 0 0 0 0 0 Rosca interna<br />
T7 0 1 1 1 0,2 0 0 0<br />
Desbaste<br />
interno<br />
T8 0 0 1 0 0 0 0 0 Acabamento<br />
interno<br />
T9 0 0 1 0,2 0,2 0 0 0<br />
Canal<br />
interno<br />
T15 0 0 0 0 0 1 0 0 Broca φ8<br />
T16 0 0 0 0 0 1 0 0<br />
T17 0 0 0 1 0 0 1 0<br />
Fig. 7. Matriz adequação (MA3).<br />
Ferramentas<br />
Rosca<br />
externa<br />
Rosca<br />
externa<br />
Peças<br />
Tipos de<br />
P1 P2 P3 P7 P4 P6 P8 P5<br />
operações<br />
T2 1 0 0 1 1 1 1 1 Acabamento<br />
externo<br />
Canal<br />
T3 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0<br />
externo<br />
T4 1 0 0 0 0 0 0 0 Broca<br />
T5 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0 0 0<br />
Desbaste<br />
interno<br />
T6 1 1 0 0 0 0 0 0<br />
Rosca<br />
interna<br />
T8 0 0 1 0 0 0 0 0 Acabamento<br />
interno<br />
T9 0 0 1 0,2 0,2 0 0 0<br />
Canal<br />
interno<br />
T1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Desbaste<br />
externo<br />
T16 0 0 0 0 0 1 0 0<br />
Rosca<br />
externa<br />
T17 0 0 0 1 0 0 1 0<br />
Rosca<br />
externa<br />
T15 0 0 0 0 0 1 0 0 Broca φ8<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 07-12 11
A proposta de definir faixas de valores para<br />
EFG é para garantir, em primeiro lugar, os valores<br />
de EFG, configurando que a melhor escolha de<br />
solução ocorreu.<br />
CONCLUSÕES<br />
De acordo com Corrêia Filho (1998), a<br />
melhor solução para representar o ferramental de<br />
grupo é a que apresentar a maior medida de EFG.<br />
No entanto, para os casos em que são gerados<br />
valores muito próximos de EFG, deve-se considerar<br />
também as medidas de dispersão (desvio padrão e<br />
coeficiente de variação) para auxiliar a tarefa de<br />
escolha da melhor solução.<br />
A utilização de faixas de valores para EFG<br />
garante que sejam considerados, em primeiro<br />
lugar, os valores EFG. Caso sejam muito próximos<br />
(ou pertençam à mesma faixa de valores), deve-se<br />
comparar as demais medidas propostas, para avaliar<br />
a dispersão dos valores da matriz de adequação.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BURBIDGE, L.J. Production Flow Analysis. Production Engineering, (4), pp. 139-152, 1971.<br />
CORRÊIA FILHO, A.N. Proposta de um Método para Identificação do Ferramental de Grupo Baseado em Análise de Agrupamentos.<br />
Santa Bárbara d’Oeste: Centro de Tecnologia, Universidade Metodista de Piracicaba, 1998. [Tese de<br />
mestrado].<br />
KUSIAK, A. Intelligent Manufacturing Systems. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1990.<br />
VIEIRA, S. & HOFFMANN, R. Elementos de Estatística. São Paulo: Atlas, 1986.<br />
12 Junho • 2000
Emissões de Nox em<br />
Turbinas a Gás:<br />
Mecanismos de<br />
Formação e Algumas<br />
Tecnologias de Redução<br />
NOX Emissions in Gas Turbines: formation mechanism and reduction<br />
ANTONIO GARRIDO GALLEGO<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
agallego@unimep.br<br />
GILBERTO MARTINS<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
gmartins@unimep.br<br />
WALDYR L. R. GALLO<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
gallo@fem.unicamp.br<br />
RESUMO – Este trabalho apresenta a questão das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) produzidos por turbinas a gás<br />
de uso industrial. São discutidos os aspectos de regulamentação de emissões (no Brasil e em outros países), os principais<br />
mecanismos de formação dos óxidos nitrosos em câmaras de combustão de turbinas a gás e as principais estratégias para<br />
o controle das emissões, incluindo injeção de água, injeção de vapor, combustão por estágios, combustores “low-NOx” e<br />
redução catalítica. A necessidade de revisão da legislação brasileira é ressaltada.<br />
Palavras-chave: TURBINAS A GÁS INDUSTRIAIS – EMISSÕES <strong>DE</strong> NOX – FORMAÇÃO <strong>DE</strong> NOX.<br />
ABSTRACT – This work studies some aspects related to the NOx emissions from industrial gas turbines. Brazilian and<br />
international emission regulations are discussed. The main oxide formation mechanisms inside the combustion chamber<br />
are presented, and the main strategies for the reduction of NOx emission are explored (including water and steam injection,<br />
staged combustion, low-NOx burners and catalytic reduction). The need for a revision on Brazilian regulations for<br />
NOx is evidenced.<br />
Keywords: GAS TURBINES – NOX EMISSIONS – NOX FORMATION MECHANISM.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 13-22 13
INTRODUÇÃO<br />
No atual cenário energético mundial, no qual a<br />
escassez dos recursos soma-se aos problemas<br />
ambientais oriundos da utilização de energia e<br />
extração de produtos naturais, observa-se uma crescente<br />
preocupação com a busca de maior racionalidade<br />
no uso da energia, além da procura de<br />
processos com menor impacto ambiental. No Brasil,<br />
como em todo o mundo, o setor energético vem<br />
sofrendo profundas transformações motivadas não<br />
apenas por questões de ordem técnica e econômica,<br />
mas também por pressões da sociedade.<br />
A capacidade atual instalada de geração de<br />
energia elétrica no País é de pouco mais de 60 GW.<br />
Desse total, cerca de 94% são de origem hidráulica<br />
e o restante, de origem térmica. Porém, com o<br />
aumento da demanda de energia elétrica e a necessidade<br />
da garantia na qualidade de fornecimento,<br />
existe a necessidade do aumento do parque gerador.<br />
Dificuldades para a exploração do potencial hídrico,<br />
como altos custos de investimento, longos prazos de<br />
instalação e problemas ambientais, foram levados<br />
em conta na elaboração do Plano Decenal de<br />
Expansão do Setor Elétrico para o período 1997-<br />
2006, que estima para 2006 uma composição da<br />
geração de energia elétrica hidroelétrica de 83% e<br />
termoelétrica de 17%.<br />
Com essa perspectiva de mudança do perfil<br />
de geração de energia elétrica, além da possibilidade<br />
de implantação de plantas térmicas e sistemas de cogeração<br />
devido à efetivação do projeto do gasoduto<br />
Brasil-Bolívia, verifica-se a necessidade de se rever<br />
alguns aspectos da legislação ambiental, principalmente<br />
no que concerne às emissões de óxidos de<br />
nitrogênio.<br />
Frente às atuais tecnologias disponíveis para a<br />
geração de energia elétrica, é esperado o uso de<br />
combustíveis de origem fóssil como fonte energética.<br />
A efetivação do gasoduto Brasil-Bolívia certamente<br />
irá contribuir para a viabilização de plantas<br />
termelétricas ou sistemas de co-geração, ao disponibilizar<br />
grandes quantidades de gás natural. Nesse<br />
sentido, deve-se discutir qual a melhor forma de<br />
gerar energia elétrica com o menor impacto ambiental<br />
em plantas térmicas e sistemas de co-geração.<br />
Em todos os processos térmicos existem substâncias<br />
que são liberadas e que podem tornar-se problemáticas<br />
para os seres vivos e estruturas urbanas, dependendo<br />
da concentração, características do local e<br />
situação climática, entre outros fatores.<br />
Os óxidos de nitrogênio (NOX) são gases<br />
nocivos à saúde, causam irritação nos olhos e no sistema<br />
respiratório, sendo ainda parcialmente responsáveis<br />
pelas chuvas ácidas e formação do smog<br />
(processo fotoquímico de oxidação da atmosfera),<br />
juntamente com material particulado, ozônio e<br />
hidrocarbonetos.<br />
Frente às considerações acima, este trabalho<br />
apresenta alguns aspectos relacionados às emissões<br />
de NOX provenientes de turbinas a gás industriais<br />
para geração de eletricidade, enfocando principalmente<br />
seus mecanismos de formação e formas de<br />
prevenção e redução de emissões.<br />
POLUIÇÃO DO AR:<br />
REGULAMENTAÇÕES<br />
E EMISSÕES<br />
A adoção de padrões de qualidade do ar<br />
objetivos e coerentes é um instrumento de gestão<br />
ambiental que procura resguardar a saúde pública,<br />
o bem-estar da população, assim como fauna, flora<br />
e meio ambiente em geral. Para que esse instrumento<br />
seja eficaz, é necessário, porém, que também<br />
se estabeleçam padrões de emissão para cada poluente<br />
atmosférico monitorado pelos padrões de qualidade<br />
do ar, e, mais do que isso, que se estabeleçam<br />
modelos de dispersão de poluentes capazes de correlacionar<br />
as emissões à qualidade do ar na região.<br />
Infelizmente, na regulamentação brasileira<br />
para fontes estacionárias de emissões gasosas,<br />
CONAMA n.º 008/90 (Ventura, 1996), não existe<br />
qualquer referência a emissões de NOX. Esse tipo<br />
de poluente é avaliado apenas quanto à qualidade<br />
do ar, CONAMA n.º 003/90 (Ventura, 1996).<br />
Assim, não existem limites para a emissão de NOX,<br />
seja por turbinas a gás, seja por qualquer outra fonte<br />
estacionária ou móvel senão indiretamente. Na verdade,<br />
a legislação menciona a necessidade de se<br />
empregar “a melhor tecnologia disponível”, quando<br />
não existe limitação explícita para um dado poluente<br />
(Ventura, 1996). Países da Europa, Japão e<br />
Estados Unidos possuem limites de emissões por<br />
fonte geradora, que servem de parâmetro de controle<br />
e acompanhamento.<br />
14 Junho • 2000
Bathie (1996) apresenta padrões de emissões<br />
de NOx aplicados para turbinas a gás industriais utilizados<br />
pelo New Source Performance Standards<br />
(NSPS) dos Estados Unidos. O critério usado para<br />
determinação do limite de emissões de NOX foi<br />
baseado no consumo de combustível e na quantidade<br />
de nitrogênio em sua composição, sendo os<br />
valores corrigidos para 15% de oxigênio em base<br />
seca. Para termelétricas, o limite é fixado em 75<br />
ppmv e, para outros usos, em 150 ppmv. No caso<br />
de aplicações militares, de combate a incêndio e de<br />
emergência, não há limites.<br />
Estudos conduzidos pela CORINAIR (CORe<br />
INventories AIR), da Enviromental European<br />
Agency (EEA, 1998), mostram que os setores que<br />
apresentam maiores níveis de emissões totais de<br />
NOX são os de geração de energia elétrica, em uso<br />
industrial e em transportes, com contribuição de<br />
20,93%, 13,65% e 56,68%, respectivamente.<br />
A Tokio Electric Power Company (TEPCO) é<br />
a segunda maior companhia de geração de energia<br />
elétrica privada do mundo, suprindo a área metropolitana<br />
de Tóquio. Sua preocupação é atender à<br />
demanda de energia elétrica com a menor emissão<br />
de poluentes por kWh instalado. Na figura 1 é apresentada<br />
sua tendência histórica de geração elétrica e<br />
de emissões de NOX entre 1973 e 1995. Durante o<br />
período 1985-1995 houve aumento de 47% na<br />
produção de eletricidade, com redução de emissão<br />
de NOX de 36%. A melhora dos níveis de emissões<br />
de NOx é atribuída ao uso de combustíveis de<br />
melhor qualidade, melhora contínua dos sistemas<br />
de combustão e instalação de sistemas de denitrificação<br />
nas chaminés.<br />
Fig. 1. Emissões médias de NOX dos sistemas de potência<br />
em operação (TEPCO, 1998).<br />
Emiss es de NOx (m dia de sistemas de pot ncia em opera o)<br />
Centena de milh es de KWh / ano<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
<br />
g/kwh<br />
1,6<br />
0<br />
0<br />
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995<br />
Anos<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
Uma comparação entre os valores das emissões<br />
médias de Nox de sistemas de potência de países<br />
como Canadá, França, Alemanha, Itália, Inglaterra,<br />
Estados Unidos e do próprio Japão, divulgados pela<br />
TEPCO (1998) é apresentada na tabela 1. Note-se<br />
que a primeira coluna (geração termelétrica) considera<br />
diferentes tecnologias e combustíveis, variando<br />
entre os países. Da mesma forma, a segunda coluna<br />
(geração elétrica total) inclui todos os tipos de tecnologias<br />
de geração elétrica (hidráulica, nuclear, térmicas<br />
convencionais).<br />
O valor médio de emissões da geração de eletricidade<br />
de todos os países é inferior aos valores das<br />
emissões das termelétricas, graças à mistura de sistemas<br />
de geração com diferentes tecnologias que possuem<br />
poluentes ou emissões que não foram levados<br />
em conta (por exemplo, energia nuclear).<br />
Verifica-se na tabela 1 que grande parte dos<br />
países apresenta valores médios de emissões de Nox<br />
em termelétricas superiores a 2 g/kWh, mas existe<br />
potencial e tecnologia para redução desses níveis de<br />
emissões, como o apresentado pela Alemanha, com<br />
níveis de emissões inferiores a 2 g/kWh, e o Japão,<br />
com níveis inferiores a 0,5.<br />
Tab. 1. Níveis de emissões de NOx em geração de eletricidade<br />
de vários países (TEPCO, 1998).<br />
PAÍSES<br />
MÉDIA DAS<br />
TERMELÉTRICAS<br />
g/kWh<br />
MÉDIA DA GERAÇÃO<br />
<strong>DE</strong> ELETRICIDA<strong>DE</strong><br />
g/kWh<br />
Alemanha (1992) 1,50 0,99<br />
Canadá (1991) 2,45 0,55<br />
França (1992) 2,21 0,24<br />
Grã-Bretanha (1993) 2,52 1,77<br />
Itália (1990) 2,28 1,91<br />
Japão (1995) 0,35 0,19<br />
EUA (1993) 2,98 2,09<br />
No Brasil, com a tendência da expansão da<br />
geração elétrica através de termelétricas ou sistemas<br />
de co-geração, os projetos que não estejam enquadrados<br />
em limites de emissões recomendados internacionalmente<br />
devem ser questionados e rejeitados,<br />
porque trarão problemas ambientais futuros ou agravarão<br />
os já existentes. A elaboração de normas brasileiras<br />
rígidas de controle ambiental, com a adoção de<br />
padrões de emissão de NOx e um sistema de moni-<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 13-22 15
toramento que garanta a manutenção dos padrões<br />
de qualidade do ar, é portanto tarefa urgente.<br />
MECANISMOS <strong>DE</strong><br />
FORMAÇÃO <strong>DE</strong> NOX<br />
A Formação de NO<br />
Entre os óxidos formados durante o processo<br />
de combustão, o mais encontrado é o óxido de<br />
nitrogênio (NO). Esse óxido pode ser obtido no<br />
processo de combustão por três caminhos: a reação<br />
do nitrogênio atmosférico com o oxigênio a altas<br />
temperaturas, formando o NO térmico; reação de<br />
radicais hidrocarbônicos livres com a molécula de<br />
nitrogênio, formando o NO prompt (NO rápido); e<br />
pela reação do nitrogênio existente no combustível,<br />
formando o NO combustível. Dependendo das<br />
condições em que ocorre a combustão, existe o predomínio<br />
de um dos tipos de mecanismos mencionados:<br />
a altas temperaturas, predomina NO térmico;<br />
se a quantidade de nitrogênio contido no combustível<br />
é alta e a temperatura é baixa, o NO combustível<br />
e o NO prompt são os predominantes.<br />
O NO térmico é obtido a partir da reação do<br />
nitrogênio do ar atmosférico com o oxigênio dissociado<br />
pelas altas temperaturas impostas no processo<br />
de combustão. As principais reações de formação<br />
do NO térmico são apresentadas abaixo, segundo<br />
modelo proposto por Zeldovich:<br />
N 2 + O ⇔ NO + N (1)<br />
N + O 2 ⇔ NO + O (2)<br />
N + OH = > NO + H (3)<br />
A velocidade de formação do NO térmico é<br />
determinada pela equação (1), importante quando<br />
em condições próximas a estequiométrica e mistura<br />
rica. Nessas condições se produz grande quantidade<br />
e óxido de nitrogênio. A velocidade de formação de<br />
NO é menor do que a velocidade da maioria das<br />
reações de combustão e verifica-se que na região da<br />
chama pouco NO térmico é formado, com grande<br />
parcela sendo gerada na região de pós-chama (Chigier,<br />
1981).<br />
Chigier (1981) apresenta na equação (4) a<br />
taxa de formação de óxido de nitrogênio, indicando<br />
que a quantidade de NO depende exclusivamente<br />
da temperatura e das concentrações de oxigênio e<br />
de nitrogênio. O autor comenta a boa concordância<br />
com valores da equação e os valores de NO medidos<br />
na região de pós-queima, mas quando comparado<br />
a valores medidos na região de combustão,<br />
existe um erro significativo, devido à não possibilidade<br />
de se prever o acréscimo de NO formado,<br />
proveniente do NO combustível e NO prompt.<br />
dNO ( )<br />
---------------- 6x10 10 1⁄<br />
2<br />
1⁄<br />
2<br />
= T<br />
t<br />
eq exp( [–<br />
69090 ⁄ T eq ][ O 2 ] eq [ N 2 ] eq )<br />
(4)<br />
A formação de NO térmico aumenta com a<br />
temperatura e com o tempo de exposição. O<br />
aumento de temperatura contribui com a energia<br />
que acelera a reação de dissociação, exigindo menor<br />
tempo de exposição para que ela ocorra. Isso significa<br />
que, para uma dada mistura, existe uma temperatura<br />
na qual o tempo de exposição não é mais<br />
significativo no aumento de NO térmico, devido ao<br />
fato de o processo de formação de NO ter atingido<br />
o equilíbrio químico.<br />
Deve ser observado que, para uma dada temperatura<br />
de referência, uma nova condição de equilíbrio<br />
para formação do NO térmico pode ser<br />
atingida com o aumento do excesso de ar (mistura<br />
pobre), em função da maior presença de oxigênio e<br />
nitrogênio, que podem se dissociar e reagir. Outro<br />
fator importante é o tempo de residência; todavia<br />
para relações de combustível/ar baixas (por volta de<br />
0,4), o tempo de residência não tem influência no<br />
aumento da formação de NO térmico, dada a diminuição<br />
da temperatura da chama.<br />
Lefebvre (1995) cita que os pontos-chave<br />
relativos à formação de NO térmico podem ser<br />
resumidos da seguinte forma: a) a formação do NO<br />
térmico é controlada pela temperatura de chama; b)<br />
pequena quantidade de NO térmico é formada com<br />
temperaturas abaixo de 1.850 K; c) para relações de<br />
combustão com mistura pobre (relação combustível/ar<br />
< 0,5), NO formado independe do tempo de<br />
residência.<br />
O NO combustível é formado a partir da reação<br />
do oxigênio com o nitrogênio contido no combustível<br />
durante o processo de combustão. Frações<br />
de nitrogênio podem se encontradas nos combustíveis<br />
desde 0,2% em massa, nos destilados leves, até<br />
2% em massa nas frações asfálticas e carvões.<br />
16 Junho • 2000
A oxidação de moléculas de baixo peso molecular<br />
que contêm nitrogênio, presente no combustível<br />
ou formadas durante a combustão (NH 3 , HCN,<br />
CN), é muito rápida, ocorrendo em escala de<br />
tempo similar à das outras reações do processo de<br />
combustão. A formação do NO combustível, além<br />
de ser fortemente influenciada pela quantidade de<br />
nitrogênio presente na composição do combustível,<br />
é influenciada pela relação ar/combustível da reação<br />
de combustão. Altas concentrações de NO combustível<br />
são obtidas em reações pobres (baixas temperaturas<br />
de chama), ou seja, a temperatura tem pouca<br />
influência. Quando a combustão ocorre a baixas<br />
temperaturas, como em reatores de leito fluidizado<br />
(750 a 950ºC), o NO combustível é o mais predominante.<br />
O mecanismo de formação do NO combustível<br />
pode ser encontrado em Chigier (1981).<br />
Conforme Lefebvre (1983), o mecanismo de<br />
formação do NO combustível parece seguir os<br />
seguintes critérios: a) a conversão do nitrogênio pertencente<br />
ao combustível para óxido de nitrogênio<br />
(NO) é praticamente total para condições de<br />
excesso de ar, quando operando com combustível<br />
que possui baixas concentrações de nitrogênio<br />
(menos que 0,5% em massa); b) a conversão<br />
decresce com o acréscimo da concentração de nitrogênio<br />
no combustível, especialmente para condições<br />
de mistura rica; c) a conversão aumenta vagarosamente<br />
com a elevação da temperatura de chama.<br />
O termo prompt NO ou NO rápido foi apresentado<br />
por Fenimore (Chigier, 1981), que o caracterizou<br />
pelo rápido aparecimento de NO na frente<br />
de chama, envolvendo mecanismo cinéticos que não<br />
são completamente compreendidos. Uma explicação<br />
para a obtenção do NO prompt é baseada na<br />
reação do nitrogênio com radicais hidrocarbônicos<br />
(CH, C etc.), existentes na frente de chama. Conforme<br />
Lefebvre (1995), a reação inicial para a formação<br />
do NO prompt é iniciada a partir da<br />
formação do HCN, representada pelas equações 5 e<br />
6, ocorrendo reações intermediárias, que formam<br />
compostos como CN, NCO, HNCO; estes por sua<br />
vez são oxidados, formando o NO.<br />
N 2 + CH ⇔ HCN + N (5)<br />
C + N 2 ⇔ CN + N (6)<br />
Chigier (1981) cita que, ao serem analisados<br />
experimentos realizados com grandes concentrações<br />
de HCN próximo à zona de chama, verificou-se<br />
uma rápida queda da concentração de HCN e uma<br />
rápida formação de NO. Uma das teorias utilizadas<br />
para explicar o ocorrido é a de que na frente de<br />
chama o nitrogênio proveniente do combustível<br />
reage para a formação do NO via HCN. Essa teoria<br />
na realidade junta o mecanismo de formação do NO<br />
combustível com o NO prompt.<br />
Algumas características com relação ao NO<br />
prompt são apresentadas por Chigier (1981): a) a<br />
absoluta dependência da presença de hidrocarbonos<br />
ativos; b) a relativa independência da temperatura,<br />
tipo de combustível ou mistura. Em experiências<br />
realizadas em condições estequiométricas foram<br />
obtidos níveis de NO prompt de 50 a 90 ppm; ao se<br />
alterar a temperatura de 1.900 K para 2.350 K não<br />
houve significativo aumento NO prompt; em compensação,<br />
ao se aumentar relação combustível/ar de<br />
0,9 para 2,0 a 1.900 K foi produzido significativo<br />
aumento na produção de NO prompt; c) quando<br />
em baixas temperaturas de chama, um tempo longo<br />
de residência promove a destruição do NO ativo formado<br />
a partir de reações desse com hidrocarbonos.<br />
A Formação de NO 2<br />
A formação de NO 2 próximo à chama é praticamente<br />
desprezível se comparada com o NO formado,<br />
sendo que parcela do NO 2 formado nessa<br />
região se converte em NO. A conversão de NO em<br />
NO 2 , por sua vez, ocorre nas zonas em que existe<br />
excesso de ar na câmara de combustão, o que caracteriza<br />
uma maior estabilidade do NO 2 a baixas temperaturas,<br />
quando comparado com o NO. A partir<br />
da cinética de reação pode ser prevista a conversão<br />
de NO em NO 2 . Tomando um exemplo: a 700 K e<br />
para um tempo de 0,1 ms, ocorre rapidamente<br />
25% de conversão; por outro lado, ao se aumentar<br />
a temperatura para 900 K, a conversão é menor que<br />
6%. Existem dúvidas se a conversão de NO para<br />
NO 2 ocorre dentro da câmara de combustão ou nas<br />
proximidades da saída da câmara.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 13-22 17
CORRELAÇÕES EMPÍRICAS<br />
PARA PREVISÃO DA<br />
FORMAÇÃO <strong>DE</strong> NOX<br />
A possibilidade de se prever o comportamento<br />
térmico e as emissões geradas por uma turbina<br />
são importantes, principalmente na fase de<br />
projeto e escolha do sistema a ser utilizado. Existem<br />
duas formas para determinar a quantidade de NOx:<br />
a primeira vem da necessidade de se conhecer os<br />
mecanismos de reação, equações de equilíbrio e as<br />
constantes de velocidade de reação e de se resolver<br />
essas equações por métodos computacionais; outra<br />
forma é desenvolver correlações empíricas a partir<br />
de dados coletados em equipamentos existentes. A<br />
elaboração dos modelos está baseada em três parâmetros:<br />
a) tempo de residência na zona de combustão;<br />
b) taxa da reação química; c) taxa de mistura. A<br />
partir desses parâmetros podem ser obtidos termos<br />
que relacionam tamanho da câmara de combustão,<br />
perda de carga, proporções dos fluxos envolvidos,<br />
além das condições de entrada, como pressão, temperatura<br />
e fluxo de massa.<br />
Seguindo essa metodologia, algumas equações<br />
para previsão de formação de NOX em turbinas a<br />
gás são apresentadas por Lefebvre (1995). A equação<br />
(7) foi desenvolvida pelo próprio autor:<br />
NOx = 9 × 10 -8 P -1,25 V c exp (0,001T st ) / m A T pz (7)<br />
onde: Vc é volume da combustão (m3), P é a<br />
pressão da combustão (kPa), T st é a temperatura da<br />
chama (K), T pz é a temperatura média da câmara da<br />
chama (K), e m A é fluxo de massa de ar (kg/s); o<br />
resultado obtido é dado em gramas de NOx por<br />
quilo de combustível (g/kg de combustível). Conforme<br />
o autor, esta equação oferece boa previsão da<br />
determinação de NOx em câmaras de combustão<br />
do tipo “spray”.<br />
Outros autores, como Odgers & Krestchmer,<br />
Lewis & Rokk (In: Lefrevre, 1995), apresentam<br />
também correlações empíricas, apresentadas nas<br />
equações 8, 9 e 10.<br />
NOx = 29 exp – (21.670/T) P 0,66 × [ 1 – exp -(250 t) ] (8)<br />
onde: P é a pressão da câmara de combustão<br />
(Pa), T é a temperatura da chama (K), e t é o tempo<br />
de formação do NOx (ms), sendo atribuído 0,8 ms<br />
para “airblast atomizers”, 1,0 ms para “pressure atomizers”,<br />
1,5 a 2,0 ms para turbinas industriais queimando<br />
combustível líquido; o resultado obtido é<br />
dado em gramas de NOx por quilo de combustível<br />
(g/kg de combustível).<br />
NOx = 3,3192 × 10 -6 exp (0,0079776 Τ) P 0,5 (9)<br />
onde: P é a pressão da câmara de combustão<br />
(atm), T é a temperatura da chama (K), o resultado<br />
obtido é dado partes por milhão em volume<br />
(ppmv). Esta equação se aplica em câmaras de combustão<br />
de turbinas aeroderivativas e não é recomendada<br />
para turbinas industriais.<br />
NOx = 18.1 P 1,42 m A<br />
0,3 q 0,72 (10)<br />
onde: P é a pressão da câmara de combustão<br />
(atm), m A é fluxo de massa de ar (kg/s), e q é a relação<br />
combustível/ar; o resultado obtido é dado em<br />
ppm. Essa correlação tem boa aproximação para<br />
turbinas utilizando gás na faixa de 1,5 a 34MW.<br />
TECNOLOGIAS PARA A<br />
REDUÇÃO <strong>DE</strong> EMISSÕES<br />
<strong>DE</strong> NOx<br />
As soluções para a redução do nível de emissões<br />
de NOx em turbinas a gás podem ser variadas:<br />
injeção de água líquida ou vapor, uso de câmaras de<br />
combustão como baixa emissão de NOx, ou tratamento<br />
dos gases de combustão, dependendo a escolha<br />
final de sua viabilidade técnica e econômica.<br />
Em geral, tecnologias que tendem a diminuir<br />
as emissões de NOx atuam de forma desfavorável<br />
quanto às emissões de monóxido de carbono (CO)<br />
e de hidrocarbonetos não queimados (UHC). A<br />
figura 2 mostra os problemas que podem ocorrer a<br />
partir da escolha de temperaturas muito baixas para<br />
a zona primária de uma câmara de combustão:<br />
abaixo de 1.600 K, embora as emissões de NOx<br />
sejam baixas, ocorre um aumento nas emissões de<br />
monóxido de carbono (CO). De forma inversa,<br />
acima de 1.800 K o nível de CO seria reduzido, mas<br />
os níveis de emissões de NOx seriam altos.<br />
18 Junho • 2000
Fig. 2. Influência da temperatura da zona primária nas<br />
emissões de NOx e CO (Chigier, 1981).<br />
Injeção de Água ou Vapor na<br />
Câmara de Combustão<br />
A injeção de água líquida ou vapor na câmara<br />
de combustão diminui substancialmente a temperatura<br />
de chama na zona primária, conseguindo baixos<br />
níveis de emissões de NOx, além de um<br />
aumento de trabalho máximo fornecido pela turbina<br />
em função do aumento do fluxo de massa. Proporções<br />
usuais de injeção de água líquida estão por<br />
volta de 50% do fluxo de combustível e na faixa de<br />
100 a 200% do fluxo de combustível para a injeção<br />
de vapor.<br />
As desvantagens desse tipo de sistema são: a)<br />
no caso de injeção de água líquida, há necessidade<br />
de se usar água desmineralizada e em quantidade<br />
substancial; b) no caso da injeção de vapor, além da<br />
vazão necessária, o gerador de vapor deve ter pressão<br />
compatível com a pressão da câmara de combustão<br />
da turbina; c) pode ocorrer aumento do<br />
nível de emissões de monóxido de carbono e de<br />
hidrocarbonetos; d) pode haver oscilações da<br />
chama, no caso de injeção de água na fase líquida; e)<br />
há redução no rendimento térmico da turbina sempre<br />
que se usa injeção de água na fase líquida.<br />
Na tabela 2 são apresentados níveis de emissões<br />
alcançados de NOx em função da quantidade<br />
de água líquida ou vapor adicionada na câmara de<br />
combustão, e sua influência no aumento da potência<br />
e da eficiência da turbina.<br />
Câmara de Combustão<br />
de Geometria Variável<br />
Esse tipo de configuração de câmara de combustão<br />
não é nova e possui muitas variantes. Sua utilização<br />
em turbinas aeronáuticas é justificada por ser<br />
um dos meios de reacendimento em vôo. Esse tipo<br />
de câmara não era bem aceito pelos projetistas de<br />
turbinas estacionárias em razão das complexidades<br />
mecânicas envolvidas. Porém, com a necessidade da<br />
redução de emissões, tal tecnologia passou a ser utilizada<br />
também em turbinas industriais.<br />
O sistema de variação da geometria modula a<br />
quantidade de ar necessário de diluição, mantendo a<br />
temperatura da zona primária próxima às condições<br />
de baixa formação de NO. Quando a turbina trabalha<br />
em baixa carga, existe um sistema que desvia<br />
parte do ar para a zona de mistura, mantendo a<br />
chama controlada. A desvantagem desse sistema<br />
reside na complexidade do seu controle, que tende a<br />
aumentar custo e peso, bem como reduzir a confiabilidade<br />
da operação.<br />
Câmara de Combustão em Estágios<br />
Esse tipo de sistema é utilizado por vários fabricantes,<br />
nele encontrando-se valores de emissões de<br />
NOx inferiores a 25 ppmv (base 15% oxigênio) e<br />
sem a injeção de água ou vapor. O conceito da combustão<br />
em estágios é promover uma distribuição uniforme<br />
do fluxo de ar na câmara, alternando o fluxo<br />
de combustível para manter a temperatura de combustão<br />
constante e em valores adequados a baixas<br />
emissões. Um meio de se fazer à injeção de combustível<br />
seletiva pode ser pela combinação de injetores de<br />
combustível em uma coroa circular, conseguindo-se<br />
temperatura da combustão localizada e divida. A desvantagem<br />
desse sistema é o resfriamento de reações<br />
químicas que acontecem nas extremidades das zonas<br />
de combustão, o que pode ocasionar baixa eficiência<br />
e aumento na formação de CO e UHC.<br />
Em uma típica combustão por estágio, uma<br />
relação combustível/ar ao redor de 0.8 no primeiro<br />
estágio é usada para alcançar eficiência de combustão<br />
alta, baixa emissão de CO e UHC. Já em condições<br />
de plena carga, a zona de chama e de mistura<br />
são mantidas com uma relação combustível/ar ao<br />
redor de 0.6 para minimizar as emissões de óxido<br />
nítrico e fumaça.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 13-22 19
Tab. 2. Emissões NOx em função da quantidade de água injetada (Schorr, 1991).<br />
PROPORÇÃO EM MASSA<br />
NÍVEL <strong>DE</strong> NOX (PPMVD) COMBUSTÍVEL<br />
ÁGUA / COMBUSTÍVEL<br />
POTÊNCIA <strong>DE</strong> SAÍDA EFICIÊNCIA<br />
75 Óleo leve 50% (líquida) Aumento de 3 % Aumento de 1,8 %<br />
42 Gás natural 100% (vapor) Aumento de 5 % Aumento de 3,0 %<br />
42 Gás natural 140% (vapor) Aumento de 5 % Aumento de 2,0 %<br />
25 Gás natural 120% (líquida) Aumento de 6 % Aumento de 4,0 %<br />
25 Gás natural 130% (vapor) Aumento de 5.5 % Aumento de 3,0 %<br />
Turbinas a gás aeronáuticas costumam empregar<br />
sistemas radiais ou paralelos de injeção de ar,<br />
quando em câmaras anulares. Para as turbinas<br />
industriais o sistema utilizado pode ser do tipo série<br />
ou axial, em que uma porção do combustível é injetada<br />
em uma zona de combustão primária (piloto) e<br />
a jusante, em uma zona de combustão principal que<br />
opera a baixas relações de combustível/ar, minimizando<br />
a formação de fumaça e NOx. Uma das vantagens<br />
desse tipo de sistema é o fato de o fluxo de<br />
gás quente da zona piloto assegurar alta eficiência de<br />
combustão, até mesmo a baixas relações de combustível/ar,<br />
além do bom perfil de temperatura<br />
radial na saída da câmara. Sua principal desvantagem<br />
é a dificuldade de realização da adaptação em<br />
algumas turbinas, devido principalmente à adaptação<br />
dos injetores de combustível para as duas fases<br />
de combustão.<br />
Câmara de Combustão<br />
Dry Low NOx Combustor<br />
O termo “dry low" é usado para indicar a<br />
câmara de combustão capaz de alcançar baixas<br />
emissões de NOx sem a necessidade da injeção de<br />
água ou vapor, através de uma estratégia centrada<br />
na mistura prévia entre o combustível e o ar (premix).<br />
A rigor, as câmaras de combustão em estágios<br />
descritos anteriormente poderiam ser também<br />
enquadradas como “dry-low-NOx”.<br />
As avaliações realizadas pela Solar Turbines<br />
(Lefebvre, 1995) indicam baixos níveis de NOx, ao<br />
redor de 12 ppm a 6 bar e 20 ppm a 9 bar, com o<br />
CO abaixo de 50 ppm. Tais níveis de concentrações<br />
são atingidos a partir da boa mistura do ar com o<br />
combustível e em condições operacionais restritas.<br />
Para produzir uma câmara de combustão de<br />
baixa emissão em uma versão industrial da turbina<br />
Rolls Royce RB 211, o combustor anular foi substituído<br />
por nove combustores que realizam uma mistura<br />
prévia entre o ar e o combustível. Testes<br />
realizados com pressões de no mínimo 20 atm<br />
demonstraram a habilidade desta câmara para<br />
alcançar simultaneamente baixo NOx e CO em<br />
grande faixa de temperatura sem recorrer a geometria<br />
variável ou extração de ar.<br />
A Asea Brown Boveri desenvolveu um<br />
módulo “Premix Cônical Burner” (queimador<br />
“EV”) que oferece bom potencial para baixas emissões<br />
em uma larga faixa de trabalho. Uma característica<br />
importante desse queimador é a estabilização<br />
de chama no espaço livre perto da sua saída,<br />
podendo utilizar combustíveis gasosos e líquidos em<br />
conjunto. Uma combinação de escoamento do ar e<br />
injeção tangencial de combustível proporciona uma<br />
boa mistura antes da região de chama. Valores de<br />
NOx abaixo de 12 ppmv são obtidos, mantendo<br />
baixa emissão de CO e UHC.<br />
Câmara de Combustão Lean<br />
Premix-Prevaporize Combustion<br />
Esse conceito de câmara é freqüentemente<br />
usado quando se requer níveis muito baixos de emissão<br />
utilizando combustíveis líquidos. O combustível<br />
é injetado de forma atomizada no fluxo de ar em alta<br />
velocidade e direcionado para a zona de combustão.<br />
O objetivo desse tipo de projeto é obter a completa<br />
evaporação e a melhor mistura possível do combustível<br />
e do ar, evitando-se a formação de gotas, além<br />
de se ter uma mistura com excesso de ar que reduz as<br />
emissões de NOx. Os problemas dessa tecnologia<br />
incluem a vaporização incompleta da mistura, risco<br />
de auto-ignição, possibilidade de retrocesso da mistura<br />
e dificuldade de acendimento. Alguns desse problemas<br />
são resolvidos com a inclusão de sistema de<br />
combustão por estágio ou geometria variável. Conforme<br />
Lefebvre (1995), o “lean premix” tem consi-<br />
20 Junho • 2000
derável potencial, obtendo-se valores de emissões de<br />
NOx inferiores a 10 ppm, com temperatura de<br />
chama de 2.000 K, mas os problemas de mistura e<br />
auto-ignição ainda são presentes.<br />
Redução Catalítica Seletiva<br />
A Redução Catalítica Seletiva (RCS) é uma<br />
forma de tratamento dos gases de combustão na<br />
saída da turbina. Trata-se de um processo baseado<br />
na grande afinidade da amônia (NH 3 ) com o NOx:<br />
a amônia é injetada de forma controlada (devido ao<br />
seu poder corrosivo) nos gases de combustão antes<br />
da entrada no conversor catalítico, local onde se<br />
converte seletivamente o NOx em N 2 e água. São<br />
usados como catalisadores o pentóxido de vanádio<br />
(V 2 O 5 ) ou óxido de titânio (TiO 2 ), devendo o processo<br />
ocorrer dentro de uma faixa de temperatura<br />
de 285 a 400ºC, o que limita o seu uso em ciclos<br />
que possuam sistema de recuperação de energia dos<br />
gases de combustão. Outro problema é o controle<br />
da injeção de amônia, que não pode ser arrastada<br />
com os gases de combustão (a emissão de amônia é<br />
ainda pior que a de NOx). Com essa tecnologia é<br />
possível atingir níveis extremamente baixos de emissões<br />
de NOx. Cohen (1996) cita que se consegue<br />
valores inferiores a 10 ppmvd.<br />
A National Aeronautics and Space Administration<br />
(NASA), visando eliminar NOx proveniente<br />
dos propulsores das naves espaciais, desenvolveu<br />
um sistema de conversão de óxidos de nitrogênio<br />
em nitrato de potássio, matéria-prima utilizada na<br />
fabricação de fertilizantes.<br />
O sistema é composto de um reservatório<br />
que possui uma solução “scrubber” (limpadora),<br />
bombeada no topo de uma coluna que absorve dos<br />
gases o NOx presente, convertendo-o em ácido<br />
nítrico e nitroso, e fluindo junto com a solução para<br />
o reservatório. Um sistema controla a adição de<br />
peróxido de hidrogênio, que assegura somente a<br />
existência de ácidos nítrico e nitroso no tanque.<br />
Existe outro sistema que mantém o pH entre 5.0 e<br />
9.0 a partir da adição de hidróxido de potássio, que,<br />
ao reagir com o ácido de nítrico, forma o nitrato de<br />
potássio. Esse nitrato de potássio aquoso pode ser<br />
removido a qualquer momento do reservatório,<br />
enquanto a concentração se aproxima do limite de<br />
solubilidade de 18%. Esse projeto ainda não foi<br />
fabricado em escala industrial, mas pode ser mais<br />
uma tecnologia a ser adotada para a diminuição das<br />
emissões de NOx e ainda com possibilidade de produzir<br />
fertilizante (National Aeronautics Space Administration,<br />
1998).<br />
CONSI<strong>DE</strong>RAÇÕES FINAIS<br />
E CONCLUSÕES<br />
A formação de NOx em turbinas a gás está<br />
ligada ao próprio processo de combustão. Os mecanismos<br />
de formação de NOx indicam a influência<br />
da temperatura na zona primária, da pressão de<br />
operação da câmara, das concentrações de oxigênio<br />
e nitrogênio e da presença de nitrogênio na composição<br />
química do combustível. Assim, as tecnologias<br />
existentes de redução de formação de NOx utilizam-se<br />
desses parâmetros para conseguir obter uma<br />
diminuição das emissões.<br />
Atualmente existem tecnologias que atuam<br />
preventivamente sobre a formação de NOx, especialmente<br />
através de novas concepções de projeto de<br />
câmaras de combustão. A alternativa de redução catalítica<br />
do NOx deve ser evitada sempre que possível,<br />
dado que o emprego de amônia para tal finalidade<br />
aumenta os custos e pode ser inconveniente se mal<br />
controlada (emissão de amônia para o ambiente).<br />
Antes da elaboração de projetos e da instalação<br />
de sistemas de potência ou de co-geração empregando<br />
turbinas a gás, unicamente preocupados com<br />
a maior eficiência, é necessário que se avalie que tipo<br />
de câmara de combustão está sendo fornecido e se<br />
compare os níveis de emissão, para cada condição de<br />
operação, com padrões internacionalmente aceitos.<br />
Do ponto de vista legal, é urgente que sejam<br />
instituídos limites de emissões de NOx na legislação<br />
brasileira, bem como instrumentos que operacionalizem<br />
seu controle. Esse tipo de medida certamente<br />
incentiva a busca de sistemas mais eficientes do<br />
ponto de vista térmico e ambiental.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BATHIE, W. W. Fundamentals of Gas Turbines, 2 th edition. U.S.A.: John Wiley & Songs, Inc., 1996.<br />
CHIGIER, N. Energy, Combustion and Environment. U.S.A.: McGrall-Hill, 1981.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 13-22 21
COHEN, H.; ROGERS, G.F.C. & SARAVANAMUTTOO, H.I.H. Gas Turbine Theory, 4 th edition. Londres: Addison Wesley<br />
Longman, 1996.<br />
ENVIRONMENTAL EUROPEAN AGENCY – EEA CORINAIR (CORe Inventories AIR), 1998. <br />
1998.<br />
LEFEBVRE, A.H. Gas Turbine Combustion. U.S.A.: Hemisphere Publishing Corporation, 1983.<br />
_______. The Role of Fuel Preparation in Low-Emission Combustion, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,<br />
U.S.A., v. 117, pp. 617-654, october 1995.<br />
NATIONAL AERONAUTICS SPACE ADMINISTRATION-NASA Nitrogen Oxides (NOx) waste conversion to fertilizer,<br />
1998. .<br />
SCORR, M.M. NOx Emission Control for Gas Turbines: a 1992 update on regulations and technology, ASME: Cogen & Turbo<br />
Power Conference, IGT, U.S.A., v. 7, pp. 1-12, 1992.<br />
TOKIO ELECTRIC POWER COMPANY (TEPCO), TEPCO International Affairs Department, 1998.<br />
.<br />
VENTURA, V.J. & RAMBELLI, A.M. Legislação Federal sobre o Meio Ambiente. Taubaté: Vana, 1996.<br />
22 Junho • 2000
Projeto de Construção<br />
de Aplicativo Estatístico<br />
para Análises Descritivas:<br />
Sistema de Análises<br />
Descritivas-Siad (parte II)<br />
Project for Statistical Applicative Construction to Descriptivies<br />
Analysis: descriptivies analysis system – SIAD (part II)<br />
ANGELA M. C. JORGE CORRÊA<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
ajcorrea@unimep.br<br />
FRANCISCO BACCARIN<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
baccarin@merconet.com.br<br />
VALÉRIA M. D’AREZZO ZILIO<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
umdizilio@dglnet.com.br<br />
ARIVALDO MATHIENSEN JR.<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
amathiensen@unimedpiracicaba.com.br<br />
EVELIN GIULIANA LIMA<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
evelin_giu@uol.com.br<br />
HELOISA HELENA SFERRA<br />
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
hhsferra@uol.com.br<br />
RESUMO – O presente texto relata uma experiência de pesquisa interdisciplinar de iniciação científica envolvendo alunos<br />
e professores de estatística e análise e desenvolvimento de sistemas, do curso de Análise de Sistemas, da Universidade<br />
Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Nesse contexto, desenvolveu-se um projeto que consistiu em construção, teste e validação<br />
de um aplicativo estatístico para análises descritivas denominado Sistema de Análises Descritivas (SIAD). Trata-se<br />
de aplicativo destinado a auxiliar usuários de diferentes áreas do conhecimento que necessitem de ferramentas computacionais<br />
para o desenvolvimento de metodologias da estatística descritiva. O objetivo central do estudo foi a construção de<br />
um software compacto e de fácil utilização, acompanhado de documentação e recursos necessários ao entendimento e à<br />
operacionalização do aplicativo. Para a realização do projeto aplicou-se uma combinação das metodologias Estruturada e<br />
Orientada a Objetos, visto que a linguagem escolhida para seu desenvolvimento, Borland Delphi 3.0, oferece recursos de<br />
programação orientada a objetos e eventos. O resultado do estudo é o software SIAD, composto de sete módulos:<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 23-32 23
Entrada de Dados (ou módulo básico do sistema), Box-Plot, Correlação e Regressão Linear Simples, Gráficos, Índices ou<br />
Medidas, Tabelas de Freqüências e Teste Qui-Quadrado. Também foi criado um site para socialização do aplicativo.<br />
Palavras-chave: ESTATÍSTICA <strong>DE</strong>SCRITIVA – APLICATIVO ESTATÍSTICO – ANÁLISE <strong>DE</strong> SISTEMAS – ESTATÍSTICA.<br />
Abstract – The present paper reports an experience of scientific initiation multisubject research, involving students and<br />
professors of System and Development Analysis as well as Statistics, from the course of System Analysis in the Methodist<br />
University of Piracicaba (UNIMEP). In this context, a project was developed, consisting of the making, testing and validating<br />
of the statistics software named Descriptive System Analysis (SIAD). This concerns of a software meant to help users<br />
from different areas of knowledge, who need computer tools for the development of metodologies in Descriptive Statistics.<br />
The central object of this study was the making of a compact and user–friendly software, attached with documentation<br />
and the necessary tools to its understanding and use. For the accomplishment of the project, a combination of the<br />
Structured and Object Oriented Methodologies was applied, as the language chosen for its development, Borland Delphi<br />
3.0, offers object and event oriented programming resources. The result of the study is the SIAD software, which consists<br />
of seven modules: data entry (or basic module of system), Box-Plot, Correlation and Simple Linear Regression, Graphs,<br />
Index or Measures, Frequency Tables and Qui-Square Test. A site for the socialization of the software was also created.<br />
Keywords: <strong>DE</strong>SCRIPTIVE STATISTICS – STATISTICAL SOFTWARE – SYSTEM ANALYSIS STATISTICS.<br />
1 Além dos autores do artigo, participou também desse projeto o<br />
aluno bolsista Alex de Almeida Neves.<br />
INTRODUÇÃO<br />
A<br />
nálises Estatísticas Descritivas são parte da<br />
metodologia científica de pesquisas em diferentes<br />
áreas do conhecimento. Com a integração<br />
dos recursos da informática aos métodos<br />
estatísticos, essas análises tornam-se mais ágeis e<br />
seguras, e podem ser desenvolvidas com apoio de<br />
vários aplicativos estatísticos. Nesse âmbito, considerando<br />
ser de interesse de pesquisadores de diferentes<br />
áreas do conhecimento a utilização de um<br />
aplicativo simples e de fácil operacionalização, destinado<br />
a apoiar análises empíricas de dados, propôsse<br />
a construção do Sistema de Análises Descritivas<br />
(SIAD), através da seqüência de dois projetos de iniciação<br />
científica, com apoio do CNPq e da UNIMEP.<br />
O primeiro deles teve por objetivo projetar o SIAD,<br />
enquanto o segundo, aqui relatado, destinou-se à<br />
construção do software. 1 Tal aplicativo tem por<br />
objetivo atender às etapas do método estatístico descritivo,<br />
desde o planejamento da pesquisa de campo<br />
até a fase de análise, bem como permitir a realização<br />
de testes não-paramétricos, como o teste do Qui-<br />
Quadrado.<br />
A construção do software foi realizada em<br />
conformidade com as normas técnicas da área e<br />
necessitou de conhecimentos integrados de várias<br />
disciplinas do curso de Análise de Sistemas. Complementarmente,<br />
o projeto possibilitou ao aluno<br />
bolsista de iniciação científica maior aprofundamento<br />
nas áreas de estatística e análise e desenvolvimento<br />
de sistemas. O estudo respondeu, ainda, pela<br />
elaboração da documentação (como manual do<br />
usuário, help on-line de como utilizar o sistema e<br />
help on-line de tópicos estatísticos) necessária à utilização<br />
adequada do SIAD, disponibilizando ao<br />
futuro usuário do software os recursos necessários<br />
ao entendimento e utilização do aplicativo. Acrescenta-se<br />
que o presente artigo é evolução de artigo<br />
publicado anteriormente na <strong>Revista</strong> de Ciência &<br />
Tecnologia número 13, vol. 7.<br />
METODOLOGIA<br />
O projeto foi dividido em várias fases de atividades.<br />
Inicialmente foi feito um estudo detalhado<br />
das definições do projeto do SIAD, visando a familiarização<br />
dos alunos bolsistas com o software a ser<br />
desenvolvido. Os conceitos estatísticos necessários<br />
foram pesquisados e definidos com base em autores<br />
como Fonseca & Martins (1993), Toledo & Ovalle<br />
(1982), Vieira & Hoffmann (1991) e Bussab &<br />
Morettin (1991). Após essa fase, passou-se à definição<br />
das técnicas e processos metodológicos necessários<br />
à construção do sistema, definindo-se que a<br />
linguagem a ser utilizada seria a Borland Delphi 3.0<br />
e o banco de dados seria o Paradox, por este ser<br />
nativo do Delphi. Também adotou-se a Metodologia<br />
Estruturada, que, segundo Gane & Sarson<br />
(1983), se constitui de um conjunto de técnicas e<br />
24 Junho • 2000
ferramentas derivadas da programação visual e do<br />
projeto estruturado.<br />
Destaca-se que o enfoque principal desta<br />
metodologia é a construção de um modelo lógico<br />
do sistema, através da utilização de técnicas gráficas<br />
que fornecem uma visão geral dele e de como suas<br />
partes se relacionam, para atender às necessidades<br />
do usuário. Além da Metodologia Estruturada, foi<br />
necessário também a utilização de conceitos relacionados<br />
à Metodologia Orientada a Objetos, cuja<br />
principal característica é a criação de classes (Martin,<br />
1994). Registra-se que na Programação Orientada<br />
a Objetos é possível reutilizar códigos já<br />
prontos, agrupando os dados e os procedimentos/<br />
funções que farão uso desses dados, tratando-os<br />
como um objeto único. Outra característica importante<br />
a destacar é a possibilidade de criar objetos<br />
derivados de outros, ou seja, criar um novo objeto<br />
herdando atributos e ações de outro (Alves, 1997).<br />
Para a programação, também adotou-se a<br />
Programação Orientada a Eventos, na qual os códigos<br />
executáveis encontram-se em subprogramas ou<br />
funções, sendo estes acionados por eventos (como,<br />
por exemplo, um clique do mouse) ou ainda chamados<br />
por outras rotinas acionadas por um evento.<br />
Em seguida, passou-se à codificação do sistema.<br />
Inicialmente, criou-se a base de dados necessária<br />
à sua manutenção, utilizando a ferramenta<br />
Borland Database Desktop7, disponível no Delphi,<br />
conforme indicado por Cantù (1997), que permite<br />
manipulação de tabelas de várias bases de dados,<br />
como dBase, Paradox e Access, entre outras.<br />
Considerando as especificações de interface<br />
do software para ambiente Windows, definiu-se<br />
uma estrutura de menu principal para o SIAD, contendo<br />
uma barra de menu suspenso com os seguintes<br />
itens: Arquivo, Gerar, Consultar e Ajuda.<br />
Também foram definidos vários submenus, com o<br />
objetivo de fornecer melhor visualização ao usuário,<br />
além de várias teclas de atalho para facilitar sua utilização,<br />
caso o usuário faça acesso ao aplicativo através<br />
do teclado.<br />
Após a elaboração e construção dos menus,<br />
passou-se à construção das interfaces de entrada de<br />
dados, necessárias à manutenção de uma pesquisa.<br />
Para isso, foram criados vários formulários, que<br />
fazem a interação do usuário com o sistema,<br />
obtendo-se assim os dados necessários a uma pesquisa,<br />
segundo Osier, Grobman & Batson (1997).<br />
Em todo desenvolvimento do sistema utilizou-se<br />
a abordagem Top-Down que, segundo Page-<br />
Jones (1988), consiste em implementar-se primeiramente<br />
o módulo superior do sistema com seus respectivos<br />
módulos subordinados, até que se atinjam<br />
todos os módulos inferiores e o sistema esteja completo.<br />
Salienta-se que, nessa abordagem, de acordo<br />
com DeMarco (1989), as interfaces críticas são testadas<br />
em primeiro lugar e o sistema, mesmo incompleto,<br />
fornece uma idéia geral de como ele será.<br />
Paralelamente à implementação, foram aplicados<br />
testes com a finalidade de garantir que os programas<br />
se adaptassem aos requisitos do projeto e<br />
funcionassem corretamente. Para isso, adotou-se a<br />
abordagem de Martin & McClure (1991), que consiste<br />
em selecionar um conjunto de dados de<br />
entrada com os quais se executará o programa;<br />
determinar a saída que se espera ser produzida; executar<br />
o programa e analisar os resultados produzidos.<br />
Destaca-se que esse processo é realizado em<br />
quatro principais etapas. Na primeira delas efetua-se<br />
o Teste de Unidade, testando cada função, subrotina<br />
ou módulo como sendo uma unidade, objetivando<br />
verificar se as especificações do projeto estão<br />
corretamente implementadas pelo código; a estrutura<br />
básica do módulo através dos testes mais simples<br />
possíveis; o desempenho do módulo através de<br />
dados de entrada válidos; o desempenho do<br />
módulo através de dados de entrada inválidos bem<br />
como a correção de cada laço, especialmente a correção<br />
dos términos de laço.<br />
Na segunda etapa aplica-se o Teste de Integração:<br />
realizado em nível de subsistema, testa a integração<br />
entre os seus módulos. Quando um módulo<br />
está funcionando adequadamente dentro da estrutura<br />
do programa, acrescenta-se outro módulo e o<br />
teste continua. Repete-se esse processo até que<br />
todos os módulos do sistema tenham sido integrados<br />
e testados. Na terceira etapa desenvolve-se o<br />
Teste de Sistema, que verifica se o sistema inteiro<br />
está funcionando corretamente, a fim de descobrir<br />
implementações incorretas das especificações do<br />
projeto. Nesse teste, os dados de entrada devem testar<br />
as partes mais importantes e as mais freqüentemente<br />
usadas do programa; representar o uso<br />
normal ou esperado do programa; revelar erros<br />
sobre condições de processamento extremas ou críticas.<br />
Finalmente, na quarta etapa, aplica-se o Teste<br />
de Aceitação, que verifica se o sistema atende aos<br />
requisitos do usuário. Neste, o usuário opera o software<br />
com dados reais, não necessitando conhecer a<br />
estrutura interna do sistema.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 23-32 25
Fig. 1. Tela em que o usuário cadastra os dados coletados para cada amostra.<br />
RESULTADOS<br />
O principal resultado da pesquisa foi o desenvolvimento<br />
de um conjunto de atividades relacionadas<br />
à codificação, teste e validação do software SIAD,<br />
que atende todas as fases do método estatístico descritivo,<br />
desde o planejamento da pesquisa de campo e<br />
coleta de amostras aleatórias, sistemáticas ou estratificadas,<br />
até a fase de análise, utilizando metodologias<br />
estatísticas descritivas e permitindo a realização de<br />
testes não-paramétricos, como o Qui-Quadrado.<br />
O módulo básico do sistema oferece ao usuário<br />
opção de cadastrar pesquisas e tipos de amostra, definir<br />
a estrutura do arquivo de dados amostrais, gerar e<br />
listar os números da amostra, cadastrar os dados das<br />
amostras, bem como exportar os dados amostrais<br />
para o Microsoft Excel e Microsoft Word e efetuar<br />
cópia da pesquisa, para utilizá-la em outro computador.<br />
Na figura 1 apresenta-se um exemplo de tela<br />
para cadastro de dados, considerando-se uma amostra<br />
estratificada aleatória (referente à pesquisa realizada<br />
no segundo semestre de 1997 com os alunos do<br />
curso diurno de Análise de Sistemas, da UNIMEP).<br />
Além do módulo básico, o SIAD possui<br />
outros seis módulos: Box-Plot, Correlação e Regressão<br />
Linear Simples, Gráficos, Índices ou Medidas e<br />
Qui-Quadrado. Apresenta-se resumidamente, a<br />
seguir, cada um desses módulos.<br />
O Box-Plot, também chamado de “Gráfico de<br />
Caixa”, é um esquema gráfico para análise exploratória<br />
de dados, muito útil no estudo da forma de<br />
uma distribuição, conforme Bussab & Morettin<br />
(1991). Sua construção é baseada em cinco pontos<br />
(mediana, quartis 1 e 3 e valores extremos). Além de<br />
indicar claramente a forma da distribuição (se simétrica<br />
ou assimétrica), permite detectar a existência<br />
(ou não) de valores discrepantes, a partir do cálculo<br />
dos limites (inferiores e superiores) de discrepância.<br />
O módulo construído no SIAD apresenta<br />
para o usuário o desenho do Box-Plot, selecionada a<br />
variável e o(s) estrato(s) desejado(s). O sistema também<br />
exibe alguns cálculos para auxiliar o usuário na<br />
interpretação do resultado: menor e maior valor da<br />
amostra, mediana, quartis 1 e 3, limite inferior e<br />
superior de discrepância e, quando houver, valores<br />
discrepantes. Na figura 2 apresenta-se o Box-Plot<br />
referente à variável “idade” de uma amostra de 70<br />
estudantes do curso diurno de Análise de Sistemas,<br />
da UNIMEP, no segundo semestre de 1997. Pelo<br />
esquema gráfico, observa-se que a amostra apresenta<br />
assimetria positiva e possui duas idades discrepantes.<br />
26 Junho • 2000
Fig. 2. Tela de exibição do Box-Plot referente à uma amostra da variável “idade”.<br />
Fig. 3. Diagrama de Dispersão gerado a partir de uma amostra de 22 pares (X,Y), em que X consiste em gastos com propaganda<br />
(em u.m.) e Y, quantidade vendida.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 23-32 27
O módulo Correlação e Regressão Linear, através<br />
do cálculo do coeficiente de correlação linear de<br />
Pearson, permite quantificar o relacionamento linear<br />
entre duas variáveis de interesse. A idéia gráfica desse<br />
relacionamento (ou variação conjunta) entre duas<br />
variáveis é normalmente expressa através de um gráfico<br />
simples, chamado Diagrama de Dispersão. Já o<br />
modelo de relacionamento linear entre variáveis de<br />
interesse pode ser obtido através da estimação de<br />
uma reta pelo método de mínimos quadrados, e consiste<br />
na metodologia estatística de regressão linear<br />
simples (ver, entre outros, Iemma, 1992).<br />
O módulo Correlação e Regressão Linear<br />
Simples, do SIAD, apresenta gráficos e índices que<br />
permitem subsidiar estudos que necessitem de análises<br />
de correlação e modelagem linear simples.<br />
Para tanto, apresenta ao usuário cálculos das estimativas<br />
dos coeficientes da reta de mínimos quadrados,<br />
coeficientes de correlação e determinação,<br />
valor das somas dos quadrados de erros totais,<br />
erros explicados pela regressão e resíduos, além da<br />
estatística F, diagrama de dispersão e gráfico de<br />
resíduos. Ao exibir o diagrama de dispersão, o usuário<br />
pode optar pela apresentação da linha de tendência<br />
(equação da reta) e do coeficiente de<br />
determinação do modelo.<br />
Na figura 3, apresenta-se o diagrama de dispersão,<br />
associado à amostra de 22 pares de valores<br />
(X,Y), em que X consiste nos gastos com propaganda,<br />
em unidade monetária (u.m.), e Y, a quantidade<br />
vendida, extraído de Corrêa (1999). Também<br />
se registra a estimativa do modelo linear ajustado, e<br />
o valor do coeficiente de determinação.<br />
Segundo Vieira & Hoffmann (1991), os gráficos<br />
de Barras e Colunas são freqüentemente utilizados<br />
para apresentar séries cronológicas, geográficas<br />
e categóricas, embora possam representar qualquer<br />
série estatística. Os Gráficos de Setores (pizza) são<br />
utilizados para comparar proporções: representam<br />
um fato e todas as partes em que ele se subdivide.<br />
Os Gráficos de Linhas servem para representar<br />
séries cronológicas, sendo o tempo colocado no<br />
eixo das abscissas e os valores observados no eixo<br />
das ordenadas, expressando muito bem a tendência<br />
de crescimento de uma variável no tempo. Por<br />
outro lado, os Histogramas e Polígonos de Freqüências<br />
devem ser utilizados para representar as distribuições<br />
de freqüências de variáveis quantitativas,<br />
indicando a forma da distribuição dos dados.<br />
Fig. 4. Gráfico de Colunas Sobrepostas com uma variável qualitativa e quatro estratos gerado pelo SIAD, ilustrando a distribuição<br />
dos alunos do curso diurno de Análise de Sistemas da UNIMEP, no segundo semestre de 1997, conforme o<br />
sexo e o semestre.<br />
28 Junho • 2000
O módulo “Gráficos”, no SIAD, permite ao<br />
usuário gerar gráficos para variáveis quantitativas e<br />
qualitativas, a partir de dados brutos ou tabelados. As<br />
opções oferecidas são dos seguintes tipos de gráficos:<br />
área, barras, colunas, linhas, pizza e pontos, no caso<br />
de variáveis qualitativas, e histogramas e polígono de<br />
freqüências, para variáveis quantitativas. Ainda possibilita<br />
copiar o gráfico do SIAD para a área de transferência<br />
do Windows, permitindo, então, transferi-lo<br />
para outros aplicativos (como Word, Excel, PowerPoint<br />
etc.). Esse módulo ainda disponibiliza ao usuário a<br />
opção de formatar o gráfico, ou seja, suas paredes,<br />
eixos e fundo, entre outros atributos.<br />
Na figura 4, apresenta-se um gráfico de colunas<br />
sobrepostas, ilustrando a distribuição dos alunos<br />
do curso diurno de Análise de Sistemas da UNIMEP,<br />
segundo o sexo e o semestre, para o segundo semestre<br />
de 1997.<br />
Segundo Toledo & Ovale (1982), a descrição<br />
de um conjunto de dados quantitativos pode ser<br />
feita através de índices ou medidas. Esses índices são<br />
números resumos, que permitem caracterizar a tendência<br />
central (ou posição) dos valores, bem como a<br />
variabilidade, assimetria e curtose. Essa descrição<br />
pode ser complementada através do cálculo de<br />
separatrizes (como quartis, decis e percentis).<br />
O módulo Índices ou Medidas do SIAD calcula<br />
esses índices para a amostra (simples, por estratos<br />
e no total), ou seja, gera medidas de posição (como<br />
média, mediana e moda), de variabilidade (como<br />
variância, desvio padrão e coeficiente de variação),<br />
coeficiente de assimetria (baseado no 3.º momento<br />
em relação à média), coeficiente de curtose (com base<br />
no 4.º momento em relação à média), separatrizes e<br />
outras médias (como ponderada e geométrica).<br />
A figura 5 ilustra parte desses índices, considerando<br />
a variável “Idade”, por estratos e no total da<br />
amostra de alunos do curso diurno de Análise de<br />
Sistemas da UNIMEP, no segundo semestre de 1997.<br />
O módulo Tabelas de Freqüências permite ao<br />
usuário gerar tabelas simples ou de dupla entrada, tanto<br />
para variáveis qualitativas como quantitativas. No caso<br />
de variáveis quantitativas, o usuário pode optar por<br />
gerar a tabela com os dados agrupados (ou não) em<br />
classes. O usuário ainda pode inserir Fonte, Notas de<br />
Rodapé e Chamadas, gerar gráficos, calcular índices e<br />
realizar o teste Qui-Quadrado, a partir das tabelas já<br />
geradas. Os procedimentos estatísticos (normas e orientações)<br />
seguem Vieira & Hoffmann (1991). A figura 6<br />
apresenta a tabela de freqüências relativa à amostra de<br />
70 alunos do curso diurno de Análise de Sistemas da<br />
UNIMEP, conforme o sexo e o semestre cursado pelo<br />
aluno, no segundo semestre de 1997.<br />
Uma tabela do SIAD, quando gerada para<br />
uma variável quantitativa, pode apresentar a freqüência<br />
observada (fj), a freqüência relativa ao total<br />
da coluna (fr Coluna), a freqüência relativa ao total<br />
da linha (fr Linha) e a freqüência relativa ao total<br />
geral (fr Total Geral). No caso de variáveis quantitativas,<br />
pode apresentar a freqüência observada da<br />
classe (fj), a freqüência relativa (fr), o ponto médio<br />
da referida classe (xj), bem como as freqüências acumuladas<br />
diretas (Fj e Frj) e inversas (Fj* e Frj*).<br />
Segundo De Francisco (1994), o Qui-Quadrado<br />
é uma medida de extensão que compara, em<br />
uma relação finita, as freqüências observadas com as<br />
freqüências esperadas. Dependendo do valor obtido<br />
nessa comparação, é possível afirmar, com certo<br />
nível de confiança, se as freqüências observadas são<br />
compatíveis com as freqüências esperadas. Ao<br />
tomar essa decisão, está se efetuando um teste de<br />
Aderência, a partir de uma tabela de freqüências<br />
simples. Além desse teste simples, é possível também<br />
lançar mão do Qui-Quadrado para verificar a independência<br />
entre fatores ou atributos de classificação,<br />
a partir de uma tabela de dupla entrada, chamada<br />
de tabela de contingência.<br />
Esse último módulo do SIAD permite ao<br />
usuário realizar o teste Qui-Quadrado para tabelas<br />
de entrada simples e de contingência. Para sua realização,<br />
o usuário deverá escolher o nível de significância<br />
desejado. Em tabelas de entrada simples<br />
(para os testes de aderência), o usuário deverá fornecer<br />
as freqüências esperadas. Para testes de independência,<br />
a partir de tabelas de contingência, as<br />
freqüências esperadas são automaticamente efetuadas<br />
pelo SIAD. Na figura 7 apresenta-se a tela com<br />
os resultados de um teste Qui-Quadrado sobre a<br />
opinião de donas-de-casa a respeito de um novo<br />
detergente lançado no mercado (De Francisco,<br />
1994).<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 23-32 29
Fig. 5. Índices gerados para a variável idade, obtida através de pesquisa realizada junto aos alunos do curso diurno de Análise<br />
de Sistemas da UNIMEP, no segundo semestre de 1997.<br />
Fig. 6. Tabela gerada pelo SIAD, referente a uma amostra de 70 alunos do curso diurno de Análise de Sistemas da UNIMEP,<br />
durante o segundo semestre de 1997, segundo o sexo e o semestre cursado pelo aluno.<br />
30 Junho • 2000
Fig. 7. Resultado do teste do Qui-Quadrado aplicado à opinião<br />
de donas-de-casa em relação a um novo<br />
detergente lançado no mercado.<br />
pronto e disponível para utilização, oferecendo<br />
todos os recursos necessários para seu entendimento<br />
e operacionalização. Acredita-se que, por ser<br />
um aplicativo para uso exclusivo no apoio a análises<br />
descritivas, poderá ser de grande utilização por<br />
pesquisadores de diferentes áreas do saber, que<br />
necessitem de auxílio estatístico-computacional de<br />
fácil operacionalização.<br />
Fig. 8. Tela com os tópicos referentes à ajuda de utilização<br />
do SIAD.<br />
Finalizando a apresentação dos resultados, registra-se,<br />
adicionalmente, que o sistema conta também<br />
com o Manual do Usuário e help on-line de como utilizar<br />
o sistema (sendo este contextual, ou seja, em qualquer<br />
ponto do programa, o usuário pode teclar F1, e o<br />
sistema apresentará uma ajuda sobre o contexto em<br />
que ele se encontra). A figura 8 ilustra a tela de conteúdo<br />
da ajuda de utilização do SIAD (nela são apresentados<br />
todos os tópicos da ajuda, para que o usuário<br />
escolha o item que deseja visualizar).<br />
O sistema ainda disponibiliza uma ajuda sobre<br />
Tópicos Estatísticos, no qual o usuário irá encontrar<br />
definições e exemplos para cada medida calculada<br />
pelo SIAD. A figura 9 apresenta uma tela de conteúdo<br />
da ajuda de tópicos estatísticos (nela são apresentados<br />
todos os tópicos dessa ajuda, para que o<br />
usuário escolha o assunto desejado).<br />
Fig. 9. Tela com os tópicos da ajuda de estatística.<br />
CONCLUSÃO<br />
O principal resultado do projeto de iniciação<br />
científica aqui relatado foi a elaboração do software<br />
denominado SIAD. Tal aplicativo encontra-se<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 23-32 31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ALVES, W.P. Delphi 3.0 – Programação Visual para Windows. São Paulo: Érica, 1997.<br />
BUSSAB, W.O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 4.ª ed., São Paulo: Atual, 1991.<br />
CANTÙ, M. Dominando o Delphi 3. Trad. Álvaro Antunes & Marcos Jorge, São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997.<br />
CORRÊA, A.M.C.J. Roteiros para Análises Descritivas com Auxílio do Excel Versão 7.0. Grupo de Área de Métodos Quantitativos,<br />
Piracicaba: UNIMEP, 1999.<br />
CORRÊA, A.M.C.J. et al. Projeto para Construção de Aplicativo Estatístico para Análises Descritivas: Sistema de Análise Descritivas<br />
(SIAD). <strong>Revista</strong> de Ciência & Tecnologia, Piracicaba: Editora UNIMEP, 7 (13): 111-117, 1999.<br />
DeMARCO, T. Análise Estruturada e Especificações. Rio de Janeiro: Campus, 1989.<br />
<strong>DE</strong> FRANCISCO, W. Estatística: síntese da teoria. Piracicaba: UNIMEP, 1994.<br />
FONSECA, J.S. & MARTINS, G.A. Curso de Estatística. 4.ª ed., São Paulo: Atlas, 1993.<br />
GANE, C. & SARSON, T. Análise Estruturada de Sistemas. Trad. Gerry E. Tompkins. Rio de Janeiro: LCT, 1983.<br />
IEMMA, A.F. Estatística Descritiva. Piracicaba: Publicações, 1992.<br />
MARTIN, J. Princípios de Análise e Projeto Baseados em Objetos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.<br />
MARTIN, J. & McCLURE, C. Técnicas Estruturadas e CASE. Trad. Lucia Faria da Silva. São Paulo: Makron Books do Brasil,<br />
1991.<br />
OSIER, D.; GROBMAN, S. & BATSON, S. Aprenda em 21 Dias Delphi 2. Rio de Janeiro: Campus, 1997.<br />
PAGE-JONES, M. Projeto Estruturado de Sistemas. São Paulo: McGraw-Hill, 1998.<br />
TOLEDO, G.M. & OVALLE, I. Estatística Básica. 2.ª ed., São Paulo: Atlas, 1982.<br />
VIEIRA, S. & HOFFMANN, R. Elementos de Estatística. São Paulo: Atual, 1991.<br />
32 Junho • 2000
Absorvedores de<br />
Radiação Eletromagnética<br />
Aplicados no Setor<br />
Aeronáutico<br />
Electromagnetic Radiation Absorbers with Aeronautical Applications<br />
JOSIANE <strong>DE</strong> CASTRO DIAS<br />
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)<br />
josianecastro@yahoo.com<br />
FÁBIO SANTOS DA SILVA<br />
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)<br />
fabioss@iconet.com.br<br />
MIRABEL CERQUEIRA REZEN<strong>DE</strong><br />
Centro Técnico Aeroespacial (CTA)/Instituto de Aeronáutica e Espaço<br />
mirabelrezende@hotmail.com<br />
INÁCIO MALMONGE MARTIN<br />
Unicamp-IFGW<br />
martin@ifi.unicamp.br<br />
RESUMO – Os materiais absorvedores de radiação são obtidos com base no processamento adequado de matrizes poliméricas<br />
aditadas com partículas específicas ao uso do absorvedor e pela utilização de estruturas híbridas em materiais compósitos.<br />
Esses materiais são atualmente utilizados nas indústrias aeronáutica, de telecomunicações e de eletroeletrônicos e,<br />
ainda, na área médica. O presente trabalho apresenta conceitos básicos e trabalhos experimentais envolvidos na ciência<br />
dos materiais absorvedores de radiação eletromagnética, juntamente com informações sobre os materiais primários<br />
empregados no seu processamento e as metodologias de caracterização baseadas nas técnicas do Arco NRL (Naval Research<br />
Laboratory) e RCS (Radar Cross Section).<br />
Palavras-chave: MATERIAIS ABSORVEDORES <strong>DE</strong> RADIAÇÃO – BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA – ABSORVEDORES.<br />
ABSTRACT – Radar absorbing materials (RAM) are obtained from polymeric matrices added with specific additives or<br />
using hybrid structures in composite materials. Nowadays, these materials are widely used in various fields, including<br />
space, aircraft, electronics, medical and telecommunications. The purpose of the present work is to show a review of the<br />
basic concepts concerning radar absorbing materials, giving information about raw materials used in its processing and<br />
the characterization methodologies based in NRL (Naval Research Laboratory) arc and RCS (Radar Cross Section) techniques.<br />
Keywords: RADAR ABSORBING MATERIALS – ELECTROMAGNETIC SHIELDING – ABSORBERS.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 33-42 33
INTRODUÇÃO<br />
Materiais Absorvedores de Radiação<br />
De maneira simplificada pode-se dizer que os<br />
materiais absorvedores de radiação (Radar<br />
Absorbing Materials-RAM) promovem a<br />
troca de energia da radiação eletromagnética pela<br />
energia térmica, devido às características intrínsecas<br />
de determinados componentes, podendo-se citar<br />
alguns tipos de materiais carbonosos, polímeros<br />
condutores e ferritas. Esses materiais, quando atingidos<br />
por uma onda eletromagnética, têm a estrutura<br />
molecular excitada e a energia incidente é convertida<br />
em calor (Interavia, 1998). Exemplos de uso<br />
bem sucedido desses materiais podem ser encontrados<br />
na aeronáutica clássica, na blindagem eletromagnética<br />
de instrumentos de aeronaves (Stonier,<br />
1991; e International Encyclopaedia of Composites,<br />
1991), na fabricação de artefatos utilizados na área<br />
de telecomunicações, podendo-se citar a proteção<br />
eletromagnética em edifícios e câmaras anecóicas,<br />
devido à interferência de sinais em geral, em sistemas<br />
de cabeamento de controle de ruídos espúrios e<br />
em programas de vigilância; na indústria de eletroeletrônicos,<br />
na segurança de fornos de microondas; e<br />
no monitoramento inteligente de camuflagem e na<br />
blindagem de equipamentos utilizados na área<br />
médica (Jafellicci Jr., 1997).<br />
Os RAM podem ser divididos em materiais<br />
que absorvem os campos magnético e elétrico e a<br />
combinação de ambos, denominados materiais<br />
absorvedores. Um critério para a seleção de um<br />
material absorvedor é, em especial, a localização da<br />
região natural de ressonância magnética dos aditivos<br />
a ele incorporados, por exemplo, as ferritas (International<br />
Encyclopaedia of Composites, 1991; Ufimtsev,<br />
1996; Hippel, 1954; Sattar, 1996). A<br />
eficiência na absorção do sinal emitido por uma<br />
determinada fonte pode ser avaliada pela atenuação<br />
da reflexão da radiação, promovida pelo material<br />
ou objeto em questão. A medida considera não só a<br />
influência do material, mas também a geometria do<br />
objeto, denominada de RCS (Radar Cross Section),<br />
utilizada para descrever o tamanho virtual do objeto<br />
detectado pelo receptor de sinal na faixa de freqüência<br />
do emissor de ondas (Halliday & Resnick,<br />
1984).<br />
A transparência ou a reflexão de uma estrutura<br />
submetida a uma determinada radiação incidente<br />
são funções não apenas da geometria da peça, mas<br />
também das propriedades do material, particularmente<br />
de suas propriedades dielétricas ε (a permissividade,<br />
também chamada de constante dielétrica) e<br />
de suas propriedades magnéticas µ (a permeabilidade<br />
magnética) (Afsar et al., 1986; Emerson, 1973).<br />
Sendo assim, alguns materiais podem ser usados para<br />
absorver alta porcentagem da radiação incidente ou<br />
para atenuar parte dela ou, ainda, serem transparentes<br />
a essa radiação.<br />
As duas categorias de absorvedores (dielétricos<br />
e magnéticos) podem ser obtidas por:<br />
• absorvedores dielétricos: a partir da adição de<br />
pequenas partículas de carbono, grafite ou partículas<br />
de metal pulverizadas em uma matriz polimérica;<br />
e<br />
• absorvedores magnéticos: pela adição de aditivos<br />
com características magnéticas, por exemplo,<br />
ferritas, conhecendo-se a sua curva de<br />
histerese magnética (Afsar et al., 1986; Verwey<br />
& Helmann, 1947).<br />
Absorvedores Magnéticos<br />
Os absorvedores magnéticos são constituídos<br />
geralmente de polímeros, como: elastômeros à base<br />
de poliisopreno, neopreno, nitrilas, silicones e/ou<br />
polímeros poliuretânicos, fenólicos ou epoxídicos,<br />
os quais são aditados com materiais com características<br />
magnéticas, por exemplo as ferritas. Esses<br />
absorvedores podem ter em sua formulação, além<br />
da ferrita, partículas de carbono e/ou polímeros<br />
condutores. Pelo controle das propriedades magnéticas<br />
e espessura do material, o polímero aditado<br />
pode ser projetado para alcançar altos valores de<br />
permeabilidade. Isso envolve a seleção apropriada<br />
do aditivo, de sua concentração e distribuição na<br />
matriz do RAM, de modo a favorecer um alto fator<br />
de perda (tan δ). Os absorvedores magnéticos são,<br />
normalmente, menos espessos, apresentando em<br />
alguns casos 1/10 da espessura dos absorvedores<br />
dielétricos. No entanto, as suas características de<br />
absorção são equivalentes às dos absorvedores dielétricos<br />
(International Encyclopaedia of Composites,<br />
1991).<br />
34 Junho • 2000
Ferritas<br />
Os materiais cerâmicos incluem uma categoria<br />
ampla de compostos, empregados nas mais diversas<br />
áreas e com finalidades específicas, podendo-se citar<br />
os piezoelétricos, os ferroelétricos, os isolantes e os<br />
supercondutores (Buchanan, 1991).<br />
As ferritas são materiais cerâmicos, contendo<br />
ferro, oxigênio e outro metal, apresentando características<br />
magnéticas, com fórmula química tipo<br />
M 2 +[Fe 2 3+ ]O 4 e condutividade elétrica relativamente<br />
alta. Esses materiais apresentam curva de histerese<br />
quando submetidos a um campo magnético<br />
externo. As ferritas, por absorverem ondas eletromagnéticas,<br />
têm atraído muito a atenção nas últimas<br />
décadas como aditivo no processamento dos RAM<br />
(Afsar et al., 1986; Buchanan, 1991; Sattar, 1996).<br />
O entendimento das propriedades de magnetismo<br />
em um material pode ser resumido na combinação<br />
de três fatores (Marques & Varanda, 1998):<br />
• a origem do magnetismo, ou seja, a existência<br />
dos momentos magnéticos no material;<br />
• a existência de interações entre os momentos<br />
magnéticos e o entendimento dessas interações;<br />
• a mecânica estatística, necessária para o entendimento<br />
das propriedades macroscópicas mensuráveis<br />
em laboratório.<br />
Quando um campo magnético externo é aplicado<br />
em um material com propriedades magnéticas,<br />
algumas de suas regiões alinham os seus momentos<br />
magnéticos atômicos paralelamente em uma única<br />
direção, constituindo, assim, os domínios magnéticos<br />
do material. Esses domínios crescem por influência<br />
de outros vizinhos, podendo sofrer uma rotação no<br />
sentido mais fácil para se alinharem com o campo<br />
magnético aplicado. Dessa forma, as propriedades<br />
magnéticas em referência são resultantes do ordenamento<br />
dos momentos de dipolo magnéticos das espécies<br />
que constituem o material. Então, o momento<br />
magnético dos átomos deve-se ao momento orbital<br />
dos elétrons em torno do núcleo e ao momento de<br />
rotação (spin) do elétron em torno de seu próprio<br />
eixo. A ordenação dos momentos magnéticos fornece<br />
os tipos de magnetismo apresentados na tabela 1<br />
(Marques & Varanda, 1998).<br />
As propriedades magnéticas das ferritas estão<br />
diretamente relacionadas com os elétrons da camada<br />
incompleta dos cátions do metal. Nessas camadas, os<br />
números quânticos orbital e de spin dos elétrons<br />
desemparelhados combinam com os momentos magnéticos<br />
dos demais elétrons (Buchanan, 1991). A soma<br />
desses momentos dá o momento magnético do átomo<br />
(Cho; Kang & Oh, 1996). Nas ferritas ferrimagnéticas<br />
o alinhamento dos momentos magnéticos antiparalelos,<br />
com números desiguais de spins nas duas direções,<br />
é que fornece o momento magnético resultante diferente<br />
de zero. Nos materiais ferromagnéticos, os<br />
momentos magnéticos dos elétrons constituintes estão<br />
espontaneamente alinhados em paralelo (vide tab. 1) e<br />
o momento magnético resultante se torna diferente de<br />
zero (Sattar, 1996). Em alguns casos, os momentos<br />
magnéticos estão dispostos antiparalelamente, levando<br />
a um momento magnético integral nulo. Esses materiais<br />
são chamados antiferromagnéticos, como por<br />
exemplo, o MnO 2 (Verwey & Helmann, 1947).<br />
Tab. 1. Tipos de magnetismo classificados conforme a<br />
orientação dos momentos magnéticos dos<br />
materiais.<br />
ORIENTAÇÃO DOS MOMENTOS<br />
OR<strong>DE</strong>NAMENTO<br />
<strong>DE</strong> DIPOLOS MAGNÉTICOS<br />
Paramagnético<br />
Ferromagnético<br />
↑↑↑↑↑↑<br />
Antiferromagnético ↓↑↓↑↓↑<br />
Ferrimagnético<br />
↑↓↑↓↑↓<br />
Todos os materiais ferro e ferrimagnéticos exibem<br />
o efeito de histerese, entre um campo magnético<br />
aplicado (H) e a indução magnética (B) do<br />
material apresentando, consequentemente, propriedades<br />
associadas a esse efeito, como permeabilidade<br />
magnética, saturação de magnetização e forças coercitivas<br />
(Buchanan, 1991).<br />
Estruturas das Ferritas<br />
As ferritas podem ser classificadas em:<br />
• estrutura tipo granada, com fórmula geral<br />
5Fe2O3:3 Me2O3, onde Me2O3 = óxido<br />
metálico de terras raras;<br />
• estrutura tipo espinélio, com fórmula geral<br />
1Fe2O3:1MeO, onde MeO = óxido de metal<br />
de transição;<br />
• estrutura tipo hexagonal, com fórmula geral<br />
6Fe2O3:1 MeO, onde MeO = óxido de metal<br />
divalente, grupo II A da Tabela Periódica<br />
(Buchanan, 1991).<br />
↑<br />
↑<br />
↑<br />
↑<br />
↑<br />
↑<br />
↑<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 33-42 35
As ferritas com fórmula geral MFe 2 O 4 (onde<br />
M = Co, Ni, Mn etc.) são do tipo espinélio, por analogia<br />
à estrutura do mineral espinélio (MgAl 2 O 4 ).<br />
Esse tipo de estrutura possibilita uma distribuição<br />
dos cátions no retículo cristalino, em sítios tetraédricos<br />
e octaédricos, cujos vértices são ocupados por<br />
átomos de oxigênio formando um arranjo cúbico de<br />
face centrada. Nessa estrutura, os íons metálicos ocupam<br />
os interstícios entre os átomos de oxigênio<br />
(Verwey & Helmann, 1947). Esses sítios podem ser<br />
tetraédricos (sítio A), devido ao cátion metálico estar<br />
localizado no centro de um tetraedro, e octaédrico<br />
(sítio B), quando o cátion metálico localiza-se no<br />
centro de um octaedro. As propriedades físico-químicas<br />
dos espinélios não dependem somente do tipo<br />
de cátion, mas também da distribuição desses nos<br />
sítios disponíveis no retículo cristalino. Essa estrutura<br />
influencia as propriedades magnéticas desses materiais,<br />
permitindo a sua utilização nas indústrias de cabo<br />
telefônico, televisão, transformadores, antenas de<br />
rádio, ímãs permanentes em alto-falantes, filtros de<br />
microondas etc. As ferritas do tipo espinélio contendo<br />
átomos de Zn ou Cd podem apresentar<br />
momento magnético máximo, a uma certa concentração<br />
desses elementos (Cho; Kang & Oh, 1996).<br />
Em função dessas características, as ferritas<br />
tipo espinélio são muito utilizadas como aditivos no<br />
processamento de RAM, sendo usadas em materiais<br />
absorvedores à base de polímeros, como tintas,<br />
mantas e espumas absorvedoras de radiação eletromagnética,<br />
para faixas de freqüências estreitas e largas<br />
(Cho; Kang & Oh, 1996).<br />
Negro de Fumo<br />
Atualmente, o negro de fumo (NF) tornou-se<br />
um dos aditivos mais aceitos comercialmente no processamento<br />
de plásticos condutivos e borrachas. Existem,<br />
basicamente, quatro tipos de negro de fumo,<br />
diferenciados em função do processo de fabricação e<br />
propriedades específicas. Em aplicações industriais os<br />
mais utilizados são os obtidos pela degradação de<br />
compostos orgânicos em forno (Engineered Materials<br />
Handbook, 1998). O NF é um material carbonoso da<br />
classe dos carbonos poliméricos, apresentando estrutura<br />
cristalográfica dos planos basais similar à do grafite<br />
(Nohara, 1998) e, como tal, intrinsecamente<br />
semicondutor (Dias, 1998).<br />
Tab. 2. Propriedades elétricas típicas de matrizes poliméricas (International Encyclopaedia of Composites, 1991).<br />
CONSTANTE DIELÉTRICA, FATOR <strong>DE</strong><br />
MATRIZES POLIMÉRICAS<br />
ε′ / ε 0 PERDA , TAN δ<br />
Utilizadas em Compósitos<br />
Convencionais<br />
Poliéster 2,7-3,2 0,005-0,020<br />
Epóxi 3,0-3,4 0,010-0,030<br />
Cianato de éster 2,7-3,2 0,004-0,010<br />
Utilizadas em Compósitos<br />
Para Uso em Alta Temperatura<br />
Fenólicas 3,1-3,5 0,030-0,037<br />
Polimidas 2,7-3,2 0,005-0,008<br />
Silicone 2,8-2,9 0,002-0,006<br />
Polieteramida (PEI) 3,1 0,004<br />
Utilizadas em Compósitos<br />
Termoplásticos<br />
Policarbonato (LEXAN®) (G.E.) 2,5 0,0006<br />
PPO (NORYL®) (G.E.) 2,6 0,0009<br />
Polisulfona (PS) 3,1 0,003<br />
Polietersulfona (PES) 3,5 0,003<br />
Polisulfeto de Fenileno (PPS) 3,0 0,002<br />
Teflon® (E.I.Dupon) 2,1 0,0004<br />
Dados para freqüências de 10 GHz a 20 o C<br />
36 Junho • 2000
A condutividade elétrica desejada de um<br />
material dopado com NF é função das propriedades<br />
físico-químicas desse aditivo (Cabot Co., 1998). A<br />
seleção apropriada do tipo de NF condutor a ser utilizado<br />
como aditivo no processamento de um RAM<br />
é crítica. Pois isso depende de parâmetros como<br />
incorporação desse aditivo na matriz polimérica,<br />
condutividade, processabilidade, dispersão e custo<br />
(Ruvolo Filho, 1998; Fazenda, 1995a, 1995b).<br />
O fluxo de elétrons em uma mistura de negro<br />
de fumo e matriz polimérica é alcançado quando o<br />
NF forma uma rede condutiva na massa polimérica.<br />
O fluxo de elétrons ocorre quando as partículas de<br />
NF, que se encontram agregadas, permanecem em<br />
contato ou separadas por distâncias muito pequenas.<br />
Esse fenômeno é, em geral, função da área superficial,<br />
da estrutura e dos tipos de partículas (pó ou<br />
grãos). A área superficial caracteriza o tamanho da<br />
partícula e seu grau de microporosidade (Cabot Co.,<br />
1998). Altos valores de área superficial levam a um<br />
maior número de agregados por unidade de peso,<br />
resultando em distâncias interagregados menores,<br />
tornando as amostras mais condutivas eletricamente,<br />
a uma dada carga (Rodriguez, 1989). Desse modo, a<br />
quantidade de negro de fumo necessária para alterar<br />
a condutividade elétrica de materiais é, geralmente,<br />
pequena (Berins, 1991; Johnson, 1992).<br />
Esse tipo de carbono na área de absorvedores<br />
de ondas eletromagnéticas é bastante utilizado por<br />
suas características físicas, como área superficial e<br />
condutividade. Estas características permitem a<br />
absorção da radiação incidente, transformando-a<br />
em calor. Uma outra vantagem da utilização do NF<br />
é o controle do seu grau de pureza química durante<br />
o seu processamento, de modo a ser compatível<br />
com a utilização, ou seja, isento de íons metálicos<br />
que possam promover o aumento da refletividade<br />
do material.<br />
Absorvedores Dielétricos<br />
As superfícies dielétricas normalmente utilizadas<br />
no setor aeronáutico, como estruturas absorvedoras<br />
de radiação, são em plásticos reforçados,<br />
como, por exemplo, laminados de compósitos poliméricos<br />
com fibras de carbono (International<br />
Encyclopaedia of Composites, 1991). A quantidade<br />
de radiação refletida de uma estrutura de plástico<br />
reforçado por fibras é função da constante dielétrica<br />
dos materiais na superfície. As constantes dielétricas<br />
para materiais não metálicos podem ser observadas<br />
na tabela 2. Uma estrutura projetada para absorver<br />
energia eletromagnética na faixa de 2 a 20 GHz<br />
deve apresentar uma constante dielétrica efetiva em<br />
torno do valor unitário. Isso é possível pela incorporação<br />
de aditivos específicos ao uso do absorvedor.<br />
Uma estrutura com espessura adequada pode<br />
ser projetada com características de transmissão<br />
máxima pela seleção das constantes dielétricas desejadas<br />
dos materiais empregados na sua preparação,<br />
para uma determinada banda de freqüência de utilização.<br />
Por exemplo, compósitos poliméricos com<br />
fibras de quartzo têm boas propriedades dielétricas<br />
para uso em artefatos transparentes à radiação (tab.<br />
3) (International Encyclopaedia of Composites,<br />
1991).<br />
Tab. 3. Constantes dielétricas de alguns compósitos com<br />
fibras de quartzo.<br />
COMPÓSITOS<br />
CONSTANTE<br />
DIELÉTRICA<br />
FATOR <strong>DE</strong> PERDA<br />
Quartzo/Epóxi 2,8 – 3,7 0,006 – 0,013<br />
Fibras de Quartzo/<br />
Bismaleimida<br />
4,0 – 4,4 0,006 – 0,012<br />
Fibras de Quartzo/Polimida 3,0 – 3,2 0,004 – 0,008<br />
Fibras de Quartzo/PPS 3,3 0,002<br />
Fibras de Quartzo/<br />
(Astroquartz © -49)<br />
3,8 0,0001 – 0,0002<br />
Eficiência dos Absorvedores<br />
A eficiência de um material absorvedor ou o<br />
quanto um objeto está absorvendo da radiação incidente<br />
é medida pela densidade de fluxo de energia<br />
do campo espalhado pelo objeto na direção do<br />
receptor do radar, comumente chamado de RCS<br />
(Halliday & Resnick, 1984; Johnson, 1992; Brugess<br />
& Berlekamp, 1988).<br />
Um transmissor de radar produz um sinal que<br />
se propaga em um padrão esférico, sendo a potência<br />
do sinal que atinge um objeto proporcional ao<br />
tamanho desse objeto e inversamente proporcional<br />
à área da esfera. Como essa área é proporcional ao<br />
quadrado de seu raio, a potência do sinal do radar<br />
que atinge o objeto é inversamente proporcional ao<br />
quadrado da distância do objeto ao radar (Skolnik,<br />
1970; Knott, Schaeffer & Tuley, 1985).<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 33-42 37
Para que haja a detecção do objeto, as ondas<br />
do radar devem retornar à antena receptora. Com a<br />
finalidade de se obter uma baixa detecção, uma<br />
grande porcentagem da energia dos sinais do radar,<br />
que atinge o objeto, precisa ser absorvida ou espalhada<br />
por sua superfície. A energia que for espalhada<br />
deve ser refletida em direções distintas da<br />
direção do receptor em que o sinal foi gerado<br />
(Johnson, 1992; Brugess & Berlekamp, 1988).<br />
O sinal de radiação refletido pelo objeto também<br />
se propaga esfericamente. A quantidade de<br />
energia que retorna ao radar (o eco do radar)<br />
dependerá do tamanho do objeto e de suas características<br />
de baixa detecção. Se o objeto possui características<br />
de baixa detecção, então o sinal será<br />
menor do que realmente é, ou seja, o seu RCS será<br />
reduzido (International Encyclopaedia of Composites,<br />
1991).<br />
A radiação que atinge a superfície da estrutura<br />
de uma aeronave não é apenas refletida, mas também<br />
gera uma onda secundária que se propaga<br />
paralelamente à superfície. Essa onda se propaga<br />
através da superfície da estrutura até encontrar uma<br />
descontinuidade, como uma falha, uma junta ou<br />
lâmina pontiaguda e nesse ponto será refletida para<br />
fora da estrutura. Ondas que se propagam pela<br />
superfície podem contribuir significativamente para<br />
o aumento do RCS (Skolnik, 1970). No entanto,<br />
quando a onda encontra um absorvedor, parte da<br />
radiação pode ser dissipada e/ou absorvida dependendo<br />
do fator de perda do material.<br />
Tab. 4. Relação entre atenuação do sinal refletido e porcentagem<br />
de energia absorvida (International<br />
Encyclopaedia of Composites, 1991).<br />
ATENUAÇÃO DA REFLEXÃO, dB % DA ENERGIA ABSORVIDA<br />
0 0<br />
-3 50<br />
-10 90<br />
-15 96,9<br />
-20 99<br />
-30 99,9<br />
-40 99,99<br />
A tabela 4 exemplifica a relação entre a atenuação<br />
da reflexão (dB) e a porcentagem de absorção<br />
do sinal de radiação. A 20 dB de redução do<br />
sinal refletido, por exemplo, tem-se o equivalente a<br />
99% de absorção da energia incidente.<br />
Tab. 5. Valores de RCS típicos (International Encyclopaedia<br />
of Composites, 1991).<br />
TIPOS RCS (M 2 )<br />
Jato Jumbo 100<br />
Fortaleza voadora B-17 80<br />
Bombardeiro B-47 40<br />
Bombardeiro B-1 10<br />
Bombardeiro B-1B 1,0<br />
Grandes aviões de caça 5-6<br />
Pequenos aviões de caça 2-3<br />
Pequeno monomotor 1,0<br />
Homem 1,0<br />
Pássaro pequeno 0,01<br />
Inseto 0,00001<br />
Caça F-117A 0,1<br />
Bombardeiro B-2 (Stonier, 1991) 0,01<br />
A tabela 5 mostra o RCS que radares típicos<br />
conseguem captar de algumas aeronaves em comparação<br />
ao RCS do homem, de pequenos pássaros e<br />
insetos (International Encyclopaedia of Composites,<br />
1991).<br />
MEDIDAS EXPERIMENTAIS<br />
<strong>DE</strong> REFLETIVIDA<strong>DE</strong><br />
Técnica do Arco NRL<br />
O arco NRL é um dispositivo concebido no<br />
Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos<br />
da América (Naval Research Laboratory), na década<br />
de 50, como um meio de avaliar painéis absorvedores.<br />
O arco consiste, basicamente, de uma estrutura<br />
em madeira que permite fixar um par de antenas<br />
transmissora e receptora, tipo corneta, em uma variedade<br />
de ângulos. Cada corneta dependendo da freqüência<br />
é colocada em um suporte móvel, em<br />
qualquer lugar desejado ao longo do arco. A amostra<br />
é posicionada sobre um pequeno pedestal no<br />
centro da curvatura do arco (Skolnik, 1970). A<br />
figura 1 mostra esse dispositivo adaptado e montado<br />
junto à câmara anecóica do Centro Técnico<br />
Aeroespacial.<br />
38 Junho • 2000
Fig. 1. Esquema do arco de NRL com os acessórios, mostrando a estrutura ao longo da qual um par de cornetas pode ser<br />
ajustado e a amostra em teste posicionada no centro do arco.<br />
A estrutura do arco é projetada de modo a<br />
manter a antena apontada para o centro da amostra<br />
em teste. As antenas transmissora e receptora<br />
podem ficar próximas, mas a distância mínima deve<br />
equivaler à abertura de uma corneta em uso. Como<br />
material de referência e apoio da amostra em teste<br />
utiliza-se, normalmente, uma placa de metal. No<br />
entanto, os tamanhos das placas de referência e da<br />
amostra devem ser idênticos. O sistema para as<br />
medidas em intervalos de freqüências é constituído<br />
por um gerador de sinal com uma saída em amplitude<br />
modulada, que transmite uma faixa de freqüência.<br />
O sinal refletido é captado pela corneta<br />
receptora, sendo visualizado em um analisador de<br />
espectros (Knott, Schaeffer & Tuley, 1985).<br />
A amostra em teste é posicionada no mesmo<br />
local da placa de referência. O resultado do índice<br />
de refletividade (atenuação do sinal incidente) será a<br />
diferença entre a medida da placa de referência e a<br />
da amostra. Se dados de desempenho são necessários<br />
em outras freqüências, deve-se ajustar o gerador<br />
com as cornetas substituídas adequadamente, conforme<br />
a necessidade. A limitação de uso da técnica<br />
do arco NRL é a dificuldade para se medir a fase<br />
relativa do sinal refletido. Consequentemente, essa<br />
técnica é empregada apenas para caracterizar diretamente<br />
a amplitude da reflexão (Skolnik, 1970;<br />
Knott, Schaeffer & Tuley, 1985).<br />
A figura 2 mostra uma medida de refletividade,<br />
com varredura de 8-12 GHz, em um material<br />
de referência (placa de alumínio), curva superior, e<br />
um absorvedor tipo pintura poliuretânica aditada<br />
com ferrita NiZn e NF (curva inferior), mostrando<br />
uma absorção média da radiação incidente de 4 dB,<br />
correspondendo, segundo a tabela 4, a valores de<br />
absorção superiores a 50%. Esse RAM foi processado<br />
no Centro Técnico Aeroespacial e caracterizado<br />
pelo uso do arco NRL. O teste é realizado<br />
próximo à incidência normal da radiação. O material<br />
em teste foi projetado para ser utilizado na faixa<br />
de 8-12 GHz.<br />
Fig. 2. Medida de refletividade de um absorvedor desenvolvido<br />
no CTA, na região de 8-12 GHz.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 33-42 39
A figura 3 mostra uma medida de refletividade,<br />
com varredura de 8-12 GHz, em um material<br />
de referência e um absorvedor tipo manta, com<br />
espessura de 3 mm aditada com as mesmas ferritas e<br />
negro de fumo, processado no Centro Técnico<br />
Aeroespacial, efetuada no mesmo arco NRL. O<br />
teste é realizado próximo à incidência normal da<br />
radiação.<br />
Fig. 4. Esquema do dispositivo utilizado no método RCS<br />
(Knott, Schaeffer & Tuley, 1985).<br />
Fig. 3. Medida de refletividade de um absorvedor desenvolvido<br />
no CTA, na região de 8-12 GHz.<br />
A desvantagem dessa técnica é que o suporte<br />
não é completamente invisível para a onda eletromagnética,<br />
podendo introduzir reflexões indesejáveis.<br />
O revestimento do suporte com material tipo<br />
espuma com altas perdas é aconselhável para minimizar<br />
essas reflexões.<br />
Técnica RCS<br />
A técnica do arco NRL permite colocar o<br />
material a ser caracterizado na condição de campo<br />
próximo, cujo valor da refletividade pode ser menor<br />
que o medido sob a condição de campo distante.<br />
Uma alternativa para simular medidas em campo<br />
distante é utilizar uma câmara anecóica, empregando<br />
a técnica RCS (Skolnik, 1970).<br />
Para uma avaliação sem interferências de<br />
absorvedores, a técnica RCS deve ser empregada<br />
(Knott, Schaeffer & Tuley, 1985). Esta técnica<br />
requer um painel de dupla face, uma com o material<br />
refletor e outra com o material absorvedor<br />
montado em um suporte giratório, posicionado no<br />
centro entre as cornetas transmissora e receptora.<br />
Essa metodologia apresenta a vantagem de se<br />
obter em um mesmo ensaio, os valores de referência<br />
e de atenuação do material em teste, com a<br />
necessidade, apenas, de um giro de 360º do eixo.<br />
Na figura 4 tem-se um esquema simplificado do<br />
dispositivo utilizado nessa técnica (Knott, Schaeffer<br />
& Tuley).<br />
Corpos-de-prova para os Ensaios<br />
Via Técnicas RCS e Arco NRL<br />
A definição dos tamanhos dos corpos-deprova,<br />
em função da faixa de freqüência a ser utilizada<br />
na caracterização via técnicas RCS ou arco<br />
NRL, é uma etapa importante de modo a garantir a<br />
qualidade das medidas. Para isso, faz-se o uso da<br />
equação 1, que permite calcular as dimensões mínimas<br />
dos corpos-de-prova a serem ensaiados,<br />
λ = c / f (1)<br />
onde, λ = comprimento de onda (m), c = 3 x<br />
10 8 , velocidade da luz no vácuo (m 2 /s) e f o valor da<br />
freqüência (Hz).<br />
As dimensões dos corpos-de-prova devem ser<br />
iguais ou superiores a 3λ, pois as contribuições das<br />
bordas influenciam nas medidas (efeito de difração).<br />
Geralmente, a placa apresenta 3λ ao longo de uma<br />
dimensão e, preferencialmente, 5λ ou mais na<br />
outra. Essa exigência pode ser estendida a tamanhos<br />
maiores se a amostra do material possuir características<br />
de desempenho muito altas, chegando até a 15<br />
λ (Skolnik, 1970).<br />
A figura 5 esquematiza as dimensões das placas<br />
em teste.<br />
40 Junho • 2000
Fig. 5. Dimensões mínimas dos corpos-de-prova para os<br />
ensaios via técnicas RCS e arco NRL.<br />
As dimensões dos corpos-de-prova devem<br />
obedecer o limite de 15λ, sendo que um mesmo<br />
corpo-de-prova, preparado para medidas em freqüências<br />
mais baixas, pode ser utilizado em medidas<br />
em mais altas freqüências (Skolnik, 1970). Por<br />
exemplo, um corpo-de-prova preparado para medidas<br />
a freqüência de 5 GHz (0,30 m X 0,18 m) pode<br />
ser utilizado para testes em 10 e 20 GHz.<br />
Nessa abordagem dos métodos de medição<br />
da absorção de radiação eletromagnética e da variação<br />
das dimensões dos corpos-de-prova, o método<br />
do arco NRL mostra-se simples, oferecendo respostas<br />
rápidas na avaliação de absorvedores.<br />
A tabela 6 traz algumas dimensões de placas<br />
em função de determinadas faixas de freqüências.<br />
Tab. 6. Correlação entre dimensões de corpos-de-prova e<br />
λ, a determinadas freqüências.<br />
FREQÜÊNCIA<br />
F<br />
COMPRIMENTO<br />
<strong>DE</strong> ONDA<br />
λ (M)<br />
LARGURA<br />
5λ<br />
(M)<br />
ALTURA<br />
3λ<br />
(M)<br />
400 MHz 0,75 3,75 2,25<br />
800 MHz 0,38 1,88 1,12<br />
1 GHz 0,30 1,50 0,90<br />
2 GHz 0,15 0,75 0,45<br />
8 GHz 0,038 0,19 0,11<br />
10 GHz 0,030 0,15 0,090<br />
20 GHz 0,015 0,075 0,045<br />
CONCLUSÃO<br />
O domínio da tecnologia de processamento e<br />
caracterização de absorvedores com características<br />
específicas de absorção de determinadas faixas de<br />
freqüência em microondas, para aplicações diversas,<br />
é restrito a poucos países. O processamento gerenciado<br />
desses materiais, visando às aplicações finais,<br />
permite a otimização de uso de sistemas eletroeletrônicos,<br />
utilizados nas áreas de telecomunicações,<br />
aeroespacial e médica, entre outras.<br />
A avaliação de absorvedores, para faixas<br />
estreitas e largas de freqüência, mostra-se adequada<br />
e rápida pelo uso de testes de refletividade, via técnicas<br />
do Arco NRL e RCS.<br />
O presente trabalho mostra de maneira resumida<br />
conceitos e técnicas necessários para a obtenção<br />
e o aprimoramento de materiais absorvedores<br />
de radiação eletromagnética (2-20 GHz), dando<br />
ênfase às ferritas e às suas estruturas. O Centro Técnico<br />
Aeroespacial vem se dedicando a essa área de<br />
processamento de RAM, efetuando medidas da<br />
refletividade de amostras preparadas pelo uso de<br />
polímeros à base de poliuretanos e epóxi, de partículas<br />
de negro de fumo e de ferritas, em diferentes<br />
concentrações e espessuras, desde 1997. Estes<br />
absorvedores têm sido obtidos como tintas, mantas<br />
poliuretânicas, epoxídicas e de silicone e colméias<br />
revestidas com ferritas e negro de fumo, com bons<br />
resultados de atenuação da radiação incidente na<br />
faixa de 2-20 GHz.<br />
Uma outra técnica em pesquisa e desenvolvimento<br />
de RAM no Centro Técnico Aeroespacial<br />
está sendo atualmente pesquisada pelo mesmo<br />
grupo com o uso de polímeros condutores que,<br />
impregnados com outros materiais, constituirão<br />
uma nova e importante fase deste trabalho.<br />
Agradecimentos<br />
À FAPESP (Processos 97/14055-7 e 98/11030-6) e ao<br />
Comando da Aeronáutica, pelo apoio financeiro, e às<br />
empresas Imag Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos<br />
Ltda. e Cabot Brasil Ind. e Com. Ltda./Especial Blacks<br />
Division, pela doação de amostras. Agradecemos, também,<br />
ao eng. Marcos Ferraz, pelas informações e sugestões<br />
prestadas aos autores, e ao Sr. Manoel Guilherme<br />
da Silva Mello, do IF/Unicamp, pela correção e editoração<br />
do texto.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AFSAR, M. et al. Measurement of the Properties of Materials, Proceedings of the IEEE, Institute of Electronic and Electrical<br />
Engineering, 74 (1), jan./86.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 33-42 41
BERINS, M.L. Plastics Engineering Handbook; Society of the Plastics Industry INC.; IPT International, Thomson Publishing,<br />
1991.<br />
BRUGESS, L.R. & BERLEKAMP, J. Understanging Radar Cross Section Measurements, MSN & CT – Microwaves Systems<br />
News & Communications Technology, october, pp. 54-61, 1988.<br />
BUCHANAN, R.C. Ceramic Materials for Electronics- Processing, Properties and Applications, 2.ª ed., 1991.<br />
CABOT Co. & USA; Technical Report S-39: Condutive Carbon Black in Plastics, 1998.<br />
CHO, S.B.; KANG, D.H. & OH, J.H. Relationship betwen Magnetics Properties and Microwave-absorbing Characteristics of<br />
NiZnCo Ferrites Composites, Journal of Materials Science, 31: 4.719-4.722, 1996.<br />
DIAS, J.C. Adsorção de Ácidos Carboxílicos em Carvão Ativado: Comparação das Isotermas de Freundlich e Freundlich Estendida.<br />
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), São José dos Campos, 1998. [Dissertação de mestrado].<br />
EMERSON, W.H. Eletromagnetic Wave Absorbers and Anechoic Chambers Through the Years, IEEE Transactions on Antenas<br />
and Propagation, 21 (4): 484-488, jul./73.<br />
ENGINEERED Materials Handbook, v. 2: Engineering Plastics, by ASTM International (Annual American Standard Test<br />
Methods), Handbook Committee, USA, 1988.<br />
FAZENDA, J.M.R. Tintas e Vernizes – Ciência e Tecnologia; v. I; Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e Vernizes<br />
(ABRAFATI), 1995a.<br />
____________. Tintas e Vernizes – Ciência e Tecnologia, vol. II; Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e Vernizes (ABRA-<br />
FATI), 1995b.<br />
HALLIDAY, D. & RESNICK, R. Física, v. 4, Eletricidade e Magnetismo, Trad. de Antonio Máximo R. Luz, Livros Técnicos e<br />
Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1984.<br />
HIPPEL, A.R.V. Dieletric Materials and Applications, John Wiley, New York, 1954.<br />
INTERAVIA, editorial: “Hiding from radar”; Interavia, 11: 1.191-1.192, 1988.<br />
INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF COMPOSITES, v. 6, VHC Publishers, New York, 1991.<br />
JAFELICCI JR., M. Absorvedores de Radiação Eletromagnética. In: II Encontro Técnico de Materiais e Química, pp. 16-18,<br />
set./97, Rio de Janeiro, IPqM.<br />
JOHNSON, R.N. Radar Absorbing Material: a passive role in an active scenario. International Coutermeasures Handbook, 11 th<br />
ed., E.W. Communications, Palo Alto, 1992.<br />
KNOTT, E.F.; SCHAEFFER, J.F. & TULEY, M.T. Radar Cross Section, Artech House Inc., New Jersey, 1985.<br />
MARQUES, R.F.C. & VARANDA, L.C. Materiais Magnéticos: propriedades, obtenção, aplicações tecnológicas, 1998. [Monografia<br />
apresentada no Instituto de Química da UNESP, Araraquara].<br />
NOHARA, E.L. Estabelecimento de Parâmetros de Processamento de Compósitos Carbono/Carbono Aplicados na Área de Elementos<br />
de Fricção, 1998. [Dissertação de mestrado, ITA/São José dos Campos].<br />
RODRIGUEZ, F. Principles of Polymer Systems, 3.ª ed., Hemisphere Publishing Corporation, 1989.<br />
RUVOLO FILHO, A. Tintas Anti-Corrosivas: Conceituação e Adequação Pintura/Meio Ambiente Agressivo. Curso Associação<br />
Brasileira de Polímeros (ABPOL), 1998.<br />
SATTAR, A.A. Effect of magnetic order on eletrical properties of Mn-Zn ferrite single crystals, Journal of Materials Science Letters,<br />
15: 1.090-1.092, 1996.<br />
SKOLNIK, M.I. Radar Handbook. Nova York: McGraw Hill Book Company, 1970.<br />
STONIER, R.A. Stealth Aircraft and Technology from World War II to the Gulf, Part I: History and background. Society of<br />
Aerospace, Materials and Process Engineering-SAMPE Journal, 27 (4): 9-17, 1991.<br />
UFIMTSEV, P.Y. Comments on Diffraction Principles and Limitations of RCS Reduction Techniques. Proceedings of the IEEE,<br />
84 (12): 1.828-1.851, dez./96.<br />
VERWEY, E.J.W. & HELMANN, E.L. Physical properties and cation arrangement of oxides with spinel structures. Cation<br />
arrangement in spinels, Journal of Chem. Phys., 15 (4): 174-187, 1947.<br />
42 Junho • 2000
Um Sistema Correto e<br />
Completo para a Lógica<br />
Proposicional Clássica<br />
Correctness and Completeness<br />
System for Classical Propositional Logic<br />
JOSÉ CARLOS MAGOSSI<br />
Universidade Metodista de Piracicaba e<br />
Faculdade de Tecnologia de Americana – CEETEPS<br />
jcmagoss@unimep.br<br />
RESUMO – Este texto tem por objetivo a exposição de um sistema lógico proposicional correto e completo, no sentido<br />
fraco e no sentido forte. Ele se fundamenta no seu aspecto elucidativo, e não em seu caráter inédito. Um apoio ao estudante<br />
iniciante em questões lógicas é pretendido, mostrando de modo direto os teoremas da correção e completude de<br />
um sistema lógico proposicional clássico, além da exposição dos conceitos semânticos e sintáticos necessários às demonstrações<br />
desses teoremas. O mecanismo formal utilizado neste texto baseia-se nos tableaux analíticos, construídos em<br />
forma de árvores binárias. As técnicas formais utilizadas neste texto podem ser estendidas para estudar outros tipos de<br />
lógicas, inclusive não-clássicas.<br />
Palavras-chave: LÓGICA PROPOSICIONAL CLÁSSICA – TABLEAUX – CORREÇÃO – COMPLETU<strong>DE</strong>.<br />
ABSTRACT – The main purpose of this text is to provide proofs of correctness and completeness theorems including<br />
strong sense for one system of classical propositional logic. This one arises from didactic aspects rather than unpublished<br />
ones. We want to support beginners when dealing with logic showing in a direct way both theorems, correctness and<br />
completeness, for a system in classical propositional logic, besides the exposition of mainly syntactical and semantical<br />
concepts related to their proofs. Their formal proofs are related to the mechanical method based on analytic tableaux,<br />
which are constructed in a form of binary trees. The formal techniques that have been used in this text can be extended<br />
to study other logic and non-classical logic as well.<br />
Keywords: CLASSICAL PROPOSITIONAL LOGIC – TABLEAUX – CORRECTNESS – COMPLETENESS.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 43-50 43
INTRODUÇÃO<br />
E<br />
ste texto tem por objetivo a exposição de um<br />
sistema lógico proposicional correto e completo,<br />
fundamentando-se em seu aspecto elucidativo,<br />
e não unicamente no seu caráter inédito.<br />
Um apoio ao estudante iniciante em questões lógicas<br />
é pretendido, mostrando de modo direto as provas<br />
de correção e completude de um sistema lógico<br />
proposicional.<br />
Ao se estudar lógica, seja num curso inicial, seja<br />
num curso avançado, depara-se com uma infinidade<br />
de definições, propriedades e símbolos que, por sua<br />
vez, chegam a confundir a leitura ou até mesmo<br />
impossibilitar o entendimento correto de conceitos<br />
subjacentes. Evidentemente, essas questões não são<br />
tão relevantes quando abordadas por pesquisadores<br />
com um grau de abstração elevado. No entanto, isso<br />
não se sucede em geral com estudantes de graduação,<br />
os quais estão em fase de desenvolvimento de<br />
suas habilidades abstratas. As provas de correção e<br />
completude geralmente são rodeadas de conceitos<br />
diversos, os quais normalmente dificultam a compreensão<br />
própria de sua essência, qual seja, a coincidência<br />
entre a sintaxe e a semântica do sistema. Desse<br />
modo, neste texto, irá se propor de maneira sucinta<br />
um sistema lógico proposicional correto e completo,<br />
além de mostrar a sintaxe, a semântica e suas propriedades<br />
essenciais e, finalmente, os teoremas que os<br />
relacionam. Estudos mais aprofundados sobre lógica<br />
clássica podem ser encontrados em Bell & Machover<br />
(1977); Church (1956); Fitting (1990); Mendelson<br />
(1987); Robbin (1969); Shoenfield (1967);<br />
Smullyan (1968); e van Dalen (1980).<br />
<strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO<br />
Sintaxe<br />
Para iniciar o desenvolvimento de uma linguagem<br />
é necessário introduzir seu vocabulário, seu alfabeto,<br />
ou seja, quais símbolos que manipulados<br />
apropriadamente produzirão algum sentido na linguagem.<br />
Não basta simplesmente descrevê-los, é preciso<br />
também elaborar algum procedimento que produza<br />
“mais símbolos” a partir de símbolos já discutidos.<br />
Esse procedimento consiste em definir algumas regras<br />
de formação, possibilitando gerar uma infinidade de<br />
símbolos (ou seqüências de símbolos) pertencentes à<br />
linguagem, os quais poderão ser interpretados convenientemente<br />
segundo uma semântica apropriada.<br />
Essa seção é dedicada à sintaxe da linguagem<br />
do cálculo proposicional clássico. Essa linguagem<br />
será denominada linguagem L.<br />
Definição 1.1: O alfabeto da linguagem L consiste de:<br />
a) variáveis proposicionais: p 0 , p 1 , p 2 , ...<br />
b) conectivos: ¬, ∧, ∨, →, ↔.<br />
c) sinais de pontuação: (, ).<br />
Esse símbolos são suficientes para definir a linguagem<br />
L. Variáveis proposicionais são letras minúsculas<br />
acrescidas de índices inferiores pertencentes ao<br />
conjunto dos números naturais. Essas variáveis servirão<br />
como base para a interpretação (parte semântica)<br />
da linguagem L. Os conectivos, como o<br />
próprio nome diz, servirão para conectar as variáveis<br />
proposicionais umas com as outras, as quais<br />
serão delimitadas, quando necessário entre parênteses,<br />
o da esquerda e da direita.<br />
Seqüências finitas de símbolos do alfabeto<br />
acima constituem uma expressão. Por exemplo,<br />
¬¬¬¬ ∧ p 1 é uma expressão de L. Nota-se que a<br />
expressão não requer nenhuma regra especial de formação,<br />
simplesmente uma justaposição de símbolos.<br />
Outros exemplos de expressão são os seguintes:<br />
• (p 1 ∧ p 2 )<br />
• ))(((<br />
• ()¬¬→<br />
No entanto, símbolos que não pertencem à<br />
linguagem não são considerados como expressões,<br />
por exemplo: (p -2 → m), p 1 + q.<br />
Infinitas expressões podem ser formadas.<br />
Visando uma futura interpretação, é conveniente<br />
limitar-se às expressões bem formadas, ou seja, que<br />
sigam uma certa regra de formação.<br />
A tabela 1 apresenta a leitura e os nomes das<br />
expressões empregadas na definição seguinte de fórmula.<br />
Tab. 1. Leitura de expressões.<br />
EXPRESSÃO LEITURA NOME<br />
(¬x) não x negação<br />
(x∧y) x e y conjunção<br />
(x∨y) x ou y disjunção<br />
(x→y) se x então y condicional<br />
(x↔y) x se e somente se y bicondicional<br />
44 Junho • 2000
Definição 1.2: Uma expressão é reconhecida como uma<br />
fórmula se satisfizer ao menos uma das condições abaixo:<br />
a) cada variável proposicional é uma fórmula;<br />
b) se X e Y são fórmulas, então (X ∧ Y), (X ∨ Y),<br />
(X → Y) e (X ↔ Y) também são fórmulas;<br />
c) se X é uma fórmula, então (¬X) também é fórmula;<br />
d) só é fórmula o que advém das condições (a), (b)<br />
e (c) acima.<br />
Nem todas as expressões são fórmulas (ou<br />
expressões bem formadas), mas todas as fórmulas<br />
são expressões. Exemplos de fórmulas são:<br />
• (p 1 ∧p 2 )<br />
• (((¬p 1 )→p 3 )∧(p 3 ∨p 3 ))<br />
• (¬p 3 )<br />
Os seguintes são exemplos de expressões que<br />
não são fórmulas:<br />
• (p 1 ) (pois há parênteses a mais)<br />
• p 1 ∧p 2 (pois faltam parênteses)<br />
Obs.: doravante quando não houver dúvidas<br />
no contexto, as letras minúsculas x, y, z, serão utilizadas<br />
para representar variáveis proporcionais, e as<br />
letras maiúsculas X, Y, Z, ..., com ou sem índices<br />
inferiores, para representar fórmulas.<br />
Semântica<br />
Objetiva-se interpretar os símbolos, mais precisamente<br />
as fórmulas, até então inseridos na linguagem<br />
L da lógica clássica. Por sua vez, essa<br />
interpretação se dará associando-se à linguagem<br />
dois novos símbolos: os símbolos 1 (lê-se: verdadeiro)<br />
e 0 (lê-se: falso). Estes farão parte da semântica<br />
de L, os quais, de modo geral, fornecerão um<br />
sentido às fórmulas de L. Desse modo, a relação<br />
com fórmulas é dada por meio de uma função que<br />
associa a cada fórmula um valor semântico, a saber,<br />
verdadeiro ou falso.<br />
Definição 2.1: Seja F o conjunto de todas as fórmulas de<br />
L. Uma valoração v é uma função que associa a cada fórmula<br />
x ∈ F um elemento v (x) ∈ {1, 0}.<br />
Se v (x) = 1, diz-se que a fórmula x é verdadeira,<br />
e se v(x) = 0, diz-se que é falsa. Uma valoração<br />
atribui um significado a cada fórmula de L, ou<br />
seja, cada fórmula recebe 1 ou recebe 0. Como valorações<br />
são funções, torna-se evidente que para qualquer<br />
fórmula x, ou x é 1 ou x é 0, não existe um<br />
terceiro valor. Além disso, x não pode ser 1 e 0 ao<br />
mesmo tempo.<br />
Exemplo: Seja uma função v 1 de F em {1,0}<br />
definida como segue:<br />
{<br />
1, se x é do tipo p i , para i par;<br />
v 1 (x) v 1 (x) = 0, se x é do tipo p i , para i ímpar;<br />
1, se x não é variável proposicional.<br />
A função v 1 é uma valoração.<br />
A noção de valoração serve a muitos propósitos;<br />
porém, é um tanto livre para servir de parâmetro<br />
em algumas situações, por exemplo, em<br />
circuitos de chaveamento. Nestes, 1 pode relacionar-se<br />
a passagem de corrente elétrica e 0 a não<br />
passagem de corrente elétrica. Na valoração acima,<br />
v 1 (p 2 ) = 1, pois o índice da variável proposicional<br />
p 2 é par, e v 1 (¬p 2 ) = 1, pois ¬p 2 não é variável<br />
proposicional. Se p 2 representar um interruptor<br />
ligado de um circuito de chaveamento, (¬p 2 ) representará<br />
um interruptor desligado; porém, na valoração<br />
acima, nos dois casos passaria corrente elétrica,<br />
tanto ligado como desligado, situação que não interessa<br />
aos propósitos de circuitos de chaveamento 1 e<br />
que, no entanto, é contemplada na definição de<br />
valoração como feita acima. As valorações discutidas<br />
neste texto serão aquelas cujas situações de verdade<br />
se aproximam de situações conhecidas, como<br />
no exemplo anterior, em que se espera que no circuito<br />
v 1 (p 2 ) e v 1 (¬p 2 ) tenham valores opostos. Para<br />
tal, algumas condições devem ser inseridas na definição<br />
de valoração.<br />
Definição 2.2: Uma valoração booleana v é uma valoração<br />
que satisfaz às seguintes condições:<br />
1) v (¬x) = 1-v (x);<br />
2) v (x ∧ y) = min {v (x), v (y)};<br />
3) v (x ∨ y) = max {v (x),v (y)}.<br />
Os outros conectivos são definidos em função<br />
destes:<br />
(x → y) = def ((¬x) ∨ y)<br />
(x ↔ y) = def ((x → y) ∧ (y → x)).<br />
A valoração booleana atribui um “significado”<br />
a todas a fórmulas de L, de tal forma que este se<br />
aproxime das características comuns dos conectivos<br />
¬, ∧, ∨, →, ↔.<br />
1 Não se pretende aqui introduzir um estudo sobre circuitos de chaveamento,<br />
apenas lançar mão deste exemplo para justificar a noção<br />
seguinte de valoração booleana. A intenção é apenas didática.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 43-50 45
Uma tabela verdade é um procedimento efetivo<br />
utilizado para se calcular os valores verdade de<br />
uma fórmula. O seguinte é um resumo das condições<br />
estabelecidas para valoração booleana expostas<br />
via tabela verdade.<br />
Tab. 2. Tabela verdade do conectivo ¬.<br />
X (¬X)<br />
1 0<br />
0 1<br />
Tab. 3. Tabela verdade dos conectivos ∧, ∨, →, ↔.<br />
X Y (X∧Y) (X∨Y) (X→Y) (X↔Y)<br />
1 1 1 1 1 1<br />
1 0 0 1 0 0<br />
0 1 0 1 1 0<br />
0 0 0 0 1 1<br />
Definição 2.3: Diz-se que uma fórmula x de L é uma tautologia<br />
se v (x) = 1 para todas as valorações booleanas.<br />
As seguintes fórmulas são exemplos de tautologias:<br />
• (x → x)<br />
• (((x → y) → x) → x)<br />
• (x → (y → z)) → ((x → y) → (x → z))<br />
Definição 2.4: Uma fórmula x é satisfazível se e somente<br />
se existe uma valoração booleana v tal que v (x) = 1.<br />
Definição 2.5: Um conjunto S de fórmulas é satisfazível se<br />
e somente se existe uma valoração booleana tal que v (x)<br />
= 1 para todo x ∈ S.<br />
Definição 2.6: A fórmula x é logicamente equivalente à fórmula<br />
y (em símbolos, x ≡ y) se e somente se v (x) = v (y)<br />
para todas as valorações booleanas.<br />
Definição 2.7: A fórmula y é conseqüência lógica de um<br />
conjunto S de fórmulas (em símbolos, S|=y) se e somente<br />
se para toda valoração booleana v, se v (x) = 1 para todo<br />
x∈S então v (y) = 1.<br />
Particularmente tem-se que x|=y se e somente<br />
se para toda valoração booleana v, se v (x) = 1<br />
então v (y) = 1. 2<br />
As seguintes são eqüivalências lógicas, para<br />
fórmulas 3 quaisquer x e y:<br />
i) x → y ≡ ¬x ∨ y<br />
2 A notação S|=/ y significa que y não é conseqüência lógica do conjunto<br />
S de fórmulas.<br />
ii) x ∧ y ≡ ¬(¬x ∨ ¬y)<br />
iii) x ∨ y ≡ ¬(¬x ∧ ¬y)<br />
iv) ¬¬x ≡ x<br />
v) ¬(x → y) ≡ x ∧ ¬y<br />
vi) ¬(x ∧ y) ≡ (¬x ∨ ¬y)<br />
vii) ¬(x ∨ y) ≡ (¬x ∧¬y)<br />
Nota-se que as fórmulas da lógica, todas elas,<br />
podem ser expressas como fórmulas equivalentes<br />
escritas como conjunções ou como disjunções. Por<br />
exemplo, x → y pode ser escrita como uma disjunção<br />
(¬x) ∨ y; a fórmula ¬(x → y) pode ser escrita<br />
como uma conjunção x ∧ (¬y).<br />
Definição 2.8: Uma fórmula é dita como do tipo α se<br />
puder ser escrita como uma conjunção cujos componentes<br />
serão denominados por α 1 e α 2 .<br />
A tabela 4 expõe as fórmulas do tipo α e seus<br />
componentes α 1 e α 2 .<br />
Tab. 4. Fórmulas do tipo α.<br />
α α 1 α 2<br />
(X∧Y) X Y<br />
¬(X∨Y) ¬X ¬Y<br />
¬(X→Y) X ¬Y<br />
¬¬X X X<br />
Definição 2.9: Uma fórmula é conhecida como do tipo β<br />
se puder ser escrita como uma disjunção com componentes<br />
denominados por β 1 e β 2 .<br />
A tabela 5 expõe as fórmulas do tipo β e seus<br />
componentes β 1 e β 2 .<br />
Tab. 5. Fórmulas do tipo β.<br />
β β 1 β 2<br />
¬(X∧Y) ¬X ¬Y<br />
(X∨Y) X Y<br />
(X→Y) ¬X Y<br />
Teorema 2.10: Para qualquer valoração booleana v, v (α)<br />
= v (α 1 ) ∧ v (α 2 ) e v (β) = v (β 1 ) ∨ v (β 2 ).<br />
Tableaux Analíticos<br />
Os tableaux analíticos são procedimentos de<br />
prova elaborados em forma de árvores binárias. As<br />
árvores contêm sempre um número finito de ramos.<br />
3 Doravante, algumas convenções serão utilizadas na escrita das fórmulas.<br />
Parênteses externos podem ser omitidos e (¬X) pode ser<br />
escrito como ¬X.<br />
46 Junho • 2000
Cada ramo, por sua vez, constitui-se de um conjunto<br />
de nós, de forma que em cada nó ocorre uma<br />
fórmula da lógica. O objetivo de uma prova tableau<br />
é verificar se uma dada fórmula X da lógica é tautológica<br />
ou não. Inicia-se tentando falsificar a fórmula<br />
X 4 e, na seqüência, aplica-se regras que estendem os<br />
ramos, aumentando a árvore. Ao final, a impossibilidade<br />
de falsificação da fórmula X, que seria identificada<br />
pela ocorrência de contradições em todos os<br />
ramos da árvore, implica a afirmação de que X é<br />
uma tautologia.<br />
A relação (coincidência) entre sintaxe e<br />
semântica será mostrada em seguida. Antes, porém,<br />
algumas definições se fazem necessárias. Estudos<br />
sobre tableaux analíticos podem ser encontrados em<br />
Smullyan (1968) e Fitting (1990).<br />
Definição 3.1: Um tableau analítico para uma fórmula X é<br />
uma árvore ordenada diádica, 5 cujos pontos são fórmulas, e<br />
construído como se segue. Começa-se por colocar ¬X na<br />
origem. Supõe-se que I já é um tableau construído para X<br />
e E é um ponto final. Então pode-se estender I por uma<br />
das seguintes operações:<br />
a) se alguma fórmula do tipo α ocorre no<br />
ramo R E , então pode-se adicionar ou α 1 ou α 2<br />
como único sucessor de E;<br />
b) se alguma fórmula do tipo β ocorre no<br />
ramo R E, então pode-se simultaneamente adicionar<br />
β 1 como sucessor da esquerda de E e β 2 como<br />
sucessor da direita de E.<br />
Os itens (a) e (b) acima dizem respeito a regras<br />
tableaux de extensão de ramos. Estas podem ser<br />
definidas de acordo com os tipos de fórmulas. Para<br />
as fórmulas do tipo a tem-se a regra α e para as fórmulas<br />
do tipo β tem-se a regra β.<br />
Como as fórmulas do tipo α possuem comportamento<br />
conjuntivo, ou seja, podem ser expressas<br />
enquanto fórmulas escritas como conjunção,<br />
então torna-se intuitivo que em um tableau, numa<br />
árvore binária, se uma fórmula do tipo α ocorrer<br />
num nó do tableau é possível estender esse tableau<br />
(aumentar a árvore), acrescentando nos pontos<br />
finais abaixo da ocorrência dessa fórmula os componentes<br />
α 1 e α 2 .<br />
4 Cada fórmula ocorrida em um nó da árvore é considerada verdadeira;<br />
assim, se ¬X ocorre na origem, entende-se que ¬X é verdadeira<br />
e, portanto, que X é falsa.<br />
5 Ver Smullyan, 1968.<br />
Regra α<br />
α<br />
α 1<br />
α 2<br />
α<br />
α 1<br />
α 2<br />
Raciocínio análogo pode ser feito para as fórmulas<br />
do tipo β. Se uma fórmula do tipo β ocorrer<br />
num nó de um tableau, ao se aplicar uma regra<br />
nessa fórmula, é intuitivo que ocorra uma bifurcação,<br />
pois as fórmulas do tipo β comportam-se como<br />
disjunções, e o uso do “ou” sugere uma divisão nos<br />
caminhos do tableau, nos pontos finais abaixo da<br />
fórmula do tipo β.<br />
Regra β<br />
β<br />
β<br />
β 1 _ β 2<br />
β 1 β 2<br />
Definição 3.2: Um ramo θ de um tableau é dito estar<br />
fechado se contém X e ¬X para alguma fórmula X.<br />
Definição 3.3: Um tableau I é entendido como fechado<br />
se todos os seus ramos estão fechados.<br />
Definição 3.4: Uma prova tableau da fórmula X é um<br />
tableau fechado começado por ¬X.<br />
Exemplo: Segue uma prova tableau para a<br />
fórmula (x → y) → ((¬x) ∨ y)):<br />
(1) ¬((x → y)→((¬x) ∨ y)) origem<br />
(2) (x → y) regra α em (1)<br />
(3) ¬((¬x) ∨ y) regra α em (1)<br />
(4) ¬(¬x) regra α em (3)<br />
(5) (¬y) regra α em (3)<br />
(6) x regra α em (4)<br />
(7) ¬x regra β em (2) (8) y regra β em (2)<br />
× ×<br />
A construção desse tableau inicia-se a partir da<br />
fórmula ¬((x → y) → ((¬x) ∨ y)) colocada na origem<br />
e da aplicação da regra α à essa fórmula. Essa<br />
regra produz duas novas fórmulas, colocadas nos<br />
nós (2) e (3) da árvore. O processo continua ao se<br />
aplicar regras α e β às fórmulas que vão surgindo até<br />
que se termine o tableau, ou seja, quando todas as<br />
fórmulas já sofreram aplicação de alguma regra<br />
tableau. A marca × ao final dos ramos é colocada<br />
somente nos ramos fechados, ou seja, que contêm<br />
uma contradição entre suas fórmulas. No exemplo<br />
acima, o ramo da esquerda contém x e ¬x como<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 43-50 47
contradição e o ramo da direita contém y e ¬y<br />
como contradição.<br />
Definição 3.5: Um ramo de um tableau é dito satisfazível<br />
se e somente se o conjunto de fórmulas que ele contém é<br />
satisfazível.<br />
Definição 3.6: Um tableau é satisfazível se e somente se<br />
tem pelo menos um ramo satisfazível .<br />
Definição 3.7: Um ramo θ é dito completo se para cada<br />
fórmula do tipo α que ocorre em θ ambos α 1 e α 2 também<br />
ocorrem em θ e para cada fórmula do tipo β que ocorre em<br />
θ β 1 ocorre em θ ou β 2 ocorre em θ, ou seja, pelo menos<br />
um dos componentes de β ocorre em θ.<br />
Definição 3.8: Um tableau I é terminado se cada ramo de<br />
I está completo ou está fechado.<br />
Teorema 3.9: Suponhamos que I é um tableau satisfazível.<br />
Seja I' um tableau obtido a partir de I pela aplicação<br />
de uma regra de extensão de ramos (regra α ou regra β).<br />
Então I' é satisfazível.<br />
Teorema 3.10 (correção fraca): Se X tem uma prova<br />
tableau, então X é uma tautologia.<br />
Demonstração: Vamos supor por hipótese<br />
que X tem uma prova tableau e que X não é uma<br />
tautologia. Se X tem uma prova tableau, então<br />
nenhum ramo desse tableau é aberto, ou seja, todos<br />
os ramos fecham. Se X não é tautologia, então<br />
existe uma valoração booleana v tal que v (X) = 0.<br />
Um tableau para X começa com ¬X, e se X não é<br />
uma tautologia existe um caso onde v (X) = 0 e,<br />
conseqüentemente, ¬X é verdadeiro. Assim, o conjunto<br />
{¬X} é satisfazível. Seja I o tableau começando<br />
por ¬X. Pelo teorema 3.9, qualquer extensão<br />
I' de I será satisfazível, ou seja, um tableau começando<br />
com ¬X terá ao menos um ramo satisfazível.<br />
Mas isso contradiz a hipótese de que X tem uma<br />
prova tableau, ou seja, todos os ramos do tableau,<br />
começando por ¬X, fecham (não são satisfazíveis).<br />
Portanto, se X tem uma prova tableau, X é uma tautologia.<br />
Mostrou-se então que cada fórmula que tem<br />
uma prova tableau é uma tautologia. Isso assegura a<br />
consistência do sistema lógico, pois não se terá que<br />
uma fórmula X e sua negação ¬X sejam provadas.<br />
Assim, tudo o que o sistema produz por meio de<br />
provas tableau são fórmulas tautológicas.<br />
Dedutibilidade<br />
A noção de dedutibilidade é uma noção sintática<br />
e será definida em termos de provas tableau.<br />
Definição 4.1: Sejam S um conjunto de fórmulas e X uma<br />
fórmula qualquer. Um tableau para X usando S como<br />
um conjunto de afirmações globais significa um<br />
tableau começado por ¬X e de tal forma que a seguinte<br />
condição seja satisfeita:<br />
• qualquer fórmula Z ∈ S pode ser adicionada ao<br />
final de qualquer ramo do tableau.<br />
Definição 4.2: Sejam S um conjunto de fórmulas e X uma<br />
fórmula qualquer. Diz-se que X é dedutível tableaux a<br />
partir de S (em símbolos, S|– X) se e somente se existir<br />
um tableau fechado terminado para X usando S como um<br />
conjunto de afirmações globais.<br />
Em outras palavras, diz-se que S|– X 6 se e<br />
somente se existe um tableau fechado que começa<br />
com ¬X e de tal forma que em qualquer ponto final<br />
de qualquer ramo do tableau seja possível adicionar<br />
qualquer fórmula de S.<br />
Teorema 4.3 (correção forte): Sejam S um conjunto de<br />
fórmulas e X uma fórmula qualquer. Se S|– X, então S|=X.<br />
Mostrou-se que se X é dedutível tableau a<br />
partir de um conjunto S de fórmulas, então X é conseqüência<br />
lógica do mesmo conjunto S de fórmulas<br />
da lógica proposicional clássica.<br />
Completude<br />
Já se mostrou que o sistema é consistente (não<br />
prova fórmulas contraditórias) e que, através de<br />
provas tableau, produz fórmulas tautológicas. No<br />
entanto, resta demonstrar que todas as tautologias<br />
são provadas por meio de tableaux. O objetivo<br />
seguinte é mostrar que, para qualquer fórmula X, se<br />
X é uma tautologia, então X tem uma prova<br />
tableau. Mostra-se ainda um resultado mais forte: se<br />
X é conseqüência lógica de um conjunto S, então X<br />
é dedutível tableaux a partir de S.<br />
Definição 5.1: Um conjunto H de fórmulas proposicionais<br />
é chamado um conjunto de Hintikka, sempre que as seguintes<br />
condições forem satisfeitas:<br />
H1– Nenhuma variável proposicional e sua negação<br />
estão simultaneamente em H:<br />
6 A notação S|–/ X será utilizada para representar que X não é dedutível-tableaux<br />
a partir de S.<br />
48 Junho • 2000
H2– Se α ∈ H então α 1 ∈ H e α 2 ∈ H:<br />
H3– Se β ∈ H então β 1 ∈ H ou β 2 ∈ H:<br />
O lema seguinte estabelece uma conexão<br />
entre fórmulas vistas sob a ótica de provas tableau e<br />
fórmulas vistas sob a ótica de valorações booleanas.<br />
Lema 5.2 (Hintikka): Cada conjunto H de Hintikka é satisfazível.<br />
Seja H um conjunto de Hintikka. Deseja-se<br />
encontrar uma valoração booleana na qual cada elemento<br />
de H seja verdadeiro. Para tal, atribui-se o<br />
seguinte:<br />
1. se uma variável proposicional x ∈ H então v (x)<br />
= 1;<br />
2. se a negação de uma variável proposicional ¬x<br />
∈ H então v (x) = 0;<br />
3. se nem x nem ¬x pertencem a H então v (x) =<br />
1.<br />
Mostra-se facilmente, a partir dessa valoração<br />
booleana, que cada fórmula pertencente a H é verdadeira<br />
sob v. A prova por indução é simples e não<br />
será feita.<br />
Teorema 5.3: Qualquer ramo completo aberto de qualquer<br />
tableau é satisfazível.<br />
Se um ramo é aberto, não contém nenhuma<br />
fórmula e nem sua negação (condição H1). Se o<br />
ramo é completo então, se α pertence ao ramo pela<br />
definição de ramo completo, tem-se que α 1 e α 2<br />
pertencem ao ramo (condição H2) e o mesmo argumento<br />
vale para qualquer fórmula β que pertença<br />
ao ramo, ao menos β 1 ou β 2 pertencem ao ramo<br />
(condição H3). Portanto, um conjunto de fórmulas<br />
pertencente a um ramo aberto completo satisfaz as<br />
condições do conjunto de Hintikka, e pelo lema de<br />
Hintikka é satisfazível.<br />
Teorema 5.4 (completude fraca): Se X é uma tautologia,<br />
então X tem uma prova tableau.<br />
Demonstração: Mostra-se por contraposição.<br />
Supõe-se I um tableau terminado começado por<br />
¬X. Se I não tem uma prova tableau, então existe<br />
pelo menos um ramo aberto e completo, e pelo teorema<br />
5.3 é satisfazível. Logo, a origem ¬X é satisfazível<br />
e, conseqüentemente, X não pode ser<br />
tautologia. Portanto, se X é uma tautologia, existe<br />
uma prova tableau para X.<br />
Teorema 5.5 (completude forte): Sejam S um conjunto<br />
de fórmulas e X uma fórmula qualquer. Se S|=X, então S|– X.<br />
Demonstração: Supondo-se que não existe<br />
um tableau fechado para a fórmula X usando S<br />
como um conjunto de afirmações globais, mostra-se<br />
então que S |=/ X. Para tal, é introduzido um procedimento<br />
sistemático à construção do tableau.<br />
Supõe-se que os membros de S estejam arranjados<br />
da seguinte maneira:<br />
S: x 1 , x 2 , x 3 , ... .<br />
Estágio 0:<br />
Começa-se o tableau por “(1) ¬X”.<br />
Aplicam-se regras de extensão de ramos a<br />
todas as fórmulas que não sejam variáveis proposicionais<br />
até que o tableau esteja terminado.<br />
Considera-se agora que o procedimento se<br />
encontra no estágio n.<br />
Estágio n<br />
Para cada ramo aberto θ do tableau terminado<br />
construído até esse estágio:<br />
Adiciona-se no final de θ para cada i ≤ n as<br />
fórmulas x 1 , x 2 , ..., x n . Procede-se dessa maneira até<br />
que o tableau esteja terminado.<br />
Ao final do procedimento sistemático, feito<br />
para n = 1, 2, 3, ..., o tableau, por hipótese, estará<br />
aberto. Logo, tem-se pelo menos um ramo aberto θ.<br />
Esse ramo aberto é um conjunto de Hintikka, ou<br />
seja, em cada estágio n procedeu-se até que o<br />
tableau ficasse terminado. Se o procedimento sistemático<br />
parar para algum n, então o ramo aberto<br />
obtido será um conjunto de Hintikka (pois o procedimento<br />
foi construído de modo a assegurar isso) e,<br />
portanto, satisfazível (lema de Hintikka). Por outro<br />
lado, se o procedimento sistemático não parar,<br />
então pelo lema de König 7 esse tableau é uma<br />
árvore com finitos sucessores, mas infinitos pontos;<br />
logo, tem um ramo infinito. Esse ramo infinito, por<br />
sua vez, é aberto e, também, um conjunto de Hintikka<br />
(desde que o procedimento tenha sido seguido<br />
corretamente); portanto, é satisfazível. Mas o conjunto<br />
de fórmulas em θ deve conter “(1) ¬X” desde<br />
que este é o início do tableau; além disso, deve conter<br />
Z para cada Z ∈ S. Assim ¬X é satisfazível, o<br />
que implica que X é falsa. Mas como θ é satisfazível,<br />
7 Lema de König: uma árvore infinita, finitamente gerada, deve ter<br />
um ramo infinito.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 43-50 49
existe uma valoração booleana v, tal que para cada<br />
Z ∈ θ, v (Z) = 1 e v (X) = 0. Por conseguinte, existe<br />
uma valoração booleana na qual todas as fórmulas<br />
de S são verdadeiras e a fórmula X é falsa. Portanto,<br />
S|=/ X.<br />
CONCLUSÃO<br />
O sistema lógico proposto é proposicional, ou<br />
seja, não aborda questões relacionadas a quantificadores,<br />
os quais se encaixariam num estudo sobre<br />
lógicas de primeira ordem. Este, por sua vez, é abordado<br />
segundo um método de prova chamado<br />
tableaux analíticos, divulgado por Smullyan (1968).<br />
Outros métodos de prova utilizados para demonstrações<br />
de teoremas da correção e completude,<br />
muito difundidos nos meios acadêmicos, são os<br />
métodos axiomáticos e os de dedução natural. Os<br />
tableaux analíticos, por terem a forma de árvores<br />
binárias, são comumente exportados para investigação<br />
de problemas em ciência da computação e<br />
engenharia. Isso porque carregam o princípio de<br />
subfórmulas segundo o qual, para se provar uma<br />
fórmula, as únicas fórmulas necessárias são suas<br />
subfórmulas, em oposição a sistemas axiomáticos,<br />
os quais exigem introduzir outras fórmulas numa<br />
prova que não unicamente as subfórmulas da fórmula<br />
que está sendo provada.<br />
Provas tableau e valorações booleanas podem<br />
ser desenvolvidas independentemente uma da<br />
outra; o lema de Hintikka faz uma ponte entre sintaxe<br />
(no caso, prova tableau) e semântica (no caso, o<br />
conceito de satisfatibilidade). Os teoremas de correção<br />
e completude mostram que todas as fórmulas<br />
provadas por meio de um tableau são tautológicas e<br />
todas as tautologias são provadas por meio de<br />
tableaux, estabelecendo assim uma relação de coincidência<br />
entre a sintaxe e a semântica de um sistema<br />
lógico proposicional clássico, no senso de que estas<br />
podem ser intercambiáveis. Basicamente, se é necessário<br />
saber se uma fórmula X é tautológica, pode-se<br />
utilizar um tableau e verificar se existe uma prova<br />
tableau para X ou, por outro lado, se for necessário<br />
saber se existe uma prova tableau para uma fórmula<br />
X, pode-se fazer uma tabela verdade e verificar se X<br />
é uma tautologia.<br />
A lógica proposicional clássica é um excelente<br />
exemplo de sistema lógico correto e completo, tornando-se<br />
fácil a verificação da coincidência entre sintaxe<br />
e semântica. Este pode ser utilizado como<br />
auxílio para o conhecimento de outros sistemas,<br />
inclusive os sistemas não-clássicos (Fitting, 1983).<br />
Extensões do sistema proposto neste texto podem ser<br />
encontradas em Smullyan (1968) e Fitting (1983/90).<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BELL, J.L. & MACHOVER, M. A Course in Mathematical Logic. Amsterdã: North Holland Publishing Company, 1977.<br />
CHURCH, A. Introduction to Mathematical Logic. Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 1956.<br />
DALEN, D. van. Logic and Structure. 3.ª ed., Nova York: Springer-Verlag, 1980.<br />
FITTING, M. First-Order Logic and Automated Theorem Proving. 2.ª ed., Nova York: Springer-Verlag, 1990.<br />
__________. Proof Methods for Modal and Intuitionistic Logics. Dordrecht: D.Reidel Publishing Company, 1983.<br />
MEN<strong>DE</strong>LSON, E. Introduction to Mathematical Logic. 3.ª ed., Nova York: Chapman & Hall, 1987.<br />
ROBBIN, J.W. Mathematical Logic: a first course. Nova York: W.A. Benjamin, Inc., 1969.<br />
SHOENFIELD, J.R. Mathematical Logic. Reading: Addison-Wesley, 1967.<br />
SMULLYAN, R. First Order Logic. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1968.<br />
50 Junho • 2000
A Probabilidade na<br />
Óptica da Geometria<br />
The Probability in the Optical of the Geometry<br />
I<strong>DE</strong>MAURO ANTÔNIO RODRIGUES LARA<br />
ESALQ-USP<br />
jamoreir@carpa.ciagri.usp.br<br />
RESUMO – A probabilidade constitui-se num dos tópicos presentes em quase todos os cursos iniciais de estatística. Muitas<br />
vezes, professores e alunos podem ter dificuldades na associação de determinados conceitos com outras áreas do saber,<br />
em particular com a geometria. No presente trabalho mostra-se como a geometria pode ser utilizada na apresentação e<br />
compreensão de muitos conceitos da Teoria da Probabilidade. A metodologia está centrada nos conceitos básicos da geometria<br />
vetorial elementar. Verifica-se que, além de servir como um importante recurso didático, a geometria possui uma<br />
linguagem simples e indutiva, permitindo concretizar linhas rigorosas de raciocínio.<br />
Palavras-chave: VETOR – VARIÁVEL ALEATÓRIA – PRODUTO INTERNO – ESPERANÇA MATEMÁTICA – PROJEÇÃO ORTOGO-<br />
NAL.<br />
ABSTRACT – Probability is a key topic in almost all introductory statistical courses. Often, teachers and students can have<br />
difficulties with the association between some concepts and other knowledge areas, particularly geometry. In this work, it<br />
is shown how geometry may be used in the presentation and in helping the comprehension of many concepts in the<br />
probability theory. The methodology is centered in basic concepts of the elementary vectorial geometry. Beyond the<br />
important didactical resource, it is verified that geometry has a simple and inductive language allowing to make real rigorous<br />
lines of reasoning.<br />
Keywords: VECTOR – RANDOM VARIABLE – INTERNAL PRODUCT – MATHEMATICAL EXPECTATION – ORTOGONAL PROJEC-<br />
TION.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 51-58 51
INTRODUÇÃO<br />
A<br />
partir da década de 80 surgiu, no meio estatístico,<br />
uma crescente preocupação com a<br />
valorização da abordagem geométrica como<br />
um importante recurso didático. Para se ter uma<br />
idéia, Margolis (1979) publicou um artigo em que<br />
citou vários exemplos do uso da geometria vetorial<br />
para derivação de resultados elementares, no campo<br />
da estatística descritiva e na análise da regressão.<br />
Herr (1980) estabeleceu um paralelo entre o ponto<br />
de vista algébrico e o geométrico sobre a estimação<br />
de mínimos quadrados, mostrando, assim, as vantagens<br />
da descrição geométrica. Bryant (1984) enfatizou<br />
que “não há fórmulas diferentes em geometria,<br />
probabilidade e estatística, e sim variações sobre um<br />
tema comum”. Esse autor mostrou a equivalência<br />
existente entre muitos fundamentos básicos expressos<br />
em diferentes linguagens.<br />
Schey (1985) relatou uma descrição geométrica<br />
dos contrastes ortogonais na análise da variância<br />
de modelos de classificação simples, justificando<br />
a condição da soma dos coeficientes ser zero nas<br />
combinações lineares das médias dos tratamentos.<br />
Saville & Wood (1986) usaram elementos básicos<br />
da geometria n-dimensional para fazer análise da<br />
variância e da regressão de forma rigorosa, mas elementar.<br />
Iemma et al. (1993) descreveram geometricamente<br />
a análise da variância como uma aplicação<br />
do Teorema de Pitágoras e forneceram um procedimento<br />
simples e imediato para a obtenção do projetor<br />
ortogonal associado a uma dada hipótese. Lara<br />
(1998) reviu artigos com inclinação geométrica e<br />
apresentou a dissertação “Tópicos de Geometria<br />
com Aplicações em Estatística”, mostrando que a<br />
geometria não só é um recurso didático, como também<br />
serve de ferramental básico na solução de problemas<br />
ocasionais no meio estatístico, como por<br />
exemplo a colinearidade e a seleção de variáveis nos<br />
modelos de regressão.<br />
Registra-se que essa preocupação com a abordagem<br />
geométrica já podia ser notada em artigos<br />
muito antigos, entre eles, os de Fisher (1915), Bartlett<br />
(1933/34), Durbin & Kendall (1951) e Scheffé<br />
(1959). Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que a<br />
grande maioria dos métodos estatísticos pode ser<br />
desenvolvida por meio de conceitos geométricos.<br />
No entanto, isso não é, em geral, apresentado em<br />
cursos de estatística, pela dificuldade encontrada<br />
por alunos e professores na associação entre os conceitos<br />
estatísticos e geométricos.<br />
Por outro lado, apesar da relevância do tema,<br />
tanto do ponto de vista didático quanto da força<br />
incontestável do relacionamento que associa a estatística<br />
e a geometria, a revisão de literatura revelou<br />
que alguns tópicos, especialmente a probabilidade,<br />
não têm sido usualmente citados em trabalhos com<br />
inclinação geométrica. Nesse contexto, este artigo<br />
tem por objetivo básico mostrar a versão geométrica<br />
de alguns conceitos ligados à probabilidade, procurando<br />
na medida do possível ilustrá-los graficamente<br />
e/ou numericamente.<br />
O MÉTODO<br />
O método proposto está centrado nos conceitos<br />
da geometria elementar, por exemplo, pontos,<br />
segmentos de reta, comprimentos, distâncias, ângulos<br />
e projeções ortogonais. O elo de ligação desses<br />
conceitos com a probabilidade é estabelecido mediante<br />
a abordagem vetorial. Sendo assim, apresentam-se<br />
a seguir, sucintamente, alguns tópicos da<br />
geometria vetorial indispensáveis para a compreensão<br />
desse trabalho.<br />
Vetor<br />
Seja R o conjunto dos números reais e seja n<br />
um número inteiro e positivo, então x’ = [ x 1 , x 2 ,<br />
…, x n ], onde x i ∈ R para todo i = 1, 2, ..., n, é dito<br />
vetor n-dimensional, ou simplesmente vetor n × 1.<br />
Geometricamente, o vetor é um ponto do<br />
espaço cartesiano n-dimensional (R n ) ou um segmento<br />
de reta que une esse ponto à origem do sistema<br />
cartesiano, conforme ilustra a figura 1.<br />
Fig.1. Visão geométrica de um vetor em três dimensões.<br />
52 Junho • 2000
Adição, Subtração e Multiplicação<br />
por Escalar de Vetores<br />
Dados dois vetores quaisquer x e y de R n :<br />
x =<br />
x 1<br />
x 2<br />
...<br />
x n<br />
a adição e subtração entre ambos é definida por:<br />
x±<br />
y =<br />
e<br />
x 1 ± y 1<br />
x 2 ± y 2<br />
...<br />
y =<br />
e, se c é um escalar, define-se cx como o vetor<br />
obtido pela multiplicação de cada componente de x<br />
por c.<br />
Fig. 2. Adição, subtração e multiplicação de vetores por<br />
escalar.<br />
Geometricamente, como ilustrado pela figura<br />
2, a adição e a subtração de vetores podem ser descritas<br />
segundo as diagonais de um paralelogramo.<br />
Produto Interno<br />
Formalmente o produto interno ou produto<br />
escalar entre dois vetores x e y de R n é definido<br />
como uma função que associa a cada par de vetores<br />
x e y um número real, denotado por , satisfazendo<br />
em relação aos vetores x, y e z e ao escalar c<br />
as propriedades:<br />
a) = <br />
(comutativa ou simetria);<br />
b) = + (distributiva ou linearidade);<br />
c) = c (homogeneidade);<br />
d) ≥ 0; = 0 ⇔ x=φ (positividade).<br />
Registra-se, adicionalmente, que pode estar<br />
definido mais do que um produto interno num<br />
x n<br />
± y n<br />
;<br />
y 1<br />
y 2<br />
...<br />
y n<br />
mesmo espaço cartesiano. Entre os possíveis produtos<br />
internos que satisfazem as propriedades da definição,<br />
destaca-se o produto interno usual:<br />
= x i y i,<br />
i = 1<br />
por ser o mais conhecido entre todos.<br />
Norma Euclidiana<br />
Chama-se de norma euclidiana de um vetor x e<br />
denota-se por ⎜⎜x⎜⎜ o número real não negativo, definido<br />
em relação ao produto interno , ou seja:<br />
x<br />
=<br />
satisfazendo os axiomas:<br />
a) ⎜x⎜>0 se x ≠ φ (positividade)<br />
b) ⎜x⎜=0 se x ≠ φ (nulidade)<br />
c) ⎜cx⎜= ⎜c⎜ ⎜x⎜ (homogeneidade)<br />
d) ⎜x+y⎜ ≤ ⎜x⎜ + ⎜y⎜ (desigualdade triangular)<br />
Uma interpretação geométrica simples da<br />
norma euclidiana é que ela mede o comprimento de<br />
um vetor.<br />
Ângulo entre Dois Vetores<br />
Sejam x e y dois vetores não nulos do R n , o<br />
ângulo entre eles é definido por:<br />
Dessa definição decorre também que: <br />
= ⎜x⎜. ⎜y⎜. cos θ<br />
Espaços e Subespaços Vetoriais<br />
Um espaço vetorial real V n é um conjunto de<br />
vetores de n componentes reais, fechado em relação<br />
às operações de adição de vetores e multiplicação de<br />
vetores por escalar. É imediato verificar que o conjunto<br />
R n é um espaço vetorial real. Ademais, se S n é<br />
um subconjunto do R n , fechado em relação às operações<br />
de adição de vetores e multiplicação de vetores<br />
por escalar, então S n é um subespaço vetorial.<br />
Projeções Ortogonais<br />
Se x e y são dois vetores de um espaço vetorial,<br />
com y ≠φ, o vetor -------------- y diz-se a projeção de<br />
<br />
<br />
x sobre y. Genericamente, a projeção de um vetor<br />
n<br />
∑<br />
[ ] 1⁄ 2 ,<br />
<br />
cosθ = ---------------- ; – 1 ≤ cosθ≤ 1 ⇒ θ =<br />
x.y<br />
= arc cos<br />
<br />
---------------- ; 0 0 † θ † 180 0<br />
x.y<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 51-58 53
sobre um subespaço é um caso particular de transformação<br />
linear. Seja V um espaço vetorial e L um<br />
subespaço de V com dimensão finita. Uma função T:<br />
V → L, que preserva a adição de vetores e a multiplicação<br />
por escalar, é dita transformação linear de<br />
V em L, estabelecendo que se x ∈ V então T(x) é a<br />
projeção de x sobre L.<br />
Considere então o seguinte tipo de problema:<br />
dado um elemento x de V, determinar um elemento<br />
de L cuja distância a x seja tão pequena quanto possível.<br />
Se x ∈ L, então é evidente que T(x) = x. Se x<br />
não pertence a L, então o vetor T(x) mais próximo a<br />
x define-se pelo pé da perpendicular tirada de x para<br />
o subespaço L (e é único).<br />
Fig. 3. Projeção ortogonal em duas dimensões: x projetado<br />
em y.<br />
APLICAÇÕES DO MÉTODO:<br />
UMA ABORDAGEM COM<br />
EXEMPLO <strong>DE</strong> VARIÁVEL<br />
ALEATÓRIA DISCRETA<br />
Na análise de experimentos verifica-se freqüentemente<br />
que o fenômeno estudado tem n possibilidades<br />
distintas de se manifestar, descritas no seu<br />
espaço amostral Ω, e a cada possível resultado<br />
(numérico ou não numérico) de Ω associa-se uma<br />
dada probabilidade. Contudo, em muitas experiências<br />
tem-se interesse na mensuração de uma característica<br />
particular e no seu registro como um<br />
número. Sempre que se associa um número real a<br />
cada resultado de Ω, considera-se uma função cujo<br />
domínio é o próprio espaço amostral e o contradomínio<br />
é o conjunto dos números reais em questão.<br />
Tal função X:Ω → R é denominada variável aleatória.<br />
Nesse sentido, informalmente, a variável aleatória<br />
pode ser vista como a caracterização numérica<br />
do resultado do experimento. Interpretando-se as<br />
variáveis aleatórias como vetores, torna-se possível<br />
pensar na Teoria da Probabilidade geometricamente.<br />
A título de ilustração, considere a seguinte<br />
situação:<br />
Duas pessoas A e B fazem a seguinte aposta:<br />
lançam duas vezes uma única moeda. Se der duas<br />
caras, A ganhará 16 unidades monetárias (u.m.) de<br />
B; se der duas coroas, A ganhará 10 u.m. de B; e se<br />
der uma cara e uma coroa, B ganhará 14 u.m. de A.<br />
Então tem-se Ω = {(cara, cara); (coroa, coroa);<br />
(cara, coroa); (coroa, cara)}; a variável aleatória do<br />
ponto de vista de A será X= [16,10,-14]; do ponto<br />
de vista de B será Y= [-16,-10,-14], onde o sinal<br />
negativo indica a perda na aposta e p= [1/4,1/4,1/2]<br />
é o vetor de probabilidades associado às variáveis<br />
aleatórias. Geometricamente as variáveis aleatórias<br />
X e Y representam dois vetores do R 3 .<br />
Fig. 4. Uma visão geométrica das variáveis aleatórias no<br />
espaço tridimensional.<br />
Por outro lado, o valor esperado de uma variável<br />
aleatória X com função de distribuição F (x) é<br />
definido rigorosamente por alguns tratados da estatística<br />
matemática pela integral genérica de Lebesgue-Stieltjes,<br />
aqui denotada integral L.S.:<br />
+∞<br />
EX ( ) = ∫ xdF( x)<br />
(1)<br />
–∞<br />
que existe se, e somente se, essa integral for convergente.<br />
Corrêa (1981) e James (1981) comentam a<br />
vantagem da utilização dessa integral na definição<br />
da esperança matemática, bem como em outros<br />
conceitos. Assim, a integral L.S. evita a necessidade<br />
de se exporem todos os teoremas e definições<br />
duplamente e, desse modo, se F (x) é a função de<br />
distribuição de uma variável aleatória discreta X, a<br />
integral L.S. reduz-se a uma série: se P(X=x i ) =<br />
54 Junho • 2000
p(x i ) ≥ 0 e Σ i<br />
p(x i )=1e, isto é, se p é a função de<br />
probabilidade de X, então p(x i ) é um salto de F (x)<br />
em x i e:<br />
+∞<br />
∫<br />
–∞<br />
xdF( x)<br />
=<br />
∑<br />
i<br />
x i px ( i ).<br />
Sendo F (x) uma função de distribuição de uma<br />
variável aleatória contínua que tem como função<br />
densidade de probabilidade f (x), então f (x) é a derivada<br />
de F (x), isto é d F (x) = f (x) dx e a integral L.S.<br />
torna-se uma integral comum do tipo Riemann:<br />
+∞<br />
∫<br />
–∞<br />
xdF( x)<br />
+∞<br />
b<br />
= ∫ xf( x) dx<br />
= lim ∫ xf( x) dx,<br />
a→-∞<br />
–∞<br />
b→+∞ a<br />
também como um caso particular.<br />
A ligação desse conceito (1) com a geometria<br />
fica estabelecida pelo produto interno:<br />
=p 1 x 1 y 1 +p 2 x 2 y 2 +…+ p n x n y n<br />
e, desse modo, é imediato verificar que em relação<br />
ao produto interno:<br />
E(X) = < X,J>, (2)<br />
onde J = [1,1,…,1]. Logo, para o exemplo das<br />
apostas, pode-se calcular o valor esperado das variáveis<br />
aleatórias X e Y:<br />
EX ( ) = =<br />
EY ( ) = =<br />
1<br />
--. 16.1 + 1 4 4 --10.1<br />
1<br />
--.(-16).1 + 1 4 4<br />
1<br />
+ --.(-14).1=- 1 2 2 --<br />
1<br />
--.(–<br />
10).1<br />
+ --.14.1= 1 2 2 --<br />
Pelos resultados obtidos para os valores esperados<br />
das variáveis aleatórias (v.a.’s) X e Y, verifica-se que<br />
o jogador B tem vantagem na aposta, pois o valor<br />
esperado por B é positivo, ao passo que o valor esperado<br />
por A é negativo. Essa aposta só seria justa se não<br />
houvesse vantagem para nenhum dos apostadores. O<br />
produto interno, nesse caso, apresenta uma aplicação<br />
bastante interessante na verificação de que o jogo é<br />
eqüitativo ou não. Um jogo eqüitativo é aquele em<br />
que o ganho esperado é nulo, ou seja, a longo prazo,<br />
ou em média, não se espera ganhar nem perder. Isso<br />
só ocorre quando o produto interno da variável aleatória<br />
pelo vetor J é zero, o que indica a ortogonalidade<br />
entre o vetor de probabilidades e o vetor de apostas<br />
descrito pela respectiva variável aleatória.<br />
De modo análogo ao caso unidimensional,<br />
pode-se definir a esperança conjunta de v.a.’s de<br />
dimensão mais elevada. Em particular, para o caso<br />
bidimensional, se (X, Y) é um vetor aleatório e Z = g<br />
(X, Y) uma função real de (X, Y) então Z também é<br />
uma variável aleatória (unidimensional) e seu valor<br />
esperado pode ser dado pela integral L.S. (1), já apresentada.<br />
Então, sem perda de generalidade, seja:<br />
+∞<br />
+∞<br />
EX.Y ( ) = ∫ zdF( z)<br />
= ∫ xydF( x,<br />
y)<br />
(3)<br />
–∞<br />
–∞<br />
Esse é um resultado extremamente útil, pois<br />
mostra que para calcular o valor esperado de (X,Y)<br />
não há necessidade de conhecer a distribuição de<br />
probabilidade da variável aleatória Z. Sendo assim,<br />
se (X, Y) é um vetor de v.a.’s discretas e se p(X=x i ,<br />
Y=Y i ) = p(x i ,y i ) ≥ 0, isto é, p(x i ,y i ) é a função de<br />
probabilidade conjunta de (X,Y) então:<br />
E( X.Y) = x i y j px ( i<br />
, y j )<br />
i j<br />
e, se (X,Y) é um vetor de v.a.’s contínuas com função<br />
densidade de probabilidade conjunta f(x,y),<br />
então:<br />
+∞ +∞<br />
E( X.Y) = ∫ ∫ xyf( x,<br />
y) ( dx) dy<br />
–∞ –∞<br />
verificando-se em ambos os casos as mesmas particularidades<br />
da integral L.S.<br />
Assim como a esperança unidimensional, a<br />
esperança conjunta de duas variáveis aleatórias<br />
quaisquer (3) pode também ser interpretada como<br />
um produto interno, embora nesse caso o produto<br />
interno não seja usual. Sobre esse aspecto, Bryant<br />
(1984) mostra que:<br />
EX.Y ( ) = = X Y cosθ<br />
(4)<br />
verificando-se que a equação (4) é válida em relação<br />
ao seguinte produto interno em:<br />
=p 11 x 1 y 1 +p 12 x 1 y 2 +…+ p nn x n y n<br />
e, obviamente, a equação (4) satisfaz as propriedades<br />
básicas do produto interno.<br />
Considere o exemplo ilustrativo dessa seção,<br />
cuja distribuição conjunta das variáveis aleatórias X<br />
e Y é apresentada na tabela 1.<br />
Tab. 1. Distribuição de probabilidade conjunta de X e Y.<br />
Y<br />
∑∑<br />
X -14 10 16 MARGINAL<br />
(Y)<br />
-16 0 0 1/4 1/4<br />
-10 0 1/4 0 1/4<br />
14 1/2 0 0 1/2<br />
Marginal (X) 1/2 1/4 1/4 1<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 51-58 55
Com base nesses dados tem-se:<br />
E (X.Y) = = -187<br />
Uma das vantagens da descrição da esperança<br />
segundo o produto interno é que, por meio de suas<br />
propriedades, torna-se fácil a demonstração de<br />
alguns teoremas envolvendo a esperança matemática,<br />
a saber:<br />
a) E(k) = k, onde k é uma constante real;<br />
A demonstração é imediata pela definição (2),<br />
bastando efetuar o produto interno:<br />
E(k) = = E(kJ) = k.<br />
b) E(kX) = kE(X);<br />
A demonstração decorre da propriedade<br />
homogeneidade do produto interno:<br />
E(kX) = = k = = kE(X).<br />
c) E(kX + q) = kE(X) + q, onde q é uma<br />
constante real.<br />
A demonstração decorre das propriedades a e b.<br />
d) E(X + Y) = E(X) + E(Y);<br />
A demonstração decorre da propriedade distributiva<br />
do produto interno: E(X + Y, J) =<br />
= + = E(X) + E(Y).<br />
A abordagem geométrica da esperança por<br />
meio do produto interno também pode ser utilizada<br />
para mostrar que muitas outras idéias da Teoria da<br />
Probabilidade correspondem a idéias comuns em<br />
geometria, conforme salientou Bryant (1984).<br />
Desse modo, para qualquer variável aleatória X:<br />
= X 2 = EX.X ( ) = EX ( 2 )<br />
ou seja, E(X 2 ) corresponde geometricamente ao<br />
comprimento quadrático do vetor representativo da<br />
v.a. X. Tomando-se uma v.a. centrada, por analogia,<br />
pode-se definir a variância associada a v.a. X. Considere<br />
que E(X) = µ X , então:<br />
2<br />
X – µ X E[ ( X – µ X ) 2 2<br />
= = ] = σ X<br />
Conseqüentemente, o desvio padrão da v.a. X<br />
é dado pela norma euclidiana:<br />
σ X = X – µ X<br />
Aplicando essas idéias ao exemplo do jogo da<br />
moeda, tem-se:<br />
σ 2 X = =<br />
= ( 33/2, 21/2, -27/2) 2 = 186,<br />
75<br />
∴σ X<br />
= ( 33/2, 21/2, -27/2) = 13,<br />
66<br />
e, de modo análogo, para a v.a. Y, tem-se σ 2 y =<br />
186,75 e σ y = 13,66<br />
Vistos sob o prisma de uma projeção ortogonal,<br />
os conceitos de valor esperado e variância apresentam<br />
uma interpretação geométrica simples.<br />
Considere no espaço vetorial R n os vetores que<br />
denotam a v. a. X e o vetor J. Seja P (X) a projeção<br />
ortogonal do vetor X sobre o vetor J, tal que P (X)<br />
= k, onde k é uma constante real. Nessas condições,<br />
a direção da projeção ortogonal é dada pelo vetor X<br />
– P (X), que é ortogonal ao subespaço vetorial determinado<br />
pelo vetor J, e por conseguinte:<br />
=0 ⇒ < X, J >=< P(X), J > ⇒ E (X) =<br />
=E (P (X)) ⇒ µ X =P (X)<br />
Fig. 5. A esperança matemática como uma projeção ortogonal.<br />
A figura 5 mostra que a esperança matemática<br />
de uma variável aleatória X nada mais é do que um<br />
caso particular de projeção ortogonal. Do ponto de<br />
vista geométrico, a direção dessa projeção é a menor<br />
distância entre X e J, cujo comprimento quadrático<br />
é probabilisticamente a variância da v. a. X. De<br />
modo semelhante ao da esperança, é possível verificar<br />
com facilidade alguns teoremas envolvendo a<br />
variância de uma variável aleatória pela aplicação<br />
imediata da definição σ 2 x = ⎜X - µ X ⎜ 2<br />
a) Var (k) = 0, onde k é uma constante real;<br />
Prova: Var (k) = ⎜X - µ X ⎜ 2 = ⎜k - k⎜ 2 = 0.<br />
b) Var (kX) = k 2 Var(X);<br />
Prova: ⎜kX - kE (X)⎜2 = ⎜k (X - E(X))⎜ 2 =<br />
= ⎜k⎜ 2 ⎜X - E(X)⎜ 2 = k 2 Var (X)<br />
56 Junho • 2000
c) Var (kX + q) = k 2 Var (X), onde q é uma<br />
constante real;<br />
Prova: ⎜kX + q – kE (X) + q⎜2 =<br />
= ⎜kX – kE (X)⎜ 2 = k 2 Var (X).<br />
Considerando a idéia de v.a.’s centradas, com<br />
o enfoque geométrico, o ângulo q formado entre os<br />
vetores representativos das v.a.’s X e Y, por exemplo,<br />
fornece uma importante regra que define o<br />
conhecido coeficiente de correlação na população:<br />
ρ XY = cosθ<br />
=<br />
conforme ilustra a figura 6.<br />
〈( X – µ X ),Y ( – µ Y )〉<br />
------------------------------------------------- ; – 1≤ρ X – µ X Y – µ XY ≤1,<br />
Y<br />
Sem perder de vista a idéia de v.a.’s centradas,<br />
considere x e y os vetores que as representam geometricamente,<br />
como no exemplo em questão. Na<br />
Teoria da Probabilidade, é bastante conhecido o<br />
Teorema da Variância de uma soma de v.a.’s:<br />
Var (x+y) = Var (x) + Var (y) + 2Cov (x,y) (5)<br />
Em (5), a covariância é igual à esperança conjunta<br />
de x e y, pois as v.a.’s estão centradas em suas<br />
esperanças e, assim, o teorema clássico (5) pode ser<br />
interpretado geometricamente como uma decorrência<br />
direta da aplicação da Lei dos Cossenos,<br />
válida para triângulos quaisquer:<br />
Fig. 7. Variáveis aleatórias centradas e a Lei dos Cossenos.<br />
Fig. 6. Variáveis aleatórias centradas e o coeficiente de<br />
correlação.<br />
Retomando o exemplo do jogo x=X – µ X e<br />
y=Y – µ Y , considere e os vetores que representam<br />
as variáveis aleatórias centradas:<br />
x=[33/2, 21/2, –27/2] e y=[–33/2, –21/2, 27/2]<br />
e usando σ X = σ Y = 13,66, obtém-se o coeficiente<br />
de correlação:<br />
〈 xy , 〉<br />
ρ xy = cosθ<br />
= -------------- x y<br />
=<br />
<br />
= ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 13,<br />
66).(13,66)<br />
=<br />
– 186,<br />
75<br />
= ---------------------<br />
( 13,<br />
66) 2 = – 1<br />
Com base nesse resultado, afirma-se estatisticamente<br />
que as variáveis têm correlação linear negativa<br />
perfeita. Geometricamente, isso significa que os<br />
vetores x e y são colineares, como pode ser observado<br />
na figura 4 e através do ângulo formado entre<br />
eles:<br />
θ = arc cos(–1) = 180º<br />
Aplicando a Lei dos Cossenos ao triângulo<br />
ABC da figura 7:<br />
⎜x+y⎜ 2 = ⎜x⎜ 2 + ⎜y⎜ 2 – 2 ⎜x⎜.⎜y⎜. cos(180º – θ)<br />
mas, como cos(180º – θ) = – cos θ. Assim:<br />
⎜x+y⎜ 2 = ⎜x⎜ 2 + ⎜y⎜ 2 + 2 ⎜x⎜.⎜y⎜. cos θ (6)<br />
A equação (6) é, portanto, a expressão geométrica<br />
do teorema (5) e, assim, se duas variáveis<br />
são não correlacionadas, em termos geométricos<br />
eqüivale a dizer que os dois vetores que as descrevem<br />
são ortogonais. Nesse caso, a equação (6)<br />
reduz-se ao Teorema de Pitágoras:<br />
⎜x+y⎜ 2 = ⎜x⎜ 2 + ⎜y⎜ 2<br />
Note que no exemplo que ilustra esta seção os<br />
vetores são colineares e não é possível formar um<br />
triângulo, e sim uma linha. Nesse caso, a variância<br />
de (x + y) é nula, como se pode comprovar pela<br />
equação (6):<br />
Var (x+y) = ⎜x+y⎜ 2 = 186,75 +186,75 + 2. (–186,75) = 0<br />
CONSI<strong>DE</strong>RAÇÕES FINAIS<br />
O presente artigo ilustra apenas algumas das<br />
muitas situações teórico-práticas em que o procedimento<br />
geométrico simplifica sobremaneira a apresentação,<br />
como também a compreensão dos<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 51-58 57
conceitos elementares da Teoria da Probabilidade.<br />
Convém salientar que o exemplo apresentado do<br />
“jogo da moeda” tem apenas uma conotação didática,<br />
no sentido de ilustrar o procedimento de forma<br />
a facilitar a compreensão do leitor.<br />
Na prática docente e discente precisamos com<br />
freqüência estabelecer conexões entre “diferentes<br />
teorias” e, particularmente, buscar métodos que<br />
possam compilar os resultados. A geometria parece<br />
que se tornou um meio natural para tais propósitos.<br />
Nesse sentido, o método exposto pode servir de<br />
ajuda tanto para estudantes como a professores em<br />
seus estudos e pesquisas.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BARTLETT, M.S. The Vector Representation of a Sample. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, v.30, pp. 327-<br />
340, 1933/34.<br />
BRYANT, P. Geometry, Statistics, Probability: variations on a common theme. The American Statistician, 38(1): pp. 38-48, fev./<br />
84.<br />
CORRÊA, A.M.C.J. Funções Geradoras de Momentos. Piracicaba, p. 190, 1981. [Dissertação de mestrado, ESALQ/USP].<br />
DURBIN, J. & KENDALL, M.G. The Geometry of Estimation. Biometrika, v. 38, pp. 150-158, 1951.<br />
FISHER, R.A. Frequency Distribuition of the Values of the Correlation Coefficient in Samples from an Indefinitely Large Population.<br />
Biometrika, v.10, pp. 507-521, 1915.<br />
HERR, D.G. On the History of the Use of Geometry in the General Linear Model. The American Statistician., 34 (1): 43-47,<br />
fev./1980.<br />
IEMMA, A.F. et al. Sobre a Construção de Projetores Ortogonais. <strong>Revista</strong> Matemática Estatística II, 11: 133-142, 1993.<br />
JAMES, B.R. Probabilidade: um curso em nível intermediário. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, p. 304,<br />
1981.<br />
LARA, I.A.R. Tópicos de Geometria com Aplicações em Estatística. Piracicaba, p. 115, 1998. [Dissertação de mestrado, ESALQ/<br />
USP].<br />
MARGOLIS, M.S. Perpendicular Projections and Elementary Statistics. The American Statistician, 33 (3): 131-135, ago./79.<br />
MURTEIRA, B.J.F. Probabilidades e Estatística. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, p. 480, 1990. v. 2.<br />
SAVILLE, D.J. & WOOD, G.R. A Method for Teaching Statistics using N-Dimensional Geometry. The American Statistician,<br />
40 (3): 205-214, ago./86.<br />
SCHEFFÉ, H. The analysis of Variance. Nova York: Wiley & Sons, p. 477, 1959.<br />
SCHEY, H.M. A Geometric Description of Ortogonal Contrasts in on Way Analises of Variance. The American Statistician, 39<br />
(2): 104-106, mai./85.<br />
58 Junho • 2000
Balanço de Radiação<br />
Sobre um Solo<br />
Descoberto para quatro<br />
Períodos do Ano<br />
Radiation Balance at the Surface of a<br />
Bare Soil For Four Periods of the Year<br />
MÁRIO <strong>DE</strong> MIRANDA VILAS BOAS RAMOS LEITÃO<br />
Universidade Federal da Paraíba<br />
miranda@dca.ufpb.br<br />
MAGNA SOELMA BESERRA <strong>DE</strong> MOURA<br />
Universidade Federal da Paraíba<br />
magna@dca.ufpb.br<br />
TRÍCIA REGINA F. C. SALDANHA<br />
Universidade Federal da Paraíba<br />
tricia_reg@zipmail.com.br<br />
JOSÉ ESPÍNOLA SOBRINHO<br />
Universidade Federal da Paraíba<br />
ceae@esam.br<br />
GERTRU<strong>DE</strong>S MACARIO <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
Universidade Federal da Paraíba<br />
gertrude@dca.ufpb.br<br />
RESUMO – Esta pesquisa foi desenvolvida no campo experimental da Escola Superior de Agricultura de Mossoró<br />
(ESAM), em Mossoró, RN, em quatro diferentes épocas do ano: inverno, primavera, verão e outono. O objetivo principal<br />
foi analisar o comportamento do balanço de radiação solar sobre uma superfície de solo descoberto, em períodos<br />
representativos das quatro estações do ano. Os dados aqui utilizados foram coletados de segundo em segundo, por meio<br />
de um sistema automático de coleta de dados “datalogger” 21X, e depois efetuadas médias a cada cinco minutos. Os<br />
resultados evidenciaram uma superioridade de todos os componentes do balanço de radiação solar observados na primavera<br />
em relação às outras estações, com exceção da radiação atmosférica que devido a uma maior nebulosidade foi<br />
máxima no outono. Nos períodos de inverno, verão e outono, a média de radiação global incidente à superfície do solo,<br />
comparada a da primavera, apresentou redução de 14%, 10% e 16%, respectivamente. Analisando o saldo de radiação,<br />
verificou-se que ele se manteve no outono praticamente igual ao da primavera, apenas 0,8% menor, ao passo que no<br />
inverno e no verão sofreu redução de 6% e 33%, respectivamente. Já o albedo médio diário apresentou-se máximo no<br />
verão (21,7%) e mínimo no outono (16,6%).<br />
Palavras-chave: BALANÇO <strong>DE</strong> RADIAÇÃO – ALBEDO – ESTAÇÕES DO ANO.<br />
ABSTRACT – This research was conducted in the experimental area of the Escola Superior de Agricultura de Mossoró<br />
(ESAM), in the city of Mossoró, RN, in the four seasons of the year: winter, spring, summer and autumn. The main<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 59-66 59
objective was to analyze the behaviour of the radiation balance at the surface of a bare soil in different seasons. The data<br />
was collected each second and averaged over 5 minute intervals and stored in a datalogger (an automatic data colleting<br />
system – 21X). The results showed that all the radiation balance components except the atmospheric radiation were high<br />
in spring. The atmospheric radiation was maximum in autumn due to the high cloudiness in this season. Decreases of<br />
14%, 10% and 16% of global radiation, as compared to spring time, were noticed in winter, summer and autumn,<br />
respectively. The corresponding decreases in net radiation were 7%, 33% and 0,8%, respectively. The daily mean albedo<br />
was maximum in the summer (21,7%) and minimum in the autumn (16,6%).<br />
Keywords: SOLAR RADIATION – ALBEDO – SEASON.<br />
INTRODUÇÃO<br />
A<br />
energia proveniente do Sol é o fator mais<br />
importante para o desenvolvimento dos processos<br />
físicos que influenciam as condições<br />
de tempo e clima. Assim, pode-se afirmar que de<br />
maneira geral todos os fenômenos físicos, químicos,<br />
físico-químicos e biológicos ocorridos no solo estão<br />
direta ou indiretamente relacionados com a quantidade<br />
de radiação solar incidente sobre a sua superfície.<br />
No Nordeste Brasileiro, a agricultura representa<br />
um papel importante na economia regional.<br />
No entanto, as adversidades climáticas aliadas a práticas<br />
agrícolas ultrapassadas tornam essa atividade<br />
primordialmente de subsistência. Considerando que<br />
a agricultura irrigada apresenta-se como uma alternativa<br />
valiosa à região, é necessário que os recursos<br />
hídricos disponíveis sejam empregados de maneira<br />
racional (Silva, 1994). Desse modo, visando otimizar<br />
o uso da água e utilizar melhor os recursos hídricos<br />
existentes, evitando assim prejuízos por falta ou<br />
excesso, é importante determinar o conteúdo de<br />
água perdido para atmosfera, pelo solo e pela<br />
planta, por evapotranspiração, em função da disponibilidade<br />
de água no solo e da energia disponível à<br />
superfície. Os métodos mais precisos para determinação<br />
da evapotranspiração de culturas têm por<br />
parâmetro indispensável o saldo de radiação solar<br />
incidente na superfície.<br />
Em razão da sua importância, diversos pesquisadores<br />
têm realizado estudos objetivando determinar<br />
o balanço de radiação solar, dando ênfase<br />
principalmente ao saldo de radiação em florestas,<br />
pastagens ou cultivos. Ao estudar o balanço de radiação<br />
solar em cultura de soja irrigada, em Mandacaru<br />
(Juazeiro, BA, 9º 24’ S; 40º 26’ W; alt. 375 m),<br />
Leitão (1989) encontrou para todo ciclo de desenvolvimento<br />
da cultura valores médios diários para a<br />
radiação global de 529,3 cal.cm -2 .d -1 e para o saldo<br />
de radiação 329,2 cal.cm -2 .d -1 . Já para o período no<br />
qual o solo encontrava-se descoberto, o saldo de<br />
radiação solar foi de 359,2 cal.cm -2 .d -1 . Valores<br />
semelhantes foram encontrados por Moura et al.<br />
(1999), ao estudar os componentes do balanço de<br />
radiação solar à superfície em um solo descoberto<br />
em Mossoró, RN: valores médios instantâneos diários<br />
para a radiação global de 551,4 W.m -2 (569,3<br />
cal.cm -2 .d -1 ) e para o saldo de radiação, valor de<br />
320,0 W.m -2 (330,0 cal.cm -2 .d -1 ) para o período de<br />
estudo representativo da primavera.<br />
Feitosa (1996), analisando o comportamento<br />
da radiação solar global e do saldo de radiação em<br />
áreas de pastagem e floresta na Amazônia, observou<br />
que na área de floresta o saldo de radiação representou<br />
um percentual de radiação solar global bem<br />
mais significativo do que aquele da área de pastagem,<br />
ou seja, nas estações seca e chuvosa, o saldo de<br />
radiação na floresta foi maior 8% e 11%, respectivamente,<br />
do que na área de pastagem. Estudando os<br />
componentes do balanço de radiação solar sobre<br />
uma cultura de amendoim irrigado em Rodelas, BA,<br />
Oliveira (1998) verificou que a ocorrência de irrigação<br />
produz uma imediata redução no fluxo de radiação<br />
refletida (K↑) e simultaneamente um aumento<br />
no saldo de radiação solar na superfície.<br />
O saldo de radiação sobre um dossel vegetal<br />
representa a quantidade de energia na forma de<br />
ondas eletromagnéticas que este dispõe para repartir<br />
entre os fluxos de energia necessários aos processos<br />
de evapotranspiração, aquecimento do ar, aquecimento<br />
do solo e fotossíntese (Tubelis et al., 1980).<br />
Em outras palavras, a radiação líquida representada<br />
pelo saldo de radiação resulta das trocas de energia<br />
estabelecidas na atmosfera, as quais estão condicio-<br />
60 Junho • 2000
nadas pelo fluxo de radiação emitido pelo sol e<br />
refletido pela superfície, constituído predominantemente<br />
por radiação de ondas curtas e pelas radiações<br />
de ondas longas emitidas pela atmosfera e<br />
superfície terrestre, respectivamente.<br />
Mendez e Assis (1983), partindo dos fluxos<br />
de radiação solar global incidente, radiação solar<br />
refletida e saldo de radiação solar medidos em uma<br />
área cultivada com sorgo, determinaram equações<br />
que permitem estimar para o local estudado o saldo<br />
de radiação, a radiação global, o coeficiente térmico<br />
e o albedo da cultura. Por outro lado, diversos trabalhos<br />
utilizando o balanço de energia para definição<br />
da evapotranspiração de culturas têm sido desenvolvidos.<br />
Cunha e Bergamaschi (1994) quantificaram o<br />
fluxo de calor latente de evaporação mediante o<br />
balanço de energia e estimaram a evapotranspiração<br />
da cultura do milho, em El Dourado do Sul, RS.<br />
Cunha et al. (1996) determinaram os componentes<br />
do balanço de energia em Taquiri, RS, para<br />
alguns dias do ciclo de desenvolvimento do milho,<br />
considerando estágios de desenvolvimento e condições<br />
diferenciadas de demanda atmosférica. Teixeira<br />
et al. (1997), com base em dados de radiação solar<br />
global, saldo de radiação, fluxo de calor no solo,<br />
como também em gradientes de temperatura e pressão<br />
de vapor, avaliaram os componentes do balanço<br />
de energia durante estágios de desenvolvimento de<br />
um cultivo de videira, em Petrolina-PE.<br />
Diante do exposto e considerando a radiação<br />
solar como um parâmetro bastante útil e importante<br />
para a determinação das necessidades hídricas das<br />
culturas, este trabalho teve por objetivo medir e avaliar<br />
o comportamento e as respectivas contribuições<br />
dos componentes do balanço de radiação solar<br />
sobre uma superfície de solo descoberto para períodos<br />
representativos das estações do ano, em Mossoró,<br />
RN.<br />
MATERIAIS E MÉTODOS<br />
Localização e<br />
Caracterização Climática<br />
Esta pesquisa foi desenvolvida no campo<br />
experimental da Escola Superior de Agricultura de<br />
Mossoró (ESAM), no município de Mossoró, RN<br />
(5º 11’S; 37º 20’W; altitude 18 m), a 280 quilômetros<br />
de distância de Natal. As normais climatológicas<br />
da região, segundo Chagas (1997), apresentam<br />
temperatura média anual de 27,6ºC, máxima de<br />
33,5ºC e mínima de 22,8ºC, sendo dezembro o<br />
mês mais quente e julho, o mais frio. A média anual<br />
da precipitação é de 772,7 mm, os ventos predominantes<br />
são de nordeste e sudeste, com velocidade<br />
média anual de 3,9 m/s. A pressão atmosférica<br />
média anual é de 757,1 mmHg, atingindo valor<br />
máximo no mês de julho em torno de 758,7 mmHg<br />
e mínimo em dezembro de 756,2 mmHg. A evaporação<br />
média medida segundo o evaporímetro de<br />
Piché e o tanque classe “A” é 174,7 e 231,1 mm/<br />
mês, respectivamente. A umidade relativa, a nebulosidade<br />
e a insolação têm valores médios anuais de<br />
68,1%, 4/10 e 241,7 horas, respectivamente.<br />
A classificação climática, segundo Koeppen,<br />
para o município de Mossoró, RN, é do tipo BSwh’,<br />
significando “clima seco, muito quente, com estação<br />
chuvosa no verão, atrasando-se para o outono”. De<br />
acordo com a classificação de Thornthwaite, o clima<br />
local é do tipo DdA’a’, ou seja, “semi-árido, megatérmico,<br />
com pequeno ou nenhum excesso de água<br />
durante o ano”.<br />
Caracterização do Solo<br />
O solo da área em que esta pesquisa foi desenvolvida<br />
é classificado como Podzólico Vermelho<br />
Amarelo Equivalente Eutrófico, grande grupo<br />
Eutrustalfs do “Soil Taxonomy” (Brasil, 1971). Suas<br />
características físicas e químicas foram determinadas<br />
no Laboratório de Análises de Águas e Fertilidade<br />
de Solo, da Escola Superior de Agricultura de Mossoró<br />
(ESAM). De acordo com Araújo (1997), o solo<br />
apresenta pH em água (1:2,5) de 7,0; alumínio trocável<br />
(Al +++ ) 0,0 cmol/kg; cálcio (Ca) + magnésio<br />
(Mg) 12,8 cmol/kg; fósforo (P) 187,0 mg/kg; potássio<br />
0,34 cmol/kg; areia grossa 61%; areia fina 25%;<br />
silte 10%; argila 4%; além de classe textural de<br />
areia, capacidade de campo 7,05 g/g e ponto de<br />
murcha permanente de 1,92 g/g.<br />
Coleta de Dados<br />
Os dados meteorológicos utilizados neste trabalho<br />
foram obtidos durante quatro fases experimentais:<br />
de 17 a 27/06 de 1998 (inverno), 27/09 a<br />
7/10 de 1998 (primavera); 23/12 de 1998 a 2/01 de<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 59-66 61
1999 (verão) e 22/03 a 1/04 de 1999 (outono). Para<br />
tanto, sensores foram instalados em uma torre<br />
micrometeorológica e ligados a um sistema automático<br />
de coleta de dados, possibilitando medir os<br />
seguintes parâmetros: temperatura do solo, temperatura<br />
de bulbo seco e bulbo úmido, velocidade do<br />
vento, radiação solar global, radiação solar refletida,<br />
saldo de radiação e fluxo de calor no solo. As medidas<br />
foram efetuadas com os seguintes sensores: termopares<br />
a base de fio cobre-constantan para medir<br />
a temperatura do solo a 1 cm de profundidade; psicrômetro<br />
constituído de termopares de bulbo seco e<br />
bulbo úmido para medir temperatura e umidade do<br />
ar; anemômetro de conchas para medir velocidade<br />
do vento a 150 cm de altura da superfície; dois piranômetros<br />
espectrais para medir radiação solar global<br />
e refletida; saldo radiômetro para medir o saldo<br />
de radiação; e um fluxímetro para medir o fluxo de<br />
calor no solo a 1 cm de profundidade da superfície.<br />
Os dados foram coletados em um “micrologger”<br />
21X, sistema automático de aquisição de<br />
dados de alta resolução, alimentado por um painel<br />
solar. Esse equipamento permitiu a aquisição de<br />
dados em intervalos de um segundo e geração de<br />
médias a cada cinco minutos para todos os parâmetros,<br />
as quais, a cada 48 horas, eram armazenadas na<br />
memória do 21X e posteriormente transferidas<br />
para um microcomputador.<br />
Dados Indiretos<br />
Radiação de onda longa emitida pela superfície<br />
(L↑) – A quantidade de radiação na forma de<br />
ondas longas, emitida pela superfície do solo, foi<br />
obtida segundo a equação de Stefan-Boltzman:<br />
L↑= ε. δ. T 4 (1)<br />
onde: ε é a emissividade da superfície;<br />
σ, a constante de Stefan-Boltzman (5,67.10 -8 W/m 2 .k 4 );<br />
e T, a temperatura da superfície em Kelvin.<br />
A radiação de ondas longas emitida pela<br />
superfície foi determinada para cada intervalo de<br />
cinco minutos durante os dias estudados e, partindo-se<br />
desses valores, foram calculadas as médias<br />
diárias e para cada período estudado.<br />
Radiação de onda longa emitida pela atmosfera<br />
(L↓) – O balanço de radiação solar à superfície,<br />
também denominado de radiação líquida, é constituído<br />
pela soma dos balanços de radiação de ondas<br />
curtas e da radiação de ondas longas, sendo considerados<br />
positivos os fluxos verticais que chegam a<br />
superfície e negativos os que saem. Desse modo, o<br />
balanço de radiação solar na superfície pode ser<br />
obtido pela equação:<br />
Rn = ( K↓–K↑) + (L↓ – L↑) (2)<br />
onde:<br />
Rn é a radiação líquida;<br />
K↓, a radiação de onda curta incidente (radiação<br />
global);<br />
K↑, a radiação de onda curta refletida pela superfície;<br />
L↓, a radiação de onda longa incidente, ou seja, emitida<br />
pela atmosfera;<br />
e L↑, a radiação de onda longa emitida pela superfície.<br />
Utilizando os dados do saldo de radiação, da<br />
radiação de ondas curtas incidente e refletida, medidos<br />
como descrito no item anterior, e da radiação<br />
de ondas longas emitida pela superfície do solo, estimada<br />
mediante a equação 1, obteve-se por subtração,<br />
através da equação (3) a radiação de ondas<br />
longas proveniente da atmosfera.<br />
L↓ = Rn – ( K↓–K↑) + L↑ (3)<br />
Albedo<br />
A razão entre a radiação refletida e a radiação<br />
global incidente é designada albedo, ou poder refletor<br />
da superfície. Dessa maneira, determinou-se o<br />
albedo médio para cada cinco minutos ao longo do<br />
dia, tomando a razão entre as médias de 5 em 5<br />
minutos da radiação solar refletida e da radiação<br />
solar incidente, e o albedo médio diário para cada<br />
período, fazendo a razão entre os valores médios<br />
diários da radiação solar refletida e da radiação solar<br />
incidente, usando a equação (4):<br />
r = K↑ x 100 (4)<br />
K↓<br />
onde: r é o albedo (%); K↓, a radiação incidente;<br />
e K↑, a radiação refletida.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÕES<br />
Nas figuras de 1 a 4 são apresentados gráficos<br />
representativos do comportamento médio diário<br />
dos componentes do balanço de radiação solar para<br />
os quatro períodos: inverno, primavera, verão e<br />
outono, respectivamente. Verificou-se, a partir das<br />
62 Junho • 2000
curvas de radiação global, que esta apresentou basicamente<br />
comportamento semelhante nos quatro<br />
períodos estudados, com valores máximos próximo<br />
às 11 horas, e em torno de 810; 1.100; 980 e 880<br />
W.m -2 para inverno, primavera, verão e outono, respectivamente.<br />
Pelo comportamento das curvas de<br />
radiação global, observou-se que em todos os períodos<br />
houve ao longo do dia presença de nebulosidade,<br />
tendo em vista que essas curvas apresentaram<br />
ligeiras variações. Em termos de incidência diária de<br />
radiação global, conforme pode ser observado na<br />
tabela 1, a primavera foi o período que apresentou a<br />
maior média (578,3 W.m -2 ), ao passo que o outono<br />
foi o período que registrou a menor média (488,0<br />
W.m -2 ). Os dados da tabela 1 também mostram que<br />
enquanto a máxima média instantânea diária da radiação<br />
global ocorreu na primavera (627,8 W.m -2 ), a<br />
menor foi observada no outono (308,5 W.m -2 ).<br />
Comparando a incidência da radiação global em<br />
todas as estações, percebe-se que os valores médios<br />
desta componente no inverno, verão e outono corresponderam<br />
a 86%, 90% e 84%, respectivamente,<br />
do obtido na primavera.<br />
Verifica-se ainda nas figuras de 1 a 4 que a<br />
radiação refletida pela superfície do solo apresentou<br />
valores máximos também em torno das 11 horas,<br />
atingindo 150; 220; 200 e 140 W.m -2 , para os períodos<br />
de inverno, primavera, verão e outono, respectivamente.<br />
Em termos de média diária, verificou-se<br />
que a radiação refletida instantânea apresentou o<br />
maior valor no período de primavera (124,5 W.m -2 ),<br />
enquanto a menor média foi registrada no outono<br />
(78,6 W.m -2 ). Comparando a radiação refletida pela<br />
superfície do solo na primavera com a radiação refletida<br />
nos demais períodos, verificou-se que, em<br />
média, nos períodos de inverno, verão e outono a<br />
radiação refletida representou respectivamente cerca<br />
de 70%, 90% e 63% daquela observada na primavera.<br />
Já em termos de albedo médio diário, verificou-se<br />
que o maior valor ocorreu no verão (21,7%),<br />
seguido de perto pelo da primavera (21,5%), logo<br />
depois pelo do inverno bem mais distante (17,7%) e,<br />
por último, pelo albedo do outono, o menor de<br />
todos (16,6%).<br />
Percebeu-se ainda que em todos os períodos,<br />
enquanto a radiação emitida pela superfície apresentou<br />
valores máximos médios em torno das 13<br />
horas, a radiação atmosférica atingiu os maiores<br />
valores médios após as 14 horas, o que indica uma<br />
dependência tanto do balanço de radiação de ondas<br />
curtas como do aquecimento da superfície e da<br />
atmosfera, respectivamente. Observando as figuras<br />
de 1 a 4, verifica-se que a radiação atmosférica apresentou<br />
uma variação bem mais pronunciada no<br />
período de verão do que nos demais. A radiação<br />
emitida pela superfície apresentou valores máximos<br />
médios em torno de 580; 670; 590 e 570 W.m -2<br />
nos períodos de inverno, primavera, verão e<br />
outono, respectivamente. Em termos de média para<br />
o período, a radiação emitida pela superfície apresentou<br />
o maior valor no verão (457,8 W.m -2 ) e o<br />
menor valor no inverno (434,0 W.m -2 ).<br />
A radiação líquida apresentou o comportamento<br />
diário sincronizado com a radiação global,<br />
com os máximos também ocorrendo em torno de<br />
11 horas, alcançando valores em torno de 560;<br />
660; 490 e 640 W.m -2 , nas estações de inverno, primavera,<br />
verão e outono, respectivamente. Analisando<br />
ainda os dados da tabela 1, constata-se que<br />
em termos do saldo de radiação médio diário, a primavera<br />
também foi o período que apresentou o<br />
maior valor (331,0 W.m -2 ), ao passo que o verão foi<br />
o período em que o saldo de radiação teve o menor<br />
valor (221,6 W.m -2 ). Os maiores valores do saldo de<br />
radiação registrados na primavera e no outono, em<br />
contraste com valores menores no inverno e no<br />
verão, são explicados por uma maior aproximação<br />
do ângulo de declinação do Sol nestes períodos do<br />
ano, com a latitude local 5º11’ S. Ou seja, em março<br />
e setembro os raios solares incidem mais perpendicularmente<br />
em Mossoró e, conseqüentemente,<br />
maior quantidade de radiação incide sobre a superfície<br />
local. Comparando o saldo médio de radiação<br />
observado no período da primavera com as médias<br />
dos demais períodos, verifica-se que enquanto o<br />
outono apresentou uma média praticamente igual a<br />
primavera (0,8% a menos), nos períodos de inverno<br />
e verão houve redução da energia líquida à superfície<br />
de 6% e 33%, respectivamente.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 59-66 63
Tab. 1. Médias instantâneas diárias, diárias máximas e diárias mínimas dos componentes do balanço de radiação em<br />
Mossoró, RN, para os quatros períodos estudados.<br />
Inverno<br />
PERÍODO<br />
Primavera<br />
Verão<br />
Outono<br />
MÉDIA<br />
PERÍODO<br />
K↓<br />
(W.m -2 )<br />
K↑<br />
(W.m -2 )<br />
L↑<br />
(W.m -2 )<br />
L↓<br />
(W.m- 2 )<br />
RN<br />
(W.m -2 )<br />
Diária 496,9 87,8 434,0 424,4 310,7<br />
Máxima 578,2 116,2 445,7 437,9 362,8<br />
Mínima 345,5 64,1 438,4 406,1 223,5<br />
Diária 578,3 124,5 435,1 429,3 331,0<br />
Máxima 627,8 136,5 444,9 446,0 358,1<br />
Mínima 419,5 88,7 428,2 405,5 241,2<br />
Diária 519,4 112,7 457,8 357,5 221,6<br />
Máxima 580,9 128,4 464,6 383,8 249,4<br />
Mínima 404,0 80,8 448,8 337,2 179,4<br />
Diária 488,0 78,6 456,6 447,5 328,5<br />
Máxima 557,5 95,1 464,4 454,6 398,0<br />
Mínima 308,5 46,7 445,9 437,4 212,0<br />
Fig. 1. Comportamento médio dos componentes do balanço<br />
de radiação solar para o período de inverno.<br />
Fig. 3. Comportamento médio dos componentes do balanço<br />
de radiação solar para o período de verão.<br />
Rn K↓ K↑ L↓ L↑<br />
Rn K↓ K↑ L↓ L↑<br />
Fig. 2. Comportamento médio dos componentes do balanço<br />
de radiação solar para o período de primavera.<br />
Fig. 4. Comportamento médio dos componentes do balanço<br />
de radiação solar para o período de outono.<br />
Rn K↓ K↑ L↓ L↑<br />
Rn K↓ K↑ L↓ L↑<br />
64 Junho • 2000
CONCLUSÕES<br />
Os resultados obtidos indicam que, dos quatros<br />
períodos aqui estudados, a primavera foi o que<br />
apresentou os maiores valores de todos os componentes<br />
do balanço de radiação solar incidente na<br />
superfície, exceto a radiação atmosférica máxima no<br />
período do outono, provavelmente em função de<br />
uma presença maior de nebulosidade durante este<br />
período. Por outro lado, a maior incidência de radiação<br />
global à superfície durante o período de primavera<br />
contribuiu para uma variação mais acentuada<br />
dos demais componentes do balanço de radiação<br />
neste período. Verificou-se ainda que nos períodos<br />
de inverno, verão e outono houve uma redução na<br />
média diária de radiação global incidente na superfície<br />
do solo em relação a primavera de 14%, 10% e<br />
16%, respectivamente. O saldo de radiação médio<br />
do período da primavera, comparado com o dos<br />
demais períodos, evidenciou que, enquanto no<br />
outono este parâmetro foi praticamente igual e no<br />
inverno menor apenas 6%, no verão teve uma redução<br />
bastante acentuada (33%). Finalmente, concluiu-se<br />
que em termos de albedo, concluiu-se que a<br />
primavera e o outono, mesmo sendo os períodos do<br />
ano que mais refletem radiação solar incidente,<br />
foram também os que proporcionam maior disponibilidade<br />
de energia líquida à superfície.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ARAÚJO, A.P. Produção de Cultivares e Híbridos de Repolho no Município de Mossoró, RN. ESAM, p. 27, 1997. [Monografia<br />
de graduação em Engenharia Agronômica].<br />
BRASIL, Ministério da Agricultura. Levantamento exploratório-reconhecimento de solos do estado do Rio Grande do Norte. S.<br />
1. Recife, DNPEA-SU<strong>DE</strong>NE/USAID, 1971. (DDP, Boletim 21, PE 13).<br />
CHAGAS, F.C. Normais Climatológicas para Mossoró, RN (1970-1996). ESAM, p. 40, 1997, [Monografia de graduação em<br />
Engenharia Agronômica].<br />
CUNHA, G.R. & BERGAMASCHI, H. Balanço de Energia em Alfafa. <strong>Revista</strong> Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, 2:<br />
9-16, 1994.<br />
CUNHA, G.R. et al. Balanço de Energia em Cultura de Milho. <strong>Revista</strong> Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, 4 (1): 1-14,<br />
1996.<br />
FEITOSA, J.R.P. Balanço de Energia e Evapotranspiração em Área de Pastagem e de Floresta Densa na Amazônia. DCA/CCT/<br />
UFPB, Campina Grande, p. 95, 1996. [Dissertação de mestrado].<br />
LEITÃO, M.M.V.B.R. Balanço de Radiação e Energia numa Cultura de Soja Irrigada. DCA/CCT/UFPB, Campina Grande-PB,<br />
p. 110, 1989. [Dissertação de mestrado].<br />
MEN<strong>DE</strong>Z, M.H.G. & ASSIS, F.A. Balanço de Radiação em uma Cultura de Sorgo Sacarino. In: Congresso Brasileiro de Agrometeorologia,<br />
III, p. 54, 1983, Campinas, Resumos..., Sociedade Brasileira de Agrometeorologia.<br />
MOURA, M.S.B. et al. Balanço de Radiação em Mossoró, RN, para Dois Períodos do Ano: equinócio de primavera e solstício<br />
de inverno. In: Anais do Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, XI, 1999, Florianópolis, pp. 2.092-2.097,<br />
1999.<br />
OLIVEIRA, G.M. Advecção sobre um Cultivo de Amendoim Irrigado. DCA\CCT\UFPB, Campina Grande, p.111, 1998. [Dissertação<br />
de mestrado].<br />
SILVA, B.B. da. Estresse Hídrico em Algodoeiro Herbáceo Irrigado Evidenciado pela Termometria Infravermelha. DCA/CCT/<br />
UFPB, Campina Grande, p. 139, 1994. [Tese de doutorado].<br />
TEIXEIRA, A. et al. Balanço de Radiação na Cultura da Videira, cv. “Itália”. <strong>Revista</strong> Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria,<br />
4 (2): pp. 137-141, 1997.<br />
TUBELIS, A. et al. Estimativa da Radiação Solar Global Diária em Botucatu, SP, a partir da Insolação Solar Diária. Pesquisa Agropecuária<br />
Brasileira, Brasília, v. 26, pp. 53-60, 1980.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 59-66 65
66 Junho • 2000
Aquisition and<br />
Characterization of<br />
Nepheline Glass-ceramic<br />
Obtenção e Caracterização de Vitrocerâmicos de Nefelina<br />
CRISTINA DONEDA GOMES <strong>DE</strong> BORBA<br />
Universidade Federal de Santa Catarina<br />
cris@pg.materiais.ufsc.br<br />
HUMBERTO RIELLA<br />
Universidade Federal de Santa Catarina<br />
riella@enq.ufsc.br<br />
ABSTRACT – Glass and nepheline glass-ceramics were obtained from Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 system using additives and<br />
nucleating agents like TiO 2 , ZrO 2 , SnO 2 e ZnO. Factorial design was used to determine optimal content of nucleating<br />
agents. The melt was performed at 1.600ºC and different contents of nepheline phase were obtained by a crystallization<br />
process. X-ray diffraction, differential thermal analysis and scanning electronic on microscopy on used to characterize<br />
glass and glass ceramics. The results showed that TiO 2 and ZnO, when together, decrease the melting viscosity and treatment<br />
temperatures, producing a refined microstructure.<br />
Keywords: GLASS-CERAMIC – NEPHELINE – NUCLEATING AGENT.<br />
RESUMO – Foram obtidos vidros e vitrocerâmicos de nefelina a partir do sistema Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 , utilizando diferentes<br />
aditivos e agentes nucleantes: TiO 2 , ZrO 2 , SnO 2 e ZnO. A quantidade ótima de agente nucleante em cada composição<br />
foi determinada mediante modelamento fatorial. A fusão foi realizada a 1.600ºC e os tratamentos de nucleação e crescimento<br />
foram realizados de forma a obter amostras com diferentes teores de fase nefelina. As técnicas de caracterização<br />
utilizadas foram: difração de raios-X, análise térmica diferencial e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados<br />
mostraram que TiO 2 e ZnO adicionados juntos diminuem a viscosidade de envase. Além disso, diminuem as temperaturas<br />
de tratamento térmico e favorecem a cristalização do vidro, refinando a microestrutura do vitrocerâmico.<br />
Palavras-chave: VITROCERÂMICO – NEFELINA – AGENTE NUCLEANTE.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 67-74 67
INTRODUCTION<br />
Glass-ceramics are defined as polycrystalline<br />
materials, with residual amorphous phase,<br />
obtained from glass melting and controlled<br />
crystallization (Strnad, 1984). These materials are<br />
interesting because of their specific properties and<br />
use in various fields. Its properties originate from<br />
the parent glass composition and the microstructure<br />
control that can be manipulated during crystallization<br />
heat treatment. An important advantage of<br />
glass-ceramics over crystalline materials is the capacity<br />
to produce complex shapes. Another advantage,<br />
when compared to sintered powder materials, is the<br />
absence of pores in the structure. The strength and<br />
toughness of glass-ceramic are usually higher than<br />
those of the parent glass. Both properties of glass<br />
and glass-ceramic can be controlled by adjusting the<br />
composition in order to match the thermal expansion<br />
coefficient.<br />
During the last three decades glass-ceramics<br />
containing nepheline (Na 3 KAl 4 Si 4 O 16 ) as crystalline<br />
phase have been developed for several uses such<br />
as: material for coating spaceships, dental prostheses,<br />
tableware, dinnerware and material resistant to<br />
acids (MacDowell, 1984; Volf, 1984).<br />
Studies on nepheline glass-ceramics (Duke,<br />
1971; MacDowwell, 1982; Megles, 1972) indicated<br />
the optimal range inside the phase diagram<br />
Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 and the efficiency of TiO 2 ,<br />
ZrO 2 , ZnO, SnO 2 and Rb 2 O as additive and nucleating<br />
agents. Additionally, the simultaneous use of<br />
TiO 2 with other nucleating agent presented significant<br />
modifications in the microstructure and in the<br />
properties such as: rupture module, density and<br />
thermal expansion coefficient.<br />
In this work, nepheline glass-ceramic was<br />
obtained from raw mineral materials. Factorial<br />
design methodology was used to study the optimal<br />
amount of the nucleating agents. It was also used to<br />
minimize the number of heat treatment experiments<br />
and to verify the influence of the nucleation<br />
temperature, holding time of crystal growth and<br />
growth temperature (Montgomery, 1984).<br />
EXPERIMENTAL PROCEDURE<br />
The raw materials used in the glass compositions<br />
were: nepheline (a mineral containing the<br />
phases nepheline, microline and albite feldspars),<br />
sodium carbonate, alumina, TiO 2 , ZrO 2 , SnO 2 and<br />
ZnO. Glass compositions were established in<br />
nepheline stoichiometric composition. In figure 1 of<br />
the phase diagram Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 (Levin et al.,<br />
1974), we can see the nepheline composition:<br />
21,82% Na 2 O, 35,89% Al 2 O 3 and 42,29% SiO 2 in<br />
weight. To reach this composition, the sum of 8,1%<br />
of Na 2 O and 8,3% of K 2 O, in weight, originating<br />
from the nepheline, was considered as 16,4% of<br />
Na 2 O. The addition of sodium carbonate was necessary<br />
for the correction of Na 2 O, since the stoichiometric<br />
proportion of Na:K in the nepheline was<br />
3:1. Table 1 shows V1 containing TiO 2 and ZrO 2 ,<br />
V2 containing TiO 2 and SnO 2 and V3 containing<br />
TiO 2 and ZnO. The additive values mentioned in<br />
the literature were used in V1, V2 and V3 (Duke,<br />
1971; Megles, 1972).<br />
The mixtures were melted at 1.600ºC for 2<br />
hours in an alumina crucible, at an electric laboratory<br />
furnace, with a heating rate of 10ºC/min.<br />
The optimal amount of nucleating agents for<br />
each one of the compositions V1, V2 and V3 was<br />
studied through a factorial design 3 2 : 2 variables in<br />
3 levels. The two variables were: TiO 2 and ZrO 2<br />
contents for V1, TiO 2 and SnO 2 contents for V2<br />
and TiO 2 and ZnO contents for V3. Each additive<br />
was tested in 3 levels: low, medium and high,<br />
according to table 2. In this design, composed of 9<br />
experiments for each composition, a block of 3<br />
experiments only, was performed, with the other 2<br />
combinations of the first block. Table 2 shows the<br />
glass compositions in weight.<br />
Transparency, color, homogeneity and viscosity<br />
were the parameters used to choose the best<br />
compositions: V11, V20 and V31 (tab. 1).<br />
Powdered samples of V11, V20 and V31<br />
were characterized through differential thermal<br />
analysis (DTA) to find the vitreous transition range<br />
and the crystallization temperature (T C ) (fig. 2).<br />
Temperature values of vitreous transition (T g ) and<br />
TC were used for heat treatment, performed<br />
through factorial design 3 3 . In the design 3 3 , composed<br />
of 27 different combinations, a block of 9<br />
experiments only was performed. The parameters<br />
studied were: nucleation temperature (T N ), holding<br />
68 Junho • 2000
time of crystal growth (t C ) and growth temperature<br />
(T C ), while the nucleation holding time (t N ) was<br />
maintained constant. Table 3 displays an outline of<br />
the 9 testssals performed for each of the 3 glasses: A,<br />
B, C, D, E, F, G, H and I, and, in table 4, the low,<br />
medium and high values are presented. Monolithic<br />
glass samples were inserted in the oven for the crystallization<br />
process during the holding time.<br />
X-ray diffraction of the glasses and glassceramics<br />
was performed in monolithic samples,<br />
using Philips Xpert equipment (Cu K α radiation).<br />
The X-ray patterns presented in figures 3, 4 and 5<br />
are relative to the glasses and glass-ceramics V11,<br />
V20 and V31, respectively. The samples were<br />
etched with oxalic acid for the microstructure analysis,<br />
performed in a scanning electron microscope<br />
(SEM) (fig. 6 and 7).<br />
RESULTS AND DISCUSSIONS<br />
Table 1 shows the studied glass compositions,<br />
where V2 and V3 compositions are suitable for region<br />
rich in alkali in figure 1, and V1 composition is rich in<br />
former oxide. Glasses from Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 system<br />
have high melting viscosity, which was the criterion<br />
used to define the optimal work range. Other compositions<br />
of this diagram, suggested by Tashiro (1977)<br />
and Duke (1977), were also considered regarding the<br />
same criterion, but did not achieve good results. The<br />
parameters used to compare glass compositions were<br />
molar proportions among the following oxides: formers,<br />
modifiers and intermediates. The proportion of<br />
SiO 2 /(Na 2 O+K 2 O) was 2,17 for V1 and 1,78 for V2<br />
and V3, while the molar proportion of SiO 2 /Al 2 O 3<br />
was 0,79 for V1 and 0,64 for V2 and V3. In other<br />
words, V1 is richer in the forming oxide SiO 2 than V2<br />
and V3.<br />
Fig. 1. Compositions studied on phase diagram Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 .<br />
Fases cristalinas:<br />
Quartzo – SiO2<br />
Tridimita – SiO2<br />
Cristobalita – SiO2<br />
Corundum – AI203<br />
Mulita – 3 AI203. 2SiO2<br />
Albita – Na2O. AI203. 6SiO2<br />
Nefelina – Na2O. Ai203. 2SiO2<br />
Carnegieite – Na2O. AI203. 2SiO2<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 67-74 69
As shown in figure 1, Duke (1973) defined<br />
the work range as a hexagon centered in the stoichiometric<br />
composition, while Megles (1972) worked<br />
in richer regions of SiO 2 . Formulations with more<br />
Al 2 O 3 tend to present smaller melt viscosity. It<br />
occurs due to an increase of the proportion<br />
Al 2 O 3 :Na 2 O and the amount of Al ions increases<br />
with coordination 6, until Al 2 O 3 :Na 2 O 1:1 composition,<br />
where only coordination 4 occurs. In other<br />
words, until the same molar proportion, Al 2 O 3 acts<br />
as glass forming, and from this point it acts as a<br />
modifier, reducing the viscosity and increasing the<br />
density of the vitreous system (Volf, 1984). Concentration<br />
of Al 2 O 3 around 30 wt%, resulting in a<br />
glass-ceramics of high dimensional stability, even<br />
when the working temperature reaches 1.200ºC,<br />
although a concentration higher than 38% increases<br />
the liquidus temperature (Duke, 1973). The K +<br />
ion, when present in higher concentrations of 3<br />
wt%, has the role of developing transparent glasses<br />
and glass-ceramics. However when used in the<br />
same Na + ion concentrations does not help crystallization<br />
(Duke, 1973).<br />
It was observed that it is indispensable to<br />
introduce at least one nucleating agent for crystallization<br />
of this glass system. TiO 2 was used in all of<br />
the 3 glasses, since its action as nucleating agent is<br />
known. Formulations containing only TiO 2<br />
reduced the melt viscosity when present in concentrations<br />
above 10%. On the other hand, when TiO 2<br />
acts together with ZnO or SnO 2 , the viscosity<br />
decreases with smaller amounts of the additive.<br />
TiO 2 used together with ZnO or SnO 2 favor the<br />
acquisition of more transparent glasses than those<br />
ones produced with TiO 2 and ZrO 2 .<br />
The results, referring to the additive behavior,<br />
are in accordance with the literature (Duke, 1973).<br />
This demonstrates the efficiency of using two or<br />
more additives to decrease the viscosity, to refine the<br />
microstructure and to increase the crystallinity. The<br />
additive can act in differentiated ways: as nucleating<br />
agents and as a microstructure refining agent; an<br />
overlap of these mechanisms can also acus. TiO 2 is a<br />
nucleating agent used in several systems in wide<br />
concentrations, although its performance is still discussed.<br />
In this system, TiO 2 can be introduced from<br />
5 to 15 wt% (Duke, 1973). The mechanism proposed<br />
by Beall (1982) for the nucleation is based on<br />
the following stages: (i) separation of the amorphous<br />
phase, forming islands rich in Ti, (ii) separation<br />
of anatase nuclei, (iii) nucleation of carnegeite<br />
metastable crystals (NaAlSiO 4 ) and (iv) transformation<br />
of the carnegeite in nepheline. ZrO 2 is usually<br />
used in contents that vary from 0,5 to 5%, with a<br />
solubility of 3,4% in silicate glasses which increase<br />
the viscosity of the vitreous system (Tashiro, 1977;<br />
and McMillan, 1964). SnO 2 can be introduced in<br />
contents from rarying 2 to 8% and ZnO from 1 to<br />
10% (Duke, 1973; Tashiro, 1977).<br />
The determination of the optimal amount of<br />
additive for the studied composition was necessary<br />
since an excessive amount of nucleating agent result<br />
in a coarse microstructure (Duke, 1973), while<br />
insufficient contents disfavor the homogeneity.<br />
Table 2 displays the additive levels introduced in the<br />
3 compositions V11, V20 and V31. All the additives<br />
were tested in 3 levels, except for ZrO 2 which was<br />
tested in only 2, due to the fact of increasing viscosity<br />
which is a process restriction property. The<br />
medium level of TiO 2 was adjusted for 4,5% in V3<br />
composition, because TiO 2 , when combined with<br />
ZnO, strongly reduces the viscosity in an accentuated<br />
way. The optimized compositions were the following:<br />
medium level for V1, low level for V2 and<br />
medium level for V3, orV11, V20 and V31, respectively.<br />
Tab. 1. Composition of the glasses (wt.%).<br />
V1 V11 V2 V20 V3 V31<br />
Na 2 O 8,49 8,79 10,66 11,97 11,84 11,38<br />
K 2 O 6,40 6,63 5,46 6,13 6,07 5,83<br />
CaO 1,18 1,22 1,00 1,13 1,11 1,07<br />
Al 2 O 3 30,33 31,40 32,41 36,41 36,00 34,60<br />
SiO 2 40,83 42,26 34,82 39,12 38,69 37,18<br />
TiO 2 10,22 7,16 10,44 3,15 3,15 5,23<br />
ZrO 2 2,55 2,56 – – – –<br />
SnO 2 – – 5,22 2,10 – –<br />
ZnO – – – – 3,15 4,71<br />
Tab. 2. Levels of nucleating agents contents.<br />
LOW MEDIUM HIGH<br />
TiO 2 3,0 7,0 10,0<br />
ZrO 2 2,0 2,5 2,5<br />
SnO 2 2,0 4,0 5,0<br />
ZnO 3,0 4,5 6,0<br />
70 Junho • 2000
Figure 2 shows the DTA curves of the glasses<br />
for V11, V20 and V31 compositions. The typical<br />
glass behavior is observed by a change of the slope<br />
line, indicating the interval of a vitreous transition,<br />
and the exothermal peak, indicating the crystallization<br />
temperature (T C ). The temperature medium<br />
value between the beginning and the end of the vitreous<br />
transition interval was assumed as Tg. The<br />
DTA glass curves for V11 presents a less intense and<br />
defined crystallization peak than for V20 and V30.<br />
Another observed fact is that the width of T C peak<br />
increases progressively from V20 to V31 and V11.<br />
DTA analysis, performed in monolithic samples,<br />
showed that T C peaks stayed the same temperature<br />
for the three glasses, reducing its height significantly.<br />
This proves that the increase of the superficial area<br />
did not influence the T C value, indicating the bulk<br />
crystallization mechanism. Tg and T C temperatures<br />
are: 705ºC and 871ºC for V11, 734ºC and 975ºC<br />
for V20 and 661ºC and 905ºC for V31, respectively.<br />
Fig. 2. DTA glass curves of V11, V20 and V31.<br />
hinder the microstructure control. In the other<br />
glasses, V20 and V31, the nucleation and crystallization<br />
events happened separately.<br />
Tab. 3. Experiments design for the thermal treatment.<br />
T C LOW T C MEDIUM T C HIGH<br />
t C low t C high t C medium<br />
T N low A<br />
B<br />
C<br />
t C medium t C low t C high<br />
T N medium D<br />
E<br />
F<br />
t C high t C medium t C low<br />
T N high G<br />
H<br />
I<br />
Tab. 4. Thermal treatment parameter values.<br />
LEVELS T N ( O C) t N (MIN) T C ( O C) t C (MIN)<br />
Low 775 30 850 30<br />
V11 Medium 795 30 930 60<br />
High 815 30 1008 120<br />
Low 800 15 925 15<br />
V20 Medium 820 15 975 30<br />
High 840 15 1000 60<br />
Low 730 15 860 15<br />
V30 Medium 750 15 905 60<br />
High 770 15 950 120<br />
DTA ( µ<br />
V)<br />
905 o C<br />
871 o C<br />
975 o C<br />
V31<br />
V22<br />
V11<br />
200 400 600 800 1000 1200<br />
Temperature o ( C)<br />
In order to obtain different contents of crystalline<br />
phase in glass-ceramics, designed experiments<br />
were condeted as described in tables 3 and 4.<br />
The thermal treatments were performed according<br />
to the criterion of nucleating the samples in temperatures<br />
superior than each glass Tg, in settled times.<br />
The crystal growth was done at T C and in temperatures<br />
immediately inferior and superior to T C , in<br />
variable times. Since glass V11 TC peak is broad<br />
and less intense, the values of T N and T C of the<br />
thermal treatment are close. This implicates in overlapping<br />
nucleation and crystallization events, which<br />
The sequences of the X-ray patterns presented<br />
in figures 3, 4 and 5 show the behavior of the glasses<br />
V11, V20 and V31 after heat treatments A, B, C, D,<br />
E, F, G, H and I. It is possible to observe that a crystalline<br />
phase did not occur in all treatments. However<br />
where it happened, the identified phase was<br />
nepheline (Na 3 K)Al 4 Si 4 O 16 (JCPDS 9-338). In this<br />
case, a preferential growth of the peaks relative to<br />
the orientations (002) and (004) was verified. Even<br />
in the initial crystallization stages the preferential<br />
growth in the axis “c” of the nepheline hexagonal<br />
structure occurred. The heat treatments performed<br />
in V11 did not enhance crystallization, except for<br />
V11-F (T N = 795oC; tN = 30 min; T C = 1.008ºC<br />
and t C = 120 min), as shown in the defined peaks<br />
of the X-ray pattern. DTA results (fig.1), where T C<br />
is not well defined, prove that glass V11 is hard to<br />
crystallize. But the sequences of the treatments in<br />
V20 and V31 characterize glass-ceramics with several<br />
crystallization stages, besides reaching high crystallinity,<br />
as in V20-F (T N = 820ºC; t N = 15 min;<br />
T C = 1.000ºC and t C = 60 min) and V20-H (T N<br />
= 840ºC; t N = 15 min; T C = 975ºC and t C = 30<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 67-74 71
min) and V31-I (T N = 770ºC; t N = 15 min; T C =<br />
950ºC and t C = 15 min).<br />
Fig. 3. X-ray patterns of glass V11 after the heat treatments<br />
A, B, C, D, E, F, G, H and I.<br />
Intensity (c.p.s.)<br />
20 25 30 35 40 45<br />
2 θ<br />
Fig. 4. X-ray patterns of glass V20 after the heat treatments<br />
A, B, C, D, E, F, G, H and I.<br />
Intensity (c.p.s.)<br />
20 25 30 35 40 45<br />
2θ<br />
Fig. 5. X-ray patterns of glass V31 after the heat treatments<br />
A, B, C, D, E, F, G, H and I.<br />
F<br />
I<br />
H<br />
G<br />
E<br />
D<br />
C<br />
B<br />
A<br />
H<br />
F<br />
I<br />
G<br />
E<br />
D<br />
C<br />
B<br />
A<br />
The microstructure analysis performed in the<br />
glass-ceramics samples showed the microstructure<br />
refinement. Figures 6 and 7 show glass V20 micrography<br />
after heat treatment F, where it is possible to<br />
verify the uniformity, high crystallinity and high<br />
density. The crystals are fine disks, shaped with 150<br />
nm diameter and thickness around 30 nm.<br />
In other samples with high crystallinity, V11 F<br />
and V31 I, analysis problems were found in SEM<br />
due to high resolution demanded in such refined<br />
microstructures. All the analyzed samples presented<br />
homogeneous bulk crystallization, a crystal formation<br />
front starting from the surface was not having<br />
been observed. These micrographs prove the mechanism<br />
of bulk crystallization and agree with the results<br />
obtained by DTA, where the powdered and monolithic<br />
samples presented the same values of T C .<br />
Another outstanding fact is the optical property<br />
of the material, relative to transparency. The<br />
glass-ceramics obtained from V20 and V31 are translucent,<br />
while those obtained from V11 are opaque.<br />
This fact can be correlated with the nucleating agent<br />
used, therefore ZrO 2 favors the opacity of the glass.<br />
In the present case, contents above 2,5% were<br />
responsible for non homogeneous samples after crystallization,<br />
in spite of literature indication of the ZrO 2<br />
ability in refining the microstructure. SnO 2 , used up<br />
to 3%, is indicated to favor transparent and brilliant<br />
glass-ceramics, while ZnO is indicated for microstructure<br />
refinement (Tashiro, 1977), according to<br />
the obtained results. The fact that the microstructure<br />
has nanoparticles can explain the samples translucence<br />
of the samples, since this property is accentuated<br />
by microstructure refinement.<br />
Fig. 6. Microstructure of glass V20-F, after heat treatment<br />
(T N = 820ºC; t N = 15 min; T C = 1.000ºC and t C = 60 min).<br />
I<br />
H<br />
Intensity (c.p.s.)<br />
G<br />
F<br />
E<br />
D<br />
C<br />
B<br />
A<br />
20 25 30 35 40 45<br />
2θ<br />
72 Junho • 2000
Fig. 7. Microstructure of glass V20-F, showing nepheline<br />
crystals with 150 nm diameter.<br />
CONCLUSIONS<br />
This study concluded that:<br />
• The use of nepheline, as a raw material, is viable<br />
for glass and glass-ceramics production.<br />
• Melting viscosity was the process parameter<br />
which defined the region around the stoichiometric<br />
composition of the nepheline for optimal<br />
working.<br />
• TiO 2 contents above 7% favor the crystallization<br />
during melting, being the optimization of<br />
nucleating agent an important stage of heat treatment<br />
control.<br />
• Among the nucleating agents used, TiO 2 and<br />
ZnO present better efficiency, reducing viscosity,<br />
promoting crystallization and resulting in translucent<br />
glass-ceramics.<br />
• Melting temperature at 1.600ºC can be considered<br />
high, but is compatible with industrial processes,<br />
if the temperature and time of thermal<br />
treatments are optimized.<br />
• Glass V11, with TiO 2 and ZrO 2 , presented<br />
overlapping of the nucleation and crystallization<br />
events, hindering crystalline phase control. The<br />
glasses V20 and V31, with TiO 2 and SnO 2 and<br />
TiO 2 and ZnO, respectively, showed that they<br />
can be obtained with several crystalline phase<br />
contents, depending on the thermal treatment<br />
used.<br />
• Factorial design proved to be a suitable tool to<br />
optimize the experiments, making possible the<br />
simultaneous study of the variables T N , T C and<br />
t C possible. The number of measurements was<br />
reduced from 27 to 9 through a block experimentation<br />
only.<br />
• The fact that glasses crystallize the nepheline<br />
phase only is a positive result which helps in the<br />
microstructure control.<br />
• The fine microstructure showed disk shaped<br />
crystals, with a medium diameter around 120<br />
nm and a thickness of 30 nm.<br />
• This refined microstructure was the result of<br />
several process parameters: (i) optimization of<br />
nucleating agent contents, (ii) use of two nucleating<br />
agents and (iii) simultaneous optimization<br />
of T N , T C and t C .<br />
REFERENCES<br />
BEALL, G.H. & PIERSON, J.E. Method of Making Peraluminous Nepheline/Kalsilite Glass-Ceramics. Int. CI. 3 C03B 27/02.<br />
Pat. n. 4, pp. 341-544. 31 out. 1980: 27 jul. 1982.<br />
DUKE, D.A. & MACDOWELL, J.F. Glass-Ceramic Body. Int. CI CO3c 3/22. Pat. n.3, pp.720-526. 12 ago. 1971: 13 mar.<br />
1973.<br />
KIM, H.S.; RAWLINGS, R.D.; ROGERS, P.S. Sintering and Crystallization Phenoma in Silceram Glass. Journal of Materials Science,<br />
v. 24, pp.1025-1037, 1989.<br />
KLUG, H.P. & ALEXAN<strong>DE</strong>R, L.E. X-Ray Diffraction Procedures for Polycrystalline na Amorphous Materials. 2.ª ed., Nova<br />
York: John Wiley and Sons, 1958.<br />
LEVIN, E.M.; ROBBINS, C.R. & McURDIE, H.F. Phase Diagrams for Ceramists. 3.ª ed., Nova York: The American Ceramic<br />
Society, 1974.<br />
MACDOWELL, J.E. Microwave Heating of Nepheline Glass-Ceramics. Ceramic Bulletin. v.63(2): pp. 282-286, 1984.<br />
McMILLAN, P.W. Glass-Ceramics. Nova York: Academic Press, 1964.<br />
MEGLES, J.F. Nepheline-Feldspar Glass-Ceramics. Int. CI. C03b 29/00. Pat. n. 3, pp. 653-865. 2 jun. 1970: 4 abr. 1972.<br />
MONTGOMERY, D.C. Design and Analysis of Experiments. 2.ª ed., Singapura: John Wiley and Sons, 1984.<br />
RUSSAK, M.A. & KIVLIGHN, H.D. Crystallization and Microstructure of Nepheline Glass-Ceramics. Journal of the American<br />
Ceramic Society, v. 58(5): pp. 258-259, 1975.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 67-74 73
STRNAD, Z. Glass-Ceramic Materials: glass science and technology. Nova York: Elsevier Science Publishing Company, 1986, v.<br />
8.<br />
TASHIRO, M.; WADA M.; YAMANAKA, T. & TANI, K. Crystallizable glasses and nepheline glass-ceramics containing ZrO 2<br />
and ZnO. Int CI. 2 C03C 3/22. Pat. n. 4, pp. 22-627. 6 abr. 1971: 10 mai 1977.<br />
VOLF, M.B. Chemical Approach to Glass: Glass Science and Technology. Nova York: Elsevier Science Publishing Company,<br />
1984, v. 7.<br />
74 Junho • 2000
Propriedades Térmicas<br />
e Biodegradabilidade<br />
de PCL e PHB em<br />
um Pool de Fungos<br />
Thermal Properties and Biodegradability of<br />
PCL and PHB Submitted in Fungi Pool<br />
<strong>DE</strong>RVAL DOS SANTOS ROSA<br />
Universidade São Francisco<br />
derval@usf.com.br<br />
<strong>DE</strong>NISE FRANCO PENTEADO<br />
Universidade São Francisco<br />
denisefr@academico.ufs.com.br<br />
MARIA REGINA CALIL<br />
Universidade São Francisco<br />
mrcalil@ufs.com.br<br />
RESUMO – O uso de material polimérico vem crescendo na sociedade. Um grande número de aplicações foi sendo desenvolvido<br />
e fortemente relacionado à morfologia e a características mecânicas e térmicas dos materiais. No entanto, tal<br />
aumento de uso vem provocando sérios problemas ambientais. Este trabalho mostra alguns resultados relativos a mudanças<br />
nas propriedades térmicas – por exemplo, o ponto de fusão (Tm), entalpia de fusão (DHm) e cristalinidade (C) – de<br />
polímeros biodegradáveis, como o polihidroxibutirato (PHB) e a policaprolactona (PCL), quando submetidos à moldagem<br />
por compressão a quente e à biodegradação por um pool de microrganismos. Os resultados evidenciam que o processamento<br />
do material reduz a cristalinidade somente do PHB, ou seja, aumenta sua fase amorfa, fato que torna o<br />
polímero mais suscetível a permeação de água e ataques de microorganismos, conforme foi constatado no ensaio de biodegradabilidade<br />
em fungos. Por outro lado, não foram observadas mudanças nas propriedades térmicas do PCL.<br />
Palavras-chave: POLÍMERO – <strong>DE</strong>GRADAÇÃO – POLÍMERO BIO<strong>DE</strong>GRADÁVEL – PCL E PHB.<br />
ABSTRACT – The use of polymeric material has been growing in our daily life. A great number of applications has been<br />
developed and it is strongly related to the morphology, mechanical and thermal characteristics of the materials. However,<br />
its increase has been promoted serious environment problems. The aim of this work is to show some results concerning<br />
changes on the thermal properties – e.g. melting temperature (Tm), melting enthalpy (DHm) and crystallinity (C) – of<br />
biodegradable polymers, such as polyhydroxybutyrate (PHB) and polycaprolactone (PCL) molded by hot compression<br />
by high temperature and the biodegradation through a pool of microorganisms. The results allow concluding that the<br />
processing reduces the crystallinity of PHB, which it increases its amorphous phase, which makes it more susceptible to<br />
the water permeation and microorganisms attacks as we can see in biodegradation test with a pool of microorganisms.<br />
On the other hand, changes are not observed in the PCL thermal properties.<br />
Keywords: POLYMER – <strong>DE</strong>GRADATION – BIO<strong>DE</strong>GRADABLE POLYMER – PCL AND PHB.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 75-80 75
INTRODUÇÃO<br />
C<br />
onsiderando a extensão do uso de materiais<br />
poliméricos em produtos como canetas,<br />
conectores telefônicos, embalagens e revestimentos<br />
de equipamentos eletrônicos, é difícil imaginar<br />
o mundo hoje em dia sem a presença dos<br />
plásticos. Porém, o plástico convencional apresenta<br />
taxas de degradação extremamente baixas, podendo<br />
gerar problemas sérios à manutenção do equilíbrio<br />
ambiental. Grande quantidade de lixo plástico acumula-se<br />
dia após dia, pondo em risco as relações existentes<br />
em ecossistemas terrestres e aquáticos (Rosa &<br />
Carraro, 1999). Alternativas são procuradas com o<br />
objetivo de substituir o polímero convencional por<br />
materiais mais compatíveis com a filosofia de preservação<br />
ambiental.<br />
Um das soluções encontradas é inserir o polímero<br />
biodegradável no mercado de plásticos.<br />
Alguma pesquisa inicial nesse campo tem sido<br />
incentivada, por suas aplicações potenciais na área<br />
biomédica. Atualmente, a necessidade de reduzir a<br />
quantidade de resíduos plásticos descartada no meio<br />
ambiente tem revelado a área de polímeros biodegradáveis<br />
como de grande interesse entre os investigadores<br />
(Scott & Gilead, 1995). Do ponto de vista<br />
científico, o polímero biodegradável é definido<br />
como plásticos cuja degradação resulta primariamente<br />
da ação de microrganismos de ocorrência<br />
natural, entre eles, bactérias, fungos ou algas. Materiais<br />
como compostos de amido, polivinil álcool,<br />
polilactatos e polihidroxibutirato são exemplos de<br />
polímeros biodegradáveis.<br />
Testes de biodegradabilidade foram desenvolvidos<br />
a fim de quantificar a capacidade de os microorganismos<br />
degradarem esses polímeros. Métodos<br />
padronizados para investigar a biodegradação de<br />
plásticos sob condições de laboratório foram publicados<br />
pela American Society for Testing and Materials<br />
(ASTM). As aplicações concretas desses polímeros<br />
relacionam-se firmemente às características mecânicas<br />
e à morfologia do material. Cabe também aqui<br />
considerar que esses materiais podem ser degradados<br />
em um pequeno período de tempo, dependendo da<br />
condição em que são expostos. Sabe-se que, durante<br />
o processamento, os polímeros são fundidos e moldados<br />
a um formato desejado e, assim, podem sofrer<br />
certa degradação causada pela temperatura e por forças<br />
mecânicas às quais o material é submetido.<br />
A degradação induzida por cisalhamento e a<br />
degradação térmica, provenientes do processamento,<br />
podem causar alterações na morfologia e nas características<br />
mecânicas do material puro (Barak, 1991).<br />
Comparando as propriedades físicas do polímero,<br />
antes e após o processamento, pode-se inferir sobre<br />
suas aplicações e até mesmo construir modelos capazes<br />
de predizer se ele irá sofrer ou não degradação<br />
biológica (Chiellini & Solaro, 1996). A determinação<br />
da relação entre a fração cristalina/amorfa fornece<br />
informações relativas a densidade, dureza e resistência<br />
mecânica e térmica, como também elasticidade,<br />
maciez e flexibilidade do polímero (Mano, 1985). A<br />
cristalinidade, definida como um “arranjo ordenado<br />
e uma repetição regular de estruturas atômicas ou<br />
moleculares no espaço”, pode ser indiretamente<br />
medida por uma análise de DSC (Calorimetria<br />
Exploratória Diferencial). Esse método de análise térmica<br />
consiste em submeter a amostra a uma variação<br />
programada de temperatura e, com base nisso, a<br />
quantia de energia medida será aquela necessária para<br />
manter a amostra, bem como o material inerte de<br />
referência, na mesma temperatura (Raghavan, 1995).<br />
Entre os polímeros biodegradáveis, o polihidroxibutirato<br />
(PHB) é um dos que tem atraído mais<br />
a atenção dos pesquisadores. Essa substância é produzida<br />
pela bactéria Alcaligenes eutrophorus, que a<br />
acumula sob a forma de grânulos intracelulares a<br />
partir de substâncias como a glicose e a sacarose. O<br />
polímero é completamente degradado, gerando<br />
CO 2 e convertido à biomassa por bactérias, fungos<br />
e leveduras. Há muitas aplicações para esse polímero<br />
biodegradável, seja na indústria de embalagens,<br />
na agricultura, seja em áreas médicas,<br />
especialmente na ortopedia. Um segundo polímero<br />
biodegradável que vem sendo bastante estudado é a<br />
policaprolactona (PCL), um poliéster alifático cuja<br />
aplicação está sendo investigada particularmente no<br />
contexto de sistemas de liberação de drogas (Chiellini<br />
& Solaro, 1996). Acredita-se que, no solo, enzimas<br />
extracelulares sejam as responsáveis por<br />
quebrar as extensas cadeias de PCL antes que os<br />
microorganismos tenham a capacidade de assimilar<br />
o polímero.<br />
76 Junho • 2000
Alguns trabalhos têm sido feitos com diferentes<br />
microorganismos visando verificar a biodegradabilidade.<br />
A capacidade de microorganismos que<br />
degradam lignina para atacar plásticos degradáveis<br />
foi investigada em frasco de cultura com agitação<br />
(Lee, 1991). O plástico degradável usado foi produzido<br />
comercialmente por Polylean Archer-Daniel-<br />
Midland, contendo pró-oxidante e 6% de amido.<br />
Nesse experimento foram usadas as bactérias Streptomyces<br />
virisosporus T7A, S. badius 252 e S. setonii<br />
75Vi2 e o fungo Phanerochaete chfysosporium,<br />
conhecidos como degradantes de lignina. A atividade<br />
pró-oxidante foi acelerada colocando-se um<br />
filme polimérico em um forno seco a 70˚C sob<br />
pressão atmosférica por 0, 4, 8, 12, 16 ou 20 dias.<br />
Também foi investigado o efeito da luz ultravioleta<br />
365 nm por 2, 4 e 8 semanas na biodegradabilidade<br />
do plástico.<br />
Para o teste nos frascos de cultura, os plásticos<br />
foram desinfetados quimicamente e incubados com<br />
agitação a 125 rpm a 37˚C em meio de cultura com<br />
0,6% de extrato de levedura (pH = 7,1) para as<br />
espécies de Streptomyces e a 30˚C em meio com<br />
3% de extrato de malte (pH = 4,5) para a linhagem<br />
de fungo durante 4 semanas, juntamente com um<br />
controle sem inóculo para cada tratamento. Os<br />
resultados da perda de massa foram inconclusivos<br />
em razão do acúmulo de massa proveniente do crescimento<br />
dos microorganismos. Os filmes tratados<br />
com irradiação da luz ultravioleta por 2 e 4 semanas<br />
mostraram maior biodegradação para todas as três<br />
bactérias. Para a linhagem de fungo nenhuma degradação<br />
foi visualmente observada.<br />
Leonas & Gorden (1996) estudaram os efeitos<br />
do ataque bacteriano na degradação de filmes<br />
plásticos sob condições simuladas de ambientes aquáticos.<br />
Seis diferentes tipos de plásticos bio e fotodegradáveis<br />
foram colocados em aquário e expostos à<br />
luz UVA. Nesse trabalho, polietileno de baixa-densidade,<br />
copolímeros de polietileno, poliestireno e<br />
polietileno +6% amido de milho foram expostos<br />
em ambientes aquáticos e a populações bacterianas<br />
e a resistência à tração foi acompanhada paralelamente<br />
à degradação dos filmes plásticos. Os polímeros<br />
biodegradáveis, descritos brevemente acima,<br />
possuem um campo de aplicação potencial muito<br />
extenso, dentro das exigências de uso de baixo<br />
tempo de vida, como embalagens em geral, “recipiente”<br />
que envolve as mudas na agricultura, entre<br />
outras utilizações (Scott & Gilead, 1995).<br />
Destaca-se, dessa forma, a relevância dessas<br />
considerações, baseadas no princípio da melhoria da<br />
qualidade de vida como uma necessidade e preocupação<br />
cada vez mais presentes. Nesse estudo foram<br />
selecionados dois tipos de polímeros biodegradáveis:<br />
o polihidroxibutirato (PHB) e a policaprolactona<br />
(PCL), dos quais procurou-se monitorar as propriedades<br />
térmicas dos materiais originais e após o processamento<br />
de moldagem por compressão.<br />
MATERIAIS E MÉTODOS<br />
Materiais<br />
As amostras usadas nesse trabalho foram o<br />
PHB, da Copersucar S.A., e o PCL do tipo P-767,<br />
da Union Carbide, com índice de fluidez 1,9 ± 0,3<br />
(ASTM D-1238) e densidade 1,14g/cm 3 , originalmente<br />
obtidas em forma de pó e “pellets”, respectivamente.<br />
Como controle utilizou-se o polietileno de<br />
baixa densidade (PEBD), da Union Carbide.<br />
Análises Térmicas<br />
As análises térmicas foram feitas em triplicata,<br />
usando equipamento da TA Instruments Modelo<br />
DSC 2000. Os polímeros originais e processados (7-<br />
11 mg) foram aquecidos até a fusão em “panelas”<br />
de alumínio padrão. A taxa de aquecimento foi de<br />
10,0ºC/min. e a corrida foi realizada na faixa de<br />
temperatura de 50ºC até 350ºC para PCL, e de<br />
50ºC até 250ºC, para o PHB. O instrumento foi<br />
calibrado com o elemento químico índio (Tm =<br />
156,4ºC, ∆Hm = 28,47 kJ/kg).<br />
As amostras foram processadas pelo método<br />
de moldagem por compressão, usando-se uma temperatura<br />
do molde de 205ºC para o PHB e 95ºC<br />
para o PCL e uma pressão de 5 toneladas por 5<br />
minutos para ambos o polímeros.<br />
Para calcular a cristalinidade dos materiais, o<br />
calor de fusão do polímero 100% cristalino foi<br />
extraído da literatura (∆H 0 PHB = 146,0 J/g and<br />
∆H 0 PCL = 81,6 J/g ) (Chiellini & Solaro, 1996).<br />
Microorganismos<br />
Aspergillus niger (ATCC 9642), Penicillium<br />
pinophillum (ATCC 9644), Chaetomium globosum<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 75-80 77
(ATCC 6205), Aerobasidium pullulans (ATCC<br />
15233) e Gliocadium virens (ATCC 9645). O G.<br />
virens foi obtido do Instituto Adolfo Lutz e os<br />
outros microorganismos, adquiridos da Coleção de<br />
Culturas da Fundação Tropical André Tosello.<br />
Inóculo<br />
As linhagens dos microrganismos acima especificadas<br />
cresceram separadamente em um meio<br />
apropriado a 28ºC, durante duas semanas. As suspensões<br />
de esporos foram obtidas colocando-se 10<br />
ml de uma solução 0,5% (m/v) de Tween 80 numa<br />
Placa de Petri e os esporos foram cuidadosamente<br />
removidos com uma alça de Drigalsky. Os esporos<br />
foram vertidos em um frasco Erlenmeyer de 125<br />
ml, previamente esterilizado, contendo 45 ml de<br />
água esterilizada e de 10 a 15 pérolas de vidro, de 5<br />
mm em diâmetro, e, então, agitado vigorosamente.<br />
As suspensões foram filtradas em lã de vidro e, em<br />
seguida, centrifugadas. O sobrenadante foi descartado<br />
e o resíduo resuspenso em 50 ml de água esterilizada.<br />
Os esporos obtidos a partir de cada um dos<br />
fungos foram lavados dessa maneira por três vezes. A<br />
suspensão final teve o número de esporos contados<br />
microscopicamente com o auxílio de uma câmara de<br />
Newbauer (hematímetro) e, quando necessário, diluídos,<br />
para obter 10 6 ± 10 5 esporos/ml.<br />
Mistura das Suspensões de Esporos dos Fungos<br />
– A operação mencionada acima foi feita para<br />
cada organismo usado no teste e volumes iguais da<br />
suspensão de esporos resultante foram misturados<br />
para se obter a suspensão final de esporos.<br />
profundidade com meio de cultura. Em seguida, a<br />
superfície foi inoculada com a suspensão contendo a<br />
mistura de esporos, de forma que toda a superfície<br />
foi umedecida. As placas foram incubadas em estufas<br />
reguladas a 28ºC de temperatura e 85% de umidade<br />
relativa durante 28, 42 e 63 dias. Foram feitas<br />
três repetições/amostra para cada tempo de incubação<br />
especificado (28, 42 e 63 dias). A quantidade de<br />
meio de cultura não foi aletrada no decorrer do<br />
experimento. Como controle, foi utilizado um polímero<br />
não biodegradável, o polietileno.<br />
RESULTADOS<br />
As curvas típicas obtidas por Calorimetria<br />
Exploratória Diferencial (DSC) para o PCL e PHB<br />
original e após o processamento são mostradas nas<br />
figuras 1 e 2, respectivamente.<br />
Fig. 1. Curva de DSC do PCL original (a) e processado (b).<br />
Meio de cultura<br />
O meio de cultura usado foi preparado com a<br />
seguinte composição (por litro): KH 2 PO 4 , 0,7g;<br />
MgSO 4 .7H2O, 0,7g; NH 4 NO 3 , 1,0g; NaCl,<br />
0,005g; FeSO 4 .7H 2 O, 0,002g; ZnSO 4 .7H 2 O,<br />
0,002g; MnSO 4 .H 2 O, 0,001g; K 2 HPO 4 , 0,7g;<br />
Agar, 15,0g. O pH foi ajustado a 6,5 com adição de<br />
0,001N NaOH, quando necessário.<br />
Inoculação<br />
Os filmes poliméricos de PHB, PCL e PEBD<br />
foram colocados na superfície das placas de Petri<br />
esterilizadas contendo uma camada de 3 a 6 mm de<br />
Na tabela 1 são mostrados os resultados da<br />
Análise Térmica, obtidos por DSC. A porcentagem<br />
de cristalinidade foi calculada a partir dos dados do<br />
calor de fusão.<br />
78 Junho • 2000
Fig. 2. Curva de DSC do PHB original (a) e processado (b).<br />
Tab. 1. Valores médios das propriedades térmicas e morfológicas<br />
do PCL e PHB, puro e processado, e<br />
seus respectivos desvios-padrão, com 95% de<br />
confiança.<br />
AMOSTRA<br />
TEMPERA-<br />
TURA <strong>DE</strong><br />
FUSÃO (º C)<br />
CALOR <strong>DE</strong><br />
FUSÃO (J/G)<br />
CRISTALINI-<br />
DA<strong>DE</strong> TOTAL<br />
(%)<br />
PCL original 68,5 ± 0,7 82,2 ± 1,7 58,9 ± 1,6<br />
PCL processado 65,6 ± 0,6 78,2 ± 5,8 56,0 ± 0,7<br />
PHB original 179,9 ± 1,8 104,9 ± 4,5 71,9 ± 4,5<br />
PHB processado 177,8 ± 0,8 86,2 ± 4,3 59,1 ± 3,6<br />
Na tabela 2 são mostrados os resultados da<br />
perda de massa obtidos com o PHB e PCL quando<br />
submetidos ao pool de fungos.<br />
Tab. 2. Variação da massa (%) dos polímeros durante o<br />
tempo do bioensaio.<br />
POLÍMEROS PERDA <strong>DE</strong> MASSA (%)<br />
28 dias 42 dias 63 dias<br />
PHB 10,29 17,67 40,39<br />
PCL 1,21 1,32 2,12<br />
LDPE (controle) 0,42 0,36 0,21<br />
DISCUSSÃO<br />
Analisando-se as curvas de DSC do PHB original,<br />
como ilustrado na figura 2(a), nota-se a existência<br />
de ombros prévios do pico de fusão, fato que<br />
pode indicar a presença de cadeias poliméricas<br />
menores do que a massa molar média. Esse comportamento<br />
não é observado no mesmo material<br />
depois de seu processamento, ou seja, verifica-se<br />
apenas um pico de fusão a uma temperatura ligeiramente<br />
inferior. Percebe-se que o processamento<br />
gera um valor mais baixo do calor de fusão e da cristalinidade<br />
total do PHB processado quando comparado<br />
com a amostra original. O PCL não apresenta<br />
alterações significativas relativas à cristalinidade,<br />
antes e após ser processado, e o mesmo comportamento<br />
é observado em relação aos valores do calor<br />
de fusão do material (figura 1 e tabela 1). Porém,<br />
houve uma redução de 3,0ºC na temperatura de<br />
fusão média do PCL, o que pode ser atribuído às<br />
condições de processamento do polímero.<br />
Observa-se que, no caso de PHB, as formas de<br />
degradação provenientes do processamento são<br />
capazes de alterar a cristalinidade desse material e<br />
diminuem a fração cristalina, aumentando, por conseqüência,<br />
a fração amorfa. Essas mudanças estruturais<br />
podem trazer um aumento na elasticidade e na<br />
flexibilidade, como também uma diminuição de<br />
densidade, rigidez, resistências mecânica e térmica e<br />
a ataques de solventes. A diminuição da resistência à<br />
dissolução em solventes pode gerar uma capacidade<br />
maior de permeação da água na fração amorfa, facilitando<br />
com isso o ataque dos microorganismos aos<br />
polímeros. 2,5 O PHB mostrou-se mais susceptível<br />
ao ataque por fungos do que o PCL. Por conseguinte,<br />
a perda de massa é maior no PHB, se comparado<br />
ao PCL, como pode ser constatado na tabela<br />
2, que revela 10% de perda de massa em 28 dias e<br />
40% de perda de massa em 63 dias para o PHB.<br />
Com relação ao PCL, os resultados foram: 1,21%<br />
perda de massa em 28 dias e 2,12% em 63 dias.<br />
CONCLUSÕES<br />
A caracterização térmica e das propriedades<br />
morfológicas do PHB e do PCL indica a possibilidade<br />
de estabelecer campos potenciais de aplicações<br />
para os polímeros biodegradáveis estudados, por<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 75-80 79
exemplo em embalagens, em que a flexibilidade é<br />
uma característica desejada.<br />
O processamento do PHB diminuiu a cristalinidade<br />
desse material em 17,8%, evidenciando uma<br />
facilitação ao ataque dos microorganismos sobre o<br />
polímero processado quando comparado com a<br />
amostra original. Uma evidência desse fato é que a<br />
média de perda de massa em 63 dias foi de 40,4%.<br />
Para o PCL, não houve alteração significativa em<br />
relação ao mesmo parâmetro.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Agradecimentos<br />
A José Sebastião de Sá, Edson Teixeira e Paulo C. Porta<br />
Nova, da Union Carbide, e a Roberto Nonato, da<br />
Copersucar S. A., por suas colaborações.<br />
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São<br />
Paulo (FAPESP) pelo incentivo, através do Projeto – Processo<br />
1999 / 10.716-4.<br />
BARAK, P. et al. Organic Chemicals in The Environment – Biodegradability Of Polyhidroxybutyrate (Co-Hydroxyvalerate) And<br />
Starch – Incorporeted Polyethylene Plastic Films In Soil. J. Environ. Qual., v. 20, pp. 173-179, 1991.<br />
CHIELLINI, E. & SOLARO, R. Biodegradable Polymeric Materials. Advanced Materials, 8 (4): 305-313, 1996.<br />
LEE, B. et al. Biodegradation of Degradable Plastic Polyethylene. Phanerochaete and Streptomyces species Applied and Environmental<br />
Microbiology, 57 (3): 678-685, 1991.<br />
LEONAS, K.K & GOR<strong>DE</strong>N, R.W. Bacteria Associated with Desintegrating Plastics Films Under Simulated Aquatic Environments.<br />
Bull Environ. Contam.Toxicol, v. 56, pp. 948-955, 1996.<br />
MANO, E.B. Introdução a Polímeros. São Paulo: Edgard Blücher, p. 111, 1985.<br />
RAGHAVAN, D. Characterization of Biodegradable Plastics. Polym. Plast. Technol. Eng., 34 (1): 41-63, 1995.<br />
ROSA, D.S. & CARRARO, G. Avaliação de Plásticos Biodegradáveis sob Envelhecimento Acelerado em Solo com Diferentes pH.<br />
5.º Congresso Brasileiro de Polímeros, ABPOL, Águas de Lindóia, 1999.<br />
ROSA, D.S. Correlation among Accelerated and Natural Agings of PPi [Thesis of Doctorate. Program of Masters degree of Unicamp,<br />
1996].<br />
SCOTT, G. & GILEAD, D. Degradable Polymers Principles and Application. Londres: Chapman & Hall, 1995.<br />
À fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de<br />
São Paulo (FAPESP) pelo incentivo, através do Projeto<br />
– Processo 1999/10.716-4.<br />
80 Junho • 2000
Métodos Eficientes<br />
para a Transformação<br />
Genética de Plantas<br />
Efficient Methods for Genetic Plants Transformation<br />
ELIANE ROMANATO SANTARÉM<br />
Universidade de Cruz Alta<br />
Santarem@azcomnet.com.br<br />
RESUMO – A tecnologia de transferência de genes tem criado novas alternativas para a produção de plantas mais adaptadas<br />
ao ambiente de cultivo e com maior capacidade de produção. Os métodos utilizados na produção de plantas geneticamente<br />
modificadas podem ser classificados como diretos e indiretos. Os métodos diretos são aqueles que provocam<br />
modificações nas paredes e membranas celulares para introdução de DNA exógeno, através de processos físicos ou químicos.<br />
Entre eles, os mais eficientes são a eletroporação de protoplastos, a transformação mediada por PEG e o bombardeamento<br />
de partículas. O método indireto requer a utilização de um vetor biológico para a introdução do DNA na<br />
planta. Os vetores mais utilizados são a Agrobacterium tumefaciens e rhizogenes, patógenos vegetais com a capacidade de<br />
transferir parte de seu DNA para o genoma da planta. A transferência de genes mediada por agrobacterium tem sido bastante<br />
empregada, em razão de sua conveniência e da alta probabilidade de integração de uma ou poucas cópias do gene<br />
introduzido. Plantas transgênicas têm sido produzidas nas principais espécies cultivadas e levadas ao mercado consumidor,<br />
expressando aumento da qualidade nutricional ou resistência a herbicidas, insetos ou fungos.<br />
Palavras-chave: AGROBACTERIUM – BIOBALÍSTICA – ELETROPORAÇÃO – PLANTAS TRANSGÊNICAS – TRANSFORMAÇÃO GENÉ-<br />
TICA.<br />
ABSTRACT – The available gene transfer systems have been able to generate new plant varieties, better adapted to the<br />
environment and exhibiting improved crop productivity. The production of transgenic plants relies on the use of physical/chemical<br />
or biological means to introduce the transgene into the plant cells. Physical/chemical methods cause modifications<br />
to cell walls and plasma membranes, and foreign DNA is then delivered into the cell. Electroporation, PEGmediated<br />
transformation and particle bombardment are the more efficient and relevant direct techniques of transferring<br />
DNA into plant. Biological method requires the use of plant pathogens for the DNA introduction. Agrobacterium tumefaciens<br />
and a. Rhizogenes are the main pathogens used, which are able to infect and introduce part of their DNA into a<br />
receptive host. Agrobacterium-mediated gene transfer has been the method of choice due to convenience and high probability<br />
of single or low copy number integration. Transgenic plants have been obtained for the major crop species and<br />
introduced to the marked, expressing improved nutricional value, resistance to herbicides, insect or fungal pathogens.<br />
Keywords: AGROBACTERIUM – ELECTROPORATION – GENETIC TRANSFORMATION – PARTICLE BOMBARDMENT – TRANSGENIC<br />
PLANTS.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 81-90 81
INTRODUÇÃO<br />
P<br />
or muitos anos, o único método disponível<br />
para a introdução de características de interesse<br />
em plantas foi o melhoramento clássico,<br />
envolvendo cruzamentos, seguidos pela seleção de<br />
plantas com fenótipo desejável. Porém, esse processo<br />
é lento, necessitando vários anos para produzir e liberar<br />
comercialmente uma nova variedade (Christou,<br />
1992). A engenharia genética de plantas não só acelera<br />
o processo de melhoramento, como permite<br />
transpor as barreiras de incompatibilidade sexual<br />
através da hibridização somática ou da introdução de<br />
genes específicos em células vegetais, utilizando os<br />
métodos de transformação (Moraes & Fernandes,<br />
1987). A transformação genética é o processo de<br />
introdução controlada de ácidos nucléicos exógenos<br />
em um genoma receptor, sem comprometer a viabilidade<br />
das células. Com os avanços da tecnologia de<br />
DNA recombinante, é possível transferir para plantas<br />
genes isolados de outras plantas, ou mesmo de animais<br />
e microrganismos (Perani et al., 1986), permitindo<br />
a criação de novas variedades que podem ser<br />
usadas em programas de melhoramento convencional.<br />
Até o presente, diversos genes foram introduzidos<br />
estavelmente em plantas, conferindo resistência a<br />
herbicidas, fungos, bactérias, vírus e insetos e resistência<br />
a estresses ambientais.<br />
Para que o processo de transformação seja<br />
efetivo, o DNA deve ser introduzido em células ou<br />
tecidos vegetais aptos a regenerar plantas completas.<br />
Um dos fatores limitantes na transformação genética<br />
tem sido a baixa eficiência das técnicas de cultura<br />
de tecidos vegetais in vitro. Aliado a isso, em<br />
muitas situações, a esterilidade total ou parcial das<br />
plantas transgênicas obtidas pode consistir em uma<br />
barreira para a finalização desse processo. Portanto,<br />
para iniciar os trabalhos de transformação, os aspectos<br />
relacionados à regeneração de plantas, através<br />
da cultura de tecidos, devem ser completamente<br />
elucidados.<br />
<strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO<br />
A transferência de genes para espécies vegetais<br />
tem sido possível graças à manipulação genética de<br />
células, utilizando métodos diretos ou indiretos de<br />
transformação. O método indireto é aquele no qual<br />
se utiliza um vetor, como Agrobacterium tumefaciens<br />
(Chilton et al., 1977) ou Agrobacterium rhizogenes<br />
(Chilton et al., 1982), de forma a intermediar a transferência<br />
de genes. Esse método tem sido bastante<br />
usado na obtenção de plantas transgênicas. Entretanto,<br />
algumas dicotiledôneas e a maioria das monocotiledôneas<br />
e gimnospermas não são suscetíveis, ou<br />
apresentam pouca suscetibilidade, à infecção pela<br />
Agrobacterium (Potrikus, 1990). Em alguns casos, a<br />
eficiência do processo de transformação pode ser<br />
aumentada com o uso de cepas supervirulentas de<br />
bactéria (Hansen et al., 1994) ou com a adição de<br />
compostos fenólicos ao meio de cultivo, como indutor<br />
da transferência do DNA bacteriano (Stachel et<br />
al., 1985). Os métodos diretos, também extensivamente<br />
adotados, não requerem a utilização de vetores<br />
biológicos, mas em muitos casos utilizam<br />
protoplastos, o que dificulta a regeneração de plantas.<br />
A eficiência do método de transformação vai depender<br />
da espécie em estudo e do tecido usado como<br />
alvo da transformação e, de maneira geral, os parâmetros<br />
devem ser otimizados para cada técnica.<br />
MÉTODOS DIRETOS<br />
Os métodos de transferência direta de genes<br />
utilizam processos físicos ou químicos que causam<br />
modificações nas paredes e membranas celulares,<br />
facilitando a introdução de DNA exógeno. Diversos<br />
métodos diretos têm sido propostos, variando em<br />
sua eficiência e praticidade. Entre eles, os métodos<br />
que resultaram em maior número de espécies transformadas<br />
foram a eletroporação de protoplastos, a<br />
transformação por polietilenoglicol e a aceleração<br />
de partículas (Fisk & Dandekar, 1993). As demais<br />
técnicas, como micro e macroinjeção, utilização de<br />
raios laser, microfibras de carboneto de silício e<br />
ultra-som, foram testadas para produção de plantas<br />
transgênicas. Porém, apresentaram baixa eficiência<br />
ou não foram reproduzíveis (Southgate et al.,<br />
1998).<br />
Eletroporação de Protoplastos<br />
Protoplastos são definidos como células desprovidas<br />
de paredes celulares (Evans, 1991). Para a<br />
introdução de DNA usando a eletroporação, os protoplastos<br />
são expostos a pulsos curtos de corrente<br />
contínua e alta voltagem, em presença do DNA exógeno<br />
(Fromm et al., 1985). Esse tratamento induz<br />
82 Junho • 2000
uma alteração reversível da permeabilidade da membrana<br />
plasmática e poros temporários são formados,<br />
permitindo a entrada do DNA nas células. A extensão<br />
da formação de poros é determinada pela intensidade<br />
e duração do pulso elétrico e pela concentração<br />
iônica do tampão de eletroporação. Os poros aumentam<br />
em tamanho e número com o aumento da duração<br />
e intensidade dos pulsos (Joersbo & Brunstedt,<br />
1991; Finer et al., 1996). Parâmetros como tipo e<br />
duração dos pulsos elétricos, intensidade do campo<br />
elétrico, concentração e forma do DNA, presença ou<br />
ausência de DNA carreador, composição do tampão<br />
de eletroporação e temperatura de incubação dos<br />
protoplastos devem ser determinados.<br />
A transformação genética de plantas por eletroporação<br />
de protoplastos oferece a vantagem de<br />
não necessitar de um vetor biológico e de não haver<br />
barreira física para a introdução de DNA. É uma<br />
técnica rápida, simples e realizada sem agentes tóxicos<br />
às células, embora os pulsos elétricos possam ter<br />
efeito deletério na sobrevivência dos protoplastos e<br />
subseqüente regeneração de plantas. Algumas plantas<br />
transgênicas foram obtidas utilizando essa técnica<br />
(Shimamoto et al., 1989; Dale et al., 1993). O<br />
maior obstáculo do método está na dificuldade de<br />
regeneração de plantas a partir de protoplastos<br />
transformados. Mesmo quando a regeneração é<br />
obtida, as plantas podem apresentar problemas de<br />
redução de fertilidade (Rhodes et al., 1989), além<br />
de várias espécies ainda serem consideradas recalcitrantes<br />
para essa tecnologia (Birch, 1997).<br />
Uma alternativa para aumentar a eficiência da<br />
eletroporação tem sido a redução do tratamento<br />
enzimático para a retirada da parede celular.<br />
D’Halluin et al. (1992) obtiveram plantas transgênicas<br />
mediante a eletroporação de calos embriogênicos<br />
de Zea mays, com ferimento mecânico do<br />
tecido alvo. Mais recentemente, foi sugerido que a<br />
indução de plasmólise parcial das células, imediatamente<br />
antes da eletroporação, substituiria o tratamento<br />
enzimático (Sabri et al., 1996). A associação<br />
de plasmólise e eletroporação permite a difusão do<br />
DNA em espaços intercelulares ou a penetração<br />
lenta do DNA pelos poros das paredes celulares,<br />
sendo o choque elétrico necessário apenas para permeabilizar<br />
a membrana plasmática (Dekeyser et al.,<br />
1990). Esse método poderia evitar os problemas<br />
relacionados com o uso de protoplastos (Sabri et al.,<br />
1996).<br />
Absorção de DNA Mediada por PEG<br />
Polietilenoglicol (PEG), usado em combinação<br />
com Ca+2, Mg+2 e pH alcalino, promove a<br />
ligação do DNA exógeno à superfície dos protoplastos.<br />
O DNA é absorvido pela célula por endocitose.<br />
O PEG pode atuar, também, na proteção do<br />
DNA contra a atividade das nucleases (Finer et al.,<br />
1996).<br />
A freqüência de transformação, usando PEG,<br />
é de aproximadamente 1% e restrita a algumas<br />
espécies (Raybould & Gray, 1993). O tratamento<br />
com PEG pode danificar grande número de células,<br />
reduzindo a capacidade de regeneração. O peso<br />
molecular e a concentração do PEG são parâmetros<br />
que devem ser estabelecidos. Geralmente, é usado<br />
PEG 6000 em concentrações variando entre 15% e<br />
25% (Finer et al., 1996). Outras variáveis devem,<br />
ainda, ser otimizadas, como pH, forma do DNA e<br />
concentração de Ca+2 ou Mg+2. O pré-tratamento<br />
dos protoplastos por 5 min a 45ºC pode<br />
aumentar a freqüência de transformação por inibir a<br />
atividade das nucleases (Finer et al., 1996).<br />
A desvantagem dessa técnica é a dependência<br />
de um sistema eficiente de regeneração de plantas<br />
completas a partir de protoplastos, atualmente restrito<br />
a poucas espécies. Apesar das limitações da técnica,<br />
algumas espécies, como fumo, arroz e Citrus,<br />
foram transformadas (Fisk & Dandekar, 1993).<br />
Bombardeamento de Partículas<br />
Esse método consiste na aceleração de micropartículas<br />
de metal, que atravessam a parede celular<br />
e a membrana plasmática, carreando DNA para o<br />
interior da célula (Sanford, 1988). O termo bombardeamento<br />
de partículas pode ser substituído por<br />
aceleração de microprojéteis ou método biolístico<br />
(Sanford, 1988). O método baseia-se no uso de um<br />
equipamento que produz uma força propulsora,<br />
usando pólvora, gás ou eletricidade, para acelerar<br />
micropartículas inertes, cobertas com DNA, em<br />
direção às células alvo. Após o bombardeamento,<br />
uma proporção de células atingidas permanece viável;<br />
o DNA é integrado no genoma vegetal e incorporado<br />
aos processos celulares de transcrição e<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 81-90 83
tradução, resultando na expressão estável do gene<br />
introduzido (Finer et al., 1996).<br />
A maioria dos modelos biolísticos atuais<br />
emprega macroprojéteis, usados como veículo para<br />
aceleração dos microprojéteis colocados na sua<br />
superfície. Tipicamente, os macroprojéteis têm a<br />
forma de um cilindro plástico ou disco de metal<br />
(Finer et al., 1996).<br />
Um microprojétil é definido como qualquer<br />
partícula capaz de ser acelerada, de maneira que<br />
penetre nas células (Sanford, 1990). Deve ser<br />
pequeno o suficiente para entrar na célula sem ser<br />
letal, deve ser capaz de carregar DNA na sua superfície<br />
e ser denso a fim de atingir a energia cinética<br />
requerida para penetração das paredes celulares<br />
(Uchimiya et al., 1989). Os microprojéteis são fabricados<br />
usando metais de alta densidade, como tungstênio<br />
e ouro; são mais ou menos esféricos e medem<br />
cerca de 0,4 a 2,0 cm de diâmetro (Sanford, 1990).<br />
Os metais utilizados na produção de partículas<br />
devem ser quimicamente inertes para evitar reações<br />
adversas com o DNA exógeno ou componentes<br />
celulares. As partículas de tungstênio são mais baratas,<br />
porém, mais heterogêneas em tamanho e forma,<br />
quando comparadas com as de ouro (Hunold et al.,<br />
1994).<br />
A desvantagem do tungstênio está na possibilidade<br />
de as partículas sofrerem degradação catalítica<br />
com o passar do tempo, sendo tóxicas para<br />
alguns tipos de células (Russell et al., 1992). São<br />
também sujeitas à oxidação, o que afeta a adesão do<br />
DNA ou degrada o DNA aderido (Russell et al.,<br />
1992). As partículas de ouro são mais uniformes e<br />
inertes biologicamente, não causando danos às células.<br />
No entanto, elas tendem a se aglomerar irreversivelmente<br />
em soluções aquosas, reduzindo a<br />
eficiência do processo de introdução de DNA<br />
(Kikkert, 1993). As partículas de ouro, em razão da<br />
sua mais alta densidade, penetram no tecido até as<br />
camadas celulares mais profundas, ao passo que a<br />
maioria das partículas de tungstênio não penetra<br />
além das camadas superficiais (Hunold et al., 1994).<br />
Sendo assim, a relação entre o tipo de microprojéteis<br />
usado para o bombardeamento e a expressão<br />
temporária ou estável do gene introduzido deve ser<br />
avaliada para cada espécie e tecido estudados.<br />
Existem vários modelos de aceleradores de<br />
partículas. O modelo mais utilizado, o PDS 1000/<br />
He (Sanford et al., 1991), usa uma descarga de gás<br />
hélio em alta pressão (1.000-1.200 psi) para acelerar<br />
microprojéteis. Modificações nesse sistema permitiram<br />
a idealização de um aparelho de aceleração<br />
de partículas mais simplificado, utilizando pressões<br />
muito mais baixas do que a anteriormente descrita,<br />
chegando a 60 psi. Esse modelo, Influxo de Partículas<br />
(Finer et al., 1992) apresenta a vantagem de<br />
reduzir o dano causado aos tecidos. Modelos que<br />
não utilizam gás como força propulsora incluem o<br />
modelo Accell ‘ (McCabe & Christou, 1993) e o<br />
bombardeador a ar (Oard, 1993). O primeiro<br />
emprega a energia gerada pela vaporização de uma<br />
gota d’água através de uma descarga elétrica e o<br />
segundo usa ar comprimido para acelerar os microprojéteis.<br />
O uso do processo biolístico é bastante amplo<br />
e, quando comparado com a maioria dos métodos<br />
diretos de introdução de DNA em plantas, o bombardeamento<br />
de partículas apresenta várias vantagens.<br />
É uma técnica altamente versátil e de fácil<br />
adaptação, podendo ser aplicada a grande variedade<br />
de células e tecidos, incluindo suspensões (Klein et<br />
al., 1989; Fromm et al., 1990), calos (Vasil et al.,<br />
1985), tecidos meristemáticos (McCabe & Martinelli,<br />
1993), embriões imaturos (Southgate et al.,<br />
1998) e embriões somáticos (Finer & McMullen,<br />
1991; Santarém & Ferreira, 1997). Essa técnica tem<br />
permitido a regeneração de plantas transgênicas de<br />
maneira reproduzível e com menos variabilidade<br />
entre experimentos (Luthra et al., 1997). As metodologias<br />
empregadas são simples, eficientes e essencialmente<br />
idênticas, independentemente do tecido<br />
vegetal e do DNA exógeno empregado.<br />
Em adição ao seu uso para obtenção de organismos<br />
geneticamente transformados, o processo de<br />
bombardeamento de microprojéteis tem contribuído<br />
para os estudos dos mecanismos de expressão e<br />
regulação gênica (Birch, 1997).<br />
Algumas adaptações da biobalística têm sido<br />
propostas associando o bombardeamento ao método<br />
da Agrobacterium. Os microferimentos produzidos<br />
pela penetração das partículas nos tecidos bombardeados<br />
ampliam a área de infecção pela bactéria,<br />
aumentando a eficiência de transformação (Bidney et<br />
84 Junho • 2000
al., 1992; Droste, 1998). Outro sistema que combina<br />
as vantagens da transformação por Agrobacterium<br />
com a alta eficiência do sistema biolístico foi descrito<br />
por Hansen & Chilton (1996). Essa técnica, denominada<br />
“agrolística”, permite a transferência do gene de<br />
interesse para o genoma da planta, sem que haja a<br />
integração das seqüências dos vetores. Isso ocorre em<br />
virtude da co-transformação de dois dos genes de<br />
virulência, juntamente com um marcador de seleção<br />
flanqueado pelas seqüências de bordas do T-DNA.<br />
MÉTODO INDIRETO<br />
Agrobacterium<br />
Agrobacterium é uma bactéria de solo, Gram<br />
negativa, aeróbica, pertencente à Família Rhizobiaceae<br />
(Zambrisky, 1988). Sua importância para os<br />
estudos de transformação de plantas reside na capacidade<br />
natural que esses patógenos possuem de<br />
introduzir DNA em plantas hospedeiras. Esse DNA<br />
é integrado e passa a ser expresso como parte do<br />
genoma da planta (Hohn, 1992). Como conseqüência<br />
dessa expressão, o padrão normal de desenvolvimento<br />
é alterado: A. tumefaciens causa a formação<br />
de tumores, ao passo que a infecção por A. rhizogenes<br />
resulta na proliferação de raízes (Lipp-Nissinen,<br />
1993).<br />
As bactérias possuem plasmídeos que recebem<br />
denominações de acordo com a alteração de desenvolvimento<br />
vegetal que provocam: Ti, indutor de<br />
tumores, e Ri, indutor de raízes. Atualmente, a A.<br />
tumefaciens é a mais usada para estudos de transformação.<br />
Durante a infecção por A. tumefaciens, uma<br />
parte do plasmídeo Ti, denominada T-DNA ou<br />
DNA de transferência, é transferida para a célula<br />
vegetal e integrada no genoma (Hohn, 1992). Essa<br />
região contendo o T-DNA é definida por duas<br />
seqüências imperfeitas, conservadas e repetidas de<br />
25 pares de bases, denominadas bordas direita e<br />
esquerda. Os genes do T-DNA são expressos<br />
somente nas células vegetais e são responsáveis pela<br />
produção excessiva de hormônios (auxinas e citocininas)<br />
ou pelo aumento da sensibilidade das células<br />
vegetais a esses compostos, levando à formação de<br />
tumores.<br />
Esses genes também são responsáveis pela<br />
produção de opinas, compostos usados como fonte<br />
de carbono e nitrogênio pela bactéria (Willmitzer et<br />
al., 1980). Em muitos casos, a presença desses genes<br />
em células ou tecidos transformados é indesejável,<br />
pois impede a regeneração de plantas com fenótipo<br />
normal. Esse problema pode ser contornado por<br />
meio da técnica de “desarmamento” da Agrobacterium,<br />
na qual os genes podem ser inativados ou<br />
removidos. Na ausência de genes que regulem as<br />
rotas biossintéticas dos hormônios, as células transformadas<br />
podem ser identificadas pela inclusão de<br />
genes marcadores no T-DNA (uidA- β-glucuronidase)<br />
ou genes de resistência a antibióticos, como,<br />
por exemplo, hpt II (higromicina) ou npt II (canamicina).<br />
A infecção por Agrobacterium requer um ferimento<br />
no tecido vegetal (Sangwan et al., 1992). Primeiramente,<br />
acreditava-se que o ferimento teria a<br />
função de remover a barreira física imposta pela<br />
parede celular. Atualmente, sabe-se que as células<br />
feridas, mas metabolicamente ativas, excretam compostos<br />
fenólicos de baixo peso molecular, especificamente<br />
reconhecidos pela bactéria no momento da<br />
infecção. Essas moléculas foram identificadas como<br />
acetosiringona (AS) ou a-hidroxi-acetosiringona<br />
(OH-AS) (Stachel et al., 1985), chalconas e derivados<br />
do ácido cinâmico (Stachel et al., 1986) e são<br />
responsáveis pela iniciação da transferência do T-<br />
DNA (Zambryski et al., 1989).<br />
Acredita-se que a transferência do T-DNA<br />
para as células vegetais ocorra de maneira semelhante<br />
à conjugação bacteriana (Zupan & Zambrisky,<br />
1995) e os genes responsáveis pela<br />
transferência estejam localizados na região de virulência<br />
(vir) do plasmídeo Ti (Zambryski, 1988;<br />
Zambryski et al., 1989). A região vir é composta de<br />
seis grupos de genes, essenciais para transformação<br />
(virA, virB, virD e virG) ou que aumentam a eficiência<br />
desse processo (virC e virE). Alguns dos genes de<br />
virulência, chvA, chvB, cel, att e pscA, localizam-se<br />
no cromossoma bacteriano, expressam-se constitutivamente<br />
e são responsáveis pelo reconhecimento e<br />
contato das células vegetais com a bactéria durante<br />
o processo de infecção (Zambryski et al., 1989;<br />
Hohn, 1992). Os genes chvA, chvB e pscA são responsáveis<br />
pela síntese de β-1,2-glucano (Douglas et<br />
al., 1985), o cel, pela síntese de fibrilas de celulose e<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 81-90 85
o att regula a síntese das proteínas de membrana<br />
(Matthysse, 1987).<br />
A interação bactéria/parede celular vegetal foi<br />
estudada em Arabidopsis thaliana por Sangwan et al.<br />
(1992). Os autores sugerem que, durante o período<br />
de cultivo, as células estejam em divisão e diferenciação,<br />
e novas paredes celulares sejam sintetizadas.<br />
Nesse mesmo período, a bactéria produz grandes<br />
quantidades de material celulósico e os resultados<br />
sugerem uma interação entre os polissacarídeos da<br />
parede celular vegetal e as fibrilas de celulose produzidas<br />
pela bactéria.<br />
A ativação dos genes da região vir é seguida por<br />
drásticas mudanças no T-DNA, resultando na sua<br />
completa transferência para o núcleo da célula vegetal.<br />
A incorporação do T-DNA no genoma da planta<br />
não está completamente elucidada, mas sugere-se que<br />
ocorra de maneira aleatória. A integração pode ser<br />
explicada como um evento de recombinação ilegítima<br />
ou não homóloga (Mayerhofer et al., 1990).<br />
Gharthi-Chhetri et al. (1990) sugeriram que a integração<br />
do DNA exógeno ocorre entre as duas primeiras<br />
divisões celulares, durante a fase de replicação<br />
do DNA. Freqüentemente, uma a três cópias do T-<br />
DNA estão presentes, algumas vezes em arranjos tandem<br />
(Zambryski et al., 1989).<br />
A A. rhizogenes é outra espécie do gênero<br />
Agrobacterium, que causa a proliferação de raízes a<br />
partir de tecidos feridos e infectados pela bactéria.<br />
Essas raízes podem ser cultivadas in vitro em ausência<br />
de reguladores de crescimento (Lipp-Nissinen,<br />
1993). Assim como a A. tumefaciens, a A. rhizogenes<br />
possui um plasmídeo de alto peso molecular, o Ri,<br />
do qual o T-DNA é transferido para a célula vegetal<br />
(Brasileiro & Dusi, 1999). Culturas de raízes transformadas<br />
por A. rhizogenes podem ser utilizadas<br />
para a produção de metabólitos secundários de interesse<br />
farmacêutico, como produtos naturais biologicamente<br />
ativos.<br />
A técnica de transformação por Agrobacterium<br />
tem sido aprimorada desde 1988, quando<br />
Zambryski e colaboradores relataram o uso de<br />
Agrobacterium tumefaciens modificada geneticamente<br />
para introdução de genes exógenos em plantas.<br />
Na transformação utilizando esse vetor, vários<br />
parâmetros devem ser considerados, entre eles, presença<br />
de substâncias fenólicas para indução da transferência<br />
do T-DNA, pH, temperatura, açúcares,<br />
período de co-cultivo e antibióticos para controle<br />
do crescimento da bactéria (Stachel et al., 1986;<br />
Holford et al., 1992).<br />
Várias espécies de importância comercial têm<br />
sido alvo dessa técnica com resultados positivos<br />
(Fisk & Dandekar, 1993; Brasileiro & Dusi, 1999).<br />
Recentemente, foi proposto o uso de pulsos curtos<br />
de ultra-som para ferir e modificar o tecido alvo da<br />
transformação, visando o aumento da infecção por<br />
Agrobacterium. Essa técnica foi denominada SAAT<br />
(Sonication Assisted Agrobacterium-mediated Transformation;<br />
Trick & Finer, 1997) e permitiu uma<br />
maior eficiência no processo de transformação de<br />
várias espécies, antes recalcitrantes para Agrobacterium.<br />
A aplicação da SAAT em tecidos cotiledonares<br />
de soja resultou no aumento da freqüência de<br />
expressão do gene repórter utilizado (Santarém et<br />
al., 1998) e plantas transgênicas dessa espécie foram<br />
obtidas aplicando-se SAAT em suspensões embriogênicas<br />
(Trick & Finer, 1998).<br />
EXPRESSÃO DOS<br />
TRANSGENES<br />
Apesar da otimização das técnicas de transformação<br />
genética, os sítios de integração do DNA<br />
exógeno e o número de cópias integradas no<br />
genoma da planta são, ainda, imprevisíveis (Vaucheret<br />
et al., 1998). A princípio, as moléculas de DNA<br />
integram-se ao acaso no genoma, embora haja indicações<br />
de que se integrem em regiões com alta atividade<br />
transcricional (Brasileiro & Dusi, 1999).<br />
O número de cópias dos transgenes inseridos<br />
no genoma varia de acordo com a metodologia<br />
empregada na transferência de genes. Com os<br />
métodos diretos, foram detectadas múltiplas cópias,<br />
como também a fragmentação e recombinação do<br />
transgene (Hadi et al., 1996; Siemens & Schieder,<br />
1996). Por sua vez, a transformação por Agrobacterium<br />
é considerada um processo mais preciso, com<br />
integração de uma ou poucas cópias no genoma da<br />
planta (De Block, 1993).<br />
Há uma variação considerável na expressão<br />
dos transgenes em plantas transformadas, que não<br />
decorre necessariamente da diferença no número de<br />
cópias. Assim, a atividade do gene não é exclusivamente<br />
determinada pelos níveis de transcrição.<br />
86 Junho • 2000
Fatores epigenéticos podem influenciar os níveis de<br />
expressão, podendo levar à inativação do gene por<br />
inibição da transcrição ou do acúmulo do RNAm.<br />
Esse fenômeno, denominado silenciamento de<br />
genes, pode ser influenciado pelo local de inserção<br />
do transgene e está associado à metilação do DNA<br />
receptor (Vaucheret et al., 1998).<br />
CONCLUSÃO<br />
As técnicas de transformação genética de<br />
plantas têm permitido acelerar o melhoramento<br />
vegetal, gerando variedades com desempenho superior<br />
e adaptadas ao ambiente de cultivo. Os métodos<br />
de transferência de genes podem variar em<br />
eficiência e aplicabilidade, dependendo da espécie e/<br />
ou do tecido alvos da transformação. Entre os<br />
métodos diretos mais usados, o bombardeamento<br />
de partículas tem resultado no maior número de<br />
espécies transformadas, principalmente nos cereais,<br />
em que a transformação por Agrobacterium é pouco<br />
eficiente. O uso de Agrobacterium como vetor para<br />
a transferência de genes apresenta vantagens sobre<br />
os métodos diretos por ser uma metodologia mais<br />
precisa, resultando na integração de um menor<br />
número de cópias do transgene. A transformação<br />
genética não encerra com a obtenção de plantas<br />
transgênicas que expressam o fenótipo desejado.<br />
São necessárias exaustivas pesquisas para garantir<br />
que essas plantas não apresentem riscos à saúde e ao<br />
ambiente, permitindo que sejam inseridas no sistema<br />
produtivo.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BIDNEY, D. et al. Microprojectile Bombardment of Plant Tissues increases Transformation Frequency by Agrobacterium Tumefaciens.<br />
Plant Molecular Biology, Dordrecht, v.18, pp. 301-313, 1992.<br />
BIRCH, R.G. Plant Transformation: problems and strategies for practical application. Annual Review of Plant Physiology and<br />
Plant Molecular Biology, Stanford, v.48, pp. 297-326, 1997.<br />
BRASILEIRO, A.C.M. & DUSI, D.M.A. Transformação Genética de Plantas. In: TORRES, A.C; CALDAS, L.S. & BUSO, J.A.<br />
Cultura de Tecidos e Transformação Genética de Plantas. Brasília: Embrapa, 1999.<br />
CHILTON, M.D. et al. Stable Incorporation of Plasmid DNA into Higher Plant Cells: the molecular basis of crown gall tumorigenesis.<br />
Cell, Cambridge, v.11, pp.263-271, 1977.<br />
_____________. Agrobacterium rhizogenes inserts T-DNA into Genomes of Host Plant Root Cells. Nature, Londres, 295: 432-<br />
434, 1982.<br />
CHRISTOU, P. Soybean and Other Glycine species. In: ________. Genetic Engineering and in Vitro Culture of Crop Legumes.<br />
Lancaster: Technomic Publ. Co., 1992.<br />
DALE, P.J.; IRWIN, J.A. & SCHEFFLER, J.A. The Experimental and Commercial Release of Transgenic Crops Plants. Plant<br />
Breeding, Berlin, v. 111, pp. 1-22, 1993.<br />
<strong>DE</strong>KEYSER, R.A. et al. Transient Gene Expression in Intact and Organized Rice Tissues. The Plant Cell, Rockville, 2: 591-602,<br />
1990.<br />
<strong>DE</strong> BLOCK, M. The Cell Biology of Plant Transformation: current state, problems, prospects and the implications for plant<br />
breeding. Euphytica, Wageningen, 71: 1-14, 1993.<br />
D’HALLUIN, K. et al. Transgenic Maize Plants by Tissue Electroporation. The Plant Cell, Rockville, 4: 1.495-1.505, 1992.<br />
DOUGLAS, C.J. et al. Identification and Genetic Analysis of an Agrobacterium tumefaciens Chromosomal Virulence Region.<br />
Journal of Bacteriology, Washington, 161: 850-860, 1985.<br />
DROSTE, A. Embriogênese Somática, Transformação e Regeneração de Plantas Férteis de Cultivares Brasileiras de Soja [Glycine<br />
max (L.) Merrill]. Porto Alegre, p. 105, 1998. [Tese de pós-graduação em genética e biologia molecular,<br />
UFRS].<br />
EVANS, D.A. Use of Protoplast Fusion for Crop Improvement. In: CROCOMO, O.J.; SHARP, W.R. & MELO, M. Biotecnologia<br />
para a Produção Vegetal. Piracicaba: CEBTEC/FEALQ, 1991.<br />
FINER, J.J.; FINER, K.R. & SANTARéM, E.R. Plant Cell Transformation, physical methods for. In: MEYERS, R.A. Encyclopedia<br />
of Molecular Biology and Molecular Medicine. Weinheim: VCH Publishers, 1996.<br />
FINER, J.J. & MCMULLEN, M.D. Transformation of soybean via particle bombardment of embryogenic suspension culture<br />
tissue. In vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, Mariland, 27: 175-182, 1991.<br />
FINER, J.J.; VAIN, P.; JONES, M.W et al. Development of Particle Inflow Gun for DNA Delivery To Plant Cells. Plant Cell<br />
Reports, Berlin, 11: 323-328, 1992.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 81-90 87
FISK, H.J. & DAN<strong>DE</strong>KAR, A.M. The Introduction and Expression of Transgenes in Plants. Scientia Horticulture, Amsterdã,<br />
55: 5-36, 1993.<br />
FROMM, M.E.; MORRISH, F.; ARMSTRONG, C. et al. Inheritance and Expression of Chimeric Genes in the Progeny of<br />
Transgenic Maize Plants. Bio/Technology, v.8, pp.883-839, 1990.<br />
FROMM, M.E., TAYLOR, L.P. & WALBOT, V. Expression of Genes transferred into Monocot and Dicot Plant Cells by Electroporation.<br />
Proceedings of the National Academy of Science, Washington, 82: 5.824-5.828, 1985.<br />
GHARTHI-CHHETRI, G.B. et al. Hybrid Genes in the Analysis of Transformation Conditions: 3. Temporal/spatial fate of<br />
NPTII gene integration, its inheritance and factors affecting these factors in Nicotiana plumbaginifolia. Plant<br />
Molecular Biology, Dordrecht, 14: 687-696, 1990.<br />
HADI, M.Z.; MCMULLEN, M.D. & FINER, J.J. Transformation of 12 Different Plasmids into Soybean via Particle Bombardment.<br />
Plant Cell Reports, Berlin, 15: 500-505, 1996.<br />
HANSEN, G.; DAS, A. & CHILTON, M.D. Constitutive Expression of the Virulence Genes improves the Efficiency of Plant<br />
Transformation by Agrobacterium. Proceedings of the National Academy of Science, Washington, 91: 7.603-<br />
7.607, 1994.<br />
HANSEN, G. & CHILTON, M.D. Agrolistics Transformation of Plant Cells: integration of T-strands generated in planta. Proceedings<br />
of the National Academy of Science, Washington, 93: 14.978-14.983, 1996.<br />
HOHN, B. Exploration of Agrobacterium tumefaciens. In: RUSSO, V.E.A. et al. Development: the molecular genetic approach.<br />
Berlin: Springer-Verlag, 1992.<br />
HOLFORD, P.; HERNAN<strong>DE</strong>Z, N. & NEWBURY, H.J. Factors influencing the Efficiency of T-DNA Transfer during Co-cultivation<br />
of Antirrhinum majus with Agrobacterium tumefaciens. Plant Cell Reports, Berlin, 11: 196-199, 1992.<br />
HUNOLD, R.; BRONNER, R. & HAHNE, G. Early Events in Microprojectile Bombardment: cell viability and particle location.<br />
The Plant Journal, Oxford, 5: 593-604, 1994.<br />
JOERSBO, M. & BRUNSTEDT, J. Electroporation: mechanism and transient expression, stable transformation and biological<br />
effects in plant protoplasts. Physiologia Plantarum, Copenhagen, 81: 256-264, 1991.<br />
KIKKERT, J.R. The Biolistics® PDS-1000/He device. Plant Cell Tissue and Organ Culture, Dordrecht, 33: 221-226, 1993.<br />
KLEIN, T. M. et al. Genetic Transformation of Maize Cells by Particle Bombardment. Plant Physiology, Rockville, 91: 440-444,<br />
1989.<br />
LIPP-NISSINEN, K. Molecular and Cellular Mechanisms of Agrobacterium-mediated Plant Transformation. Ciência e Cultura,<br />
São Paulo, 45: 104-111, 1993.<br />
LUTHRA, R. et al. Microprojectile mediated Transformation: a bibliographic search. Euphytica, Wageningen, 95: 269-294,<br />
1997.<br />
MATTHYSSE, A.G. Initial Interactions of Agrobacterium tumefaciens with Plant Host Cell. Critical Reviews on Microbiology,<br />
Boca Raton, 13: 281-307, 1987.<br />
MAYERHOFER, R. et al. T-DNA Integration: a mode of illegitimate recombination in plants. EMBO Journal, Oxford, 10:<br />
697-704, 1990.<br />
MCCABE, D.E. & CHRISTOU, P. Direct DNA Transfer using Electric Discharge Particle Acceleration (ACCELL‘ technology).<br />
Plant Cell Tissue and Organ Culture, Dordrecht, v.33, pp. 227-236, 1993.<br />
MCCABE, D.E. & MARTINELLI, B.J. Transformation of Elite Cotton Cultivars by Particle Bombardment of Meristems. Bio/<br />
Technology, Nova York, v.11, pp. 596-598, 1993.<br />
MORAES-FERNAN<strong>DE</strong>S, M.I.B. Perspectivas da Biotecnologia para o Melhoramento de Plantas. Pesquisa Agropecuária Brasileira,<br />
Brasília, v.22, pp. 881-896,1987.<br />
OARD, J. Development of an Airgun Device for Particle Bombardment. Plant Cell Tissue and Organ Culture, Doprdrecht, v.33,<br />
pp. 247-250, 1993.<br />
PERANI, L. et al. Gene Transfer Methods of Crop Improvement: introduction of foreign DNA into plants. Physiologia Plantarum,<br />
Copenhagen, v.68, pp. 566-570, 1986.<br />
POTRYKUS, I. Gene Transfer to Plants: assessment and perspectives. Physiologia Plantarum, Copenhagen, 79: 125-134, 1990.<br />
RAYBOULD, A.F. & GRAY, A.J. Genetically Modified Crops and Hybridization with Wild Relatives: a UK perspective. Journal<br />
of Applied Ecology, Oxford, 30: 199-219, 1993.<br />
RHO<strong>DE</strong>S, C.A.; PIERCE, D.A.; METTLER, I.J. et al. Genetically Transformed Maize Plants from Protoplasts. Science,<br />
Washington, 240: 204-207, 1989.<br />
RUSSELL, J.A.; ROY, M.K. & SANFORD, J.C. Physical Trauma and Tungsten Toxicity Reduce The Efficiency of Biolistic<br />
Transformation. Plant Physiology, Rockville, 98: 1.050-1.056, 1992.<br />
SABRI, N.; PELISSIER,B. & TEISSIE, J. Transient and Stable Electrotransformation of Intact Black Mexican Sweet Maize Cells<br />
Are Obtained After Plasmolysis. Plant Cell Reports, Berlin, 15: 924-928, 1996.<br />
88 Junho • 2000
SANFORD, J.C. The Biolistic Process. Trends in Biotechnology, Cambridge, 6: 299-302, 1988.<br />
_________. Biolistic Plant Transformation. Physiologia Plantarum, Copenhagen, 79: 206-209, 1990.<br />
SANFORD, J.C.; <strong>DE</strong>VIT, M.J.; RUSSELL, J.A. et al. An Improved Helium-driven Biolistic Device. Technique, Beckenham, 3:<br />
3-16, 1991.<br />
SANGWAN, R.S.; BOURGEOIS, Y.; BROWN, S. et al. Characterization of Competent Cells and Early Events of Agrobacterium-mediated<br />
Genetic Transformation in Arabidopsis thaliana. Planta, Berlin, 188: 439-456, 1992.<br />
SANTARÉM, E.R. & FERREIRA, A.G. Transformação de Soja via Bombardeamento de Partículas. ABCTP Notícias, Brasília,<br />
9: 2-9, 1997.<br />
SANTARéM, E.R. et al. Sonication-Assisted Agrobacterium-mediated Transformation of Soybean Immature Cotyledons: optimization<br />
of transient expression. Plant Cell Reports, Berlin, 17: 752-759. 1998.<br />
SIEMENS, J. & SCHIE<strong>DE</strong>R, O. Transgenic Plants: genetic transformation-recent developments and the state of art. Plant Tissue<br />
Culture & Biotechnology, Rehovot, 2: 66-75, 1996.<br />
SHIMAMOTO, K. et al. Fertile Rice Plants Regenerated from Transformed Protoplasts. Nature, Londres, 338: 274-276, 1989.<br />
SOUTHGATE, E.M. et al. A Comparison of Methods for Direct Gene Transfer into Maize (Zea mays L.). In Vitro Cellular and<br />
Developmental Biology-Plant, Mariland, 34: 218-224, 1998.<br />
STACHEL, S.E. et al. Identification of Signal Molecules Produced by Wounded Plant Cells which activate the T-DNA Transfer<br />
Process in Agrobacterium tumefaciens. Nature, Londres, 318: 624-629, 1985.<br />
STACHEL, S. E.; TIMMERMAN, B. & ZAMBRYSKI, P. Generation of Single-strand T-DNA Molecules During the Initial Stages<br />
of T-DNA Transfer from Agrobacterium tumefaciens to Plant Cells. Nature, Londres, 322: 706-712, 1986.<br />
TRICK, H.N.; FINER, J.J. & SAAT. Sonication Assisted Agrobacterium-mediated Transformation. Transgenic Research, Dordrecht,<br />
6: 329-337, 1997.<br />
TRICK, H.N. & FINER, J.J. Sonication Assisted Agrobacterium-mediated Transformation of Soybean [Glycine max (L.) Merrill]<br />
embryogenic suspension culture tissue. Plant Cell Reports, Berlin, 17: 482-488, 1998.<br />
UCHIMIYA, H.; HANDA, T. & BRAR, D.S. Transgenic Plants. Journal of Bacteriology, Washington, 12: 1-20, 1989.<br />
VASIL, V.; LU, C.Y. & VASIL, I.K. Histology of Somatic Embryogenesis in Cultured Immature Embryos of Maize. Protoplasma,<br />
Wien, 127: 1-8, 1985.<br />
VAUCHERET, H. et al. Transgene-induced Gene Silencing in Plants. The Plant Journal, Oxford, 16: 651-659, 1998.<br />
WILLMITZER, L.; <strong>DE</strong> BEUCKELEER, M. & LEMMERS, M. DNA from Ti Plasmid Present in Nucleus and Absent from<br />
Plastids of Crown Gall Plant Cells. Nature, Londres, 287: 359-361, 1980.<br />
ZAMBRYSKI, P. Basic Processes Underlying Agrobacterium-mediated DNA Transfer to Plant Cells. Annual Review of Genetics,<br />
Cambridge, 22: 1-30, 1988.<br />
ZAMBRYSKI, P.; TEMPE, J. & SCHELL, J. Transfer and Function of T-DNA Genes from Agrobacterium Ti and Ri Plasmids in<br />
Plants. Cell, Cambridge, 56: 193-201,1989.<br />
ZUPAN, J.R. & ZAMBRYSKI, P. Transfer of T-DNA from Agrobacterium to the Plant Cell. Plant Physiology, Rockville, 107:<br />
1.041-1.047, 1995.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 81-90 89
90 Junho • 2000
O Neotectonismo na<br />
Costa do Sudeste e do<br />
Nordeste Brasileiro<br />
Neotectonism of Southeastern and Northeastern Brazilian Coast<br />
CARLOS CÉSAR UCHÔA <strong>DE</strong> LIMA<br />
Universidade Federal de Feira de Santana<br />
uchoa@uefs.br<br />
RESUMO – A partir da década de 70, vários pesquisadores ligados à geologia estrutural e à geotectônica começaram a<br />
voltar seus interesses para as atividades tectônicas ocorridas desde o final do terciário até o quaternário (neotectônica) evidenciados<br />
pela morfologia do relevo atual e das estruturas geológicas observadas. Outro fator que começou a chamar a<br />
atenção dos geólogos e geofísicos no Brasil foi o desencadeamento de sismos, ocorridos com maior freqüência na Região<br />
Nordeste, na década de 80. Fenômenos dessa natureza têm sido relatados desde o século passado, mas o pensamento de<br />
que o território brasileiro é tectonicamente estável fez com que a comunidade científica de modo geral não relacionasse<br />
esses sismos à tectônica global. O crescente interesse pela temática fez com que esse pensamento fosse modificado, e, para<br />
aqueles que hoje estudam os processos geológicos ocorridos a partir do terciário superior, fica evidente que o tectonismo<br />
atual é um dos principais mecanismos controladores desses processos, bem como, da morfologia do relevo por eles<br />
modelados.<br />
Palavras-chave: NEOTECTÔNICA – SISMOS – PROCESSOS GEOLÓGICOS.<br />
ABSTRACT – In the 70’, geologists concerned with Structural Geology and Geotectonics began to turn their attention to<br />
Late Cenozoic tectonics events (neotectonics), evidenced by landscape morphology and geological structures. Another<br />
factor that raised interest of many researchers were successive seismic events in Northeastern Brazil, in the 80’. Seismic<br />
activities of this nature are cited since last century, but the idea that Brazilian territory is tectonically stable prevented the<br />
scientific community to relate that seismic events to global tectonics. The rising interest for the subject of Neotectonics led<br />
to the change of this belief and for those who study geological processes younger than Neogene it is evident that today’s<br />
tectonism is one of the main control of these processes, as well as of the relief morphology.<br />
Keywords: NEOTECTONICS – SEISMIC EVENTS – GEOLOGICAL PROCESSES.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 91
INTRODUÇÃO<br />
Otermo neotectônica foi utilizado pela primeira<br />
vez por Obruchev (1948), que o entende<br />
como uma sucessão de movimentos crustais<br />
recentes, desenvolvidos a partir do terciário superior<br />
e durante todo o quaternário (apud Suguio & Martin<br />
1996). Esse conjunto de processos ocorridos a<br />
partir do Neogeno determinaria as principais feições<br />
do relevo atual da Terra. Mais recentemente a International<br />
Union for Quaternary Research (INQUA)<br />
divulgou em sua homepage a definição sugerida por<br />
Pavlides (1989): “Neotectônica é o estudo de eventos<br />
tectônicos jovens, que ocorreram ou ainda estão<br />
ocorrendo em uma região qualquer, após sua orogênese<br />
ou após o seu reajustamento tectônico mais significativo”.<br />
No Brasil, apesar da palavra neotectonismo<br />
ser amplamente divulgada, Hasui (1990) utilizou<br />
o termo tectônica ressurgente para a reativação<br />
de falhamentos pré-cambrianos durante o tércioquaternário,<br />
ocorrida em território brasileiro.<br />
Apesar das pequenas variações terminológicas<br />
e conceituais em relação aos processos tectônicos<br />
mais recentes, para Saadi (1993) existe um consenso<br />
entre os diversos pesquisadores em considerar uma<br />
relação obrigatória entre a neotectônica e a configuração<br />
da morfologia atual, não levando em conta a<br />
idade das feições estudadas, que poderia remontar<br />
em até 10 7 anos. Com base no pensamento de Pavlides<br />
(1989), de que o início do período neotectônico<br />
depende das características individuais de cada<br />
ambiente geológico, Hasui (1990) relaciona a origem<br />
do neotectonismo no Brasil à migração do continente<br />
sul-americano e conseqüente abertura do<br />
Atlântico Sul, iniciada no terciário médio, por considerar<br />
que essas movimentações ocorrem até os dias<br />
atuais. Como marco desses eventos, Hasui (op. cit.)<br />
propõe o início da deposição do Grupo Barreiras e<br />
do último pacote das bacias costeiras, e o término<br />
do magmatismo em território brasileiro, há cerca de<br />
12 M.a. no Nordeste, datando portanto do Mioceno<br />
Médio.<br />
Com relação aos sismos no Brasil, até meados<br />
da década de 70 não se costumava de modo geral<br />
correlacioná-los aos movimentos tectônicos. Reflexos<br />
de sismos longínquos, acomodações de camadas,<br />
colapsos de zonas calcárias e deslizamentos de<br />
terra eram as explicações oferecidas para esses eventos<br />
(Hasui & Ponçano, 1978). Nos anos 80, a relação<br />
entre a sismicidade e os estudos neotectônicos<br />
foi ficando cada vez mais próxima, principalmente<br />
com os eventos sísmicos desencadeados no Nordeste<br />
Brasileiro.<br />
Este trabalho objetiva fazer uma resenha histórica<br />
das ocorrências sísmicas no Brasil, enfatizando<br />
aquelas ocorridas no Nordeste, bem como<br />
fazer uma síntese da evolução do conhecimento<br />
sobre o neotectonismo no Brasil Oriental. Para atingir<br />
tais metas, foi feita uma pesquisa bibliográfica<br />
que se estende desde trabalhos (artigos e/ou livros)<br />
do final do século passado até os dias atuais.<br />
REGISTRO HISTÓRICO<br />
<strong>DE</strong> TERREMOTOS NO BRASIL<br />
Distantes em tempo e espaço das discussões<br />
sobre a terminologia adequada para se referir às<br />
modificações tectônicas mais recentes (do Neogeno<br />
ao Quaternário), alguns pesquisadores no final do<br />
século passado e início deste século já se preocupavam<br />
em registrar os eventos sísmicos que ocorriam<br />
no Brasil e, em particular, no Nordeste Brasileiro.<br />
Capanema (1859) executou o primeiro trabalho<br />
sobre sismos do Brasil (apud Assumpção et al.,<br />
1980), destacando o evento de 1808 ocorrido em<br />
Açu, RN, com magnitude estimada por Ferreira &<br />
Assumpção (1983) em 4,8 mb. O próprio Imperador<br />
do Brasil, D. Pedro II, entrega em 1860 os<br />
“documentos relativos ao tremor de terra havido<br />
em Pernambuco em 1811” ao Instituto Histórico<br />
Geographico e Ethnographico do Brasil.<br />
Com relação aos tremores de terra ocorridos<br />
na Bahia, um relato mais apurado vem por parte de<br />
Theodoro Sampaio em três artigos. Sampaio (1916)<br />
descreve os movimentos sísmicos na Baía de Todos<br />
os Santos, utilizando alguns critérios para evidenciar<br />
tais eventos. O primeiro deles relaciona-se à expressão<br />
topográfica (morfologia do relevo), como conseqüência<br />
de movimentos sísmicos, já que, segundo<br />
ele, a baía encontra-se topograficamente rebaixada e<br />
com o contorno de suas costas profundamente<br />
modificado. Segundo esse autor, as falhas geológicas<br />
ressaltadas pelos paredões ou tombadores se constituem<br />
em evidências dos violentos abalos sísmicos<br />
que atingiram parte da baía em época posterior ao<br />
92 Junho • 2000
Terciário, provocando o abatimento da bacia, permitindo<br />
assim, a invasão do mar.<br />
Outro critério utilizado pelo pesquisador foi<br />
o relato de pessoas que sentiram os abalos sísmicos.<br />
O último abalo até aquela data (1916) teria ocorrido<br />
na tarde do dia seis de novembro de 1915, em<br />
que fora sentido em vários locais nas imediações da<br />
baía (entre elas, Saubara, Vila de São Francisco, Ilha<br />
das Fontes, Sul de Itaparica e Santo Amaro).<br />
Segundo o Frei Pheliberto Gille, do Convento da<br />
Vila de São Francisco, um forte abalo de terra,<br />
acompanhado de um “estrondo subterrâneo” semelhante<br />
ao do trovão, fez as paredes grossas do convento<br />
balançar. Há no mesmo trabalho, vários<br />
outros eventos citados desde o século XVII até o início<br />
do século XX. Uma dessas citações parece falar<br />
de tsunamis. Segundo o autor, em 1666 (dados de<br />
Rocha Pitta) o mar saiu de seus limites naturais por<br />
três dias alternados, cobrindo a praia de “innumeravel<br />
e miudo pescado”.<br />
Em seu trabalho de 1919, Sampaio volta a<br />
falar dos sismos na Baía de Todos os Santos,<br />
expondo uma importante e curiosa afirmação, a de<br />
que muitos ilhéus (pequenas ilhas) àquela época estavam<br />
pouco a pouco sumindo do mapa hidrográfico<br />
em conseqüência da subsidência da baía. Sampaio<br />
(1920) volta a tratar os tremores de terra, dessa vez<br />
destacando os que ocorreram em 1919 no estado da<br />
Bahia. Para maior precisão dos eventos ocorridos, ele<br />
organiza e passa a coordenar uma comissão para inspecionar<br />
pessoalmente as conseqüências do terremoto<br />
de 22/11/1919. Além de atingir algumas cidades<br />
do Recôncavo, esse evento foi sentido também<br />
em Salvador, com relato de moradores do Campo<br />
Grande, Amaralina e dos pacientes do Hospital<br />
Santa Isabel, em Nazaré. A comissão chefiada por<br />
Sampaio observou próximo ao leito do Rio Paramirim<br />
fendas recentes nos muros e paredes das casas.<br />
Na escala de intensidade, esse sismo foi classificado<br />
como um tremor muito forte, provocando inclusive<br />
queda de algumas chaminés.<br />
É interessante observar que em todos os relatos<br />
tomados por Theodoro Sampaio os eventos sísmicos<br />
são sempre precedidos de um barulho surdo<br />
semelhante a um trovão. Outras observações que<br />
chamaram a atenção do pesquisador foram os relatos<br />
de moradores próximo ao mar. Esses quase sempre<br />
falavam de um borbulhamento das águas marinhas<br />
(como se estivessem fervendo) e de um comportamento<br />
anormal dos peixes, que saltavam sem<br />
parar, como se fugissem de algo e do cheiro de<br />
enxofre em alguns locais. Esses e outros relatos fizeram<br />
com que Theodoro Sampaio não interpretasse<br />
os eventos sísmicos como simples acomodação de<br />
camadas, e sim como a ação de agentes internos ao<br />
longo do eixo sinclinal (ele e outros pesquisadores<br />
da época acreditavam que o recôncavo era um<br />
grande sinclínio) ou das linhas de fraturas ali presentes.<br />
E para finalizar a sua interpretação, Sampaio<br />
acreditava que os tremores de terra eram precursores<br />
de atividades vulcânicas e cessariam apenas<br />
quando começasse uma erupção.<br />
Antes de Sampaio, Branner (apud Ferreira &<br />
Assumpção, 1983) publicou em 1912 um artigo<br />
sobre terremotos no Brasil, citando os sismos ocorridos<br />
no sertão baiano em 1904 e 1905 e que atingiram<br />
as cidades de Senhor do Bonfim e Xique–<br />
Xique, respectivamente, dois dos mais expressivos<br />
sismos ocorridos no início do século. Outro registro<br />
importante diz respeito à sucessão de eventos (um<br />
total de cinco) ocorridos em fevereiro de 1903 em<br />
Baturité, região serrana do estado do Ceará. Em<br />
1920, Branner publicou o artigo “Recents Earthquakes<br />
in Brazil”, fazendo um apanhado dos tremores<br />
de terra ocorridos entre 1917 e 1919 no nosso<br />
país. Entre os vários sismos citados por Branner,<br />
destacam-se os acontecidos na Bahia e relatados por<br />
Sampaio (1919), além do de Maranguape, cidade<br />
próxima à Fortaleza. Com os dados fornecidos por<br />
Branner, Ferreira & Assumpção (1983) estimaram a<br />
magnitude, a partir da área afetada, em aproximadamente<br />
4,5 mb para esse último.<br />
PRIMEIRAS REFERÊNCIAS AO<br />
NEOTECTONISMO BRASILEIRO<br />
Apesar do esforço de pesquisadores do início<br />
do século em relatar e tentar mostrar as possíveis<br />
causas da sismicidade no Brasil, só na década de 70,<br />
com a implantação de grandes obras de engenharia<br />
civil (usinas hidrelétricas e termonucleares), é que o<br />
interesse pelo tema neotectonismo ganhou um<br />
campo maior de abordagem na literatura (Haberlehner,<br />
1978). Antes disso, poucos foram os trabalhos<br />
que enfatizaram essa temática.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 93
Um dos trabalhos pioneiros em abordar o tectonismo<br />
moderno no Brasil foi o de Freitas (1951).<br />
Segundo esse autor, a conformação dos planaltos, as<br />
muralhas (horsts), as fossas (grabens) e os vales de<br />
“afundimento” (rift valleys), presentes em território<br />
brasileiro, são evidências de uma tectônica cenozóica<br />
no Brasil. Entre as diversas deformações epirogênicas<br />
do escudo brasileiro, ele cita as “muralhas”<br />
que modelam as serras do Mar e da Mantiqueira<br />
como resultantes de uma ruptura do escudo cristalino,<br />
provocada por arqueamentos epirogenéticos<br />
que originariam uma sucessão de falhas escalonadas,<br />
atingindo o clímax durante o cenozóico. Para Freitas<br />
(op. cit.), as por ele chamadas deformações epirogênicas<br />
modernas do escudo brasileiro estariam<br />
ligadas aos fenômenos orogenéticos dos Andes e,<br />
secundariamente, a mecanismos de compensação<br />
isostática ocorrida pela longa denudação desde o<br />
Pré-cambriano.<br />
Outro trabalho digno de nota da década de 50<br />
é o de King (1956), intitulado “A Geomorfologia do<br />
Brasil Oriental”. Nesse importante artigo para a geomorfologia<br />
e a geologia do Brasil, o autor faz um<br />
relato do desenvolvimento da paisagem atual do leste<br />
brasileiro, relacionando-a a uma série de eventos erosivos<br />
(ciclos de denudação) mesozóicos e cenozóicos.<br />
Os ciclos de denudação cenozóicos são: Sul-americano<br />
(Terciário Inferior/Médio), Velhas (Terciário<br />
Superior) e Paraguassu (Quaternário). Na observação<br />
e descrição destes últimos, várias são as referências<br />
ligadas a um tectonismo plio-pleistocênico.<br />
Ao Ciclo Velhas, King relaciona a deposição<br />
do Grupo Barreiras, denominado por este autor “as<br />
barreiras” e descrito como uma espessa cobertura<br />
de argilas e areias pliocênicas. Essa cobertura sofreria,<br />
no final do Terciário ou no pleistoceno, esforços<br />
tectônicos que a inclinariam para o mar na direção<br />
ESE. O Grupo Barreiras nos estados da Bahia e Sergipe<br />
evidenciaria ainda pequenas dobras e falhas<br />
com um a dois metros de delocamento, frutos desses<br />
eventos tectônicos. Com relação à disposição<br />
dos rios, o autor ressalta o Vale do São Francisco<br />
como resultante de uma ruptura tectônica a partir<br />
da Cadeia do Espinhaço, que representaria o estágio<br />
máximo de elevação do interior continental desde a<br />
zona costeira.<br />
Um outro trabalho importante ligado à geomorfologia,<br />
e com algumas observações estruturais<br />
que implicam um tectonismo ativo durante o terciário<br />
e o quaternário, é o de Tricart e Silva (1968).<br />
Apesar de enfocar principalmente a morfogênese do<br />
relevo atual como conseqüência das variações climáticas<br />
e mudanças do nível do mar, algumas referências<br />
apontam para a influência tectônica na conformação<br />
desse relevo. No livro Estudos de Geomorfologia<br />
da Bahia e Sergipe (p. 57), os autores chamam a<br />
atenção para as deformações observadas na superfície<br />
pós-Barreiras, bem como na base dessa “formação”,<br />
na região litorânea próxima à cidade de Salvador.<br />
Considerando o Grupo Barreiras como de<br />
idade pliocênica, pode-se inferir, a partir dessa observação,<br />
uma ação tectônica desde o final do Terciário.<br />
Ponte (1969) desenvolve um trabalho de interpretação<br />
foto-geomorfológica na Bacia Alagoas-Sergipe,<br />
aplicando a técnica denominada análise morfotectônica<br />
ou morfo-estrutural. Essa técnica consiste<br />
em avaliar o estudo do microrrelevo e da rede hidrográfica,<br />
correlacionando-a com o delineamento estrutural<br />
subjacente. Nas áreas onde afloram os sedimentos<br />
do Grupo Barreiras, Ponte (op. cit.) observou variações<br />
de espessura desse complexo sedimentar<br />
(espessamento nos baixos regionais e adelgaçamento<br />
sobre os altos estruturais), sugerindo que as estruturas<br />
delineadoras desses desníveis topográficos (falhas)<br />
estiveram ativas durante sua deposição, implicando<br />
um tectonismo ativo no Terciário Superior. Várias feições<br />
observadas por esse autor na distribuição da drenagem<br />
pressupõem um controle tectônico dessas feições.<br />
O Rio São Francisco, por exemplo, que possui<br />
próximo à desembocadura uma tendência de seguir<br />
para SE, sofre duas deflexões, uma antes da cidade de<br />
Penedo (AL), para NE, e outra mais perto da costa,<br />
para Sul. Esse caso reflete o controle estrutural com<br />
os falhamentos atingindo possivelmente os sedimentos<br />
quaternários dessa planície.<br />
CAUSAS E EVIDÊNCIAS<br />
DO NEOTECTONISMO<br />
Nesse tópico, tentar-se-á separar os trabalhos<br />
que advogam a causa da neotectônica como um dos<br />
agentes modeladores do relevo, a partir das evidências<br />
bases em que eles se apóiam, sejam elas sismológicas,<br />
morfogenéticas, sejam aquelas ligadas a linhas<br />
94 Junho • 2000
de fraqueza estrutural e eventos tectono-termais.<br />
Muitos trabalhos baseiam suas interpretações em<br />
mais de um tipo de evidência, ressaltando, no<br />
entanto, um principal. Por isso, a divisão feita aqui<br />
representa tão somente uma tentativa de melhorar o<br />
entendimento sobre as várias evidências do tectonismo<br />
cenozóico, procurando enfatizar a dinâmica<br />
causal desses eventos.<br />
Evidências Sismológicas<br />
Uma associação entre o neotectonismo e a sismicidade<br />
natural é feita por Hasui & Ponçano<br />
(1978), que consideram os sismos recentes ocorridos<br />
no Brasil, e divulgados pela imprensa e por<br />
alguns trabalhos científicos, como evidências de um<br />
tectonismo cenozóico brasileiro. Segundo esses<br />
autores, há uma relação direta entre os sismos verificados<br />
no Brasil e os movimentos tectônicos de caráter<br />
global. Eles atribuem às geossuturas proterozóicas<br />
(zonas de descontinuidades que atingem o<br />
manto e permitem a ascensão de materiais máficos e<br />
ultramáficos) o papel de zonas frágeis, nas quais as<br />
forças tectônicas atuam, originando assim os sismos<br />
(fig.1). Haberlehner (1978) identifica diversas regiões<br />
do Brasil onde há concentração de atividade sísmica<br />
e as denomina províncias sismotectônicas.<br />
Para esse autor, existiriam dez dessas províncias,<br />
de norte a sul do país, em zonas de falhas ativas.<br />
Assumpção et al. (1980) fazem um levantamento<br />
dos principais sismos ocorridos no sudeste,<br />
ressaltando a sua magnitude sem, no entanto, apresentarem<br />
qualquer interpretação tectônica. Ferreira<br />
& Assumpção (1983) desenvolvem um trabalho<br />
semelhante, só que bem mais abrangente em tempo<br />
para o Nordeste, e concluem que a relação entre os<br />
epicentros dos sismos e os lineamentos presentes<br />
naquela região não é muito clara. Já em caráter regional,<br />
Hasui et al. (1978a) relacionam a sismicidade<br />
na região das serras da Mantiqueira e do Mar,<br />
englobando o leste de São Paulo e Rio de Janeiro e<br />
sul de Minas Gerais, com a reativação de falhas proterozóicas<br />
de direção NE/SW ali existentes, mostrando<br />
várias localidades afetadas pelos sismos.<br />
Evidências por Falhas e<br />
Eventos Tectono-Termais<br />
Estudando as bacias marginais brasileiras,<br />
Asmus & Ponte (1973) concluíram que o tectonismo<br />
nessas bacias persistiu até o Terciário, principalmente<br />
ao longo de falhas reativadas. Essas reativações<br />
ocorreriam por movimentações epirogenéticas<br />
desde o final do Cretáceo até o Plioceno-Pleistoceno.<br />
Hasui et al. (1978b), em seu estudo sobre as bacias<br />
tafrogênicas continentais do sudeste brasileiro, relacionaram<br />
os depósitos sedimentares daquela região<br />
à tectônica regional desenvolvida desde o Ciclo Brasiliano<br />
(Proterozóico Superior), culminando com a<br />
implantação de bacias continentais no Terciário<br />
Superior e/ou Pleistoceno pela reativação de falhas<br />
antigas.<br />
Fig. 1. Relação entre as geossuturas proterozóicas e os<br />
sismos ocorridos no Brasil. O mapa destaca a concentração<br />
de sismos no Nordeste (zona sismogênica<br />
de Fortaleza e Cráton do São Francisco) e<br />
Sudeste do Brasil (região das Serras do Mar e da<br />
Mantiqueira). (Modificado de Hasui & Ponçano,<br />
1978).<br />
Asmus & Ferrari (1978) falam de um tectonismo<br />
cenozóico que atingiu a Região Sudeste e<br />
parte da Região Sul do Brasil, onde predominou a<br />
reativação de linhas de fraqueza pré-cambrianas<br />
entre o Paleoceno e o Plioceno, com rejeitos de até<br />
3.000 m. Esse tectonismo estaria associado a processos<br />
tectono-térmicos iniciados no Permiano/Triássico,<br />
que teriam ocasionado considerável soerguimento<br />
crustal (estágio pré-rift). A partir do Eocretáceo<br />
haveria uma ruptura da crosta continental como<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 95
conseqüência de uma nova manifestação tectonomagmática<br />
(fase rift). Esses eventos tectono-térmicos<br />
teriam provocado um desequilíbrio isostático entre<br />
as partes elevadas (porção continental) e as regiões<br />
oceânicas. No terciário, esses esforços atingiriam<br />
dimensão suficiente para reativar as linhas de fraquezas<br />
pré-cambrianas (falhamentos), expressas hoje em<br />
dia pelas escarpas da Serra do Mar e da Mantiqueira.<br />
Esse tectonismo cenozóico originaria uma seqüência<br />
de falhas escalonadas com os blocos resultantes desses<br />
falhamentos sendo basculados, configurando<br />
uma disposição de semi-grabens (fig. 2).<br />
Hasui (1990) é o primeiro a colocar de forma<br />
mais clara a relação entre o neotectonismo no Brasil<br />
e a reativação de falhas e outras linhas de fraquezas<br />
(zonas de cisalhamento dúctil, por exemplo), baseando<br />
suas afirmações no fato de que é mais fácil reativar<br />
uma linha de fraqueza preexistente do que<br />
nuclear uma nova. Seguindo essa linha de raciocínio,<br />
Hasui (op. cit.) afirma que os processos geológicos<br />
ocorridos desde o Proterozóico até o Recente<br />
são controlados por linhas de suturas pré-cambrianas,<br />
constituindo zonas de fraquezas, que separam a<br />
crosta em vários blocos. Esses processos seriam<br />
desencadeados pela tectônica global que, agindo<br />
sobre as linhas de suturas que bordejam os blocos<br />
crustais, provocariam o que ele denominou de tectônica<br />
ressurgente. Szatmari (1999) afirma que os<br />
processos tectônicos ocorridos tanto no Cretáceo<br />
como no Cenozóico definem-se pelo arranjo crustal<br />
pré-cambriano.<br />
Evidências a partir de<br />
Tensões Intraplaca<br />
Bezerra (1999) faz um esboço das principais<br />
falhas geradas ou reativadas durante o Benozóico na<br />
Bacia Potiguar. Elas possuem um caráter predominantemente<br />
transcorrente, são comumente segmentadas<br />
e mostram relações sistemáticas de truncamento<br />
(cross cutting), o que evidencia sua contemporaneidade.<br />
As falhas que atravessam as rochas<br />
quaternárias e terciárias controlam a espessura dos<br />
depósitos sedimentares resultantes do movimento<br />
delas, bem como o padrão de drenagem. A falha<br />
mais extensa é a de Carnaubais, estendendo-se pelos<br />
estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. A leste<br />
dessa falha, depósitos de intermaré elevados, com a<br />
presença de bivalvos marinhos em posição de crescimento,<br />
mostram que o movimento ocorreu até o<br />
holoceno com um deslocamento vertical de aproximadamente<br />
4 m (Bezerra et al., 1998; Bezerra,<br />
1999). A falha de Jundiaí corta granitos pré-cambrianos<br />
e verticalmente desloca a Base do Grupo Barreiras<br />
em até 260 m.<br />
Fig. 2. Perfil esquemático mostrando os falhamentos escalonados<br />
e basculamento de blocos resultantes do<br />
tectonismo cenozóico que atingiu o Sudeste do<br />
Brasil (modificado de Asmus & Ferrari, 1978).<br />
Bezerra (1999) conclui que a paleosismicidade<br />
no Nordeste do Brasil tem ocorrido desde o<br />
Plioceno em intensidade tectônica maior do que os<br />
dados instrumentais têm revelado. O stress principal<br />
seria de compressão, orientado na direção E-W, o<br />
que originaria as falhas NE e NW observadas<br />
(Bezerra & Amaro, 1998).<br />
Evidências Morfogenéticas<br />
Martin et al. (1986) analisaram as principais<br />
evidências geomórficas e geológicas indicativas de<br />
atividades neotectônicas na Bacia do Recôncavo e<br />
parte do litoral baiano ao sul dessa bacia. Entre as<br />
evidências geomórficas, os autores ratificam as afirmações<br />
de King (1956) e Tricart & Silva (1968)<br />
sobre a rede hidrográfica embrionária em direção à<br />
Baía de Todos os Santos, sugerindo uma origem<br />
recente para essa baía. Essas evidências são mais<br />
marcantes na parte oeste da bacia, limitada pela<br />
falha de Maragogipe. Nesse local, um desnível de<br />
100 m de altura mostra que os rios ainda não tiveram<br />
tempo de escavar seus leitos, aparecendo<br />
pequenas cachoeiras. Além disso, depressões ao pé<br />
da falha, ocupadas por pequenas baías e canais de<br />
96 Junho • 2000
maré, sugerem afundamentos recentes ao longo do<br />
plano de falha de Maragogipe. As evidências geológicas<br />
relacionam-se aos desnivelamentos das linhas<br />
de costa pleistocênicas e holocênicas. Estas últimas<br />
foram associadas à curva de variação do nível relativo<br />
do mar, nos últimos 7.000 anos, na região de<br />
Salvador. A integração dos dados geomórficos e<br />
geológicos permitiu a delimitação da Bacia do<br />
Recôncavo em compartimentos limitados por falhas<br />
mais ou menos paralelas (fig. 3).<br />
Fig. 3. Compartimentação da Bacia do Recôncavo e de<br />
parte do litoral sul da Bahia em função dos dados<br />
fornecidos pela morfologia e pelos desnivelamentos<br />
holocênicos. A história de cada compartimento<br />
diferencia-se pela maior ou menor subsidência<br />
durante o Quaternário. O compartimento n.º 2, por<br />
exemplo, esteve sujeito à subsidência geral mais<br />
importante desse período (fonte: Martin et al.,<br />
1986).<br />
O GRUPO BARREIRAS E O SEU<br />
SIGNIFICADO NEOTECTÔNICO<br />
Muitas evidências de neotectonismo foram<br />
observadas por Silva & Tricart (1980) nos sedimentos<br />
do Grupo Barreiras, no litoral sul da Bahia. A<br />
primeira delas seria o basculamento suave para<br />
sudeste desse grupo, que, segundo esses autores, se<br />
prolongaria por toda a plataforma continental.<br />
Coincidências entre a disposição das falésias e as<br />
falhas cretácicas foram observadas próximo a<br />
Valença, mostrando relação entre alinhamentos<br />
mais antigos e a morfologia atual das escarpas litorâneas.<br />
Além disso, vários alinhamentos de vales e<br />
áreas deprimidas estão direcionados segundo as orientações<br />
de falhamentos do embasamento Pré-cambriano,<br />
o que pode representar uma reativação<br />
recente dessas linhas de fraqueza.<br />
Para a região litorânea entre Porto Seguro e<br />
Santa Cruz de Cabrália, Mendes et al. (1987) e Bittencourt<br />
et al. (1999) mostram, através de imagem<br />
de radar e de fotografia aérea, respectivamente, um<br />
nítido basculamento para NE da superfície pós-Barreiras,<br />
evidenciado pelo alinhamento do padrão de<br />
drenagem do bloco situado a norte do Vale do Buranhém,<br />
onde o rio homônimo bordeja o plano de<br />
falha (fig. 4). Lima & Vilas Boas (1999), estudando<br />
as falésias do Grupo Barreiras no litoral sul baiano,<br />
citam algumas evidências de neotectonismo associadas<br />
a esse complexo sedimentar. O sistema de lineamentos<br />
nessa região, por exemplo, possui um paralelismo<br />
com a linha de costa, indicando provavelmente<br />
um controle estrutural na deposição dos sedimentos<br />
com possível reativação das falhas pertencentes<br />
a esses lineamentos (Lima & Vila Boas,<br />
1999). Além disso, foram observadas zonas de fraturas<br />
bem definidas que, por não perturbarem a<br />
laminação original e cortarem todo o pacote sedimentar,<br />
foram interpretadas como de origem pósdeposicional.<br />
Outras feições importantes observadas<br />
foram a presença de diques areno-granulosos de<br />
espessura decimétrica, imersos em argilitos, e o basculamento<br />
para NE em várias porções da superfície<br />
atual acima do Barreiras.<br />
Bittencourt et al. (1999) e Amaro et al. (1999)<br />
relacionam os lineamentos (falhas) pré-terciários do<br />
litoral baiano e potiguar, respectivamente, com o<br />
delineamento costeiro atual, representado principal-<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 97
mente pelas falésias do Grupo Barreiras. Souza et al.<br />
(1999) fazem um levantamento das deformações<br />
impressas nesse grupo, no litoral cearense, tais como<br />
juntas verticais, falhas e dobras do tipo roll-over,<br />
caracterizando-as como estruturas sin-sedimentares,<br />
resultantes de um tectonismo ativo do Mioceno<br />
ao Pleistoceno. Lima et al. (1990) estabelecem uma<br />
relação entre o neotectonismo, as estruturas geológicas<br />
Pré-terciárias e o padrão de afloramento do<br />
Grupo Barreiras na Bacia Potiguar, mostrando o<br />
condicionamento da morfologia atual dos tabuleiros<br />
pertencentes a esse grupo à estruturação dos<br />
horizontes pré-Barreiras e às forças de compressão e<br />
tração que atingem a área atualmente. Segundo<br />
esses autores, as janelas estratigráficas produzidas<br />
pela erosão ao longo dos rios são, na maioria,<br />
subparalelas ao eixo p (compressão) e subperpendiculares<br />
ao eixo t (tração relativa), o que implica uma<br />
relação direta entre essas forças e a configuração das<br />
falésias pertencentes ao Grupo Barreiras.<br />
251 sismos no Brasil entre 1560 e 1977, sendo que,<br />
destes, pelo menos 138 não coincidem com os citados<br />
por Ferreira & Assumpção (1983) e por<br />
Assumpção et al. (1980). Somando-se a esses dados,<br />
estão os sucessivos eventos sísmicos na região de<br />
João Câmara, RN, entre 1986 e 1989, que,<br />
segundo Bezerra (1999), incluíram mais de 14.000<br />
abalos, com 15 deles possuindo magnitude entre<br />
4,1 e 5,1 na escala Richter.<br />
Fig. 4. Imagem de radar mostrando a deflexão da drenagem<br />
a partir do basculamento para NE de um bloco<br />
situado entre as cidades de Santa Cruz de Cabrália<br />
e Porto Seguro, Bahia. (Mendes et al., 1987).<br />
DISCUSSÃO<br />
Apesar do tema neotectonismo ter sido relegado<br />
ao descrédito, durante muito tempo, pela<br />
comunidade científica brasileira, por acreditar que<br />
um país bordejado por uma margem continental do<br />
tipo Atlântica (passiva) se constitui em uma região<br />
extremamente estável, no decorrer desse século, as<br />
evidências encontradas e destacadas por alguns<br />
expoentes da comunidade geológica fizeram com<br />
que, aos poucos, esse pensamento fosse sendo<br />
modificado.<br />
Os sismos estudados hoje em dia são muito<br />
mais comuns do que a princípio se poderia esperar.<br />
O relato desses sismos poderia ainda ser em quantidade<br />
bem maior, já que durante muito tempo a<br />
população se concentrou nas regiões litorâneas e os<br />
instrumentos fornecedores de dados sismológicos só<br />
há pouco mais de duas décadas foram instalados em<br />
nosso país (Hasui & Ponçano, 1978). É fato que os<br />
eventos sísmicos estão presentes e, segundo o levantamento<br />
de Ferreira & Assumpção (1983), só para<br />
o Nordeste Brasileiro, entre o século XVII e o início<br />
da década de 80 do século XX, foram catalogados<br />
253 sismos. Assumpção et al. (1980) descrevem um<br />
total de 21 sismos na Região Sudeste entre 1861 e<br />
1979, e Haberlehner (1978) cita a ocorrência de<br />
Outros dados sobre a ação neotectônica em<br />
nosso país são os relacionados à estruturação geológica<br />
adquirida ao longo de sua formação e que deixou,<br />
como legado, zonas de suturas pré-cambrianas<br />
que hoje, sob a ação da tectônica global, se constituem<br />
em zonas de fraqueza (Hasui & Ponçano,<br />
1978; Hasui, 1990). Sabe-se hoje em dia que nas<br />
regiões intraplaca a tensão horizontal máxima dispõe-se<br />
paralelamente à direção de movimentação<br />
absoluta das placas litosféricas, o que pressupõe<br />
regimes tectônicos compressionais nessas regiões,<br />
provocando regimes de falhas reversas ou falhas de<br />
rejeito lateral como as observadas, por exemplo, na<br />
Bacia Potiguar (Lima Neto, 1999). A ação das forças<br />
compressivas intraplaca, atuando sobre as fraquezas<br />
estruturais, são as responsáveis pela reativação e,<br />
conseqüentemente, pelos deslocamentos de blocos e<br />
pela ação sísmica por eles provocada. É natural, no<br />
entanto, que existam algumas particularidades regionais<br />
responsáveis por ligeiras alterações no direciona-<br />
98 Junho • 2000
mento dessas tensões e, por conseguinte, das estruturas<br />
criadas.<br />
Para o Nordeste, por exemplo, as observações<br />
de Lima (1999) estão em desacordo com a previsão<br />
do direcionamento da tensão horizontal<br />
máxima e, segundo esse autor, fontes locais como<br />
carga de sedimentos e diferenças de densidade da<br />
litosfera têm sido subestimadas nos modelamentos<br />
efetuados. Áreas onde há o desenvolvimento de<br />
falhas normais na Bacia de Campos indicam localmente<br />
um regime distensivo e, segundo Lima Neto<br />
(1999), esse predomínio relaciona-se a um sistema<br />
ainda em compactação sobre uma camada de sal<br />
(tectônica de sal ou halocinética). Bittencourt et al.<br />
(1999) falam de um controle flexural em toda a<br />
margem brasileira para a configuração da zona costeira.<br />
A carga de sedimentos depositada nas margens<br />
continentais geraria forças extensionais que<br />
reativariam falhas antigas e poderiam nuclear novas<br />
falhas. Esse pensamento pode ser encarado como<br />
uma particularidade para algumas áreas onde a<br />
carga sedimentar é significativa, já que em algumas<br />
porções dessas margens a quantidade de sedimentos<br />
oriundos do continente é muito pequena, gerando<br />
plataformas bastante estreitas.<br />
Além dos sismos e da análise estrutural, as<br />
anomalias morfológicas constituem dados que, há<br />
muito tempo, vêm chamando a atenção dos pesquisadores.<br />
Sampaio (1916) relatou uma topografia<br />
rebaixada para a Baía de Todos os Santos e observava<br />
que os seus paredões eram conseqüência dos<br />
sismos (tectonismo) pós–terciário. Freitas (1951)<br />
destacou como evidência de tectonismo cenozóico<br />
as escarpas que modelam as serras do Mar e da<br />
Mantiqueira e foi mais além ao afirmar a correlação<br />
entre os fenômenos epirogenéticos brasileiros com<br />
o orogenético dos Andes, fato aceito atualmente<br />
pela comunidade científica. Lima (1999), por exemplo,<br />
relaciona a compressão intraplaca à associações<br />
mecânicas existentes entre a convergência Nazca-<br />
América do Sul e a deformação andina.<br />
Todos os dados mostrados sobre a sismicidade<br />
e as evidências morfogenéticas e estruturais, apesar<br />
de esclarecerem o quanto o tectonismo atuou e atua<br />
em território brasileiro, não são suficientes, entretanto,<br />
para comparar a ação tectônica em nosso país<br />
com aquela desencadeada em regiões situadas nos<br />
limites de placas tectônicas. Isso assegura a estabilidade<br />
tectônica relativa do território brasileiro, o que<br />
não implica, no entanto, inatividade tectônica.<br />
CONCLUSÕES<br />
Algumas conclusões podem ser sumarizadas<br />
dentro do estudo executado. A principal delas talvez<br />
seja a concordância quase que geral sobre o comportamento<br />
do esforço intraplaca, interpretado pela<br />
maioria dos pesquisadores como de origem compressiva.<br />
Apesar desse consenso, variações locais,<br />
como carga de sedimento, diferenças de densidade<br />
da litosfera, posicionamento original das falhas précambrianas<br />
e influência de eventos termais, podem<br />
alterar localmente o direcionamento dessas forças.<br />
Outras conclusões importantes de serem relatadas<br />
são:<br />
• As zonas sismogênicas presentes em nosso país<br />
associam-se invariavelmente a regiões onde geossuturas<br />
pré-cambrianas ocorrem. Isso implica uma<br />
relação direta entre a sismicidade e o neotectonismo.<br />
• A movimentação da placa sul americana para<br />
W/NW é o principal fator das ocorrências tectônicas<br />
em nosso país. Vale lembrar que o embasamento<br />
do território brasileiro possui intrincado<br />
sistema de lineamentos (zonas de fraqueza) que,<br />
sob o esforço da tectônica global, pode sofrer<br />
deslocamentos diferenciais. Dessa forma, é possível<br />
haver rebaixamento em algumas regiões e<br />
soerguimento em outras. Toda a deposição do<br />
Grupo Barreiras e o seu modelamento posterior<br />
representam o produto de eventos neotectônicos.<br />
Ao longo do litoral brasileiro, suas falésias<br />
expressam variações locais, a depender da proximidade<br />
ou não de zonas sismogênicas, do sistema<br />
de falhas e fraturas associadas, além da<br />
história da tectônica recente da região.<br />
• Outras feições importantes, resultantes ou influenciadas<br />
pela ação do neotectonismo em nosso<br />
país, são as escarpas que margeiam as Serras do<br />
Mar e da Mantiqueira, o delineamento do Vale<br />
do São Francisco e, em áreas localizadas, o espessamento<br />
de depósitos quaternários costeiros.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 99
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AMARO, V.E. et al. Reativação Tectônica Meso-cenozóica das Estruturas Brasilianas na Faixa Litorânea Oriental do Nordeste<br />
do Brasil - com base dos dados gravimétricos, imagens Landsat 5-TM e GEMS/banda X. Anais do SBG/SNET,<br />
Lençóis, 7 (4): pp. 46-49, 1999.<br />
ASMUS, H.E. & FERRARI, A.L. Hipótese sobre a causa do tectonismo cenozóico na região Sudeste do Brasil. In: Aspectos<br />
Estruturais da Margem Continental Leste e Sudeste do Brasil. Rio de Janeiro: PETROBRÁS, pp. 75-88, 1978.<br />
ASMUS, H.E. & PONTE, F.C. The Brazilian Marginal Basins. In: NAIRN, A.E.M. & STEHLI, F.G. (orgs.). The Ocean Basins<br />
and Margins. The South Atlantic. Nova York: Plenum Press, pp. 87-133, 1973, v. 1.<br />
ASSUMPÇÃO, M.S. et al. Sismicidade do Sudeste do Brasil. Anais do SBG (Congresso Brasileiro de Geologia), Camboriú, 2: pp.<br />
1075-1092, 1980.<br />
BEZERRA, F.H.R. Intraplate paleoseimicity in Northeastern Brazil. Anais do SBG, Lençóis, 7 (4): pp. 12-16, 1999.<br />
BEZERRA, F.H.R. & AMARO, V.E. Sensoriamento Remoto Aplicado à Neotectônica da Faixa Litorânea Oriental do Estado<br />
do Rio Grande do Norte. Simp. Brasil. de Sens. Rem. 9, Santos, CD-rom, 1998.<br />
BEZERRA, F.H.R. et al. Holocene Coastal Tectonics in NE Brazil. In: STEWART, I.S. & VITA –FINZI, C. (orgs.). Coastal Tectonics.<br />
Londres: Geological Society, Special Publications, pp. 279-293, 1998, v. 146.<br />
BITTENCOURT, A.C.S.P et al. Flexure as a tectonic control on the large scale geomorphic characteristics of the eastern Brazil<br />
coastal zone. Journ of Coast Res. 15 (2): pp. 505-519, 1999.<br />
BRANNER, J.C. Recents Earthquakes in Brazil. Seism. Soc. Am. Bull., 10 (2): pp.90-104, 1920.<br />
FERREIRA, J.M. & ASSUMPÇÃO, M.S. Sismicidade do Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Geof., 1: pp. 67-88, 1983.<br />
FREITAS, R.O. Ensaio Sobre o Relevo Tectônico do Brasil. Rev. Bras. de Geograf., 2: pp. 171-221, 1951.<br />
HABERLEHNER, H. Análise Sismotectônica do Brasil: notas explicativas sobre o mapa sismotectônico do Brasil e regiões correlacionadas.<br />
ABGE, Anais do Cong. Bras. Geol. Eng., São Paulo, 1: pp. 297-329, 1978.<br />
HASUI, Y. Neotectônica e Aspectos Fundamentais da Tectônica Ressurgente no Brasil. SBG/MG. Workshop sobre Neotectônica<br />
e Sedimentação Cenozóica Continental no Sudeste Brasileiro, Belo Horizonte, 1: pp. 1-31, 1990.<br />
HASUI, Y. & PONÇANO, W.L. Geossuturas e Sismicidade no Brasil. ABGE, Anais do Cong. Bras. Geol. Eng., São Paulo, 1: pp.<br />
331-338, 1978.<br />
HASUI, Y. et al. Os Falhamentos e a Sismicidade Natural da Região das Serras da Mantiqueira e do Mar. ABGE, Anais do Cong.<br />
Bras. Geol. Eng., São Paulo, 1: pp. 353-357, 1978a.<br />
______. Sobre as Bacias Tafrogênicas Continentais do Sudeste Brasileiro. SBG, Anais do Congresso Brasileiro de Geologia, Recife,<br />
1: pp. 382-392, 1978b.<br />
KING, L.C. A Geomorfologia do Brasil Oriental. Rev. Bras. Geogr., 2: pp. 147-265, 1956.<br />
LIMA, C.C. Inversão Nascente de Bacias: expressões topográficas e estruturais e implicações. SBG. Anais do Simp. Nac. Est.<br />
Tect., Lençóis, 4: pp. 29-30, 1999.<br />
LIMA, C.C. et al. O Grupo Barreiras na Bacia Potiguar: relações entre o padrão de afloramentos, estruturas pré-Barreiras e neotectonismo.<br />
SBG. Anais do Congresso Brasileiro de Geologia, Natal, 2: pp. 607-620, 1990.<br />
LIMA, C.C.U. & VILAS BOAS, G.S. Evidências de Neotectonismo nas Falésias do Grupo Barreiras, litoral sul da Bahia Anais<br />
VII Congresso da ABEQUA, Porto Seguro, Viiabequa_zco999.pdf., 1999.<br />
LIMA NETO, F.F. O Regime Atual de Tensões nas Bacias Sedimentares Brasileiras. SBG, Anais Simp. Nac. Est. Tect., Lençóis, 4:<br />
pp. 25-28, 1999.<br />
MARTIN, L. et al. Neotectonic Movements on a Passive Continental Margin: Salvador region, Brazil. Neotectonics, 1: pp. 87-<br />
103, 1986.<br />
MEN<strong>DE</strong>S, I.A. et al. Geomorfologia. Projeto RADAMBRASIL. Folha SE 24, RIO DOCE. Geologia, Pedologia, Vegetação, Uso<br />
Potencial da Terra. Rio de Janeiro, Levantamento de Recursos Naturais, 34: pp. 173-228, 1987.<br />
PAVLI<strong>DE</strong>S, S.B. Looking for a Definition of Neotectonics. 1989. Citação eletrônica [on line] 1999. Disponível: .<br />
PONTE, F.C. Estudo Morfoestrutural da Bacia Sergipe-Alagoas. Bol. Tec. Petrob., 12: pp. 439-474, 1969.<br />
SAADI, A. Neotectônica da Plataforma Brasileira: esboço e interpretação preliminares. Geonomos, 1 (1): pp. 1-15, 1993.<br />
SAMPAIO, T. Movimentos Sísmicos na Bahia de Todos os Santos. Anais Cong. Bras. de Geog., 5: pp. 357-367, 1916.<br />
___________. Tremores de Terra no Recôncavo da Bahia de Todos os Santos. Rev. do Inst. Geog. Hist. da Bahia, 45: pp. 211-<br />
222, 1919.<br />
___________. Tremores de Terra na Bahia em 1919. Rev. do Inst. Geog. Hist. da Bahia, 46: pp. 183-195, 1920.<br />
SILVA, T.C. & TRICART, J. Problemas do Quaternário do Litoral Sul da Bahia. SBG. Anais Cong. Bras. Geol., Camboriú, 1: pp.<br />
603-606, 1980.<br />
100 Junho • 2000
SOUZA, D. et al. Deformação Sin e Pós-formação Barreiras na Região de Ponta Grossa (Ipacuí, CE), Litoral Ocidental da Bacia<br />
Potiguar. SNET, Lençóis, 4: pp. 90-93, 1999.<br />
SZATMARI, P. Role of Tectonic and Halotectonic Processes in Shaping the Brazilian Continental Margin. Anais Simp. Nac. Est.<br />
Tect., Lençóis, 4: pp. 3-5, 1999.<br />
SUGUIO, K. & MARTIN, L. The Role of Neotectonics in the Evolution of the Brazilian Coast. Geonomos, 4 (2): pp. 45-53,<br />
1996.<br />
TRICART, J. & SILVA, T.C. Estudos de Geomorfologia da Bahia e Sergipe. Salvador: Fundação Desenvolvimento da Ciência na<br />
Bahia, p. 167, 1968.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 91-102 101
102 Junho • 2000
<strong>Revista</strong> de Ciência & Tecnologia<br />
CORPO <strong>DE</strong> CONSULTORES<br />
Arquitetura e Urbanismo<br />
João Moreno (<strong>Unimep</strong>)<br />
Renata Faccini de Camargo (UNIMEP)<br />
Ciências Econômicas<br />
Antônio Carlos Sacilotto (UNIMEP)<br />
Computação/Informática<br />
Maria de Fátima Nepomucemo (UNIMEP)<br />
Engenharia Civil<br />
Sueli do Carmo Bettine( Puccamp)<br />
Engenharia de Alimentos<br />
Engenharia de Produção<br />
Alceu Gomes Filho (UFSCar)<br />
Edjar Martins Telles<br />
Felipe Araujo Calarge (UNIMEP)<br />
Gilberto Martins (UNIMEP)<br />
Jefferson Ozone Mortatti (USP)<br />
João Alberto Camarotto (UFScar)<br />
José Antonio Arantes Salles (UNIMEP)<br />
José Arnaldo Barra Montevechi (EFEI)<br />
José Luiz Duarte Ribeiro (UFRGS)<br />
Klaus Schützer (UNIMEP)<br />
Luis Carlos da Cunha Colombo (UNIMEP)<br />
Luiz César Carpinetti<br />
Milton Vieira Júnior (UNIMEP)<br />
Mitsuo Serikawa (UNIMEP)<br />
Nelson Carvalho Maestrelli (UNIMEP)<br />
Nelson Nepomuceno (UNIMEP)<br />
Neócles Alves Pereira (UNIMEP)<br />
Nivaldo Lemos Coppini (UNIMEP)<br />
Paulo C. Miguel (UNIMEP)<br />
Paulo Corrêa Lima (Unicamp)<br />
Paulo Jorge Figueiro (UNIMEP)<br />
Rosângela Maria Vanalle (UNIMEP)<br />
Sílvio Roberto Ignácio Pires (UNIMEP)<br />
Engenharia Elétrica<br />
Afonso de Oliveira Alonso (Unicamp)<br />
Yaro Burian Júnior (Unicamp)<br />
Engenharia Mecânica<br />
Álisson Rocha Machado (UFU)<br />
Álvaro José Abackerli (UNIMEP)<br />
Anselmo Eduardo Diniz (Unicamp)<br />
Antonio Batocchio (Unicamp)<br />
Benedito de Moraes Purquério<br />
Benedito Di Giacomo (USP)<br />
Carlos Alberto Gasparetto (Unicamp)<br />
Eduardo Vila Gonçalves Filho EESUSP<br />
Francisco José de Almeida (UNIMEP)<br />
Marco Stipkovic Filho (EPUSP)<br />
Olivio Novaski (Unicamp)<br />
Reginaldo Texeira Coelho (EESCUSP)<br />
Rosalvo Tiago Ruffino (USP)<br />
Roxana Maria Martinez Orrego (UNIMEP)<br />
Waldir Luiz Ribeiro Gallo (Unicamp)<br />
Física<br />
Ana Elisa Vives Carneiro (UNIMEP)<br />
Antônio Ludovico Beraldo (Unicamp)<br />
Aparecido dos Reis Coutinho (UNIMEP)<br />
Lorival Fante Júnior (UNIMEP)<br />
Maria Guiomar Carneiro Tornazello (UNIMEP)<br />
Milton Grecchi (UNIMEP)<br />
Roseana da Exaltação Trevisan (Unicamp)<br />
Matemática e Estatística<br />
Angela M.C. Jorge Corrêa (UNIMEP)<br />
Armando M. Infante (Unicamp)<br />
Maria Imaculada Monte Bello (UNIMEP)<br />
Waldo Luis de Lucca (UNIMEP)<br />
Maria Cristina Aranda Batocchio (Unicamp)<br />
Química e Engenharia Química<br />
Ana Célia Ruggiero (UNIMEP)<br />
Franklina Maria Bragion de Toledo (FMEP)<br />
Ines Joekes (Unicamp)<br />
Sandra Maria Boscolo Brienza (UNIMEP)<br />
Sônia Maria Malmonge (UNIMEP)<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 103-104 103
<strong>Revista</strong> de Ciência & Tecnologia<br />
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO<br />
PRINCÍPIOS GERAIS<br />
1. A REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA<br />
tem por objetivo publicar trabalhos que contribuam<br />
para o desenvolvimento científico e tecnológico<br />
nas áreas de Ciências Exatas, Engenharia,<br />
Tecnologia e Arquitetura e Urbanismo.<br />
2. Os temas podem ser apresentados através dos<br />
seguintes tipos de artigos:<br />
• ensaio: artigo teórico sobre determinado<br />
tema;<br />
• relato: artigo sobre pesquisa experimental<br />
concluída ou em andamento;<br />
• revisão de literatura: levantamento do estágio<br />
atual de determinado assunto e compilação<br />
crítica de dados experimentais e propostas<br />
teóricas recentes;<br />
• resenha: comentário crítico de livros e/ou<br />
teses;<br />
• carta: comentário a artigos relevantes publicados<br />
anteriormente.<br />
3. Os artigos devem ser inéditos, sendo vedada sua<br />
publicação em outras revistas brasileiras. A<br />
publicação do mesmo artigo em revistas estrangeiras<br />
deverá contar com a autorização prévia<br />
da Comissão Editorial da RC&T.<br />
4. A aceitação do artigo depende dos seguintes critérios:<br />
• adequação ao escopo da revista;<br />
• qualidade científica ou tecnológica avaliada<br />
pela Comissão Editorial e por processo anônimo<br />
de avaliação por pares (peer review), com<br />
consultores não remunerados, especialmente<br />
convidados, cujos nomes são divulgados anualmente,<br />
como forma de reconhecimento;<br />
• cumprimento da presente Norma. Os autores<br />
serão sempre informados do andamento do<br />
processo de avaliação e seleção dos artigos e<br />
os originais serão devolvidos nos casos de sua<br />
não aceitação.<br />
5. Os artigos devem considerar como unidade<br />
padrão a página A4, com margens 2,5 cm, parágrafo<br />
justificado, fonte Times New Roman,<br />
tamanho 12, digitada em espaço 1,5 e em editor<br />
Word 97 for Windows, sem qualquer formatação<br />
especial.<br />
Os artigos devem ter as seguintes dimensões:<br />
• ensaio e relato: de 12 a 20 páginas-padrão,<br />
nelas incluídas todas as subdivisões dos capítulos,<br />
figuras, tabelas e referências bibliográficas;<br />
• revisão de literatura: de 10 a 15 páginaspadrão,<br />
nelas incluídas todas as subdivisões<br />
dos capítulos, figuras, tabelas e referências<br />
bibliográficas;<br />
• resenha e carta: de 2 a 4 páginas-padrão.<br />
6. Os artigos podem sofrer alterações editoriais<br />
não substanciais (reparagrafações, correções gramaticais<br />
e adequações estilísticas), que não<br />
modifiquem o sentido do texto. O autor será<br />
solicitado a revisar as mudanças eventualmente<br />
introduzidas.<br />
7. Não há remuneração pelos trabalhos. O autor<br />
de cada artigo recebe gratuitamente 3 (três)<br />
exemplares da revista; no caso de artigo assinado<br />
por mais de um autor, são entregues 5<br />
(cinco) exemplares. O(s) autor(es) pode(m)<br />
ainda comprar outros exemplares com desconto<br />
de 30% sobre o preço de capa.<br />
8. Os artigos devem ser encaminhados pelo Correio<br />
para:<br />
Comissão Editorial da RC&T<br />
A/c: prof. Nivaldo Lemos Coppini<br />
<strong>Unimep</strong> – Campus Santa Bárbara d’Oeste<br />
Km 1, Rod. Santa Bárbara d’Oeste/Iracemápolis<br />
CEP:13450-000 – Santa Bárbara d’Oeste<br />
através de ofício, do qual deve constar:<br />
• declaração de cessão dos direitos autorais para<br />
publicação na revista;<br />
• declaração de concordância com as Normas<br />
para Publicação da RC&T.<br />
Opcionalmente, os artigos e as declarações<br />
poderão ser encaminhadas através de arquivos “atachados”<br />
para o e-mail revct@unimep.br.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 105-108 105
ESTRUTURA<br />
9. Cada artigo deve conter os seguintes elementos:<br />
Identificação:<br />
• Nome do(s) autor(es);<br />
• Telefone, e-mail e endereço do(s) autor(es)<br />
para contato;<br />
• Titulação acadêmica; função e origem (instituição<br />
e unidade) do(s) autor(es);<br />
• Título e, se for o caso, subtítulo: precisa(m)<br />
indicar claramente o conteúdo do texto e<br />
ser(em) conciso(s) (título: no máximo 10<br />
palavras; subtítulos: no máximo 15 palavras)<br />
• Subvenção: menção de apoio e financiamento<br />
eventualmente recebidos;<br />
• Agradecimentos, apenas se absolutamente<br />
indispensáveis.<br />
Esses elementos devem ser apresentados em<br />
folha separada, pois contêm dados que não serão<br />
divulgados aos consultores. Após a aceitação do<br />
artigo, os dados serão incluídos para publicação.<br />
O texto deve conter:<br />
• Título e, se for o caso, subtítulo em português<br />
e inglês, qualquer que seja o idioma utilizado<br />
dentre os determinados por estas normas, bem<br />
como os limites de palavras acima definidos;<br />
• Resumo em português e Abstract em inglês,<br />
qualquer que seja o idioma utilizado no texto<br />
dentre os determinados por estas normas. Conterão<br />
entre 150 a 200 palavras com a mesma<br />
formatação da página padrão acima definida;<br />
• Para fins de indexação, o autor deve indicar<br />
no mínimo três e no máximo seis palavraschave<br />
logo após a apresentação do Resumo, e,<br />
posteriormente ao Abstract, sua versão para o<br />
inglês (keywords).<br />
• O texto pode ser escrito em português, inglês<br />
ou espanhol e deve estar subdividido em:<br />
INTRODUÇÃO, <strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO,<br />
CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS BIBLIO-<br />
GRÁFICAS. Cabe ao autor criar os intertítulos<br />
para o seu trabalho: em letras maiúsculas e sem<br />
numeração. No caso de Relatos, podem ter as<br />
seguintes seções: INTRODUÇÃO, METO-<br />
DOLOGIA (ou MATERIAIS E MÉTODOS),<br />
RESULTADOS, DISCUSSÕES, CONCLU-<br />
SÕES, NOTAS e REFERÊNCIAS BIBLIO-<br />
GRÁFICAS. No caso de Resenhas, o texto deve<br />
conter todas as informações para identificação<br />
do livro comentado (autor; título, tradutor, se<br />
houver; edição, se não for a primeira; local; editora;<br />
ano; total de páginas; e título original, se<br />
houver). No caso de teses/dissertações, segue-se<br />
o mesmo princípio, no que for aplicável, acrescido<br />
de informações sobre a instituição na qual<br />
tiver sido produzida.<br />
DOCUMENTAÇÃO<br />
10. O artigo poderá apresentar notas explicativas. 1<br />
Elas devem ser indicadas por numeração<br />
seqüencial sobrescrita e apresentadas no rodapé<br />
da página, com a mesma formatação da página<br />
padrão. O artigo precisa apresentar as referências<br />
bibliográficas de acordo com a norma NBR<br />
6.023/1989 da ABNT, em sua versão exemplificada<br />
abaixo, que consiste em fazer a citação da<br />
referência ao longo do texto:<br />
Para se ter uma idéia do avanço nesta direção, até novembro<br />
de 1997, inúmeras empresas foram certificadas conforme<br />
uma das normas de série ISO 9000 (Emmanuel,<br />
1997). Entretanto, requisitos da Qualidade, segundo Brederodes<br />
(1996), não estão somente restritos à esfera da<br />
ISO 9000.<br />
As Referências Bibliográficas deverão ser apresentadas<br />
em ordem alfabética pelo sobrenome dos autores.<br />
I– Sobrenome do autor (maiúsculo), nome (minúsculo).<br />
Título da obra (itálico). Tradutor, edição,<br />
cidade em que foi publicado: editora, ano de<br />
publicação. Ex.:<br />
HOBSBAWM, E.J. Era dos Extremos: o breve século XX;<br />
1914-1991. Trad. Marcos Santarrita, São<br />
Paulo: Companhia das Letras, 1995.<br />
Obs.: sendo 1.ª edição, esta não deve ser indicada.<br />
II– Designação de parentes não pode abrir referência<br />
bibliográfica. Ex.:<br />
JUNQUEIRA NETTO, P....<br />
Sobrenome composto:<br />
CASTELLO BRANCO, H. de,...<br />
VILLA-LOBBOS, H.,...<br />
III– Obras escritas por dois autores. Ex.:<br />
ARANHA, M.L. de A. & MARTINS, M.H.P. Filosofando:<br />
introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna,<br />
1986.<br />
IV– Obras escritas por três ou mais autores.<br />
Coloca-se o nome do primeiro autor, seguido da<br />
expressão et al. Ex.:<br />
1 As notas explicativas devem ser apresentadas desta forma.<br />
106 Junho • 2000
PIRES, M.C.S. et al. Como fazer uma Monografia. 4.ª ed.,<br />
São Paulo: Brasiliense, 1991.<br />
Se houver um responsável pela obra (coordenador<br />
ou organizador):<br />
GENTILI, P. (org.). Pedagogia da Exclusão: o neoliberalismo<br />
e a crise da escola pública. Petrópolis: Vozes,<br />
1995.<br />
V– Artigos de revistas e jornal.<br />
<strong>Revista</strong>: sobrenome do autor (maiúsculo), prenome.<br />
Título do artigo, título do jornal (itálico),<br />
local, volume (número/fascículo): páginas incursivas,<br />
ano.<br />
Ex. com autor:<br />
ZAMPRONHA, M.L.S. Música e semiótica. Arte, Unesp,<br />
Rio Claro, 6: 105-128, 1990.<br />
Ex. sem autor:<br />
Máquinas paradas braços cruzados. Atenção, Página Aberta,<br />
ano 2, (7): 10-17, 1996.<br />
Jornal: sobrenome do autor (maiúsculo), prenome,<br />
título do artigo, título do jornal (itálico), local, dia,<br />
mês, ano, número ou título do caderno, seção ou<br />
suplemento, página inicial-final.<br />
Ex. com autor:<br />
FRIAS FILHO, O. Peça de Calderón sintetiza teatro barroco.<br />
Folha de S.Paulo, São Paulo, 23/out./91, Ilustrada,<br />
p. 3.<br />
Ex. sem autor:<br />
Duas economias, duas moedas. Gazeta Mercantil, São Paulo,<br />
31/jan./97, p. 7.<br />
VI– Capítulo de um livro escrito por um único<br />
autor. Substituir o nome do autor depois do “in”<br />
por um travessão de três toques. Ex.:<br />
ECO, U. A procura do material. In: ________. Como se faz<br />
uma tese em ciências humanas, 4.ª ed. Lisboa:<br />
Presença, 1988.<br />
VII– Autor do capítulo diferente do responsável<br />
pelo livro. Sobrenome do autor (maiúsculo) que<br />
realizou o capítulo, prenome. Título do capítulo.<br />
In (sobrenome do organizador do livro em<br />
maiúsculo), nome, título do livro (itálico), edição,<br />
local de publicação, editora, data. Ex.:<br />
COSTA, M. da. A educação em tempos de conservadorismo.<br />
In: GENTILI, P. Pedagogia da Exclusão: crítica<br />
ao neoliberalismo em educação em educação.<br />
Petrópolis: Vozes, 1995.<br />
VII– Enciclopédia e dicionário.<br />
GRAN<strong>DE</strong> ENCICLOPÉDIA <strong>DE</strong>LTA LAROUSSE. Rio de<br />
Janeiro, Delta, 1974, v. 7, p. 2.960.<br />
FERREIRA, A.B.H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa.<br />
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p. 397.<br />
VIII– Fontes eletrônicas<br />
A documentação de arquivos virtuais deve conter as<br />
seguintes informações, quando disponíveis:<br />
• sobrenome e nome do autor;<br />
• título completo do documento (entre aspas);<br />
• título do trabalho no qual está inserido (em<br />
itálico);<br />
• data (dia, mês e/ou ano) da disponibilização<br />
ou da última atualização;<br />
• endereço eletrônico (URL) completo (entre<br />
parênteses angulares);<br />
• data de acesso (entre parênteses).<br />
Exemplos :<br />
Site genérico<br />
LANCASHIRE, I. Home page. Sept. 13, 1998. (10/dez./98).<br />
Artigo de origem impressa<br />
COSTA, Florência. Há 30 anos, o mergulho nas trevas do<br />
AI-5. O Globo, 6.12.98. (6/dez./98).<br />
Dados/textos retirados de CD-rom<br />
ENCICLOPÉDIA ENCARTA 99. São Paulo: Microsoft,<br />
1999. Verbete “Abolicionistas”. CD-rom.<br />
Artigo de origem eletrônica<br />
CRUZ, Ubirajara Buddin. “The Cranberries: discography”.<br />
The Cranberries: images. Feb./97. (12/jul./97) .<br />
OITICICA FILHO, Francisco. “Fotojornalismo, ilustração e<br />
retórica”. (6/dez./98).<br />
Livro de origem impressa<br />
LOCKE, John. A Letter Concerning Toleration. Translated<br />
by William Popple. 1689. .<br />
Livro de origem eletrônica<br />
GUAY, Tim. A Brief Look at McLuhan's Theories. WEB<br />
Publishing Paradigms. (10/dez./<br />
98).<br />
KRISTOL, Irving. Keeping Up With Ourselves. 30/jun/96.<br />
(7/ago./98).<br />
Verbete<br />
ZIEGER, Herman E. “Aldehyde”. The Software Toolworks<br />
Multimedia Encyclopedia. Vers. 1.5. Software<br />
Toolworks. Boston: Grolier, 1992.<br />
“Fresco”. Britannica Online. Vers. 97.1.1. Mar./97. Encyclopaedia<br />
Britannica. 29/mar./97. http://<br />
www.eb.com:180.<br />
REVISTA <strong>DE</strong> CIÊNCIA & TECNOLOGIA • 15 – pp. 105-108 107
E-mail<br />
BARTSCH, R. “Normas técnicas<br />
ABNT – Internet”. 13/nov./98. Comunicação<br />
pessoal.<br />
Comunicação sincrônica (MOOs, MUDs, IRC etc.)<br />
ARAÚJO, Camila Silveira. Participação em chat no IRC<br />
#Pelotas. (2/<br />
set./97).<br />
lista de discussão<br />
SEABROOK, Richard H. C. “Community<br />
and Progress”. 22/jan./94. <br />
(22/<br />
jan./94).<br />
FTP (File Transfer Protocol)<br />
BRUCKMAN, Amy. “Approaches to Managing Deviant<br />
Behavior in Virtual Communities”. <br />
(4/dez./94).<br />
Telnet<br />
GOMES, Lee. “Xerox's On-Line Neighborhood: A Great<br />
Place to Visit”. Mercury News. 3 May 1992.<br />
telnet lamba.parc.xerox.com 8888, @go<br />
#50827, press 13 (5/dec./94).<br />
Gopher<br />
QUITTNER, Joshua. “Far Out: Welcome to Their World<br />
Built of MUD”. Newsday, 7/nov./93. gopher<br />
University of Koeln/About MUDs, MOOs,<br />
and MUSEs in Education/Selected Papers/<br />
newsday (5/dec./94).<br />
Newsgroup (Usenet)<br />
SLA<strong>DE</strong>, Robert. “UNIX Made<br />
Easy”. 26 Mar.1996. <br />
(31/mar./96).<br />
APRESENTAÇÃO<br />
11. O encaminhamento de artigos passa por várias<br />
ETAPAS:<br />
• Apresentar três (3) cópias paginadas para<br />
apreciação prévia, dispostas pelas normas. Se<br />
aceito preliminarmente pela Comissão Editorial,<br />
o artigo é submetido à apreciação por<br />
processo anônimo de avaliação por pares<br />
(peer review), sendo posteriormente devolvido<br />
ao autor para eventual revisão.<br />
• Após a revisão, deve-se apresentar uma via do<br />
texto impressa e outra em disquete, com<br />
arquivo gravado no formato Word 97 for<br />
Windows. Encaminhar também via do texto<br />
definitivo em papel, destacando as correções<br />
efetuadas com base nas alterações sugeridas<br />
pelos consultores, para facilitar a conferência.<br />
O trecho corrigido deverá ser grifado com<br />
tinta vermelha, ou marcado com cor vermelha<br />
da fonte através do editor de texto, ou<br />
ainda marcado com caneta “hidrocor destaca<br />
texto”. Concluído o processo de editoração, o<br />
autor recebe uma prova final que lhe será submetida<br />
à aprovação.<br />
• Caso o artigo seja vetado pela Comissão Editorial,<br />
é encaminhada justificativa ao(s)<br />
autor(es) juntamente com a devolução do<br />
texto original.<br />
12. As ILUSTRAÇÕES (tabelas, gráficos, desenhos,<br />
mapas e fotografias) necessárias à compreensão<br />
do texto devem ser numeradas seqüencialmente<br />
com algarismos arábicos e apresentadas, de<br />
modo a garantir uma boa qualidade de impressão.<br />
Precisam ter título conciso, grafado em<br />
minúsculas.<br />
13. TABELAS devem ser editadas em Word 97 for<br />
Windows ou Excel. Sua formatação precisa estar<br />
de acordo com as dimensões da revista. Devem<br />
vir inseridas nos pontos exatos de suas apresentações<br />
ao longo do texto.<br />
14. GRÁFICOS e <strong>DE</strong>SENHOS, além da inclusão<br />
nos locais exatos do texto (cópia impressa e disquete),<br />
precisam ser enviados em seus arquivos<br />
originais em separado (p.ex.: Excel, CorelDraw,<br />
PhotoShop, PaintBrush etc.).<br />
15. As FOTOGRAFIAS devem oferecer bom contraste<br />
e foco nítido e precisam ser fornecidas em<br />
arquivos em formato “tif” ou “gif”.<br />
16. Outras informações poderão ser conseguidas através<br />
da secretaria da Comissão Editorial da RC&T<br />
pelos telefones (19) 430-1767 ou 430-1770 ou<br />
ainda através do e-mail revct@unimep.br.<br />
108 Junho • 2000